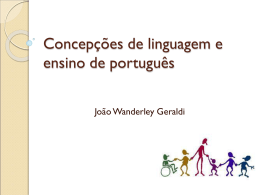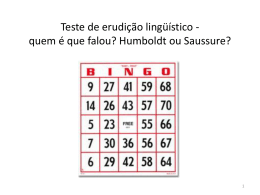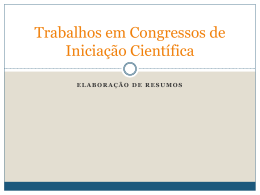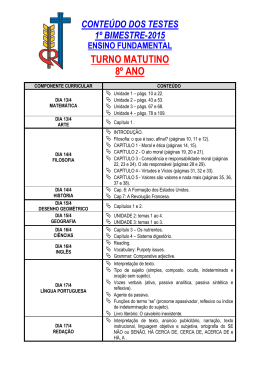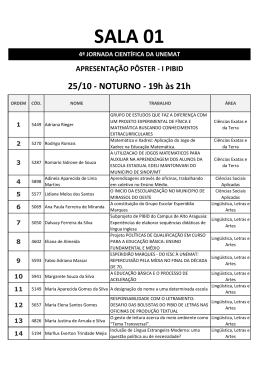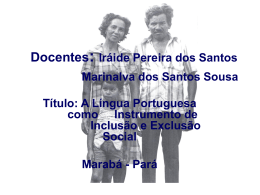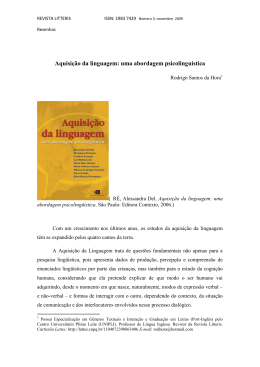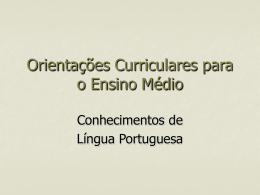Meu diálogo constante com Joaquim Mattoso Câmara Jr. Rosa Virgínia MATTOS E SILVA UFBA/CNPq “Cerradas as portas, / a luta prossegue / nas ruas do sono”. Carlos Drummond de Andrade, O lutador (1988:85) 1. Explicações iniciais Um título e uma epígrafe nunca são inocentes. Quanto ao primeiro, a minha escolha pode gerar mal-entendido. Nunca troquei duas palavras com Joaquim Mattoso Câmara Jr. O “diálogo” a que o título se refere decorre do uso constante que desde 1958, no meu primeiro semestre de Licenciatura, graças a Nelson Rossi que, nesse semestre, ministrava uma introdução à Lingüística. Nesse momento eu e minhas colegas travamos conhecimento com Saussure, Sapir, Bloomfield e com os Princípios de Lingüística Geral, na edição revista e aumentada de 1954, já que a primeira é de 1941. Apesar de não ter trocado duas palavras com Mattoso Câmara, convivi com a sua presença no II Congresso da ALFAL, realizado na PUC de São Paulo, em 1969. Nesse congresso apresentei a minha primeira Comunicação, O estudo lingüístico de um texto português do Século XIV, que veio a ser publicado em 1973 no Boletim de Filologia do Centro de Estudos Filológicos de Lisboa. Para meu pânico, Mattoso Câmara estava na sala em que apresentaria a Comunicação referida, mas, para minha tranqüilidade, saiu ele da sala, logo após a Comunicação precedente, a de Miriam Lemle. Quanto à epígrafe — “Cerradas as portas, a luta prossegue, nas ruas do sono” — foi escolhida porque considero Mattoso Câmara Jr. um “lutador”. Um “lutador” pela implantação da Lingüística Moderna no Brasil, chamado de “Pai da Lingüística no Brasil” por Francisco Gomes de Matos, no artigo Mattoso Câmara Jr. e o ensino da Lingüística no Brasil (1973:409), aposto com o qual concordo plenamente. Desde 1934 começou Mattoso Câmara a publicar e, incansavelmente, prossegue até a sua prematura morte, aos sessenta e seis anos. Sua última publicação, em vida, é de 1969 — Problemas de Lingüística Descritiva e, em 1970, foi publicação póstuma e inacabada — Estrutura da língua portuguesa (cf. Bibliografia de Joaquim Mattoso Câmara Jr. Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 28 / 43 ] [1973:416-421]). Informa-se, em nota, que essa Bibliografia não é exaustiva. Se começou a escrever e publicar em 1934, iniciou sua carreira como professor de Lingüística em 1938, na extinta Universidade do Distrito Federal, pela Ditadura Vargas em 1939. O que é bom sempre durou pouco em nossa terra, pelo menos no que se refere ao ensino universitário. Sobre a carreira docente de Mattoso Câmara Jr., leia-se Cristina Altman (1998:101-107). Na sua luta de intelectual obstinado por uma idéia, foi presidente da Associação de Lingüística e Filologia da América Latina (ALFAL) e fomentou a criação da Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN), fundada, com a sua presença, no referido II Congresso da ALFAL. Com essas Explicações iniciais, passo ao meu “diálogo” com Mattoso Câmara Jr. 2. O que significaram para mim os “Princípios de Lingüística Geral” Retomando agora o meu exemplar encadernado, adquirido por meu pai à Livraria Acadêmica do Rio de Janeiro — na edição revista e aumentada de 1954 —, vejo que o li de ponta a ponta e sublinhei tudo que considerei mais importante. É verdade que nada sabia de Lingüística. Nos meus quase dezoito anos, conhecia bem a gramática normativa, apreendida desde o meu curso primário e ginasial, uma vez que no curso colegial-clássico (hoje médio), no primeiro ano, adquiri noções de história da língua portuguesa, graças a uma professora de nacionalidade portuguesa, apaixonada pela história da sua / da nossa língua. Acho que daí partiu minha fidelidade aos estudos históricos, que permanece. Voltando aos Princípios de Lingüística Geral, na edição de 1954, que têm como subtítulo — Como introdução aos estudos superiores da língua portuguesa, vejo que os sublinhados vão desde o Capítulo I — Conteúdo e escopo lingüístico ao XVIII — As leis fonéticas. Se li os dois últimos capítulos — Empréstimos e sua amplitude e Aspectos lingüísticos e sociais do empréstimo — não os assinalei, como ocorre nos outros dezoito capítulos. Em outra edição que possuo dos Princípios, a 4ª, revista e aumentada, quinta impressão, de 1972, há um capítulo, inexistente na de 1954 — A classificação das Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 29 / 43 ] línguas, este sim, sublinhei-o todo e fiz anotações à margem. Provavelmente foi esse capítulo a base de um dos verbetes sobre lingüística que elaborei para a Enciclopédia Mirador Internacional, intitulado Tipologia Lingüística. Nesse Capítulo, Mattoso Câmara Jr. trata da classificação genética, das classificações areais, da classificação de August Schleicher, da classificação sapiriana e da classificação de Greenberg e conclui afirmando: “De um modo geral, há várias possibilidades de classificação tipológica, partindo-se de traços fônicos, mórficos, sintáticos ou semânticos” (1972:312). Não sucumbi, aos dezoito anos, à erudição lingüística de Mattoso Câmara, pelo contrário, tornei-me uma voraz leitora de livros, artigos, comunicação que tratam de qualquer tipo de lingüística, apesar de ser, e talvez por isso, professora e pesquisadora da língua portuguesa, daí nunca não ter me filiado a nenhuma escola lingüística. Recentemente indiquei a uma jovem mestranda, Mariana Fagundes de Oliveira, cujo tema de dissertação é a voz passiva no período arcaico do português em confronto com o contemporâneo, o capítulo IX dos Princípios de Lingüística Geral na edição de 1954, em que ocupam as páginas 129 a 143, As vozes verbais. A partir da página 132 trata, especificamente, da “categoria da voz”. Inicia Mattoso Câmara Jr. dizendo que em português “estamos familiarizados com as três vozes — ativa, passiva e reflexiva, as únicas que se caracterizam por contrastes de forma.” (pág. 132). Daí passa a uma viagem pelo passado não só das línguas indo-européias, mas de outros troncos e/ou famílias. Inicia essa viagem afirmando que “alhures outras vozes possam constituir categorias nítidas, sistematizadas dentro da conjugação verbal” (pág. 132). Parte do indo-europeu, em que “o sufixo *-eye, forma fraca *-i” é índice da voz factitiva ou causativa, “para assinalar a ação do sujeito sôbre um ser objeto” e mostra que no português são o verbo fazer ou o sufixo -ent que expressam essa voz. Na seqüência afirma que o morfema hipotético do indo-europeu “é de funcionamento claro e preciso em sânscrito, onde figura sob a forma -aya (…) e em germânico há, de mesma origem, o elemento -y — (semiconsoante)” (pág. 132). À página 133, diz ser fácil a confusão dessa voz com a transitiva, em que “há apenas paciente da ação sem a imprescindibilidade da idéia de uma ação acusativa exercida sobre a paciente pelo sujeito”. Diz, em seguida, que “o contraste entre a voz Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 30 / 43 ] transitiva e a intransitiva é mais expressivo nas línguas tai da China (bloco sinotibetanto).” Conclui o tópico “multiplicidade da categoria de voz”, referindo-se ao português em que a “transitividade verbal está imanente na significação do vocábulo verbal.” Concentrando-se na voz ativa e passiva (pág. 133-134), utiliza-se de teorias de vários autores — Leon Kellner, Jerspersen e Meillet. Destaca o ponto de vista do último que afirma que o chamado agente da passiva só adquiriu esse valor tarde, uma vez que antes era um adjunto ou complemento circunstancial ou de origem, em latim com a preposição ab ou a ou de meio e em português com a preposição por, arcaico per. Conclui, resumindo: Chama-se entre nós voz passiva (stricto sensu, ressalvemos) a uma forma especial dos transitivos, em que o paciente é pôsto em especial evidência como ponto de partida da frase. Figura por isso como Sujeito, enquanto o ser que seria a rigor o sujeito é relegado para um plano inferior ou é ignorado. (pág. 132). Mattoso Câmara Jr. não se satisfaz com essa interpretação que “não abarca sequer os nossos próprios fatos portuguêses.” (pág. 134) e continua: Conseqüentemente, vários pesquisadores têm chegado à conclusão de que, em muitas e distintas línguas do globo, só há na realidade a voz passiva, porque é o paciente, e não o agente, que é sistematicamente arvorado em sujeito da frase. (pág. 135). Apresenta então a teoria de Hugo Schuchardt sobre a língua vasca, em que há um nominativo sem sufixo para o sujeito, que exprime o paciente e um caso oblíquo ergativo, com o sufixo de base /k/. Com os verbos transitivos aparecem os dois casos, correspondendo ao nosso verbo passivo com sujeito-paciente e complemento agente; com os verbos intransitivos só aparece o caso nominativo (paciente), correspondendo também a um verbo passivo. Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 31 / 43 ] À página 136, diz que vale seguir nas pegadas de Meillet para dar à teoria da voz passiva outro alcance e conteúdo, que modificaria essencialmente a interpretação dos fatos do vasco. Para Meillet, a oposição básica é entre voz ativa e voz impessoal. Em outros têrmos, o processo pode — 1) ser referido a um ser preciso, que é a causa, ou motivo ou ponto de aplicação (sujeito); 2) ser apresentado em si mesmo, independentemente de um nome ou ser que lhe servia de marco de referência. (pág. 136). Para Mattoso Câmara, a frase impessoal assim compreendida pode assumir três principais variantes mórficas: a da forma ativa pura, sem sujeito explícito ou implícito, como é o caso do nosso existencial haver; a impessoalidade caracterizada na forma de nome do ser a que se refere a ação (seria o caso, digo eu, do nome homem no português arcaico — “Ca se esforça homem pera fazer bem (DSG 1.1.33) e a impessoalidade expressa por um morfema verbal, como o sufixo -r- do celta, do osco-umbro e do hitita. Desse último tipo de voz impessoal sai uma voz passiva de sujeito-paciente, quando nos verbos transitivos se passa a dar a forma nominativa ao ser paciente. E conclui: “É esta a teoria de Meillet sôbre a voz passiva latina. Para êle tratou-se de início de uma voz impessoal, que só tinha 3ª pessoa do singular” (pág. 137). No item “A essência da voz reflexiva” (pág. 139-140), diz Mattoso Câmara que deve ser apreciada na perspectiva ampla do indo-europeu, em que se prefere o nome da voz medial. Apoiado em Brugmann, na voz medial indo-européia há três valores: a medial dinâmica, “que exprime de maneira tôda particular a parte pessoal que toma o sujeito no fato expresso (…) como no grego νηχσµαι “eu nado” (pág. 137); a medial reflexiva, quando se frisa o agente fica encerrado em si próprio, durante a atividade e não passa para o mundo exterior; a medial recíproca, com o valor do português “êles se batem”. Sintetiza Mattoso Câmara Jr: Morficamente há assim para distinguir: a) de um lado a voz medial caracterizada por desinências verbais próprias como em sânscrito e grego (a ela se prende a chamada voz depoente latina com o sentido medial já praticamente Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 32 / 43 ] obliterado); b) de outro lado, a voz reflexivo-pronominal, em que o que há de paciente no seu agente fica mais nitidamente expresso por um pronome oblíquo da pessoa do sujeito (latim, línguas românicas, germânico, eslavo). (pág. 140). Finaliza o capítulo IX com o item “De novo a voz passiva”. Diz, à página 141, “Alhures, no domínio indo-europeu, desenvolveu-se uma voz passiva de forma reflexivo-pronominal (…) como no português — abre-se a porta (…) quebrou-se o tinteiro, ouviram-se pessoas, etc.” Conclui a seguir: 1) há uma relação estreita entre impessoalidade e passividade; 2) cabe pôr em relevo a independência entre função e forma lingüística. Em suas palavras: Cabe agora, em coroamento das nossas observações, uma consideração importante, que nos levará a apreciar uma terceira forma de voz passiva. Ao lado daquelas que apresentam morfema verbal típico e das que decorrem da forma medial, há a voz passiva constituída por um particípio passado e um verbo de estado (port. ser, al. werden). Para compreender essas últimas formas, notamos que há uma interdependência última entre as diversas categorias verbais. (pág. 142). Por que razão dei tanto espaço, neste texto, ao Capítulo IX da 2ª edição, de 1954, dos Princípios de lingüística geral? A razão decorre de minha surpresa ao confrontar essa edição com a outra de que disponho — a 4ª, 5ª impressão, de 1972 — em que não ocorre o Capítulo As vozes verbais. Pergunto-me, por que terá Mattoso Câmara Jr retirado esse Capítulo, pelo menos, na sua 4ª edição. Nessa edição, há uma Nota Prévia à 3ª edição, que suponho ser de Mattoso Câmara Jr., em que explica o que modificou em relação à 2ª, mas não se refere ao Capítulo aqui focalizado. Termino este item com as palavras de Cristina Altman, historiógrafa da Lingüística no Brasil, com as quais concordo: Mattoso não propôs, nos Princípios, uma teoria própria, ao contrário, uma prática que traria importantes conseqüências para as gerações que o sucederam, Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 33 / 43 ] que consistia em derivar idéias lingüísticas da Europa e dos Estados Unidos e aplicá-las na descrição do Português. (1998:102). Pergunto eu, haverá depois dos Princípios quem tenha escrito outros no Brasil? Temos, é certo, algumas introduções à Lingüística, em geral, Coletâneas, coordenadas por um organizador, diga-se que de excelente qualidade e utilidade. Mas, no âmbito do meu conhecimento, nenhum lingüista brasileiro se dispôs a escrever Princípios, claro que atualizados, já que se passaram três décadas da morte de Joaquim Mattoso Câmara Jr. Gostaria que se debatesse essa questão! 3. Dos estudos de lingüística descritiva do português, para a História e estrutura da língua portuguesa 3.1. Os estudos descritivos Começo com sua tese de Doutorado em Letras Clássicas, defendida e aprovada com distinção na antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, em 1949, Para o estudo da fonêmica portuguêsa (Cf. UCHÔA, 1975:VIII), que veio a ser publicada em 1953. Esse livro, uma versão modificada da tese, “foi deixado de lado o segundo capítulo (Os estudos fonéticos em português). Em compensação, foi acrescentado, como terceiro capítulo, um estudo sobre A rima na poesia brasileira” (UCHÔA, 1975:XXXII), apresentou-me a esse livro o Mestre Nelson Rossi. Confesso que, em alguns pontos fiquei confusa, sobretudo na análise que apresenta Mattoso Câmara das vogais nasais: “não há oposição entre vogal oral e nasal, porque as vogais consideradas nasais se resolvem em vogal seguida de arquifonema nasal” (1953:114). O outro ponto se refere à “líquida vibrante é um fonema único, e o /r/ brando deve interpretar-se como um alofone de posição implosiva” (1953:115). Voltava eu de um Mestrado em Letras na primeira Universidade de Brasília, em que, pela primeira vez, estudei sistematicamente, Lingüística, com os lingüistasmissionários do Summer Institute of Linguistics e que seguiam tanto a Fonêmica como a Tagmêmica de Kenneth Pike. Para mim era completamente desconhecido o Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 34 / 43 ] arquifonema, ou seja, uma abstração, creio, originária dos fonólogos do primeiro Círculo Lingüístico de Praga. O outro estranhamento deveu-se ao fato de não entender por que Mattoso Câmara Jr. considerou a líquida vibrante um único fonema, se se pode admitir isso em posição implosiva, tudo bem! Mas na posição intervocálica? E a oposição /kAru/ <caro> : /kAhu/ <carro>? Os tempos mudaram, as interpretações são outras; o variacionismo chegou ao Brasil pela década de setenta e muito começou a clarear. Contudo, convivi entre 1973 a 1979, nos cursos de graduação em Letras da Universidade do Brasil, com dois livros que eram verdadeiros vademecum do grupo de professores de língua portuguesa do meu Instituto, tanto que os estudantes nos chamavam de “viúvas de Mattoso”, já que ele falecera em 1970. Refiro-me aos Problemas de Lingüística Descritiva, publicado em 1969 e Estrutura da língua portuguesa, publicado em 1970, dos quais disponho das primeiras edições, lidas, relidas, discutidas em sala de aula nas disciplinas de Fonologia e Morfologia do Português. O primeiro reúne dez artigos antes publicados na Revista Vozes, entre 1967 e 1968; o segundo é um livro inacabado, publicação póstuma e que se ressente da ausência da Bibliografia utilizada por Mattoso Câmara Jr. De fato não sei se nas edições subseqüentes houve explicações para o caráter inacabado desse livro. Com tantas leituras e com a prática na sala de aula, internalizei as idéias e interpretações de Mattoso Câmara Jr. e adaptei a sua análise sincrônica em meu pequeno livro Português arcaico: fonologia, publicado em 1991 e a sua morfologia sincrônica foi, sem dúvida, a base de meu livro Português arcaico: morfologia e sintaxe, publicado em 1994. Devo, portanto, a Mattoso Câmara Jr. a orientação para trabalhos que realizei quase duas décadas depois de ter lido e estudado os três livros referidos no início do subitem. 3.2. Dos estudos descritivo-sincrônicos para os estudos diacrônicos e históricos de Mattoso Câmara Jr. Começo pela História da lingüística, publicado em português em 1975. Segundo o professor Francisco Gomes de Matos, na Apresentação ao livro referido, foi ela, “originalmente escrita em inglês (…) como fruto de sua experiência docente na University of Washington, Seattle em 1962” (pág. 7). A tradução é de Maria do Amparo Barbosa de Azevedo. Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 35 / 43 ] Esta História da lingüística é única, por ser a única em português, escrita por um brasileiro. Considero assim que Mattoso Câmara Jr., além de “pai da lingüística”, como diz Gomes de Matos, é também “pai” da historiografia lingüística no Brasil, espero estar certa quando faço essa afirmação. Confesso que foi essa a primeira história da lingüística que li, logo na 1ª edição. Essa História me serviu não só para verbetes que fiz para a Enciclopédia Mirador Internacional, como para um artigo publicado em 1982 no Boletim de Filologia de Lisboa. Hoje tenho usado, em disciplinas da pós-graduação, autores estrangeiros traduzidos ou não, como Pieter Seuren (1998); Pierre Swiggers (1997); Barbara Weedwood (2002) e o excelente livro de Cristina Altman, A pesquisa lingüística no Brasil (1968-1988), publicado em 1998. Voltando à História da lingüística de Mattoso Câmara Jr., ninguém melhor que o professor Gomes de Matos para avaliá-lo: Aos que esperam encontrar um tratamento de fatos mais contemporâneos, mormente o desenrolar de movimentos ou correntes oriundas da teoria gerativotransformacional, lembraríamos a necessidade de, como ponto de partida, conhecer-se o que cumulativamente a Lingüística ofereceu até os primórdios da era chomskyana, para então prosseguir no estudo dessa história sempre aberta, sempre imprevista — por isso mesmo — das idéias e das realizações concretas da Lingüística. (1972 [1990]:8) Concordo plenamente com o Professor citado. Sem dúvida o desenvolvimento sobre a reflexão sobre a linguagem e as línguas é cumulativo — como aliás ocorre nas ciências históricas; também cíclico, como bem mostra Pieter Seuren no livro, Western Linguistics: an historical introduction (1998). O livro de Pierre Swiggers, Histoire de la pensée linguistique: analyse du langage et reflexion linguistique dans la culture occidental dès l’Antiguité au XIXe siècle (1997), destaca na introdução que o trajeto do pensamento lingüístico é feito de continuidade e de descontinuidades, não há, por exemplo, paradigmas teóricos radicais, ou seja, um elimina o anterior, nem rupturas abruptas. Se se admitir que o chomskyano rompe com o que o precedeu, ou seja, os estruturalismos, creio que não se pode esquecer que Chomsky foi um discípulo de Zellig Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 36 / 43 ] Harris, e que, pelo menos, o modelo chamado padrão ou standard, excetuando o fato de trabalhar a estrutura em dois níveis — a profunda e a superficial — na segmentação da sentença (SN, SV, SA, por exemplo) procede do estruturalismo americano. A ruptura que ocorreu, a meu ver, no caso da teoria gerativa foi com o behaviorismo mecanicista bloomfieldiano. Sem dúvida, esse é um tópico para discussão. Volto a Mattoso Câmara Jr. e o seu livro intitulado em português História e estrutura da língua portuguesa, na edição de 1975. Tomei contacto com ele na sua versão em inglês, The portuguese language (1972), traduzida por Anthony Naro e publicada pela Chicago University Press, do original de Mattoso Câmara, através de uma cópia xerox, a mim emprestada pela colega Nadja Andrade. Essa obra tem uma história textual curiosa: escrita, originalmente, em português, foi traduzida para o inglês e daí vertida para o português, não sei por quem, uma vez que nem na orelha da edição de 1975, diz Sílvio Elia quem o traduziu e, nessa edição, diz-se apenas que foi revista a tradução por Maria Aparecida Ribeiro e Antônio Basílio Rodrigues. Teria sido Anthony Naro o tradutor para o português? Esse livro é póstumo e, segundo Sílvio Elia, na referida orelha, o livro foi elaborado entre 1963 e 1965 e uma série de revisões de Mattoso Câmara foi recebida em 1967. Isso, suponho, que se refere à edição em inglês, publicada, como referido, em 1972. Comprei a versão em português no mesmo ano de sua publicação e, desde então, não deixei de utilizá-la, tanto na pesquisa que venho fazendo sobre a história da língua portuguesa, como nas disciplinas de natureza histórico-diacrônica que tenho ministrado, tanto na graduação como na pós-graduação. O meu exemplar está sublinhado e anotado. De tanto uso já teve de ser reencadernado. Sílvio Elia diz, na referida orelha, e com ele concordo, que “pela primeira vez é aqui a língua portuguesa tratada com a visão de lingüista”. Constituída de onze capítulos, a H.E.L.P. (o trocadilho é intencional), tem sido de inestimável ajuda ao meu trabalho, e, creio, que de muitos que trabalham no campo dos estudos histórico-diacrônicos da língua portuguesa. A História e estrutura, como não poderia deixar de ser, é trabalho de um estruturalista descritivista, de rara erudição e que aplica, de maneira contrastiva, o método de análise estrutural ao latim em confronto com o português, não especifica sincronias intermediárias nem define um corpus. Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 37 / 43 ] Utiliza-se do latim que sabia e do profundo conhecimento que possuía da língua portuguesa, não só por ser falante nativo, mas constante observador, como se pode ver na sua vastíssima obra. Remeto ao interessado à Bibliografia (págs. 80-85) do nº 5, de 1973, da Revista Vozes, em homenagem ao nosso autor e à Bibliografia organizada por Carlos Eduardo Uchôa, às páginas XXIII-XLIV, que precedem os Dispersos de Mattoso Câmara (1975). Apenas no Capítulo I, a Introdução (págs. 9-33), é que Mattoso Câmara trata do que se costuma chamar de história externa. Na Parte I, trata do conceito estruturalista da língua — “a invariante abstrata e virtual, sobreposta a um mosaico de variantes concretas e atuais” (pág. 9). Em seguida trata da “distribuição da língua portuguesa” e das “motivações para a dialetação” (págs. 10-13). Na Parte II, O quadro histórico (págs. 14-21), trata das línguas românicas; da expansão do latim; do latim ibérico; da Península Ibérica na Idade Média e do advento do português comum. Na Parte III, O latim e sua evolução, caracteriza a língua de Roma; a fragmentação lingüística da românia e da estrutura do latim e sua evolução. Na parte IV, O português do Brasil (págs. 28-33), considera a implantação do português no Brasil; da situação lingüística anterior; a contribuição africana; o português do Brasil e as duas subnormas do português, ou seja, o português do Brasil e o português de Portugal. É um painel sintético de muitos séculos de história lingüística, ou de história de línguas. Nos capítulos II e III, como estruturalista e latinista, apresenta o que designei de análise contrastiva do latim em relação ao português, tanto na fonologia (capítulo I), como na morfologia nominal (capítulo III). Considero extremamente rico o Capítulo IV (págs. 91-115), Morfologia pronominal. Na Parte I, Significação pronominal, enquadra os pronomes pessoais e demonstrativos na teoria da dêixis; na Parte II, As formas pronominais em seu sistema e evolução, partindo sempre do latim, chega ao português e por vezes estaciona no período arcaico do português, como, por exemplo, à página 104, ao tratar dos demonstrativos. O Capítulo V, O advérbio (págs. 117-125), subdivide em Natureza do advérbio, partindo das línguas indo-européias, segue para o advérbio no latim e daí para o advérbio na estrutura do português; em que primeiro trata do sistema tripartido dos locativos, depois dos advérbios modais e conclui esse capítulo com o que designa de Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 38 / 43 ] “modalidade semântica e funcional dos advérbios”. Imagino não ser fácil, para um estruturalista, tratar, diacronicamente, dos advérbios. Daí, talvez ser esse um dos capítulos mais sintéticos, mas não o único, desse livro, sem dúvida um manual indispensável para quem se interessa pela história da língua portuguesa. Os capítulos VI e VII são dedicados ao verbo (págs. 127-176). No Capítulo VI, subdividido em quatro partes — O sistema verbal em português (págs. 127-142), Estrutura da flexão (págs. 142-150), verbos de radical variável (págs. 150-161) e Estruturas especiais de particípio perfeito (págs. 161-163), apresenta, sistematicamente, em cada subitem de cada parte, o confronto ou comparação entre o latim e o português. Considero nesse capítulo o mais interessante a Parte III em que sistematiza os tradicionalmente designados de verbos irregulares. O Capítulo VII, As conjugações perifrásticas, subdivide em duas partes. Na primeira, Perífrases de formas verbais (págs. 165-173), embora sintética, é do meu ponto de vista exemplar e muito clareou a minha cabeça; o mesmo digo para a Parte II, Perífrase verbo-pronominal (págs. 173-176), que, em três páginas, deixa claro, a meu ver, as tradicionais “funções do se: pronominal”, ou do “famigerado se”, para usar a metáfora de Jairo Nunes, utilizada como título de sua dissertação de Mestrado. No Capítulo VIII, Os conectivos (págs. 177-190), trata na Parte I das preposições (págs. 177-184) e na Parte II, das conjunções (págs. 184-190). Embora sintético, destaco na Parte I, o que Mattoso Câmara designa de “Quadro lato das preposições”, em que classifica semanticamente as preposições e mostra como se multiplicaram pela via das chamadas locuções prepositivas. Na Parte II, destaco o breve e esclarecedor estudo diacrônico apresentado do que, designado de “partícula multifuncional” (pág. 186) e das locuções conjuntivas e sua formação do latim para o português. A meu ver, o capítulo mais rico é o IX, O léxico do português (págs. 191-212) e o seu complemento, o X, Ampliação e renovação lexical (págs. 213-234). Nessas trinta e três páginas, Mattoso Câmara me causou espanto. Não é comum, no estruturalismo, pelo menos o americano, o estudo do léxico. Não só apresenta a história externa dos empréstimos, depois de tratar dos itens lexicais provenientes do latim, mas ainda na Parte II, do capítulo nono, trata da constituição de cinco campos semânticos do Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 39 / 43 ] português — o mundo físico; as partes do corpo humano; o parentesco; o tempo (transcurso) e o tempo (atmosférico) — numa perspectiva diacrônica. Conclui o Capítulo IX com os nomes próprios de pessoa e de lugar, dando ênfase, nesse último caso, a topônimos brasileiros. No capítulo décimo, trata da composição, da derivação por sufixação, que subdivide em nominal e também na formação de substantivos abstratos por sufixo. Em seguida trata da derivação verbal e aí investe na prefixação, mostrando a relação entre prefixos e preposições na história do latim para o português. Finaliza esse capítulo, tratando, brevemente, dos helenismos (págs. 233-234). Do meu ponto de vista, é o capítulo XI, A frase portuguesa (págs. 235-258), menos rico, embora informativo, por causa da abordagem diacrônica do livro. Talvez considere esse o capítulo menos rico, porque, posteriormente a Mattoso Câmara Jr., a sintaxe da sentença venha sendo o centro da pesquisa, tanto no gerativismo como no funcionalismo. Esse meu ponto de vista, seria outro ponto para debate. Diria para concluir que nos Princípios de Lingüística Geral, pelo menos, na edição de 1954, o estudo da sintaxe se apresenta mais completo e complexo que na História e estrutura da língua portuguesa, como busquei mostrar, quando expus o que diz o nosso autor sobre as vozes do verbo. Para concluir este item, diria que o Dicionário de Fatos Gramaticais (1956), depois intitulado de Dicionário de Filologia e Gramática (1972), hoje Dicionário de Filologia e Lingüística é, não só o melhor dicionário, em língua portuguesa, sobre filologia e lingüística (precisaria ser atualizado com os conceitos das lingüísticas póssessenta), mas é complementar à História e estrutura da língua portuguesa. 4. Algumas reflexões finais Neste “diálogo” com a obra de Joaquim Mattoso Câmara Jr. destaquei os livros que, principalmente, marcaram e marcam o meu percurso de ensino e pesquisa — Princípios de lingüística geral, Problemas de lingüística descritiva, Estrutura da língua portuguesa, História e estrutura da língua portuguesa e o Dicionário de filologia e gramática. Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 40 / 43 ] Contudo, no meu percurso, outros livros de Mattoso Câmara foram muito importantes para mim como o Manual de expressão oral e escrita (1961), que foi muito utilizado pelos que, na Universidade de Brasília, entre 1963 e 1965, ministravam, eu inclusive, a disciplina denominada Recuperação do português, disciplina também ministrada na Universidade Federal da Bahia entre 1973 e 1975. Foi também pelo livro de Mattoso Câmara, Introdução às línguas indígenas brasileiras (1965) que me iniciei no conhecimento das nossas línguas autóctones. Para Carlos Eduardo Uchôa, esse livro “condensa tudo que de mais relevante o autor pesquisou sobre o assunto” (1975[1972]:XX). Além de lingüista, Mattoso Câmara Jr. teorizou sobre a língua literária e analisou, principalmente, parece-me, Machado de Assis. Fruto disso são seus livros: Contribuição à estilística portuguesa (1977), originalmente sua Tese de Livre Docência e Os ensaios machadianos: língua e estilo (1962). Nesses inícios do século XXI, a Lingüística não tem mais o “objeto teórico” homogêneo, que foi a incessante busca de Ferdinand de Saussure e a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são “objetivos” de muitos lingüistas. Quanto ao “objeto teórico”, depois da “era” estruturalista, a Lingüística se tornou plural, multiplicam-se campos ou áreas e neles ou nelas tendências com suas singularidades. Quanto ao “objeto observacional” (cf. Dascal e Borges Neto, 1991), às vezes se reduz a um fato lingüístico, que pode ocupar o lingüista por toda a sua vida. Termino com as palavras de Francisco Gomes de Matos, no seu estudo, Mattoso Câmara Jr. e o ensino de lingüística no Brasil (1973:73-77): “Os grandes homens desaparecem mas suas idéias ficam, explicitadas ou subjacentemente presentes, nas criações por eles deixadas” (pág. 77). Concordo com Gomes de Matos e volto a repetir que Joaquim Mattoso Câmara Jr. foi um lutador, mas a sua luta venceu. Sem dúvida a Lingüística se expande e floresce no Brasil. Referências ALTMAN, Cristina (1998). A pesquisa lingüística no Brasil. São Paulo: Humanitas. Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 41 / 43 ] DASCAL, Marcelo; BORGES NETO, José (1991). De que trata a lingüística afinal? Histoire, Epistemologie, Langage. 13(1). págs. 13-50. GOMES DE MATOS, Francisco (1973). Mattoso Câmara Jr. e o ensino da Lingüística no Brasil. Revista de Cultura Vozes (Estudos lingüísticos em homenagem a J. Mattoso Câmara Jr.), nº 5, págs. 73-79. MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia (1964-1973). O estudo lingüístico de um texto português do século XIV. Boletim de Filologia. Lisboa. T. XXII, fasc. 3 e 4. _____ (1991). O português arcaico: fonologia. São Paulo/Salvador: Contexto/Edufba. _____ (1994). O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo/Salvador: Contexto/Edufba. MATTOSO CÂMARA JR., Joaquim (1953). Para o estudo da fonêmica portuguêsa. Rio de Janeiro: Organização Simões. _____ (1954). Princípios de lingüística geral: como introdução aos estudos superiores da língua portuguesa. 2. ed. revista e aumentada. Rio de Janeiro. _____ (1956). Dicionário de fatos gramaticais. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa / Ministério de Educação e Cultura. _____ (1961). Manual de expressão oral e escrita. Rio de Janeiro: 1 Ozon Editora. _____ (1962). Ensaios Machadianos: língua e estilo. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica. _____ (1965). Introdução às línguas indígenas brasileiras. 2. ed. revista. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica. _____ (1969). Problemas de lingüística descritiva. Petrópolis: Vozes. _____ (1970). Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes. _____ (1972). Dicionário de filologia e gramática: referente à língua portuguesa. 4. ed. revista e aumentada. Rio de Janeiro: 1 Ozon Editora. _____ (1975). História e estrutura da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Padrão – Livraria e Editora Ltda. _____ (1977). Contribuição à estilística portuguesa. 3. ed. revista. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico S.A. _____ (1990[1975]). História da lingüística. 5. ed. Tradução de Maria do Amparo Barbosa de Azevedo. Petrópolis: Vozes. Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 42 / 43 ] SEUREN, Pieter (1998). Western linguistcs: an historical introduction. Oxford: Blackwell. SWIGGERS, Pierre (1997). Histoire de la pensée linguistique: analyse du langage et reflexion linguistique dans la culture occidental dès l’Antiguité au XIXe siècle. Paris: Presses Universitaires de France. WEEDWOOD, Barbara (2002). História concisa da lingüística. São Paulo: Parábola. Salvador, 20.06.2004 Estudos Lingüísticos XXXIV, p. 28-43, 2005. [ 43 / 43 ]
Download