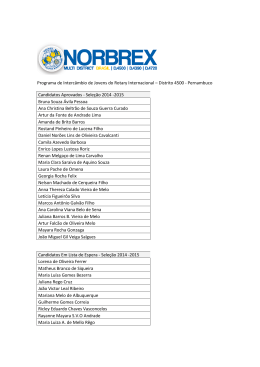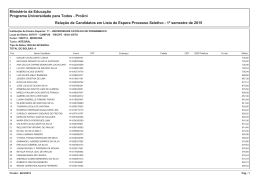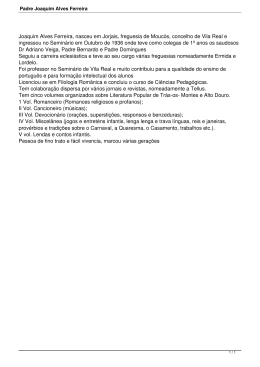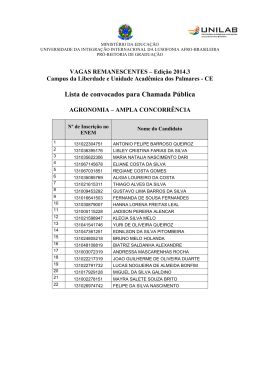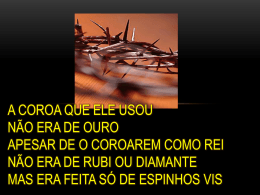{A. M. H.}, 0 absolutismo de raiz contratualista
A concepção individualista e voluntarista da sociedade e do Poder é,
porventura, a mais difícil de enraizar, quer nas representações sociopolíticas
tradicionais quer nos contextos político-institucionais nacionais. A sua pré-história
no pensamento politico português também é obscura (alguns elementos em
Andrade, 1966), embora - como já tem sido notado (M. Villey, 1961 e 1969) - seja
possível entroncar alguns dos seus elementos (individualismo. voluntarismo) na
segunda escolástica peninsular. Seja como for, o paradigma individualista parece
surgir abruptamente, mas com uma força expansiva devastadora, nos meados do
século XVIII como a filosofia de base do pombalismo.
Silva Dias, num notável (e praticamente único) estudo sobre a teoria politica
do pombalismo (Dias, 1982), mostra como, na sua primeira fase, o discurso politico
do pombalismo se desenvolveu em tomo de duas vertentes do problema central, do
ponto de vista da prática politica, que era a fundamentação do absolutismo. A
primeira vertente, de recorte teológico e juscanonista, abordava a questão das
relações entre o poder civil (o imperium) e o poder eclesiástico (o sacerdotium) e,
em certa medida, prolongava e rematava uma corrente de pensamento regalista
que já vinha do século XVII, como vimos. A segunda, de pendor jurisdicista,
ocupava-se das relações entre a coroa e os outros corpos políticos (nomeadamente
as cortes). Por ora, nestas décadas de 50 e 60, esta segunda vertente aparece ainda
como menor, embora possa constituir um eco, residual e já longínquo, das
polémicas constitucionais sobre as relações entre o rei e as cortes durante a
regência e reinado de D. Pedro II.
Mas o mais característico da teoria politica pombalina e pós-pombalina é o
imaginário politico que subjaz as suas propostas mais imediatas. Ou seja, o modo
novo como ela entende a sociedade e o Poder, ambos concebidos como produtos
menos de uma ordem objectiva posta directamente por Deus do que do jogo,
pactício ou não, dos ímpetos individuais. Já nos ocupámos das raízes filosóficas do
paradigma individualista. Mas, no contexto português, a sua súbita e clamorosa
fortuna não pode ser desligada nem dos contextos prático-políticos, nem da
inserção deste paradigma doutrinal no centro dos aparelhos de reprodução
ideológica do pombalismo, nomeadamente a universidade. Os primeiros explicam a
sua recepção; os segundos, a sua difusão fulgurante como ideologia social e
politica.
O primeiro destes contextos é constituído pelas tensões entre o poder
temporal e o poder espiritual nos primeiros anos do reinado josefino. Como refere
Silva Dias, a defesa da autonomia da coroa face à Igreja supõe que se rejeite uma
“concepção sacral da sociedade, isto é, a visão da sociedade civil à imagem e
semelhança da sociedade eclesiástica [...] a visão do Estado como braço secular da
Igreja”. Mas a secularização da sociedade temporal apenas era possível se, ao
conceber esta, se prescindisse da ideia de que ela constituía uma ordem da criação
e, logo, um todo originariamente orgânico. Postas as coisas nestes termos, foi fácil
extrair as consequências políticas desejadas quanto as relações entre o
sacerdotium e o imperium, nomeadamente a isenção dos reis, no temporal, em
relação ao papa (Dias, 1982, p. 48, al. g) e o reconhecimento de um poder real de
tutela temporal sobre a religião e a Igreja (ibid., p. 48, al. h).
A Dedução Cronológica e Analítica, primeira grande manifestação literária,
em Portugal, desta nova concepção polftica40, insere-se directa e primariamente
na polémica anti papista, defendendo a tese de que o rei é “soberano, ungido de
Deus Todo-Poderoso, imediato à sua divina omnipotência, e tão independente que
não reconhecia na terra senhor superior temporal” (Parte I, p. 441), e que,
portanto, são “abomináveis e sediciosas” as teses de “que todo o poder temporal
era dependente do governo eclesiástico, por ser este o único governo que Deus
tinha criado; que as leis seculares não obrigam no foro da consciência; que a todos
é licito desencaminhar as gabelas e tributos estabelecidos para o bem comum dos
povos, contanto que os desencaminhadores não sejam descobertos; que os tais
tributos, impostos sem autoridade do Papa, são injustos e excomungados os
príncipes que os estabelecerem; que em castigo destas leis e excomunhões dos
príncipes que as fazem publicar, vêm as mortandades e as mais públicas desgraças;
que é permitido aos vassalos julgarem, com o seu particular conhecimento, as
acções dos respectivos soberanos e assassiná-los quando lhes parecer que é útil
tirá-los do mundo” (Parte II, idem. iv, § 23, apud Dias, 1982, pp. 55-56). Todas
estas proposições agora condenadas são típicas do pensamento politico papista,
que era o que aqui estava sob fogo; algumas são directamente retiradas da Bula da
Ceia.
Desta citação já se vê que, ainda que o contexto politico directo da obra
fosse a polémica anti papista, ela acaba por, no mesmo movimento de exaltação do
poder da coroa, atingir outros poderes concorrentes, estes já no âmbito secular.
Neste plano - por assim dizer, subordinado - o alvo da Deducção Chronologica é a
doutrina politica da Contra-Reforma - aqui identificada, com alguma justificação,
com as posições teóricas dos Jesuítas e, com maior simplificação, com o conjunto
das doutrinas monarcómacos – favoráveis à ideia de uma ordem sociopolítica
natural e, portanto, ao corporativismo politico.
No plano constitucional, a polémica anti corporativa tende a insistir, no
contexto setecentista, em dois tópicos. Por um lado, no dos direitos de conquista,
legitimados pelo estado inicial de guerra (justa) de todos contra todos e que
geravam direitos de propriedade, transmissíveis por sucessão dentro das dinastias.
Por outro lado, na ideia de um pacto originário global (isto é, incluindo não só a
forma, mas também os objectivos imediatos e últimos do governo), absoluto (isto
é, não sujeito a quaisquer limites contra os quais a razão nada pudesse - v. g.,
derivados da razão ou da justiça) e irrevogável. Em qualquer dos casos, estamos
perante uma completa desvalorização da ideia de uma ordem preestabelecida da
criação e perante a fundamentação dos vínculos sociais na vontade. No primeiro
caso, na vontade livre e absoluta de um soberano, que — em virtude da vontade de
Deus rege o Reino como coisa conquistada e sua. No segundo caso, na vontade de
um rei posto à frente do Reino em virtude de um pacto originariamente
estabelecido entre os povos e cujas prerrogativas de governo foram estabelecidas
pela vontade dos pactuantes.
No caso da Deducção Chronologica... toda a estratégia anti corporativista se
dirige a provar que a monarquia portuguesa era uma monarquia pura, constituída
por territórios conquistados em guerra justa, fundada por doação (de Afonso VI de
Leão a D. Henrique), transmitida por sucessão e em que todos os poderes residiam
pura e soberanamente no rei (Deducção Chronologica..., parte I, §§ 592-598 e
679-683), e que, portanto, ao contrário do que se passava nas monarquias mistas,
não havia qualquer participação no poder de outros corpos do Reino,
nomeadamente quando reunidos em cortes. 0 papel destas, desde as de Lamego,
fora sempre o de um organismo consultivo, a que o rei recorria na falta de outros
meios de auscultar o Reino. Nesse momento, as cortes já não eram um tema
politicamente critico, tendo sido pela última vez convocadas no reinado de D.
Pedro II. 0 destaque dado as teses “anti-parlarnentares” na Deduccão
Chronologica... apenas se explica por elas serem emblemáticas de um paradigma
individualista e voluntarista de entender a sociedade e o Poder que tinha outras
consequências. essas sim, politicamente actuais. no plano das relações, por um
lado, entre a coroa e a Igreja (questão imediata de que a obra se ocupa) e, por
outro, entre a coroa e a ordem politica estabelecida, ou seja, a constituição do
Reino.
Os temas constitucionais ligados à unidade do Poder (a “questão do Estado”)
vão constituir, de facto, o centro do debate politico durante as décadas de 70 e 80,
pelo menos ate ao momento em que os acontecimentos europeus promovam a
questão das relações entre a coroa e as cortes (a “questão parlamentar”) e a
questão das leis fundamentais (a “questão da constituição formal”) ao primeiro
plano da reflexão politica. Por detrás, entretanto, desenvolvia-se um decisivo
combate de retaguarda, no sentido de impor na consciência colectiva os
fundamentos teóricos individualistas que suportavam as soluções prático-políticas
propostas.
Já a Deducção Chronologica... havia defendido vigorosamente a unidade e
autonomia do soberano em relação a qualquer outro poder temporal (Parte II, n°.
640). Em 1770, António Ribeiro dos Santos escreve, com a mesma ênfase e
redundância, que “o sumo poder do imperante civil é o direito absoluto de moderar
e dirigir, indistintamente, as acções de todos os membros dos seus corpos políticos,
em prol da utilidade comum dos cidadãos [...] unido num só titular, de tal modo
que esse império, indiviso e integro de uma só e mesma suma potestade, regule,
por todas as partes dos estados, as matérias da comum felicidade e as graças da
utilidade”. Nestes dois textos contém-se uma ideia fundamental, a da unidade do
Poder, e todo o programa constitucional e institucional que daí decorre e que
implicava uma ruptura com a ordem institucional estabelecido, ou seja: i) tornar o
soberano na única fonte do direito e tornar o direito disponível nas suas mãos (isto
é <fazer as leis e derrogá-Ias quando bem lhe parece”); ii) tornar o poder geral e
absoluto, ou seja, não cerceado pelos privilégios (isto é “dirigir e moderar
indistintamente todos os membros dos seus corpos políticos”); iii) tornar os
aparelhos político-administrativos em instrumentos disponíveis da vontade politica
central (isto é “deputar as pessoas que lhe parecem mais próprias para
exercitarem nos diferentes ministérios”); iv) definir um “núcleo duro” de poderes
inseparáveis da pessoa do rei.
Embora não esteja estudada a resistência oferecida pelos aparelhos
jurídicos e políticos à primeira década do governo de Pombal, é provável que cedo
tenha ficado claro que, sem uma profunda reforma constitucional relativa à
estrutura da ordem jurídica, nenhuma outra reforma podia ser feita. Na verdade, o
direito constituía, na ordem constitucional corporativa, urna ordem objectiva,
definida por urna tradição normativa (ius commune, opinio communis, “praxística”)
que escapava ao controlo dos monarcas, ou por ser de origem doutrinal ou por
decorrer das práticas inveteradas dos tribunais. Por outro lado, a lei geral
dificilmente prevalecia sobre a norma especial (privilegio geral) e não prejudicava,
de todo, o privilégio especial, que se incorporava, como urna coisa, no património
do seu detentor e que, assim, passava a gozar da protecção de todos os meios
jurídicos e judiciários que protegiam os direitos adquiridos (Hespanha, 1989a, pp.
392 e segs.).
O carácter central da legislação régia na ordenação da sociedade é
declarado por Pascoal de Melo Freire, o principal intérprete, no campo do direito,
das novas ideias politicas logo no início das suas Institutiones iuris civilis lusitani.
Depois de se referir ao direito supremo do imperante de fazer tudo o que fosse
necessário para garantir a segurança interna e externa dos cidadãos e o seu
bem-estar (vol.I, pp. 1-2), enumera como primeira prerrogativa aí contida a
potestas legislatoria: “[...] pois se não fosse direito do Príncipe fazer, segundo o
seu arbítrio, as leis a cujas normas as acções dos súbditos se devam conformar, de
que modo os poderia dirigir e harmonizar todas as coisas com a utilidade da
República? Dai que o poder de fazer leis seja um direito majestático e nunca possa
faltar ao Supremo Imperante da República” (vol. I, pp. 1-3).
Afirmação que contrariava as pretensas atribuições legislativas quer das
cortes quer dos conselhos e tribunais palatinos [ibid., “(...) e o mesmo se diga, e
com maioria de razão, dos Tribunais do Reino, que, de algum modo, se subrogaram
no lugar das cortes”]. E, por outro lado, contrariava a ideia, corrente entre os
juristas, de que a lei do Reino estava subordinada não apenas à lei divina, mas
também à ratio iuris, ou seja, aos princípios fundamentais do direito comum,
entendido como “razão escrita” (ratio scripta). No plano da politica do direito,
qualquer destes pontos era fundamental. Com o primeiro, denegava-se valor de lei
a qualquer costume ou praxe de julgar em vigor nos tribunais, tal como já fizera,
até certo ponto, a Lei da Boa Razão, de 18 de Agosto de 1769, ao restringir a
relevância desses costumes aos que estivessem ratificados em assentos da Casa da
Suplicação (§ 14). Com o segundo, impedia-se a contínua usura do direito legislado
pela invocação dos princípios eventualmente contraditórios do direito civil e
canónico. E, de facto, a mesma lei de 1769, além de revogar a autoridade secular
do direito canónico (§ 12), diminuíra também drasticamente a do direito romano,
reafirmando, por um lado, o seu carácter meramente supletivo e, por outro,
subordinando a autoridade “extrínseca” dos seus textos à autoridade “intrínseca”
da boa razão em que fossem fundados (§ 9).
Mas a redução do direito à lei e a concepção desta como um direito
majestático implicavam ainda uma nova relação entre a norma geral, a norma
especial e o privilégio. Por um lado, a norma geral, escrita (i.e., a lei), impõe-se
agora a todas as normas consuetudinárias e locais. O principio de que “o direito
pode surgir sem a forma escrita, pois os costumes diuturnos, aprovados pelo
consenso dos utentes se equiparam à lei” (Inst. just., vol. I, pp. 2-9) aparece agora
subvertido por outro, próprio dos regimes monárquicos: “Na verdade, nas
Monarquias, se houver leis escritas em contrário [estes costumes] não valem.”
(Melo, 1789, vol. I, pp. 1-9) Por outro lado, reforça-se a interpretação de que as
normas locais (posturas) tem que obedecer, na forma e no fundo, à lei geral (Melo,
1789, vol. I, pp. 1-9). E, por fim, introduzem-se fissuras no princípio da absoluta
intangibilidade dos privilégios.
Este princípio era uma peça central, não apenas do modelo teórico
tradicional da sociedade e de poder, mas também das estratégias jurídicas de
defesa do statu quo politico. A tal ponto que, mesmo Pascoal de Melo continua a
afirmar que “também os privilégios concedidos individualmente a alguém se
chamam leis; pois ninguém pode perturbar aquele cidadão na fruição do seu
direito” (Melo 1789, vol. i, pp. 1-5). Mas logo acrescenta que “apenas o Rei pode
constituir, modificar e revogar tais privilégios” (ibid.), e que mesmo os dos
eclesiásticos e os dos nobres “podem e devem ser revogados, se contrariarem o
bem público”.
Apesar de herdeiro de uma doutrina jurídica favorável aos direitos dos
privilegiados, Pascoal de Melo procede a uma “desconstitucionalização” dos
direitos particulares que, a partir daqui, deixam de limitar o rei, ficando antes a
mercê dos seus juízos de oportunidade. O que Melo Freire escreve sobre a
irrelevância do juramento régio de manter os foros do Reino e sobre a radical
diferença entre os privilégios e as leis fundamentais (Institutiones iuris civ., vol. II,
pp.2-5, nota in fine) é um claro sinal disso mesmo. E uma rápida vista de olhos pela
legislação da segunda metade de Setecentos rapidamente revela formulações
radicais sobre a irrelevância dos privilégios. O facto de os privilégios (e, mais em
geral, os direitos dos particulares) estarem, agora, fundados, não numa ordem
jurídica natural e objectiva, mas num direito “voluntário” de origem legislativa,
faz com que também se enfraqueçam algumas das suas garantias
jurídico-judiciárias. Não devemos deixar passar em claro o significado profundo
desta mudança. Não se trata, de facto, de um mero rearranjo técnico das
competências para conhecer recursos. Trata-se, antes, de um sintoma de uma
mudança profunda do modelo das relações entre os particulares e o poder central.
Até aqui, os diferendos entre a vontade da coroa e os interesses dos particulares
eram encarados como quaisquer outros diferendos entre particulares e resolvidos
pelas vias jurisdicionais comuns, com meios jurisdicionais também comuns. A
partir de agora, esta equiparação do Estado aos particulares torna-se “indecente”
(como diz a lei) e substitui-se o recurso judicial por um pedido de reapreciação ao
órgão autor do acto contestado; por outras palavras — e para utilizar uma
linguagem de hoje —, substitui-se uma via contenciosa, por um recurso gracioso.
Ou seja, ao modelo jurisdicionalista substitui-se o modelo administrativo, nas
relações entre o Estado e os particulares.
Finalmente, a ideia de unidade suporta um entendimento diverso da relação
entre o soberano e os aparelhos político-administrativos da coroa. Antes, como
já se tem dito, a administração central estava organizada de acordo com um
modelo polissinodal, em que cada conselho ou tribunal (mas mesmo cada
magistrado) podia opor ao rei, de forma praticamente incontornável por este, as
suas próprias competências. Pois se entendia, segundo uma tradição que ia de um
célebre texto do Digesto [Digesto, I, 2, 3 (I. de império)] à própria obra de Jean
Bodin, que a jurisdição dos verdadeiros magistrados (“les vrais officiers”, como diz
Bodin) radicava na natureza da ordem política e não na discricionariedade do rei
(Hespanha, 1989a, pp. 418 e segs.). A monarquia não tinha, portanto, sobre o seu
próprio aparelho politico senão aquele mesmo poder de supervisão de que gozava
sobre os poderes alheios. E, por isso, com razão se lhe aplicou já o epíteto de uma
“monarquia descerebrada” (Jaime Vicens Vives).
Agora, em contrapartida, da ideia de unidade do Poder podem tirar-se,
neste plano, consequências de todo opostas. Que “os Magistrados de qualquer
qualidade, ou considerados em particular, ou em comum, assim como as Relações,
e Tribunais, não têm alguma jurisdição própria, mas toda é do Sumo Imperante, e
em consequência sujeita à suprema jurisdição do mesmo Imperante” e que “apesar
das alçadas dos Magistrados do mesmo Imperante, sempre fica salvo recurso ao
Príncipe ordinária, e extraordinariamente” (Sampaio, 1793, vol. I, p. 190, n.° y).
Em vez de decorrer, como anteriormente sucedia, de uma estrutura naturalmente
orgânica, a existência de diferentes magistrados explica-se, agora, pela delegação
de um direito majestático em “alguns dos seus vassalos; isto é, o direito de
constituir Magistrados” (ibid., pp. 189-190).
Corolário desta mesma ideia é o principio de que os cargos da república nada
mais são do que “uma comissão simples, e precária do Príncipe para exercer nesta,
ou naquela Estação restrita, e totalmente dependente do seu bom, ou mau serviço,
ou para se conservar, ou ser dela expulso” (lei de 23 de Outubro de 1770, António
Delgado da Silva, Collecção Chron. de Legislação, p. 506).
Embora isto fosse mais pacifico em face do direito anterior, o mesmo
carácter delegado tinham as jurisdições e direitos dos donatários, “pois tem a
jurisdição dada ou doada pelo Rei, de quem deriva todo o império e poder,
exercendo-a em nome dele” (ibid.). Mais tarde, em 19 de Julho de 1790, a Iei vem
restringir mais ainda estes poderes.
A questão dos poderes senhoriais leva directamente a última ilação do
principio da unidade do Poder — o da constituição de um “núcleo duro” de
poderes inseparáveis da pessoa do monarca. De um deles já se falou — a potestas
legislatoria.
Ao contrário da visão clássica dos regalia (decorrente das características do
regime feudal), fundados nos dados particulares da constituição de cada Reino,
agora do que se trata é de ligar intimamente a ideia de direitos reais a ideia da
unidade do Poder. Daí que António Ribeiro dos Santos distinga, cuidadosamente, a
nova da antiga concepção dos direitos do rei: “Direitos reais ou majestáticos [...I~
ou são os direitos gerais, que emanam da natureza da sociedade civil, e do supremo
poder, que nela há; ou são os direitos particulares, que provém da constituição
fundamental do Reino”. Os primeiros são definidos, a partir da própria ideia de
majestade ou soberania (ibid., p. 25), pelo direito público universal ou pelo direito
público constitucional (isto é, pela constituição fundamental do Reino). Os
segundos, que decorrem do “direito público puramente civil”, englobam “os
direitos feudais, fiscais e tributários que se deviam aos príncipes, não tanto em
razão da majestade, que por sua mesma natureza necessariamente os exigisse,
como de senhorio feudal” (ibid., p. 7).
Se os direitos reais decorrem da majestade, já se entende que uns nunca
possam ser separados da pessoa do rei; que outros se presumam na sua titularidade,
salvo concessão expressa (Melo, 1789, vol. II, pp. 2-42). E que todos, ainda que
concedidos, nunca saiam, essencialmente, da esfera de prerrogativas do soberano.
E o que explica Pascoal de Melo nas Institutiones: “A jurisdição não é própria dos
senhores, que apenas a tem do rei; nisto se distinguem essencialmente as
jurisdições régia e feudal (Heineccius, Elementa juras germanici, vol. III, p. 1) […].
Daqui decorre que apenas se pode exercer em nome do rei e de acordo com o seu
arbítrio e de tal modo que ele a possa limitar ou revogar […]” (Inst. civ., vol. II, p.
3-39) [No mesmo sentido, v. Sampaio, Prelecções de Direito Patrio, Publico e
Particular..., Coimbra, 1793, vol. III, torno 45, p. 169, n. b)]. Por outro lado,
defende-se agora, contra a doutrina anterior, que o rei pode sempre revogar as
concessões destes poderes, mesmo feitas por contrato, pois o regime da
irrevogabilidade contratual de direito comum não vigora quando os contratos tem
por objecto direitos públicos e da coroa do Reino.
A concentração dos poderes num centro único — aquilo a que já se tem
chamado a separação entre o Estado e a sociedade civil (agora reduzida a um
conjunto de indivíduos privados de poder de império) — foi, como vimos, o
elemento estratégico do paradigma politico individualista. Esta concentração
vinha, no entanto, criar problemas novos nas relações entre os particulares e o Poder, nomeadamente, no plano dos limites do Poder e da garantia dos direitos dos
particulares.
A terceira fase de reflexão politica setecentista, situada nas últimas
décadas do século, entre a ressaca do despotismo pombalino e as comoções da
Revolução Francesa, dedica-se sobretudo a esta questão, discutindo-a a propósito
do conceito de “leis fundamentais”, dos direitos dos vassalos e do papel das
cortes.
Consequente com o novo paradigma político, António Ribeiro dos Santos
rejeita esta redução dos direitos políticos aos direitos particulares na sua critica ao
plano do Novo Codigo de Pascoal de Melo: “No titulo I deste Código se enunciam
certos e determinados direitos, que competem aos vassalos; mas olhando para os
Títulos desta obra, persuado-me: 1. que os vassalos se consideravam nela em
diverso ponto de vista, isto é, como particulares, e não como corpo da nação; 2.
que só se tratou dos direitos, que tem cada um deles em particular em razão de
seus serviços feitos a Coroa, e não dos que tem todos os vassalos em geral em razão
das leis fundamentais, estilos, foros, usos e costumes de nossos reinos.” Feita esta
distinção, já se entende que proponha que, logo no inicio do código, figure um
artigo em que apareçam expressamente enumerados os direitos, foros, liberdades
e privilégios dos “Vassalos como corpo de nação”, bem como a sua “força e
efeitos” e os “meios legítimos” de os “fazer valer perante eles [os príncipes]”
(ibid., p. 22).
Em resumo: pode dizer-se que Pascoal de Melo ainda não tinha desenvolvido
uma teoria estatalista dos direitos de resistência e, por isso, ainda se socorre da
anterior construção privatista dos direitos particulares como iura quaesita, fora da
qual nada existe que se possa configurar como direito dos vassalos em relação ao
imperante. Só que, como transparece do conjunto da obra do próprio Pascoal de
Melo, o paradigma político-corporativo que suportava esta construção se
encontrava já subvertido. Como vimos, ele próprio se recusa a considerar, por
exemplo, a jurisdição e privilégios dos tribunais, dos oficiais ou dos donatários
como direitos radicados oponíveis ao Poder da coroa. A própria propriedade se
encontra, na sua obra, seriamente comprimida pela concepção de um direito
eminente do soberano sobre o reino. E, por isso, a sua construção envolve a
contradição de fazer repousar o direito de resistência sobre uns direitos que, na
verdade, se revelam ... não o serem. Isto condu-lo a uma concepção absoluta do
Poder — que adopta mais por razões de oportunidade politica (o exemplo da França)
do que por convicção teórica —, em que as únicas limitações do Poder — que o
distinguem, portanto, do despotismo e da tirania —são a humanidade e o amor do
soberano, o carácter vinculado (ao bem da república) dos seus direitos e a
generalidade da justiça e da lei. Já a salvaguarda dos privilégios, o respeito da
propriedade e a liberdade natural e civil dos vassalos estão subordinados ao
interesse da causa pública e ao bem universal da sociedade (Resposta Que Deu...,
p. 99). Em contrapartida, Ribeiro dos Santos, estando consciente da radical
separação entre direitos políticos e direitos privados, e filiando-se, a partir de
certa altura, noutra sub corrente doutrinal do jusnaturalismo, já se vê obrigado a
construir um arsenal de direitos políticos de resistência, fundados nas leis
fundamentais.
Eis outro conceito, este de “leis fundamentais”, chave do novo paradigma
politico. 0 conceito de lei fundamental tem como núcleo a ideia de que a
constituição da sociedade repousa num acto de vontade, numa lei, e não numa
disposição da Natureza, numa ratio, estruturante do paradigma corporativo60. Uns
juristas derivarão esta ideia de urna constituição voluntária do conceito histórico
de lex regia, a decisão popular que, na primitiva monarquia romana, teria
investido o rei nos seus poderes67. Outros, das experiências pactistas medievais e
primo-rnodernas (como vimos, no plano mais propriamente doutrinal, a Segunda
Escolástica veio revalorizar a ideia de pacto na explicação da origem do poder
politico em concreto).
A polémica setecentista sobre as leis fundamentais gira, basicamente, em
torno da existência e conte,.ido deste pacto histórico na monarquia portuguesa, já
que, fiéis ao preceito contratualista de que pacta sunt servanda, os absolutistas
nunca negaram o carácter vinculativo de tais leis, a existirem, como ainda
fundaram no seu respeito a distinção entre governo absoluto e governo despótico.
A Deduccao Chronologica... identifica como tais as leis de Lamego sobre a forma de
governo (monárquico) e o regime da sucessão (vol. i, §§ 597, 601 e 675), definindo
este estatuto como “lei fundamental, firme, perpétua e tal, que nem os seus régios
sucessores pudessem alterá-las. (~ 676-677). Pascoal de Melo começa por negar
qualquer participação do povo na translação do Poder para os reis, já que a
monarquia portuguesa teria tido origem na conquista e sucessão; em todo o caso
(ate porque o próprio Suarez tinha conceituado a conquista como uma forma de
pacto), procura limitai esse pacto adventício (isto é, as leis fundamentais) as
normas sobre a sucessão do Reino das Cortes de Lamego e das Cortes de Lisboa de
1698 (lei de 12 de Abril, que subordinava a sucessão do filho do rei que sucedeu ao
irmão a aprovação das cortes).
Diferente era, já, a posição de António Ribeiro dos Santos, na polémica que
manteve com o anterior sobre o projecto do Novo Código. Aí, ele fundava (como
vimos) os direitos políticos dos vassalos nas “leis fundamentais, estilos, foros, usos
e costumes” do Reino (Pereira, 1982, pp. 301 e segs.). Mas, mais do que isto —
coerentemente com a ideia da disponibilidade voluntarista da constituição e
procurando tornear as eventuais dificuldades de comprovar a existência histórica
de umas leis fundamentais tão liberais como as pretendia —, admitia uma
“renegociação constitucional”, um novo pacto: “O príncipe, de comum
consentimento com os seus povos, pode mudar e alterar quaisquer leis
fundamentais do Estado. ou os povos fossem ou não autores delas; porque se o
foram, de comum consenso com os seus príncipes as podem alterar, assim como as
puderam estabelecer; se o não foram, quem estorva o príncipe. que não possa
ceder de seus direitos em beneficio da república e tratar com os povos da alteração
ou mudança da constituição do Reino” (pp. 140-141). Estava assim aberta uma
nova via constitucional, a de uma constituição elaborada e votada por uma
assembleia representativa, como cedo haveria de acontecer em 1820.
Baixar