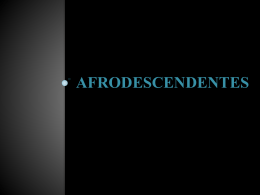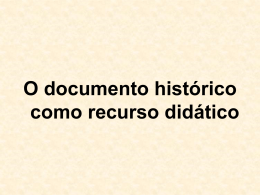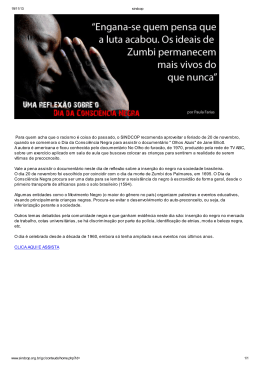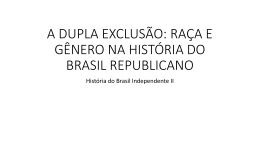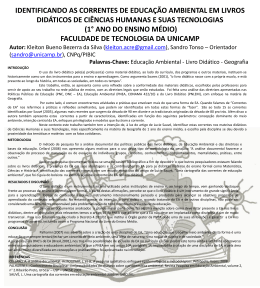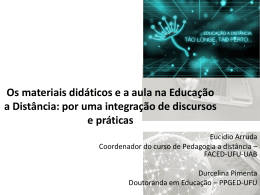Relatório final de pesquisa desenvolvido no Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Maringá, no período de agosto de 2006 a julho de 2007, sob orientação do Prof. Dr. Renilson José Menegassi. NEGROS E PARDOS NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL Giselle Rodrigues Ribeiro (PIBIc-UEM) Renilson José Menegassi (UEM) RESUMO: A identificação da representação social de negros e pardos em textos verbais do livro didático de português de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, assim como a observação da influência e do condicionamento de comportamentos e de conhecimentos lingüístico-discursivos sobre os alunos é o tema deste projeto de pesquisa que se justifica na medida em que, ao longo dos anos, nossas crianças têm se defrontado com livros didáticos omissos no tratamento da enorme diversidade étnico-cultural brasileira e, especificamente, na representação das diferentes etnias que compõem a multifacetada população nacional. Deste modo, subjazido pela teoria lingüística enunciativa de Bakhtin, pelas orientações teórico-metodológicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais e por estudos a respeito do racismo na educação e da representação de grupos minoritários em livros didáticos, esta pesquisa objetivou refletir sobre como a representação social de pessoas pertencentes ao grupo étnico-racial negro e pardo se apresenta no livro didático de língua materna e, ainda, no modo como os efeitos desta representação podem se manifestar em alunos que estão na idade de formação de valores (6 a 10 anos). Concluiu-se, afinal, que existe uma retratação da realidade dos afrodescendentes em que se considera a participação destes na composição populacional brasileira, bem como sua presença e/ou atuação no desenvolvimento do país. Também se verificou, ainda, que a presença de negros e pardos, na produção didática, se dá predominantemente mediante a consideração de um afrodescendente fictício, produto do discurso social, como é o caso de personagens da literatura infanto-juvenil ou do folclore brasileiro. Palavras-chave: afrodescendente, representação social, livro-didático, diversidade étnicocultural. INTRODUÇÃO Livros didáticos omissos no tratamento da enorme diversidade étnico-cultural brasileira e, especificamente, na representação dos diferentes grupos étnicos que compõem a multifacetada população nacional tem sido a ferramenta de estudo utilizada quase diariamente pela maior parte das crianças e jovens brasileiros nos bancos escolares ao longo dos últimos anos. E quando não há omissão, podemos dizer, igual e infelizmente, que tais materiais são responsáveis por uma veiculação de imagens ou de características de certos grupos étnicos que são incoerentes com o observado no meio social que integramos, difundindo o preconceito e, intencionalmente ou não, estimulando atitudes discriminatórias entre indivíduos que estão na idade de formação de valores ou mesmo entre os demais componentes da sociedade escolar. Isto pode ser depreendido e comprovado, por exemplo, a partir das palavras de Ana Célia da Silva, da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e militante do Movimento Negro Unificado, sobre a população negra. Segundo a autora, “sua presença nesses livros [livros didáticos] foi marcada pela estereotipia e caricatura, identificadas pelas pesquisas nas duas últimas décadas” (SILVA, 2005, p.23). Tal situação tem como resultado a formação de crianças que, quando integrantes do grupo étnico omitido ou depreciado, passam a contar com uma identidade frágil e desajustada, com baixa auto-estima e tendentes a rejeitar os valores culturais de seu povo, como inclusive a seu assemelhado étnico. Quando, por outro lado, esta criança faz parte da classe média branca, grupo predominantemente representado nos livros didáticos, segundo Rosemberg (1985, p.77, apud SILVA, 2005, p.21), para quem “o homem branco adulto proveniente dos estratos médios e superiores da população é o representante da espécie mais freqüente nas histórias, aquele que recebe um nome próprio, aquele que se reveste da condição de normal”, essa criança simplesmente pode achar natural o discurso racista direcionado a seu colega de sala de aula, tendo introjetado, através das caricaturas e estereótipos com que tem contato, no livro didático, por exemplo, idéias de incompetência, de feiúra, de sujeira, de maldade e de pobreza com relação à criança negra. Diante destas graves conseqüências e consciente da importância de um tratamento adequado da diversidade étnico-cultural brasileira tanto pelo professor, como pelo livro didático de que ele se utiliza, que é, nos dias atuais, segundo Silva (2005, p.22), “um dos materiais pedagógicos mais utilizados pelos professores, principalmente nas escolas públicas, onde, na maioria das vezes, esse livro constitui-se na única fonte de leitura para os alunos oriundos das classes populares”, este projeto de pesquisa, vinculado ao projeto maior “A escrita e o professor: interações no ensino e aprendizagem de línguas” (Processo 0408/04-UEM) e ao Grupo de Pesquisa Interação e escrita no ensino e aprendizagem (UEM/CNPq-www.escrita.uem.br), ambos sob a coordenação do Prof. Dr. Renilson José 2 Menegassi (DLE), tem como tema a identificação da representação social do afrodescendente nos livros didáticos de língua materna de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, observando-se a influência e o condicionamento de comportamentos e conhecimentos lingüístico-discursivos sobre os alunos1. O objetivo é refletir sobre o modo como a representação social do afrodescendente se apresenta nos textos verbais do livro didático de língua materna, especialmente, sobre as provocações que estas podem ter nos alunos que entrarem em contato com este material, visando-se com isso uma contribuição para um melhor tratamento das diversidades étnicoculturais, a partir de um instigamento do professor quanto à consideração do modo como o afrodescendente, mas, também, o conceito de negritude, de um modo geral, são trazidos para a produção didática. Assim, analisando livros didáticos de língua portuguesa atuais, empregados na região de Maringá-PR, propomo-nos a identificar como se dá a representação social do afrodescendente em termos do modo como sua imagem é exposta, do nome, da função, do cargo e da posição social que lhe são conferidos, bem como da maneira que seus costumes, sua roupa, sua música, sua comida, seu léxico e sua religião, por exemplo, são retratados neste material. Para alcançar esses objetivos e contribuir para um ensino de língua materna imiscuído da atenção para com um tratamento consciente e maduro das diferenças étnicas, assim como da pluralidade cultural, conforme prescrito pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, nos Temas Transversais, escolheu-se, para análise, as coleções de livros didáticos Português: uma proposta para o letramento, elaborada por Soares (2002); Vivência e construção: Língua Portuguesa, das autoras Miranda, Lopes e Rodrigues (2004), e Projeto Pitanguá: Português - Ensino Fundamental (2006), organizada pela Editora Moderna, coleções que, além de serem utilizadas na região de Maringá-PR, foram avaliadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Ademais, deve-se dizer que 1 Deve-se acrescentar que a indagação da autora a respeito da representatividade de negros e pardos nos livros didáticos teve sua resposta parcialmente facilitada por outro projeto de Iniciação Científica encerrado em 2006 (A representação social do afro-descendente no livro didático de língua materna, Projeto de Iniciação Científica desenvolvida através do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Maringá – www.escrita.uem.br), referente ao livro didático de língua materna do Ensino Fundamental, de 1ª a 4ª séries, em que as ilustrações de duas coleções de livros didáticos foram o objeto de análise. Chegando-se, pois, à percepção de que negros e pardos eram sim retratados nas imagens das produções didáticas, restava, ainda, verificar se esta presença evidenciava-se igualmente nos textos verbais deste gênero escolar. 3 o intuito de simplificar a descrição destes volumes no processo analítico levou-nos a chamar os exemplares da coleção da autora Soares de exemplares da coleção 1; os de Miranda, Lopes e Rodrigues de livros da coleção 2, assim como os organizados pela Editora Moderna de volumes da coleção 3. Vale destacar, ainda, que esta classificação não tem qualquer outro significado que não o de simplesmente ordenar as coleções pelos respectivos anos de edição. Por fim, quanto à composição deste relatório, tem-se, primeiramente, a fundamentação teórica do trabalho, que se pauta por uma perspectiva sócio-histórica de ensino e aprendizagem, estando dividida em quatro seções: Educação e racismo na escola; Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a pluralidade cultural; A representação de grupos minoritários no livro didático e O outro na constituição do enunciado. Em seguida, passa-se à análise da representação social do afrodescendente nos textos verbais dos livros didáticos, que é realizada sob a perspectiva de Bakhtin e dividida em duas partes: Afrodescendência: representação da realidade e O afrodescendente: um conceito socialmente construído e reapropriado pelo livro didático, que se subdividem nas seções: O negro mencionado como parte da brasilidade; Negros e pardos: entre o ser sujeito e o ser colocado como objeto (1ª parte); O negro ficcional; O negro folclórico (2ª parte). As seções de análise estão demarcadas por exemplos de aspecto distinto do que foi observado e depreendido a partir do exame do material didático; finalmente, a estas sucede a conclusão levantada. 4 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 1.1 EDUCAÇÃO E RACISMO NA ESCOLA Nesta seção, objetiva-se apresentar as idéias de diferentes autores no que se refere ao racismo na área educacional. Para tanto, são apreciados textos que abordam a questão sob diversos enfoques, considerando-se, visões relativas à questão das raças nas leis educacionais, como reflexões sobre a prática de se negar o preconceito no âmbito escolar e uma tentativa de compreensão de como as relações raciais são construídas na escola, por exemplo. Em seu artigo Quantos passos já foram dados? A questão de raça nas leis educacionais. Da LDB de 1961 a Lei 10.639, Lucimar Rosa Dias (2004) almeja, por meio de uma investigação da questão da raça nas leis educacionais, tentar compreender como a tensão racial vivida por negros e brancos, no cotidiano escolar, é refletida pelo sistema legislativo educacional. Para tanto, o autor adota como modelo para sua pesquisa a coletânea de leis brasileiras – federais, estaduais e municipais – em que Hédio Silva Junior verifica o tratamento jurídico dispensado à questão da igualdade de raças. Dias (2004), para quem o racismo é estruturante das relações de trabalho, sociais e escolares, sendo, por isso, a raça um problema a ser discutido, faz uma revisão histórica que começa no tempo da Primeira República para, assim, detalhar os resultados de sua incursão pelas leis educacionais, demonstrando como estas sempre explicitaram uma tentativa de embranquecimento da sociedade ao longo da história do país. Segundo o autor, que pretende, então, demonstrar que as leis educacionais refletem as tensões existentes no meio social, a questão racial serviu como um recurso argumentativo para a aprovação do projeto de Lei 4.024/612 por parte dos educadores da época – estes recorriam ao tema “para fortalecerem seus discursos de escola para todos” frente aos que defendiam o investimento público em escolas confessionais e privadas. Isto, contudo, tendo em vista os obstáculos que a defesa de uma sociedade racialmente igualitária precisa enfrentar no Brasil, não deve fazer que a importância dada à questão racial na lei, conforme o autor, seja minimizada, 2 Lei de Diretrizes e Bases n° 4.024, decretada em 1961. 5 ainda porque, mesmo de forma secundária, ela coloca como um de seus fins “a condenação a quaisquer preconceitos de classe e de raça”. Com relação à lei 9.394/963, Dias (2004) afirma haver um retrocesso na abordagem da questão racial em comparação com o texto da lei 4.024/64, uma vez que, estando a centralidade da lei 9.394/96 na questão de classe, o item que condena o preconceito de raça simplesmente desaparece, mencionando-se apenas um “respeito à liberdade e apreço à tolerância” em um momento em que a própria Constituição de 1988 já tratava o racismo como crime a ser punido com pena de prisão. Para o autor, tal compleição da lei é danosa na medida em que deixa de facilitar os “mecanismos de intervenção estatais” ou as “reivindicações dos setores interessados nestas intervenções” como acontece quando a lei é explícita. Ademais, segundo o autor, referências à questão racial são feitas na lei n° 9.394/96 somente quando se assegura às comunidades indígenas o uso de suas línguas maternas e de processos particulares de aprendizagem – comunidades que, conforme o autor, não contam com um discurso racializado em seu tratamento, como acontece com os negros - e ao se explicitar as raças, as culturas e etnias que contribuíram para a formação do povo brasileiro, devendo, por isso, serem consideradas pelo ensino de História do Brasil. Diante deste panorama, todavia, o autor destaca que a lei não ignora a discussão sobre a questão racial, existindo, não obstante, a ausência de um tratamento das especificidades da população afro-descendente, como também uma diferença no modo como grupos indígenas e negros são tratados. Descrevendo, ainda, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que inclui em um de seus volumes uma proposta de abordagem da pluralidade cultural no meio escolar, e a lei nº 10.639/03 - incisiva e clara, para o autor - que torna obrigatória a inclusão da temática História e Cultura Afro-brasileira no currículo oficial do ensino brasileiro, como produtos da mobilização de intelectuais negros e não-negros e de movimentos provocados por estes, Dias (2004) esclarece, por fim, sua crença: para melhorar os indicadores da educação nacional que envolvem a questão racial são necessários sempre dois passos: a existência de leis e, então, o “estabelecimento de políticas públicas que as efetivem”. O autor pontua, igualmente, as leis de ensino n° 5.540/68 e n° 5.692/71. 3 Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394, decretada em 1996. 6 Hédio Silva Junior (2002), em seu texto Discriminação Racial nas Escolas: entre a lei e as práticas sociais, traz uma compilação de estudos qualitativos e quantitativos sobre os aspectos principais das “relações raciais no sistema de ensino”, faz um inventário acerca da legislação federal referente ao tema, como também propõe políticas educacionais voltadas para a igualdade de oportunidades e de tratamento dos indivíduos no sistema de ensino, tendo como interesse que a efetividade dos instrumentos legais de sanção civil ou penal da discriminação seja assegurada, como também o seja a adoção de medidas que contribuam para a eqüidade de tratamento entre as pessoas dentro do sistema educacional, bem como para que estas tenham oportunidades iguais. De acordo com Silva Jr. (2002, p.14), para quem a escola “é, concretamente, um preditor de destinos profissionais, ocupacionais e de trajetórias de vida, segundo a raça-cor do alunado, (...) podendo ser um desencadeador ou um entrave ao seu pleno desenvolvimento”, ao considerarmos os estudos que ponderam acerca da discriminação e da exclusão étnico-racial no sistema escolar, percebemos que são poucos aqueles que buscam a resposta para esta problemática dentro da própria escola, examinando “as interações e relações entre professor-aluno e aluno-aluno”, como também “a relação alunos-agentes educativos (diretores, coordenadores, inspetores de aluno, equipe operacional)”, que é muitas vezes marcada por “autoritarismos e visões estereotipadas”. Conforme o autor (2002), existe também, no que concerne à questão do preconceito e de discriminação no meio social, uma lacuna muito clara entre os “enunciados legais” e o que se observa na realidade com relação ao cumprimento dos direitos referentes à questão da igualdade racial-étnica entre as pessoas. Perante isto, considerando o ambiente escolar, Silva Jr. (2002, p.34) propõe à escola um trabalho dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em conexão com a Lei de Diretrizes e Bases – para que as instituições escolares não tenham a possibilidade de considerar como “alternativos” temas como a pluralidade cultural, que parecem se apresentar mais como uma sugestão dos PCNs, tendo em vista o caráter de não-obrigatoriedade de seguimento deste documento revelado já no nome “parâmetros” – e a nós, uma interrogação com relação à responsabilidade da escola “na perpetuação das desigualdades”, pois, para o autor, a negação sistemática de uma imagem justa para o outro e, logo, a negação e a visão estereotipada sobre os negros representa “um dos mecanismos mais violentos vividos na escola”, bem como “um dos fatores que mais 7 concorrem para a eliminação da criança negra” diante da indiferença e do silêncio às “diversidades presentes no espaço escolar”. Em seu artigo O preconceito racial e suas repercussões na instituição escola, Waléria Menezes (2002) procura compreender como se constroem as relações raciais na escola – um dos espaços da superestrutura social do Brasil para a autora – e como estas contribuem para a formação da identidade das crianças negras. A autora coloca o preconceito como o “desencontro da alteridade” e expõe o modo como ele se tornou fruto de uma redução de aspectos culturais a critérios biológicos, os quais corroboraram para estigmatizar grupos minoritários, no caso, os indivíduos negros. Para a autora, que trata também da representação da escola, do existente preconceito racial nesta instituição e traz notas introdutórias sobre o lugar do negro no domínio escolar, embora a escola seja um espaço de contradição – já que se põe a função social de ser um lugar de preservação da diversidade cultural, “responsável pela promoção da eqüidade”, ao mesmo tempo em que colabora para a desvalorização do grupo étnico a que a criança negra pertence e para a destruição de sua identidade – ela pode proporcionar discussões aprofundadas a respeito das diferenças presentes em seu meio, favorecendo o reconhecimento e a valorização do grupo étnico negro, a partir do momento em que for reconhecida como o espaço de reprodução de diferenças étnicas que é. Rosemberg, Bazilli & Silva (2003), no artigo Racismo em livros didáticos brasileiros e seu combate: uma revisão da literatura, propõem-se a fazer uma revisão da produção existente no Brasil sobre “expressões de racismo nos livros didáticos”. Para tanto, os autores fazem seu estudo considerando um percurso histórico, baseiam-se em um levantamento bibliográfico sistemático e de produções publicadas nas últimas cinco décadas, para, dessa forma, analisar a literatura nacional pertinente sob dois ângulos: “publicações que enunciam o racismo em livros didáticos”; e publicações que fazem referência ao combate ao racismo neste tipo de material. Segundo os autores, embora a questão do racismo nos livros didáticos nacionais seja apontada como um dos “primeiros exemplos de desigualdade racial na educação”, apresenta-se diminuta e “incipiente”, no Brasil, a produção de pesquisas sobre livros didáticos em geral e, especialmente, sobre o racismo neste tipo de material escolar. Além disso, conforme os autores, os estudos existentes não fazem referências a árabes, ciganos, 8 judeus ou japoneses, aludindo, exclusivamente, a negros e a indígenas; apenas livros didáticos para o Ensino Fundamental são preferencialmente focalizados, privilegiando-se os de História e os de Língua Portuguesa e a circulação do livro didático ou o modo de sua recepção por parte dos alunos ou dos professores raramente são o foco das análises, as quais recaem, principalmente, sobre os textos e as ilustrações desta produção; fatores que, agregados, configuram, de acordo com os autores, o conjunto da referida produção como “frágil”, teórica e metodologicamente fragmentado e “inconstante”. Rosemberg, Bazilli & Silva (2003) abordam também, no artigo em questão, como foram feitas as pesquisas sobre a questão racial no país desde a década de 50 e o modo como estas adentraram o campo da educação; consideram que esses estudos ainda não se preocuparam com expressões de racismo no processo de produção do livro didático ou mesmo com a forma como brancos e negros se situam, nos “postos de trabalho” relacionados à “distribuição e avaliação de livros didáticos incluídos no PNLD” com relação às desigualdades raciais. Afirmam que as expressões de racismo no material didático representam um dos modos de se produzir e sustentar o racismo no cotidiano brasileiro e concluem examinando as ações principais que o movimento negro e os órgãos oficiais vêm desenvolvendo para combater o racismo nos livros didáticos: o Programa Nacional do Livro Didático e a Lei nº 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Para os autores (2003, p. 18), que temem que o “debate sobre relações raciais no Brasil [seja] focalizado exclusivamente nos negros, retardando, ainda mais, o questionamento da construção da identidade racial branca”, esta lei provoca uma certa apreensão no que se refere à sua aplicação e a suas conseqüências para a produção do livro didático, tendo em vista os professores serem formados inadequadamente para lecionar as disciplinas requeridas pela lei, como também ser reduzida a “retaguarda de material didático de qualidade para uso de alunos e professores”. Tânia Maria Baibich (2002), em seu artigo Os “Flinstones” e o preconceito na escola, objetiva, através de um passeio pelos conceitos de alteridade e de preconceito, conduzir o leitor à reflexão sobre a prática de se negar o preconceito no âmbito escolar e sobre as conseqüências desse processo para a manutenção do mesmo tecido social. Para ilustrar as reflexões acerca do encobertamento do preconceito, o que classifica como 9 técnica Fred Flinstone* ou processo de “varredura para debaixo do tapete”. A autora entrevistou professores de uma escola pública do Estado do Paraná, marcada por um maior envolvimento político e com uma proposta de “sociedade mais igualitária no que se refere a direitos e deveres de cidadania”, a fim de diagnosticar o comportamento da escola e do corpo docente no que concerne à atitude de reconhecer a existência do preconceito e à sua profilaxia. Para Baibich (2002), vivemos em um país que, ao se defrontar com dados estatísticos reveladores da discriminação existente contra indivíduos negros na sociedade, prefere considerar-se livre de preconceito e ocultar um problema real. Parceira dessa situação há, ainda, um sistema educacional que, além de enfrentar inocuamente conflitos e processos de dominação de variados matizes, acredita, de acordo com a autora, no mito da mestiçagem, funcionando, assim, “como estufa para o crescimento e a manutenção do processo de exclusão dos diferentes” (p.03), sem que contribua para a escola almejada por todos: capaz de alicerçar uma sociedade que não permita a prática de atos bárbaros contra indivíduos discriminados como os ocorridos em Auschwitz contra os judeus. Apesar de suas análises revelarem que mesmo uma escola que se pretende voltada para o convívio com a diversidade toma medidas paliativas, mais no sentido de apaziguar do que de modificar conflitos que envolvem preconceito e discriminação contra indivíduos, enfrentando uma barreira grande e aparentemente intransponível de negação da situação, “que, deliberadamente ou não, promove a manutenção do estado de preconceito bem como da geração de indivíduos preconceituosos” (p.17), Baibich (2002) acredita em atitudes mais efetivas para a questão, atitudes que sejam “agressivamente positivas”, para que se olhe o problema nos olhos e, assim, possa-se combatê-lo. A autora (2002) pensa inclusive que, de forma bastante geral, tendo a escola reconhecido, no nível do discurso, “a importância do significado do pensar sobre si, sobre sua ação e sobre o outro, para poder transformar” (p.12), tem igualmente um papel fundamental nesse processo de transformação das próprias atitudes e do comportamento social. Maria Elena Viana Souza (2001), em seu artigo Preconceito racial e discriminação no cotidiano escolar, tenta identificar nas manifestações de alunos de sexta série (com * Nome inspirado no desenho animado Os Flinstones, cujo personagem principal, Fred Flinstone, costuma esconder a sujeira debaixo do tapete quando instado por sua mulher, Wilma, a varrer a casa. 10 idades que variam entre 11 e 18 anos) de uma escola municipal e pública do Rio de Janeiro “atitudes, palavras, preferências e reações que possam conter significados preconceituosos com relação às características raciais dos indivíduos” (p.02). Para tanto, a autora analisou, primeiramente, as respostas e justificativas dos alunos com relação a suas preferências estéticas diante de fotos de pessoas de raças distintas (um rapaz e uma garota negros; e um rapaz e uma garota brancos); e, num segundo momento, suas respostas referentes a duas situações: terem os alunos já presenciado alguma forma de discriminação e terem eles observado alguma atitude discriminatória na escola (os estudantes deveriam contar como estas se teriam passado em ambos os casos). Em sua análise, Souza (2001) observou a escolha da garota branca, do rapaz negro, da garota negra e do rapaz branco, respectivamente, como os preferidos, esteticamente, pelos alunos em questão, como também constatou que os alunos negros ou afrodescendentes que participaram da pesquisa, contribuindo com suas respostas, perceberam mais formas de discriminação – tanto na escola, como fora dela – do que os estudantes brancos também participantes. A autora aborda os fatores que teriam motivado a preferência estética dos alunos na situação de pesquisa, informando-nos do predomínio da consideração de aspectos físicos por parte dos alunos ao apreciarem as fotos; conceitua e discorre sobre preconceito e discriminação; considera a percebida valorização do cabelo liso na escolha feita pelos estudantes, para, então, abordar a questão do cabelo crespo no imaginário do negro e, também, expõe que a resposta dos alunos quanto à preferência estética é percebida no discurso feito do dia-a-dia escolar, “em cada atividade executada, em cada relação que se estabelece entre alunos, professores, funcionários e direção” (p.07), tendo em vista a escola ser um lugar de representações de culturas e de produção de símbolos, de significados e de representações variados. Para Souza (2001), que considera a discriminação contra indivíduos negros uma questão cultural e não uma questão de classe, a escola tem importante papel a cumprir na desconstrução dos estereótipos criados pela sociedade, pois é a ausência do preconceito racial contra a população negra e afrodescendente como tema de discussões e de trabalhos no espaço escolar que contribui, segundo a autora, para o estabelecimento sutil desse tipo de preconceito e para seu reforço por meio do silenciamento que acaba por se estabelecer. 11 Marília Pinto de Carvalho (2004), em seu artigo Quem são os meninos que fracassam na escola?, almejou conhecer as formas de produção do fracasso escolar que, cotidianamente, é mais saliente entre meninos que cursam as sérias iniciais do Ensino Fundamental. Com tal fim, a autora busca, por meio de um estudo que realizou com crianças e professoras de 1ª a 4ª séries de uma escola pública de São Paulo entre 2002 e 2003, compreender os processos que têm conduzido um maior número de meninos do que meninas, e, dentre eles, uma maioria de meninos negros e/ou provenientes de famílias de baixa renda, a obter conceitos negativos e a ser indicados para atividades de recuperação (p.01). Seu estudo considerou as indicações das professoras sobre 203 crianças com relação aos estudantes que foram indicados para o reforço em alguma etapa do ano letivo de 2002; que causaram “problemas de disciplina” e que mereceriam o elogio de bom/boa aluno/a, como também aquelas não citadas em nenhuma das situações. Para Carvalho (2004), as distinções de desempenho na escola entre meninas e meninos são impossíveis de serem investigadas sem que se considere as desigualdades de classe e, especialmente, as distinções de raça, posto a maior parte dos garotos que apresentam dificuldades escolares serem pertencentes a “minorias raciais e étnicas” e provirem de famílias que possuem baixa renda. Tal conclusão foi possível uma vez que sua análise revelou, com relação à questão racial na escola considerada, que todas professoras afirmavam que esta temática não era “objeto de discussão na equipe escolar”; que as docentes “tenderam a classificar um número muito maior de alunos como brancos do que eles mesmos o fizeram na auto-atribuição de cor” (p.15) realizada na pesquisa e que as professoras tendem a avaliar “negativamente ou com maior rigor o desempenho” do estudante se o perceberem como negro. Ademais, foi igualmente perceptível dados como: 1) entre os alunos não citados há uma alta proporção de estudantes “com renda familiar até dez salários mínimos e que se classificam como negros”, ao mesmo tempo em que é forte a presença de “alunos de renda alta, autoclassificados como brancos, no grupo elogiado” (p.18); 2) a proporção de estudantes percebidos como brancos entre os elogiados foi significativamente maior e 3) no caso do desempenho de meninos percebidos como negros, raça atribuída e sexo combinam-se de forma perversa e, embora 12 numericamente sejam poucos, eles estão em proporção especialmente alta entre os alunos com dificuldades de aprendizagem (p.16). É por constatações como estas, então, que Carvalho (2004) aponta a necessidade de não apenas “desmontar os estereótipos de mau aluno que estigmatizam os meninos negros e pobres, considerando-os a priori como fracassados, rebeldes, machistas, violentos etc.” (p.03), mas ainda de se discutir a cultura escolar como fonte importante na construção das identidades de meninos e meninas, seja na reprodução de estereótipos e discriminações de gênero, raça e classe, seja na construção de relações mais igualitárias (p.24). O que se depreende, em suma, a partir dos textos considerados, é a necessidade constante de luta dos indivíduos de etnias consideradas minoritárias, como é o caso da afrodescendente, tendo em vista que mesmo as leis educacionais dificilmente consideraram as especificidades da população negra, contribuindo sobremaneira, na verdade, para as tentativas de branqueamento da sociedade ao longo da história brasileira. Diante disto, no plano legal, faz-se verdadeiramente importante a definição de leis que promovam a eqüidade de tratamento entre as pessoas no sistema educacional e no meio social, considerando e coibindo o racismo que infelizmente ainda estrutura as relações sociais, profissionais e escolares dos indivíduos, como também o estabelecimento de políticas públicas que efetivem os instrumentos legais existentes contra as práticas preconceituosas e discriminatórias. Com relação à cultura escolar, sua discussão, por sua vez, faz-se igual e extremamente fundamental, posto que pode ser a medida necessária para as diversas instâncias sociais e as pessoas propriamente ditas começarem interrogar-se a respeito da responsabilidade da escola no processo de perpetuação de desigualdades: a escola que hoje, por exemplo, como se observa pelas experiências apresentadas, prediz destinos e trajetórias dos alunos segundo suas cores, eliminando sistematicamente a criança negra que se confronta na escola, em via de regra, com a indiferença da instituição diante da diversidade, com o silêncio perante a discriminação que sofre e com a formação de colegas preconceituosos ou que se auto-rejeitam devido a introjeção de visões estereotipadas contra a própria etnia que é promovida pela escola com auxílio, muitas vezes, do livro didático, pode vir a ser uma escola comprometida com a diversidade étnica e cultural, contribuindo para a formação da identidade das crianças negras, como também 13 para a construção da identidade racial do próprio branco, deixando, portanto, de se constituir com um entrave ao pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes que constroem a diversidade dentro do ambiente escolar. 1.2 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E A PLURALIDADE CULTURAL A partir da leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o objetivo desta seção é apresentar o conceito de pluralidade cultural, a forma como ela se manifesta na sociedade e no meio escolar, como também a proposta de trabalho na/para a escola sugerida pelos PCNs sobre o tema. Para tanto, é interessante destacar, previamente, que a abordagem feita encontra-se no volume denominado Temas Transversais (PCNs - TT), cujo propósito é o de refletir como levar alunos de 5ª a 8ª séries a terem as capacidades de “eleger critérios de ação pautados na justiça, detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente”, e de “criar formas não violentas de atuação nas diferentes situações da vida” (BRASIL, 1988, p. 35). De acordo com os PCNs - TT (1998, p. 121), o tema da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais de diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Pensar deste modo a pluralidade de culturas existente no país, é considerar a relevância do fato de se viver em uma sociedade plural de que compartilham diferentes grupos e tradições. É saber que não apenas distintas etnias compõem a multifacetada população nacional, mas que imigrantes de diferentes países também vieram para o Brasil. É formar um sentido consciente de Brasil, para que se possa, então, valorizar as diferenças étnicas e culturais complementares que se evidenciam e, desta maneira, partir para uma (con)vivência democrática, marcada, portanto, pelo respeito garantido aos outros e a si. A pluralidade cultural faz referência às desigualdades socioeconômicas, porque as relações de poder que condicionam as últimas, também constituem e marcam as produções 14 culturais. Além disso, faz-se impossível compreender a discriminação existente no país sem a recorrência ao contexto socioeconômico em que ela ocorre, como também à “estrutura autoritária que marca a sociedade” (BRASIL, 1988, p. 121). Inclui-se, da mesma forma, “a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira” no que concerne à temática da pluralidade cultural, tendo em vista que o conhecimento da diversidade cultural da nação possibilitar a percepção não só da discriminação que engendra, freqüentemente, uma injusta e étnica divisão de classe social no país, mas, também, de que a valorização do dito “diferente”, a qual pode ir de encontro à motivação dessa estratificação, não é a adesão a costumes e ideais do outro, mas é o respeito, conforme os PCNs (1998, p. 121), à expressão da diversidade. Segundo os PCNs (op. cit, p. 137), o tema da pluralidade cultural oferece ainda aos estudantes oportunidades de conhecimento de suas origens como brasileiros e como participantes de grupos culturais específicos. Ao valorizar as diversas culturas presentes no Brasil, propicia ao aluno a compreensão de seu próprio valor, promovendo sua auto-estima como ser humano pleno de dignidade, cooperando na formação de autodefesas a expectativas indevidas que lhe poderiam ser prejudiciais. A consciência de que todos os cidadãos brasileiros somos pluriétnicos promove a motivação para que os indivíduos trilhem as próprias árvores genealógicas, quando não, fazendo descobertas a respeito das mesmas. Os alunos terão chance de perceber, assim, que a carência cultural atribuída a certos grupos por algumas doutrinas pedagógicas não tão antigas não se fundamenta, conferindo-se, então, valor. Ademais, segundo o PCN (1998, p. 137), a auto-estima das pessoas, torna-se fortalecida por esta autopercepção mais elaborada, de modo que não apenas o caminho para “o diálogo com o Outro” se abre, mas a democracia também possa se enrijecer pelo “adensamento do tecido social que se dá, pelo fortalecimento das culturas e pelo entrelaçamento das diversas formas de organização social de diferentes grupos” (p. 137). É por essa razão que o documento afirma a relevância da vivência, do ensinamento e da aprendizagem da pluralidade cultural como meio de construção da cidadania em uma sociedade pluriétnica e pluricultural como a brasileira. Vivê-la, porque a pluralidade nos é intrínseca e faz-se tempo admiti-la e absorvê-la; aprendê-la, porque nem sempre se está 15 desperto para o que nos constitui real e já naturalmente; ensiná-la, para a disseminação da consciência dessa pluralidade e para que se note, segundo esses parâmetros, que o espaço público permite a “coexistência, em igualdade, dos diferentes” (p. 117). Com relação à pluralidade cultural em nosso meio social, os PCNs (1998, p. 125) afirmam: A diversidade marca a vida social brasileira. Diferentes características regionais e manifestações de cosmologias ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão do mundo, a organização social nos grupos e regiões, os modos de relação com a natureza, a vivência do sagrado e sua relação com o profano. Isso se confirma à medida que se (re)conhece a existência, no território nacional, de mais duzentas etnias indígenas, de uma enorme população integrada por pessoas descendentes dos povos africanos, como também de um conjunto numeroso de pessoas imigrantes ou destes descendentes que apresentam tradição religiosa e cultural peculiares (1998, p. 125). Todavia, de acordo com os PCNs (1998, p. 120-1), embora o Brasil construa experiências de convívio, reelaborando culturas de origem, de modo a formar o que permite a cada um reconhecer-se brasileiro, “a brasilidade”; paradoxalmente, o desconhecimento dos indivíduos sobre a heterogeneidade de seu país faz com que este seja, ao mesmo tempo, marcado pela discriminação, pelo preconceito e pela injustiça. Para os PCNs (1998. p. 122), registra-se, historicamente, “dificuldade para se lidar com a temática do preconceito e da discriminação racial/étnica”. Tal informação leva-nos, por sua vez, não apenas ao mito da democracia racial formado no país, graças ao qual as “discriminações praticadas com base em diferenças ficam ocultas sob o manto de uma igualdade que não se efetiva, empurrando para uma zona de sombra a vivência do sofrimento e da exclusão” (BRASIL, 1998, p. 126), mas principalmente ao papel que a escola tem nesta situação. De acordo com os PCNs (1998, p. 125), no meio escolar, “onde a diversidade está presente diretamente naqueles que constituem sua comunidade”, a existência da pluriculturalidade da sociedade brasileira está sendo “ignorada, silenciada ou minimizada”. Isso significa dizer que o lócus promotor da cidadania que a escola deveria ser está, na verdade, desconhecendo, omitindo ou desconsiderando toda essa complexidade e multifacetação que constituem os cidadãos do Brasil. 16 Conforme os PCNs (1998, p. 126), a idéia de “um Brasil sem diferenças, formado originalmente pelas três raças – o índio, o branco e o negro – que se dissolveram dando origem ao brasileiro”, veiculada na escola e agora inclusive nos livros didáticos, neutraliza distinções culturais e, às vezes, subordina uma cultura à outra. “Divulgou-se, então, uma concepção de cultura uniforme, depreciando as diversas contribuições que compuseram e compõem a identidade nacional”. Em outras palavras, isso representa que em lugar de promover a consciência da diversidade como parte inalienável da identidade nacional, a escola tem colaborado para a compreensão sobre um Brasil unívoco que não existe. Como resultado desta situação, tem-se na escola, de acordo com os PCNs (1998, p. 122-6), um ambiente marcado, ainda que inconscientemente, por manifestações de racismo e por discriminação racial/étnica entre educadores, alunos e funcionários administrativos. Esses acontecimentos, além de moldar um quadro perverso pelo que geram de expectativas preconceituosas em relação ao desempenho do aluno na situação de sala de aula, representam, da mesma forma, uma transgressão aos diretos dos indivíduos envolvidos, “trazendo consigo obstáculos ao processo educacional pelo sofrimento e constrangimento a que essas pessoas se vêem expostas”. Cientes das práticas cultural e historicamente arraigadas da escola, os PCNs consideram, todavia, que o meio escolar tem um papel fundamental a desempenhar no reconhecimento da complexidade que envolve a problemática étnica, cultural e social do país (1998, p. 123). Em primeiro lugar, porque é um espaço em que pode se dar a convivência entre estudantes de diferentes origens, com costumes e dogmas religiosos diferentes daqueles que cada um conhece, com visões de mundo diversas daquela que compartilha em família. (...) Em segundo , porque é um dos lugares onde são ensinadas as regras do espaço público para o convívio democrático com a diferença. Em terceiro lugar, porque a escola apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o país e o mundo, e aí a realidade plural de um país como o Brasil fornece subsídios para debates e discussões em torno de questões sociais. Percebe-se que esse desempenho da escola faz-se possível, para os PCNs, através do trabalho com a pluralidade cultural. O fato de na realidade escolar, conforme os PCNs (1998, p. 127), ser preciso a referência à fontes diversas que nutrem as identidades dos alunos, faz com que o recurso ao outro, ou seja, “a valorização da alteridade como elemento constitutivo do Eu, com a qual experimentamos melhor quem somos e quem podemos ser”, 17 seja algo imprescindível. Isso porque a percepção de cada um, de forma individual, elaborase com maior precisão devido ao outro, “que se coloca como limite e possibilidade”. Assim, de acordo com os PCNs (1998, p. 123), para que informações mais precisas sejam fornecidas a questões que, quando não ignoradas, vem sendo respondidas indevidamente pelo senso comum, há necessidade de a escola se instrumentalizar. A formação de docentes, no tema da pluralidade cultural, torna-se, portanto, para os PCNs, mais do que uma imperiosa necessidade, um “exercício de cidadania”. Isto porque, assim, teremos um professor conscientizado para o trabalho com a diversidade e com conhecimento e sensibilidade suficientes para ter, na pluralidade cultural, uma aliada de sua prática pedagógica nas diversas disciplinas inerentes ao sistema escolar, como também para perceber que o discernimento é indispensável no tratamento das questões de discriminação que no momento venham a persistir no cotidiano escolar. Segundo os PCNs (1998, p. 129), a reflexão norteadora da atuação na escola deve ter “um cunho eminentemente pedagógico”, balizando-se, entretanto, no entendimento de preceitos jurídicos, em uma fundamentação ética, em conhecimentos acumulados em Geografia e História, em conceitos e noções oriundas da Lingüística, da Antropologia, da Psicologia, da Sociologia, em aspectos relativos a Estudos Populacionais, como inclusive no saber “produzido no âmbito de movimentos sociais e de suas organizações comunitárias”. Isto acontece, por sua vez, pelo fato de o campo de estudos teóricos da pluralidade cultural ter um caráter interdisciplinar, mesmo porque os desafios e conquistas do povo brasileiro, no processo histórico, não devem ter um tratamento pautado no senso comum. O que se percebe, enfim, na proposta de trabalho dos PCNs, é um interesse em conteúdos voltados para o conhecimento da realidade brasileira através da potencialização máxima da prática de transdiciplinaridade na escola. Isso se justifica na medida em que a oferta de informações de áreas diversas e relacionadas às experiências dos indivíduos permite um conhecimento mútuo dos alunos entre si e a respeito de seus concidadãos, pessoas de origens socioculturais diferentes. Para os PCNs (1988, p. 135), trata-se também de recuperar, de forma não depreciativa, conhecimentos dos grupos étnicos e sociais, permitindo, ainda, que se evidencie o saber emergente, aquele que está em elaboração como parte do processo social de conscientização e afirmação de identidades e singularidades. 18 A transversalização é vista pelos PCNs, em suma, como portadora da capacidade de proporcionar ao aluno uma consciência para que construam juntos, escola e estudantes, um ambiente de aceitação, calcado no respeito; de apoio à expressão estudantil, caracterizado pelo interesse; e de incorporação das contribuições que possam ocorrer por parte da comunidade escolar, marcado pela valorização à diversidade. Tem-se, assim, uma percepção de manifestações de preconceito e de injustiça, como também a construção de uma escola democrática alicerçada na cidadania. 1.3 A REPRESENTAÇÃO DE GRUPOS MINORITÁRIOS NO LIVRO DIDÁTICO Esta seção tem por objetivo apresentar as visões de diferentes pesquisadores sobre a representação do negro, do índio e da mulher no livro didático, representantes de grupos naturalmente excluídos e marginalizados da sociedade brasileira. Esta visão restringe-se a esses três grupos, em específico, não apenas por causa do objetivo que apresenta este trabalho, mas, também, devido à escassez existente de textos abordando a representação de outros grupos considerados minoritários no material didático, como é o caso dos judeus, dos árabes e dos ciganos. Em seu artigo Representações de gênero em ilustrações de livros didáticos, Pires (2004) objetiva identificar de que forma o feminino e o masculino são representados nos livros didáticos por meio de imagens, como se legitimam e reforçam identidades a partir disso e quais são as transformações e regularidades ocorridas nesse corpus, nas últimas duas décadas, tendo em vista as mudanças culturais e sociais observadas no campo do gênero. Para tanto, a autora fez uso de livros didáticos de Língua Portuguesa indicados para a 4ª série do Ensino Fundamental, utilizados tanto no início da década de 80 como em dias mais próximos - 1998/2002, tendo sido os primeiros (no total de nove livros) encontrados em bibliotecas de escolas da rede pública de Porto Alegre e os últimos (em número de oito), livros inscritos e avaliados no PNLD. Examinado os manuais didáticos dos dois momentos, Pires constata que a similitude e a estereotipação são duas características que permeiam as ilustrações de forma abrangente – a primeira faz referência à semelhança na representação de homens e mulheres, já que 19 descontados os estilos de ilustração, substancialmente “poderia se dizer que havia uma espécie de livro único”; a segunda alude a reprodução de um modelo de masculino e de feminino, de forma a se apresentar “‘tipos’”. A autora observa também a existência, nas ilustrações, de traços infantilizadores nas figuras de ambos os sexos, e que, em sua maior parte, esses materiais dão maior visibilidade - tanto em textos como nas ilustrações - ao gênero masculino, colaborando, de certo modo, para reforçar as desigualdades de gênero. Ademais, há, conforme Pires, o fato de os meninos serem sempre colocados de forma ativa, “o mesmo não ocorrendo com a mesma freqüência em relação à menina”, o que demonstra que estas não recebem o mesmo tipo de tratamento nas ilustrações e evidencia as visões estereotipadas que são veiculadas por esse material. Com essa análise, além de perceber que os livros didáticos podem reforçar identidades como se estas fossem de todo um grupo social, Pires ressalta que as imagens trazidas por esses manuais “representam práticas sociais muitas vezes exigidas como comportamentos adequados e esperados em meninos e meninas”. Além disso, a autora nos afirma que são as práticas sociais masculinizantes e feminizantes, em consonância com as concepções de cada sociedade, que constroem o masculino e o feminino, sendo, ademais, as ilustrações “persuasivas e simbólicas” e portadoras de “características masculinas e femininas que, de certa forma, parecem imutáveis ou intransponíveis, produzindo a impressão de que existe uma única forma de ser mulher e de ser homem”. Em seu artigo Identidades étnicas: a produção de seus significados no livro didático de geografia, Tonini (2005), a partir de uma análise de livros didáticos de geografia, de 7ª e 8ª séries, existentes no mercado editorial, no momento em que escreve, procura expressar que os discursos inscritos nesses materiais, como resultado da colonização da questão étnica pela geografia, “dão visibilidade e tornam dizíveis hierarquias étnicas entre os povos”. Desse modo, a autora visa a dar prosseguimento a uma desnaturalização do conceito de etnia formado pelos respectivos livros, os quais, segundo ela, deslocaram os sentidos da questão étnica. A autora evidencia a questão da etnia como um sinal para marcar as diferenças entre as pessoas, distinções as quais são demarcadas por um grupo de poder, o conjunto daqueles que carregam o olhar branco ocidental. Tenta “mostrar como as questões étnicas são construídas como objetos discursivos na geografia e, ao mesmo tempo, mostrar como elas 20 foram adquirindo sentidos, significações”, isso tudo por meio da análise da produção étnica através de dois focos, a nacionalidade e o gênero, e distanciando-se de uma noção de etnia cristalizada. Com sua análise, Tonini constata a presença constante sempre das mesmas etnias, escolhidas por um critério hegemônico (devido a relações de poder), grupos os quais demonstram ter alguma importância política ou econômica, de um modo ou de outro, por suas presenças estarem sempre credenciadas a algo. Além disso, percebe que, embora a maioria dos livros didáticos atualmente inove ao apresentar um maior número de imagens das etnias minoritárias, eles continuam sem contextualizar esses grupos, pois lhes faltam audácia política para fazê-lo, e que os mais recentes discursos geográficos dos livros didáticos se fazem contraditórios, posto afirmarem adotar uma perspectiva humanista, que respeita as diferenças e o modo de vida de cada grupo étnico, ao mesmo tempo em que ainda revelam um discurso cristalizado, que traz a divisão entre etnias superiores (européias/estadunidenses) e etnias inferiores (asiáticas/africanas/latinas), produto de “um projeto capitalista/modernista que fomentou o apagamento de determinadas etnias”. O artigo Livros didáticos e fontes de informações sobre as sociedades indígenas no Brasil, de Grupioni (2005), empreende uma crítica a livros didáticos em uso, apontando suas deficiências mais recorrentes no que se refere à visão que ajudam a formar – a qual é, conforme o autor, “equivocada e distorcida” – a respeito de grupos indígenas. Grupioni, além de destacar que a produção e acumulação de conhecimentos sobre as sociedades indígenas brasileiras não ultrapassaram os círculos acadêmicos, sendo ignorado muito disso nos programas curriculares, quando não mal trabalhado, aponta, tecendo críticas, como o índio é exposto no livro didático – estereotipado, com imagens genéricas e, muitas vezes, contraditórias, enfocados, ao lado dos negros, no passado, e de forma secundária, ou seja, “em função do colonizador”. Ademais, assinala como o índio está representado na história do Brasil, abordando pontos como o descaso com a menção da questão da origem desses povos e os perfis que lhes são atribuídos ao longo da história. Grupioni indica também como se pode chegar a uma redução do preconceito existente com relação a esse grupo étnico. Através da veiculação de informações corretas e contextualizadas e, para tanto, de um reposicionamento quanto à questão das entidades envolvidas, como os professores, os antropólogos, os autores dos manuais didáticos, as 21 editoras, o Governo Federal e os próprios índios, poder-se-ia, conforme ele, visar-se a um tratamento melhor da diversidade étnica e cultural existente no Brasil. O autor traz, inclusive, inúmeras dicas/referências a fontes de informações sobre as sociedades indígenas no país. Freire (2002), em seu artigo A imagem do índio e o mito da escola, lança reflexões e discute tanto a imagem do índio construída pela escola, como a representação da escola elaborada pelos índios. A primeira, única, “enganadora e equivocada”, apresenta o índio como um ser “inferior”, sendo, portanto, preconceituosa e baseada em pressupostos ultrapassados, colaborando para apagar a participação dos diferentes povos indígenas na formação cultural brasileira. A segunda traz discursos que evidenciam a visão tida pelos índios da escola como “‘devoradora’ não apenas da identidade étnica, mas da própria identidade nacional”. Freire expõe também alguns equívocos sobre os índios, mais “profundamente enraizados na consciência da sociedade e dos professores que dela fazem parte”, afirma que se torna impossível compreender o Brasil atual com essas idéias equivocadas difundidas pelo meio escolar e, através das palavras do professor guarani Algemiro Poty, ressalta a importância de termos todo um sistema nacional de educação que seja intercultural, uma escola que deixe de ser monocultural e etnocêntrica e que seja diferenciada, considerando o multiculturalismo existente entre os indivíduos. No artigo A visão do negro no livro didático de português, Menegassi & Souza (2005) tem por objetivo analisar o modo como o grupo étnico negro é representado no livro didático de Língua Portuguesa. Para isso, os autores fizeram uso de duas coleções de livros, de 5ª a 8ª séries, a saber, A palavra é português, das autoras Graça Proença e Regina Horta, e Leitura do mundo, das autoras Norma Discini e Lúcia Teixeira, utilizadas na região de Umuarama-PR, em escolas da rede pública, e aprovadas pelo Ministério de Educação e Cultura. Nelas se examinaram os textos e as ilustrações, a fim de se verificar como a pluralidade cultural vem sendo trabalhada, no ambiente escolar, por meio desse material. Como resultado desse trabalho, Menegassi & Souza observaram a presença de marcas racistas e de formas de discriminação que corroboram a manutenção de uma visão preconceituosa, como também para a baixa auto-estima das crianças e adolescentes negros 22 que venham a utilizar esse material sem que o mesmo tenha tido um tratamento crítico adequado. Diante desse quadro, os autores destacam a necessidade de aspectos de pluralidade cultural serem abordados mais cuidadosamente tanto pelos produtores de livros, como pelos professores, que devem mediar a interação dos alunos com os textos em questão, além a importância de se atentar aos livros didáticos recebidos pela escola e à formação do professor, para que se possa prover, então, um ensino que compreenda a “necessidade de aprender a conviver com as diferenças” e, assim, uma educação que se comprometa a dar valor ao ser humano. Ao pesquisar sobre a representação da criança não-branca em textos e ilustrações de livros da coleção ALP, análise, linguagem e pensamento: um trabalho de linguagem numa proposta socioconstrutivista, de língua portuguesa e literatura, pela mesma ter sido a “classificada como a mais adotada na rede pública de ensino da cidade de Maringá, no período compreendido de maio de 1998 a junho de 1999”, momento da execução de seu trabalho, Oliveira (2004), em seu artigo O silenciamento do livro didático sobre a questão étnico-cultural na primeira etapa do Ensino Fundamental, constata, na escola, um ambiente degenerador da auto-estima das crianças não-brancas, pelo fato de as mesmas não se virem positivamente representadas no material didático de que se utilizam. Para Oliveira, o livro didático participa da velada política do branqueamento existente na sociedade nacional ao preconizar e difundir exclusivamente a estética e os valores da cultura branco-ocidental e, como conseqüência, silenciar sobre a presença dos diferentes, entre os quais se situam os afro-descendentes, no material didático. O autor identifica essa prática como uma censura “às referências étnico-culturais” desses indivíduos que contribui para a sedimentação da exclusão social de um grupo étnico significativo da população brasileira, uma vez que as crianças não-brancas não possuem, desse modo, parâmetros para se verem positivamente inseridas no meio social. Além disso, Oliveira destaca uma grande preocupação com o fato de a presença do negro, quando observada, ser focalizada em termos de exotismo e folclore, omitindo a participação atuante do negro na sociedade atual, devido ao fato de os livros em questão serem indicados para séries de alunos que estão na idade de formação de valores, podendo os conceitos assimilados “moldar as suas personalidades, construindo suas identidades e reforçando padrões de comportamento”. 23 Menegassi (2004), em seu artigo A representação do negro no livro didático brasileiro de língua materna, enfoca o modo como os livros didáticos de língua materna contribuem para a difusão de preconceitos e práticas racistas na medida em que nestes se encontram “leituras de textos e exercícios que constroem uma inaptidão à criticidade do aluno, levando-o à passividade”. Para isso, o autor parte de uma análise de como a representação do negro está sendo construída nas escolas brasileiras, sobretudo entre os alunos de 5ª a 8ª séries, dentro do livro didático brasileiro de língua materna. Menegassi utiliza como exemplo de uma sociedade escolar que não possui massa crítica o suficiente para questionar as visões de marginalidade que imperam nos materiais didáticos e que aumenta o seu número de leituras, sem que esta cresça também em qualidade e criticidade, a forma como é apresentada a letra da música O meu guri, de Chico Buarque, no livro didático Português: leitura e expressão (Márcia Leite e Cristina Bassi, 7ª série, São Paulo, Editora Atual). O autor apresenta uma análise de como a música é exposta, apontando essa exposição como fruto de uma “leitura superficial e unilateral” construída pelas autoras do material. Chama-nos igualmente a atenção para a inaptidão de leitura de professores e alunos, para o fato de que “são perfeitamente possíveis outras leituras, a partir do material lingüístico apresentado” (além desta, que demonstra uma “visão burguesa e preconceituosa”), para as necessidades cruciais de o professor ter uma visão ampla sobre o processo de leitura, destacando a questão da formação do leitor, “que necessariamente deve estar ligada às noções de cidadão e eleitor”, e para o imperativo de se alterar o material didático, o qual se apresenta inadequado para o tratamento correto das diversidades étnicas. Silva (2005), em seu texto A representação social do negro no livro didático: o que mudou?, investigou a existência de transformações na representação social do negro no livro didático, como também os fatores que, nos anos 90, promoveram essas mudanças. Tal escrito motiva-se, também, pelo fato de a autora já ter realizado trabalhos prévios que constataram a presença de preconceitos e estereotipia contra o negro nesse material escolar. A autora baseou a parte empírica de seu trabalho no exame de cinco livros de Comunicação e Expressão, de séries iniciais, editados pela editora FTD, na década de 90, que apresentaram transformações significativas na representação do negro, além de na análise de depoimentos de autores e ilustradores. Silva pode refletir sobre os determinantes dessa 24 transformação, uma vez que foram verificadas mudanças positivas na representação social do negro nesse material, chegando à conclusão de que a convivência, os valores afrodescendentes, a discriminação racial, o cotidiano e a realidade vivida, a identidade étnicoracial dos entrevistados, as leis e as normas, a mídia, a família, os papéis e funções desempenhados pelo ilustrador do livro e o Movimento Negro formam os itens determinantes das mudanças observadas. No artigo Representações sobre o negro e um novo senso comum, Praxedes & Praxedes (2004) elencam um exemplo de representação dos indivíduos de etnia negra ainda em vigência em nosso imaginário, o qual corrobora a visão depreciativa e preconceituosa existente sobre esse grupo, como também o trecho bíblico em que tal fábula encontrou sua “formulação canônica”, para, desse modo, discutir a representação que os afrodescendentes apresentam hoje. Os autores destacam a importância que vêem na figuração de um trabalho continuado de criação de novas representações sobre o negro, destacando também a possibilidade de se estudar de forma crítica essas representações, a fim de se entender como as mesmas se formam, o que evidenciam, ocultam e o modo como exercem influência nas ações cotidianas dos indivíduos representados. Além disso, alertam para a necessidade de se prosseguir com o trabalho de desconstrução das representações dominantes a esse respeito, que quase sempre associam os negros a situações de seu “passado colonial”. Praxedes & Praxedes indicam também que a crítica cultural pode contribuir em muito para a superação das representações que controlam as identificações negras e para a “construção de um novo senso comum sobre os negros brasileiros”, apesar de ser este, conforme afirmam, um país em que os afro-descendentes não obtiveram uma visibilidade à altura de sua “participação no conjunto da população brasileira e da contribuição que a população negra trouxe para esta sociedade”. É importante dizer que o texto de Freire (2002) e o de Praxedes & Praxedes (2004) foram também considerados neste texto, apesar de ambos não se referirem explicitamente a livros didáticos em específico, tendo em vista as abordagens sobre a representação do indígena e do negro feitas por eles, respectivamente, serem pertinentes ao que aqui se ambiciona expor. 25 De uma forma geral, percebe-se que não só o propósito dos referidos autores se assemelhou ao se proporem, cada qual, a investigar a representação ora do índio, ora do negro, ora da mulher nos livros didáticos principalmente, mas como também, foram em alguns aspectos, similares as suas descobertas com relação à existência de representações por vezes equivocadas dos grupos que analisaram, as quais se revelaram, várias vezes, deveras afastada do que se observa na sociedade atual, no caso dos índios e dos negros, ou aproximada do que se tem por ideal de conduta social, no caso da representação de gêneros. Pode-se perceber, ademais, uma preocupação, na maior parte dos autores, em sugerir soluções que estes consideram viáveis para a diminuição deste tipo de representação freqüentemente incondizente com o que se presencia na realidade, como também, da parte de alguns, a sugestão de um tratamento crítico para o material existente, visando-se, desse modo, a uma abordagem adequada das diversidades culturais no meio escolar e à formação de alunos mais cientes do que estudam, do material que possuem para aprender, como, inclusive, do que podem corroborar ao ignorarem as deficiências desse instrumento de ensino/aprendizagem. 1.4 O OUTRO NA CONSTITUIÇÃO DO ENUNCIADO Esta seção tem por objetivo trazer as características do outro, evidenciando seu papel dentro do enunciado, como considera Bakhtin (1997). Dessa forma, este texto tem por alicerce o capítulo “O enunciado, unidade da comunicação verbal”, do livro Estética da criação verbal, do autor mencionado. Haja vista o propósito de se considerar o papel do outro dentro do enunciado, tornase, então, de primordial importância ter em mente, primeiramente e pelo menos sumariamente, o que Bakhtin (1997) expõe sobre o próprio enunciado. Deste modo, de acordo com sua visão, podemos dizer que o enunciado é uma “unidade real da comunicação verbal” e que cada unidade deste tipo acaba por se constituir um elo de “uma cadeia muito complexa de outros enunciados” (p.291 e 293). Isto acontece porque, segundo Bakhtin (1997, p. 302), não é por palavras ou orações que nos comunicamos em uma situação de enunciação. Mas sim através de enunciados, que 26 estão delimitados e enquadrados pela alternância de sujeitos (ou locutores) e que são reflexos da realidade transverbal, isto é, inserem-se em um contexto que os explica e condiciona. Além disso, considera-se uma cadeia complexa de enunciados, porque tudo o que expressamos através destes ancora-se no que já foi dito por outrem. Isto porque, conforme Bakhtin (1997, p. 291), o próprio locutor é um “respondente”, pois “não é o primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo”, pressupondo não apenas a existência do sistema lingüístico que utiliza, mas também “a existência dos enunciados anteriores – emanantes dele mesmo ou do outro – aos quais o seu próprio enunciado está vinculado por algum tipo de relação (fundamenta-se neles, polemiza com eles)” (BAKHTIN, 1997, p.291). Isto, por sua vez, aponta-nos as tonalidades dialógicas citadas por Bakhtin (1997, p. 316-7), uma vez que nosso próprio pensamento “nasce e forma-se em interação e em luta com o pensamento alheio”, não sendo os enunciados, portanto, “indiferentes uns aos outros” e, tampouco, “auto-suficientes”. Eles “conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente” e têm, precisamente, estes “reflexos recíprocos” determinando-lhes o caráter, fazendo com que sejam considerados, acima de tudo, como respostas a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera da comunicação verbal (BAKHTIN, 1997, p. 316). Além disso, os enunciados estão ligados também aos elos que lhes sucedem na cadeia da comunicação verbal apesar de estes ainda não existirem no momento de sua elaboração segundo Bakhtin (1997, p.320). Isto acontece porque os enunciados constroemse, desde o princípio, “em função de uma eventual reação-resposta, a qual é o objetivo preciso de sua elaboração”, fato que nos conduz ao papel do outro dentro do enunciado e também à necessidade de se esclarecer que todo enunciado possui “uma capacidade de suscitar a atitude responsiva do outro locutor, ou seja, de determinar uma resposta”, ainda que esta advenha de uma compreensão responsiva retardada (BAKHTIN, 1997, p. 297). A partir disso, podemos nos direcionar especificamente ao que propõe Bakhtin sobre a questão do outro dentro do enunciado. Para Bakhtin (1997, p.290), os parceiros de uma comunicação verbal são em via de regra locutores e não, limitadamente, um locutor e seu ouvinte como até então vinha sendo considerado pela lingüística da época do autor. Bakhtin (1997, p.290-1) refuta esta visão pelo fato de o locutor ser considerado o sujeito ativo no processo de comunicação, enquanto que ao ouvinte está reservada sempre e 27 apenas uma atuação passiva que se reduz à percepção e à compreensão da fala do locutor, esquemas que, para o autor, não são de todo incorretos, mas que tampouco representam “o todo real da comunicação verbal”. Para Bakhtin (1997, p.290), o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda, (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. Conscientes desta visão, podemos perceber que, para Bakhtin, o ouvinte ou o outro na comunicação verbal tem um papel tão importante e ativo quanto o do locutor dentro da atividade enunciativa. Ele não simplesmente recebe uma informação, aquiescendo passivamente, mas, assim como seu parceiro, responde de forma ativa ao que lhe foi dirigido, mesmo que de forma retardada ou até com uma resposta que não seja igual quanto à forma ao enunciado que a suscitou (a resposta a um enunciado fônico pode ser, por exemplo, através de um ato, de uma ação propriamente dita e não, exclusivamente, por meio de uma resposta fônica) tornando-se, desse modo, “locutor”, segundo Bakhtin (1997, p.290), e fazendo com que realmente se possa pressupor uma resposta a cada enunciado. Com relação à palavra do outro, podemos dizer que, para Bakhtin (1997, p. 313-14), ela “preenche o eco dos enunciados alheios”, marcando o que seria a alteridade em nosso próprio enunciado. Isto pode ser dito tendo em vista que nem sempre retiramos a palavra de que precisamos “do sistema da neutralidade lexicográfica” (p.311), quando elegemos uma no processo de elaboração de nosso próprio enunciado. Conforme o autor, (1997, p.311-2), “costumamos tirá-la de outros enunciados, e, acima de tudo, de enunciados que são aparentados ao nosso pelo gênero, isto é, pelo tema, composição e estilo”. É por meio deste processo, que Bakhtin (1997, p. 314) chama de “assimilação, mais ou menos criativo, das palavras do outro (e não das palavras da língua)” e que surge da interação contínua e permanente de nossa atividade verbal com os enunciados do outro, que construímos enunciados “repletos de palavras dos outros”, demarcando nossa produção, em maior ou menor grau, com a alteridade, já que estas palavras alheias trazem uma expressividade própria, a qual “assimilamos, reestruturamos, modificamos” (BAKHTIN, 1997, p. 314). 28 Quanto ao discurso do outro, de acordo com Bakhtin (1997, p. 320), pode-se dizer que este é uma expressão verbal constituída por uma “visão de mundo”, por uma “tendência”, por um “ponto de vista”, por “uma opinião”, elementos que não deixam de repercutir em nossos próprios enunciados, uma vez que, como foi dito, o enunciado volta-se não apenas para o seu objeto, mas também para o discurso que o outro elabora a respeito desse objeto. Ademais, este discurso possui, para Bakhtin (1997, p. 318), uma expressão dupla, ou seja, conta com sua própria expressão – que é a do outro – como ainda apresenta a expressão do enunciado “que o acolhe”. Isto é o que podemos observar, por exemplo, em um enunciado em que utilizamos a palavra do outro de forma clara e nitidamente separada (entre aspas): assim, a alternância entre os sujeitos falantes (neste caso, eu e o outro) como também a inter-relação dialógica entre eles (nós) fica abertamente explicitada e refletida. Considerados, então, o dialogismo e a alteridade existentes nos enunciados, como também a palavra e o discurso do outro, faz-se pertinente retomarmos um aspecto aqui já mencionado e que de maneira alguma pode passar despercebido, tendo em vista sua importância para a constituição do enunciado: o outro enquanto sujeito que responde ao enunciado, seu papel na comunicação verbal como destinatário desta unidade de comunicação verbal. Para Bakhtin (1997, p. 320), “o papel dos outros, para os quais o enunciado se elabora” é muito importante. Desse modo, uma vez que o enunciado se constrói em função de uma reação-resposta, que é seu objetivo, o outro se torna indispensável, pois tanto será o respondente do enunciado, isto é, aquele que o responde, como também aquele que o molda e influencia, porque toda a estrutura enunciativa se pautará na sua constituição como destinatário, de modo a formar-se indo ao encontro da resposta que inerentemente pressupõe. O destinatário, para Bakhtin (1997, p.325), é uma “particularidade constitutiva do enunciado”, sem a qual este não existe e tampouco poderia existir. Este outro, conforme Bakhtin (1997, p.316 e 321), que tanto pode ser pressuposto explicitamente como, de forma absolutamente indeterminada, pode ser “o outro não concretizado” determina tanto o gênero quanto o estilo de um discurso, pois estes ficam na dependência de como o locutor “percebe e compreende seu destinatário, e do modo que ele presume uma compreensão responsiva ativa”. Segundo Bakhtin (1997, p.321), enquanto elaboro meu enunciado, tendo a determinar a resposta que presumo de modo ativo; “por 29 outro lado, tendo a presumi-la, e essa resposta presumida, por sua vez, influi no meu enunciado (precavenho-me das objeções que estou prevendo, assinalo restrições, etc.)”. Bakhtin (1997, p. 321) diz ainda que enquanto falo, sempre levo em conta o fundo aperceptivo sobre o qual a minha fala será recebida pelo destinatário: o grau de informação que ele tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, seus preconceitos (de meu ponto de vista), suas simpatias e antipatias, etc.; pois é isso que condicionará sua compreensão responsiva de meu enunciado. Assim, pensar a constituição do destinatário para produzir meu enunciado é, conforme, Bakhtin (1997, p. 312), ter consciência sobre com quem estou me comunicando, pois é a partir disso que determinarei o gênero e o estilo do meu enunciado e seus procedimentos composicionais. O destinatário ou o outro, em suma, repercute na comunicação verbal de um modo todo especial como podemos depreender das idéias de Bakhtin e como este próprio o afirma. Diante do exposto, podemos concluir o papel fundamental que o outro tem para o enunciado e, portanto, dentro da comunicação verbal. Pressupomo-lo para tudo: inspiramos-nos em seus enunciados para a construção dos nossos próprios, embebendo-nos em alteridade e dialogismo, e falamos para ele, o outro, – a quem condicionamos nosso discurso de forma total ou segundo o que conjeturamos a seu respeito mediante a consideração de seu fundo aperceptivo – sempre que o temos como parceiro ativo na comunicação verbal, ou, simplesmente, ao respondermos suas palavras que ecoam de uma antiga ou meramente anterior situação transverbal. 30 2 DESENVOLVIMENTO 2.1 AFRODESCENDÊNCIA: REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE Esta parte traz exemplos que visam a demonstrar a realidade relativa aos afrodescendentes, considerando-se aqui, como real, tanto o que é empiricamente detectável em nossa sociedade, mas também o que é posto como verdadeiro pela elite produtora dos livros didáticos. 2.1.1 O negro mencionado como parte da brasilidade Por brasilidade entendemos o que nos caracteriza como o povo formador da nação Brasil, em uma alusão ao que é o nosso caráter distintivo. Nesta seção predomina, sobretudo, a consideração do afrodescendente como um dos povos que ajudam a compor o chamado brasileiro, mas há também ocorrências que evidenciam a contribuição dos africanos para a constituição da cultura nacional. Na p.121 do livro 3, coleção 2, encontramos um texto, extraído do Almanaque Recreio – Tudo sobre o Brasil e o mundo, chamado Brasil: população. Este, que é encimado por um subtítulo, que informa sobre o caráter miscigenado dos brasileiros – “Brancos, negros, orientais, índios. A população brasileira é formada pela mistura de várias raças” – promete, por sua vez, um maior esclarecimento sobre a peculiaridade citada da população com a leitura do texto. O texto do Almanaque Recreio se encontra em uma unidade do livro didático que trata, especificamente, da pluralidade do povo brasileiro. Diferentemente do que ocorre com os indígenas, observados, em especial, apenas em um exercício quase no final da unidade, espaço apreciável é dado para a consideração da etnia negra e parda na unidade, a qual é muito bem representada por uma pintura de Cândido Portinari, que apresenta uma menina negra, e por um trecho de um texto de Ana Maria Machado – “Menina bonita do laço de fita" – que tem como personagem de destaque uma garota afrodescendente, por exemplo. Voltando-nos novamente ao texto Brasil: população, percebemos que ao seu lado há ilustrado um mapa do Brasil, dentro do qual existem várias pessoas desenhadas, uma 31 diferente da outra, como se se tentasse representar a diversidade concreta do país, produto da mistura de índios, orientais, negros e brancos, conforme exposto no subtítulo do texto. Mais do que isso, notamos ainda, pouco acima do texto, um comando para o professor em que é dito o seguinte: “Leio o texto com os alunos e converse sobre o assunto. Deixe que falem sobre a própria ascendência. Depois discuta sobre a pluralidade da população, mas também enfoque a singularidade de cada brasileiro, reforçando a importância da ética, do respeito às diferentes etnias.” (MIRANDA; C, LOPES, A. C., RODRIGUES, V. L.. Língua portuguesa. 2.ed. vol.3. São Paulo: Ática, 2004, p.121.) Com relação ao texto propriamente dito, pouca coisa é acrescentada ao que foi dito no subtítulo ou pelo comando oferecido ao professor. Expõe-se algumas das questões que são levantadas pelo Censo Demográfico, realizado “no país inteiro mais ou menos a cada dez anos”, segundo o texto. E se especifica o número de pessoas que se declararam como brancas, pardas, negras, orientais ou amarelas, e indígenas, respectivamente, no Censo de 2000, época em que o país contava com 169.799.170 habitantes. Há, além disso, uma estimativa de quantos índios havia no país na época em que o colonizador português chegou ao Brasil, bem como uma afirmação que credita o caráter mestiço do brasileiro aos “muitos casamentos” ocorridos “entre pessoas de origens diferentes”. Como o texto é uma espécie de anexo de curiosidade, não há, no livro, nenhum exercício sobre ele, ficando na dependência do professor considerá-lo ou não, assim como promover uma discussão que contemple a questão da ética e do respeito, primordiais quando se trata da consideração da heterogeneidade do brasileiro, conforme lembrado no comando do professor. Porém, tendo em vista que a maior parte dos professores de Ensino Fundamental formados até hoje ainda não conta com uma formação consistente quando se trata de considerar as diferenças do alunado, que são encontradas em qualquer sala de aula, notamos que orientação para que o professor discuta com os alunos a pluralidade/singularidade do indivíduo nacional serve mais como uma indicação ou alerta, do que para auxiliar em sua instrumentalização diante do tema, que, como citamos, é deficiente desde a base da formação docente. No livro 2 da mesma coleção 2, na p.262-3, encontramos, no final de uma unidade, o texto Por que no mundo existem tantas raças e tantas cores?, de Gianni Rodari. Pelo 32 texto em questão, percebemos que o autor italiano equipara o quesito raça ao quesito cor da pele, sendo que a diferenciação do tom desta, entre os homens, dependeria “da diversificação dos ambientes nos quais os grupos humanos se desenvolveram adaptando-se aos climas e às diversas condições de vida”. Gianni considera a cor da pele como uma “particularidade secundária” das pessoas, que formariam uma irmandade, que em comum teriam as faculdades de pensar, amar, trabalhar e de “querer viver uma vida mais feliz” (p.263). Ademais, diferentes seriam aquelas que, segundo o autor, importam-se sobremaneira com o dinheiro que possuem, em detrimento das pessoas com quem se aparentam. O texto de Gianni Rodari faz parte de uma unidade do livro didático chamada “O jeito de cada um”. Esta tem como proposta inicial promover uma discussão, pelos alunos, de suas semelhanças e diferenças em relação às pessoas com quem moram ou com quem convivem na escola, de modo que se sintam “à vontade para falar de si mesmos e compararem-se”. Como conseqüência, deve-se, segundo a orientação em questão, fornecida pelos autores do livro didático ao professor, “ressaltar o respeito e a consideração”. Isto posto, devemos levantar que este texto, assim como o do primeiro exemplo, em que negros e pardos são citados por serem tidos como integrantes da composição da população brasileira, são produções que consideram o afrodescendente, porque se detém ou na avaliação do aspecto composicional da população nacional ou no questão das raças determinadas como existentes entre grupos humanos que de alguma forma diferem-se superficialmente um dos outros. Estes textos omitem-se, entretanto, quando se trata de considerar negros e pardos como atuantes no Brasil atual, lado a lado com a porção de brasileiros considerados brancos. Esta situação muda um pouquinho, porém, quando consideramos o terceiro exemplo desta seção, em que brancos e afrodescendentes são retratados dividindo a responsabilidade na sociedade considerada. Vejamos: O terceiro exemplo que selecionamos para expressar a idéia do afrodescendente mencionado como parte dos povos que formam a multifacetada população brasileira encontra-se na p.261-3 do livro 1, coleção 2. Nestas páginas existe uma história – A árvore que fugiu do quintal, de Álvaro Ottoni de Menezes – sobre uma árvore que viveu na época em que as casas contavam com vastos quintas. O vegetal se identifica como alguém que 33 serve para o divertimento das crianças, até o momento em que se confronta com uma espécie de capitalista que chega à cidade: “Vivíamos felizes, até aparecer na cidade um homem grande, de nome Serjão [...], com bigodão e voz grossa de meter medo. Serjão começou a comprar tudo; matava as árvores, destruía as casas. Por fim tapava a terra toda com cimento e construía, no lugar, edifícios de vinte andares.”. (MIRANDA; C, LOPES, A. C., RODRIGUES, V. L. . Língua portuguesa. 2.ed. vol.1. São Paulo: Ática, 2004, p.262.) No decorrer da história, a árvore se posiciona como alguém que considera os homens “uns bobões”, por não saberem que ela e suas semelhantes percebem tudo o que eles fazem. Não consegue entender “por que os homens acham que são melhores do que nós. Brigam por qualquer coisinha... Só porque um é branco e outro, preto, já é motivo de pancada” (p.263), enquanto que elas, mesmo sendo algo diferentes – uma mangueira e outra, laranjeira, por exemplo – não brigam nunca. Este comentário do vegetal, mais do que revelar os valores éticos e cidadãos tidos por uma planta ficcional, valores nem sempre comungados pela racional espécie humana, serve, além disso, para demonstrar uma situação em que afrodescendentes e brancos são postos como seres agentes na realidade em que vivem, a qual, por extensão, pode talvez ser considerada como uma representação de nosso próprio meio social, haja vista este, também, ser marcado por pessoas insensíveis como Serjão, bem como pela desavença entre os brancos e os afrodescendentes que não respeitam a alteridade alheia. Diferentemente dos exemplos anteriores, verifica-se a existência de uma relação de interação entre a pessoa negra e o indivíduo branco não por eles aparecerem citados, especificamente, para uma referência aos grupos étnicos que ajudam a compor o povo brasileiro, respondendo, grandemente, pelo que este tem de heterogeneidade. Mas porque ambos são postos no papel de entes sociais ativos – a pancada existe, segundo a árvore, porque brancos e negros brigam um com os outros, o que leva ao entendimento de que a pancada resultante é conseqüência tanto do comportamento dos integrantes de uma etnia como da outra. Esta atitude conferida aos grupos negro e branco é ainda mais importante, não obstante o caráter negativo da ação em questão, porque, historicamente, atribuiu-se, ao branco, o perfil do homem de comando, sempre com o direito de seguir o próprio arbítrio, enquanto os afrodescendentes ocuparam o papel dos que deviam obedecer às ordens dos 34 descendentes de europeus, sendo-lhes imposta total passividade quando se tratasse de agir ou de decidir a este respeito. Isto posto, e considerada a nocividade do comportamento envolvido na história – desrespeito da diversidade fenotípica alheia – consideramos este tipo de representação social mesmo assim um avanço detectado na representação do afrodescendente no livro didático (inclusive comparando-as com as ocorrências em que o negro e o pardo não foram destacados pelo papel ativo exercido na sociedade), pois denota a mudança na concepção social sobre os papéis que se vêem exercidos pela etnia afrodescendente e branca na sociedade. No livro 4 da coleção 3, observamos propostas de atividades que se pautam na apreciação da contribuição e, logo da influência, que tiveram vários povos, dentre eles os africanos, para a configuração da cultura brasileira. Na p.144 do volume, observa-se uma proposta de execução de um projeto em equipe, os alunos devem dividir-se em 5 grupos, sendo que cada um deverá pesquisar uma das seguintes culturas: “africanas”, “indígenas”, “européias (portugueses, franceses, alemães, etc.)”, “asiáticas (japoneses, chineses, coreanos, etc.)”, “modernas (americanas, canadenses)”. Os estudantes devem buscar descobrir a(s) influências(s) que estas culturas exerceram sobre “a língua”, “as artes”, “os costumes”, “os rituais e festas”, “as superstições e crendices” e “a religião” do brasileiro, construindo, então, painéis que sistematizem os conhecimentos novos, os quais deverão ser apresentados também oralmente. (Sugere-se que os painéis sejam expostos, ainda, para os alunos de outras classes, acompanhados de papéis, onde os estudantes possam realizar uma avaliação da exposição, e de uma urna para depósito da apreciação.) Nas páginas 118 e 119, de abertura da unidade “Histórias do nosso povo”, do mesmo livro 4 da coleção 3, verificamos, igualmente, o alerta aos alunos quanto à “salada cultural” que caracteriza o Brasil. “Cada povo tem sua língua, seus costumes, suas crenças religiosas, seus conhecimentos, suas criações artísticas e suas regras de convivência. O conjunto de todos esses elementos constitui a cultura de um povo... (...) No Brasil, o contato entre índios, portugueses e africanos foi fundamental para a formação de uma cultura rica e diversificada...” (p.118). Segundo instrução oferecida ao professor, pretende-se que “os alunos troquem experiências sobre o que existe de diferente” nas pessoas estrangeiras que conhecem 35 (p.118). Além disso, almeja se “despertar a consciência dos alunos quanto ao fato de o resultado da influência cultural de outros povos também estar presente no nosso dia-a-dia” (p.119). Para tanto são dados exemplos de hábitos que os brasileiros temos hoje herdados dos europeus (“dormir numa cama coberta com lençóis”) e dos indígenas (“dormir numa rede”), por exemplo, além de se propor um exercício sobre a influência lingüística que sofremos de italianos, ingleses, indígenas, africanos e árabes. Algumas dicas como “Os índios legaram grande parte dos nomes da fauna e da flora” e “Os africanos nos deram palavras ligadas a seus cultos e costumes” existem para auxiliar os estudantes a identificarem a origem de uma lista de palavras. Vale considerar que exercícios como os propostos levam os estudantes a perceber a cultura brasileira não somente como um resultado da aculturação imposta pelos europeus aos nativos e africanos escravizados. Mas, sobretudo, como uma construção sincrética nascida da interação de variadas culturas, com destaque para a indígena, a portuguesa e a africana, e que está em constante edificação, haja vista a influência exercida pelas metrópoles atuais, como os Estados Unidos. 2.1.2 Negros e pardos: entre o ser sujeito e o ser colocado como objeto Nesta seção, desejamos apresentar exemplos que evidenciem as situações em que o afrodescendente é representado, no livro didático, com sua cidadania respeitada, em posições valorizadas e que são importantes tanto para sua constituição como pessoa, como também na visão do social. Mas, ainda, objetivamos demonstrar as ocasiões em que a representação oferecida ao afrodescendente é, de alguma forma, tendenciosa, revelando valores preconceituosos incipientes que estão completamente configurados em outros exemplos que apresentamos, através dos quais vem à tona um negro objetificado, como uma conseqüência de um preconceito que se sustenta na discriminação do outro, apenas por este integrar uma etnia diferente da branca, padrão de valorização instituído pela sociedade. Configura-se assim um afrodescendente estereotípico, normalmente relegado a plano inferior. Nas p.127 a 129 do livro 2, coleção 2, observa-se um texto extraído do suplemento infantil do jornal Folha de São Paulo (o Folhinha), que se chama Entre cobras e lagartos, 36 escrito por Luís Indriunas. O jornalista escreve sobre crianças do Pará que, na época de reportagem, estavam tendo a chance de estudar “insetos e répteis no Clube do Pesquisador Mirim”. No texto, afirma-se que “as crianças de Belém têm a oportunidade de virar cientistas”, uma vez que tanto podem pesquisar sobre os referidos animais, no Museu Emílio Goeldi, como têm chances de investigar a destruição do meio ambiente. Há ainda informação sobre como as crianças pesquisam e sobre o modo como foram organizadas com este fim, além de comentários sobre os animais observados e uma fotografia, bem posicionada, de duas garotas nordestinas afrodescendentes, que sorriem empenhadas segurando uma pesada tartaruga encontrada na reserva onde as investigações estavam sendo realizadas. Tendo consciência de que a herança africana é um fato quando consideramos o Nordeste do Brasil, herança que se manifesta não apenas na ascendência das pessoas, mas, especialmente, em certos costumes e tradições culturais, e considerando, ainda, a precariedade na infra-estrutura – quanto à educação, ao saneamento ambiental, à administração pública etc – a que normalmente os nordestinos estão à mercê, vale destacar a pertinência da transposição, pelo livro didático, da reportagem do suplemento infantil. Tal relevância se detecta não somente pelo texto contribuir para o conhecimento do alunado sobre um projeto que abre um caminho de formação para as crianças da região em questão. Mas, ainda, por a fotografia das meninas nordestinas ter sido mantida na transposição, bem como por ter se optado por uma espécie de divulgação de um projeto em que crianças afrodescendentes são postas como agentes no processo educativo. No livro 4 da coleção 3, encontra-se um precioso texto, chamado A cultura é um bem da humanidade, em que uma família afrodescendente é exposta como produtora de uma língua. O texto é breve, vale considerá-lo por inteiro. “No tempo da escravidão, uma família de negros do interior de São Paulo inventou uma ‘língua’, a cupóia, para os brancos não entenderem o que diziam. Ainda hoje, os descendentes dessa família falam a cupóia. Todas as palavras e o uso dessa ‘língua’ estão registrados, graças a pesquisadores que consideraram importante preservar a cultura dessa pequena comunidade. Algumas pessoas acham esse trabalho de pesquisa inútil, porque a cupóia só é falada por oitenta afro-brasileiros e certamente irá desaparecer. Mas o que seria da humanidade se não tivesse podido aprender com os seus antepassados que desapareceram?” (p.139) 37 A partir deste texto, podemos notar, em primeiro lugar, a separação a que eram submetidas as famílias africanas quando trazidas ao Brasil para escravização. Separados dos entes próximos, com quem compartilhavam a língua, além dos próprios laços sanguíneos e afetivos, estes indivíduos eram obrigados a transformar sua linguagem, a fim de conseguir interagir, de alguma forma, com outros africanos na mesma situação, ou mesmo compreender as ordens vindas do senhor da casa grande. O texto mostra, em suma, a fragmentação das línguas de origem dos africanos durante o processo de escravização. Não obstante, mais do que isto, o texto do livro didático traz também um exemplo da sabedoria e da resistência de um povo altamente aviltado em sua dignidade e condições humanas quando arrancados da própria terra. O africano como criador de uma língua nova e o afrodescendente como o perpetuador desta criação surgem então, neste exemplo, para confrontar-se à perpetuada imagem do negro indolente, que não queria contribuir com o branco senhor na construção da recente sociedade brasileira, representação historicamente tão freqüente nos livros didáticos de história e ainda nos de língua portuguesa. Na p.68 do livro 2, coleção 3, encontramos um quadrinho com um pequeno texto ilustrado e algumas regras que servem para o estudo de gramática. Eis o texto: “Uma pessoa... Silêncio... Um abraço... Emoção... O pensamento voa... A moça sonha... Com o príncipe encantado...” Quando examinamos a ilustração da quadra em estudo, observamos a imagem de um casal abraçado, de olhos fechados, voando nas alturas das nuvens. Devemos destacar que o príncipe da moça em questão é, conforme se identifica no desenho, um rapaz afrodescendente. A situação de sujeito conferida à pessoa de etnia negra/parda pode ser mais bem considerada, porém, quando atentamos juntamente para uma outra ocorrência identificada no livro 3, da mesma coleção, às p. 24-5, onde se observa o texto Bran, o viajante do tempo. O texto sobre Bran, navegador da Irlanda antiga, e seus homens trata sobre um fato mágico que certa vez ocorreu com o comandante do navio. Bran achou uma linda varinha de prata e resolveu testá-la, junto com os companheiros, para ver se algo acontecia. “No mesmo instante, surgiu ao seu lado uma jovem belíssima. Ela entoou uma melodiosa canção em que descrevia as maravilhas do mundo de onde viera. Nascera nas ilhas encantadas do Outro Mundo, 38 nas quais não havia tristeza ou sofrimento.” (p.24). Do mesmo modo como surgiu, a moça desapareceu, levando a varinha, fato que motiva o grupo de navegantes a viajar mares a fora, em busca da aparição por quem Bran se apaixonara. Cumpre ressaltar uma vez mais os sentimentos amorosos da personagem central terem recaído sobre uma pessoa negra. Independentemente do caráter mágico ou lendário atribuído à moça de voz melodiosa, esta ocupa uma posição que historicamente foi sempre conferida a personagens de tez branca e ascendência européia, perfil das princesas aspiradas pelos príncipes e heróis das histórias típicas da civilização ocidental, tão propagadas pelas escolas brasileiras. Para nós, o fato de o afrodescendente aparecer ocupando um espaço que sempre lhe foi negado histórico-culturalmente na sociedade em que vivemos indica uma mudança nos tempos, uma mudança nos valores e na conscientização das pessoas, que tendem a flexibilizar seus padrões de beleza, seus critérios de superioridade e inferioridade e que passam a enxergar o negro como um igual na comunidade, um outro que tem o que se admirar e o que compartilhar. Tal situação configura-se para nós como uma evidência da representação do negro/pardo como sujeito, algo extremamente positivo e adequado para o desenvolvimento psico-cognitivo das crianças que usufruírem deste material, e que também é detectável em uma fotografia que o corpo negro aparece como padrão para o corpo humano, imagem que citamos mais à frente neste trabalho. Passemos à consideração de dois exemplos concomitantemente. No primeiro, às p.106 e 107 do livro didático 4, coleção 2, encontramos a foto de cinco garotos em uma olaria, local em que trabalham, carregando peso durante o dia todo, debaixo de sol ou de chuva, mesmo sem estarem preparados física ou psiquicamente para o mundo do trabalho. A foto é dramática, revela, nos olhares e expressões infantis, o sacrifício realizado pelos garotos afrodescendentes a cada dia de serviço. Um trecho de uma entrevista sobre o trabalho infantil, fornecida pela médica sanitarista Celeste Cristina de Azevedo Consenza, publicado no livro didático, esclarece o despreparo dos meninos para a tarefa pesada, haja vista suas idades, assim como a inadequação da atividade realizada por um outro menino, que aparece quebrando pedra, em uma fotografia na p.107, correndo riscos sérios de “receber uma lasca no olho ou o pó das pedras nos pulmões”. 39 No segundo exemplo, coletado na coleção 3, p. 184, observamos uma fotografia de três crianças de rua, negras e de menos de 6 nos de idade. Dois são meninos, um bem pequeno. Este está sendo alimentado pelo irmão, que segura um punhado de comida com uma mão e, com a outra e uma colher, oferece-lhe alimento. A foto é acompanhada de um box com um texto intitulado Direito à família. Defende-se que “a sociedade deve se organizar e exigir das autoridades condições dignas de vida às crianças em situação de rua”, algo já atestado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que “toda criança tem o direito de conviver com uma família e participar de uma comunidade”. Isto posto, devemos dizer que selecionamos estas fotografias para dar mostra do modo como a humanidade dos descendentes de africanos é muitas vezes negada pelo meio social, que freqüentemente não se intimida em utilizar mão de obra infantil e pouco se mobiliza para contribuir na mudança de condição daqueles que vivem nas ruas. Algumas páginas adiante da imagem dos meninos trabalhadores – p.112 – encontramos um texto adaptado do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que traz dados sobre a questão do trabalho realizado por crianças no país. É informado que, no ano de 2001, as regiões nordeste e sul continuaram apresentando, “percentuais mais elevados de crianças e de adolescentes ocupados”. Embora tenhamos selecionado a imagem dos meninos trabalhadores e das crianças sem lar ou família para explicitar a situação em que o afrodescendente tem suas características de sujeito negadas, uma vez que é “passivo”, no sentido em que se vê obrigado a condicionar-se a situações degradantes para tentar prover a própria subsistência, consideramos positiva a consideração das temáticas do trabalho infantil e do direito à família – e a um lar – pelo livro didático. Este não justifica as ocorrências, tentando, por outro lado, aparentemente, denunciar a situação de exploração e de falta de condições mínimas e dignas de inúmeras crianças brasileiras. Quanto a isto, há para ser considerada, ainda, uma ilustração do texto extraído do site do IBGE, na p.112 – um desenho de um menino branco e de um negro realizando trabalho pesado na agricultura, com facões. Isto bem aponta a condição de carência em que vivem milhares de famílias brasileiras, das mais variadas etnias, condição que muitas vezes obriga os pequenos a trabalhar, para poder auxiliar os pais no sustento doméstico, ou a mendigarem para se auto-sustentar. 40 Inseridas nas p.96 e 100 da unidade chamada “Papéis que vencem distâncias” – livro didático 4 (coleção 1) – existem fotografias de dois carteiros, ambos afrodescendentes, vestidos para o desempenho da função, sendo que o segundo foi mesmo fotografo em serviço. Nestas ocorrências, é interessante constatar, embora a profissão seja descrita de forma elogiosa em certos textos presentes na unidade, e seja também observada a representação, em desenho, de um carteiro branco na p.39 do livro, a opção pela representação da categoria através de indivíduos pertencentes à etnia negra e parda em páginas tão próximas, isto é, de uma maneira que se evidencia tão reiterada. Haja vista o fato de não ser observado, ao longo do livro didático, afrodescendentes desempenhando atividades consideradas prestigiadas pela sociedade, ao mesmo tempo em que encontramos representantes brancos nas posições de escritor (p.71) e de biólogo (p.190), que são vistas de forma diferenciadas pelo meio social, posto requererem, em via de regra, formação superior para serem exercidas, fica-nos a impressão de que o livro didático tenta cristalizar, a partir das seguidas fotografias de carteiros afrodescendentes, a atuação, para pessoas de etnia negra e parda, em profissões em que a necessidade de resistência física é básica e explícita. Cristalizar, em suma, a idéia da aptidão destes indivíduos para cargos em que o estudo não é necessariamente requisito eliminatório, bem como se deu na escravidão, de modo que a revelação da resistência física, que sempre foi alardeada como destaque de negros e pardos, é o que se espera destes indivíduos, de quem muitas vezes pouco se admite a possibilidade de contar com grande nível instrucional. Tal conjuntura, pelo que transmite de danoso à subjetividade da criança afrodescendente em posse deste material, que se vê privada de referências profissionais prestigiadas pela sociedade, como também pelo que carrega em si de preconceituoso, levanos a considerar as fotografias dos carteiros afrodescendentes em uma zona fronteiriça entre a representação do negro como sujeito e sua retratação como objeto, pois a profissão de carteiro por si só não deixa de ser digna apesar do mau propósito a que está servindo no livro didático. Não obstante, podemos dizer que a leitura quanto à condução de uma objetificação do afrodescendente torna-se ainda mais forte quando consideramos que o objeto de análise é composto por fotos e não por desenhos, como no caso do carteiro branco. Isto se configura uma vez que fotografias são retratos de uma realidade concreta, registros, em oposição a um desenho, que tanto pode trazer a representação de um real 41 factível quanto de um imaginário, possuindo, neste caso, um valor documental bem menor. No livro 2 da coleção 2, verifica-se uma unidade temática chamada Nomes e sobrenomes. Nesta, além de serem observadas uma poesia que enfatiza o fato de pessoas terem sobrenomes e outra que brinca com os nomes de algumas pessoas famosas, podemos notar que a personagem mais destacada é Pelé. Na p.64 do livro, encontramos uma foto e um texto em prosa biográfico do jogador, que são encimados pelo seguinte enunciado: “O Brasil tem muita gente famosa e importante. Existe um brasileiro mundialmente reconhecido por seu futebol genial. Leia esta biografia e conheça um pouco mais sobre a vida do ‘rei do futebol.’”. (MIRANDA, C.; LOPES, A.C.; RODRIGUES, V.L..Língua portuguesa. 2.ed. São Paulo: Ática, 2004, p.64). Ao considerarmos a foto do jogador, que é em preto e branco, percebemos que Pelé é retratado na adolescência, sorridente e todo suado. A foto antiga do esportista se justifica na medida em que é destacado o fato de Pelé ter sido convocado para a Copa Mundial de futebol com apenas dezessete anos, tendo inclusive marcado um gol. A escolha por estampar o jogador todo suado, por sua vez, nos leva a considerar a atitude revelada pelo livro didático de atrelar a genialidade do jogador a seu esforço e capacidade físicos somente. Tal comportamento pode ser verificado pelo uso da expressão “futebol genial”, em detrimento da alternativa “Pelé genial” para uso no enunciado da seção do livro. Embora Pelé seja predominantemente reconhecido por seu desempenho corporal em campo, consideramos perniciosa a opção por uma foto em que é sobrelevada sua presença com o suor de depois da prática esportiva, em detrimento da aparição do jogador em outra situação, como em uma coletiva de imprensa, por exemplo, em que o atleta estivesse socialmente mais apresentável. O prejuízo de uma representação como esta, por sua vez, está, ao nosso ver, na possibilidade de reforçamento da idéia de aptidão dos afrodescendentes para atividades físicas apenas, ou seja, atividades que requeiram, sobretudo, resistência física. Este posicionamento e o que entendemos como sua conseqüência já foram expostos quando consideramos as fotos de dois carteiro reproduzidas seguidamente no livro didático 4, da coleção 1, p.96 e 100. Aqui, todavia, existe a atenuante desta visão estar sendo reiterada justamente por uma personagem negra famosa, a qual poderia (e deveria), por 42 outro lado, ser utilizada como um referencial positivo, para a contribuição na construção da identidade étnica das crianças afrodescendentes que fazem uso deste livro didático, haja vista Pelé poder ser considerado, em muitos aspectos, um vencedor. Tendo em vista que as duas ocorrências – as dos carteiros e a de Pelé – aparecem em coleções didáticas diferentes, talvez não possamos dizer que se trata de um aprofundamento no processo de objetificação do afrodescendente. Por outro lado, estas evidências permitem destacar como este processo de negação da subjetificação, por um critério de desvaloração étnica, quando se trata de não-brancos, frise-se, é comungado por diferentes produtores de livros didáticos, o que torna a situação ainda mais urgente de ser considerada e modificada. Isto se verifica, sobretudo, quando, ao considerarmos as ilustrações de Pelé, notamos que o preconceito racial está de tal forma culturalmente arraigado na sociedade, que nem ao menos uma pessoa bem reconhecida e famosa profissionalmente, como o jogador, fica imune de representações que pretendem cercear a atuação de seu grupo étnico no social, a partir de uma outremização que lhe rebaixa. Isto se confirma ainda mais quando observamos que duas outras personalidades brasileiras reconhecidas mundialmente, em maior ou menor grau, como Ayrton Senna da Silva (p.81) e Monteiro Lobato (p.266 e 283), pessoas brancas, não sofreram forma alguma de inferiorização no mesmo volume didático. Esta situação, que evidencia procedimentos tão distintos para personagens que possuem todas imenso valor profissional, mas que se distinguem, não obstante, quando consideramos o grupo étnico de que fazem parte, nos permite confirmar, igualmente, a falta de um preparo consolidado para o tratamento apropriado, no livro didático, da pluralidade étnico-cultural que caracteriza o país. E, em um aspecto mais pedagógico, este é um fator que muito macula o aprendizado e desenvolvimento psíquico que nossas crianças afrodescendentes, brancas e orientais possam ter. Na p. 47, do livro 1 , coleção 1, deparamo-nos com uma fotografia da Rua do Barão do Ouro Branco, da cidade de Ouro Preto, em que se percebe, em primeiro plano, uma senhora afrodescendente subindo a ladeira com alguns itens nas mãos. Tal personagem usa um lenço na cabeça, trajes simples, aparece na parte ensolarada da foto e está próxima a um chafariz. Ao fundo da fotografia, por sua vez, podemos reparar em algumas outras pessoas – à janela de uma casa, sentada na calçada e andando na rua – das quais poucos detalhes 43 são distinguíveis devido à distancia em relação ao ponto de onde a foto foi tirada. Precedendo as questões que são realizadas sobre a fotografia, que é o texto 1 da unidade, encontramos um comentário da autora, destinado ao professor, em que se afirma que o objetivo das atividades é “desenvolver nos alunos as habilidades de ‘leitura’ de imagens, de textos não-verbais, e dos elementos verbais que acompanham esses textos” (no caso, a legenda indicadora da foto). Entretanto, ao considerarmos a pergunta 3 e sua resposta, sugerida ao professor pela autora do livro didático, percebemos o teor do preconceito étnico existente no ideal de correção oferecido pela produção. Eis o comando e sua resposta: “Observe as pessoas que estão na rua: o que elas estão fazendo? Você acha que elas são felizes? Por quê? [Resposta:] Há uma pessoa à janela, outra sentada na calçada, ao fundo algumas na rua, á frente uma mulher subindo a rua carregando roupas, embrulhos... A resposta à segunda parte da questão é pessoal.”. (SOARES, Magda. Português: uma proposta para o letramento: ensino fundamental. vol.1. São Paulo: Moderna, 2002, p.47.) Por meio do exame da resposta oferecida pelo livro didático, notamos que, embora a senhora afrodescendente seja a personagem em maior evidência na fotografia, ela é a última a ser apontada no texto, começando a autora sua indicação das personagens pelo plano mediano da fotografia, estendendo-se até as que estão mais distantes da percepção do leitor, recaindo, por fim, na personagem negra, que está, em suma, no primeiro plano da imagem. Uma situação como esta não realiza o que exemplificamos como objetificação do afrodescendente, porém, relega-o a plano inferior, priva-lhe da importância que sua posição de destaque lhe conferiu, atuando, em suma, de modo a sufocar a posição de sujeito que teria, não fosse o procedimento adotado de secundarização e de desvalorização da etnia negra na resposta. Ao considerarmos o material veiculado pelo livro didático que nega ao afrodescendente seu caráter de sujeito, colocando-o em uma posição de alteridade, em que é depreciado, devemos considerar trechos de duas letras de música encontradas no volume 3 da coleção 2. Trata-se de da canção Aquarela Brasileira (p.157-6), samba enredo produzido pela escola de samba Império Serrano, em que são mostradas “as riquezas do Brasil”, segundo o livro didático (p.157), e da música Aquarela Brasileira, de Ary Barroso 44 (p.178-9), suposto “símbolo de exaltação nacional”, conforme o livro. Eis os fragmentos das músicas que mencionam os afrodescendentes: Aquarela Brasileira (1): Aquarela Brasileira (2): “Tudo é belo e tem lindo matiz E o Rio, de sambas e batucadas, Dos malandros e mulatas Dos requebros febris” “Meu mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que dá, bamboleio, que faz gingar” “Oi, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado” “Brasil, terra boa e gostosa Da morena sestrosa de olhar indiscreto” Ao considerarmos a figura da mulher afrodescendente, vinculada tanto pela canção 1, como pela canção 2, notamos que esta é destacada por seu aspecto visual, que promove, uma percepção de sensualidade (requebros febris) e até de inconveniência (olhar indiscreto). A personagem feminina é identificada como sestrosa, que segundo o livro didático significa manhosa, esperta, sendo que o adjetivo sestroso, conforme o Dicionário Aurélio, denota, ainda, “que tem sestro”, “ronhoso”, “esperto, vivo”. Quando se trata de uma mulher mais velha, esta não é retratada como portadora de sensualidade ou de atitude, principalmente, ao contrário, é objeto submetido a uma ação – precisa ser “tirada do cerrado”. Isto posto, notamos, pelo livro didático, a veiculação de uma imagem estereotipada da mulher afrodescendente, que aparece com um perfil deturpado, símbolo de sensualidade/sexualidade e de passividade, como se não tivesse um papel histórico e social no país mais importante a ser ressaltado. Quando consideramos a personagem afrodescendente masculina, verificamos que o adjetivo atribuído a ele é inzoneiro. Segundo o vocabulário encontrado na página 179 do livro didático, este termo significa esperto. Entretanto, de acordo com o Dicionário Aurélio, este termo denota “mexeriqueiro, intrigante; mentiroso; sonso, manhoso”. Conforme podemos perceber, parece haver, neste caso, uma intenção do livro didático em escamotear o verdadeiro significado do termo vinculado pela música: o sentido estigmatizante atribuído a negros e a pardos. Não obstante, a escolha do adjetivo esperto acaba caindo no erro que 45 buscou evitar, pois dificilmente o termo esperto é conferido, pelo senso comum, aos indivíduos afrodescendentes com um sentido positivo; normalmente, o que se pretende dizer, de forma eufemística, é que se tratam de pessoas oportunistas, atentos aproveitadores de circunstâncias. Deste modo, julgamos que ter veiculado a letra desta música, que está entre as mais regravadas do planeta, com olhos críticos teria sido a melhor atitude a ser tomada pelos autores do livro didático. Mesmo porque, conforme Araújo (2006, p.76), o mito da “raça cósmica ou do “mulato inzoneiro” que resultaria na formação de um homem novo ideal nas Américas, revelam-se apenas como celebrações discursivas do passado e caem por terra quando observamos as telenovelas brasileiras, mexicanas, colombianas, venezuelanas, ou produzidas em qualquer parte da América Latina, que funcionam como os melhores atestados de que sempre prevaleceu a ideologia da branquitude como formadora do padrão ideal de beleza e, ao mesmo tempo, como legitimadora da idéia de superioridade do segmento branco. Esta idéia, tão nítida para Araújo nas telenovelas foi durante muito tempo inerente às produções didáticas também. Assim, considerando o avanço quanto à questão já detectável em livros didáticos mais atuais e mais comprometidos com a cidadania, julgamos que, no caso, ainda, de o livro querer se esquivar de leituras que promovam debates construtivos sobre a questão da diversidade étnica, como a que seria proporcionada pelo texto em questão, apelando para o fato de os alunos da 3ª série do Ensino Fundamental não serem, ainda, maduros para uma atividade como esta, acreditamos que autores da produção poderiam, ao menos, ter (tido) uma atitude mais honesta, selecionando melhor as letras de música que veiculam, por exemplo. Para finalizar a série de exemplos através dos quais tencionamos mostrar como o afrodescendente, no livro didático, tem sua humanidade e caráter ativo bem representados, ocupando, assim, a posição de sujeito, mas, igualmente, que o grupo é alvo de demarcada reificação, selecionamos duas ocasiões em que a objetificação atinge níveis extremos. Tratamos de situações em que os afrodescendentes são retomados como escravos. Na página 29 do livro 2 (coleção 3), há um exercício que trabalha com a questão da evolução sofrida pelos meios de transportes utilizados pelos brasileiros ao longo dos últimos séculos. Três tempos são representados, “Antigamente”, “Tempos depois” e “Nos 46 dias de hoje”. Esta última fotografia expõe um “ônibus moderno”, que é “dirigido por motoristas”. A segunda imagem evidencia um “bonde puxado por burros”, que “era dirigido por condutores”. Por fim, na primeira fotografia, o meio de locomoção que se retrata é a “cadeirinha”, móvel “carregado por escravos”, para a condução de membros da elite da época. Especificamente, observamos dois africanos (ou afrodescendentes) vestidos com roupas formais, ao lado da cadeirinha, onde está sentada uma mulher branca, da nobreza, à espera de ser conduzida a outro espaço, graças à força e energia dos dois homens-objetos. A outra situação em que a condição de escravo de africanos foi recuperada está no livro 4 da mesma coleção. Na página 130, notamos um texto de Debret, artista definido como “francês bem brasileiro”. No excerto em questão, afirma-se, entre outras coisas, que o “pintor e desenhista”, “em dois de seus muitos trabalhos, representou cenas de carnaval do Rio de Janeiro da época.”. Isto posto, fala-se sobre a participação popular neste tipo de festejo, por exemplo, “Os escravos lambuzavam o rosto um dos outros com polvilho e água. Grupos de negros desfilavam tocando diversos instrumentos. Alguns fantasiavam-se de nobres europeus e faziam saudações aos que os assistiam das sacadas das casas.” 2.2 O AFRODESCENDENTE: UM CONCEITO SOCIALMENTE CONSTRUÍDO E REAPROPRIADO PELO LIVRO DIDÁTICO Nesta parte trazemos exemplos que constituem, estritamente, um negro que denominamos discursivo. Referimo-nos tanto a personagens ficcionais de livros infantis, como às criaturas negras encontradas no folclore e a elementos com particularidades de origem africana, por exemplo. 2.2.1 O negro ficcional Na p. 119 do livro 3 (coleção 2), encontramos um quadro de Portinari, que, segundo dados do livro didático, parece se chamar “Menina sentada”. Nele foi retratada uma menina negra, sentada em um chão aparentemente de terra, durante um pôr do sol. Ela veste um 47 vestido amarelo com pontinhos marrons e tem, no cabelo, um laço do mesmo tecido; parece ter, de acordo com resposta observada no livro, entre 5 e 7 anos. Considerada a importância da divulgação de produções artísticas que representem a população afrodescendente e sua cultura, torna-se crucial uma ponderação sobre este aspecto, a partir de um exemplo concreto, tendo em vista, especificamente, a posição que estas produções ocupam nos livros didáticos. Quando examinamos a localização do quadro de Portinari, notamos que a imagem aparece em uma unidade que tem por objetivo específico expor as diferenças étnicas existentes no Brasil: “Converse com a classe a respeito da pluralidade do povo brasileiro. Leve os alunos a observar as diferenças de etnia...” (p.108) diz um comando ao professor, logo no começo da unidade. Isto posto, julgamos pertinente destacar a importância do enfoque étnico pelo livro didático, porém, ao mesmo tempo, devemos chamar a atenção para o fato de o quadro que retrata a menina negra estar justamente em um local que tem um propósito étnico bem marcado. Notamos que, quando se trata da exposição de elementos da cultura branca européia, não há a necessidade de que eles sejam anunciados por uma temática condutora da unidade, ao contrário, eles aparecem naturalizados como se a sociedade fosse apenas branca, não havendo, portanto, a mínima necessidade de se anunciar a apreciação de atributos relativos ao que ela seria. Porém, quando se trata da consideração de quesitos afros, notamos que esta naturalização não existe, sendo sempre necessária a existência de uma temática, na produção, que lhe seja obviamente pertinente, para que esses elementos sejam considerados. Exemplos desta constatação podem ser encontrados neste mesmo volume didático. Quando examinamos a imagem (um quadro) introdutória da unidade 3, chamada “Em família”, e da unidade 8, chamada “Nosso país tropical”, que aborda a questão do meio ambiente, sendo introduzida por uma imagem de uma folha em chamas, sobreposta a uma mão humana e explicitada pela sentença “Nós escrevemos esta história”, observamos que as figuras ilustrativas destes temas cotidianos são representativas da etnia branca – tanto a família exposta em pintura, como a mão daquele que é determinado como escritor da história do Brasil são brancas. Por outro lado, encontramos novamente uma imagem 48 representativa da etnia negra quando se vai, justamente, tocar na questão do “Meu Brasil brasileiro”, nome e tema da unidade 7 do livro. Devemos, em primeiro lugar, observar a impropriedade desta naturalização de um grupo e da necessidade de justificativa para a representação do outro. Tal observação se faz premente porque, longe de ser branca, a sociedade brasileira é formada por pessoas de diferentes origens e etnias, sendo que os afrodescendentes, por exemplo, representam quase metade desta população. Por isso, acreditamos na falta de necessidade de existir qualquer outra razão, que não a simples maciça e importante presença de negros e pardos no meio social brasileiro, para que o grupo seja devidamente representado no livro didático. Em segundo lugar, devemos notar a hipocrisia que promove a representação do afrodescendente quando se aprecia a constituição populacional ou cultural do país, mas que o exclui quando se trata de considerá-lo nas abordagens de temas referentes à cotidianidade da nação. Isto é feito como se negros e pardos fossem inativos, à margem das atividades que envolvem o contínuo desenvolvimento brasileiro, e, hermeticamente, contassem apenas como uma função de acessório na constituição da origem das pessoas e na composição da cultura nacional, sem qualquer intervenção no país atual. O quadro Menina Sentada, de Portinari, também aparece na coleção 3 (p.26), em escala bem menor. Nesta situação, o pintor é identificado como “famoso por suas telas de temática social”. Ao lado destes quadros, encontram-se dois outros: A caipirinha, de Tarsila do Amaral, artista com uma “pintura influenciada pelo cubismo que mostra a paisagem brasileira”, segundo informação oferecida ao professor pelo livro didático, e Menina do circo, de Di Cavalcanti, que retratou uma garota parda e, conforme o volume, é “conhecido como ‘o pintor de mulatas’”. Estas imagens fazem parte de um exercício concernente ao estudo de uma lenda asiática, apresentada nas páginas anteriores do livro didático (p.24-5). Trata-se da história de um pintor chinês de muito talento, que adora retratar rostos de criança – “Toda semana pintava sete carinhas diferentes, uma para cada dia.” (p.24). Um dia a Morte, a mando do Senhor do céu, vai lhe buscar. Paralisada com a beleza do quadro de uma linda menina que o pintor produzia, não se sentiu forte para interromper-lhe a atividade, e voltou sem ele para o céu. O Senhor o repreendeu muito e mandou que trouxesse o artista sem mais demoras. Mesmo novamente paralisada pela beleza das pinturas, a Morte mandou o senhor pintor 49 recolher seu material artístico e a acompanhar. O Senhor acaba admirando a produção do velho chinês e permite que ele continue com sua arte no céu. Graças a isso o idoso artífice fica responsável por a criar o rosto dos bebês que nascerem daí em diante. Apresentada a história, cabe dizer que os quadros dos três artistas brasileiros foram selecionados e submetidos a seguinte questão: “Alguma delas se parece com o retrato da linda menina que o mestre pintava quando a morte chegou?” (p.26) Consideramos, assim, as imagens muito pertinentes, por serem representativas de parcela considerável da população nacional – os caipiras normalmente são esquecidos, quando não desprezados socialmente e, por conseqüência, também no livro didático. O mesmo se dá com o público afrodescendente. Vale acrescentar que a lenda asiática e estes representativos quadros dos pintores brasileiros estão em uma unidade chamada “História de profissões”, um tema não obviamente atrelado a qualquer aspecto a ser discutido em específico sobre a Ásia ou necessariamente relacionado à composição populacional do Brasil. Deste modo julgamos que estas ocorrências devem ser duplamente destacadas, por respeitarem a questão da pluralidade. Na mesma unidade em que encontramos o quadro de Portinari, no livro 3, da coleção 2, observamos logo adiante um fragmento do livro Menina bonita do laço de fita, da escritora Ana Maria Machado. O excerto, que nos apresenta a personagem que dá nome ao texto, uma garota afrodescendente “linda, linda”, segundo a história, aparece ilustrado e é contraposto à tela da menina negra, pintada por Portinari, com a meta de se diferenciar, para os alunos, um texto narrativo de um descritivo. Considerando tanto que este texto se enquadra na mesma posição do quadro de Portinari, isto é aparece conduzido por uma temática que justificaria a inclusão do afrodescendente no material – ressalte-se, novamente o caráter de inclusão forçada – mas, por outro lado, a importância da veiculação de um texto que traga referenciais positivos para a criança negra e parda, através da discussão saudável da beleza da etnia negra, por exemplo, e que também ajuda na constituição da identidade da criança branca – esta publicação está incluída na Bibliografia Afro-brasileira, lançada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por meio do Projeto Vida, para a rede municipal de Ensino, visando-se ao cumprimento do Programa de Governo de Políticas de Ação Afirmativa. 50 (<http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sec/educacao/2004/10/0013>) – devemos considerar ainda um terceiro ponto. Embora a necessidade de reconhecimento do valor da cultura de matriz africana se faça absoluta, deve-se evitar cair em extremos quando se trata desta temática. Ao mesmo tempo em que os grupos do Movimento Negro (MN) elaboram diversos trabalhos com o intuito de promover a aceitação, pelos brasileiros, dos afrodescendentes e da cultura africana como algo que lhe é inerente e de valor, e não, especificamente, como algo dotado de exotismo, existe uma conscientização que leva ao reconhecimento de que o caminho para isto não é a idealização do negro e pardo, mas apenas um trabalho que o leve a ser considerado de forma natural e positiva, assim como acontece com a etnia branca. Tocamos nesta questão da idealização e da exotificação do afrodescendente por nos preocupar enunciados como o que apresenta o texto de Machado. Ei-lo a seguir: “Você vai conhecer agora a história de uma menina muito mais que bonita. Leia o texto e descubra o que ela tem de tão especial. Compare a personagem dessa história com a menina pintada por Portinari na tela que você conheceu” (p111). Quando consideramos as expressões “muito mais que bonita” e “de tão especial”, ao nosso ver, devemos ter reservas. O que se tem em questão é exatamente uma menina afrodescendente descrita como “linda, linda” pelo narrador da história, que também nos apresenta outras características físicas da garota, distintivos que, no texto, despertam a paixão de um coelhinho branco, o qual decide querer ter uma filhinha tão negra e tão linda como a menina bonita do laço de fita. Não se trata de uma personagem que precise ser exaltada, exotificada ou idealizada em sua constituição de qualquer forma, pelo livro didático, para ter seu valor assegurado ou definido. Fonseca e Fonseca (1998, p.146) destacam esta mesma visão no artigo A presença-ausência afro-brasileira: escola e livro didático, quando se referem ao propósito das ações do MN. Para os autores “o movimento é de inserção, de divulgação e de reinterpretação destes seres [afrodescendentes], sem escorregar para um idealismo piedoso, nem em um militantismo perigoso, pois esses caminhos inequivocamente rumam para outros estereótipos, desconectando novamente a realidade”. No livro 4 da coleção 2, há, da página 76 a 79, um fragmento da história, de Ruth Rocha, Faca sem ponta, galinha sem pé. Trata-se de um trecho em que é apresentada uma 51 família, especialmente os irmãos Pedro e Joana, em torno de cujo comportamento a narrativa gira, mas, também a mãe, Brites, e o pai, Setúbal. Existe uma discussão em família sobre o que é papel de homem e o que é papel de mulher. Os irmãos brigam, pois Joana quer jogar futebol e o irmão não quer deixá-la, por acreditar que o esporte é apenas para meninos e por medo do que seu amigos comentariam caso ele levasse a irmã com ele; o garoto chega em casa “todo esfolado, chorando” (p.77) e tão logo diz que a culpa é do “besta do Carlão! Me pegou na esquina” (p.77), é repreendido pelo pai que afirma que “Homem não chora!”(p.77), ordenando ao filho voltar que volte para o local da briga, no caso de ter fugido, para bater no agressor, porque “Filho meu não foge!” (p.77), entre outros eventos, sendo que, no fim do fragmento, os irmãos são apresentados decidindo passar por baixo de um arco-íris quando voltam da escola, ação que os leva a terem os sexos invertidos, Joana vira menino e Pedro, uma menina, conforme uma dia deles afirmou de certa feita que aconteceria quando da prática deste ato antes do meiodia. Quando consideramos a ilustração da família, notamos a opção do ilustrador de representar uma família mista, em que o pai e filho são afrodescendentes e a mãe, uma mulher branca. Consideramos pertinente uma representação como esta, independentemente da visão limitada que a maior parte dos integrantes revela sobre os papéis sociais determinados para cada sexo (Joana é a exceção explícita), tendo em vista a inclusão do público pardo em um ambiente familiar, bem como em um estrato que talvez possa ser considerado de classe média, haja vista os personagens terem sido retratados bem vestidos – o pai usa roupa social, com gravata inclusive; a mãe, um conjunto quase na mesma linha e sapatos de salto – as crianças estudarem de manhã e a família parecer contar com uma casa com um quintal amplo o suficiente para abrigar um pé de goiaba, árvore em que Joana sobe, sendo dedurada para a mãe pelo irmão. No livro 3 (coleção 1), observamos novamente a preocupação de se considerar pessoas de diferentes etnias estabelecendo relações familiares. Neste exemplo, referimo-nos a uma ilustração de uma poesia de Pedro Bandeira, chamada Irmão Menor, existente na p.67 do volume. O poema traz a visão de um irmão mais velho sobre o irmão menor, que, para ele “É pior / Que catapora”, “É pior do que carniça”, “É pior do que injeção”, entre outras coisas, 52 mas alguém que apenas ele tem o direito de insultar – “E não venha / achar estranho, / só porque dei uma surra / no danado do moleque / que xingou o meu irmão. // Eu posso xingar. / Os outros, não!”. Com relação ao desenho, trata-se de uma imagem bem destacada de duas crianças – uma afrodescendente, representando o irmão mais velho, e uma branca, como o irmão caçula. A ilustração, que ocupa porção considerável da página, perfilando-se ao lado de quase toda a extensão do texto, mostra o primogênito com expressão de incomodado, aborrecido, observando o menor que, meigamente, está enlaçado em suas pernas. Neste contexto, vale observar que em momento algum a etnia das crianças é mencionada no texto, o que nos faz, então, reconhecer a inclusão da população afrodescendente em um contexto familiar, independentemente da consangüinidade que existir entre os irmãos. Mais do que isso, verifica-se, na produção didática, espaço para vários tipos de configurações familiares, visto que um trio de crianças brancas e um casal infantil oriental também aparecem desempenhando o papel de irmãos. Na p.242 do livro 2 (coleção 2), tem início uma unidade denominada “O jeito de cada um”. Nesta, acreditamos que merece atenção especial o texto 2, chamado Ninguém é igual a ninguém, de Regina Otero e Regina Rennó, texto em que encontramos a opinião do personagem Danilo quanto à diversidade que marca os seres humanos expressa através dos exemplos que constituem seus vizinhos e um amigo especificamente. Danilo cita Paulinho, um garoto gorducho que “chora e chora” quando é maldosamente apelidado por uns meninos que lhe consideram apenas a aparência física; aponta Joana, uma garota negra insatisfeita – diz sempre que gostaria de ser branca; cita Davi, menino ruivo que se enfurece quando o chamam de “cabeça de fogo”; indica um “amigo que quer ser o mais inteligente de todos”, ficando nervoso quando alguém tira notas melhores que a dele; e ele próprio, Danilo, magrelo que não liga mais para os apelidos que lhe colocam, por serem falsos e porque é “bom das pernas” e não perde nenhuma corrida. Para Danilo, que enxerga o valor do que é plural e do que é diverso, “cada um tem a nota que tem, a casa que tem, a cor que tem”, difícil seria se todos fossem iguais, pois, deste modo, “as pessoas teriam de andar com o nome escrito na testa para não serem confundidas com outras” (p.251). Todavia, a partir deste mesmo fragmento de texto, notamos a existência de crianças como as que apelidam Paulinho e Davi, que não percebem 53 o significado das diferenças entre as pessoas de forma lúcida e positiva, assim como Danilo. Percebemos também Joana, que talvez por ser vítima de discriminação racial ou, então, por não ter tido um referencial positivo para a constituição de sua própria identidade como pessoa afrodescendente rejeita a cor que possui. Neste contexto, embora nos possa parecer negativo a representação de uma pessoa afrodescendente que se auto rejeita, devemos considerar a importância de tal aspecto ter vindo figurar no livro didático, propiciando, então, a discussão do assunto e do levantamento das causas que podem conduzir um indivíduo afrodescendente a esta posição no país em que vivemos. Discussões como estas são capazes não apenas de levantar as condições de vida da população afro-brasileira, mas também de questionar como a população branca tem contribuído e atuado para a manutenção do contexto de vida destas pessoas, seja este contexto bom ou ruim; essas reflexões podem, ainda, auxiliar na constituição da identidade dos dois grupos étnicos. Cabe-nos agora considerar a ilustração do texto em questão. Todas as crianças são bem representadas e Joana é retratada como uma garota muito bonita: com cabelos crespos, decorados e parcialmente trançados, usando batom cor de rosa, que é da mesma cor de sua camiseta, e uma calça azul acompanhada de sapatos pretos. Mas a menina, apesar de toda a meiguice que apresenta no desenho, traz os braços cruzados sobre o corpo como sinal da insatisfação que sente em relação a sua cor, descontentamento já referido no texto. Ao voltarmos agora nossa atenção para o conjunto formado pelo texto e sua ilustração, percebemos que o primeiro se repete, com a supressão de dois parágrafos, no 54 livro 4, p.65, coleção 2; que, nesta situação, apenas uma das autoras do texto é citada, Regina Otero; e que o texto é o último texto de uma unidade que se chama “Ser criança”. Com relação à ilustração deste “novo” texto, por sua vez, notamos não apenas um desenho modificado, mas outro muito diferente. Neste, Davi (o menino ruivo) e o amigo de Danilo (que quer sempre ser o melhor do que os outros em nota) não são representados, ainda que apenas o primeiro tenha sido omitido do conhecimento dos alunos quando da supressão de dois parágrafos. Ao considerarmos a ilustração de um modo mais amplo, percebemos também que o capricho existente na representação dos personagens no livro 2 se perdeu. Joana, Danilo e Paulinho, os outros personagens observados na ilustração do livro 4 são retratados de forma caricatural e Joana pouco traz da beleza que demonstrava no volume 2 da coleção. Levantados estes pontos, podemos perceber que, embora o texto Ninguém é igual a ninguém tenha o mérito de trazer um tema que há pouco tempo não era sequer discutido, percebemos que a forma como é apresentado pode influir muito no modo como a discussão que suscita poderá se desenvolver. Isto, porque sua simples localização na unidade muitas vezes determina o tratamento que o professor resolve dar o texto – Ninguém é igual a ninguém é o texto número 2 no livro 2 e o último da unidade no livro 4. Ademais, cada uma das ilustrações – por serem tão díspares - tem o poder de provocar concepções diferentes, sendo, por exemplo, profundamente distintas as idéias despertadas da análise de uma personagem gorda desenhada de forma natural e da mesma personagem retratada de forma caricatural; como também muito desigual é a consideração de uma personagem negra que é muito bonita com relação a de uma outra personagem negra, que tampouco gosta da cor que tem, mas que não se apresenta esteticamente bela, tendo em vista a caricaturação que 55 sofreu. Em uma sociedade como a nossa, rigidamente guiada por inatingíveis padrões de beleza, é como se a caricatura tivesse o poder de tirar da personagem o que é seu de direito, seu poder de mobilização, de reivindicação ou de atenção. Ou seja, é muito mais provável que os alunos se sensibilizem com o drama de Paulinho e de Joana pelo fato de eles serem pessoas apresentáveis, apenas com seus respectivos “problemas”, do que com personagens caricaturados e sem beleza que, por assim serem, parecem ficar menos humanos e dignos de complacência ou de atenção sincera aos olhos da sociedade que se pauta pela aparência. Deste modo, se considerarmos que a ilustração sempre chama a atenção do leitor antes mesmo de ele se debruçar sobre o texto, como também o poder que isto confere à imagem, perceberemos que as discussões surgidas de um texto em que os personagens são representados de forma natural terão muito mais chance de serem lúcidas e produtivas, aproximando-se mais intimamente do âmago da questão social (discriminação, construção da identidade etc, como no caso de Joana). Isto ocorre, sobretudo, pelo fato de estarem os leitores e os alunos deste livro didático mais incólumes ao véu pernicioso e preconceituoso que a sociedade joga sobre os olhos das pessoas a quem consegue conduzir pelo viés da aparência. Por fim, podemos dizer que se depreende deste exemplo tanto o poder de persuasão ou de indução que uma ilustração carrega consigo mediante o procedimento com que foi feita, como a relevância do posicionamento, dentro da unidade, de um texto capaz de proporcionar discussões produtivas. Isto, porque, no caso deste último ponto, especificamente, podemos encontrar nele o fator determinante para a “vida” ou para “morte” do texto (e de sua discussão), posto nem todos os professores terem o comprometimento de estudar e avaliar previamente o material didático com que trabalham, quiçá na execução de um plano de aula, para, assim, refletir sobre o que pode trazer discussões mais profícuas para o contexto de sua aula e dos seus alunos. Quando examinamos a coleção 2, notamos que ela traz quadrinhos do cartunista Laerte em que Suriá, uma garota de circo, é a personagem principal. No livro 1, isto pode ser visto tanto na p.146, como na p.180. Na primeira página em questão, encontramos quadrinhos no quais Suriá aparece escrevendo uma poesia para presentear seu amigo Gaspar, um camelo, no dia de seu aniversário. Suriá é ajudada no processo por um palhaço 56 e a poesia composta pelos dois tem os seguintes termos: camelo, cotovelo, cabelo, pesadelo pêlo, gelo e novelo, expressões que rimam com camelo e que, para a menina, devem, por isso, homenagear o amigo. Na p.180, encontramos outra historinha que nos permite descobrir que o palhaço é, na verdade, tio de Suriá, chamando-se Flip. A garota, por não consegue dormir, clama pela presença do tio, pois deseja que ele lhe conte uma história. Flip, embora não demore muito a aparecer, chega com uma história hiper reduzida para contar à pequena – “Um sujeito salvou uma princesa, eles se casaram e foram felizes! Boa noite!” – saindo apressado logo depois de contá-la. A menina, intrigada com a pressa do tio, resolve segui-lo, chegando à janela de um quarto em que percebe o tio contando uma longa história – “‘Não!’ – disse o lobo. E o palhaço mágico não teve outra saída a não ser voltar para o castelo da bruxa...” – a um outro palhaço, que está deitado em uma cama e que, excitado pela história, tampouco parece interessado em dormir. A última fala da história é deste personagem, seguindo à fala de Flip, ele pergunta “E depois? E depois?!”. Considerando primeiramente os quadrinhos da p.146, notamos que eles se apresentam do mesmo modo que os encontrados em páginas dos livros da coleção 1, onde tirinhas do cartunista Laerte também podem ser observadas. Neste exemplo da coleção 2, Suriá é, como usual, a personagem que mais se destaca na história, mas, apesar disso, não é posta em relevo nos exercícios que se seguem ao texto. Percebemos, infelizmente, que a história de Suriá, nesta ocasião, serve apenas de pretexto para os estudantes produzirem um texto, em específico um convite a uns amigos, “para comemorar o aniversário de Gaspar”. (p.146). Com relação aos quadrinhos da página 180, notamos que ele também serve de desculpa para a produção de um texto escrito – a história de Suriá deve ser recontada através de um texto em prosa. No que concerne aos quadrinhos em si, julgamos que algumas considerações podem ser levantadas. Ao nosso ver, o fato de tio Flip ter pressa em ir contar uma história de verdade (não resumida) para o outro palhaço, que aparentemente deve ter laços afetivos com ele, não sabemos se se trata de seu filho, de um sobrinho, ou mesmo de um amigo, indica, obviamente, uma amizade e uma preferência por uma pessoa do mesmo grupo – ambos são palhaços e próximos um do outro – já que Suriá é preterida. Todavia, não acreditamos que 57 seja o caso de se afirmar que Flip revele qualquer espécie de ojeriza com relação ao grupo étnico afrodescendente, especificamente, pois, como observamos na história da página 146, ele e Suriá parecem se dar muito bem. A chave do comportamento de Flip parece, portanto, estar na estreita ligação que existe entre ele e o outro palhaço, sendo que por “estreita ligação” aludimos tanto ao sentimento afetivo, como, também, ao que chamamos de sentimento de pertença (intra)grupal. Nesta situação, vale considerar o que Carneiro conceitua como “neo-racismo cultural”. Segundo a autora identifica-se, desde o limiar dos anos 2000, um racismo que se volta contra o estrangeiro, “símbolo do intruso ou invasor” (1998, p.52-3). Hoje fala-se de uma Alemanha para os alemães e não mais, como antes, numa Alemanha para arianos. Também se propaga a idéia de uma Dinamarca para os dinamarqueses, uma Suécia para os suecos... No sul do Brasil, defende-se a exclusividade da região para seus habitantes. Retomase, de certa forma, o antigo conceito romano de bárbaro: aquele que não pertence ao Império e por isso não tem direito de usufruir de seu convívio e de seus benefícios. Este é um racismo diferente daquele que norteou a escravidão colonial e o nazismo. O argumento agora utilizado não é a preservação de uma raça pura ou superior. Defende-se o direito que cada um tem de ser diferente: mas com um sentido discriminatório, cada um no seu lugar... Acreditamos, deste modo, que a atitude de Flip revela sua preferência por seu endogrupo, o que não significa uma falta de apreço a negros e a pardos exclusivamente. Supomos que seu comportamento seria o mesmo fosse o exogrupo formado por pessoas brancas ou indígenas, por exemplo, por também não serem estas palhaças, como ele, e, portanto, estranhas à sua comunidade. Diante disto, consideramos esta representação de Suriá como uma inclusão positiva do afrodescendente. Primeiramente, esta tira pode e deve ser objeto de uma atividade de leitura e, logo mais, de uma discussão muito produtiva entre professores e alunos, de modo que valores antropológicos, sociológicos, éticos, morais e culturais, por exemplo, possam ser levantados, sem que se perca de vista, porém, a experiência de vida, o conhecimento de mundo e o alcance cognitivo dos estudantes mirins – as tiras consideradas estão em um livro destinado a crianças de 1ª série, que, não obstante novas, devem, desde cedo, ser instruídas quanto à importância do respeito à diversidade e diferença. Em segundo, lugar, não podemos esquecer que Suriá é a personagem principal da tira, embora não seja a pessoa mais importante para Flip no momento. Acreditamos, realmente, que estes dois pontos 58 possam configurar uma inclusão positiva o afrodescendente no livro didático apesar de não nos esquecermos não-consideração/inclusão de Suriá nos exercícios referentes aos quadrinhos produzidos pelo livro. Os dois exemplos de personagens que passamos a destacar agora foram criados por Monteiro Lobato para suas histórias infantis, são eles Tio Barnabé e Tia Nastácia. Com o primeiro, encontramos um fragmento de texto no livro 3 da coleção 1. Trata-se da história Tio Barnabé e o saci, incluída em uma seção intitulada “Você acredita? Mistérios e Crendices”. O texto, em que tio Barnabé é personagem principal, é precedido por três quadros que apresentam, um de cada vez, os personagens que atuam na história – Pedrinho, Tio Barnabé e Saci-Pererê, nesta ordem. Quando consideramos a descrição do garoto e do idoso, percebemos que eles “se descrevem”, respectivamente, como quem “vivo pescando e caçando com bodoque” e como quem “sei fazer laços, arapucas e armadilhas, para pegar sacis, gambás e raposas”. Ao examinarmos a página (164) em que os três quadros são apresentados, observamos uma orientação ao professor que deve ser ressaltada. Diz-se o seguinte: “...Chamar a atenção dos alunos para as atividades de pesca e caça de Pedrinho e tio Barnabé, esclarecendo que: a pesca é proibida em época de reprodução dos peixe; a caça de animal silvestre (raposa e gambá) é proibida na Brasil; o uso de bodoque, atiradeira, estilingue contra pássaros é também proibido.” Diante disso, vale considerar que tanto a personagem branca como a afrodescendente são expostas como praticantes de atividades que contravém à lei. Isto é importante de ser destacado, uma vez que, na lógica do preconceito racial ainda identificável em algumas publicações didáticas, apenas personagens de etnias não-brancas costumam ser expostas como infratoras de convenções sociais, as quais são normalmente construídas por uma elite branca, que dificilmente é representada como não zelosa ou seguidora do código que produziu. Porém, ao considerarmos o modo como Pedrinho, o garoto branco, e Tio Barnabé, o idoso negro, são retratados na história, observamos que há uma determinação de valores das personagens, através do modo como a fala de uma e de outra são representadas. Isto não é questionado pelo livro didático, não há um chamar da atenção do professor, como ocorre quando da consideração de uma expressão preconceituosa usada pelo ancião em 59 conversa com o Pedrinho. Quando fala sobre uma visita que o Saci lhe fez, Tio Barnabé diz a Pedrinho que a criatura “remexeu tudo [em sua casa], que nem mulher velha” (p.166). O livro didático, dentre as questões que formula para uma interpretação oral do texto, formula duas questões que visam a levar o aluno a refletir sobre esta questão: “- Vocês concordam com essa comparação? Toda “mulher velha” tem mania de remexer em tudo? [Resposta:] Nem toda mulher velha tem mania de remexer em tudo. - É só “mulher velha” que remexe em tudo? [Resposta:] Não, pois há crianças que remexem em tudo.” Segundo orientação oferecida ao professor pelo livro didático, “a questão tem por objetivo levar os alunos a perceber o preconceito existente na comparação. A conclusão é que o hábito de “remexer tudo” não depende da idade”. Acresceríamos, ainda, que esta característica também não é inerente ao sexo feminino, como a expressão utilizada pela personagem de Monteiro Lobato também dar a entender. Percebemos que, embora a autora do livro didático considere as crianças de 3ª séries maduras para alcançar o tipo de consideração preconceituosa revelada na personagem Tio Barnabé, não há uma preocupação do volume em alertar o professor para que discuta com seus alunos os diferentes modos de falar das pessoas e até o valor que as distintas variedades lingüísticas possuem no meio social. Tal questão deveria ser manifesta, uma vez que se veicula um texto de um autor que se preocupa em grafar diferentemente apenas a fala de uma personagem – e neste caso se trata de um representante de um grupo socialmente já marginalizado, os afrodescendentes – e não de todas elas. Nos referimos ao trecho do texto “– Tio Barnabé, eu vivo querendo saber duma coisa e ninguém me conta direito. Sobre o Saci. Será mesmo que existe? O negro deu uma risada gostosa e, depois de encher de fumo picado o velho pito, começou a falar. – Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que “exéste”. Gente da cidade não acredita – mas “exéste”...” Podemos notar, mediante o trecho transcrito, a diferença nos níveis de linguagem utilizados pelo narrador, por Pedrinho e por Tio Barnabé. No caso da personagem negra, 60 notamos que a esta é atribuída à expressão que mais se afasta do padrão ideal de língua tido pelo autor, a ponto de este optar por grafar o termo “existe” como exéste, ou seja tanto do modo como pressupõe que pessoas com as características étnico-culturais e sócioeconômicas de Tio Barnabé falam, como, inclusive, com aspas para ressaltar o que identifica como incorreção. Acreditamos que uma distinção como esta não apenas explicita uma inadequação gramatical, mas, ainda, revela toda uma concepção valorativa do autor quanto à diversidade existente entre os indivíduos em sociedade. Pedrinho é um menino, é branco e vem da cidade, um espaço conhecido como de desenvolvimento e de perpetuação de saberes; Tio Barnabé, por outro lado, é uma pessoa idosa, negra e da zona rural, sendo quem mais se destoa do modelo culto de língua cultuado por Lobato, ao que parece, mais acessível à pessoa de etnia branca que vem do centro urbano. Ademais, deve-se acrescentar que, na hierarquização entre as personagens, criada pela diferenciação lingüística, percebe-se também um estereótipo no que concerne ao modo de falar de negros idosos. Uma imagem construída por quem pressupõe a falta de escolarização deste público, decidindo, por conseguinte, expor a cru, através da linguagem, o que é postulado deficiência. Diante disto, pensamos que tão importante quanto esclarecer os estudantes quanto à impropriedade de se considerar mulheres velhas remexedoras de coisas, é esclarecê-los dos diferentes modos de falar das pessoas, e, ainda, da existência de uma forma padrão para a língua escrita. Mais ainda, deve-se ressaltar a importância de prevalecimento de uma mesma medida quando consideramos o modo de falar de diferentes pessoas, sejam elas negras ou brancas, jovens ou idosas, já que o respeito ao outro é fundamental. Caso contrário, em uma situação como a reproduzida pelo livro didático, provavelmente os estudantes vão prosseguir em seus estudos com a noção de que Tio Barnabé não apenas pratica atividades fora da lei – algo que Pedrinho também faz com seu bodoque – mas, ainda, considerando-o alguém que também tem preconceitos de idade e de sexo e que ao menos sabe falar corretamente, não devendo, assim, contar com qualquer valor positivo a ser transmitido. Pior do que isto é o potencial estendimento desta noção assimilada pelos alunos às pessoas de carne e osso que partilhem alguns dos atributos de Tio Barnabé. O segundo exemplo, que traz um personagem de criação de Monteiro Lobato, que 61 gostaríamos de destacar trata-se de Tia Nastácia. Nas duas coleções de livros didáticos analisadas, esta personagem figura em três situações. Na primeira delas, no livro 4 da coleção 1, a personagem tem apenas seu nome expresso, aparecendo em uma pintura de aspecto antigo, junto com outros moradores do Sítio do Picapau Amarelo, como Dona Benta, Pedrinho e Narizinho. Cabe dizer que Tia Nastácia é a personagem mais ao fundo no retrato (A ilustração serve para uma atividade de reconhecimento das personagens pelos alunos, que a seguir deverão proceder à leitura de uma carta enviada Monteiro Lobato e que faz menção a algumas personagens de suas histórias.). Na coleção 2, livro 3, encontra-se um fragmento da história de Monteiro Lobato chamada Começa a mudança para o sítio (p.254-6). Neste texto, percebemos que personagens dos contos tradicionais da literatura universal estão de mudança para sítio de Dona Benta, que aceitou a licença pedida por Peter Pan, representante das criaturas encantadas, para que todos se mudassem definitivamente para o Sítio, por estarem desgostosos com o resto do mundo. Dona Benta, as crianças do Sítio, Tia Nastácia e alguns animais da propriedade “horas e horas passavam debruçados na cerca, vendo chegar aquele povaréu maravilhoso” (p.254). Ao considerarmos as reações reveladas por alguns deles, percebemos que enquanto existem reações de constatação e de apreço por parte de Emília e do Burro Falante, nesta ordem, Tia Nastácia figura como a responsável pela única reação de espanto diante da mudança que se desenvolve. Considerando sua fala – “Credo, Sinhá! Que vai ser de nós de hoje em diante? Quanta estripulia, meu Deus! Se isto desta vez não pegar fogo...” (p.255) – notamos sua configuração como uma personagem temerosa de transformações, chegando inclusive a predizer algo ruim. Ainda, na coleção 2, livro 2, observa-se um outro fragmento de história de Lobato (p.270-1), em que há a descrição de algumas personagens do Sítio, dentre elas, Tia Nastácia. Diferentemente da exposição de Dona Benta, que lhe preserva a humanidade, reparamos que Nastácia é referida como um indivíduo de uma categoria inferior, uma vez que, não obstante seja referida como uma das “pessoas” que vivem no Sítio, é definida como uma “negra de estimação”. No desenvolver do texto, dois outros atributos são conferidos a ela: é identificada como quem produziu Emília, uma boneca descrita como “bastante desajeitada de corpo” e “com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima 62 que é ver uma bruxa” (p.270), e comparada com as pedras negras de limo que existem “no ribeirão que passa pelos fundos do pomar” do Sítio – Lúcia/Narizinho as denomina as “tias Nastácias do rio”. Tendo em vista a opção do livro didático por veicular fragmentos de textos de Lobato que tanta aceitação tiveram em sua época, mas que hoje já são vistos com olhos mais críticos, seria de se esperar de uma publicação verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento da educação e da ética dos alunos e contemporânea aos novos estudos realizados sobre a obra do autor, que contivesse exercícios que motivassem a reflexão por parte dos estudantes sobre o modo como a personagem negra é descrita nas histórias do autor, estendendo-se, inclusive, à realidade dos alunos e objetivando detectar como eles percebem esta representação em suas vidas, particularmente e em sociedade. No mínimo, seria de se esperar, pelo menos, alguma nota de orientação ao professor, alertando-o neste sentido, haja vista as relações étnico-culturais serem travadas desde cedo na escola, nem sempre com o êxito e respeito que deveriam envolver. Fazemos tal alarde pela consciência do quão danoso é para qualquer pessoa, desde pequena e, portanto, desde a idade de formação de valores e de concepções, crescer vendo seu assemelhado étnico diminuído – escondido no fundo de uma foto, descrito como alguém atrasado ou avesso a mudanças, reificado, quando não animalizado, descrito, em suma, como alguém incapaz de boas produções – como foi feito com Tia Nastácia, por exemplo. Para Sant’Ana (2005), a cor negra possui um “caráter emocional”, “é a cor negra que define a visão cultural de raça”, não havendo dúvida de que é “a partir da cor da pele – que é o sinal mais visível – que aquele ou aquela que discrimina identifica sua vítima” (p.69). Sant’Ana afirma que “racismo é a pior forma de discriminação porque o discriminado não pode mudar as características raciais que a natureza lhe deu” (p.41). Isto posto, percebemos que representações do afrodescendente como as feitas por Monteiro Lobato, e veiculadas pelos livros didáticos ainda hoje, são nocivas não apenas pelo preconceito racial que revelam e que nada deveriam de ter em comum com um instrumento de auxílio na propagação e desenvolvimento do saber. Mas, ainda, sobretudo, porque simplesmente prejudicam o desenvolvimento psicológico e, conseqüentemente o cognitivo do aluno negro, sendo que, para o conhecimento do alunado branco, também há danos, 63 visto que este tende a crescer com concepções éticas sobre raça/etnia precocemente maculadas. No livro 2 da coleção 1, encontramos um texto de Sylvia Orthof, chamado “Bicho Papão da minha imaginação” (p.169-70). Esta produção, que fala sobre os bichos inventados pela imaginação das crianças, tem como destaque a presença que o bicho papão teve na infância da narradora da história, havendo, portanto, uma referência direta à Guiomar. Guiomar, descrita como “preta, gordíssima”, que “vivia contando histórias terríveis de botar cabelo em pé” foi a cozinheira da narradora quando esta era criança. A mulher do momento da narração a responsabiliza tanto pela criação de seu bicho papão particular, que ela conseguiu inventar “de tanto ouvir a cozinheira”, como por seu cabelo crespo: “Eu tenho cabelo crespo até hoje por culpa de Guiomar. Ela me contou cada uma, arrepiei tanto que arrepiada fiquei!”. Além disso, a personagem diz que vai obedecer a um princípio não considerado pela cozinheira – “Dizem que a gente não deve contar histórias de meter medo para crianças, por isso não vou contar o que Guiomar contava”, colocando-se, portanto, como alguém superior a ela. Devemos observar neste texto o papel explicitamente negativo que é conferido à afrodescendente Guiomar, mais enfaticamente, talvez do que é feito com Tia Nastácia. Além de não respeitar a faixa etária pressuposta para as “histórias terríveis” que contava, ela é condenada pelo cabelo crespo da personagem-narradora, algo a ser realmente levado em consideração quando se examina a aceitação ruim que esta configuração capilar apresenta em nossa sociedade, chegando-se ao ponto de a narradora se motivar achar um culpado para o fato. É importante notar que uma representação como esta retira todo o valor que o conhecimento carregado em oratura pelo afrodescendente possui, relegando-o, apenas, a posição marginal a que é, com freqüência, insistentemente jogado por um coletivo culturalmente infectado por um racismo que teima em imputar características depreciativas a este grupo étnico. Para finalizar esta seção que abrange a representação ficcional do afrodescendente no livro didático de língua portuguesa, selecionamos dois textos que trazem, como personagem protagonista, Preta, uma menina afrodescendente, criada por Heloisa Pires Lima. 64 O primeiro texto está nas páginas 120 a 122 do livro 4, coleção 3 e trata-se de um fragmento chamado Preta se apresenta, extraído do livro Histórias da Preta. Em primeiro lugar, devemos notar que Preta, a personagem principal é uma menina com condições sociais que a possibilitam fazer passeios nas férias com a tia, onde vê flores que “nunca tinha visto e montanhas onde o mundo ficava embaixo, depois das nuvens” (p.120). A garota está inserida em um ambiente familiar. A mesma tia, que se chama Carula e é sua madrinha, lhe dá presentes e carinho; vem, ainda, ajudar sua mãe a preparar as delícias de suas festas de aniversário. Preta também tem uma avó, “linda com sua cor negra, cabelo branquinho, olhos serenos, mãos fortes e uma perna manca” (p.121) a quem visita e com quem pode conversar – “Nossa conversa era ela perguntar pouco e eu responder pouquinho. Mas tinha um amor que grudava a gente, uma na outra” (p.121). Em segundo lugar, cabe dizer que a ilustração não destoa da representação positiva que é feita dos personagens na história. Não há caricaturação ou estereótipos e Preta aparece bem vestida e apresentável. Das questões levantadas pelo texto, cumpre destacar duas delas, importantes quando se trata de discutir a pluralidade étnica dos brasileiros. A autora põe em questão, através dos pensamentos de Preta, o que é ser negro e o que é ser branco na vida das pessoas. “Eu fui aos poucos descobrindo que eu era a Preta marrom, uma menina negra. Ser negra é como me percebem? Ou como me percebo? Ou como vejo e sinto me perceberem? Tenho um amigo que só às vezes é preto. Que fica preto quando vai à praia no verão. Ser negro é muito mais do que ter um bronze na pele. Como é afinal, ser uma pessoa negra? Eu só respondo quando responderem como é que é ser uma pessoa que não é negra. (p.121) Percebermos que a personagem criança, apesar das indagações, possui uma visão bem consolidada do que é ser negra, pois entende e sabe que o fato ultrapassa a simples questão da cor da pele – é algo muito maior do que se ter uma pele bronzeada – e que pode não ser compreendido por pessoas como seu próprio amigo que só “fica preto quando vai à praia”. Ademais, Preta é um bom referencial para as crianças por ser uma menina questionadora, por sentir instintivamente que há uma diferença no modo com as pessoas lhe chamam de Preta, e seguir em frente questionando sobre a diferença que por ventura tenha daqueles que não são de seu mesmo grupo étnico. A garota fala sobre a tia: “É só ela sabia me chamar de Preta desse jeito que ficou tão doce. Olha que 65 engraçado: quando outros diziam que eu era preta eu achava estranho. - Eu não sou preta preta, sou marrom...” Este comentário nos faz atentar para as palavras de Ferreira (2006, p.87): Na sociedade brasileira, o uso de termos corretos destinados ao segmento negro não é fácil e nem está de todo assimilado pelo cotidiano. Termos como “afrodescendente” e afro-brasileiro” têm circulação restrita a uns poucos grupos mais esclarecidos da questão étnica. O termo “negro” ainda é utilizado com restrição, pois pode ser “ofensivo”. E os termos “preto”, “negão” e “crioulo”, dentre outros, marcadamente estereotipados e estigmatizantes, são usados em situações em que se pretende provocar a discriminação, quase sempre acompanhada de sentimentos de raiva ou repulsa. No entanto, esses mesmos termos, conforme o grau de intimidade com o interlocutor e mesmo a melodia vocal proferida, podem ter outro caráter. Pode ser uma forma carinhosa e afetuosa de tratamento. Ou seja, os termos têm de estar contextualizados em forma e conteúdo para sua compreensão social. Desse modo, podemos dizer, em suma, que Preta tem consciência das situações em que é chamada de Preta de modo discriminatório, e mesmo assim não se apassiva – sabe de seu valor afrodescendente e pede uma determinação da diferença àqueles que não-negros ousem querer uma conceituação deste atributo. Outra questão levantada sobre o texto é a da miscigenação. Preta diz “também tenho parentes alemães por parte da minha avó, clara, casada com meu avô negro índio, guarani de ascendência charrua. Que confusão! Outro dia eu conversei com um amigo loiro cuja mãe sempre conta com orgulho que sua avó era negra. Nos entreolhamos sorrindo. Eu negra, descendente de alemães, e ele, loiro descendente de crioulos.”. Esta situação nos faz perceber como o racismo brasileiro, não obstante uma marca de nossa cultura, alicerça-se em bases frágeis, pois ignora a genealogia das pessoas, preferindo fixar-se em traços fenotípicos somente. Eis o que diz Araújo (2006, p. 76) a respeito: “Nosso preconceito racial atém-se, mais às aparências, às marcas fenotípicas – quanto mais traços físicos de negros, mais problemas, diferente do preconceito racial de origem, norte-americano, em que uma gota de sangue negro é fator de exclusão, independente de a pessoa ter mais traços brancos que negros.”. Com isso, percebemos que aqueles que racialmente discriminam se deixam levar por valores insólitos e agressivos à formação do país, ignorando, muitas vezes, a própria constituição genética, pois as pesquisas atuais já revelam: os brasileiros brancos contam 66 com genes negros, do mesmo modo que os afrodescendentes possuem uma porção genética característica dos descendentes de europeus. Quanto à preocupação do livro com a questão étnica, ela se estende às instruções oferecidas ao professor. Alerta-se para a oportunidade de se “explicar que todas as pessoas constituem uma só raça, a humana”, a despeito das diferenças que possuamos (p.120) e para a importância de se motivar a discussão sobre qualquer tipo de exclusão provavelmente já vivenciada pela maior parte dos estudantes alguma vez na vida (p.120). Além disso, encontramos no meio dos exercícios sobre o texto em estudo a indicação “Ampliar as reflexões que o texto provoca. Os tons de pele das pessoas resultam da diversidade genética, transmitida de geração em geração. Outras diversidades dependem das oportunidades sociais que forem dadas às pessoas, sejam negros, brancos, amarelos, etc. E a valorização das diferenças que se deve buscar, preservando os direitos básicos do ser humano” (p.124), que nos permite comprovar a atualidade do livro e revela uma conscientização ética e étnica dos produtores do livro didático. Finalmente, no mesmo livro 4 da coleção 3, encontramos outro fragmento do livro Histórias da Preta. Neste devemos atentar, por sua vez, para o perigo de estereotipação do branco partindo da personagem negra e, inclusive, para indícios de estranhamento da própria cor. No texto de Pires, Preta, a personagem principal, faz observações sobre uma amiga, menina “de olhos clarinhos que de tão frágil e tão branca quase parecia transparente.” (p.126). Cumpre ressaltar aqui as características estereotípicas atribuídas arbitrariamente a negros e brancos. Se os afrodescendentes sempre tiveram que conviver com a idéia-mito de sua força e resistência física, vemos no trecho em questão uma inversão desta crença, que acaba por conferir a característica de fragilidade ao descendente de europeu. Embora a visão da amiga de etnia branca possa sugerir a Preta alguém delicado, devemos considerar o termo “transparente” que garota utiliza para se referir à amiga, já que nenhuma debilidade que o tom claro de pele possa indicar deve ser pré-requisito para ser notada como quase invisível. Ao mesmo tempo, prosseguindo na leitura do fragmento, notamos que Preta, por causa da diferença identificada na amiga, resolve, um dia, se olhar no espelho – “e vi meu rosto negro, meus lábios vermelhos (...) Olhei para dentro de mim para ver se via minha 67 pele por dentro.” (p.126). Nesta ocasião, ressaltamos que a atitude da protagonista se deve ao fato de viver a diferença. Percebemos, da mesma forma, que a despeito de colocar a amiga como símbolo da diversidade em relação a si, o sentimento de sentir-se diverso de um padrão – no caso ser afrodescendente em uma sociedade em que a preferência, o prestígio são oferecidos abertamente ao branco – é o que, provavelmente, motiva Preta a olhar para dentro de si, para verificar a cor interna da própria pele. Seria a esperança branqueadora de descobrir o próprio inverso sendo da cor da pele da amiga? Bem, julgamos que esta e outras perguntas poderiam ser levantadas para motivar a reflexão. Contudo, nossa intenção, propriamente dita, é destacar, com este exemplo, a importância do exercício de reflexão sobre a pluralidade brasileira, já que mesmo os autores mais envolvidos com o trabalho com a questão étnica, orientado para o público infantil, correm o risco de cometer deslizes. De forma mais a abrangente, é defender a humanidade de negros e brancos nas representações do livro didático, sendo que, portanto, condenamos qualquer tipo de estereotipação. 2.2.1.1 O negro referenciado Nas páginas 172 e 173 do livro 1 da coleção 3, encontramos uma foto da ginasta brasileira Daiane do Santos e outra de um homem negro em posição de exercício atlético (preparação para uma corrida). As fotos de ambos os afrodescendentes abrem uma unidade do livro didático que pretende tratar sobre o corpo humano, de modo que a foto da esportista, tirada durante uma apresentação, pretende iniciar o assunto destacando como o corpo tem importância nas diversas atividades que executamos no dia a dia, apesar de muitas vezes não nos darmos conta disso. No caso do homem, sua foto é utilizada para estudo das partes mais corriqueiras do corpo humano, como a nuca, o queixo, o quadril, o tornozelo... Conforme solicitado pelo exercício “Escreva, na imagem abaixo, o nome das partes indicadas”, os alunos devem escrever dentro de espaços determinados e ligados a um trecho do corpo humano o nome que a porção corporal receber. Consideramos uma proposta como esta muito importante, e inovadora quando se trata 68 de imagens de livros didáticos, ou mesmo socialmente falando, pela escassez de situações em que os indivíduos negros e pardos são tidos como parâmetro para toda a espécie humana. Mesmo quando examinamos o esboço de Leonardo Da Vinci, do homem dentro de um pentagrama, que expressava sua crença de que o humano era o limite de tudo, sabemos que a referência era ao homem europeu, e, portanto branco, que tudo poderia buscar e alcançar. Assim, nos dias atuais e em uma sociedade ainda marcada pela discriminação racial, uma foto como a veiculada pelo livro didático em questão abre precedentes para que se considerem os homens pelo que possuem de igual, de humano, característica de todos, independentemente da etnia. Da página 225 a 227 do livro 2, coleção 2, observamos a edição de um suplemento infantil do jornal Folha de São Paulo, que tem como propósito apresentar aos alunos o artesanato brasileiro especialmente destinado a crianças. Deste modo, encontramos, ao alcance do conhecimento dos estudantes, bonecos de vários tipos: uma boneca de palha, a boneca Abayomi, o Mamulengo, a Pituxa e uma boneca de milho. Destes, destacamos todos, com exceção do boneco. A boneca de palha retrata uma moça branca com uma cesta aos braços e com um longo e grande vestido, como aqueles usados em anos passados pelo público feminino, parece uma camponesa (p.24). A boneca Abayomi trata-se de uma boneca negra, com lenço à cabeça e também usando vestido; seu nome, assim como o da cooperativa que a produz a partir de lixo reaproveitável da indústria têxtil, é um termo da língua iorubá que significa “o meu presente” (p.25). A boneca de milho, por sua vez, “é típica de lugares rurais onde houve presença de escravos durante a colonização do Brasil, dos séculos XVI ao XIX”, tendo sido produzida pelos negros, que, por não contarem com acesso a outros tipos de materiais, “usavam vegetais, como espiga de milho e caroço de manga, para transformar em brinquedo” (p.227). Por fim, Pituxa é uma boneca branca, produzida artesanalmente por uma senhora conhecida em Poços de Caldas (MG), sendo que foi criada a pedido do escritor Ziraldo, tendo por base uma história do autor (p.226). Por meio destes brinquedos, percebemos a representação de indivíduos tanto brancos como negros no material didático. E, tão importante quanto isto é, também, a exposição da cultura destes dois grupos étnicos a partir das feições das bonecas e da história que trazem em si. A boneca de milho, por exemplo, é uma manifestação da necessária engenhosidade 69 dos escravos negros africanos como meio de trazer o onírico e o fantasioso para uma longa vida de labuta, maltrato e depreciação. Pituxa, por sua vez, é contemporânea das crianças de hoje, sendo parte do que forma a cultura lúdica infantil atual e representante do universo branco. Acreditamos que, com esta mostra, temos uma evidência da integração harmônica de caracteres representativos da cultura afrodescendente e afro-brasileira no livro didático, em detrimento da presença consolidada de personagens brancos apenas, ou da inclusão dos descendentes de africanos com a simultânea exclusão dos primeiros. Julgamos que estes são extremos que não devem ser almejados, porque equivalem à troca de um exclusivismo étnico por outro, o que em nada contribui para a busca da integração das etnias através do respeito e aceitação recíprocos. No livro 3 da coleção 2, encontramos, nas páginas 183 a 184, um texto, sem título, em que um personagem adulto, o Mestre André, fala sobre o folclore brasileiro, “um mundo imaginário e encantado”, para um grupo de crianças. Em sua explanação, o mestre define o folclore como “o conjunto de coisas que o povo sabe, sem saber quem ensinou”. Embora tal definição seja controversa, gostaríamos de destacar dois dos os elementos folclóricos, referidos pelo professor, que tem relação com a cultura afro-brasileira e africana. O primeiro item é a capoeira, jogo atlético dançado, que foi inventado pelos escravos de origem banto aqui no país, na época do Brasil colônia. Embora o esporte tenha sido muito perseguido, hoje ele “se amplia e se institucionaliza como prática desportiva regulamentada” (AURÉLIO, 1988, p.126). O segundo elemento é a Iemanjá, “orixá feminino, a mãe-d’água dos iorubanos” (AURÉLIO, 1988, p.349) e nacionalmente cultuada por aqueles que a conhecem e respeitam, entre outras coisas, como a rainha do mar. Vale destacar que estes são elementos representativos da cultura afro-brasileira, não obstante a origem africana de Iemanjá, que são cultuados hoje em dia por muitas pessoas de etnia que não a negra, como brancos e orientais. Na p.216 e 217 do livro 2 (coleção 3), observamos uma atividade de produção de texto calcada no gênero textual carta. Duas missivas são consideradas para o desenvolvimento de exercícios, nos quais o estudante deve colocar em prática seus conhecimentos sobre os elementos da estrutura epistolar, bem como sobre o conteúdo dos textos apresentados. Cumpre destacar os lugares em que estão os remetentes das cartas, Egito e Índia, nessa 70 ordem. Na primeira carta são citados a beleza da cidade de Alexandria, a religião comum à população local, o islamismo (e o hábito muçulmano de rezar cinco vezes por dia) e o desenho transmitido pela televisão do país, Sidi Bad. Da Índia também são referidos o nome do importante e sagrado rio Ganges, o hábito das pessoas de se banharem nele, bem como o caráter santificado das vacas, que devem ser muito respeitadas. Isto posto, percebemos claramente não se tratam de espaços simbólicos da civilização branca, apesar da história de colonização inglesa dos indianos, por exemplo. Mas são sim, regiões marcadas por uma população de tom de pele escuro; no caso do Egito, uma região africana; e, em ambas situações, locais que não são normalmente destacados para destino de férias como o que acontece com os ditos países de primeiro mundo, os mais exaltados pelos meios de comunicações. O destaque para a África e, em menor grau, para os povos orientais continua na p. 2245 do livro. Nesta, encontramos um texto chamado Lembrar da África4, de Heloisa Pires Lima, fragmento do livro Histórias de Preta. Neste texto, a autora descreve os povos orientais como leves, os polares como os menos poluidores e a África como um espaço eletrizante, “onde parecem somar um calor como o do Sol com uma força que vem de dentro da terra” (p.224). Destacam-se as centenas de etnias existentes no continente, “isto é, muitos jeitos diferentes de ser num mundo aparentemente igual”, e como autores de livros diminuíram os povos da África e do oriente, rotulando-os de tribos e defendendo a inferioridade destes em relação ao próprio grupo. A narradora da história termina dizendo que houve uma mudança de concepção por parte destes escritores, e que hoje, “em vez de se dizer que uma sociedade era mais evoluída do que outra, entendeu-se que uma podia ser mais desenvolvida em certos pontos e em outros, não.” (p.225). Além do próprio texto, é pertinente a instrução de trabalho oferecida ao professor, para que este desenvolva, com seus alunos, um trabalho que contemple a questão da pluralidade cultural e, também, os temas transversais Cidadania e Meio Ambiente. Quanto à primeira questão, cumpre destacar o que é dito no volume Guia e Recursos didáticos, um manual extra do professor, que acompanha cada um dos livros didáticos desta coleção: 4 Este texto pode ser incluído na seção “O negro ficcional”. Ele se apresenta, não obstante, na seção “O negro referenciado”, porque achamos pertinente dar uma seqüência à consideração da carta que tratou sobre o Egito com sua exposição. Vale acrescentar que as divisões em seções não são rígidas, podendo vários outros exemplos se enquadrarem por venturas em outras seções. 71 “É muito importante que os alunos possam refletir sobre as diferenças culturais de cada povo e as variadas culturas que apresentam também comportamentos diferenciados. O texto trabalhado é um bom motivo para o encaminhamento dessa conversa. Direcionar a reflexão dos alunos para o respeito às diferenças, lembrando-lhes que a intolerância e o preconceito entre povos e culturas têm provocado apenas guerras e destruição.”. (p.46-7) Acreditamos que estas referências são positivas, tendo em vista, como há foi dito, a grande maioria dos professores saírem de seus cursos de formação sem terem tido, freqüentemente, em estudo exclusivamente voltado para a abordagem da pluralidade nacional em sala de aula. Pelo fato de um conhecimento mais enriquecido sobre esta temática envolver, ainda, noções históricas, antropológicas, éticas, etc. percebe-se que esse tipo de orientação serve como um primeiro passo para o professor motivado, que, instigado, vai partir para uma pesquisa mais ampla, na falta de conhecimentos mais concretos e amadurecidos sobre a questão, proporcionando, assim, uma aula com certeza melhor e mais abalizada para seus alunos, com uma exposição que considere o continente africano, onde muitos os estudantes tem a origem, do mesmo modo como fez o livro didático adequadamente. Na página 279 do livro 4, coleção 2, encontramos a letra de uma música chamada Casa brasileira, escrita por Geraldo Azevedo, cantor e compositor pernambucano. Neste texto, o eu-lírico descreve o que acredita formar uma casa tipicamente nacional, ambiente que se revela fortemente influenciado por caracteres portugueses e africanos. No que concerne à referência aos elementos de origem africana, cita-se metonimicamente o pixaim, no lugar do quesito negro/pardo – “A casa era uma casa brasileira, sim / um pouco portuguesa, um pouco pixaim” e o hábito místico de se colocar “atrás da porta, arruda e uma figa de marfim”. Consideramos que a referenciação da contribuição inequívoca dos africanos para a formação de nossa tradição, através do termo pixaim, deve ser examinada. Não se justifica a escolha do termo, mesmo com propósitos rimáticos, no caso de se pretender exaltar os subsídios de origem africana, visto a valoração negativa que o cabelo crespo apresenta ainda hoje em nosso meio social, pautado por valores estéticos europeus. No livro 2 e 4 da coleção 1, personagens afrodescendentes são referenciados por meio de capas de livros publicados, que os trazem como personagem. No livro 2, p.182, observamos uma capa do livro de Monteiro Lobato chamado Histórias de Tia Nastácia. 72 Esta produção está ao lado da capa do volume intitulado Serões de dona Benta, sendo que ambos foram selecionados pelo livro didático com o propósito de apresentar aos alunos “os habitantes do Sítio do Picapau Amarelo como Monteiro Lobato os imaginou. Estas são as capas de quando ele publicou os livros pela primeira vez”. Notamos que o livro que anuncia trazer as histórias de Tia Nastácia sequer traz a personagem com destaque na própria capa. Ela está ao canto, de perfil e é retratada tão preta, que pouco se distingue os traços de seu rosto. Ao centro da capa está Narizinho e, a seu lado, Pedrinho, que encaram a cozinheira do Sítio. O livro, além de trazer a tonalidade preta muito forte na personagem, também a traz sob o título, que é escrito em amarelo. Assim, se consideramos todas as outras cores marcantes existentes na capa, como o vermelho e o azul, notamos que o livro fica com um aspecto pesado, diferentemente do que ocorre na capa do volume apresentado ao lado. Neste, Dona Benta aparece ilustrada bordando e assistida pelos netos, o título também é amarelo, mas um fundo levemente azul traz a sensação de harmonia para o ambiente em que estão as personagens. No livro 4, a capa que encontramos é do livro de Ziraldo, O menino marrom. Neste caso, notamos que embora o personagem afrodescendente seja o personagem principal da história, o trecho selecionado para consideração no livro didático sequer o menciona, fazendo referência, antes, às filhas de Ziraldo, que momentaneamente aparecem na história, em uma discussão sobre o conceito de mar e de lagoa. Visto que a água é o tema da unidade, consideramos adequado o exemplo elencado pelo livro didático. Porém, devemos destacar como a temática étnico-cultural é negligenciada pela produção, que sequer faz menção à personagem Menino Marrom, mesmo em nenhuma outra parte do livro. Um exemplo final da referenciação que ocorre do afrodescendente no livro didático está no volume 4 da coleção 3. Das páginas 12 a 14, há um texto que considera a trajetória de vida do grande pintor brasileiro Candido Portinari. Cita-se como o aprendizado adquirido primeiramente no Rio de Janeiro e, depois, em países da Europa, como a Inglaterra, a Espanha, a Itália e a França possibilitaram-lhe fazer uma representação de sua terra Brodósqui, do Brasil, estendendo-se ainda ao universal. Afirma-se na breve biografia: “Estão nos trabalhos de Portinari os mestiços, negros, índios e outros tipos brasileiros...”. Identificamos aqui a consideração da subjetividade do afrodescendente. Para o artista paulista, o negro, assim como os outros povos que formavam o Brasil, eram sujeitos da 73 história do país. 2.2.2 O negro folclórico O saci-pererê e o Negrinho do Pastoreio são personagens negras do folclore brasileiro consideradas reiteradamente pelos livros didáticos. Referências a um e a outro foram encontradas nas três coleções analisadas, tanto em imagens, como em textos verbais. Passemos à exposição dos exemplos pertinentes a este trabalho. Representações do Negrinho do Pastoreio, personagem muito conhecida, sobretudo no Estado do Rio Grande do Sul, ocorrem em duas das coleções analisadas. Na coleção 1, livro 2, existem dois textos, o primeiro da página 152 a 153 do livro, e o segundo, na página 160. O primeiro texto é em prosa, foi produzido por Heloisa Prieto e, conforme indicação do livro didático, foi publicado no livro Lá vem história, da editora Companhia das Letrinhas. Nesta versão, o Negrinho do Pastoreiro é descrito como um “meigo menino negro”, escravo que cresceu sozinho, trabalhando nos pastos de seu senhor, e cujo nome verdadeiro todos desconheciam, uma vez que “seus pais haviam sido vendidos para uma fazenda” diferente, não havendo quem mais pudesse esclarecer a informação. O Negrinho do Pastoreio é descrito, ainda, como um bom montador de cavalos, habilidade que atribuía à graça de Nossa Senhora, “que considerava sua protetora”. O texto relata a história da vida do garoto, mostrando como a impiedade de seu senhor cruel conduziu-o à morte depois de o garanhão de que cuidava ter fugido pela segunda vez. Há também menção a sua “vida posterior”, fase a partir da qual, depois de ter morrido, afirma-se que o Negrinho do Pastoreio tornou-se o guardião das crianças distraídas, a quem ajuda a encontrar tudo o que tenham perdido. O segundo texto sobre a personagem é uma poesia de Elias José. Em seus versos, o autor descreve o garoto como o portador de “alma quente”, que agasalha os desamparados, aquele de “alma brincalhona”, capaz de encantar os “meninos do orfanato”, e, ainda, “de alma firme”, guardião em tempo integral das crianças desprotegidas. Notamos que nas duas produções o retrato apresentado da personagem negra é positivo, além de as perguntas que orientam a atividade de leitura dos textos considerarem o Negrinho do Pastoreio em maior ou menor grau. Porém, quando examinamos a lenda 74 contada em prosa pela coleção 3, que traz uma outra versão do mito, percebemos que esta não escapa dos clichês, descrevendo o menino como “preto feito carvão”, embora o coloque como a criatura inocente da história. Nos livros 2 e 3 da coleção 1, encontramos a simples menção do saci, como personagem lendária do folclore, nas páginas 147 (livro 1) e 163 e 184 (livro 3). Ainda no livro 3, existe, na página, uma espécie de auto-apresentação da personagem (acompanhada de boa ilustração), extraída do site www.lobato.com.br. Esta auto-apresentação é a terceira de uma seqüência em que Pedrinho e Tio Barnabé se apresentam. A seguir (p.165, 166, 168 e 169), há um fragmento da história lobatiana Tio Barnabé e o saci, em que os três personagens aparecem – Pedrinho quer saber de Barnabé sobre a existência do saci; o senhor “negro de mais de 80 anos”, garante que a criatura existe sim, e lhe conta sobre duas visitas que ela lhe fez no mês anterior, ocasiões em que muito reinou, como lhe é característico, até ser espantado. Na coleção 2, livro 2, observamos a história de Joel Rufino dos Santos, O saci e o curupira, da página 169 a 172. Nesta, tanto um personagem como o outro são retratados como negociadores-beifeitores, que desaparecem da vida do casal humano com quem negociavam por terem sido ludibriados. No livro 2, coleção 2, encontramos uma descrição do saci-pererê, que expõe traços físicos e psicológicos, e uma ilustração em que a criatura mitológica carrega uma feição um tanto pesada, com sobrancelhas muito arqueadas e olhos vesgos. No livro 3 (mesma coleção), p.175, há outra descrição do “moleque negrinho, de olhos vermelhos, com uma perna só”, extraída do livro Mitos: o folclore do Mestre André, de Marcelo Xavier. Esta descrição é acompanhada por uma “opinião da escritora Ângela Lago” sobre o personagem lendário, retirada do Caderno Viver BH. Por fim, na coleção 3, observamos um texto chamado O dia do Saci? (p.206), que fala da organização “Sosaci – Sociedade dos Observadores de Saci, que reúne pessoas interessadas em valorizar a tradição, a cultura, os mitos e as lendas brasileiras.”. Para os integrantes deste grupo, o Dia das Bruxas deve ser trocado pelo Dia do Saci e seus Amigos, visto que o Halloween “faz parte da cultura de outro país” e a “cultura brasileira tem de ser mais valorizada.” Estes exemplos são suficientes para demonstrar que esta personagem negra não foi 75 esquecida pelos livros didáticos como um dos símbolos do folclore brasileiro. Não obstante, embora os textos verbais ofereçam mais ou menos informações sobre o Saci, sempre com menção de sua esperteza e até maldades, percebemos que é freqüente o número de ilustrações da personagem que são esteticamente feias, tanto por serem descuidadas, como pela expressão diabólica que muitas vezes manifestam. Esta situação torna-se complexa quando percebemos que a personagem afrodescendente é capaz de boas ações ou, no mínimo, de atitudes coerentes e honestas, como demonstra a história de Joel Rufino dos Santos. Deste modo, chegamos a dois pontos: 1) acreditamos que as ilustrações demonizadas realizadas do mito faltam com a verdade lendária, desvelando um preconceito de raça social, que muitas vezes não vê limites na imputação de caracteres negativos aos negros e pardos; 2) O excesso de aparições do saci nos faz julgar que a cultura nacional, a afrobrasileira e a africana podem e devem ser incluídas, na produção didática, por meio de muitas outras personagens lendárias negras integrantes dessas tradições (além do próprio Negrinho do Pastoreio de quem já falamos). É o caso de se proceder à inclusão dos milhares de histórias orais africanas e das narrativas sobre os escravos, heróis africanos e descendentes, como o Zumbi dos Palmares e outros líderes da resistência negra no Brasil passado. 76 CONCLUSÃO Esta pesquisa teve como tema a identificação da representação social do afrodescendente nos livros didáticos de língua materna de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, observando-se a influência e o condicionamento de comportamentos e de conhecimentos lingüístico-discursivos sobre os alunos. Vale citar a premência de um tema como este, uma vez que muitos livros didáticos manifestam-se imaturos ainda para desenvolver um tratamento consciente da diversidade étnica peculiar em nosso país, bem como da pluralidade cultural inerente à formação do povo brasileiro. A pesquisa teve como objetivos específicos identificar como se dá a representação social do afrodescendente, no livro didático, em termos do modo como a imagem deste grupo étnico é exposta, considerando-se, para tanto, o nome, a função, o cargo e a posição social que são conferidos aos brasileiros descendentes de africanos. Considerou-se, ainda, a maneira como os costumes, a roupa, a música, a comida, o léxico e a religião, por exemplo, dos afrodescendentes são retratados neste material. Quanto a estes objetivos, verificou-se que a representação social do afrodescendente se dá sob dois aspectos: o da consideração da presença e do papel dos descendentes de africanos no Brasil, bem como através dos discursos formulados pelo meio social e que são transportados para o livro didático. A primeira condição origina-se, mais frequentemente, da consideração de textos informativos que fazem referência ao processo de formação do povo brasileiro. Textos como estes são motes constantes para alusão à tradição africana, que se disseminou no Brasil como conseqüência da escravização dos homens trazidos à força de várias partes do chamado continente negro, a África. Deste modo, a identificação dos afrodescendentes como um dos grupos responsáveis pela consolidação das marcas (sócio-histórico-culturais) que nos distinguem como o povo torna-se cada vez mais incomum neste tipo de produção. Ademais, quando se considera a realidade dos afro-brasileiros, estes são retratados em situações positivas ou prestigiadas, isto é, como estudantes, criadores (vide exemplo sobre a produção da língua cupóia), pertencentes à nobreza (como príncipe/princesa), servindo como parâmetro para a humanidade (vide estudo do corpo humano através de um modelo negro) etc., com o devido respeito à singularidade da etnia e à cidadania do indivíduo. Porém, cumpre dizer que este é um tipo de representação que apenas começa a 77 insinuar-se nas páginas das produções didáticas, sobretudo quando consideramos os textos verbais destes livros. Fato é que situações em que o afrodescendente é secundarizado, outremizado ou estereotipado têm aparição muito freqüente, ainda, nos volumes didáticos. Evidências registradas neste trabalho são, por exemplo, a foto da senhora negra que sobe uma ladeira em Ouro Preto e que mesmo estando em primeiro plano na imagem é a última a ser considerada pela autora do livro, e, também, a história infantil de Sylvia Orthof, em que a narradora culpa sua cozinheira negra por causa cabelo crespo que teria adquirido com os sustos levados ao ouvir as histórias de terror contadas pela empregada. Quando à representação do afrodescendente produto da reapropriação, pelo livro didático, de um discurso étnico formado pelo meio social – aludimos, sobretudo, às produções literárias para o público infanto-juvenil e aos personagens negros do folclore nacional – notamos que este é o tipo de retratação mais abundante, infelizmente, nas coleções didáticas analisadas, não sendo por acaso a extensão maior da seção deste trabalho que contempla este aspecto. Destacamos o caráter infeliz da situação, pois verificamos, assim, que a produção ficcional com personagens negras e o negro construído pela ideologia social protagonizam as ocorrências nos livros didáticos, em detrimento dos afrodescendentes que enfaticamente vivem e atuam neste país. Se somarmos a isto a naturalização que se verifica nas coleções didáticas quando se trata de retratar indivíduos da etnia branca, tratamento que não é o mesmo quando falamos de negros e pardos, somos forçados a concordar com Cerqueira (2005, p.108), para quem o sistema educacional brasileiro - estrutura educacional que “a partir de uma ótica eurocêntrica, tende(m) a desprezar a identidade, a memória, a cultura e as referências da ancestralidade africana, produzindo e reproduzindo valores que postulam a superioridade cultural do branco/europeu, através de uma pedagogia narcisista, una, universalista, que não aceita ou respeita a diferença, transformando-a em desigualdade e em exclusão” reproduz desigualdades raciais. Com relação ao objetivo geral da pesquisa, que se trata de refletir sobre como a representação dos afrodescendentes se apresenta no livro didático de língua portuguesa, para que se contribua para um melhor tratamento das diversidades étnico-culturais, acreditamos que, a partir da sistematização dos textos verbais, ele pode ser alcançado. Isto 78 pode ser dito, uma vez que uma pesquisa como esta serve como um norte, para os elaboradores de material didático, indicador do muito que ainda precisa ser feito para que os afrodescendentes deixem de ser injustos, quando não impunemente discriminados. Indicador também de que não basta representar, mas deve-se estar convicto da proposta de disseminar a conscientização sobre a importância de se assumir o sangue negro que se move pelas veias de nosso país, para que não se caia na falsidade hipócrita de camuflar a presença afrodescendente, expondo-o sem intenção de mostrá-lo. Quanto ao diferencial para o ensino de língua materna e para o exercício do professor, por sua vez, julgamos que esta pesquisa pode, igualmente, ser um instrumento de orientação nas aulas de leitura que se devem desenvolver cotidianamente. Por que não trabalhar com seus alunos, em consonância com as devidas faixas etárias, o conceito de negro e de negritude difundidos pelo texto em estudo? Por que não motivar a reflexão sobre a caracterização das pessoas e dos personagens negros e pardos e acerca de suas semelhanças e dessemelhanças com os indivíduos da etnia em questão do mundo real, bem como com os de outras etnias, ficcionais ou não, em um processo de identificação da ideologia embutida naquela representação? Importante, ainda é o trazer da realidade dos alunos para dentro de sala de aula, uma vez que suas experiências, relacionamentos e conhecimentos, produtos de diferentes hábitos, culturas, gêneros e classes sociais devem ser protagonistas nas aulas desenvolvidas, para que o espaço escolar não mais seja “organizado para um sujeito que deixa de ser criança ou jovem para ser aluno”, tendo como papel aprender (PASSO, 2005, p.60) e como imposição a homogeneização, opressora da diversidade. Cumpre ressaltar que o contato com o livro didático muitas vezes é comum. Queremos fomentar agora a discussão de elementos dele que nos dizem respeito. Eis o caso da identidade étnica de todos nós, uma vez que o outro, seja ele branco ou afro-brasileiro, nos serve e sempre servirá como possibilidade e limite. 79 BIBLIOGRAFIA: ARAÚJO, J. Z.. A força de um desejo – a persistência da branquitude como padrão estético audiovisual. In: Revista USP / Coordenadoria de Comunicação Social, Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, CCS: mar./abr./mai., 2006, p.72 a 79. BAIBICH, Tânia Maria. Os “Flinstones” e o preconceito na escola, 2002. online. Disponível em: http://scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=cache:a3AWlx5eIlYJ:calvados.c3sl.ufpr.b r/educar/include/getdoc.php%3Fid%3D110%26article%3D65%26mode%3Dpdf+racismo* escola> Acesso em: 26 set. 2005. BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 117 a 160. CARNEIRO, M. L. T. O racismo na história do Brasil: mito e realidade. 7. ed. São Paulo: Ática, 1998. CARVALHO, Marília Pinto de. Quem são os meninos que fracassam na escola?, 2004. online. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010015742004000100002> Acesso em: 26 set. 2005. CERQUEIRA, V.S. A construção da auto-estima da criança negra no cotidiano escolar. In: OLIVEIRA, I. de; GONÇALVES, P. B.; PINTO, R. P. (org.). Negro e educação: escola, identidades, cultura e políticas públicas. São Paulo: Ação Educativa, ANPEd, 2005, p.107 a 115. DIAS, Lucimar Rosa. Quantos passos já foram dados?A questão de raça nas leis educacionais. Da LDB de 1961 a Lei 10.639, 2004. online. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/038/38cdias.htm> Acesso em: 28 set. 2005. EDITORA MODERNA (org.) Projeto Pitanguá: Português - Ensino Fundamental. vol.1. São Paulo: Moderna, 2006. ________ Projeto Pitanguá: Português - Ensino Fundamental. vol.2. São Paulo: Moderna, 2006. ________ Projeto Pitanguá: Português - Ensino Fundamental. vol.3. São Paulo: Moderna, 2006. ________ Projeto Pitanguá: Português - Ensino Fundamental. vol.4. São Paulo: Moderna, 2006. 80 ________ Guia de Recursos didáticos: Projeto Pitanguá: Português 2 - Ensino Fundamental. vol.2. São Paulo: Moderna, 2006. FERREIRA, A. B. H. Dicionário Aurélio básico de língua portuguesa. São Paulo: Nova Fronteira, p.126 e 349. FERREIRA, R. A. Negro midiático: construção e desconstrução do afro-brasileiro na mídia impressa. In: Revista USP / Coordenadoria de Comunicação Social, Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, CCS: mar./abr./mai., 2006, p.80 a 91. FONSECA, D. J.; FONSECA, N. A. S.. A presença-ausência afro-brasileira – escola e livro didático. In: SILVA, A. A. (org.). Uma dívida, muitas dívidas: os afro-brasileiros querem receber. São Paulo, Atabaque – Cultura Negra e Teologia, 1998, p.131 a 152. FREIRE, José R. Bessa. A imagem do índio e o mito da escola. In: MARFAN, Marilda A. (Org.). Congresso Brasileiro de Qualidade na Educação - Formação de professores: educação escolar indígena. Brasília: MEC, 2002c, p. 93-99. online. Disponível em: <http://paginas.terra.com.br/educacao/Ludimila/promito.htm> Acesso em 21 jul. 2005. GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Livros didáticos e fontes de informações sobre as sociedades indígenas no Brasil, 2005. online. Disponível em: <http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/humanas/educacao/tematica/cap19.html> Acesso em: 19 jul.2005. MENEGASSI, Renilson José. A representação do negro no livro didático brasileiro de língua materna, 2004. online. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/036/36emenegassi.htm> Acesso em: 16 jul. 2005. MENEGASSI, Renilson José; SOUZA, Neucimara Ferreira de. A visão do negro no livro didático de português, 2005. online. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/047/47cmenegassisouza.htm> Acesso em: 3 ago. 2005. MENEZES, Waléria. O preconceito racial e suas repercussões na instituição escola, 2002. online. Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/tpd/147.html> Acesso em: 22 out. 2005. MIRANDA, C.; LOPES, A. C.; RODRIGUES, V. L. Língua portuguesa. vol.1. São Paulo: Ática, 2004. __________ Língua portuguesa. vol.2. São Paulo: Ática, 2004. __________ Língua portuguesa. vol.3. São Paulo: Ática, 2004. __________Língua portuguesa. vol.4. São Paulo: Ática, 2004. 81 OLIVEIRA, Alaor Gregório de. O silenciamento do livro didático sobre a questão étnicocultural na primeira etapa do Ensino Fundamental, 2004. online. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/040/40coliveira.htm> Acesso em: 1 ago. 2005. PASSOS, J. C. dos. Escolarização de jovens negros e negras. In: OLIVEIRA, I. de; GONÇALVES, P. B.; PINTO, R. P. (org.). Negro e educação: escola, identidades, cultura e políticas públicas. São Paulo: Ação Educativa, ANPEd, 2005, p.107 a 115. PIRES, Suyan. Representações de gênero em ilustrações de livros didáticos, 2004. online. Disponível em: <http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=608> Acesso em: 16 ago. 2005. PRAXEDES, Rosângela Rosa, PRAXEDES, Walter. Representações sobre o negro e um novo senso comum, 2004. online. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/032/32rwpraxedes.htm> Acesso em: 12 ago. 2005. ROSEMBERG, Fúlvia; BAZILLI, Chirley & SILVA, Paulo Vinícius Baptista. Racismo em livros didáticos brasileiros e seu combate: uma revisão da literatura, 2003. online. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022003000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=pt> Acesso em: 26 set. 2005. SANT’ ANA, A. O. de. História e conceitos básicos sobre o racismo e seus derivados. In: MUNANGA, Kabengele (org). Superando o racismo na escola. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, p.39 a 67. SILVA, Ana Célia da. A representação social do negro no livro didático: o que mudou?, 2005. online. Disponível em: <http://www.educacaoonline.pro.br/art_a_representacao_do_negro.asp> Acesso em: 06 jul. 2005. SILVA, Ana Célia da. A desconstrução da Discriminação no Livro Didático. In: MUNANGA, Kabengele (org). Superando o racismo na escola. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. SILVA Jr., Hédio. Discriminação Racial nas Escolas: entre a lei e as práticas sociais, 2002. online. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129721POR.pdf> Acesso em: 20 out. 2005. SOARES, M. Português: uma proposta para o letramento. vol.1. São Paulo: Moderna, 2002. __________ Português: uma proposta para o letramento. vol.2. São Paulo: Moderna, 2002. __________ Português: uma proposta para o letramento. vol.3. São Paulo: Moderna, 2002. __________ Português: uma proposta para o letramento. vol.4. São Paulo: Moderna, 2002. 82 SOUZA, Maria Elena Viana. Preconceito racial e discriminação no cotidiano escolar, 2001. online. Disponível em <http://64.233.187.104/search?q=cache:F50sNj_jrRQJ:www.anped.org.br/26/trabalhos/mar iaelenavianasouza.rtf+%22Lopes%22+%22Racismo+preconceito+e%22&hl=pt-BR> Acesso em 21 out. 2005. TONINI, Ivaine Maria. Identidades étnicas: a produção de seus significados no livro didático de geografia, 2005. online. Disponível em: <http://www.anped.org.br/24/T1349798707998.doc> Acesso em: 22 jul. 2005. 83
Download