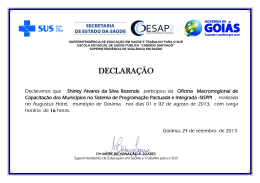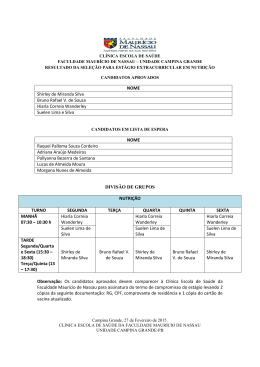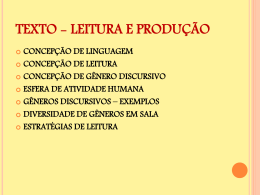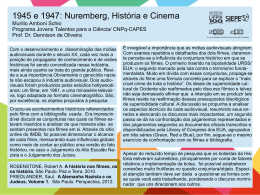CINEMA · 1, 2, 14, 15, 28, 29, 30 DE ABRIL, 5 E 6 DE MAIO DE 2005 18h30 e 21h30 · Pequeno Auditório e Grande Auditório · 2 Euros (Preço único) Figuras da Dança no Cinema 2º Módulo – 14 de Abril • 18h30 Dance in the Sun de Shirley Clarke In Paris Parks de Shirley Clarke Bridges-go-Round de Shirley Clarke Rome is Burning: A Portrait of Shirley Clarke de Noël Burch e André S. Labarthe O texto a seguir reproduzido é uma biografia resumida da cineasta, escrita por Bérénice Reynaud, igualmente especialista na obra cinematográfica de Yvonne Rainer. O percurso de Shirley Clarke é de algum modo paradigmático das dificuldades sentidas por inúmeros cineastas que trabalham à margem da produção comercial de cinema, não só no que diz respeito aos constrangimentos à produção dos seus filmes mas sobretudo pelos seus modos de visibilidade. Regressar a Maya Deren oferece igualmente a possibilidade de apresentar três dos primeiros filmes de Shirley Clarke, influenciados pela sua concepção de filme-dança, os quais, apesar de não resumirem a sua produtividade deste período, correspondem a um momento iniciático de um percurso cinematográfico informado pela ideia de coreografia mesmo, nos filmes em que isso não parece ser evidente. Assim, os filmes que vamos ver correspondem primeiro a uma necessidade de tradução para o cinema das formas coreográficas, no caso de Dance in the Sun, um bailado de Daniel Nagrin que retoma o ponto de partida dos filmes-tese de Maya Deren e a sua ideia de espacialização do movimento. Os restantes, nomeadamente In Paris Parks, acusa a contribuição de um pensamento coreográfico segundo o princípio de Deren de utilizar “movimentos informais, de tipo espontâneo, para criar um todo formalizado”. O retrato de Shirley Clarke, filmado por Noël Burch e intercalado com imagens de alguns dos seus filmes, é um exercício de mimetismo com o próprio estilo habitualmente atribuído à cineasta, em que a mobilidade do gesto e a improvisação do olhar articulam a sua experiência (convoluta) nas fileiras do cinéma vérité com uma relação muito particular com o sujeito filmado e o primado da sua presença (vejam-se as figuras de Duke em The Cool World ou de Jason no retrato que dele faz Shirley Clarke). 1967: um quarto no lendário hotel Chelsea, meca-refúgio de marginais, drogados, músicos, artistas, drag-queens, génios, snobs e esquecidos da história, cuja mundanidade fora capturada um ano em The Chelsea Girls de Andy Warhol. Roda-se outro filme mas aqui o sujeito está sozinho frente à câmara com uma garrafa de whiskey e uma provisão de haxixe. É um negro de meia idade com óculos escuros e um sorriso atraente. A primeira coisa que diz é uma mentira: “Chamo-me Jason Holliday”. Ri como uma criança apanhada em flagrante com os dedos dentro do frasco da compota e confirma que se chama Aaron Paine. Atrás da câmara, um homem e uma mulher – um negro e uma branca – observam-no e, à medida que a noite se escoa, vão interrompendo o seu monólogo com questões ou comentários. O homem chama-se Carl Lee, é actor, amigo de Jason/Aaron e tornou-se conhecido numa peça off-off Broadway do The Living Theater intitulada The Connection (1959). A mulher chama-se Shirley Clarke: roda a sua terceira longametragem, Portrait of Jason. Shirley Clarke faleceu em Setembro passado em Boston. Apenas os avanços na doença de Parkinson a fariam largar o seu quarto no Hotel Chelsea, onde vivia desde 1965. Depois de ela se ter tornado uma figura central no meio do cinema independente de Nova Iorque, tínhamos perdido o seu rasto, sobretudo na Europa, e depois de termos bebido o licor cruel destilado em Portrait of Jason. As dezenas de vídeos realizados entre 1970 e 1984 (Harry Smith at the Chelsea, 1970; Angel of Light, 1972; Make up Magic…Wendy and Shirley, 1973; Four Journeys Into Mystic Time, 1978-79; Savage / Love, 1981…) ou a sua última longa-metragem, Ornette: Made in America (segundo prémio do Festival de Moscovo em 1985), nunca encontraram o “seu” público. Isto significa que nos resta agora (re)descobrir, atrás da heroína do underground americano, a verdadeira Shirley Clarke. Culturgest, uma casa do mundo. Informações 21 790 51 55 · Edifício Sede da CGD, Rua Arco do Cego, 1000-300 Lisboa [email protected] • www.culturgest.pt Shirley Clarke · 2 de Outubro 1919 – 23 de Setembro 1997 Figuras da Dança no Cinema – 2º Módulo Shirley Brimberg chega ao cinema por acaso. Não fosse a sua obstinação em ser bailarina, esta rapariga, filha de um industrial judeu de Nova Iorque, poderia não ter passado de outra poor little rich girl warholiana. Apesar da desaprovação violenta do seu pai, seguiu cursos de dança moderna (Martha Graham, Doris Humphrey, Hanya Holm) e casou em 1944 com o artista Bert Clarke, quinze anos mais velho, que seria o operador de câmara nos seus primeiros filmes - a sua filha Wendy (videasta com quem colaborará mais tarde) nasce em 1946. Em 1948, Shirley Clarke apercebe-se que nunca seria uma grande bailarina. Seguem-se cinco anos de crise da qual emerge realizando o seu primeiro filme, Dance in the Sun (1953), brilhante tradução cinematográfica de uma dança de Daniel Nagrin. O filme chama a atenção de Maya Deren (grande sacerdotisa da vanguarda nova-iorquina e do filme de dança). Sob a sua influência, Clarke realiza In Paris Parks em 1954, poema abstracto que reproduz o ritmo da cidade em tons de jazz. O seu terceiro filme, Bullfight (1955), intercalava as danças de Anna Sokolow com imagens de uma tourada; foi projectado nos Festivais de Edimburgo e de Veneza. Em 1957, é convidada pelo cineasta Willard Van Dyke a integrar a sua equipa (que inclui D. A. Pennebaker e Richard Leacock) para realizar uma série de pequenos filmes destinados ao Pavilhão Norte-Americano da Exposição Universal de Bruxelas de 1958. Shirley Clarke realiza três filmes e monta doze (entre os quais, Neon Signs, rejeitado pelo governo norte-americano pelo seu “radicalismo” estético). Com filmagens não utilizadas no projecto, realiza outro filme de montagem, Bridges-go-Round (1958), cujo sucesso consagra a sua importância no meio experimental nova-iorquino. A colaboração com Willard Van Dyke (marcada pela co-realização de Skyscraper, documentário sobre a construção do Edifício Tishman em Manhattan) abrira as portas de outro mundo, o do cinéma vérité da escola de Nova-Iorque – Leacock, Pennebaker, os irmãos Maysles, fundadores da Filmmakers Inc. em 1958. Outros cineastas gravitam nesse universo, entre os quais John Cassavetes, a quem Shirley Clarke empresta a câmara para a rodagem de Shadows. No entanto, a sua visão do cinéma vérité diferia da de Leacock, contra o qual afirmava a necessidade de um ponto de vista subjectivo, de uma “ficcionalização” do sujeito. Foi assim que surgiu a ideia de adaptar The Connection. A peça de Jack Gelber permitiu-lhe desenvolver um momento de “falso cinéma vérité” com um cineasta e uma câmara que filmam o momento, desdobrando de modo irónico o acto cinematográfico. Acompanhada de Allen Ginsberg e Gregory Corso e por figuras da vanguarda americana (o que contribuiu para a visibilidade do filme, já que todos queriam ver os Beatnicks), Clarke estreou The Connection em Cannes. Ela iria enfrentar a censura americana durante dois anos para o poder estrear em sala; sucesso triunfal. Foi no processo de montagem que conheceu Carl Lee, que se tornaria no seu companheiro durante dezassete anos e cuja colaboração lhe permitiu realizar os filmes seguintes. Rodado nas ruas de Harlem com uma câmara de 35mm aos ombros e uma Nagra portátil, The Cool World (1963) segue num estilo semi-improvisado um grupo de adolescentes negros e o seu líder, o jovem Duke, convencido da necessidade de parecer cool para obter o respeito dos seus pares. A cineasta inspirou-se no neorealismo de Rosselini, misturando documentário e ficção (à qual acrescentou o brio da sua montagem sincopada): “Se queremos movimentos ternos, calmos e íntimos, necessitamos de actores capazes Culturgest, uma casa do mundo. Informações 21 790 51 55 · Edifício Sede da CGD, Rua Arco do Cego, 1000-300 Lisboa [email protected] • www.culturgest.pt de se exprimirem frente à câmara, mesmo quando desempenham os seus próprios papéis como em The Cool World”. O filme provocou reacções pela sua abordagem do racismo e da condição dos negros nos Estados Unidos, pela intimidade com que Shirley Clarke, com a ajuda de Carl Lee, se aproximou do Harlem (alguns jornais franceses tomaram Clarke por uma “jovem mulher negra”), e pela forma de filmar os corpos e o aspecto contemporâneo da cultura negra. A experiência fez nascer algumas tensões financeiras entre a cineasta e o produtor, Frederick Wiseman (então advogado), resultando apesar disso num triunfo no Festival de Veneza. Em 1966, Shirley Clarke funda o The Film-maker Distribution Center (FDC) com Jonas Mekas e Louis Brigante, para distribuir os filmes do “novo cinema americano”. Mas o único sucesso da distribuidora foi The Chelsea Girls de Andy Warhol. Apesar da recepção crítica favorável, os filmes de Shirley Clarke não faziam dinheiro e foi com os seus próprios meios que financiou Portrait of Jason, um filme de tal modo “minimal” na sua concepção e realização que não custou mais do que 25.000 dólares. Durante doze horas consecutivas (o filme foi reduzido para 105 minutos na montagem), Shirley Clarke e uma equipa reduzida filmaram Jason a drogar-se e a “destruir-se”. Homossexual, mitómano, sedutor, antigo empregado de brancos endinheirados, gigolo por necessidade, Jason imita as suas vidas passadas, as palmadas do seu pai viril, imita Mae West, disserta sobre o passo ondulante das drag-queens de Harlem, chora, ri, oferece-se ao espectáculo, quer controlar o ecrã, ser controlado por ele – tudo sob o olhar off dos seus amigos, Carl e Shirley. Anos passados o filme conserva intacto o seu mistério e fascínio: sadismo dos cineastas? Narcisismo cúmplice de Jason? Exploração sincera de uma sub-cultura? Jason marca o “canto do cisne” de um certo período da vida de Shirley Clarke; em 1970 o FDC fecha as portas com problemas financeiros. Alguns meses mais tarde, Jonas Mekas funda os Anthology Film Archives, mas exclui Shirley Clarke do “novo cânone” do cinema experimental (Deren, Brakhage, Snow…). A cineasta, que tinha dispendido quase todo o seu dinheiro a fazer filmes, procura produtores com perseverança mas sem sucesso. “Toda a minha vida vacilei entre o desejo de ser uma grande bailarina e o de ser uma líder revolucionária, o que quer dizer que tentei ser ao mesmo tempo realista e abstracta”, dizia. “Por vezes faço um filme realista como The Cool World. Mas os movimentos de câmara não são menos coreográficos que em The Connection, Portrait of Jason ou mesmo nos meus filmes de dança. Para mim, é isso o cinema.” Bérénice Reynaud Agradecimentos a Wendy Clarke
Download