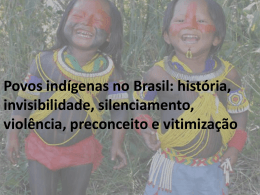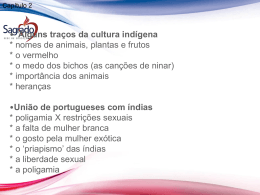1 ENTREVISTA: MUTUÁ MEHINÁKU FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI ESPECIAL Parque do Xingu TERRA Kiriri Ano III nº3 julho/agosto/setembro 2006 ISOLADOS “Índio do Buraco” 2 lojaartíndia >>ÀÌ`> "Êi ÀÊ`>Ê>ÀÌiÊiÊ>ÀÌiÃ>>ÌÊ`}i>]ÊVÊ}>À>Ì>Ê`iÊ>ÕÌiÌV`>`i° O melhor da arte e artesanato indígena, com garantia de autenticidade. Carta do Presidente A cada número, nossa revista Brasil Indígena avança nas grandes discussões sobre o futuro dos povos originários. No anterior, fizemos a matéria da grande Conferência Nacional dos Povos Indígenas. Neste, tratamos de outros assuntos extremamente sérios e importantes: a expedição que reconhece a existência de um indígena solitário nos confins de Rondônia, o chamado “Índio do Buraco”; a festa de homologação da Terra Indígena Inãwébohona, na Ilha do Bananal; a reconquista da Terra Indígena Kiriri, cujos habitantes fortalecem sua identidade com vigor; a renovada e criativa versão da Festa da Menina-Moça, dos índios Tenetehara, que eu já tive a oportunidade de ver diversas vezes em anos passados, e o ritual que o povo Enawenê-Nawê realiza, em busca de paz e fartura. A entrevista que apresentamos neste número é com um jovem indígena professor do povo Kuikuro, do Parque Indígena do Xingu. Ele mantém sua cultura com toda a desenvoltura e respeito e conhece os caminhos e descaminhos que estão surgindo no horizonte cultural e político dos povos xinguanos. Aliás, a preocupação das grandes lideranças deste símbolo do indigenismo brasileiro que é o Parque Belm-PA - RuaPresidente PresidenteVargas, Vargas,762 762- -Galeria GaleriaEd. Ed. da Assemblia (91)(91) 3223.6248 Belém-PA - Rua Assembléia Legislativa LegislativaParaense, Paraense,Lj.02, Lj.02,Centro Centro- Telefax: - Telefax: 3223.6248 Braslia-DF - CentrodedeExposição Exposioe eVendas VendasArtíndia Artndia--SEPS SEPS Q702/902 - Ed. - Telefax: (61)(61) 3226.4270 Brasília-DF - Centro Ed.Lex Lex- -Trreo Térreo - Telefax: 3226.4270 Cuiab-MT- -Rua RuaPedro Pedro Celestino, 301, 3623.1675 Cuiabá-MT 301, Centro Centro- -Telefax: Telefax:(65) (65) 3623.1675 Goinia-GO - Av.Leopoldo Leopoldode deBulhões, Bulhes,Q.1 Q.1 - Lote (62)(62) 3241.5762 Goiânia-GO - Av. Lote 1/5 1/5- -Setor SetorPedro PedroLudovico Ludovico- Telefone: - Telefone: 3241.5762 Manaus-AM- Rua - RuaGuilherme GuilhermeMoreira Moreira -- Praça Praa Tenreiro (92)(92) 3232.4890 Manaus-AM TenreiroAranha, Aranha,Centro Centro- Telefax - Telefax 3232.4890 Recife-PE- -Rua RuaJoão Joode deBarros, Barros,668 668-- Boa Boa Vista - Telefone: Recife-PE Telefone:(81) (81)3421.2144 3421.2144 RiodedeJaneiro-RJ Janeiro-RJ- -Museu Museudo doÍndio êndio--Rua Ruadas dasPalmeiras, Palmeiras, 55 - Botafogo -- Telefone: Rio Telefone:(21) (21)3286.8899 3286.8899 Paulo-SP - Rua Augusta, 1371- Galeria - GaleriaOuro OuroVelho, Velho, Lj. Lj. 116-117 (11)(11) 3283.2102 São So Paulo-SP - Rua Augusta, 1371 116-117- Telefone: - Telefone: 3283.2102 do Xingu, como Aritana, Afukaká, Takumã e tantos mais, resultou numa importante reunião, feita no Posto Indígena Leonardo Villas Bôas, desses líderes com toda a cúpula da Funai. A matéria sobre a parceria da Funai com a Secretaria Nacional Antidrogas – Senad aborda o consumo de álcool e de outras drogas por algumas comunidades indígenas. O uso e o abuso de bebidas alcoólicas é um problema histórico que merece a solidariedade de todos os brasileiros. A Funai sabe que só com métodos mais modernos, de respeito à pessoa indígena e às comunidades, serão encontradas soluções para diminuir esse problema de graves conseqüências para as famílias indígenas. Os autores dessas matérias e das fotos que as ilustram estiveram em campo, sentindo o gosto de conviver com os índios em suas terras e de vivenciar suas culturas. Daí a qualidade dos textos, a beleza das fotos, a riqueza das matérias. Que o leitor sinta a dor e o prazer de ser índio em nosso País. Mércio Pereira Gomes, antropólogo Presidente da Fundação Nacional do Índio – Funai Capa: Pés de índio Enawenê-Nawê Foto: Juvenal Pereira entrevista MUTUÁ MEHINÁKU por uma educação indígena “Eu entendi que, quando a gente descobre muita coisa que a gente não sabia, tornase uma pessoa melhor. Melhor para entender os outros e o mundo.” Michel Blanco Fotos: Ricardo Labastier Escolha e predestinação. Sob essas duas forças, Mutuá Mehináku, 26 anos, fez-se professor. Descobriu a vocação decifrando números, quando estudava Matemática na aldeia Kuikuro e foi convencido por seu professor a fazer um curso preparatório para lecionar na aldeia. Mas o português, embora fosse o deflagrador de sua curiosidade na infância, ainda era um obstáculo. O apoio da família não só o convenceu, deu-lhe convicção. Encontrou estímulo maior nas palavras de seu avô materno, Narro Kuikuro, a quem considera seu primeiro mestre. Falecido em 2004 e velado no cerimonial do Kuarup um ano depois, Narro foi o primeiro xinguano a falar e ensinar português para os demais. Mutuá trilha hoje outra margem da palavra: dedicase ao ensino da escrita na língua karib. Mas orienta seu caminho pelo legado humanista do avô. “Ele me ensinou a respeitar as pessoas porque, segundo ele, cada um é importante e tem seu lugar para ser importante.” Formado em Língua, Arte e Literatura pelo Terceiro Grau Indígena – programa de ensino superior resultado da parceria entre a Funai e a Universidade Estadual de Mato Grosso –, Mutuá é diretor da Escola Indígena Estadual Central Karibe – Comunidade Kuikuro. Filho de pai Mehináku e mãe Kuikuro, Mutuá é casado, tem dois filhos e busca uma educação indígena alicerçada na cultura tradicional e, ao mesmo tempo, integrada a tecnologias da informação. BI: Narro, seu avô, foi o primeiro xinguano a falar português. Você, de certa maneira, faz um caminho inverso, dedicando-se ao ensino da língua karib. Como você vê isso? Mutuá: Estou reforçando a atuação do meu avô, colocando no papel o que ele me ensinou. Ele foi grande companheiro do Orlando Villas Bôas, no processo de demarcação e preservação de nossa terra. Foi o primeiro a aprender e ensinar o português, mas nem por isso deixou de defender nossa cultura. Eu quero continuar a luta dele. Quero devolver e fortalecer cada vez mais essa idéia de defesa da cultura do Xingu. BI: Você e seu avô eram muito próximos? Mutuá: Toda vez que eu voltava do curso [do Terceiro Grau Indígena], ele ia à minha casa perguntar o que tinha acontecido, o que eu tinha aprendido. Ele tinha grande expectativa de que eu iria aprender muito. Sempre falava da importância do estudo, da importância das pessoas e, assim, foi um grande amigo. BI: Então seu avô foi o seu primeiro professor? Mutuá: Sim, e foi um grande professor. Quando eu tinha cinco, sete anos, comecei a aprender português. Oralmente, meu avô repassava esse conhecimento para mim. Eu era uma criança curiosa, queria aprender o português porque via alguém se expressando nessa língua e admirava. Aí pensava: “Será que algum dia vou aprender a língua portuguesa?” A vivência com meu avô me incentivou muito a querer aprender cada vez mais. Depois eu entendi que, quando a gente descobre muita coisa que a gente não sabia, torna-se uma pessoa melhor. Melhor para entender os outros e o mundo. Ele me ensinou a respeitar as pessoas porque, segundo ele, cada um é importante e tem seu lugar para ser importante. BI: Por que você quis lecionar? Mutuá: O meu sonho era ser dentista, só que não existia um projeto de formação de agente de saúde bucal aqui. Só depois de pensar bem decidi participar do curso de formação de professores indígenas. Um professor de Matemática da Unicamp [Universidade de Campinas, em SP], o Pedro Paulo, veio à aldeia para assessorar outros professores indígenas. Ele disse para mim: “Você está adiantado na turma e poderia ajudar outros colegas que estão trabalhando aqui.” Foi então que, depois de falar com meus pais, eu tomei a decisão de participar do curso. No começo, eu não sabia o que era ser professor. Eu não sabia direito me expressar na língua portuguesa nem escrever muito... BI: E hoje, o que é ser professor para você? Mutuá: Professor é aquele que passa o conhecimento, pensando em um futuro melhor. É aquele que educa as crianças, que dá a felicidade a elas e a toda a comunidade. O professor ajuda na organização política da aldeia, quando transmite às crianças, aos jovens aquilo que aprendeu com os mais velhos e com o mundo de fora. Ao mesmo tempo, também ajuda os mais velhos com aquilo que aprendeu em seus estudos. BI: Você é um defensor de escolas nas aldeias. Como você avalia a educação indígena? Mutuá: Quase tudo é uma novidade para nós. A escola só chegou na aldeia Kuikuro em 1994. Ainda somos cinco professores. A escola tem de ser melhorada em tudo. Para isso, é preciso um assessoramento técnico da Seduc [Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso] para a elaboração de um projeto políticopedagógico de 5ª a 8ª séries. Nós já temos o projeto de 1ª a 4ª séries reconhecido pelo governo do estado. BI: No Xingu, as cidades estão cada vez mais próximas do Parque e muitos jovens têm contato intenso com a vida urbana. Qual seria o papel da escola nesse processo? Mutuá: Até pouco tempo, muita gente ia para a cidade estudar. Até agora, ninguém da minha aldeia saiu pra estudar, a gente tem ensinado aqui mesmo. Mas tem outros jovens que querem ir pra cidade. A gente precisa usar a educação indígena para ensinar e estimular os jovens a participarem mais da preservação da cultura. A escola indígena tem como papel fundamental manter viva nossa identidade e ampliar nossa cultura tradicional. É possível manter a cultura, mesmo com 4 5 “Com o uso da tecnologia, esperamos despertar o interesse das crianças por nossa tradição. Com o novo, a gente recupera o antigo.” a proximidade das cidades. Nossa cultura esta aí, viva. Como, hoje em dia, ações importantes da aldeia estão morrendo juntamente com os idosos, os donos das tradições, a gente pensou: “Por que que a gente não faz um registro da nossa cultura?” BI: Você está falando de um projeto que já existe, não é? Qual a intenção desse trabalho? Mutuá: Se deixar todo o mundo morrer sem aproveitar essa sabedoria, no futuro a gente não vai ter mais a riqueza do conhecimento tradicional. Então nós elaboramos um projeto junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para um trabalho de documentação. A idéia é capacitar os meninos para a produção de documentários sobre as danças, os rituais, os cantos e também para a publicação das nossas histórias. Com o uso da tecnologia, esperamos despertar o interesse das crianças por nossa tradição. Com o novo, a gente recupera o antigo. BI: Desde quando vocês têm esse projeto? O que já foi feito? Mutuá: O projeto começou em 2002, com a Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu e a UFRJ. Em 2004, conseguimos recursos, através do PDPI [Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas, ligado ao Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, o PPG7, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente], e fizemos várias oficinas sobre cinematografia. Filmamos junto com o pessoal da ONG Vídeo nas Aldeias. Já temos dois frutos: O eclipse da Lua e Cheiro de Pequi. O primeiro vídeo é sobre as festas que o nosso povo fazia quando tinha eclipse. O segundo, em que fui o ator principal, é sobre a origem do pequi. [Segundo a lenda, o cheiro do pequi foi transferido, por um herói mítico, do sexo das mulheres para a fruta. Do pequi, os xinguanos extraem óleo utilizado para embelezar e proteger a pele; a semente destaca-se como alimento cerimonial distribuído entre visitantes, durante o ritual do Kuarup.] Agora a gente está planejando fazer outro filme. Ainda não decidimos o tema. Pode ser sobre a origem do milho ou a origem do Kuarup. Estamos tentando o apoio financeiro da Petrobras e pretendemos fazê-lo junto com o Vincent [Carelli, indigenista, documentarista e fundador da ONG Vídeo nas Aldeias]. Depois, a gente quer trabalhar sozinho e com outras coisas. Acho que já teremos alguma experiência. Além dos documentários, estamos construindo a Casa Cultural do Povo Kuikuro, onde vamos guardar todos os equipamentos e arquivar os materiais coletados. A gente tem de formar uma comissão junto com a Funai, a Polícia Federal e o Ibama, e prender todos esses brancos que estão no Parque. Aqui no Xingu têm 14 etnias diferentes que precisam tomar uma decisão conjunta. Mesmo que seja índio, a gente tem de prender também para ele ter consciência. Já existe um código florestal, mas que nunca é cumprido. Temos de fazer com que seja cumprido. BI: Em sua opinião, quais são os principais problemas do Xingu hoje? Mutuá: Uma grande preocupação é com as cabeceiras dos rios do Xingu. Nas que estão fora da terra indígena, há plantação de soja, criação de bois e de porcos. Na época da chuva, todos os agrotóxicos que o fazendeiro põe na soja escoam para cá. Além disso, temos grande preocupação com a construção de hidrelétricas, como a Paranatinga [A Paranatinga II é uma pequena central hidrelétrica que está sendo construída a cerca de 100 km da terra indígena, no rio Culuene, um dos principais formadores do rio Xingu. Leia Paranatinga II, na página 14.], que podem ameaçar os peixes, nosso principal alimento. Sou contra a construção da hidrelétrica. A gente precisa ser melhor informado e lutar na Justiça pelos nossos direitos. Além disso, temos de falar com fazendeiros para tomarem cuidado com as águas e procurarem outro meio de matar os insetos das plantações. O fazendeiro é nosso inimigo. O fazendeiro, o madeireiro, o garimpeiro. Estão todos de olho na nossa terra. Mas está bem claro que o maior problema é a extração de madeira. O próprio índio está abrindo a porta para as madeireiras. BI: Como impedir a derrubada de madeira, já que, como você aponta, há participação de indígenas? Mutuá: A retirada da madeira é o que mais me entristece e é um problema que a gente tem de vencer. Houve reuniões aqui no Xingu para impedir isso, mas nunca tivemos resultado. O próprio índio está tirando essa madeira, na região da Terra Nova [posto de vigilância em área de fronteira na porção sudoeste do Parque]. BI: Falando dos brancos... Além dos órgãos governamentais, o Xingu tem uma grande presença de ONGs e outras instituições. Como você vê isso? Mutuá: Tem brancos que trabalham em instituições como o ISA e a ACT [respectivamente, as organizações não-governamentais Instituto Socioambiental e Amazon Conservation Team]. Outras instituições também querem trabalhar conosco, mas a gente tem de avaliar isso. Senão, vêm aqui, como no caso da ACT, e fazem o mapeamento das plantas medicinais, podendo fazer biopirataria lá fora. Isso a gente não pode aceitar. A gente precisa ver se há realmente algum benefício e um interesse coletivo para o Xingu. Como jovem, tenho um olhar diferente em relação a isso, mas, nem por isso, eu descarto a opinião das lideranças. Sempre estou ao lado deles, aprendendo e ensinando, falando das coisas erradas e das coisas certas porque esse é o meu dever dentro da aldeia. E sempre digo que sou contra instituições que não pensam em um futuro melhor para o Xingu. BI: E a atuação da Funai? Mutuá: A Funai está em Brasília [A Administração Regional do Xingu localiza-se na sede do órgão.] Hoje, aqui você vê vários desconhecidos, como funcionários da prefeitura de Gaúcha do Norte, da Funasa [Fundação Nacional de Saúde] e muitos outros, que são pessoas mais novas que não têm o mínimo de veia para cuidar e respeitar os povos do Xingu. Muita gente fala: “Já que a Funai não ajuda, vamos trazer outras pessoas para trabalhar aqui.” Aqui quase não tem funcionário da Funai. A Funai precisa ser fortalecida, ter mais pessoal e mais recursos financeiros. Sei das dificuldades, mas poderíamos fazer mais reuniões com a Funai e apresentar propostas para encaminhar ao Congresso Nacional. Aqui no Posto [Posto Indígena Leonardo Villas Bôas, que atende as aldeias do Alto Xingu] tem de ser formada uma equipe permanente. Assim, a Funai ficaria mais próxima da gente. Antigamente, a Funai vivia sempre presente, sempre junto com a gente. Hoje em dia não é assim, só tem o chefe de posto. Falta gente. BI: Tendo em vista as suas atividades, qual o seu grande sonho? Mutuá: Meu grande sonho é formar minha primeira turma de alunos. Ver os alunos que eu ensinei praticando a cultura e valorizando a história, os mitos, as lendas. Tornar a escola um espaço de valorização da cultura. Ao mesmo tempo, quero ver as crianças aprendendo como o branco faz seu trabalho e constrói as leis. E saberem quais os nossos direitos. Quero ver mais índios administrando suas escolas. O próprio índio tem de aprender a gerenciar e receber recursos para manutenção da escola e compra de material pedagógico. Eu quero que essa nossa unidade seja mais independente e que o índio seja gestor da escola. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter um resultado bom e valorizar o nosso trabalho junto à comunidade, para não precisar mais do branco trabalhando dentro da aldeia. Porque o branco não se acostuma com esse ambiente diferente. Aí ele sente falta de refrigerante, de ar-condicionado, de dormir na cama. Aqui ele dorme na rede, toma banho no rio e não se acostuma. Por conta disso, muitas pessoas já desistiram de trabalhar aqui na aldeia. É por isto que a educação é importante: o índio necessita ter condições para assumir postos e cuidar de sua comunidade, dos seus direitos. expediente sumário Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos Presidente da Funai Mércio Pereira Gomes Publicação bimestral da Fundação Nacional do Índio – Funai/Coordenação Geral de Assuntos Externos (CGAE) em parceria com Via Pública – Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público Conselho Editorial Carmen Junqueira Daniel Matenho Cabixi Dominique Gallois Guilherme Carrano Izanoel dos Santos Sodré João Pacheco de Oliveira José Carlos Meirelles Jurandir Siridiwê Xavante Pierlângela Nascimento da Cunha Coordenador Editorial Michel Blanco Maia e Souza Editores Felipe Milanez Júlia Magalhães Repórteres Christiane Peres Danielle Santos Mário Moura Filho Colaboradores Ivan Abreu Stibich José Augusto Lopes Pereira Vanessa Caldeira Fotógrafos Ademir Rodrigues Christian Knepper Ricardo Labastier Juvenal Pereira Copidesque Teresa Bilotta Projeto Gráfico Marcelo Aflalo Diagramação e arte Univers Design / Marcelo Aflalo e Marcelo Menna Tiragem 10 mil exemplares Impressão Ipsis Gráfica e Editora Jornalista Responsável Júlia Magalhães Fundação Nacional do Índio – Funai Coordenação Geral de Assuntos Externos – CGAE SEPS QD. 702/902 Ed. Lex, 3º andar CEP 70390-025 Telefone: (61) 3226.9411 Contato: [email protected] | www.funai.gov.br Carta do Presidente 1 Mércio Pereira Gomes, antropólogo Entrevista: Mutuá Mehináku 2 Um jovem professor inspira-se no legado do avô Especial: Parque Indígena do Xingu 8 Marco do indigenismo, Xingu discute o futuro Ritual: Enawenê-Nawê 18 Festa celebra o equilíbrio entre dois mundos Isolados: “Índio do Buraco” 24 Único sobrevivente de etnia desconhecida Terra: Inãwébohona 30 Território javaé homologado na Ilha do Bananal Terra: Kiriri 34 A retomada cultural de um povo Opinião: O que é ser índio? 39 Artigo analisa visões que se tem do índio Geral: Projeto Antidrogas 40 O problema do álcool e das drogas nas aldeias Opinião: Desenvolvimento comunitário 42 Coordenação da Funai discute formas de apoio à produção indígena Cultura: Tenetehara Aldeia Santa Maria atualiza festa da Menina-Moça 43 8 correnteza permanente Michel Blanco e Júlia Magalhães Fotos: Ricardo Labastier PARQUE INDÍGENA DO XINGU Xingu. Um imenso rio a cortar mais de 1.800 quilômetros do interior brasileiro, do Mato Grosso ao Pará, quando desemboca nas águas do Amazonas. Seu curso segue do Brasil central para a Hiléia amazônica, por uma área de transição ecológica que apresenta cerrados, campos, florestas de várzea e florestas de terra firme. Uma bacia hidrográfica que transborda biodiversidade. Xingu, no entanto, é mais do que isso. Ao batizar a terra indígena brasileira mais reconhecida – o Parque Indígena do Xingu –, o nome evoca uma associação quase imediata entre a natureza exuberante e os povos originários do Brasil. Mesmo em um país que praticamente desconhece os índios e suas realidades, sabe-se que o Xingu é lugar deles. Trata-se de uma idéia forte, mas que não escapa de deturpações. Presente em manchetes de jornal desde a década de 1940, quando o avanço da Expedição Roncador-Xingu alimentava a imaginação do cidadão comum sobre um sertão indevassado, até os dias de hoje, quando também figura em peças publicitárias para todos os fins, como campanhas para venda de sandálias, e em rótulo de cerveja. Xingu, assim, é quase um chavão. Porém, sempre uma referência ao indigenismo. A celebridade, no entanto, não isenta seus Região nordeste de Mato Grosso Municípios Canarana, Paranatinga, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Gaúcha9 do Norte, Feliz Natal, Querência, União do Sul, Nova Ubiratã e Marcelândia Área 2.642.003 hectares População aproximadamente 4000 pessoas Etnias Aweti, Ikpeng, Juruna, Kalapalo, Kamayurá, Kayabi, Kuikuro, Matipu, Mehináku, Nahukwá, Suyá, Trumai, Waurá e Yawalapití Línguas aweti (tronco tupi); juruna (tronco tupi); kalapalo, ikpeng, kuikuro, matipu e nahukwá (família karib); kamayurá e kayabi (família tupi-guarani); mehináku, waurá e yawalapití (família aruak); suyá (família Jê) e trumai (língua isolada) povos de preocupações sobre o futuro, apesar de sua solidez cultural. O Parque Indígena do Xingu localiza-se na região nordeste de Mato Grosso. Em seus 2,6 milhões de hectares vivem 14 etnias diferentes, somando mais de 4 mil indivíduos, em uma grande diversidade sociocultural que compõe uma das mais ricas teias lingüísticas do continente. A popularidade do Parque no imaginário brasileiro deve-se, sem dúvida, ao trabalho dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas Bôas. Afinal, sua história confunde-se com a vida desses homens, que, nas palavras de Darcy Ribeiro, lançaram-se para “aventuras tão ousadas e generosas que seriam impensáveis, se eles não as tivessem vivido”. Juntos, os irmãos Villas Bôas, Darcy e outros profissionais, como o sanitarista Noel Nutels e os antropólogos Eduardo Galvão e Luiz Alberto Torres, apoiados pelo Marechal Rondon, são os responsáveis pelo ideal que alteraria os rumos da política indigenista nacional. Passando-se por caboclos analfabetos, os irmãos Villas Bôas conseguiram incorporar-se à Expedição Roncador-Xingu, driblando a principal exigência feita pelo Governo: os alistados deveriam ser homens rudes, acostumados à vida na selva. Natureza que se distanciava daqueles jovens paulistas, ocupados em empregos burocráticos. Enganaram a todos até a farsa ser denunciada ao comando da expedição. Em vez de punidos, porém, os Villas Bôas foram promovidos e, no início do governo Dutra, em 1945, assumiram a liderança da “Marcha para o Oeste”. A partir desse momento, o que seria apenas uma missão de desbravamento tornou-se também uma expedição de contato com os povos indígenas. Ainda é possível encontrar entre os primeiros colonos do Mato Grosso quem se queixe desse desvio, que implicou a demarcação de terras indígenas em uma região de expansão agropecuária. Por volta de 1952 começou a mobilização que resultaria, em 1961, quase dez anos depois, na criação do Parque Nacional do Xingu. Embora reduzida de seu tamanho original, previsto em 4,5 milhões de hectares, a área tinha o caráter híbrido de parque nacional em razão do duplo propósito de preservação: dos povos indígenas e da fauna e flora da região. Somente com a criação da Funai, em 1967, o nome foi alterado para Parque Indígena do Xingu, conferindo primazia à proteção de seus povos originários. “Sociedade de nações” Sob critérios populacionais, o Parque Indígena do Xingu é dividido em três partes, das nascentes até a foz do rio: sul (conhecida como Alto Xingu), centro (Médio Xingu) e norte (Baixo Xingu). Respectivamente, essas áreas são assistidas por três postos da Funai: Leonardo Villas Bôas, Pavuru e Diauarum. O Alto Xingu abriga povos que compartilham um mesmo substrato cultural: Aweti, Kalapalo, Kamayurá, Kuikuro, Matipu, Mehináku, Nahukwá, Trumai, Waurá e Yawalapití. Apesar da variedade lingüística, esses povos mantêm ao longo dos anos contatos intertribais tão intensos – articulados em uma rede institucionalizada de trocas, o moitará, casamentos e rituais – a ponto de se poder dizer que participam de uma mesma “cultura xinguana”. Entre outros traços culturais, os grupos “xinguanos” têm em comum o corte de cabelo masculino ovalado; o CULTURA 11 10 rituais do xingu formato da maloca e a sua disposição na aldeia, com a gaiola do gavião real no centro; o uso do aluri (tanga minúscula feita de entrecasca, presa à cintura por cordéis) pelas mulheres; o regime alimentar à base de peixe e festas e rituais celebrados em conjunto, como o Kuarup, o Jawari e o Yamarikumã. Os Trumai, embora responsáveis pela disseminação do Jawari, distinguem-se das demais etnias alto-xinguanas por não participarem do Kuarup e por não terem no peixe seu recurso protéico, mas sim na caça. Em razão desse intercâmbio, muitos indivíduos são poliglotas. Entretanto, cada um desses povos cultiva sua identidade étnica, afirmando suas diferenças na vida cotidiana e, sobretudo, nos cerimoniais. As demais etnias que habitam o Parque – Ikpeng, Kayabi, no Médio; Juruna e Suyá, no Baixo Xingu – não integram esse complexo xinguano e apresentam-se bastante diferenciadas culturalmente. Por questões administrativas, foram trazidas para dentro da área do Parque, inclusive com o deslocamento de aldeias inteiras. Apesar disso, acabam por relacionar-se com os outros povos por meio de casamentos e, recentemente, das associações indígenas. Dada a pluralidade sociocultural de sua população, os Villas Bôas costumavam se referir ao Parque como uma “sociedade de nações”. Preocupações Com as picadas abertas pela Roncador-Xingu, o Xingu “aproximou-se” da sociedade nacional. Colônias agrícolas instaladas na passagem da expedição começaram a se espalhar por vastas porções do que antes era um território inóspito, em um movimento intensificado nos anos 1970, quando colonos gaúchos, com apoio governamental, deixaram o Sul do País em busca de grandes extensões de terras cultiváveis a preços baixos. As mudanças ocorridas no entorno da bacia do Xingu, obviamente, não deixaram de trazer conseqüências para seus habitantes nativos, pois o ímpeto dos empreendimentos oficiais era ocupar e levar “progresso” à região. Os novos moradores trouxeram sim um pouco de desenvolvimento econômico, mas a um custo elevado. Pequenas cidades proliferaramse, chegando até a fronteira do Parque Indígena. E a devastação de grandes áreas de cerrado e floresta as acompanharam. Projeções feitas sobre dados oficiais do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indicam que o desmatamento continuará a passos largos, ameaçando a Terra Indígena. Kuarup Ritual mais conhecido dos povos indígenas brasileiros, o Kuarup é uma celebração sobre a vida e a morte. Encena a narrativa da criação dos índios do Alto Xingu, quando eles choram, pela última vez, seus mortos, representados por troncos pintados e enfeitados da madeira que dá nome ao ritual. A cerimônia tem origem na figura de Mavutsinim, responsável por criar o mundo e os homens, a partir de troncos de árvore. Único ritual que reúne praticamente todas as aldeias do Alto Xingu, o Kuarup é a expressão mais forte da identidade comum dos povos xinguanos. Tradicionalmente, só é realizado para pessoas ilustres, seja por critério de linhagem hereditária, seja por liderança política ou econômica. Entretanto, outros que morreram em data próxima também poderão ser incluídos na cerimônia. A realização de um Kuarup representa uma grande honraria, o reconhecimento de que o homenageado passa a ser situado no mesmo nível daqueles que conviveram com Mavutsinim. Recentemente, foram incluídos entre os homenageados não-índios considerados ilustres pessoas que se destacaram na luta pela causa indígena, como é o caso dos próprios irmãos Villas Bôas e do indigenista José Apoena Meireles. O Kuarup intensifica as relações entre as aldeias, por meio da iniciação dos jovens e da expressão lúdicocompetitiva da luta huka-huka. Trata-se de um ritual festivo, de elevada beleza plástica, associando o movimento de danças e os sons dos cantos e flautas às cores refletidas nos criativos desenhos geométricos pintados no corpo. Jawari Introduzido na cultura xinguana pelos Trumai, o rito envolve uma disputa entre dois grupos, num jogo de arremesso de longos dardos com pontas de cera. Postos um diante do outro, dois indivíduos de etnias diferentes tentam atingir o adversário, um a cada vez, da cintura para baixo. O jogo é considerado um catalisador não-violento de conflitos anteriormente ocorridos entre os povos xinguanos. Um ritual de alívio de tensões e agressividade, em que a disputa de dardos é precedida de uma espécie de treinamento em um boneco feito de folhagem amarrada com embira. Vários grupos podem ser convidados para o Jawari, geralmente realizado em julho. Yamurikumã As mulheres invertem a situação de limitações provocadas pela desigualdade de gênero nas relações cotidianas, durante a celebração do Yamurikumã. O ritual, para o qual também são convidadas indígenas de várias aldeias, é uma rebelião feminina coletiva. Durante a festa, as mulheres manejam armas que, em qualquer outra situação, não poderiam sequer tocar; usam adornos tipicamente masculinos e lutam o huka-huka. Aos homens, cabe apenas o papel de expectadores, quando não o de saco de pancadas. No Yamurikumã, as mulheres têm permissão até para agredi-los. Arquivo Funai Imagens dos rituais do Xingu. Na página anterior, cacique Munuá Mehináku 12 Visto de cima, o Parque é uma ilha verde cercada por lavouras, principalmente de soja. Uma pressão da sociedade ao redor que se faz sentir dentro das aldeias, sob diversas formas, estimulando novos hábitos de consumo que podem, inclusive, levar à cooptação para atividades ilegais, como a venda de madeira. A relação com os municípios vizinhos e o impacto de obras de infra-estrutura promovidas pela expansão do agronegócio impõem aos habitantes do Parque Indígena do Xingu a reflexão sobre seu destino. Diante dos fatos, apreensão é o sentimento mais freqüente entre os índios. “Estou mais preocupado do que no tempo do Orlando [Villas Bôas]”, disse o cacique Afukaká Kuikuro, durante encontro realizado de 13 a 14 de setembro deste ano, que reuniu, no Posto Leonardo Villas Bôas, a direção da Funai com lideranças e jovens representantes de todos os povos do Alto Xingu. Proposto pela Funai com o intuito de iniciar uma discussão sobre as perspectivas de futuro dos povos xinguanos, o encontro teve a participação do presidente do órgão, Mércio Pereira Gomes, dos indigenistas Cláudio Romero, Guilherme Carrano, Izanoel Sodré, Odenir Pinto e Slowacki de Assis, e do administrador PARQUE INDÍGENA DO XINGU 13 “Vocês devem pensar no que precisam agora sem esquecer o que é importante manter para o futuro” Kretire Juruna Kuruna Paue-Kayaby Kuni Kayaby Capivara Kayaby Cururu Xingu P. I. Diauarum Suyá Suya Novo Manoel Kayabi Tuim Kayabi Kupekani Kayabi Abaixo, um dos mais conhecidos índios do Xingu, Takumã Kamayurá Na próxima página, mapa do Parque Indígena Parque do Xingu Suyá Maciã Kayabi Chiquito Kayabi Piui Kayabi Prepori Kayabi Pavuru Txicão Pato Magro Trumai França Morena Rio Steinen Kamaiurá Nahukuá Waurá Rio Ronuro L. V. Boas Rio Batovi Kalapalo Yawalapití Moitará Matipu Kuikuro Mehináku Aweti Tanguro Rio Culuene do Parque, Tamaluí Mehináku. Durante as discussões, entre assuntos como o repúdio à construção da usina hidrelétrica Paranatinga II (ver boxe na página 14) desejo de preservação cultural foi tema unânime e sempre se fundia à inquietação com as mudanças no entorno do Parque. “Minha preocupação é com o futuro. Alguns jovens que foram estudar lá fora não dizem o que acontece. Enquanto estiver vivo, continuo com a cultura que aprendi com meu pai”, afirmou o cacique Takumã Kamayaurá, um dos principais pajés do Alto Xingu. “Espero que a Funai continue a ajudar, principalmente contra invasores. Muitas ONGs estão aqui, mas não vão ajudar com isso.” Tal discurso foi endossado por lideranças como os caciques Aritana Yawalapití, Munuá Mehináku, Tafukumá Kalapalo e Jakalo Kalapalo, e também por jovens como Mutuá Mehináku (conferir entrevista na página 2), Kaman Nahukwá, Jeika Kalapalo e Mataripé Trumai. Entretanto, a preocupação mais imediata demonstrada na reunião foi o desmatamento para venda de madeira na região da Terra Nova, área originalmente destinada a abrigar um posto de vigilância na fronteira sudoeste do Parque. A entrada de madeireiros é intermediada por dois pequenos grupos liderados por um cacique Trumai e outro Ikpeng. A reprovação é geral e as investidas do administrador Tamaluí Mehináku para encerrar a atividade, constantes. Dias antes da reunião no Posto Leonardo, Tamaluí chegou a gravar em vídeo a retirada da madeira para exibir aos demais. Acertou-se, durante o encontro, a formação de uma comissão de lideranças do Alto Xingu para negociar com os índios o fim do desmatamento. Enquanto isso, a Funai planeja uma ação para a retirada dos madeireiros e estuda meios eficientes para evitar o envolvimento indígena na venda de madeira. Ao longo das discussões, o presidente da Funai recordou aos índios casos de enriquecimento ilusório que acometeram diversos povos em meio à exploração de atividades como garimpo e venda de madeira. “Vocês devem pensar no que precisam agora sem esquecer o que é importante manter para o futuro, para o uso das outras gerações. Pensar em atividades que produzam um bem para toda a comunidade.” A busca de alternativas econômicas sustentáveis mostra-se hoje como principal desafio para os povos do Parque Indígena do Xingu e para os órgãos do Governo Federal. 14 Legado A despeito das pressões externas, que em muitos povos indígenas brasileiros provocaram o enfraquecimento da identidade cultural, o Parque Indígena do Xingu ainda apresenta elevado grau de preservação. Os rituais, apesar de a presença de expectadores não-índios ser cada vez maior, continuam praticamente inalterados. E um fato simples chama a atenção: em poucos lugares no Brasil índios com décadas de contato andam nus e tão sem pejo como no Xingu. Isso se deve ao histórico de contato com a sociedade nacional que esses índios possuem, peculiar à maior parte dos povos indígenas brasileiros, uma vez que o principal mediador foi um etnólogo, o alemão Karl von den Steinen, entre os anos de 1884 e 1887. Por fim, a atuação dos Villas Bôas produziu efeito. Embora suscetível a críticas que a consideraram paternalista em demasia, a gestão dos Villas Bôas para paranatinga II As discussões a respeito da construção da Pequena Central Hidrelétrica Paranatinga II, às margens do rio Culuene (MT), arrastam-se desde 2004. A obra fica entre os municípios mato-grossenses de Campinápolis e Paranatinga, a cerca de 100 km do Parque Indígena do Xingu e a 30 km de Parabubure, área do povo Xavante. A maior preocupação dos índios e da Funai é com relação à preservação dos rios que passam pela área, principalmente do Culuene, que é um dos principais formadores do rio Xingu. Essas águas são fonte de sua base alimentar – os peixes – e estão constantemente ameaçadas por usinas hidrelétricas e atividades agropecuárias. O projeto prevê o alagamento de uma área de 1.290 hectares, dos quais 920 são de vegetação nativa. O lago será formado pela edificação de duas grandes barragens para a geração de 29 megawatts de energia. A hidrelétrica está fora da área reservada aos índios, mas não é por isso que eles deixam de atentar para os impactos ambientais que a construção pode gerar para a comunidade. O empreendimento da Paranatinga Energia S. A., licenciado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso (Fema), já tem boa parte da obra executada. No entanto, a Funai e o Ministério Público PARQUE INDÍGENA DO XINGU preservar os índios das frentes de expansão econômicas que se abriam na região propiciou uma postura mais respeitosa da sociedade nacional em relação aos índios do Parque Indígena do Xingu, diferentemente do que ocorreu com outros povos. A concepção do Parque Indígena do Xingu também inaugurou no Brasil uma nova visão acerca da demarcação de terras indígenas, ao consagrar o conceito de territorialidade indígena. Isto é, a idéia de que uma terra indígena não é tão-somente o espaço para sua sobrevivência física imediata, mas um espaço culturalizado por gerações anteriores, destinado à presença permanente de um povo e de gerações subseqüentes, de grande importância para o futuro do País. Antes de um lugar comum, o Xingu é um divisor de águas no indigenismo brasileiro. Federal ajuizaram ação civíl pública na Justiça Federal para impedir a continuidade da construção e transferir o processo de licenciamento ambiental para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A Funai entende que essa é a melhor forma de fazer com que a empreendedora respeite o meio ambiente e faça um estudo de impacto etnoambiental mais detalhado. Foi preciso uma decisão judicial para transferir o licenciamento ambiental da obra para a esfera federal. A sentença da Justiça Federal de Mato Grosso, que foi divulgada no dia 11 de abril deste ano, anulava a licença da Fema e determinava que a empreendedora suspendesse a obra, sob pena de pagar multa de R$ 10 mil por dia e eventual demolição do que já estava pronto. A falsa paz dos índios xinguanos, porém, durou pouco. Recentemente, no dia 20 de setembro, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região autorizou a continuidade das obras da Pequena Central Hidrelétrica no rio Culuene. A decisão contraria os interesses dos povos indígenas da região, que não parece ter sido levado em conta. Com isso, as obras podem continuar até que aquele tribunal decida definitivamente sobre o caso. A Funai aguarda a publicação da liminar no Diário Oficial para estudar eventual recurso em defesa dos direitos e dos anseios dos povos da região. Colaborou Christiane Peres MARINA VILLAS BÔAS 15 depoimento Aos 68 anos, Marina Villas Bôas, estava sentada na sala de estar de sua casa, no Alto da Lapa, bairro tradicional de São Paulo. Hoje, mesmo distante da realidade nas aldeias, não deixa de se preocupar com as questões que afligem os índios. Afinal, a história do Xingu mistura-se com a dela. Nas paredes da casa, muitas recordações dos anos em que ela e o marido, Orlando, moraram no Parque. O cachorro de estimação, um vira-lata, é uma homenagem carinhosa a uma das etnias do Xingu: chama-se Waurá. É a Orlando que ela dedica suas palavras logo nos primeiros instantes da entrevista. Durante pelo menos 50 anos de sua vida, ele falou para quem pôde sobre essas etnias, sobre os valores desses índios e o respeito que eles tinham pela natureza. Para os irmãos Leonardo, Cláudio e Orlando Villas Bôas, a criação da reserva indígena era a concretização de um sonho: a preservação da fauna, da flora e, sobretudo, dos povos que viviam naquelas matas. Na opinião de Marina, os povos xinguanos tiveram o privilégio de terem seu primeiro contato com antropólogos, sociólogos e indigenistas. “Os Villas Bôas tinham uma preocupação muito grande em divulgar esse trabalho, fazendo palestras, escrevendo, dando entrevistas sobre como os índios viviam numa sociedade harmônica e equilibrada. Assim, eles conseguiram chamar a atenção para os valores desses povos, que antes eram vistos como destruidores da floresta, como gente sem lei. O Orlando criou uma imagem positiva em relação à sociedade indígena.” A última vez que ela esteve no Xingu, em 2003, foi para participar do Kuarup em homenagem ao marido, falecido em dezembro do ano anterior. Pôde observar as mudanças pelas quais os índios passaram. “Você não há de querer que o mundo pare no tempo. Mas eu penso que eles ainda estão um pouco perdidos. Isso faz parte de um processo pelo qual eles vão ter de passar. Só gostaria que as pessoas que se relacionam com eles fossem mais conscientes. Que houvesse um pensamento humanista, com respeito à natureza e ao indivíduo”, diz apreensiva. Quando ela foi pela primeira vez ao Xingu, em 1963, o Brasil era bem diferente. Foi a convite de Orlando, com quem se casou em 1969. “Eu trabalhava como enfermeira para um médico que o conhecia e que também freqüentava o Parque. Foi através desse amigo comum que eu fui parar lá. Na área, eu e Orlando morávamos no Posto Indígena Leonardo Villas Bôas, ele num barraco e eu em outro.”Hoje esse posto atende apenas o Alto Xingu, mas na época não era assim. Com um avião teco-teco, Marina voava diariamente para todas as aldeias e fazia o controle da saúde dos índios. Ela morou 12 anos na área e continuou envolvida no projeto, mas trabalhando em São Paulo. Para Marina, a ida para o Xingu foi uma grande aventura. A única experiência de trabalho social que ela havia tido era com menores infratores, em São Paulo. Estava muito longe de se imaginar diante de um universo tão desconhecido para ela, quando foi convidada por Orlando para ir para os confins de Mato Grosso. “Tinha uma pista de pouso onde só descia avião da FAB (Força Aérea Brasileira) uma vez por semana – isso quando não chovia. A partir dali, você não tinha mais contato com o mundo. Acontece que, a primeira vez que eu fui para conhecer a área, começou a chover e chover. E os aviões da FAB não desciam. Acabei ficando um mês, sem poder sair de lá, sem comunicação.” Na época, tinha apenas 25 anos. No auge da juventude, no vigor das descobertas, a incerteza da volta para a cidade não a deixou angustiada. “Eu já não estava querendo sair de lá. Estava gostando dos índios e me interessando por tudo.” Os primeiros índios que viu foi um grupo de Kuikuro que estava acampado no posto cozinhando pequi. “Foi uma cena muito bonita: eles estavam com aqueles panelões de barro, aquele monte de cascas e caroços de pequi. E quando eu cheguei, eles me chamaram, fazendo gestos com a mão. Confesso que fiquei sem saber se eu ia ou não. A gente lia na escola que eles colocavam pessoas dentro desses panelões (risos). Aí eu corri pra perto do Orlando e disse: ‘Eles estão me chamando, o que eu faço?’. Ele respondeu: ‘Vá!’. Fui e então eles me ofereceram comida e começaram a me perguntar um monte de coisas.” Apesar de falar com alegria dos tempos em que morou lá, ela diz não querer reviver algo que ficou no passado. “O Orlando tinha uma relação muito diferente com o Xingu. Para ele, aquilo era um projeto de vida, o filho mais velho. É claro que a família, o relacionamento comigo também foram muito importantes na vida dele. Mas tenho a sensação de que o Xingu foi algo mais forte.” 16 PARQUE INDÍGENA DO XINGU 17 novos desafios produção de soja. Os índios estão cercados por pessoas que podem facilmente seduzi-los com dinheiro. Por isso, precisam ter uma educação politizada pra que eles entendam o que está em jogo. Por exemplo, no caso da construção de uma hidrelétrica, não se pode ser contra por ser contra. É preciso saber o que um empreendimento como esse pode causar. BI: Na sua avaliação, qual é hoje o maior desafio para os povos indígenas do Xingu? Carmen: Eu vejo em Mato Grosso, de 1970 pra cá, o número de municípios que apareceram em torno do Parque do Xingu. Os índios freqüentam essas cidades e sentem uma necessidade crescente de ter dinheiro, mesmo que não seja para consumo com futilidades, mas para um consumo normal. A Funai pode até estar presente, mas naquela lentidão, naquela burocracia de todo órgão estatal. Quando chega o auxílio, a coisa já foi. Então, eu acho que a questão econômica é o maior desafio. BI: Quais as conseqüências da maneira como esse contato está sendo estabelecido com a sociedade envolvente? Carmen: Quando os índios começaram a ser cooptados, principalmente onde tinha madeira de lei para ser retirada, a gente – me refiro a antropólogos e à Funai – vinha com essa história de que não podia tirar madeira. Mas também não oferecia uma alternativa. Nós nos eximíamos de discutir o problema. O resultado foi que os índios foram cooptados pelas madeireiras, pelos fazendeiros, por empresários e nós perdemos essa batalha. Agora, há algum tempo, os índios estão falando em turismo em terra indígena. Se não fizermos nada a respeito, nós vamos ficar mais uma vez melindrados. Eu acredito que a Funai tenha condições de encontrar uma solução para isso. BI: Devem existir outras formas das comunidades tirarem seu sustento, não? Carmen: Sim, existem. No Alto Xingu, por exemplo, os índios vendem mel. Mas o programa econômico deve envolver pesquisa, educação, oficinas e suporte técnico. Agricultura, por exemplo, não é uma opção para eles. Porque fazer monocultura não interessa. Agora eles estão com essa história de turismo. Mas turismo em terra indígena é caro, é para poucos. Tem de ser antecedido de oficinas que expliquem o que é turismo. É preciso que haja restrições sérias para isso. O que os índios têm de Ademir Rodrigues Antropóloga e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carmen Junqueira é referência quando o assunto é Xingu. Ela esteve pela primeira vez no Parque em 1965. Nesta entrevista, Carmen fala sobre as alternativas de desenvolvimento e o futuro dos povos xinguanos. entender é que o turismo não é algo para sangrar a pessoa que veio. Não é porque eu sou estrangeiro, que eu vou pagar mais. Hoje é assim lá no Xingu: um preço para brasileiro e outro para estrangeiro. BI: Então o turismo já funciona no Xingu? Carmen: Sim, só não sei se funciona direito. Tem de ter uma fiscalização para ver se estão entrando drogas, bebidas alcoólicas... Era preciso preparar os índios para esse tipo de empreendimento. Se amanhã eu e você quisermos abrir uma pousada, nós vamos ter de fazer um curso para nos prepararmos para isso. Por que o índio não iria precisar? Eu acredito que haja possibilidade, mas acho também que a Funai deveria tomar a dianteira desse processo com todo o cuidado que se deve ter. BI: Que tipo de cuidado? Carmen: O turismo não pode ser aleatório. Não pode ter drogas nem lixo. Tem de ser profissional. Outro ponto importante é a participação de toda a comunidade, por meio de representantes. As decisões não devem ficar restritas a um grupo pequeno de grandes líderes. O lucro deve ser bem dividido. Para o turista, é preciso fazer algumas coisas também – primeiros-socorros, pessoas capacitadas para esse tipo de atendimento, verba para reposição de medicamentos. Isso tudo só se consegue com oficinas. Ainda assim, seria necessário ter uma pessoa “volante”, que fosse às aldeias de tempos em tempos para observar o andamento do projeto. Esse tipo de acompanhamento é necessário. BI: O contato com os municípios em torno do Parque despertou a necessidade de ter dinheiro. Como é a relação dos índios com essas cidades? Carmen: As maiores cidades em torno do Xingu são Canarana e Sorriso – essa segunda tem a maior BI: Você propõe apoiar coisas que são polêmicas, como o turismo. Existe um racha no indigenismo brasileiro com relação a como tratar essas questões? Carmen: Isso é uma bobagem. É preciso ver qual a situação dos índios no Brasil. Em vários lugares, a aldeia não tem mais maloca, e sim casinhas. Eu não sei o que isso representa para a vida em coletividade, mas deve significar alguma coisa. Eu até diria que é possível, um dia, as aldeias terem casas de alvenaria, carros, computadores... Mas é preciso manter o básico: o respeito às organizações sociais, ao casamento... É muito delicado, porque essas inovações sempre acarretam dispêndio de dinheiro, e os índios estão nessa fase de querer dinheiro. BI: Como se dá a organização política dentro do Xingu? Carmen: Se tiver um inimigo maior do lado de fora, eles se juntam. É o caso da hidrelétrica [Paranatinga II]. Todos se uniram para lutar contra aquilo. Mas, se não tiver esse inimigo maior, tem uma politicagem entre eles que é muito forte. Um Kamayurá olha um Juruna e lembra que aquela família matou o avô dele e tal. Quando existem razões históricas que separam os povos, a união no cotidiano é muito difícil. Isso acontece com qualquer sociedade. BI: Mas são apenas os fatores históricos que interferem na relação entre eles? Carmen: Tem o próprio convívio também, com as disputas menores. Outra coisa que a Antropologia discute é que, quanto mais você se parece com outra pessoa, maior o seu desejo de se diferenciar dela. Você quer ser você, a única. Eles também querem ser os únicos. Isso não impede que haja mil casamentos entre eles, mas os conflitos existem. BI: Como a Funai pode lidar com essas disputas internas? Carmen: Abrindo essa possibilidade para todo o Parque. Só poderiam fazer turismo as comunidades credenciadas pela Funai. O ideal mesmo seria construir uma estrutura que ficasse fora da aldeia. É muito difícil controlar a educação dos turistas; eles entram nas casas dos índios como se estivessem entrando num shopping. Os índios sentem isso, como qualquer um de nós sentiria. Afastando o alojamento da aldeia, se profissionalizaria mais a coisa. Caso contrário, o turismo invade o privado e mistura-se com a vida cotidiana da terra indígena. Outra coisa que a Funai poderia fazer seria levar informações de experiências que deram certo para eles. BI: Como fica a produção cultural com o turismo? Carmen: Vou falar mais dos Kamayurá porque passei muito tempo com eles. Na década de 1980, eles estavam vivendo um problema grande com relação à cultura; os índios estavam usando muita coisa que não fazia parte daquele universo. Agora que eles estão pensando nessa coisa do turismo, está havendo um revival cultural. A escola, por exemplo, é um espaço muito interessante porque é onde as meninas aprendem todas as cantigas das festas. No fundo eles encaram a modernidade com o apoio do antigo. É claro que a cultura vai mudando, mas essa metamorfose incorpora o passado para que presente se torne viável. Alguém pode dizer que é só para inglês ver. Mas, enquanto isso não mudar a estrutura familiar, as relações de trabalho, as lideranças, não interfere. BI: Até porque não se pode querer que as pessoas parem no tempo... Carmen: Claro que não! Qual é a grande diferença entre o município de Canarana e a sociedade Kamayurá, por exemplo? Eu diria que são as relações de trabalho e a contagem do tempo. Os índios não têm uma relação capitalista, do patrão que explora o outro. Mas qual será o futuro deles, se o Brasil é um país capitalista? Eu acho que é possível ter um capitalismo mais enriquecido, mais generoso. Quando mudarem as relações de trabalho, que hoje são baseadas no grau de parentesco, que os índios possam trabalhar com cooperativas. São formas mais avançadas de eles se sustentarem. O que não pode é largá-los porque o consumismo tem uma força destruidora: o dinheiro fácil que leva a um consumo fácil. É por isso que eu penso que cursos seriam interessantes para os índios, para tratar questões como a economia solidária. Temos que deixar o preconceito de lado e abrirmos portas para um caminho menos alienante. O importante é manter essa idéia de comunidade, de um ter responsabilidade em relação ao outro. Essa é uma visão socialista. A Funai tem de se aproximar de pessoas que possam contribuir para isso. ritual ENAWENÊ-NAWÊ 18 Acima, confronto entre Yãkwa e Harikali marca o início do ritual À direita, pescador faz oferenda ao Yakairiti pescadores de espírito Christiane Peres Fotos: Juvenal Pereira 19 Na subida do rio Juruena, quase na divisa entre Mato Grosso e Rondônia, um grupo de 20 homens Enawenê-Nawê celebra dentro de canoas a jornada de três meses de pesca que abastecerá um dos seus principais rituais: o Yãkwa. Uma cerimônia em homenagem aos Yakairiti, “espíritos do subterrâneo” que, segundo a crença, são responsáveis por todas as “coisas ruins”. A busca pela paz entre o universo do subterrâneo e o do “homem muito bom” – como se autodenominam os Enawenê-Nawê – faz com que todos os anos, durante sete meses, eles realizem o rito sagrado da pesca, da plantação da mandioca, da oferenda aos espíritos e da divisão da comida na única aldeia da comunidade, localizada a 200 quilômetros do município de Juína (MT). É um tempo de renovação da natureza para um povo que tem nos mistérios de suas crenças a certeza de uma vida em harmonia. O ritual repete-se em ciclos que respeitam a época da pesca nas barragens, do plantio e da colheita da mandioca. Tudo faz parte de um processo que começa com o fim da piracema, período em que os peixes sobem o rio para a desova, e termina com a satisfação dos Yakairiti. O Yãkwa mistura-se, dessa forma, com a rotina dos índios, que explicam suas crenças pela fé e pelo medo. “Os Yakairiti ficam bravos e vão matar as 20 ENAWENÊ-NAWÊ 21 Durante as tardes, é a vez dos anfitriões da festa agradecerem aos espíritos crianças e trazer doenças, se alguém deixar de plantar mandioca e de trazer o peixe. Por isso, não podemos deixar de fazer. É sagrado”, conta Xayoene, por intermédio de um intérprete. Ele é um dos pescadores que, pacientemente, tentam explicar o complexo sentido desse ritual, ainda pouco estudado pela Antropologia. Os Enawenê-Nawê têm um convívio recente com a sociedade envolvente. O primeiro contato ocorreu em 28 de julho de 1974, com o padre Thomaz Lisboa e o missionário jesuíta Vicente Cañas. Mas esse choque cultural não fez com que perdessem seus costumes e a influência do português ainda é mínima na aldeia Matokodakwa. Poucos entendem o idioma nacional e expressam-se na língua salumã, da família aruak, o que faz com que a tradição seja ainda mais preservada. Encontro marcado Nas águas do rio Iquê, um dos afluentes do Juruena, os pescadores enfeitam-se com jenipapo, urucum e argila. As palhas de buriti e as sementes de tucum dão forma ao traje usado por eles. Penas negras e cintilantes de mutum servem para enfeitar um grande cocar. É uma preparação minuciosa e cada detalhe precisa ser respeitado para que o equilíbrio entre o subterrâneo e o terreno seja mantido. Os preparativos continuam durante a caminhada até a entrada principal de Matokodakwa. A dois quilômetros da chegada, os gritos começam. São agudos e prolongados. O som é a senha. Aviso aos que ficaram na aldeia que o ritual se inicia para todos. O alvoroço de mulheres e crianças ao ouvir o barulho sinaliza a importância do momento por vir. O grande pátio no centro da aldeia será palco das encenações e danças rituais pelos próximos quatro meses – tempo que duram oferendas, cânticos e agradecimentos. Em volta, dez malocas abrigam as famílias dos 450 Enawenê-Nawê. Em frente ao corredor de entrada fica a “Casa das Flautas”, local reservado dos homens, onde, além do instrumento utilizado nos rituais, está a representação de tudo que é sagrado para eles: os espíritos. Lado a lado, os Yãkwa, como passam a ser chamados os pescadores, batem os pés no chão, dando ritmo à dança. Carregando grandes cestos repletos de peixe, organizam-se em fila e entram na aldeia com suas oferendas. A encenação da luta reconstitui o passado desse povo que, por muito tempo, foi hostilizado pelos vizinhos Cinta-Larga. A luta simboliza, na sua perspectiva, a batalha entre o bem e o mal, em que os responsáveis pela festa medem força e dão início ao festival místico. Na madrugada, mais gritos. Parecem em estado de êxtase profundo. Jogam bebidas e comidas pelo chão, na frente das malocas e em cima de quem estiver por perto. Pedem que nada falte àquela comunidade e que a fartura esteja presente até o próximo encontro. Regadas a beijus, keterá (tipo de mingau à base de mandioca) e mara (mistura de água com mel de abelha silvestre), as primeiras oferendas duram até a manhã do dia seguinte. São nas noites de ritual que os homens semeiam as primeiras ramas de mandioca e rezam para a planta que chamam de “mandioca mãe”. Segundo a lenda, a primeira mandioca do mundo era uma menina que pediu à mãe que a enterrasse até o pescoço e ao pai que sempre lhe trouxesse peixe. Assim, ela produziria mandiocas para que não faltasse comida à família. Um dia, porém, uma mulher da etnia arrancou suas raízes. A menina morreu e, a partir daí, as mandiocas não nasceram mais sozinhas e os homens foram obrigados a plantá-las todos os anos. 22 ENAWENÊ-NAWÊ 23 À esquerda, pescador recebe sal vegetal produzido nos meses de preparo da festa Abaixo, rezas e cantos dão o tom do ritual Da mandioca e do peixe Nada pode faltar durante as celebrações. Por isso, nos três meses de pescaria dos Yãkwa, cabe às mulheres a preparação de toda a comida que será servida. A mandioca usada para fazer os beijus e os diferentes tipos de mingau é plantada na roça coletiva e só pode ser manuseada pelos escolhidos para ficar na aldeia e preparar a chegada do ritual: os Harikali. São eles os responsáveis por essas plantações e, desde que são eleitos, dão início ao trabalho de derrubada, queimada, limpeza e plantio da roça. Assim que foi escolhido pelos espíritos e pelo pajé para fazer parte do grupo anfitrião da festa, o jovem Kamamene engrossou o grupo dos Harikali e ajudou na plantação da mandioca. Pelos próximos dois anos, ele e outros 19 homens estarão incumbidos desse cuidado. “Todo o mundo tem sua vez de ser Harikali. Pra gente, tudo é importante. Agora é o momento de botar só a bebida para o Yãkwa, cuidar pra que não falte comida”, relata Kamamene. “É de responsabilidade do Harikali toda a estrutura da festa. Nunca falta comida. A gente já deixa tudo separado para a festa. Festejamos bastante, que é para ficarmos bem protegidos.” Apesar da abundância de alimentos na hora de festejar, para eles nunca há o bastante. Enquanto os Harikali dizem que a produção nas roças foi escassa, os Yãkwa dizem que não conseguiram trazer peixe suficiente para agradar aos Yakairiti. É quase um pedido de desculpas. Uma justificativa para que esses espíritos não pensem que os Enawenê-Nawê estão sendo ingratos. Mas essa satisfação dos espíritos também não dura muito. Logo após as chuvas, eles vão querer ser agradados novamente. Tempo de as famílias se reorganizarem, as tarefas serem distribuídas e o trabalho nas roças e nas barragens recomeçar, para a manutenção do equilíbrio no cotidiano dos Enawenê-Nawê. isolados ÍNDIO DO BURACO 24 vida em fuga Felipe Milanez Fotos: Arquivo Funai O sul do estado de Rondônia tem uma aparência triste nos meses da estiagem, que vai de maio a outubro. Em setembro de 2006, durante uma expedição da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, da Funai, na região de Corumbiara, as queimadas eram tantas que deixavam um espesso nevoeiro permanentemente sobre as longas planícies desmatadas. Não se enxergava poucos metros à frente sem que a visão ficasse embaçada. Numa paisagem sem cor, apenas negro e cinza, troncos retorcidos de castanheiras jaziam no curto horizonte que mais parecia um gigantesco cemitério do que a Amazônia. Mesmo no auge do dia, o sol que transparecia através da fumaça era de um vermelho fosco. No ar, um calor seco e áspero. Ao longo de uma estrada de terra castigada por pesados carregamentos de madeira, que 25 maltratava a caminhonete que transportava a equipe da Funai, alguns blocos de mata virgem apareciam de tempos em tempos, como ilhas de resistência, intensamente densas e verdes. Nesses resquícios de mato, as árvores são altas, imponentes, a desafiar a destruição assustadora que as circunda. Dentro de uma dessas ilhas de floresta amazônica nativa, cada vez mais rara, a expedição da Funai deu início, entre os dias 10 e 13 de setembro, à busca de vestígios recentes de um último indígena isolado na região de Corumbiara, o “Índio do Buraco” – assim chamado porque, no centro de suas moradias, há sempre um buraco profundo. Ele foi visto pela primeira vez, oficialmente, na seca de agosto de 1998, pelos indigenistas Marcelo dos Santos, atual coordenador da Coordenação Geral de Índios Isolados (CGII), e Altair Algayer, que hoje comanda a Frente Guaporé, naquele tempo chamada Frente de Contato do Guaporé. Depois dessa aparição, devido às graves ameaças que ele sofre por parte de madeireiros da região, foram desencadeadas constantes buscas, na tentativa de se estabelecer contato – todas elas frustradas. A partir de então, o papel da Frente passou a ser a vigilância e o monitoramento da área, de forma a garantir a integridade física do índio. A expedição, chefiada por Algayer, conseguiu confirmar as condições atuais de vida do índio solitário e seu provável local de moradia. Levandose em conta as possibilidades de extermínio que ele atravessou ao longo da vida e o fato de ser o último remanescente de um grupo desconhecido, esses vestígios encontrados assumem grande importância e enchem de estímulo quem luta pela sobrevivência física e cultural desse homem. Marcas da existência Com habilidade e vivência no mato, Algayer conseguiu encontrar uma clareira aberta poucas semanas antes, com dezenas de árvores derrubadas, que indicava o início dos trabalhos para uma roça. Nas pontas dos galhos quebrados, as folhas ainda estavam verdes. Os cortes tinham sido feitos por um machado afiado – provavelmente um presente deixado por uma expedição anterior. Algumas árvores de caucho tinham seus caules grosseiramente marcados para a extração do látex inflamável, retirado poucos dias antes, possivelmente para ser usado como lamparina. “Com isso, a gente pode notar que ele ainda está vivo e deve estar bem de saúde para ter feito essas marcas e essa derrubada”, analisava Algayer. Nas proximidades do local dos rastros, uma maloca Na página anterior, um dos poucos registros em video do “Índio do Buraco”, feito pelo documentarista Vincent Carelli Ao lado, vestígio do buraco de uma antiga casa do indígena antiga, já abandonada, com tocos de paxiúba fincadas no chão como paredes. O teto já havia cedido e, no interior, estava o surpreendente buraco de todas as suas moradias, profundo e misterioso. As valiosas informações dessa última expedição contribuem para o processo de regularização fundiária da área. De acordo com o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, a Funai é responsável pelo bemestar de todos os povos indígenas do Brasil. Isso inclui regularizar a posse das terras tradicionais bem como garantir a proteção do território e a integridade física de seus habitantes. Há mais de 60 indícios da existência de grupos indígenas isolados no País. A grande maioria está em terras indígenas já demarcadas, algumas para o uso exclusivo de grupos sem contato. Como no caso do “Índio do Buraco”, vários desses grupos estão em situação vulnerável e correm risco de contato violento com invasores. Pela nova política da CGII, o contato é feito apenas quando outras formas de proteção se tornam inviáveis – por isso, as frentes de contato passaram a se chamar frentes de proteção etnoambiental. A primeira visão Os indigenistas Santos e Algayer, estarrecidos com a violência que assolava a região de Corumbiara nas décadas de 1980 e 1990, passaram vários anos em expedições constantes para vasculhar todo punhado de mato em que esbarravam. Ouviam de peões de madeireiras boatos desconexos de que por aquelas bandas havia índios “bravos”, arredios. No final de 1995, conseguiram realizar os primeiros contatos com um desses grupos isolados. Entre os rios Pimenta Bueno e Corumbiara, localizaram uma pequena família de índios Kanoê. 26 Bastante assustados, os irmãos Tiramantú e Purá foram ao encontro da equipe da Funai. Em seguida, levaram Santos e Algayer a sua aldeia e os apresentaram à mãe e à tia. Eram os últimos remanescentes dos Kanoê. Um mês depois, os Kanoê guiaram a equipe da Funai até uma aldeia localizada a poucos quilômetros da sua. Nessa outra aldeia, então desconhecida, foi realizado o contato com seis índios Akunt’su. Eles carregavam em suas costas marcas de tiros, e os mais novos pareciam apresentar distúrbios emocionais, pois ficavam extremamente agitados na presença de brancos. Com a ajuda de um índio Mequém, que serviu de intérprete, os Akunt’su admitiram ter sofrido massacres e que quase todo o seu povo tinha sido assassinado a tiros. Nessas conversas, também deixaram claro que deveria haver ainda outro grupo indígena na área. Os indicativos materiais da existência do “Índio do Buraco” só foram encontrados quando as buscas se intensificaram, após o contato com os Akunt’su e os Kanoê, amplamente divulgados pela mídia. A equipe da Funai temia que os índios sofressem uma represália promovida por fazendeiros alarmados com a repercussão dos recentes contatos. A demora para encontrá-lo aumentava a agonia de um trabalho contra o tempo. O “Índio do Buraco” corria grave risco de ser exterminado. Em outra porção de floresta, Santos e Algayer toparam com uma casa de telhado de duas águas, cobertas de palhas de açaí, rodeada com varas enfiadas na terra. No interior dela, havia um buraco com mais de três metros de profundidade e um de diâmetro – o que jamais tinham visto antes. Na mesma hora, deram-se conta de que estavam diante de uma etnia desconhecida. Na primeira vez em que houve contato visual com indigenistas da Funai, o índio caminhava por uma trilha de caça para verificar se sua armadilha tinha capturado algum queixada. Era o mês de agosto de 1998, e o ar estava intragável pela fumaça e pela poeira. Os indigenistas já estavam há alguns dias na mata. Em certo momento, escutaram barulhos de folhas e, em silêncio, acompanharam o som, até chegarem a uma palhoça, diante da qual ele estava sentado. Quando foram ao seu encontro, ele entrou na casa. Parecia bastante assustado. A tentativa de contato se estendeu por horas. Os indigenistas tentavam falar, riam, ofereciam prendas, mas não conseguiam convencê-lo a sair. Ao contrário, ele apontava uma flecha através das palhas. A equipe não desistiu e continuou em frente à maloca. Os presentes amarrados a uma vara eram dilacerados por facão. ÍNDIO DO BURACO 27 No meio da mata, ele observa “o inimigo” (à esquerda), instante captado por Vincent Carelli “Um único indivíduo pode ser considerado como ‘povo’, se ele é o remanescente de sua cultura e etnia, condição que o distinga da coletividade nacional por seus costumes e tradições.” “Se alguém se aventurasse a entrar ali, certamente receberia o mesmo tratamento”, escreveu Santos no relatório dessa expedição apresentado à Funai. Sob a mira do índio, a equipe se retirou do local – o momento não era adequado para o contato. Poucos meses depois, em nova expedição num local próximo, houve o segundo contato visual dos indigenistas com o índio. A resistência dele era a mesma. Plantados em frente à maloca, semelhante à anterior, cuidavam para não assustá-lo. Em vão. Dessa vez, uma flecha foi atirada contra o cinegrafista da equipe, o indigenista Vincent Carelli, passando perto de seu tórax. Houve outras tentativas de contato, sem sucesso. Após a reestruturação da CGII, no início de 2006, a Funai decidiu respeitar o desejo do indígena de permanecer isolado. Quatro ou cinco vezes por ano, são organizadas expedições com o objetivo de fiscalizar a área e observar as condições de vida do índio solitário. “A interferência no território força os grupos isolados a estabelecerem, em algumas situações, o ‘nomadismo’ como mecanismo de sobrevivência. Nessas circunstâncias, a dificuldade da equipe de localização aumenta, uma vez que os indígenas desenvolvem a estratégia de camuflar sua presença na região. O desenvolvimento das atividades de localização pode ser entendido como uma ‘perseguição’, colocando as equipes em risco”, explica Santos. Esses atos arredios são plenamente compreensíveis para quem passou os últimos 20 anos em permanente fuga. Na região, especula-se que seu grupo possa ter sido envenenado por volta de 1985. Os índios, que mantinham relações cordiais de trocas com uma fazenda, foram surpreendidos por um novo administrador que, cansado do escambo, teria misturado veneno a uma porção de açúcar dada como presente. Depois disso, nenhum índio apareceu mais. Outra evidência de que seja um remanescente de massacre é uma aldeia destruída encontrada por Santos e Algayer, em 1996. No interior da Fazenda Modelo, um grupo de peões limpava uma área, supostamente para apagar vestígios indígenas. As rodas de trator amassavam a estrutura das casas que tinham, no interior, o mesmo buraco. Restos de flechas estavam quebrados no chão. “Ficamos indignados, achamos que tinham matado todos os índios”, conta Santos. Em depoimentos de moradores, dados sob anonimato, Santos e Algayer ouviram que jagunços invadiram a aldeia com tiros ao céu, botaram os índios para correr e atearam fogo em tudo que era de cultura indígena. Não se sabe se nesse episódio alguém morreu. O trauma dos “brancos”, no entanto, ficou na pele desse último indivíduo. Senhor de sua terra Desde que foram encontrados os vestígios que comprovam sua existência, o “Índio do Buraco” passou a enfrentar, sem saber, uma turbulenta batalha burocrática, no seio do Estado, pela sua sobrevivência física e cultural, na qual diversos atores debatem a proteção e a garantia de um território onde ele possa viver. Numa terra onde a lei da bala muitas vezes se sobrepõe às leis do Estado de direito, desenhar um território para ele tem sido um desafio ideológico imposto aos servidores da Funai, especialmente àqueles que trabalham no local e são constantemente ameaçados de morte, como é o caso de Santos e Algayer. Inicialmente, a área de mata onde o índio perambula foi interditada pela Justiça Federal em 1997. A proteção judicial foi prorrogada e a Funai iniciou o processo administrativo de demarcação. Pela lei, a terra em que vive deve ser de seu usufruto. De acordo com a diretora de Assuntos Fundiários da Funai, Nadja Bindá, “a terra é de propriedade da União, e ele deve permanecer ali até o fim de sua vida. Caso venha a falecer, a área continuará de propriedade da União”. Da mesma forma, o fato de ser uma única pessoa não deve interferir nesse processo. “Mesmo um único indivíduo pode ser considerado como ‘povo’, se ele é o remanescente de sua cultura e etnia, condição que o distinga da coletividade nacional por seus costumes e tradições”, define o procurador geral da Funai, Luiz Fernando Villares. A política da atual coordenação da CGII é intransigente no que diz respeito à livre iniciativa de contato com o indivíduo. É ele quem deve ter a opção de fazer contato com a sociedade envolvente. Em seu relatório sobre o contato visual que teve com o “Índio do Buraco”, em 1998, Santos descreveu: “Ele, no seu desespero e ódio, não deseja neste momento dialogar ou receber a visita de quem quer que seja. Esse é o seu direito, pois ele, mais do que qualquer um, sabe o que foi perder seus parentes e seu povo recentemente envenenado e baleado pelas mãos dos mesmos que agora aparecem como amigos para lhe ofertar ferramentas e comida. Ele está só e parece que quer morrer assim. É seu direito.” À esquerda, Bakwá recebe o carinho da mãe, sobrevivente Kanoê Ao lado, cotidiano de mulheres Akunt’su 28 29 a vida depois do massacre Renascimento Bakwá tem quatro anos, é uma linda criança Kanoê. Como muitas outras, gosta de brincar de bola, tanto com as de plástico, que ganhou de “brancos”, quanto com as de caucho, feitas por seu tio Purá. Também se diverte, ao atirar flechas para o alto e nas árvores – mais que uma diversão, um treinamento de vida –, correr no mato e pular no colo da mãe, Tiramantú. O pai, ele ainda não sabe quem é. Tiramantú, quieta, tímida, observadora, não gosta de falar a respeito do pai do menino, não se interessa em explicar aos brancos. Na pequena aldeia kanoê da Terra Indígena Omerê, Bakwá vive com a mãe e o tio. As outras pessoas que conhece são os funcionários do posto da Funai e os seis indígenas Akunt’su que, como ele e sua família, sobreviveram a massacres ocorridos nas últimas décadas no sul de Rondônia. Bakwá é uma esperança de futuro, que até poucos anos atrás parecia não existir. Os nove indígenas da T. I. Omerê representam um final relativamente feliz, considerando-se o que poderia ocorrer a qualquer índio sem contato que vivesse no sul de Rondônia. Os contatos com indigenistas da Funai, feitos em 1995, tornaram-se essenciais para a proteção da área que habitam. Foi a única forma encontrada para dar conta da truculência dos fazendeiros da região. A relação com servidores da Funai mostrou a esses índios que nem todo “branco” é igual. Eles ainda não entendem o papel e o funcionamento do Estado, mas de alguma forma sabem do poder que ele tem para administrar conflitos como os que tanto os afligiram. Baba, ou Konibu, é o líder dos seis Akunt’su. Sua idade aproximada é 70 anos. No cotovelo, uma cicatriz circular mantém viva a lembrança do sofrimento que viveu. Com gestos de mímica intercalados com algumas palavras de sua língua tupari, ele consegue explicar que foi perseguido dentro da aldeia, fugiu e, ao contrário das dezenas de pessoas de seu grupo, foi atingido apenas por um tiro. A marca é muito parecida com a que Popak, outro homem do grupo, de cerca de 40 anos, tem nas costas. Segundo Marcelo dos Santos, indigenista da Funai que fez contato com o grupo, a violência contra esses índios atingiu seu ápice com a invasão de sua aldeia por volta de 1985. Depois desse episódio, os poucos sobreviventes Akunt’su passaram a viver escondidos no mato e, com o passar do tempo, foram se tornando “gente invisível”. Uma situação que só mudou depois do contato com a Funai, em 1995. Morte e dor Foi no período dessa diáspora, em constantes andanças pelo território, que os Akunt’su passaram a conviver mais com os Kanoê. Além de viverem perto uns dos outros, o fato de compartilharem o mesmo temor dos “brancos” aproximou os dois grupos. Os Kanoê remanescentes não possuem sinais de tiro como os Akunt’su, que carregam as marcas da crueldade a que foram submetidos. A história dos Kanoê ainda é um mistério. As traduções precárias de seus relatos, sempre difíceis de serem lembrados e contados, indicam que, após a matança dos homens da comunidade, as mulheres decidiram abandonar a vida. Ingeriram veneno, que também deram às suas crianças. Sem uma razão aparente, sobraram dos Kanoê a mãe de Purá e Tiramantú, Iamoi, e uma de suas primas, Waimoró. Ninguém mais, de um grupo de aproximadamente 50 pessoas. Mesmo depois do contato, em 1995, o drama dessa família continuou. Obrigados ao convívio, a relação passou a ser tensa entre os Kanoê e os Akunt’su. Em 1998, em uma de suas constantes visitas à aldeia dos Akunt’su, Waimoró Kanoê foi assassinada pelos índios. Não se sabe a razão. A depressão familiar que se seguiu, acompanhada da impossibilidade de vingança, foi agravada por um outro fato. Quando os Kanoê começavam a se refazer da perda de Waimoró, a matriarca Iamoi e um neto de seis anos (nascido pouco antes do contato), filho de Tiramantú e, possivelmente, de Popak Akunt’su, faleceram por causa da malária, exatamente dois meses depois do nascimento de Bakwá, em janeiro de 2002. Dos últimos seis Kanoê, três faleceram. Entre os Akunt’su, a força da natureza trouxe o desastre para os sobreviventes. Em meio às chuvas do inverno de 1999, uma árvore caiu sobre a maloca de Konibu e sua família (a mulher Nontobia, as filhas, Inuntei e Inkó, e a velha matriarca Ururu). Ele teve o fêmur partido e uma neta de apenas sete anos, filha de Popak com Inkó, faleceu. A dor dividiu o grupo. Konibu teve de passar dois meses em recuperação pós-operatória na cidade de Vilhena – ele jamais tinha visto uma cidade na sua vida. As mulheres entraram em desespero e choravam todos os dias no posto da Funai, à espera de notícias. “Popak tentava tocar a bola pra frente, caçando, dizendo às mulheres que o mundo não havia acabado”, recorda o indigenista Altair Algayer, naquele tempo chefe do posto da T. I. Omerê e ombro amigo de Konibu. A vida e a morte entre essas duas comunidades indígenas remanescentes do sul de Rondônia desperta questões fundamentais da existência. Apesar da dor, são donos, em sua cultura e vontade de beleza, de uma força de viver ímpar. “Todo dia, toca flauta, chora e dorme”, conta Purá em português, com dificuldade, sentado em sua rede. A flauta de seis furos, de diferentes tamanhos, é tocada com maestria dentro da organizada maloca que divide com Tiramantú e Bakwá. Veste roupas ganhas. E interessa-se por tudo o que é cultura dos “brancos”. Conta que desde pequeno foi assim. Subia nas árvores altas e passava o dia espiando os peões a tocar o gado. Ficava quieto. Nem sua mãe podia saber. Ela dizia que os “brancos” eram maus, que deles Purá não podia pegar nada, nem os plásticos que catava no chão para transformar em colares. Levou uma bronca da mãe, Iamói, quando, um dia, trouxe dois brancos para a aldeia, junto com Tiramantú. Demorou a convencê-la de que, daquela vez, eles eram bons. Marcelo dos Santos e Altair Algayer, junto com o cinegrafista Vincent Carelli, mostraram para todo o País a beleza dos Kanoê e o sofrimento dos indígenas da região. Era agosto de 1995, período de seca. A já falecida Waimoró guiou-os até os Akunt’su. Convenceram Popak de que aqueles brancos eram bons, de que o grupo não era igual aos assassinos. Popak depois convenceu o chefe e xamã Konibu, e o grupo rendeu-se. De uma vida fugitiva e nômade, passaram a habitar o espaço de mato onde “esses homens bons” diziam não haver perigo. Compreenderam que deviam evitar os pastos e os peões. E que nessa terra, homologada em abril de 2006, poderiam viver da forma como bem entendessem. A guerra havia acabado. O medo constante e a fuga poderiam, enfim, dar lugar à vida. terra 30 INÃWÉBOHONA Região oeste do estado de Tocantins Municípios Pium e Lagoa da Confusão Área 377 mil hectares População cerca de 450 pessoas Etnia Javaé, Karajá e Avá-Canoeiro Língua karajá, tronco macro-jê a ilha dos aruanãs Felipe Milanez Fotos: Arquivo Funai Aruanãs tomam o pátio da aldeia na festa da homologação É a maior ilha fluvial do mundo, repleta de lagos e rios e de uma deslumbrante diversidade de flora e fauna. A Ilha do Bananal chama a atenção pela beleza, com longas pastagens naturais intercaladas por áreas de cerrado baixo e mata alta nas margens dos rios. Na estiagem, areias fofas formam lindas praias, escolhidas pelas tartarugas para a desova. Em meio a toda essa natureza, na bacia do rio Araguaia, vivem os Aruanãs. Seres mitológicos, os Aruanãs preferiram viver num mundo subterrâneo, em busca de fartura e eternidade. Aqueles que vieram para a superfície se transformaram em Javaé – ou, como eles mesmos se denominam, Itya Mahãdu, “o Povo do Meio”, que vive entre o subterrâneo e o céu. Além de santuário ecológico, a Ilha do Bananal é repleta de mitos que conciliam o encanto das paisagens com a cosmologia dos povos Javaé, Karajá e Avá-Canoeiro. A conjugação destas perspectivas – cultural e ecológica – enriquece ainda mais o Brasil com uma área de proteção ambiental formada pela sobreposição de terras indígenas ao Parque Nacional do Araguaia, criado em 1959, que ocupa pouco mais de um quarto dos dois milhões de hectares da Ilha. Em 18 de abril de 2006 foi homologada a Terra Indígena Inãwébohona, às margens do rio Javaé, dentro da unidade de conservação e logo a leste da Terra Indígena Parque do Araguaia. O parque indígena é majoritariamente habitado pelo povo Karajá no lado do rio Araguaia, mas tem importantes aldeias dos Javaé, como Canoanã. Essa nova ampliação de área indígena dentro da Ilha vem englobar duas importantes aldeias javaé, Boto Velho e Txoudé, além da recém-criada Wahatãna. Juntas, elas possuem 450 habitantes. Como ainda há outras comunidades javaé que ficaram fora de Inãwébohona, já está em estudo de identificação o restante do Parque Nacional que ainda não é terra indígena, no extremo norte, e que será demarcado com o nome de Utari Wyhyna-Hirari Berena. Na aldeia Boto Velho de Inãwébohona, em 14 de julho, dois Aruanãs saíram das profundezas da Ilha para levar proteção e fartura à comunidade javaé. Cobertos por uma bela máscara de palha e penas de arara, dois homens representavam os espíritos e dançavam pelo pátio central, acompanhados por duas meninas-moças. Tratava-se de uma festa única: comemorar a homologação da terra. Além dos Javaé da aldeia Txoudé, compareceram à cerimônia parentes Karajá, índios Xerente e autoridades, como o presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Mércio Pereira Gomes, o embaixador da Austrália, Peter Heyward, e alguns políticos, entre eles, José Hani Karajá, vereador indígena do município de Lagoa da Confusão. Luta e reconhecimento “Este é o resultado de uma luta política de mais de 30 anos pelo nosso território tradicional”, lembrou, na abertura da cerimônia, o cacique de Boto Velho, Wagner Javaé. Liderança jovem na aldeia, Wagner passou a palavra para os mais velhos Miguel e Ronaldo, pessoas de destaque nessa batalha. “Sofremos muito com posseiros e invasores, e depois ainda tivemos de provar que cuidamos bem de nossa terra para poder viver nela, mostrar que sabemos como caçar e pescar com responsabilidade”, afirmou Miguel. Como era área de preservação, os índios temiam que não pudessem viver ali do modo como sempre viveram, fazendo roças, pescando, caçando, o que causou a estranheza descrita pelas lideranças. Entretanto, num primeiro momento, a iniciativa ecológica constituiu-se em uma importante forma de proteção territorial. Ao menos dificultava a entrada desenfreada de invasores a seus campos, ideais para a pecuária. Apenas com a 31 32 INÃWÉBOHONA 33 “Sofremos com posseiros e depois ainda tivemos que provar que cuidamos bem de nossa terra para poder viver nela, que sabemos caçar e pescar com responsabilidade.” Constituição Federal de 1988 foi possível a transferência da posse da terra, que já era da União, para os índios, o que serviu para mobilizá-los para a luta por seus direitos. Nas discussões políticas durante o processo de homologação, prevaleceu a tradicionalidade da ocupação, prevista no artigo 231 da Constituição. Colonização em etapas Há centenas de anos os Javaé conhecem a sociedade nacional. Contudo, até o início do século, preferiam o isolamento. Toparam com bandeiras paulistas nos anos 1700, mas só foram contatados dois séculos depois, pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), órgão antecessor da Funai. Coincidiu, nesse período, uma incipiente ocupação da área por não-índios. Durante a ditadura do Estado Novo, entre as décadas de 1930 e 1940, o Governo de Getúlio Vargas explorou a imagem dos Karajá, dos Javaé e dos Xambioá – considerados povos irmãos e falantes da mesma língua – em meio ao ideal nacionalista que promovia projetos de colonização. Abertura de estradas, pistas de pouso e outras obras de infra-estrutura facilitaram a expansão da agropecuária e aqueceram a especulação imobiliária. O impacto sobre os habitantes originários da Ilha do Bananal foi desolador: violência, disputas com posseiros, epidemias e uma triste perda populacional. De acordo com o estudo de identificação da área feito pelo antropólogo André Toral, o curso demográfico negativo na vida dos Javaé somente foi invertido no início da abertura política nos anos 1980, com um processo de retomada cultural que fortaleceu o grupo. Pela primeira vez na sua história, os Javaé começaram a viver um tempo de recuperação populacional. Os rituais voltaram a ganhar importância na vida comunitária e, com o fortalecimento de sua identidade, eles conseguiram também dar início à retomada de algumas áreas invadidas. O conflito estava conflagrado, uma vez que, no ápice da pecuária, a Ilha chegou a abrigar mais de cem mil cabeças de gado e 700 famílias. Uma parte da exploração pecuária era incentivada pela política do SPI e, posteriormente, na época da ditadura militar, pela Funai, que intercedia junto aos fazendeiros para arrendar terras e utilizar o dinheiro para investimento nas aldeias. Com a ajuda do Ministério Público, a Justiça foi mobilizada para pôr fim a essa prática e determinar, legalmente, a retirada dos não-índios da Ilha. Entretanto, sem outra alternativa econômica, algumas comunidades continuaram permitindo a presença do gado em troca de dinheiro, assim como aceitando a pesca e a venda do valioso pirarucu, hoje proibidas por lei. Mesmo sendo área de preservação, o Ibama local não conseguia impedir essa exploração. Com a obstinação dos mais velhos, como os caciques Ronaldo e Miguel, o caminho da degradação tomou outro rumo. Ronaldo, hoje em cadeira de rodas devido a um acidente de carro, está feliz por ter conseguido assistir à garantia da terra javaé. “Depois de tanto sofrimento de nosso povo, o direito sobre o nosso território vai dar a chance pra gente de uma vida nova”, afirma. Persistentes, os Javaé enfrentaram batalhas sem abrir mão de sua identidade cultural, que continua a ditar o ritmo da vida comunitária. “Este povo soube, como poucos, manter a integralidade de uma das mais ricas culturas de nosso País, com luta e resistência reconhecidas pelo direito nacional”, disse o presidente da Funai, Mércio Gomes, na festa da homologação. “Mostraram a toda a humanidade a grande habilidade que possuem com suas longas canoas, o conhecimento sobre as águas, as cheias, a agricultura em terrenos difíceis, e encantaram desde os primeiros contatos com a beleza de seus rituais e a riqueza de sua vida espiritual”, complementou. Hoje, o desafio dos Javaé é conseguir implantar atividades econômicas que conciliem a satisfação de suas necessidades com seu modo de vida tradicional, sem agredir a natureza. Projeto de futuro Com a homologação, os Javaé ganharam ânimo para buscar essas alternativas, segundo Ronaldo. Uma postura diferente das tentativas anteriores, que levou a uma exploração desenfreada dos recursos da Ilha e ainda seduz os mais novos. Segundo o decreto homologatório presidencial, a administração do Parque Nacional do Araguaia será compartilhada por Funai, Ibama e comunidades dos Javaé, Karajá e Avá-Canoeiro. Recentemente, lideranças indígenas assinaram um acordo, comprometendo-se a interromper definitivamente o arrendamento para a pecuária, reconhecendo que a prática traz poucos benefícios financeiros, em vista dos danos ao meio ambiente e a sua cultura. A alternativa oferecida tem sido projetos de vigilância e de exploração sustentável. O principal plano em curso envolve recursos da ordem de R$ 400 mil, oriundos do Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) – um financiamento do Governo alemão junto à Funai –, aplicados em parceria com a Associação Ilha Verde, da aldeia Txoudé. O objetivo é incentivar atividades que exijam um deslocamento constante pela Ilha, tais como a pesca, a produção de mel e a colheita de material para confecção de artesanato. Além de facilitar a vigilância e dificultar as invasões, é possível extrair renda de forma sustentável. “A comunidade está empenhada em discutir novos projetos”, afirma Henrique Cavalleiro, técnico do PPTAL. “Já estamos conseguindo combater as caravanas, que são as levas de turistas que entram na época de seca para pescar nos lagos da Ilha e saem de lá com toneladas de pirarucu”, diz. Como seus Aruanãs, os Javaé querem fartura. Na festa da homologação, não faltaram peixes moqueados e tartarugas, o prato mais apreciado, acompanhados de farinha de mandioca. Tinha também carne de gado, fonte de proteína já incorporada à dieta do grupo. Sob a proteção dos Aruanãs e puxados pelo cantador Juarez Uraiá, os Javaé celebraram a reconquista de seu território. “Agora é hora de festa, de comemorar e de olhar para frente”, vibrava o cacique Miguel. terra 34 KIRIRI Região noroeste da Bahia Municípios Banzaê, Quijingue, Ribeira do Pombal e Tucano Área 12.300 hectares População aproximadamente 1.700 pessoas Etnia Kiriri Língua português 35 Índios Kiriri em 1968 e hoje, depois da retomada o renascer de mirandela Christiane Peres Fotos: Arquivo Funai No meio do semi-árido nordestino, um povo renasce de um passado sofrido e orgulha-se de poder expressar sua origem sem medo. Em pleno centro do octógono que forma a Terra Indígena Kiriri está Mirandela: sua principal aldeia, localizada no noroeste da Bahia. É lá que os índios cultuam, semanalmente, ritos incorporados depois da reconquista de suas terras. Todos os sábados, ao fim dos dias quentes do sertão, a celebração do Toré tem início. Eles vão dançar e cantar em reverência aos “encantados”, como chamam seus espíritos protetores. Assim, durante horas e mais horas de agradecimentos e oferendas, essa comunidade se reafirma como indígena, após séculos de perseguições. Os cânticos, hoje entoados em claro português, já que a língua materna foi perdida nos idos de 1800, referemse, muitas vezes, à história de luta e resistência desse povo que enfrentou fortemente as investidas de colonizadores, fazendeiros, posseiros e religiosos que tomaram suas terras logo após o “Descobrimento”. Desse período, só restaram as pequenas vilas coloniais que se transformaram em aldeias. Hoje, senhores do pedaço de chão de onde foram expulsos, os Kiriri reconstroem sua história, quase perdida no tempo. Em poucos dias, eles vão relembrar esses momentos, ao festejarem 11 anos da reconquista de Mirandela. O vilarejo vai acordar mais uma vez ao som de flautas, chocalhos e zabumbas acompanhados por cânticos ritualísticos, para celebrar o feito ocorrido em 11 de novembro de 1995. Um grito de protesto Após séculos de resistência, os Kiriri reconquistaram e reocuparam seu território central, que estava nas mãos de não-índios e já abrigava um município inteiro. Mirandela é o coração da Terra Indígena Kiriri, distante cerca de 20 quilômetros do município de Ribeira do Pombal, importante centro econômico da região. Até 1995, essa área entre o agreste e a caatinga estava ocupada por posseiros e fazendeiros que ali ergueram povoado, posteriormente elevado a distrito de Ribeira do Pombal. Na década de 1980, para desespero dos nativos, a vila quase foi emancipada, o que a consolidaria como município e usurparia de vez o solo dos indígenas. A proposta chegou a ser colocada em votação na Assembléia Legislativa da Bahia. Os Kiriri conseguiram, entretanto, que ela fosse alterada, fazendo valer o argumento de que aquela região se tratava do centro da terra indígena destinada a eles desde 1700, quando o rei de Portugal destinou uma “légua em quadra” a todas as aldeias do sertão com mais de 100 casais – o que corresponde a uma área de 12.320 ha. Dessa forma, ocorreu uma solução intermediária: a emancipação do distrito, mas com a transferência de sua sede para o povoado de Banzaê, núcleo exterior à área indígena. A insatisfação tomou conta de todos. Dos 13 pequenos povoados que formavam Banzaê, oito eram indígenas, somando 75% da área total do município. Por isso, um estado crescente de tensão se estabeleceu e Mirandela se tornou frente de resistência da luta dos Kiriri pela reconquista de suas terras. “Foi uma tragédia “Para construir cercas, limpar capinais e plantar, eles dizem ‘Chamem os índios!’. Mas, quando o assunto é terra, logo dizem ‘Aqui não tem mais índio. Esse negócio de índio é lá pro Amazonas!’” essa época. A gente vivia passando fome, era maltratado, vivia como escravo. Mas um dia a gente sonhou que tudo ia mudar e mudou”, relembra o cacique Lázaro Gonzaga, que liderou a mobilização pela retomada. Hoje o povo Kiriri é visto como exemplo de luta para as demais comunidades indígenas localizadas na região Nordeste. No espaço de 15 anos, eles se estruturaram politicamente e promoveram, em fins dos anos noventa, a extrusão de cerca de 1.400 não-índios que ocupavam suas terras, homologadas desde 1990. Sertão bruto Até que os índios conseguissem recuperar seu território, muita coisa aconteceu. Preconceitos, rixas, perseguições, mortes. Palavras tristes, mas que se tornaram comuns no vocabulário desses indígenas. Quando os colonizadores conquistaram o sertão, formando cidades e vilas, plantando canaviais, extraindo metais preciosos ou criando gado, impunham a autoridade do rei, difundiam a fé cristã e transformavam índios e negros africanos em escravos. Cenário que remonta a um passado distante; porém, no KIRIRI caso dos Kiriri, faz parte de sua história recente. Esses índios chegavam a passar fome, pois suas plantações eram insuficientes para o sustento de suas famílias. Lazinho, como é chamado o cacique, fala dos “tempos difíceis”, quando tudo era pretexto para matanças e perseguições. “Antes era difícil ser índio. Nos matavam sem motivo. Nós, os índios, fomos obrigados a trabalhar nas fazendas. Éramos escravos. A gente carregava pedras para construir igrejas. Nossa cultura era deixada de lado e nos forçavam a nos adaptar ao mundo e costumes dos brancos.” A cultura negada só era lembrada quando interessava aos fazendeiros. “Para construção de cercas, limpeza de capinais e plantios, eles dizem ‘Chamem os índios!’. Mas quando se trata de assuntos de terras que pertencem aos ditos índios, logo dizem ‘Aqui não tem mais índio. Esse negócio de índio é lá para o Amazonas’”, relatou o sertanista Cícero Cavalcante, quando passou por esses lados em 1968. A insistência de que no local não existiam mais índios era a garantia da permanência dos grupos invasores na região. Mas os estudos antropológicos comprovavam a imemorialidade da ocupação daquele território. Entretanto, nada disso parecia importar aos fazendeiros, que ignoravam os pagamentos das indenizações feitos pela Funai e continuavam nas terras. Cansados de esperar pela “justiça do branco”, os índios resolveram recuperar o que era seu. Segundo o administrador regional da Funai de Paulo Afonso, João Valadares, a retirada dos fazendeiros foi um processo difícil e resultou, inclusive, na divisão dos Kiriri em dois grupos: os de Mirandela, seguidores de Lázaro, e os de Araçá, liderados pelo cacique Manoel. “Cada grupo escolheu uma forma de lutar. Enquanto o grupo de Lázaro cansou de esperar pelas alternativas legais e resolveu tirar os intrusos com as próprias mãos, mesmo que para isso fosse preciso usar a violência, o grupo de Manoel optou pelo caminho legal da retomada. Pressionava a Funai, mas não aderiu à luta armada de Lázaro. Foi uma verdadeira guerrilha. Os homens de Lázaro saíam no meio da noite armados. Era tiro que não acabava mais entre os índios e os fazendeiros”, conta. Em 1995, após o agravamento do conflito com a morte de um índio, a Polícia Federal foi enviada ao local, dando início ao longo processo de retirada e real transferência dos fazendeiros, posseiros e outros antigos intrusos da terra Kiriri. Processo que só foi terminar em 1998, mas que marcou a posse definitiva do território pelos Kiriri. 37 Na aldeia Mirandela, os índios exibem sua cultura, sob a liderança do cacique Lázaro (à direita) Ricardo Roque/Arquivo Funai 36 opinião KIRIRI 38 Índias dançam Toré afinal, o que é ser índio? Vanessa Caldeira* recuperada? Como “provar” a identidade indígena desse povo? Logo após a retomada, Lázaro enxergou a necessidade de resgatar ou produzir em seu povo alguns dos traços e valores considerados pela sociedade nacional como tradicionais da “identidade” indígena, tais como rituais e atividades comunitárias. “Como os Kiriri já não tinham memória de seus rituais e tradições, Lázaro foi buscar uma referência ritualística nos Tuxá, também da Bahia. Foram aprender e apreender os elementos do Toré para reconstruir sua história como povo”, afirma a antropóloga Sheila Brasileiro, que pesquisou por mais de dez anos a etnia. O Toré é um ritual característico dos índios do Nordeste. Uma das formas de manter a identidade de um povo. Nele, os índios pedem saúde, boa colheita e proteção. Segundo Sheila, sem o Toré, boa parte do foi recuperado pelos Kiriri se perderia. “Eles são como esponja, absorvem tudo que vêem em outros grupos e transformam.” Hoje, o que se observa na aldeia é uma verdadeira mistura de comunidades indígenas. Influências xavante, tuxá, fulni-ô, kayapó. Tudo vale. Tudo faz parte da reconstrução. Afinal, afirmar uma identidade étnicocultural é assegurar certa originalidade, diferença e, ao mesmo tempo, semelhança. Por serem dinâmicas, as culturas estão em constante transformação, o que faz com que hoje seja quase impossível reconhecer uma cultura que não esteja em inter-relação com outras. No dia-a-dia, roupas de palha são usadas por todos; nas roças comunitárias, os índios se revezam na plantação de feijão, mandioca, milho, e redes na hora de dormir dão fim ao dia. “Reconquistar nosso território teve grande importância. Hoje a gente tem um meio de viver, de retomar nossa cultura. Temos sementes, madeira, ervas, caça. Aos poucos estamos recuperando nosso território que foi tão devastado pelos brancos. Hoje temos tudo que a gente precisa para reforçar nosso modo de vida”, diz Lázaro. “Temos a sensação de que agora eles querem tirar esse atraso e mostrar que são índios. Resgatar isso a todo custo. Por eles terem características físicas muito fortes, parecem buscar sua identidade com mais força”, analisa a psicóloga Izabella Cunha, que estudou os hábitos da comunidade no início deste ano. Numa atitude notável, os Kiriri conseguiram um feito pouco comum: resistiram ao tempo, superaram os obstáculos da retomada e reafirmaram sua origem. Hoje, com mais de 1,7 mil indivíduos, o que realmente vale para esse grupo, independentemente dos julgamentos e comparações com outras etnias, é a liberdade de se autodenominar índio: direito que lhes foi negado durante séculos após o Descobrimento. Ricardo Roque/Arquivo Funai A gente é índio O que fazer agora que a terra foi O imaginário nacional ainda está permeado por um modelo único e cristalizado do que é ser “índio”. Para a maioria dos brasileiros, ser indígena ainda significa possuir imagem semelhante àquela que as fontes históricas registraram há aproximadamente 500 anos. Essa imagem de índio – corpo nu, cabelo liso e preto, habitante das matas, falante de língua exótica – recai como forte cobrança para os povos indígenas contemporâneos. Quem não se encaixa comodamente nesse estereótipo facilmente sofre a suspeição: mas ele ainda é índio? É índio de verdade? Curioso, se pensarmos que à nossa própria condição não aplicamos a mesma lógica. Não questionamos ou temos nossa “identidade” cultural colocada sob suspeita simplesmente porque não possuímos imagem similar à dos nossos antepassados. Ao olharmos os retratos dos nossos avós ou bisavós, estranhamos os trajes, utensílios domésticos, transportes, mas não deixamos de reconhecer nessas imagens algo que faz parte de nós. As diferenças não anulam o sentimento da pertença, justamente porque o que constitui a identificação e a construção da vida coletiva vai além do que é aparente. Em 1997, durante a Semana dos Povos Indígenas, em Minas Gerais, tive a oportunidade de ouvir o indígena boliviano Carlos Intimpampa falar a respeito da resistência que as sociedades não-índias possuem em (re)conhecer os povos indígenas contemporâneos. Mediante o violento processo colonizador, os europeus disseram que os hábitos e crenças dos povos que aqui encontraram não eram “aceitáveis” e que era necessário que os indígenas falassem o seu idioma, rezassem para o seu Deus, comessem o seu tipo de comida, usassem o seu tipo de roupa. Os casamentos interétnicos foram estimulados como política de dominação, integração e assimilação. Após cinco séculos de imposição, indígenas possuem cabelos crespos ou loiros, usam camisetas, falam português, comem alimentos industrializados, usam celulares. No entanto, não é mais isso que se deseja dos povos indígenas. Desejase que eles retornem àquele modelo e àquela imagem de 39 IDENTIDADE INDÍGENA cinco séculos atrás. Carlos Intimpampa então questionou: “O que vocês querem, afinal?!” Segundo ele, historicamente cobra-se dos povos indígenas que eles sejam exatamente diferentes do que são, porque é assim que se estabelece e se mantém uma relação de dominação: nega-se o sujeito. Para ele, enquanto os povos indígenas não conseguirem garantir o (estranho) direito de serem o que são, a relação de submissão historicamente existente dificilmente será superada. O Brasil presenciou, nas últimas décadas, a proliferação de identidades indígenas. Povos que não eram reconhecidos como tal ou que foram considerados extintos pela historiografia oficial anunciaram sua origem e reivindicaram direitos. A reação da sociedade – e aí o Estado possui papel de destaque – foi de suspeição e descrédito em relação a essas coletividades. Muitas vezes, tratados como “falsos índios” em busca de acesso a direitos especiais, eles sofreram discriminação e percorreram longa trajetória para se fazerem ouvidos. Estabeleceram uma relação singular com sua origem. E é com base nessa relação que esses povos têm elaborado sua razão de ser. Em função de uma origem pensada como comum e pré-colombiana, uma história compartilhada – marcada pelo processo de submissão e espoliação –, esses povos reivindicam destino comum e distintivo do restante da sociedade nacional, e possuem um forte senso de originalidade e solidariedade coletivas. Segundo o antropólogo João Pacheco de Oliveira, identificar-se como indígena, nos dias de hoje, não pode ser entendido como simplesmente a busca por copiar modelos ou padrões que existiram no passado. Identificarse como indígena é algo muito mais profundo do que “resgatar” um antigo modo de ser, como se o tempo e a História não tivessem imprimido suas marcas. Identificarse como indígena supõe utopia, modo de ser e de encarar o futuro com base no passado, nessa origem pensada como comum e anterior ao período do contato. Ser indígena vai muito além de uma imagem. Muitos são os povos que lutam por poderem ser como são e ainda assim serem reconhecidos como indígenas pela sociedade. Se o nosso desejo é de fato romper com séculos de dominação e colonização na História brasileira, faz-se urgente ouvir esses legítimos sujeitos históricos, para nos despir de nossos (pré)conceitos e assim compreendermos quem são os povos indígenas no Brasil nesse limiar de século. * Vanessa Caldeira é mestranda em Ciências Sociais da PUC–SP. geral crua realidade Júlia Magalhães Na aldeia Umariaçu I, terra indígena Ticuna, na pequena cidade de Tabatinga, tríplice fronteira do Amazonas com Colômbia e Peru, uma kombi velha, o mais popular transporte público da região, leva alguns índios em direção a Leticia. Maior município da floresta amazônica na Colômbia, Leticia é a irmã siamesa da brasileira Tabatinga, separadas apenas por uma avenida. Tabatinga é um aglomerado urbano no meio da selva. Apesar da imensa mata tropical que a rodeia, a cidade tem trânsito de motos, ruas asfaltadas, um mercado de peixe e muitas barracas de comércio. Ainda assim, a infraestrutura é precária. A aldeia fica a pouco mais de três quilômetros do quartel do Exército brasileiro, uma das principais referências da cidade. No caminho para lá, muitas casas de palafita. Uma gente pobre, que luta para sobreviver. A paisagem não muda quando ingressamos na terra dos Ticuna. O mesmo tipo de casas, de madeira e estrutura frágeis. Umas coladas nas outras. A placa de metal da Funai indica que ali começa a área demarcada. Os dizeres “Proibida a entrada de pessoas não autorizadas” já estão enferrujados pela ação do tempo. Ali entra-se com facilidade. Na aldeia, pouca vegetação, algumas vendas de produtos industrializados, cartazes e bandeiras de candidatos a deputado, afinal, em época de eleições, os Ticuna também se mobilizam para a campanha de políticos já conhecidos no estado. Naquele dia quente, os índios preparavam-se para uma reunião de grande importância para a comunidade: aguardavam ansiosos funcionários da Funai e da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) para a apresentação de um projeto que pode ser o primeiro passo para uma profunda transformação de sua realidade. Assim como os Guarani e Terena da Reserva de Dourados, em Mato Grosso do Sul; os Kaingang de Mangueirinha, no Paraná; os Pataxó de Coroa Vermelha e Barra Velha, na Bahia, e PROJETO ANTIDROGA 41 Roger Sassaki os Xacriabá de São João das Missões, em Minas Gerais, os Ticuna de Tabatinga foram selecionados para participar do projeto piloto desenvolvido por uma parceria da Funai com a Senad. O maior objetivo: identificar o padrão do consumo de álcool e drogas nas aldeias e estimular a comunidade a buscar soluções para o problema. “Tanto a Senad quanto a Funai entenderam que era importante realizar um estudo nesse sentido, já que muitos grupos indígenas são afetados pelo problema do alcoolismo e do consumo de drogas. No entanto, era preciso ir além de um simples estudo. Juntos, pensamos em um projeto mais amplo. Afinal, de que iria adiantar um levantamento como esse se depois o governo não propusesse nenhuma solução para os índios?”, conta Helena de Biase, da Coordenação Geral de Educação da Funai, responsável pelo projeto junto à Senad. A idéia nasceu de uma demanda dos próprios povos indígenas durante os 51 Encontros entre Jovens Indígenas em Situação de Risco Social, promovidos pela Funai no fim de 2004 e ao longo de 2005. Praticamente todos os 5.458 índios, entre jovens, líderes, professores, agentes de saúde, homens e mulheres abordaram o tema e disseram que o alcoolismo nas aldeias era uma das principais causas da desunião da família, do abuso e da exploração sexual, do aumento da violência e da criminalidade, da fragilização da coletividade, do desemprego e do aumento de doenças sexualmente transmissíveis nas aldeias. A partir desses resultados, a Funai pediu ajuda para a equipe da Diretoria de Prevenção e Tratamento da Senad. Mas, antes de qualquer atividade, era preciso realizar uma pesquisa sobre o tema nas aldeias, já que o governo não possuía uma base de dados relacionada ao consumo de álcool e outras drogas nas comunidades indígenas brasileiras. “O senso comum sempre nos diz que existe muito problema dentro dessas comunidades, mas a gente deve trabalhar baseado em evidências. Nós precisávamos conhecer essas comunidades, até para considerar as especificidades de cada região e as questões sociais e culturais dos índios. A pesquisa faz um levantamento mais profundo, além de coletar dados sóciodemográficos, do consumo do álcool e de outras drogas. Sem dúvida, pelos relatos da própria Funasa (Fundação Nacional de Saúde), o álcool representa o grande problema entre eles. Até aí, a gente não sabia como era esse consumo e assim decidimos fazer um estudo mais detalhado. Isso quer dizer pesquisar como bebe, quanto bebe, com que freqüência... ter uma radiografia disso”, explica a diretora técnica da Senad, Paulina Duarte. A pesquisa é realizada em conjunto com especialistas da Universidade Federal de São Paulo. A seleção das cinco aldeias que fazem parte do projeto piloto foi feita pela própria Funai, com base na análise das discussões durante os encontros com jovens. “Os Ticuna, por exemplo, estão numa região de tríplice fronteira. É uma das principais entradas de entorpecentes do País. É claro que eles ficam vulneráveis a isso. Já os Pataxó ficam numa área litorânea de intenso turismo, onde a oferta de álcool e drogas também é muito grande. Os Kaingang, os Guarani e os Terena são afetados por fatores históricos, de como o contato foi estabelecido com eles. Alguns historiadores dizem que esses índios foram literalmente amansados com cachaça”, esclarece Helena de Biase. Se a primeira fase do projeto é aplicação de questionários para identificar o padrão de consumo de álcool e drogas nas aldeias, a segunda é a apresentação dos resultados obtidos pela pesquisa. É extremamente importante que os índios tomem conhecimento do que foi descoberto pelas equipes do Governo Federal. Então, serão selecionados e capacitados alguns representantes indígenas para assumirem o papel de moderadores das terapias comunitárias. “Lamentavelmente, o uso de drogas ainda está muito associado a uma questão moral , de comportamento e caráter. Por isso, adotamos a terapia comunitária, que é uma técnica desenvolvida para que a própria comunidade discuta e busque alternativas para seus problemas”, diz Paulina O procedimento da terapia comunitária é desenvolvida em parceria com o professor Adalberto Barreto, da Universidade Federal do Ceará. Ele costuma dizer que “quando a boca cala, os órgãos falam, e quando a boca fala, os órgãos saram”. Segundo ele, problemas que afetam o equilíbrio e a harmonia podem adoecer uma comunidade. O professor e psiquiatra já trabalhou em vários projetos da Senad, que capacitaram até agora 720 terapeutas. “Nós não queríamos colocar um grande especialista nas aldeias. Era preciso pensar junto com eles”, diz Paulina. Administrador regional da Funai em Tabatinga, o indígena Ticuna David Félix acredita que esse projeto possa contribuir para a retomada da harmonia na aldeia. “O indígena não tem dinheiro. Por que vai gastar o pouco que tem com bebida, quando poderia comprar comida para os filhos? Está errado, precisamos pensar sobre isso com cuidado”, disse, durante a reunião de apresentação do projeto. Já o cacique Osvaldo demonstra insegurança quanto ao sucesso do trabalho. “Adianta agora, hoje. Daqui a uma semana todo o mundo já esqueceu. Eu mesmo chamei para a reunião agentes de saúde e professores que nem apareceram. Pra mim, a única coisa que resolveria o problema do álcool e das drogas seria uma investigação policial”, fala indignado. Mas será esse o caminho? Quais motivos levam uma comunidade inteira a sofrer com algo tão grave? O que está por trás de tamanho desequilíbrio social? O debate já começou. O problema não afeta todos os povos indígenas do Brasil, mas aqueles que vivenciam um cotidiano de tensão e desavenças por conta do consumo dessas substâncias procuram ajuda desesperada nos órgãos governamentais, nas igrejas e em outras instituições. Só na Aldeia Umariaçu I existem quatro igrejas, cada uma de uma religião diferente. “As igrejas, por exemplo, podem até ajudar, mas acabam por atrapalhar, quando não desenvolvem um trabalho humanitário e só querem saber de proibir a cultura do índio. Eu tenho esperança de que a Funai possa ajudar, principalmente investindo em educação”, fala o professor indígena Reinaldo do Carmo. Este é o ideal da parceria entre Funai e Senad: antes de um trabalho voltado para a saúde pública, o Governo está desenvolvendo um projeto ligado à educação, de conscientização dos índios para a realidade em que vivem. opinião DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO desafios à produção indígena Ivan Abreu Stibich José Augusto Lopes Pereira* A Coordenação Geral de Desenvolvimento Comunitário (CGDC)** da Funai tem trabalhado, ao longo das últimas décadas, para adequar sua atuação às mudanças recentes do indigenismo brasileiro. A Constituição de 1988 forneceu uma nova orientação às políticas públicas voltadas aos povos indígenas, extinguindo a idéia de transitoriedade da condição indígena. Concomitantemente, desenvolveu-se outro movimento importante: o reconhecimento do direito desses povos à representação frente ao Estado e à sociedade nacional por meio de suas organizações, que passaram a interagir com diversos segmentos do setor público. Nesse novo contexto, a Funai mantém sua centralidade e importância, e passa a enfrentar desafios ainda maiores. Entretanto, a pouca estabilidade institucional vivenciada pela Funai de 1990 até o início da década de 2000 afetou a continuidade de algumas tentativas do órgão, nesse período, de modificar a atuação do setor de fomento às atividades produtivas das comunidades indígenas. Hoje busca-se fundamentar a atuação da CGDC nos princípios da sustentabilidade e da autonomia decisória das comunidades, objetivando, sobretudo, superar os resquícios do paradigma assimilacionista e das práticas assistencialistas herdadas do SPI (Serviço de Proteção aos Índios, órgão antecessor da Funai). Uma das principais realizações das últimas décadas foi a criação da Ação de Capacitação de Indígenas e Técnicos de Campo para o Desenvolvimento de Atividades Auto-Sustentáveis em Terras Indígenas, que almeja o aumento da autonomia política, decisória e produtiva das comunidades. A CGDC vem estimulando de forma crescente o acesso das comunidades aos programas do Estado voltados aos povos indígenas, assumindo a tarefa de assessorá-las em suas próprias iniciativas. Recentemente, a equipe da CGDC reuniu-se para discutir, em torno da noção de etnodesenvolvimento, o suporte às atividades produtivas em áreas indígenas. cultura Considerando o acúmulo de discussão e a reflexão sobre temas correlatos, a gestão atual vem definindo princípios e concebendo práticas mais condizentes com essa noção. O ano de 2006 foi especialmente produtivo nesse sentido. Houve intensa discussão e realizaram-se diversos eventos, com o apoio da Cooperação Técnica Alemã (GTZ), visando subsidiar a equipe no processo de reestruturação do setor. Este ano marca o início de uma nova fase para a CGDC; nele tiveram início os trabalhos da Ação de Promoção das Atividades Tradicionais das Mulheres Indígenas, constituída sobre as novas bases estabelecidas. Esse programa será participativo na sua construção, execução e avaliação, fundamentandose no respeito às práticas e conhecimentos dos povos indígenas, assim como nos princípios de autonomia, autodeterminação e sustentabilidade. Ao longo do ano, realizaram-se oficinas em sete localidades do País, que reuniram mais de duzentas mulheres indígenas, indicadas por suas comunidades e organizações, para discutir a implementação desse programa. A ação tem por objetivo promover a valorização das práticas tradicionais das mulheres indígenas; contribuir para a segurança alimentar das comunidades; estimular o aumento da autonomia produtiva pela produção de bens e produtos de consumo interno e também pelo incentivo à comercialização de produtos, visando à geração de renda para suprir as necessidades surgidas no período do pós-contato, e valorizar o universo feminino bem como o papel das mulheres nas economias comunitárias. Nessas oficinas foram apresentadas as linhas temáticas; identificaram-se problemas, necessidades e potenciais para o desenvolvimento futuro de atividades; discutiram-se critérios para a priorização no atendimento e indicaram-se representantes para acompanhar o trabalho por meio de mecanismos de controle social. Pretende-se que essa ação sirva de modelo para as demais atuações coordenadas pela CGDC, que deverão ser estruturadas de forma semelhante num futuro próximo. * Ivan Abreu Stibich é antropólogo e coordenador da Coordenação de Atividades Produtivas. José Augusto Lopes Pereira é agrônomo, coordenador da Coordenação de Incentivo às Atividades Tradicionais. Ambos são funcionários da CGDC. ** A CGDC é coordenada por Rosane de Mattos, da etnia Kaingang. orgulho tenetehara Michel Blanco e Mário Moura Fotos: Christian Knepper FESTA DA MENINA-MOÇA 43 44 FESTA DA MENINA-MOÇA Quase quatro séculos após o primeiro contato com a sociedade envolvente, os Tenetehara mantêm vivo um ritual: a Festa do Moqueado, ou Festa da Menina-Moça, como hoje é mais conhecida. Wiraohaw, em tupi. Um rito de passagem entre a puberdade e a vida adulta. Um processo de transição que a primeira menstruação inaugura e, em sua formalidade, revela às adolescentes as contingências da realidade humana, na qual certezas transformam-se em busca permanente. Na aldeia Santa Maria, 12 meninas foram apresentadas à maturidade no último dia 16 de setembro. A festa, no entanto, ultrapassou a experiência de meninas transformadas em moças – envolveu toda a comunidade num vislumbre de suas expectativas de futuro. À beira da BR 226, no município de Jenipapo dos Vieiras (MA), os Tenetehara de Santa Maria recriaram a Festa da Menina-Moça sob a perspectiva de um porvir digno de seu ideal de autonomia e liberdade, ante um presente de adversidade e limitação. Os preparativos começaram muitos dias antes da festa. Mobilizaram grande número de pessoas, incumbidas de executar, além de tarefas ancestrais, outras até então inéditas, como a construção de uma 45 ampla arena cercada e coberta por palha de buriti, incluindo espaços reservados para uma platéia de convidados e um carro de som para servir de palanque a um narrador e a personalidades locais e regionais. Ou o ensaio de uma luta ainda desconhecida por estudiosos e incorporada ao ritual. Inovações. Elementos à primeira vista distantes da idéia de tradicionalidade, mas que refletem o sentimento de grandeza no ato de resgate de um passado glorioso. Aparentemente, a única mudança lamentada em consenso pelos anfitriões diz respeito justamente ao alimento que dá nome à festa: o moqueado não mais é carne de caça. Sobre o jirau, duas cotias e um macaco esturricados se perdem em meio a muitos pedaços de carne de gado. O lamento, no entanto, parece soar como pretexto para nova afirmação de identidade. “A língua é a coisa mais importante da cultura. E aqui todo o mundo ainda fala nossa língua”, afirma a cacique da aldeia Santa Maria, dona Iraci Amorim. Pajé e primeiro cantador da aldeia, seu Argemiro compartilha o mesmo ideal. “A falta de caça é a única diferença da festa de hoje e da de antigamente. O resto é igual”, diz, enquanto chega o carro de som oferecido por um candidato a deputado estadual, que toca em volume alto músicas tradicionais tenetehara, recentemente gravadas pelos cantadores de Santa Maria. Por fim, seu Argemiro reconhece: “A nossa cultura perdeu muita coisa, muita história, porque agora os novos não sabem contar como foi que veio esse negócio de cantoria. Ainda sei contar história porque papai me contava muito. E conto pros meus filhos. Vamos ver se esse negócio de convocar CD ajuda.” Resguardo Isoladas de toda a movimentação na aldeia, as meninas debutantes estão sendo enfeitadas e aconselhadas por suas mães desde as oito horas da manhã. Chamadas de “rainhas” no dia da festa, elas têm o corpo pintado com tinta extraída do jenipapo. Da cintura para cima, seus corpos são revestidos por pequenas penas. No pescoço, colares de miçangas; na cabeça, um adorno feito de penas de arara, corrupião e fitas coloridas. Para completar o traje ritual, vestem saias compridas de palha de palmeira. Dentro de um quarto, as meninas cumprem o estágio final de seu resguardo. Ao serem arrumadas, têm uma expressão solene, quase triste, enquanto ouvem os conselhos com os quais as mães pretendem prepará-las para a vida adulta. Sob nenhuma hipótese lhes é permitido sorrir. “É para que não fiquem de ‘gaitice’ e sejam pessoas sérias”, explica a Ao lado, a cacique de Santa Maria, dona Iraci Amorim Abaixo e na página anterior, os últimos retoques para o ritual FESTA DA MENINA-MOÇA 46 47 Seu Argemiro, guardião dos cantos Na página ao lado, a luta entre os rapazes, o duelo pai-de-santo X pajé e a jovem Zahy cacique Iraci. Até serem apresentadas aos convidados, no final da tarde, elas ficarão praticamente incomunicáveis. A rigor, participam da festa aquelas que tiveram no ano a primeira menstruação, período em que devem permanecer em total reclusão. Do início ao fim do ciclo, a menina-moça é cercada de cuidados, senão fica com a “idéia rodada”, conta também dona Iraci. Durante o primeiro período menstrual, a menina é tingida de jenipapo e confinada em um quarto. A mãe, que lhe leva comida e cuida de seu asseio, é praticamente o único contato com o exterior. Xibéu, farinha azeda molhada, e peixe ou frango são os alimentos mais indicados. As sobras são atiradas ao fogo ou em água corrente, para garantir que a menina não sofra azia, caso cães comam os restos. Para dormirem bem, não podem pisar o chão nu; caminham sobre esteira de palha ou algodão, até que suma de seu corpo a tinta de jenipapo. Todo o zelo expõe a delicadeza com que são vistas as meninas-moças. Um estado de tal fragilidade que, segundo a tradição, a quebra do resguardo pode levar à loucura ou – fato cruel para quem recentemente descobriu a vaidade – à total queda dos cabelos. Maracá gigante Momentos antes da aparição das meninas, os cantadores e os rapazes convocados para a luta preparam-se para sua apresentação na arena construída no formato de um imenso maracá. Estão todos de verde, dos cocares aos shorts. Convidados das aldeias e municípios vizinhos tomam seus lugares. Do alto do carro de som, agora escondido por uma parede de palha, um narrador de eventos da região discursa sobre a importância da festa: “A força da cultura deste povo está presente na aldeia Santa Maria e é conhecida por todo o Maranhão.” Após os últimos testes do som, toca-se o CD gravado pelos Tenetehara de Santa Maria. A voz dos cantadores sobrepõe-se à gravação, compete com ela. A dança, compassada pelos maracás é em passos “dois pra cá, dois pra lá”. Os lutadores entram em seguida, confrontando-se em duelos que seguem um rodízio intenso. Todos se enfrentam, enquanto o narrador expõe as regras de uma luta que simularia o ataque de uma onça-pintada: “Vence quem imobilizar o oponente em oito segundos.” Há muita torcida, por ninguém em especial, mas pela festa em si. Ouvem-se gritos de estímulo vindos de todos os cantos – sempre em tupi. A cantoria e a dança retornam, agora sem auxílio do som externo. Parentes das meninas as seguram pelos braços. Puxados pelo pajé Argemiro e outros cinco cantadores, todos cantam o Wazayw. “A música fala sobre os enfeites, as peninhas e as pinturas que elas têm no corpo”, conta seu Argemiro. A timidez das meninas contrasta com o ânimo de todos que dançam e cantam no pátio. Agora elas têm o “juízo firmado”, como diz dona Iraci. Estão prontas para a vida adulta; ou seja, casamento e constituição de família. Submeter-se a esse rito de passagem, antes de ser uma obrigação, é visto hoje como motivo de orgulho. Zahy Guajajara, de 16 anos, passou pela Festa da Menina-Moça há dois anos, na aldeia Colônia, por vontade própria. Filha de índia com “branco”, ela conta que não seria obrigada a participar da festa. “Mas eu pedi à minha mãe que fizesse a festa porque eu queria fazer. Eu sou mestiça, mas me considero índia e gosto de ser índia. Acho muito importante fazer o ritual. E eu me senti muito emocionada.” Vocalista da banda Forrozão Tenetehara, Zahy, entretanto, desconversa, quando o assunto é casamento. “Já namorei bastante, mas ainda não penso nisso”, diz. Tradicional X Inusitado No encerramento do ritual, o momento mais inusitado: um “duelo” de maracás entre o pajé Argemiro e o pai-de-santo Wilson Nonato de Souza, mestre Bita do Barão. Convidado ilustre da festa, Bita do Barão é o pai-de-santo mais amado e temido do Maranhão, e também o principal praticante do Terecô, religião afro-brasileira tradicional de Codó, município em que vive, a 290 quilômetros de São Luís. Chamado ao centro do pátio, Bita do Barão se disse emocionado com a força espiritual dos Tenetehara e declarou a importância da cultura indígena para a religiosidade brasileira, sobretudo em relação à influência 48 desse legado no espiritismo de religiões afro-brasileiras. De maracá em punho, entoou um canto do Terecô em homenagem aos “caboclos”, entidades que representam a figura indígena. Imediatamente, surgiu à sua frente seu Argemiro, também de maracá em riste, como se o desafiasse. Mas o que se viu foi uma fusão inesperada de crenças: o pai-de-santo reverenciava os espíritos dos ancestrais da aldeia Santa Maria, enquanto o pajé agia como se os incorporasse. Naquele instante se materializava o sincretismo que alimenta muitos credos do brasileiro. Depois desse encontro, o pátio foi tomado pelos convidados, índios e não-índios, e a festa varou a noite. A despeito de todas as mudanças em relação ao rito original, o evento realizado na aldeia Santa Maria tem o objetivo declarado de recuperar manifestações culturais enfraquecidas pelo intenso convívio com a sociedade não-indígena possibilitado pelo vai-e-vem constante de carros e caminhões na rodovia que corta ao meio a Terra Indígena Cana Brava/Guajajara, segundo o organizador da festa, Oswaldo Amorim, chefe do Núcleo de Apoio da Funai em Barra do Corda e filho de dona Iraci. Trata-se de uma releitura de sua história, diante das dificuldades presentes. Enfim, uma mistura excêntrica diluída no orgulho que se pretende expressar por pertencer a uma cultura singular, por ser Tenetehara acima de tudo. Um sentimento traduzido FESTA DA MENINA-MOÇA pela própria palavra “tenetehara”. Utilizada como autodesignação desse povo, ela quer dizer, em tupi, “ser íntegro, gente verdadeira”, explica o antropólogo Mércio Pereira Gomes, presidente da Funai, no livro O Índio na História: os Tenetehara em busca da liberdade. Segundo Gomes, trata-se de um termo de grande força, que exprime orgulho e posição singular: a de ser o povo verdadeiro, a encarnação perfeita da humanidade. O autor avalia que a designação possivelmente surgiu do esforço dos Tenetehara de se recriarem, no desenrolar de sua história, ao assim se definirem por força de um sentimento de autoconsciência e afirmação diante de tantos reveses sofridos desde o primeiro contato com o colonizador. Não obstante, prevalece como denominação principal dos Tenetehara o termo Guajajara, desde que, em 1616, foram assim chamados pelo português Bento Maciel Parente, conhecido pelo extermínio de índios no Maranhão e no Pará. A Festa da Menina-Moça, que a comunidade da aldeia Santa Maria espera agora realizar a cada dois anos, está em sua segunda edição. Embora sujeita a diversas interpretações, ela é prova incontestável da determinação de um povo que não apenas sobreviveu mas também recuperou densidade social, suportando muitos reveses ao longo de diversos conflitos, desde o início do sistema colonial. 49 A Funai publica uma série de livros para divulgar a temática indígena. Para maiores informações, entrar em contato com a Coordenação-Geral de Documentação e Tecnologia da Informação Telefones: (61) 3313.3600 / 3313.3602 – Fax: (61) 3313.3653 [email protected] Contracapa: Milho em terra Xavante, Anderson Schneider 50
Download