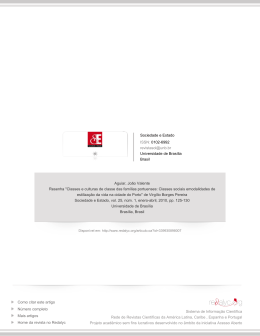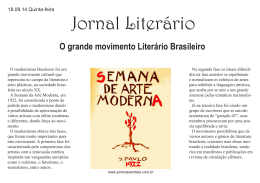VEREDAS Revista da Associação Internacional de Lusitanistas VOLUME 13 SANTIAGO DE COMPOSTELA 2010 A AIL – Associação Internacional de Lusitanistas tem por finalidade o fomento dos estudos de língua, literatura e cultura dos países de língua portuguesa. Organiza congressos trienais dos sócios e participantes interessados, bem como copatrocina eventos científicos em escala local. Publica a revista Veredas e colabora com instituições nacionais e internacionais vinculadas à lusofonia. A sua sede localiza-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal, e seus órgãos diretivos são a Assembleia Geral dos sócios, um Conselho Diretivo e um Conselho Fiscal, com mandato de três anos. O seu patrimônio é formado pelas quotas dos associados e subsídios, doações e patrocínios de entidades nacionais ou estrangeiras, públicas, privadas ou cooperativas. Podem ser membros da AIL docentes universitários, pesquisadores e estudiosos aceitos pelo Conselho Diretivo e cuja admissão seja ratificada pela Assembleia Geral. Conselho Diretivo Presidente: Elias Torres Feijó, Univ. de Santiago de Compostela [email protected] 1.º Vice-Presidente: Cristina Robalo Cordeiro, Univ. de Coimbra [email protected] 2.º Vice-Presidente: Regina Zilberman, UFRGS; FAPA; CNPQ [email protected] Secretária-Geral: M. Carmen Villarino Pardo [email protected] Vogais: Anna Maria Kalewska (Univ. de Varsóvia); Benjamin Abdala Junior (Univ. São Paulo); Claudius Armbruster (Univ. Colónia); Helena Rebelo (Univ. da Madeira); Mirella Márcia Longo Vieira de Lima (Univ. Federal da Bahia); Onésimo Teotónio de Almeida (Univ. Brown); Petar Petrov (Univ. Algarve); Raquel Bello Vázquez (Univ. Santiago de Compostela); Sebastião Tavares de Pinho (Univ. Coimbra); Teresa Cristina Cerdeira da Silva (Univ. Fed. do Rio de Janeiro); Thomas Earle (Univ. Oxford). Conselho Fiscal Fátima Viegas Brauer-Figueiredo (Univ. Hamburgo); Isabel Pires de Lima (Univ. Porto); Laura Calcavante Padilha (Univ. Fed. Fluminense). Associe-se pela homepage da AIL: www.lusitanistasail.net Informações pelo e-mail: [email protected] Veredas Revista de publicação semestral Volume 13 – Junho 2010 Diretor: Elias J. Torres Feijó Diretora Executiva: Raquel Bello Vázquez Conselho Redatorial: Aníbal Pinto de Castro, Axel Schönberger, Cleonice Berardinelli, Fernando Gil, Francisco Bethencourt, Helder Macedo, J. Romero de Magalhães, Jorge Couto, Maria Alzira Seixo, Marie-Hélène Piwnick, Ria Lemaire. Por inerência: Anna Maria Kalewska, Benjamin Abdala Junior, Claudius Armbruster, Cristina Robalo Cordeiro, Fátima Viegas Brauer-Figueiredo, Helena Rebelo, Isabel Pires de Lima, Laura Cavalcante Padilha, M. Carmen Villarino Pardo, Mirella Márcia Longo Vieira de Lima, Onésimo Teotónio de Almeida, Petar Petrov, Regina Zilberman, Sebastião Tavares de Pinho, Teresa Cristina Cerdeira da Silva, Thomas Earle. Redação: VEREDAS: Revista da Associação Internacional de Lusitanistas Endereço eletrônico: [email protected] Realização: Revisão: Laura Blanco de la Barrera Desenho da Capa: Atelier Henrique Cayatte – Lisboa, Portugal Impressão e acabamento: Unidixital, Santiago de Compostela, Galiza ISSN 0874-5102 AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LUSITANISTAS TÊM O APOIO REGULAR DO INSTITUTO CAMÕES E DA CONSELHARIA DA CULTURA DA JUNTA DA GALIZA SUMÁRIO PAULO MOTTA OLIVEIRA Um sucesso quase mundial: A mão do finado ou as metamorfoses de um conde..7 SUZANA RAQUEL BISOGNIN ZANON Africanidade no contexto pós-colonial moçambicano: Terra Sonâmbula ...........25 ELIO CANTALICIO SERPA A emergência da revista Brasília da Universidade de Coimbra. Memória, História e Política.................................................................................................35 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA O diálogo de poesia, filosofia e mitologia em Guimarães Rosa: “Curtamão” e “Lá, nas campinas” .............................................................................................55 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI A Inveja: articulação entre psicanálise e literatura ..............................................79 LUCIANO ROSA Anatomia da ausência: corporeidades, finitude e permanência na poesia de Carlos Drummond de Andrade ..........................................................................101 RICARDO POSTAL Educar pelo espinho ...........................................................................................125 REGINA DA COSTA DA SILVEIRA O animismo e a arte de narrar em O Assobiador, de Ondjaki ...........................143 VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 7-24 Um sucesso quase mundial: A mão do finado ou as metamorfoses de um conde PAULO MOTTA OLIVEIRA USP/CNPq Em 1853 foi lançado em Paris e Lisboa uma continuação de O conde de Monte Cristo: A mão do finado. Desde o século XIX até hoje o livro tem sido usualmente publicado como se fosse de Alexandre Dumas, sem, em nenhuma edição, aparecer como obra do português Alfredo Hogan, seu presumido autor. Em nosso ensaio pretendemos analisar a história editorial desse livro e particularmente refletir sobre as edições publicadas em Portugal e no Brasil, países em que esta obra foi reescrita inúmeras vezes, e possui várias e diferentes versões. Palavras-chave: Romance, A mão do finado, Alfredo Hogan In 1853 there had appeared in Paris and Lisbon a continuation of The count of Monte Cristo: The hand of death. From the nineteenth century until today this book has been usually published as an Alexandre Dumas’ work, having never mentioned, in any edition, the name of its presumed author, the Portuguese writer Alfredo Hogan. In our essay, we aim to analyze the editorial history of this book and also intend to reflect about the particular history of these editions in Portugal and Brazil, countries where this book has been rewritten several times, and has several different versions. Key words: Novel, The hand of death, Alfredo Hogan 8 PAULO MOTTA OLIVEIRA Em meados do século XIX Portugal era, como boa parte da Europa ocidental, um território ocupado pelo romance francês. Em um país em que o maior best-seller das décadas de 1840 e 1850, o hoje totalmente esquecido A virgem da Polônia de José Rodrigues Bastos, teve cinco edições em vinte anos, e em que um dos maiores sucessos da década de 1860, Amor de perdição de Camilo Castelo Branco, teve de esperar dezassete anos para chegar, também ele, a uma quinta edição, os dados sobre os romances franceses beiram o inverossímil. Como pode ser apreendido a partir de A tradução em Portugal de Gonçalves Rodrigues, de 1851 a 1860 foram lançadas nove traduções de romances de Victor Hugo, dezasseis de Emile Souvestre, trinta e duas de Eugênio Sue e o espantoso total de cento e nove de Alexandre Dumas. Já em vários outros momentos refleti sobre esta realidade partilhada, tudo o indica, por muitos outros países. Podemos pensar que se o romance ascende como gênero fundamental do século XIX através de uma guerrilha discursiva, esta não é apenas, nos países romanescamente periféricos, contra a alta cultura, ou a velhas formas. A guerrilha é também outra, mais árdua: contra a avalanche de obras originais ou traduzidas que vinham de Paris. No pequeno mercado português, como no brasileiro, era necessário oferecer aos leitores tramas interessantes como as francesas, mas, ao mesmo tempo, suficientemente próximas das experiências cotidianas dos portugueses para que estes, na hora decisiva da compra, preferissem um Camilo ou um Herculano, a um Eugênio Sue ou Alexandre Dumas. Difícil tarefa. Trabalhando nos últimos anos com a obra de Camilo Castelo Branco, e de forma mais recente com a relação tensa que, em seus livros, podemos encontrar entre o uso de elementos importados dos romances franceses e características que poderíamos, a falta de melhor nome, chamar de nacionais, fui levado a estudar o conjunto das produções romanescas publicadas nas décadas de 1840 e 1850, período do surgimento de Camilo e, creio poder afirmá-lo com alguma segurança, apesar da ausência de dados mais abrangentes, da ascensão do romance em português. Uma das raras obras sobre o conjunto deste período, a dissertação Uma Imagem do Campo Literário Português no Período Romântico, contributo para a história da literatura produzida em Por- UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 9 tugal entre 1840 e 1860 de Luís Sobreira, levou-me ao conhecimento dos quatro livros mais publicados nestas décadas: além do já referido livro de Bastos, o Eurico, o presbítero de Herculano, o breve Maria não me mates, que sou tua mãe, de Camilo e, chegamos à obra que aqui vai nos interessar, A mão do finado, de Alfredo Hogan. Se estes quatro livros foram indubitáveis sucessos, o livro de Hogan possui características que o diferenciam de todos os demais. Creio poder supor com alguma segurança, mesmo precisando ainda aprofundar o meu estudo, que esta obra foi o mais traduzido livro português de todo o século XIX. Nenhum outro romance sobre o qual tenha me debruçado foi, de forma tão rápida e recorrente, publicado no restante da Europa e mesmo na América. Traduzido já na década de 1850 na Espanha e na Itália, o livro cruzou várias outras fronteiras, tendo sido também lançado pelo menos na Alemanha e na Hungria, na Argentina e no México e, logicamente, no Brasil. É importante ressaltar que na maior parte destes países teve várias edições ao longo dos séculos XIX e XX. Toda a história editorial deste livro é cercada de mistérios que são, hoje, muito difíceis de serem elucidados. Se várias podem ser as imagens para representar o trabalho de um pesquisador da história do livro, eu, neófito nesta tarefa, sinto-me como um frustado detetive, que se perde no meio de um conjunto de pistas, sem saber, ao certo, por onde começar a sua tarefa investigativa. O que aqui apresento são os resultados, em vários aspetos parciais e mesmos precários, a que já consegui chegar. Para isto retomemos uma breve história deste romance. Em 1853 foi lançado, quase simultaneamente em Paris e em Portugal, um livro que continuava as aventuras de Edmundo Dantès e de outros personagens de O conde de Monte Cristo. Na França o livro possui as seguintes informações nas folhas de rosto dos três primeiros volumes: «La/ Main du défunt/ par F. Le Prince/ Pour faire suíte au roman:/ Le/ Comte de Monte-Christo/ par/ Alexandre Dumas/ Paris / Chez les principaux libraires/ 1853». Nos três volumes seguintes, o ano é mudado para 1854. No rodapé da página à esquerda desta, encontramos: «Typographie Universelle d’Edouard de Faria/ à Lisbone, rue 10 PAULO MOTTA OLIVEIRA dos Calafates no. 114» (Hogan, 1853-1854).1 Já os quatro volumes da edição portuguesa aparecem sem o nome do autor, e com a seguinte indicação na folha de rosto: «A mão do finado/ Romance em continuação/ do/ Conde de Monte-Cristo/ de/ Alexandre Dumas/ Volume I/ Lisboa/ Tip. Lisbonense de Aguiar Vianna/ Rua d’Atalaia no. 31/1853» (Hogan, 1853). Neste mesmo ano que o romance começou a ser publicado em folhetim no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que havia publicado O conde de Monte-Cristo, Magalhães Junior em seu O império em chinelos, reproduz uma carta que Alexandre Dumas enviou para este jornal: Sr. Redator (...) Acabo de saber que se publica no Rio de Janeiro, isto é, em uma das cidades da América do Sul em que mais empenho tenho de ser conhecido (...) um romance que fazem passar por meu e que anunciam como continuação de Monte Cristo. Nunca o fiz e (...) provavelmente jamais farei a continuação desse livro (...) Seria, pois, conveniente que vós, cujo jornal tem repercussão no mundo literário e político, (...) desmentísseis em meu nome esta notícia (...) Paris, 20 de outubro de 1853 – Alexandre Dumas (Dumas apud Magalhães Júnior, 1957: 189) Mas o apelo de Dumas não foi seguido nem aqui, nem no resto do mundo. E este é o primeiro dos mistérios a que me referi. Expliquemos o que aqui quero dizer. Podemos entender que um livro seja lançado como se fosse de um autor de sucesso, para, através deste processo, ser mais facilmente vendido. O curioso, porém, é que até hoje o livro continua sendo atribuído a Alexandre Dumas e está incorporado, de forma parece que perene, a suas obras, pelo menos em alguns países. Um bom exemplo disto foi o lançamento, em 2003, por uma editora de Barcelona, de uma caixa contendo a tradução deste livro e a de O conde de Monte Cristo, que 1 Como serão referidas várias edições de A mão do finado indicaremos, após o nome do autor, o ano da edição. UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 11 podiam, assim, ser adquiridos em conjunto. É ainda estranho que apesar de existirem várias outras continuações do livro de Dumas –entre as quais talvez a mais famosa é O filho do conde de Monte Cristo de Jules Lermina- nenhuma delas seja atribuída de forma sistemática ao autor do conde. Esta incorporação da obra à produção de Dumas foi de tal forma completa, que em 1955, no prólogo de uma edição argentina da Editorial Tor, Ricardo Padilla Gutiérrez aponta que «[t]anto su novela El conde de Monte-Cristo, como la presente La mano del muerto, son las obras preferidas de su ingenio, según afirma em sus Memórias» (Gutiérrez, 1955: 7), informação totalmente falsa. A esta atribuição indevida devemos somar uma aparente idiossincrásia geográfica. É certo, o livro foi um sucesso extra-lusitano, mas só atravessou algumas fronteiras: até hoje não encontrei nenhuma edição francesa do livro, só aquela de fato publicada em Portugal, e, diferentemente de várias outras continuações do romance, ele parece até hoje não ter sido traduzido para o inglês. O livro de Lermina, para apenas citarmos um exemplo, publicado pela primeira vez em 1884, foi traduzido neste mesmo ano para o inglês. Julgo que estas características –a atribuição a Dumas e a disseminação localizada– são duas faces de uma mesma questão. E só podemos entendê-la se pensarmos na forma como Hogan se apropria de O conde de Monte Cristo, acabando por modificar, de forma radical, os pressupostos ideológicos que enformavam o livro. Não tenho como aqui analisar, de forma mais extensa, os dois livros, e assim deter-me-ei apenas em alguns aspectos que mais me interessam. Todos, creio, conhecem as linhas gerais do livro de Dumas. Edmund Dantès, jovem e bem sucedido marinheiro, prestes a se tornar capitão e a casar com sua amada Mercedes foi, graças a um complô, encarcerado na ilha de If, acusado de bonapartismo, no mesmo dia em que Napoleão desembarcava na França continental para a fugaz experiência dos cem dias. Na prisão Dantès conhece o abade Farias que, como bem notou Antonio Candido, lhe fornece as duas armas fundamentais do mundo moderno: o dinheiro e o saber. Após fugir, e se apoderar do tesouro escondido na ilha de Monte Cristo, Dantès estará preparado para 12 PAULO MOTTA OLIVEIRA se vingar de todos aqueles que o traíram. Gostaria apenas de apontar que o conde não deixa mesmo de –vou usar um termo a que depois voltaremos– ferir e mesmo, indiretamente, matar inocentes. O melhor exemplo disto é a forma como se vinga de Villefort, o procurador que, temendo por sua própria carreira, havia enviado o infeliz marinheiro para a prisão. Para vingar-se aproxima-se da segunda esposa de Villefort, dando-lhe, quase por acaso, algumas informações preciosas sobre venenos. Ela, mãe extremada, será a mão inconsciente do inexorável conde. Querendo garantir, para o seu filho Édouard, uma herança a que ele não tem direito, irá matematicamente envenenando os parentes de seu marido: primeiro o sogro, depois a sogra, em seguida tentará matar o pai de Villeford, que escapará graças a um remédio que toma, para por fim julgar que matou a filha do primeiro casamento de seu marido, Valentine. Quando o ciclo parece estar completo, desmascarada pelo médico da família que há muito havia dito ao procurador que existia em envenenador em sua casa, se trancará em um quarto e, após envenenar seu querido filho, se matará. Neste momento Dantès aparece, diz a Vileford quem é, e o procurador, já ferido por outros golpes, enlouquece. A morte deste menino não afetará o conde. Apesar de todos os mortos e infelizes que semeou em seu caminho, termina reencontrando a felicidade num futuro dourado nos braços da jovem Haydé. Se isto assim ocorre, já o notei, é por que não há mais a hybris, nenhum deus que o vá punir pela desmedida ou pela arrogância. Estamos diante de um mundo totalmente laicizado. Os campos de atuação dos personagens não passam pela religião e por seus valores. Neste romance em que o Mediterrâneo ocupa um lugar central, o grande lago em volta do qual surgiram ou se afirmaram tantas crenças e religiões, banha agora um mundo sem deuses. Considero este livro magistral. Dumas soube construir mais que um tratado sobre a vingança. Ele fez um tratado sobre um mundo laico, esvaziado de deuses, em que as únicas forças são o conhecimento e o capital. No lugar da liberdade, da fraternidade e da igualdade, um mundo desigual, em que o importante é ter dinheiro e poder, ou –o livro bem o UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 13 ensina– se aproximar daqueles que o tem. O conde, os amigos do conde, sejam eles desde criminosos como o salteador Vampa, a honrados militares como o jovem Morel, todos terminam bem. Um mundo movido pelo dinheiro e pela influência, pelo favor e pela tecnologia. Poderíamos pensar em um retrato mais claro e patente da vitória do capital? Mas é um retrato da Europa central. Que será modificado de forma radical pela antropofágica continuação de Hogan. Para entendermos como isto ocorre, comecemos por um trecho do epílogo do livro: Deus servira-se de um homem, que muito padecera, para punir culpados que doutro modo escapariam à ação da justiça humana, e esse homem ensoberbeceu-se e exorbitou, chegando a ferir inocentes. Foi também por sua vez castigado pela mão de um criminoso, que tampouco ficou impune, apesar de mostrar-se arrependido. (Hogan, 1925: 341) Neste trecho o primeiro homem referido é Edmund Dantès. O segundo é Benedetto, que no romance de Dumas fora um falso príncipe, noivo da filha de Danglars, que também era, o descobriu só depois deste incidente, filho de Villefort. O trecho sintetiza, explicitando para o leitor, a viga mestra da construção do livro, além de clarificar a forma como a história de Dumas é aqui apropriada: as trajetórias de Dantès e de Benedetto são explicadas como duas etapas de uma vontade de Deus. Assim, na perspetiva construída neste romance, o motor da ação, tanto desta continuação, como do próprio O conde de Monte Cristo, não seria um desejo pessoal, mas uma força superior, que a todos conduz. Aqueles que, em sua desmedida, ultrapassam os limites “chegando a ferir inocentes”, a estes saberá a força divina também punir. E mesmo os que se arrependem –Benedetto seria o exemplo– não ficarão impunes se tiverem cometido excessos. A conceção de que Benedetto segue uma missão religiosa, da qual, até o momento de sua conversão, não tinha consciência, acaba por dar certa 14 PAULO MOTTA OLIVEIRA unidade e por tornar verossímil uma história composta por incidentes desconexos e improváveis. A mão divina serve, assim, não só para mostrar a perspectiva ideológica presente no romance, mas também para unificar o que, sem ela, seria uma sucessão de inconsistentes episódios. Alguns elementos do enredo poderão explicitar o que aqui indico. Benedetto começa o livro preso. Recebe de sua mãe, que não conhece, 60 mil francos e, em seguida, mata o seu carcereiro. Após passar no túmulo de seu pai –que o havia recebido em sua casa, depois de saber de sua existência– e se apossar de sua mão, que levará como um talismã, foge para a Itália onde, entre uma série de golpes os mais diversos contra vários dos personagens do livro original –de sua mãe, baronesa Danglars, ao salteador Vampa– irá acumular o dinheiro necessário para se vingar do homem que desgraçou seu pai. Uma tempestade, em que quase naufragará, fará com que perceba a força de deus. O criminoso estará pronto para se transformar no instrumento do divino, e para cobrar do conde a hybris que no romance original não existia. Os incidentes que transformam um assassino sem cultura e sem dinheiro em alguém capaz de abalar um gigante como o conde de Monte Cristo certamente só poderiam ser explicados se uma força maior estivesse protegendo Benedetto. Notemos a enorme distância que separa a gênese deste segundo vingador, da transformação, que acima apontamos, do inculto e pobre marinheiro no rico e hábil conde de Monte Cristo: Dantès precisou passar por uma descida aos infernos e ser iluminado pelo abade Farias que lhe deu enorme conhecimento e imensa fortuna, para conseguir fazer esta travessia. No mundo laico e sem deuses de Dumas só um efetivo poder, aquele dado pelo conhecimento e pelo dinheiro, conseguiria provocar uma tão completa metamorfose. Já o universo construído por Hogan é bastante distinto. E nesta outra forma de encarar as relações do homem com o divino, o próprio conde terá de ganhar novos contornos. Sua história terá de ser reescrita, sua personalidade reconstruída. No fim do romance, espoliado de toda a fortuna, morta sua esposa, perdido seu filho, «Edmundo foi a Roma, onde, depois de fazer confissão geral dos seus pecados, tomou ordens e, regressando a França, voltou a Marselha» (Hogan, 1925: 343). Será ele, convertido agora em um verdadeiro religioso e em um penitente, que escutará a derradeira UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 15 confissão de Mercédès em sua morte: Dois dias depois foi um sacerdote encontrado morto sobre uma sepultura. O sacerdote era Edmundo Dantès. A sepultura era a de Mercedes. (ibidem: 348)2 Antropofagicamente Hogan devora o romance de Dumas e, ao continuá-lo, o transforma. Não é com certeza casual que a maior parte do enredo de Dumas ocorra em Paris, e que o de Hogan se passe em Roma e em Veneza. O livro de Dumas apresenta os valores laicos e utilitários de uma França pós-revolucionária e não mais crente nem na velha nem na nova trindade se espalhando pelo Mediterrâneo. Poderia haver melhor sinal disto que o Papa concedendo indulto a um criminoso em troca de uma preciosa esmeralda? Hogan, por seu turno, fará o percurso inverso. Dantès, antigo conde, convertido em penitente, retornará a Marselha, trazendo de volta à França os valores morais do Cristianismo. O céu volta a povoar-se, e terminamos o livro vendo, novamente, o surgimento de um Mediterrâneo cristão. Não tenho como aqui trabalhar com a enorme distância que separa este livro de outra obra de Hogan –Os mistérios de Lisboa– mas gostaria de apontar que este é, no mínimo, anti-clerical, além de apresentar um incesto que não provoca nenhuma conseqüência para os dois irmãos nele, inconscientemente, envolvidos. Assim, podemos pensar que Hogan refaz a história do conde adaptando-a não a suas crenças ideológicas e religiosas –que, de fato, não temos como saber quais eram– mas a uma certa imagem de leitor que pretende atingir e cativar. E o faz de forma tão bem sucedida –e aqui já passo para as hipóteses que pude elaborar– que acaba por construir um best-seller não só português –com surpreen2 Esta cena final muito se aproxima da que, dez anos antes, Alexandre Herculano apresentara quase no fim de O bobo: «Um noviço do mosteiro, que ninguém conhecia, apareceu morto ao romper d’alva do terceiro dia sobre a lousa da sepultura de Dulce» (Herculano, 1959: 318). O noviço era Egas, que fora apaixonado por Dulce. 16 PAULO MOTTA OLIVEIRA dentes quatro edições em sete anos. De fato o seu livro foi traduzido em toda a Europa e América cristãs. Ou seja, para um universo imerso em valores cristãos, mas habituado a ler romances vindos de França, Hogan conseguiu fornecer aquilo que o exótico gosto do público destas regiões precisava: um folhetim à moda francesa, com uma ideologia cristã. Julgo que esta hipótese não só explica o desigual destino deste sucesso, constantemente republicado em alguns países e completamente ignorado em outros. Pode também explicar o motivo pelo qual o livro é, em quase toda a parte em que foi e é republicado, atribuído a Dumas. Se, de fato, o livro fosse de Dumas, poderíamos pensar que após ter construído um super-homem -continuando e aprimorando, em certo sentido, o Rodolphe de Os Mistérios de Paris– o autor teria se arrependido, e recuperado os salutares valores cristãos. Assim, ao atribuir o livro ao autor do Conde, acaba-se por criar uma pseudo biografia para Dumas que o redime dos excessos e erros cometidos. O seu arrependimento seria semelhante ao do conde de Hogan. Autor e personagem negariam o seu passado laico, e adeririam, após um período de equívoco, à correta fé. Se não tenho como desenvolver esta hipótese, um breve exemplo, retirado do prefácio de uma edição espanhola de 2003 –em que chega mesmo a ser afirmado que há mesmo quem «la atribuye directamente a un desconocido escritor portugués cobijado bajo la rúbrica de Alfredo Hogan» (Anónimo)- poderá mostrar como estamos diante de uma releitura cristã de um universo laico: Bajo la estela del enorme éxito popular que supuso El Conde de Montecristo surgió a su vez toda una industria folletinesca dedicada a utilizar y aprovechar ese filón narrativo a través de una constelación de continuaciones (…) que no siempre alcanzaron la dignidad literaria de la obra primigenia. La mano del muerto, siempre editada con el subtítulo de Continuación de El Conde de Montecristo, propone y logra una relectura moral de la historia del personaje dumasiano perfilando narrativamente una especie de justicia poética en la que la venganza se verá enfrentada a los valores de la misericordia y el perdón. (Hogan, 2003: 7-8) UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 17 Se, assim, conseguimos entender parte do destino editorial deste livro, ainda estamos muito distantes de explicar o que com ele aconteceu no Brasil e em Portugal. Levado por esta mão de origem tão peculiar, eu, que tenho me dedicado ao estudo do século XIX, fui arrastado até meados do século passado. Vamos a um rápido diário deste inusitado percurso. Trabalhando com várias edições do livro de Hogan pude notar que o próprio fato de tratar-se de um livro de ninguém, fez com que fosse sendo alterado ao longo do tempo. A versão original portuguesa, composta por quatro volumes e com mais de oitocentas páginas, foi sofrendo sucessivos cortes e adaptações. Como ainda não pude finalizar o confronto, vou aqui ater-me apenas a dois momentos desse longo trajeto, que julgo os mais significativos, um português e o outro brasileiro. Foi publicada, mas não consegui ainda precisar se no final do século XIX ou no início do XX, uma luxuosa edição do livro, em capa dura, com várias ilustrações em preto e branco. A capa, além de atribuir o livro a Dumas, o apresenta como: O conde de Monte-Cristo Segunda Parte A Mão do Finado. O livro modifica, de forma radical, a história de Benedetto, fazendo com que, no fim da narrativa, o conde não perca sua fortuna, e mostre ao novo vingador que este nunca fora um emissário de Deus. Esta mudança radical é explicada no final do livro, em uma nota do editor: Apoiados no testemunho de muitas cartas que recebemos ao começar a publicação de A mão do finado, como continuação do Conde de MonteCristo, confessamos que uma grande parte dos nossos assinantes nos fez sentir a sua preferência pelo Filho do conde de Monte-Cristo. Não nos era bem possível destruir as primeiras folhas que já tínhamos impressas, e distribuídas, mas estávamos ainda a tempo de tomar uma boa resolução. A primeira versão de A mão do finado saíra carregada de tão rancoroso ódio que mais destruía o Monte-Cristo do que o completava, resolve- 18 PAULO MOTTA OLIVEIRA mos pois mandar fazer uma nova versão que se aproximasse mais do pensamento do autor do O conde de Monte-Cristo. Cremos ter conseguido o nosso fim. (Carvalho, s.d.: 663) Podemos notar a liberdade que é tomada com o romance. A história tratava-se de uma primeira versão, e agora fazia-se uma segunda, mais adequada ao gosto contemporâneo. É ainda uma nova tentativa de atualizar o livro, adequando-o ao gosto de um novo tipo de público, já prestes a viver a experiência republicana, ou, talvez, já nela se situando. Ainda não tive o tempo necessário para confrontar com cuidado as duas edições, trabalho fundamental para tentar entender a imagem que o editor –ou seja quem for a que ele pediu o feitura desta nova versão– tinha do público que iria consumir a obra. Nem consegui, tampouco, localizar, se ainda existem, os arquivos da editora, que poderiam lançar algumas luzes sobre a produção deste novo romance. De qualquer forma, este livro mostra, de forma evidente, que A mão do finado se transformara numa terra de ninguém, passível de ser apropriado e modificado ao gosto do editor, ou da imagem que ele tem do público que a irá consumir. Três edições, de características muito distintas, todas elas publicadas na década de 1950 no Brasil, podem exemplificar este fato. Magalhães Junior, no artigo, publicado em 1957, a que já nos referimos, afirma: O mais curioso de tudo isto é que, apesar do protesto de Alexandre Dumas (...) a fraude ainda hoje persiste... Neste momento, como um volume “Faixa Preta”, de uma chamada “Edição segredo”, espécie de tosco livro de bolso, distribuída por Gertrum Carneiro, circula em “condensação”, com o nome de Dumas, “ A mão do finado”... (Magalhães Júnior, 1957: 189) UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 19 Esta não era, como disse, a única edição de A mão do finado com o nome de Dumas então em circulação. Já encontrei outras duas, diferentes, também produzidas no Brasil em meados da década de 1950, além de uma outra, um pouco mais antiga, de meados da década de quarenta. Já antes disto o livro possuía uma larga tradição editorial no Brasil, tendo sido, entre outras, editado pela Editora Literária Fluminense em finais do século XIX e pela Editora de Monteiro Lobato em 1925. O curioso em relação às edições dos anos 50 é que elas são diferentes entre si, compondo três versões diversas. A que foi referida por Magalhães Júnior é a menor de todas, e a única que praticamente não vem acompanhada de paratextos. Faz parte de uma coleção denominada “Edições Segredo”, publicada pela “Faixa Preta Romances” e distribuída pela Editora Gertrum Carneiro S.A. Na folha de rosto, constam as seguintes informações: «Alexandre Dumas /A mão do finado/ (Condensado)/ Faixa Preta –Romances» (Hogan,s.d (b)). O romance possui menos de cem páginas, e é precedido e sucedido por indicações de outras obras da editora. Se antes do inicio do enredo aparecem indicações de autores nacionais, autores estrangeiros e outras obras “do mesmo autor” –O conde de Monte-Cristo e Os três Mosqueteiros– todas precedidas por um “Leia também”, após o fim do romance há uma folha com desenhos de vinte e quatro outros títulos da editora e com a indicação «Corte e mande o seu pedido». Alguns dos títulos citados –todos mais ou menos similares– podem clarificar o tipo de interesse que o editor julgava poder ser o dos leitores desta edição de A mão do finado: Como se fazer amar; Enfermidades sexuais; Costumes sexuais estranhos; A arte e a técnica do beijo; A felicidade sexual no casamento; Problemas sexuais dos solteiros. Outra edição do romance também se relaciona, e de forma ainda mais explícita, ao universo das publicações ligadas à sexualidade: a da Editora Cleópatra, lançada em 1956. Livro em formato maior que o anterior, o romance possui em torno de 150 páginas. Já na capa, além do nome do pretenso autor e do título, aparece a indicação: «Tradução de M. A. Camacho». O livro está repleto de paratextos. Na orelha há um 20 PAULO MOTTA OLIVEIRA texto elogioso de Fábio Lopes Matoso sobre a biografia de Cleópatra, publicada devido ao «filme que está sendo rodado em Hollywood com a estrela Elisabeth Taylor», e escrita por M. A. Camacho. A seguir encontramos quatro páginas de propaganda da editora. Primeiro, um pequeno texto sobre o tradutor do livro, em que, entre outras indicações, é afirmado: A presente tradução de A mão do finado (...) foi feita por Camacho, escritor amadurecido e experimentado, de estilo liso e claro. Traduzir um autor da força de Dumas é uma responsabilidade (...) Você gostará imensamente de ler esta tradução (...) porque o escritor Camacho transpôs para a nossa língua exatamente o que escreveu Dumas” (Rosinha, 1956: 1) Segue-se outro texto sobre Cleópatra, uma indicação de que a editora iria distribuir, no Brasil, os livros publicados pela Editora Universidade Limitada de Lisboa e, por fim, referências a duas autoras, uma americana –Hedda Paette– e outra francesa –Simone Costallat– que a editora começaria a publicar. Um extrato do texto sobre esta última escritora pode mostrar de forma clara o público visado: Musa do existencialismo (...) Deliciosa escritora cujos livros são como uma esponja para a mente daqueles que estão em férias ou necessitam “ventilar” o espírito (....). Simone Costallat está sendo lida (...) pelos homens sérios e responsáveis que desejam se deliciar com uma literatura forte, realista (...). (Rosinha, 1956: 4) No fim do romance, além da indicação de que M. A. Camacho também traduziu O conde de Monte-Cristo, é afirmado: «Se gosta de leitura forte, realista e fiel, não deixe de ler a oferta que lhe fazemos nas páginas seguintes». A oferta é a propaganda do livro Menegheti, também de Camacho, do qual é reproduzido um trecho. UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 21 Facilmente podemos notar que a história de A mão do finado está, nesta edição, cercada de referências a obras de apelo sensual. Este era um filão muito explorado por Camacho que escreveu, entre outros, livros de temática adulta, como Messalina ou As dez rainhas mais belas e escandalosas do mundo. A terceira edição do livro, publicada em 1958 pelo Clube do Livro, parece querer atingir a um outro público. Mas, curiosamente, não deixa de utilizar estratégia semelhante à anterior, ao indicar, na folha de rosto, que a tradução foi revista por Nelly Cordes. Se a atribuição do romance a Dumas, e o pequeno tamanho do mesmo, em torno de 140 páginas, o aproximam das outras duas edições, podemos também encontrar algumas diferenças. Após a página de rosto há uma “nota explicativa”, assinada por Afonso Schmidt, em que é criado um pequeno conto –em que estão presentes inclusive diálogos– sobre a gênese do romance, que é atribuído a Alfredo Hogan: Quem escreveu A mão do finado (...) foi aquele Alfredo Possolo Hogan, humilde funcionário das Postas de Lisboa, entre 1851 e 1852, com pouco mais de vinte anos de idade. (...) Faleceu ignorado e quase indigente a 16 de abril de 1865, antes de completar 35 anos. Seria curioso saber por que a literatura de Portugal e Brasil finge ignorar a existência desse escritor (...). (Schmidt, 1958: 22-23) Há, ainda, neste volume, algumas poucas notas explicativas, que clarificam para o leitor o que é o Tejo, onde fica a ilha de Monte Cristo e outros dados semelhantes. No fim do livro há um cupom, para ser preenchido por novos sócios. Por estas breves indicações, podemos notar a estrutura desta edição parece dirigir-se a um público diverso do das outras duas. As informações que circundam o texto do romance parecem dirigir-se a um público que pretende imaginar-se culto, e que veria no hábito da leitura uma forma de aumentar o seu conhecimento. Isto porém, também pare- 22 PAULO MOTTA OLIVEIRA ce evidente, é quase um simulacro: as notas de fato são poucas –apenas sete- , o livro é atribuído a Dumas e é indicada uma pretensa revisora da tradução, o texto de Afonso Schmidt é uma pequena peça ficcional, e a capa, mesmo que em tom mais sóbrio, não é muito diversa da presente no livro distribuído por Gertrum Carneiro: uma mão e uma figura humana, sendo que a mão da capa do Clube do Livro, em primeiro plano, é ainda mais diabólica, com as suas longas unhas. Por mais que ainda não consiga entender a eclosão, em meados do século passado, de uma obra publicada no século anterior, por um autor hoje totalmente esquecido de peças de teatro e alguns romances, obra falsamente atribuído a Dumas, estas três edições podem nos fornecer algumas pistas de trabalhos a seguir. De início elas confirmam e reforçam a ideia de que esta obra parece ter sido, durante mais de um século, remodelada e recriada para que, permanecendo em parte igual, pudesse agradar a diferentes públicos, com diversos gostos. Trata-se assim de um objeto de estudo bastante peculiar, que pode permitir, através de uma análise comparativa, pelo menos ter acesso à imagem que seus editores tinham do público a que se dirigiam. Talvez o próprio evidente acerto do tom de Hogan, que transformou a sua obra em um sucesso quase mundial, fazendo um país periférico transformar-se em exportador de uma forma nova e híbrida, acabou por validar e permitir estas novas tentativas de adaptação, para diversos e novos públicos. Além disso, as datas de publicação das mais evidentes modificações –algo em torno da virada do século retrasado para o passado em Portugal, a década de 1950 no Brasil– podem talvez indicar momentos de surgimento de novos públicos leitores. Em Portugal este período mais ou menos coincide com o momento em que, finalmente, um quarto da população portuguesa estava alfabetizada, atingindo um percentual que a Espanha, também ela muito atrasada neste processo, já havia atingido 50 anos antes.3 Por seu turno, no Brasil, estamos diante de um período de franco crescimento e, podemos supor, de diversificação do público leitor. Tudo isto, o sei, ainda é muito vago e pouco consistente, e vai necessitar de um desenvolvimento da pesquisa que, sendo ela quase que um desdobramento secundário de meu interesse principal, vai levar 3 Cf. http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v17n1/v17n1a17.pdf UM SUCESSO QUASE MUNDIAL: A MÃO DO FINADO OU AS METAMORFOSES DE UM CONDE 23 um bom tempo para ser melhor fundamentado. Mas os precários dados que aqui levantei julgo que já permitem vislumbrar o interesse que pode ter o estudo desta obra. Quem sabe outros não poderão, com maior pertinência e assiduidade, prosseguir os poucos passos que já consegui dar. REFERÊNCIAS: CANDIDO, Antonio. Tese e antítese. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 1976. CARVALHO, Nunes. “Duas palavras do editor” in: HOGAN, Alfredo. A mão do finado. Lisboa: Nunes de Carvalho, s.d. p.663. GUTIÉRREZ, Ricardo Padilla. “Vida de Alejandro Dumas (Padre)” in: Hogan, Alfredo. La mano del muerto. Buenos Aires: Editorial Tor, 1955. p.5-8. HOGAN, Alfredo [Prince, F. le]. La main du défunt. Paris: s.n., 1853-4. ----. A mão do finado. Liboa: Nunes de Carvalho, s.d (a). ----. A mão do finado. Lisboa: Tipografia Lisbonense de Aguiar Vianna, 1853. ----. A mão do finado. Rio de Janeiro: Gertrum Carneiro, s.d (b). ----. A mão do finado. São Paulo: Cleópatra, 1956. ----. A mão do finado. São Paulo: Clube do Livro, 1958. ----. A mão do finado. São Paulo: Editora Monteiro Lobato, 1925. ----. La mano del muerto. Barcelona: Debate, 2003. ----. La mano del muerto. Buenos Aires: Editorial Tor, 1955. MAGALHÃES Júnior, R.. O império em chinelos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957. RODRIGUES, A. A. Gonçalves. A tradução em Portugal. Lisboa: ISLA, 1993. ROSINHA, Rute. [Prefácio]. Em:Hogan, Alfredo. A mão do finado. São Paulo: Cleópatra, 1956.p.1-4. SCMIDT, Afonso. Nota explicativa. Em: Hogan, Alfredo. A mão do finado. São Paulo: Clube do Livro, 1958. p.5-24. SOBREIRA, Luís. Uma Imagem do Campo Literário Português no Período Romântico, contributo para a história da literatura produzida em Portugal entre 1840 e 1860, Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1998. VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 25-34 Africanidade no contexto Pós-Colonial Moçambicano: Terra Sonâmbula SUZANA RAQUEL BISOGNIN ZANON Centro de Referência de Assistência Social (Jaboticaba/RS) O presente artigo tem como principal objetivo analisar os elementos que representam a africanidade no contexto pós-colonial moçambicano, através do romance de Mia Couto, Terra Sonâmbula. Essa narrativa, além de ser um veículo de representação de personagens complexos, apresenta o contexto de opressão e fragilidade humana, no qual Moçambique estava submetido durante os anos de Guerra Civil. As comunidades de origem africana, em especial Moçambique, ao passarem pelos maiores padecimentos e incertezas devido a Guerra, transparecem também uma cultura valiosa, apregoada na herança das tradições dos povos de origem africana, denotando desta forma, os mitos, lendas e costumes que cedem espaço à africanidade, como um processo de afirmação de ideologia das comunidades nativas. Deste modo, a africanidade, contornada pela hibridização cultural surge para garantir a narrativa de Couto a maior das expressividades de sonhos humanos diante a um contexto de tirania e opressão, causado pela Guerra Civil. Palavras-chave: Africanidade, Pós colonialidade, Moçambique. The present article has as main objective to analyze the elements which represent the africanidade in the post-colonial Mozambican context, through Mia Couto’s novel, Terra Sonâmbula.This narrative, besides being a vehicle of complex characters repre- 26 SUZANA RAQUEL BISOGNIN ZANON sentation, shows a oppression context and human being fragility, in which Mozambique was submitted during the Civil War. The communities of African origin, specially Mozambique, at passing by the highest suffering and uncertainties due to the War, appears to be also a precious culture, proclaimed in tradition legacy of African origin people, symbolizing the myths, fables and costumes which cedes space to the africanidade, as an affirmation ideology of native communities. This way, the africanidade, turned round by the hybridization culture arises to guarantee to Couto’s narrative the highest of expressivities of human being dreams in front of a context of oppression and tyranny, caused by the Civil War. Key words: Africanidade, Post colonialism, Mozambique Quando nos referimos a países africanos, o que logo nos vem em mente é a imagem de um povo sofrido, que guarda em seu passado uma herança histórica submersa em guerras, desigualdade e sofrimento desde seus primeiros tempos. Contudo, os contextos diferem caso a caso e, no século XX, não fogem da história de lutas pela independência das nações. Aqui tratamos, em especial, de Moçambique, país que projetou a formação de um novo povo por vias de uma tendência socialista. Perdurando durante 16 anos, a Guerra Civil trouxe aos moçambicanos o sofrimento extremo, somado à fragilidade e ao horror. Embasado nos estudos psicanalíticos de Freud, Edward Said (2004: 47) analisa o contexto sócio-cultural dos povos do Oriente Médio, no âmbito identitário, enveredando sua analise para o questionamento sobre o desígnio desta civilização, enquanto européia ou não, dizendo que: Para Freud, as culturas do Pacífico, a australiana e a africana, das quais tantos elementos extraiu para as suas análises, tinham sido [...] esquecidas ou deixadas para trás, como a horda primitiva na marcha da civilização[...] Freud foi dedicado em resgatar e reconhecer o que foi ou esquecido ou não admitido, no penso que, em termos culturais, os povos e as culturas primitivas não-européias lhe eram mais fascinantes quanto os povos e as histórias da Grécia Antiga, Roma e Israel. AFRICANIDADE NO CONTEXTO PÓS-COLONIAL MOÇAMBICANO: TERRA SONÂMBULA 27 Partindo desse pressuposto, podemos dizer que a cultura dos povos africanos não se esvai, e tampouco é desprovida de expressividade, o que transparece na pós colonialidade de Moçambique. As tradições das tribos africanas primitivas abrem caminho para a africanidade, provinda de uma herança cultural enraizada em tradições e costumes das comunidades africanas. Sob tal viés, ao manter referências à reencenação do contexto pós-colonial na narrativa, Hall (2003: 106) diz que [n]a narrativa reencenada do pós – colonial, a colonização assume o lugar e a importância de um amplo evento de ruptura histórico mundial. O pós-colonial se refere à “colonização” como algo mais do que um domínio direto de certas regiões do mundo pelas potências imperiais. Creio que significa o processo inteiro de expansão, exploração conquista, colonização e hegemonia imperial que constitui a “face mais evidente”, o exterior constitutivo, da modernidade capitalista européia e, depois a ocidental, após 1942 Neste sentido, colonizadores e colonizados são palavras-chave que se fazem presentes para adentrar neste contexto pós-colonial, as quais denotam também uma era de diferenças, que estigmatizam a condição do povo negro moçambicano, como marginalizado e oprimido pelos centros imperiais colonizadores. Conforme os preceitos anteriormente mencionados, pode-se afirmar que a africanidade neste contexto pós-colonial assume um lugar de grande valia, devido ao fato de o povo africano ter suas raízes apregoadas aos costumes, valores e cultura de seus ancestrais. O processo de formação da africanidade vem a ser contornado por processos ideológicos do indivíduo negro na formação de sua identidade, a qual não se exime do sentimento de nacionalismo como negro Africano. Segundo Said, «ao examinar a estrutura da opressão, devemos não apenas olhar para o que os opressores projetam no oprimido [...] mas também devemos levar em consideração uma recusa em reconhecer a própria existência do outro» (Said, 2004. 38). A opressão do povo 28 SUZANA RAQUEL BISOGNIN ZANON europeu sobre os de origem africana incita a busca pela dominação do povo branco sobre uma sociedade estigmatizada pela pobreza e a submissão, tanto de raça como de valores. Contudo, a literatura moçambicana abre portas para um cenário cultural da vida dos povos de origem africana, contornada pela manifestação do hibridismo, o qual, segundo o estudioso Canclini afirma ser «processos socioculturais nos quais estruturas e práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas» (Canclini, 2000: XIX). Nesse prisma, a hibridização da cultura africana se dá por vias dessas “novas estruturas”, provinda de uma mescla de etnias no contexto pós-colonial de Moçambique. Para tanto, o premiado escritor moçambicano Antonio Emílio Leite Couto, mais conhecido por Mia Couto, apresenta esse cenário de guerra e sofrimento em seu romance publicado no ano de 1992, Terra Sonâmbula. A narrativa em questão apresenta estratégias que dialogam com os gêneros do conto e do diário íntimo, girando em torno de três personagens: Tuahir, Muidinga e Kindzu. Elas se mostram capazes de estabelecer uma significativa representatividade, como símbolos culturais e identitários do povo moçambicano no período da guerra civil. Tuahir é um senhor velho que encontrara Muidinga num campo de refugiados quando criança e resolveu cuidá-lo como filho. Essa personagem parte em busca de sua identidade, à procura dos pais. Dentro de um país destroçado pelos conflitos bélicos, o menino e Tuahir encontram um ônibus já incendiado, no qual se refugiam. No machimbombo,1 encontram um cadáver e uma maleta ao lado que, ao ser vasculhada, os permite encontrarem cadernos, repletos de histórias fantásticas, e o diário de Kindzu, o qual permite esboçar a infância de uma criança vitimada pela guerra, desgarrada de sua família, também afligida pela violência. Logo no início da narrativa, pode-se perceber que as personagens encontram-se sem destino, perdidos e perambulando como sonâmbulos, em uma terra que já não conhecem mais. 1 Expressão utilizada para se referir ao ônibus, o autocarro. AFRICANIDADE NO CONTEXTO PÓS-COLONIAL MOÇAMBICANO: TERRA SONÂMBULA 29 Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não ido, á espera do adiante. Fogem da guerra, desta guerra que contamina toda a terra (Couto, 1992: 9). A narrativa permite demonstrar dois momentos distintos: a Guerra Civil, como pano de fundo do Diário de Kindzu; Moçambique diante os destroços decorrentes do conflito, um espaço representado pelo universo de Muidinga e Kindzu. Da Guerra Colonial à guerra civil, as comunidades africanas não mais se permitem sonhar. Na medida em que os personagens revelam sua desesperança, através de signos que incitam a invisibilidade e a inexistência humana, somados ao sentimento de inferioridade, a narrativa revela que a Guerra não somente recai sobre a debilidade humana, mas sim, na mente daqueles que já não se permitem sonhar. Deste modo, os personagens ao serem comparados a “sombras” humanas, simbolizam esse universo de insignificância humana diante a dimensão inquietante e opressiva causada pelo conflito bélico. O tempo passeava com mansas lentidões quando chegou a guerra. Meu pai dizia que era confusão vinda de fora, trazida por aqueles que tinham perdido seus privilégios.[...] Depois os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos. [...] Minha mãe abanava a cabeça. Ela nos ensinava a sermos sombra, sem nenhuma outra esperança senão seguirmos do corpo para a terra (Couto, 1992: 17). Segundo Edward Said, o oprimido existe «para conter a destrutividade indesejada do opressor, que ao mesmo tempo insiste em que o oprimido seja algo como uma identidade fecal, tão odiosa que não pode ser reconhecida, a não ser que, e no caso em que, esteja fora de seu campo de visão e finalmente eliminado» (Said, 2004: 38). Nesse contexto de “inexistência”, instaura-se o aspecto destrutivo e denegridor da imagem 30 SUZANA RAQUEL BISOGNIN ZANON humana, indicado por Mia Couto, ao narrar, através da ficção, a história de uma nação que se defronta com a guerra civil e, que não obstante alimentam o sonho de liberdade e paz. Através de suas personagens, Terra Sonâmbula representa os estigmas de humilhação e inferioridade causados pelos colonizadores, resultando na desesperança em face da realidade na qual se encontram. A inferioridade pode ser notada pelo fato de o autor utilizar-se de um vocabulário em diminutivo, que permite delinear os traços débeis dos seres humanos diante da guerra: «O miúdo desiste de mais pergunta. Por que razão o velho teima em não lhe revelar nenhum passado? Seria verdadeira aquela ignorância dele?» (Couto, 1992: 35). O romance apresenta, além dos extravios, um universo de buscas, que podem ser elucidadas pelas personagens: Farida, a qual deixa seu filho Gaspar ainda criança e, quando já é rapaz, resolve procurá-lo; Kindzu, desgarrado de seus pais; seu irmão Junhito, a participar da guerra; Muidinga, em constante busca das origens; o velho Thuair, que perde seu filho mais velho, morto nas ilhas do Rand. As perdas encontradas na narrativa podem ser consideradas metáforas da identidade perdida e de posições sócio-ideológicas desnorteadas. Para Stuart Hall, a identidade «é formada na ‘interação’ entre o ‘eu’ e a sociedade. O sujeito ainda tem o núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem» (Hall, 2005: 11). De acordo com tais parâmetros, em Terra Sonâmbula, as identidades tornam-se confusas, pois, no momento em que a guerra pela independência e a ocupação colonial se instituem, novos padrões sócio-culturais e políticos são, em grande parte, determinantes para a nação portuguesa. Dessa forma, a crise de valores do povo nativo se manifesta, levando ao sentimento de despertencimento: [...] saibam que os dias que virão serão ainda piores. Foi por isso que fizeram essa guerra, para envenenar o ventre do tempo, para que o AFRICANIDADE NO CONTEXTO PÓS-COLONIAL MOÇAMBICANO: TERRA SONÂMBULA 31 presente parisse monstros no lugar da esperança. Não mais procureis vossos familiares que saíram para outras terras em busca de paz. Vós vos convertêsteis em bichos, sem família, sem nação. Porque esta guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de dentro de nós (Couto, 1992: 201). Sigmund Freud, quando se refere aos traumas humanos, diz que «o indivíduo retorna continuamente à cena de seu trauma original, deixando-se aprisionar por um poderoso temor neurótico sem se valer nem do consolo da razão nem da realidade» (Said, 2003: p.143). Assim, o sonho pode ser concebido como uma fuga da realidade, a única maneira de buscar a esperança no mundo imaginário. O trauma do indivíduo se correlaciona ao complexo de inferioridade, apresentado pelos negros africanos, diante do branco colonizador. A africanidade pode ser refletida na obra de Mia Couto a partir dos mitos, lendas, rituais tribais e do ato de contar histórias, os quais, veiculados por uma pluritonalidade de vozes, abrem espaço ao hibridismo cultural presente na comunidade africana. A oralidade, neste sentido, é concebida como um valioso costume do povo africano que, por esse meio, adentra no mundo mítico e imaginário. Segundo Kindzu, «[f]alar bem, escrever muito bem e, sobretudo, contar ainda melhor. Eu devia receber esses expedientes para um bom futuro» (Couto, 1992: 24). Contudo, esta manifestação de africanidade na narrativa, permite não somente transparecer o universo mítico e lendário, mas mostrar que as práticas e tradições provindos das comunidades ancestrais, são determinantes para a afirmação do nativismo.Todas as vezes em que lê o diário de Kindzu, Muidinga realiza o ritual de acender a fogueira e contar a história em voz alta para Tuahir: «arruma uns paus secos e transporta consigo os escritos de Kindzu. Ascende o fogo na berma da estrada. Depois, se instala para ler em comodidade o segundo caderno. A voz de Tuahir o sobressalta: – Não vai ler isso sozinho, pois não?» (ibidem: 39). Se o conto é uma das maiores tradições dos povos africanos, Mia Couto, através da representação dessa prática da oralidade, demonstra 32 SUZANA RAQUEL BISOGNIN ZANON que os costumes das tribos ancestrais estão presentes na vida das comunidades de origem africana que mantêm sua cultura e valores através da prática dos hábitos típicos. Os rituais lendários se apresentam no desenrolar das narrativas curtas, conforme praticadas por Kindzu, como acontece na parábola das Idosas Profanadoras. Aparecem as usadas carnes, enrugadas até os ossos, os seios pendentes como sacos mortos.[...] ela grita, se lambe a si mesma, em inesperadas volúpias. Sobe a mão por entre as pernas e se deixa cair sobre o rapaz. _ O que aconteceu?, pergunta Muidinga. [...] aquelas mulheres estavam em sagrada cerimônia, afastando os gafanhotos que assaltaram as plantações. [...] a chegada de um intruso quebrou os mandamentos da tradição (ibidem: 99). Sendo assim, os cerimoniais e lendas podem dar ênfase ao hibridismo cultural presente no romance, como forma de demonstrar que o imaginário e os rituais não se separam das raízes do povo africano. Entretanto, em meio a esses elementos que podem denotar os traços de africanidade existente no romance, o etnocentrismo é visível, na medida em que o personagem Taímo, pai de Kindzu, impede que este freqüente a casa de Surendra, o comerciante Indiano, demonstrando dessa forma, que a prática do hibridismo é coibida pela isenção da mescla de ideologias e saberes do Indiano Surendra e do Africano Kindzu. Desta forma, afastar-se do Indiano, significaria a garantia de manter seu mundo original, ou seja, a preservação da cultura africana, longe da mistura com as demais: Durante anos aquele homem tinha provado o justo contrário. Mal saía da escola e eu me apressava para sua loja. Entrava ali como se penetrasse em outra vida.[...] Surendra sabia que minha gente não perdoava aquela convivência. Mas ele não podia compreender a razão. Problema não era ele nem a raça dele. Problema era eu. Minha família receava AFRICANIDADE NO CONTEXTO PÓS-COLONIAL MOÇAMBICANO: TERRA SONÂMBULA 33 que eu me afastasse de meu mundo original. Tinham seus motivos. Primeiro, era a escola. Ou antes: minha amizade com meu mestre, o pastor Afonso. Suas lições continuavam mesmo depois da escola. Com ele aprendia outros saberes, feitiçarias dos brancos, como chamava meu pai (ibidem: 24). Para tanto, Kindzu transparece através de sua personalidade uma neutralidade étnica, em relação a sua origem africana. Essa neutralidade pode ser expressa pela fala do Indiano Surendra em relação ao menino Kindzu: «Eu gosto dos homens que não tem raça. É por isso que eu gosto de si Kindzu» (Couto, 1992: 28). Enfim, a partir das personagens complexas, fruto da criação do autor, e do pano de fundo da guerra civil, Mia Couto cede espaço a vozes de diferentes tradições e culturas africanas que se mesclam no contexto pós-colonial moçambicano, como forma de demonstrar as peculiaridades de uma nação sofrida e que ainda consegue sonhar. Para Said, «[a] paz não poderá existir sem a igualdade: este é um valor intelectual que necessita desesperadamente de reforço e reiteração. A sedução da própria palavra –paz– está no fato de ela ser cercada e embebida de louvores de aprovação, louvores sem controvérsia, endosso sentimental» (Said, 2003: 39). Assim sendo, Terra Sonâmbula apresenta um universo carente de paz e igualdade, no qual o sentimento é uma das formas de apregoar a esperança do ser humano frente às catástrofes. REFERÊNCIAS: CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. Estratégias para entrar e sair da modernidade. 3 ed. São Paulo: Edusp, 2000. COUTO, Mia. Terra sonâmbula. São Paulo: Companhia das letras, 2007 [1992]. HALL, Stuart. Da diáspora – Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. ----. A identidade cultural na pós modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro DP&A, 2005. SAID, Edward W.. Cultura e política. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. ----. Freud e os não-europeus. São Paulo: Boitempo, 2004. . VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 35-54 A emergência da revista Brasília da Universidade de Coimbra. Memória, História e Política ELIO CANTALICIO SERPA Universidade Federal de Goiás. CNPq Em 1942, o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra criou a Revista Brasília. Uma revista de cunho acadêmico e institucional, diferenciando-se de outras na sua conceção e destinada a um público específico. A publicação contou com o apoio do Instituto para a Alta Cultura da Propaganda Nacional, da Era Salazarista e o Brasil se constituiu em interlocutor básico. As preocupações fundamentais da Revista Brasília giraram em torno de questões relacionadas com a língua, com a história e com a literatura. O que se pretende neste artigo é dar visibilidade às condições de emergência da referida revista. Palavras-chave: Revista Brasília, Portugal, Brasil In 1942, the magazine Brasília was made up by the Instituto de Estudos Brasileiros, a departament at Universidade de Coimbra. Of academic and institutional contents, this magazine was different from the other magazines due to its conception and also because it was aimed to a specific public. This publication was sponsored by the Instituto para a Alta Cultura da Propaganda Nacional, an institution from the Salazar’s government, and Brazil became a basic interlocutor. The main issues in the magazine were those related to language, history and literature. Thus, the foremost purpose here is to enlighten the conditions in which the Brasília magazine emerged. 36 ELIO CANTALICIO SERPA Key words: Revista Brasília, Portugal, Brazil A revista Brasília foi uma publicação do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra. Surgiu em 1942 e tinha como objetivo específico manter e estimular as relações culturais entre Brasil e Portugal. A publicação do primeiro volume contou com o apoio do Instituto para a Alta Cultura e do Secretariado da Propaganda Nacional (órgão da Era Salazarista) e, em suas edições, o Brasil constituiu-se interlocutor básico. As preocupações fundamentais referem-se, nos primeiros números até 1950, à questão da Língua, da Literatura e da História, mas não se limitam a isso. É uma revista de cunho acadêmico e institucional,1 diferenciando-se na sua conceção de outras e destinada a um público específico. A revista Brasília apresenta ao leitor dois lugares de produção de textos muito explícitos: um ocupa-se da publicação de artigos sobre Brasil e Portugal e o outro destina-se à crítica sobre a produção inteletual brasileira e também portuguesa. Aparecem publicações de relatos de viagens de estudos feitas por estudantes brasileiros a Portugal e de estudantes portugueses à Universidade de São Paulo, de documentos referentes ao passado histórico brasileiro, de discursos de brasileiros que visitaram a Universidade de Coimbra, de relatos de comemorações e homenagens. O objetivo deste texto é fazer uma incursão nas condições de emergência da revista Brasília, demonstrando que a sua publicação está relacionada com a experiência política autoritária vivenciada em Portugal e, com o Brasil, pela sua condição de ex-colônia. Em época de nacionalismos, autoritarismos e colonialismos exacerbados, a produção da revista poderá ser lida dentro do campo de forças, no qual Portugal difunde o discurso de criador de uma língua e de produtor de narrativas geradoras de nacionalidades, gerando embates na forma de constituição de signos de distinção e de controle. O título Brasília, como sublinha a explicação de A. Pinto de Carvalho (1943a: 54), tinha uma longa tradição de uso. Afinal, a notoriedade 1 Caracterização utilizada por Martins (2001). A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 37 dos fatos, em tempos de nacionalismos, assentava-se na autoria reconhecida, na longa tradição e, quanto mais afastado no tempo, maior era seu significado histórico, tornando-se inquestionável sua significação para a produção de valores. O passado e sua autoria davam notoriedade ao título: pois o nome Brasília, dizia o articulista, figurara «no poema do padre José de Anchieta, De Rebus Gestis Mendi de Sá Praesidis in Brasilia», isto é, no primeiro poema épico composto na América, mas, conjecturava ele, que «anteriormente a ANCHIETA, outros latinistas da época houvessem empregado o vocábulo latino Brasilia, nomeadamente os seus confrades, em documentos oficiais da Ordem» (ibidem). E Carvalho acrescentava: o termo Brasília figura desde 1520 no Globo de SCHONER, no qual a América é designada com a legenda América uel Brasília siue papagalli terra – ‘América ou Brasil ou terra dos papagaios’… Interessa-nos, sim, registrar a forma latina do vocábulo, inteiramente de acordo com o gênio da língua do Lácio. É provável que antes de 1520 essa forma haja sido empregada por algum escritor, pelo que apontamos a data de 1520 sob muita reserva. A resposta para a dúvida que pairou sobre a escolha do título engendrou a possibilidade de indicação de motivos que lhe davam legitimidade ao direcionar o leitor para o uso do nome no tempo datado e para as “vozes autorizadas” que o empregaram. Num desses casos, um expoente do catolicismo e da catequização do índio, Anchieta, cujo labor para a grandeza de Portugal e do cristianismo transformou-o em filho dileto. Considere-se, ainda, que o tempo da publicação da revista Brasília é tempo de produção de boas origens; daí cantar-se a matriz tão cultivada que deu origem à língua portuguesa: «a forma latina do vocábulo de acordo com o gênio da língua do Lácio» (ibidem). A revista Brasília, produzida pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, traz como um dos pressupostos de sua atuação «ver o outro nos próprios olhos» (Fi- 38 ELIO CANTALICIO SERPA gueiredo, 1943: 4). Esse olhar tem especificidades e é especializado. Sabemos que o Iluminismo propôs uma pedagogia do olhar e do bem olhar. Em decorrência, fomos treinados para saber ver. Evocamos para isso olhares especializados, como o do filólogo, do historiador, do geógrafo, do médico, do educador, entre outros. Como foi dito, sobressai na revista a crítica, o que se conjuga firmemente com postulados da Filologia, pois, se o olhar do filólogo remonta à Antiguidade Clássica e, ao longo dos séculos, houve alteração em seu significado e função, o metier do filólogo foi sempre polissêmico: ele jamais deixou de ser um especialista qualificado para ler, ver, ver bem e avaliar. Para os filólogos da revista Brasília, interessava a filologia românica, que, segundo Edward W. Said (2007: 115), deriva suas idéias metodológicas principais de uma tradição principalmente alemã de interpretação que inicia com a crítica homérica de Friedrich August Wolf (1759-1824), continua com a crítica bíblica de Hermann Schleiermacher, inclui algumas obras mais importantes de Nietzsche (filólogo clássico por profissão) e culmina com a filosofia muitas vezes laboriosamente articulada de Wilhelm Dilthey. A filologia, em época de nacionalismos, assentou sua prática na elaboração de críticas e procura de fontes antigas sobre diferentes manifestações culturais, notadamente a literatura, para nela perceber o gênio de um povo, sua originalidade, atribuindo e conferindo grandeza à nação (Schama, 1996: 85-143). Disso resulta que a produção de críticas, cujo objeto, segundo Barthes, não é o mundo, mas é um discurso sobre outro discurso, é uma linguagem segunda ou metalinguagem que se exerce sobre uma linguagem primeira. Sua tarefa não é descobrir verdades, mas somente validades. A crítica não é uma homenagem à verdade do passado, ou a verdade do outro, ela é construção da inteligência de nosso tempo (Barthes, 2007: 160-1). Em que medida as chamadas críticas constantes na revista Brasília atendem a essa expectativa de crítica? Não parece adequado equipará-las. Mas é possível encará-las como sendo próprias do modo português de lidar com a filologia e produzir textos A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 39 adequados aos pressupostos tomados por eles, portugueses, como peculiares à contemporaneidade, emaranhados, evidentemente, com a política de seu tempo, embora dizendo-se neutros ou imparciais. Entretanto, a crítica portuguesa sobre a produção inteletual brasileira encaminha-se para a avaliação, conferindo estatuto de veracidade ou não ao discurso do outro. Nesse afã, a revista Brasília constituiu suporte básico de poder e fixação de memória, adquirindo conotação política nas tramas da constituição do V Império português, com seus mitos, com a política do espírito, com a Universidade de Coimbra em tempos de autoritarismo e o significado do passado português para o Estado Novo brasileiro. II A crítica é um discurso que denota a inteligência do tempo em que foi produzida. Era, então, o tempo de uma inteletualidade sobejamente defensora do colonialismo, herdeira de uma cultura histórica tributária da obra colonizadora do império português, profundamente atingida pelo descaso que a Europa (Inglaterra, França, Alemanha) tributava a Portugal e instigada pelo ufanismo salazarista a alçar-se como arauto da civilização, tendo o passado e a língua como carro chefe de suas glórias. A revista Brasília emergiu em momento marcado e delineado no campo das ideias por matrizes ligadas ao autoritarismo, cujas expressões máximas eram o nazismo ou o fascismo, contudo não se quer dizer que houvesse somente esses campos e unanimidade de preferência por essas vertentes. No campo das ideias, marxismo, liberalismo, anarquismo e autoritarismo, em suas diferentes colorações se engalfinhavam e ou se instalavam como modo de ler, representar e fazer o mundo ocidental. Nem mesmo os intelectuais que escreviam suas críticas na revista Brasília filiavam-se, na sua totalidade, às perspectivas políticas autoritárias. O crítico Almeida e Silva (1943: 918-919), ao avaliar o trabalho de J. de Mattos Ibiapina intitulado O Brasil de Ontem e de Hoje, registrou que «a crise que o autor diz que o Brasil atravessa, não é peculiar apenas ao Brasil, mas sim um fenômeno geral e a Europa constitui-se em teatro de experiências dolorosas em busca de um rumo político e social definido», 40 ELIO CANTALICIO SERPA concluindo que para debelar esta crise, política e social, crise de inteligência e de dignidade, os povos se entregaram cegamente aos ditadores, com poderes ilimitados, para os livrarem da anarquia e do comunismo, mas a reação foi de tal modo exagerada que caíram na estatolatria, no culto de filosofia da força e na deificação do homem. Parece que a academia respaldada pela conotação científica possibilitava a alguns um olhar mais crítico em relação ao mundo que os cercava. É preciso atentar para o fato de que o dispositivo cultural do Estado Novo montado a partir de 1933, com o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN), atribuiu um «papel periférico e subalterno ao saber acadêmico e à cultura científica e universitária, chamada a avalizar e legitimar os grandes lances da propaganda» (Rosas, 1995: 1033-4). Percebe-se que os críticos procuravam se ater à análise das obras enviadas pelos autores ao Instituto de Estudos Brasileiros sem se imiscuir em situações do presente ou que escapassem ao escopo do trabalho, exceção à crítica feita por Almeida e Silva. Contudo, as chaves utilizadas para avaliar a produção brasileira, em sua maioria, demonstram que o ato de «avalizar e legitimar lances de propaganda» eram constantes na escrita da inteletualidade coimbrã presente na revista Brasília. O primeiro número da revista traz uma apresentação do cardeal Patriarca (1942: 3), mentor espiritual do salazarismo, onde dizia: «o Brasil toma consciência de si próprio, fiel à sua formação histórica e aberto às mais audaciosas conquistas do progresso – saúdo nele o herói dessa América cristã ...». Mário de Figueiredo, defensor das ideias de António de Oliveira Salazar, fez uma pequena apresentação na qual registrou que «Portugal e Brasil –que foram um só povo, são comandados pelo fundo da mesma história e do mesmo sangue.... As duas civilizações não podem ser divergentes: só podem ser paralelas» (1943: 4). Por último, coube a J. da Providência Costa (1942: 4), diretor da Faculdade de Letras, apresentar os objetivos da revista Brasília. Afirmava, então, que A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 41 esta tinha por finalidade estreitar as relações culturais entre Portugal e o Brasil, quer divulgando no império português nomes ilustres do país irmão, quer contribuindo para o conhecimento do mundo brasileiro e dos seus valores e para esclarecimento de problemas históricos, literários ou científicos referentes ao Brasil e às suas plurisseculares relações com Portugal. O propósito inicial da revista Brasília inscreve-se num contexto muito próximo da relação de poder advinda de um passado –ex-metrópole/ex-colônia–, acentuadamente quando afirma sua condição de esclarecedor de problemas históricos, literários e científicos, enfatizando a ideia de que as “duas civilizações não podem ser divergentes” e de que o Brasil é “fiel à sua formação histórica” –pressupostos assentados numa tradição de cunho colonialista e de quem se alça à condição de construtor do “Quinto Império”, experiência vivida durante a Era Salazarista. No entendimento de Fernando Rosas, o salazarismo reelaborou o conceito de Império, que passou a ser uma entidade natural-organicista, ou seja, um corpo com suas várias funções e uma cabeça (a metrópole); uma família unida na diversidade dos seus membros sob a autoridade natural do chefe que a guia, protege e ajuda, do qual há de receber as contrapartidas que lhe são devidas. O Império aparece como ser ontológico e como realidade transtemporal inerente à essência orgânica da Nação, como imperativo da raça e redescoberto por meio do encontro que o Estado Novo operava na nação, isto é, com o seu passado heróico. Dessa conceção, resultava uma dupla dimensão político-prática consagrada no Ato Colonial e na Constituição, qual seja: a) centralização administrativa e financeira da política colonial no governo metropolitano e no ministério das colônias; b) nacionalização da exploração colonial e reforço da política do pacto colonial, amenizado pela preocupação equilibrante do regime entre os interesses econômicos metropolitanos e os da burguesia colonial (Rosas, 1995: 21-2). O jornalista Augusto Costa, em 1937, abordou a questão do Impé- 42 ELIO CANTALICIO SERPA rio na revista Nação Portuguesa, apelando para o apoio dos intelectuais à ideia de “Quinto Império”, enfatizando a necessidade fundamental de uma obra de cultura e de direção das massas por um escol consciente e ordenado. Para tanto, lançou os “Dez Imperativos do Quinto Império”. Entre os dez imperativos, o autor cita o Brasil e anuncia o papel de Portugal no sentido de controlar e dissipar tudo o que for contrário aos seus interesses, dizendo que: 1- ‘Para assegurar a perenidade do Império, Portugal tem de estreitar cada vez mais as suas relações com as províncias ultramarinas e colônias distantes, procurando que o Brasil seja, do outro lado do Atlântico, o depositário e continuador da civilização portuguesa’. 2-É preciso combater, na arte, no pensamento, na literatura, todas as idéias e todos os sentimentos que contribuam para a degenerescência do caráter português e aplaudir todas as manifestações literárias e artísticas que contribuam para o fortalecimento do nosso caráter e para a grandeza do império. (Costa, 1934: 191-192) Pode-se inferir que a revista Brasília olhava o Brasil como exemplo da capacidade administrativa e cultural de Portugal, que deveria ser glorificado pelos brasileiros e portugueses, funcionando como panóptico, garantindo o fortalecimento do caráter e grandeza do império às custas do combate ostensivo a qualquer forma de “degenerescência”. O Brasil era visto como continuador das tradições portuguesas no alémmar, seria o espelho cuja imagem refletida glorificava as ações políticoadministrativas de Portugal ao longo de sua história colonialista. “Ver o outro nos próprios olhos” implica a aplicação de uma pedagogia do olhar. Aplicavam, certamente, a máxima iluminista de que «não se vê sempre o que se olha, mas se olha sempre o que se vê» (Rouanet, 1988: 148). Para Rouanet, a frase contém uma exigência normativa implícita: anuncia que nem sempre se vê tudo o que se olha, que a parcialidade do olhar é imperfeita, anômala, deficitária, e o ideal seria a visibilidade irrestrita. Há uma prescrição em curso: é preciso ver tudo. Mas a prescrição contém uma proposição normativa: é preciso olhar corretamente A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 43 o que se quer ver (ibidem: 125-48). Na relação materno-familiar, o olhar sempre aponta para o cuidado do outro, atropelando a autonomia completa. O filho (Brasil) aprenderia a olhar como e com o pai (Portugal). O iluminismo orientou a prática do olhar e, a partir daí, emergiram suportes técnicos para colocar em uso a estratégia do bem olhar para conhecer, controlar, educar, dispor. Se os jornais parecem ter-se constituído em panópticos multipresentes, instituindo condutas e sociabilidades no interior da sociedade, a Brasília segue a trilha e dirige-se a um público específico, o universitário. Para olhar e bem controlar a preservação da tradição histórica, esteve sempre em destaque, na revista, o discurso do legado: os portugueses, católicos, trabalhadores e despidos de preconceitos raciais legaram aos brasileiros sua “índole”, e isto justificava a continuidade de Portugal no Brasil, fortalecendo «a comunidade rácica que é espiritual, cristã e civilizadora» (Cayola, 1942: 23). A Universidade de Coimbra, emblema que fora do poder político cultural português no governo de Salazar, constituir-se-á em espaço de produção de memória dos tempos áureos ressignificados para atender os interesses do presente. Desta Universidade, saíram Salazar e muitos outros que transitavam na esfera do poder, constituindo suportes básicos da política cultural e colonial do império português salazarista. Reis Torgal registra que Salazar, em uma sessão realizada em Lisboa no Teatro São Carlos, de iniciativa da Associação Escolar Vanguarda, afirmou: «quando se pensava que a ditadura tudo esmagaria numa aventura de violência militar, vê-se o governo quase exclusivo do professorado superior, a força a servir a justiça, a improvisação a ceder definitivamente o passo à preparação científica» (qtd. in Torgal, 1999a: 107). Para esse autor, surgia, assim, um Estado nacionalista assente na idéia de império, neste caso um império colonial já existente, que se considerava necessário conservar, pois era tido como um elemento de identificação da nacionalidade lusitana, civilizadora, ocidental, cristã. O militarismo, próprio do tempo, como em todos os fascismos com a defesa da pátria e com uma militância anticomunista, tem como componente a idéia de Impé- 44 ELIO CANTALICIO SERPA rio forjado pela tradição histórica, cujos símbolos de referência são a bandeira de D. João I, a cruz de Aviz ou a Cruz de Cristo. Na Era Salazarista, o Instituto de Estudos Brasileiros, na Universidade de Coimbra, surgiu diante do imperativo da «necessidade de aumentar e dirigir melhor a ação cultural brasileira exercida entre nós». A criação foi uma proposição do doutor Providência Costa dirigida ao Conselho da Faculdade de Letras, em 3 de fevereiro de 1941, solicitando que a Sala do Brasil, solenemente (re)inaugurada em 7 de dezembro de 1937,2 passasse a ter o nome e as funções de Instituto de Estudos Brasileiros, sendo definido que o Instituto de Estudos Brasileiros, além de iniciar a publicação da Revista Brasília, de enriquecer o acervo bibliográfico, promoveria conferências de professores eruditos, homens de ciência e de letras de Portugal e do Brasil sob os mais variados aspetos da vida, da história, da literatura e da cultura brasileiras para incrementar o intercâmbio luso brasileiro. (Carvalho, 1943b) Para Lúcia Pascoal Guimarães (2009), a Sala do Brasil constituiu um marco simbólico e continha um jogo de estratégia política: para o governo brasileiro, representado por Vargas, significaria reverter o quadro de isolamento inteletual. A Sala constituía um lugar apropriado para expor ao Velho Mundo os avanços alcançados em um país jovem e culto. Para o Estado Novo português, ficaria demonstrada sua capacidade colonizadora diante das contestações de países imperialistas. Além disso, embora houvesse outras salas na Faculdade de Letras (todas relacionadas a países europeus, em função das línguas e culturas estrangeiras), a Sala do Brasil, na Universidade de Coimbra, constituía uma espécie de vitrine para suas colônias na África, que poderiam constatar a competência civilizadora do povo português (Guimarães, 2009: 150). A transformação da Sala do Brasil em Instituto de Estudos Brasileiros 2 Sobre a Sala do Brasil, ver Guimarães (2009). A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 45 reafirmaria tudo o que foi dito e, para o Brasil, significaria ainda adquirir status de igualdade com outras nações desenvolvidas (França e Alemanha) que dispunham não de sala, mas de institutos. A criação do Instituto de Estudos Brasileiros, ao se constituir em espaço de apresentação de conferências, de preservação de acervo bibliográfico, de produção bibliográfica, de tomada de assento na definição de disciplinas e conteúdos referentes à História e Cultura brasileiras, trazia também o desejo de colocar em evidência o caráter científico das navegações e a importância de Portugal como país descobridor de mundos e civilizador, a partir de uma ação deliberada, vincada pela racionalidade no uso da técnica de bem navegar e conquistar. Jaime Cortesão (1930), na revista Seara Nova, escreveu um artigo no qual procura mostrar o papel de Portugal no mundo com a divulgação da ciência náutica, concluindo que os descobrimentos «não provocaram apenas o alargamento no mundo físico e econômico, mas no do espírito. Assim, todas as nações marítimas e colonizadoras que desde o século XVI seguiram o exemplo de Portugal aprenderam na escola náutica portuguesa» (1930: 130-159). Associada à questão da instituição do V Império, estava a “Política do Espírito”, tendo como grande idealizador António Ferro que, juntamente com António de Oliveira Salazar, encetou uma série de práticas relacionadas à cultura e destinadas à situação interna do país3 e, também, externa, notadamente para suas colônias e ex-colônia (Brasil).4É bem verdade que a “política do espírito” inspirou-se nos aportes do modernismo, mas satanizou muitos de seus aspetos, especialmente aqueles que se opunham às formas tradicionais de representação do modo de ser português. Segundo Fernando Catroga (1998: 580), a política do espírito foi o primeiro tentame, entre nós, de levar por diante uma política cultural totalizadora, em que tudo o que era da ordem do significante (paisagens, monumentos, folclore, festas cívicas, produções artísticas propriamente ditas) passou a ser mediado por uma 3 4 No que se refere a esse tipo de prática, ver Torgal1999b: 401-420). Ver Paulo (2001) 46 ELIO CANTALICIO SERPA idéia diretora que pretendia unificar as suas significações, em ordem a coadjuvar as ações tendentes a conciliar as contradições internas e a fazer aceitar o Estado Novo como o artífice de uma autêntica aleluia nacional. Com efeito a sensibilidade estética de Ferro, formada nas águas do modernismo, trouxe à propaganda do Estado Novo uma animação cultural dirigida por quem sabia que a forma também é conteúdo. Política do espírito e institucionalização do V Império, no seu nascedouro, imbricavam-se e geravam práticas na forma de campanhas, decretos, leis, propagandas e rituais com o intuito de levar os portugueses à redescoberta do mito de sua grandeza por meio de atos concretos como: reforma da Agência Geral das Colônias (1932), fundação da revista O Mundo Português (1934), publicação da Carta Orgânica do Império Colônia Português (1934), reforma da administração ultramarina e do próprio Ministério das Colônias, primeira exposição colonial portuguesa (Porto, 1934), I Congresso de Intercâmbio Comercial com as Colônias, fundação do Arquivo Histórico Colonial e restauração do Conselho do Império Colonial (Catroga, 1998: 581). Após estes primeiros empreendimentos, seguem-se, em anos posteriores, uma série de eventos que davam continuidade ao ideário do V Império e da política do espírito, acentuando seu caráter repressivo e expansionista. António Ferro, expoente do modo de ser moderno, repensa o seu estatuto durante o Estado Novo, propondo: Política do Espírito não é apenas ... fomentar o desenvolvimento da literatura, da arte e da ciência, acarinhar os artistas e os pensadores, fazendo-os viver uma atmosfera em que lhes seja fácil criar. Política do Espírito é aquela que se opõe, fundamental e estruturalmente, à política da matéria. Política do Espírito, por exemplo, neste momento que atravessamos, não só em Portugal como no mundo, é estabelecer e organizar o combate contra tudo o que suja o espírito, fazendo o necessário para evitar certas pinturas viciosas do vício que prejudicam a beleza, como certos crimes e taras ofendem a humanidade, a felicidade do homem. Defender a Política do Espírito é combater sistematicamente, A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 47 obra da vida ou obra de arte, tudo o que é feio, grosseiro, bestial, tudo o que é maléfico, doentio, por simples volúpia ou satanismo! (Ferro apud Torgal,1999b: 406) A revista Brasília emergiu no turbilhão de práticas criadas para fomentar a “política do espírito” e, como uma entre tantas manifestações dessa política, parece levar a cabo o pressuposto de «estabelecer e organizar o combate contra tudo o que suja o espírito». Ora, se o “espírito” da nação portuguesa se expressava mediante seu passado glorioso a serviço da civilização, da expansão do catolicismo, da criação de nacionalidades, a produção das críticas, na revista Brasília, chamou para si a responsabilidade de olhar a produção bibliográfica brasileira mediante critérios que expressassem a validade científica vigente no momento, mas o acento destacado nas tintas do crítico era a afirmação do “espírito grandioso” português e a censura a qualquer desvio. Não resta dúvida de que os críticos levaram a cabo o ideal de que «defender a Política do Espírito é combater sistematicamente, obra da vida ou obra de arte, tudo o que é feio, grosseiro, bestial, tudo o que é maléfico, doentio, por simples volúpia ou satanismo» (ibidem: 406). O grosseiro, o bestial, o maléfico, o doentio, antes de ser uma questão a ser combatida pela estética peculiar da expressão artística da época, era o banimento de tudo que contrastasse com os pressupostos ou mitos do autoritarismo salazarista. Fernando Rosas (1995) elenca sete mitos fundadores do Estado Novo, a saber: a) mito palingenético: relacionado com o mito do recomeço, da regeneração, da renascença portuguesa essencial para o Estado Novo superar a “decadência nacional” precipitada desde muito tempo pelo liberalismo monárquico e do seu paroxismo republicanista; b) mito central da essência ontológica do regime ou mito do novo nacionalismo: o Estado Novo configurava-se como a institucionalização do destino nacional, a materialização política no século XX de uma essencialidade histórica portuguesa mítica. O modo político de atuação típico do liberalismo deveria ser sepultado para sempre das páginas da história portuguesa; c) mito imperial: tributário da tradição republicana e monárquica anterior, no seu duplo aspeto 48 ELIO CANTALICIO SERPA de vocação histórico-providencial de colonizar e evangelizar; era a continuação da gesta heróica dos nautas, dos santos e cavaleiros; d) mito da ruralidade: a essência de Portugal estava no meio rural. É nesse meio que estão as verdadeiras qualidades da raça e de onde se construiria o ser nacional; e) mito da pobreza honrada: Portugal era essencial e incontornavelmente pobre pelo fato de ser um país com destino rural; f) mito da ordem corporativa: segundo o autor, pode ser definida pela máxima: “Um lugar para cada um, cada um no seu lugar”. Desse mito, resultava uma visão infantilizadora do povo português, gente conformada, respeitadora, doce, algo irresponsável e volúvel, mutável nas suas opiniões, sonhadora, engenhosa mas pouco empreendedora, necessitando da tutela atenta do Estado; g) mito da essência católica da identidade nacional: contém a idéia de que a religião católica é elemento constitutivo do ser português, sendo definidor da nacionalidade e da sua história (Rosas, 2001: 1033-9). A “política do espírito” em Portugal assentava-se nesses mitos, gerando as condições para que esses se pudessem disseminar de uma maneira concisa e compatível com o ideário, mas também suscitaram cisões, necessárias, muitas vezes, para evidenciar o inimigo e melhor combatê-lo. As críticas produzidas na revista Brasília faziam circular esses mitos e garantiam a observância do seu conteúdo, execrando tudo o que fugisse a essa dinâmica, como se verá adiante. O modo de ser do Estado autoritário instituía uma escrita política crivada desses mitos/ valores. Nesse sentido, é oportuno o que diz Barthes (2000: 23-24) sobre o assunto: não há dúvida de que cada regime possui a sua escrita, cuja história ainda está por se fazer. A escrita por ser a forma espetacularmente engajada da palavra, contém ao mesmo tempo, por uma ambigüidade preciosa, o ser e o parecer do poder, o que ele é e o que ele queria que se acreditasse que fosse. Os nacionalismos vigentes no século XX propugnam por uma incessante busca de autonomia cultural que desembocou na constituição A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 49 e afirmação da identidade e do gênio nacional. São reflexões trabalhadas por uma imensa quantidade de escritas peculiares a regimes autoritários e nacionalistas e que balizam a produção de suportes culturais para dar conta a seus intentos. Foi então em decorrência desses processos de afirmação de identidades nacionais que se consolidou um conjunto de instituições políticas com o papel de celebrar e de preservar os valores e os símbolos inscritos nesse afã aglutinador e excludente do «semióforo nação» (Chauí, 2000: 11-30). Na esteira de afirmação de uma identidade nacional, também se constituíam espaços sagrados para afirmar a magnitude da inteletualidade do país. Instâncias como as revistas, os prêmios, as editoras, as academias de letras, os institutos históricos, os congressos e as exposições formam uma teia institucional fortemente relacionada com a constituição de uma cultura nacional. III A proximidade ideológica entre o Estado Novo brasileiro e o português deve ser tomada como problema. O desejo de Salazar de valorizar o passado colonial português voltava-se para o enfrentamento da questão colonial: doravante, não mais fazia sentido a dicotomia entre metrópole e colônia, pois pretendia-se a integração das colônias no corpo da nação (João, 2002: 693). A aproximação com o Brasil representava uma estratégia de utilização do passado colonial, no claro intuito de demonstrar o laço fraterno que unia os dois povos em uma mesma cultura, a luso-brasileira. Finalmente, pretendia-se demonstrar, na ritualização da história, que a unidade luso-brasileira poderia ser tomada como referência para a redefinição dos laços entre Portugal e suas colônias. O Estado brasileiro recebeu afetuosamente os afagos do regime salazarista, aceitando participar da Exposição do Mundo Português, em 1940, na condição especial de país-irmão, já que o Brasil foi o único país independente convidado. O empreendimento comemorativo reabria o debate acerca da presença dos portugueses na formação da identidade nacional, uma discussão complexa que acompanhou a passagem do Império à República e constituiu campo de polêmicas infindáveis (Ramos, 2001). 50 ELIO CANTALICIO SERPA Retomando a ideia de que a proximidade ideológica entre o Estado Novo brasileiro e o português deve ser tomada como problema, isto se configura no entendimento que a inteletualidade brasileira tinha sobre o passado/presente. É importante asseverar que, quando falamos em inteletualidade brasileira, referimo-nos àquela que manifesta suas ideias na revista Cultura Política produzida no governo Vargas dentro do projeto de propaganda governamental materializado com a criação, em 1939, do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Tal órgão definia como uma de suas prioridades a publicação de um periódico com a finalidade de divulgar a proposta política do Estado Novo. É nesse ambiente que surgiu a revista Cultura Política, em 1941 (Gomes, 1996: 160). Nessa revista, segundo Ângela de Castro Gomes, os intelectuais produziram reflexões acerca da significação do ‘passado/presente’ na construção da nacionalidade. Uma primeira significação do passado está relacionada com a ideia de um começo germinal do presente: sua origem que também é singular; antecedente que dá sentido e vida ao presente, passado vivo desvinculado de qualquer esforço de periodização, de datação; passado como tempo não cronológico, que não se remete a um calendário de fatos, de acontecimentos, de eventos. A referência a esse passado encontra-se nas experiências humanas chegadas ao tempo presente através de relatos, práticas culturais, materiais e simbólicas que constituem o acervo da comunidade. É o tempo da memória coletiva do grupo, um tempo imemorial. A recuperação dessa história se faz mediante a revitalização das fontes que guardam esse passado e que são identificadas nas tradições populares da nação. Associada a essa compreensão, estava a ideia de espírito nacional. Este é uma totalidade abrangente e singular que pode estar materializado no ator povo, Estado ou Nação, indistintamente. O espírito nacional é construção coletiva, identificada por intérpretes competentes e especializados (ibidem: 160161). Essa visão de passado, de certa forma, elidia o passado português como fundante da nacionalidade brasileira. Não interessava o descobrimento ou os administradores portugueses e, sim, tudo o que tivesse relacionado ao espírito genuíno do povo brasileiro, perscrutado por meio A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 51 do folclore e que conferia singularidade à sua formação e evolução. As narrativas abordavam epopeias e costumes regionais, a exemplo do bandeirante que será consagrado por parte da historiografia republicana como fundante da nacionalidade brasileira, dotado de bravura e originalidade. Uma segunda significação de passado, segundo Ângela de Castro Gomes, assenta-se na tradição historiográfica, afirmando uma concepção cronológica do tempo. O passado não coexistia com o presente e não fornecia uma essência para o futuro, ele não é um passado vivo. O passado é um antecedente esclarecedor do presente e do futuro, embora não os contenha em germe ou essência. A busca desse passado constituía tarefa prioritária para o Estado novo. Isto seria feito por intermédio da recuperação de fontes caracterizadas como históricas e identificadas como documentos, fundamentalmente escritos, podendo ser visuais ou de outra natureza. O especialista responsável seria o historiador: ele se deslocaria no tempo e construiria narrativas que periodizassem a História do Brasil, dotadas de inteligibilidade, assumindo uma dimensão mais política, econômica e inteletual (ibidem: 162-3). Nesse sentido, a prática historiográfica implicava defrontar-se com a presença portuguesa no Brasil. Mas Portugal não tinha a certeza de que esse olhar brasileiro para seu passado significava a presença e continuidade de sua mentalidade e de seu gênio fundador na ex-colônia. Concluindo, Brasília publicou uma série de artigos nos campos de Filologia, História, Geografia e Literatura. Uma leitura rápida de alguns volumes da revista permite dizer que são publicados textos com a intenção de revelar documentos ou de mostrar o papel de pessoas e instituições portuguesas na construção cultural do Brasil. A colônia é instituída como instância mítica onde se originou a nação brasileira, em que se estruturou a organização político-administrativa do Brasil. Os textos destacam o papel do catolicismo no erigir da nacionalidade brasileira por intermédio da Companhia de Jesus. A religião, segundo os princípios do Catolicismo, constitui-se em ancoradouro para o desenvolvimento do nacionalismo que se articula com o Brasil por meio do grupo ligado a Jackson de Figueiredo. Defendia-se o resgate da cristandade, que no século XVI constituiu mola propulsora e aglutinadora do 52 ELIO CANTALICIO SERPA expansionismo marítimo português e dos povos que despontaram para o mundo. Esse processo era visto como princípio materno (familiar). Nele, a metrópole prepara a colônia, desde as origens, passando a ideia de que a pátria-mãe preparou com grandes esforços o “filho próspero”, que, depois de um tempo, se liberta do seu corpo físico, mas não do seu espírito. Dessa forma, a situação política de Portugal engendrou estratégias que por intermédio de diferentes práticas reforçou mitos necessários à consumação da ideia de Império que arrastava valores de caráter nacionalista, colonialista, corporativista, enredando a ex-colônia nessa saga autoritária. Isto não significa adesão total da inteletualidade brasileira aos intentos da ex-metrópole. A revista Brasília, como artefato cultural e político, seja nos artigos produzidos pelos intelectuais portugueses, seja nas críticas que os mesmos produziram, constituiu-se em lugar de veiculação da política do espírito e de produção, divulgação e enquadramento da memória nacional, tendo como referência os mitos projetados pelos ideólogos do V Império português . REFERÊNCIAS: BARTHES, Roland. Grau Zero de Escrita. Mário Laranjeira, trad. São Paulo: M. Fontes, 2000. ----. Crítica e Verdade. Leila Perrone-Moisés, trad. São Paulo: Perspectiva, 2007. CARVALHO, A. Pinto de. “A Propósito do Vocábulo Brasília.” Revista Brasília I, 1943ª. ----. Apresentação. Revista Brasília I, 1943b. CATROGA, Fernando. “Ritualizações na história.” História da História de Portugal: secs. XIX-XX. org. Luis Reis Torgal et al. Lisboa: Círculo dos Leitores, 1998. CAYOLA, Júlio. O Brasil Terra Lusíada. N. p.: n. p., 1942. CHAUÍ. M. Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária. São Paulo: Fund. Perseu Abramo, 2000. CORTESÃO, Jaime. “O papel de Portugal na história da civilização” In Seara Nova 212 (1930): 130-59. COSTA, Augusto. “Apologia do Império Português.” Nação Portuguesa X, 1934: 191-230. COSTA, J. da Providência. Apresentação. Revista Brasília I, 1942: 4. FIGUEIREDO, Mário. Apresentação. Revista Brasília I, 1943. GOMES, Ângela de Castro. História e Historiadores: a Política Cultural do Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 1996. GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal (org). “Nos Subterrâneos das Relações Luso-Brasileiras, Dois Estudos de Caso: o Sucesso da (Re)Inauguração da Sala do Brasil, na Universidade de Coimbra (1937) e o Fracasso do Congresso Luso-Brasileiro de História (1940)”in Afinidades Atlânticas: Impasses, Quimeras e Confluências nas Relações Luso-Brasileiras. Rio de Janeiro: A EMERGÊNCIA DA REVISTA BRASÍLIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 53 Quartet, 2009. JOÃO, Maria Isabel. Memória e Império: Comemorações em Portugal (1880-1960). Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. MARTINS, Ana Luiza. Revista em Revistas: Imprensa e Práticas Culturais em Tempos de República. São Paulo (1890-1922). São Paulo: Edusp, 2001. PATRIARCA, Cardeal. Apresentação. Revista Brasília I, 1942. PAULO, Heloisa. Aqui Também é Portugal. A Colônia Portuguesa do Brasil e o Salazarismo. Coimbra: Quarteto, 2001. RAMOS, M. B. A intimidade luso-brasileira: nacionalismos e racialismo. O Beijo Através do Atlântico: o Lugar do Brasil no Panlusitanismo. Org. M. B. Ramos, Elio Serpa and Heloisa Paulo. Chapecó: Argos, 2001. ROSAS, Fernando. “Estado Novo, Império e Ideologia Imperial.” Revista de História das Idéias 17 (1995): 21-22. ----. “O Salazarismo e o Homem Novo: Ensaio sobre o Estado Novo e a Questão do Totalitarismo.” Análise Social XXXV.157, 2001: 1033-1039. ROUANET, Sergio Paulo. “O Olhar Iluminista.” O Olhar. Org. Adauto Novaes. São Paulo: Cia. das Letras, 1988: 148. SAID, Eward. Humanismo e Crítica Democrática. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. SCHAMA, Simon (org.). “Der Holzeig: a trilha na floresta”. In Paisagem e Memória. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.. SILVA, Almeida. Crítica. Revista Brasília I, 1943. TORGAL, Luis Reis. A Universidade e o Estado Novo. Coimbra: Minerva, 1999a.. ---. “Literatura Oficial no Estado Novo. Os prêmios literários do SPN/SNI.” Revista de História das Idéias 20, 1999b. VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 55-78 O diálogo de poesia, filosofia e mitologia em Guimarães Rosa: “Curtamão” e “Lá, nas campinas” MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ A obra de Guimarães Rosa tem um acentuado pendor mítico-filosófico. As duas interpretações propostas a seguir comprovam que o recurso à filosofia e à mitologia permite extrair uma compreensão mais plena das estórias do grande escritor. Em “Curtamão”, a partir do ensaio Construir, habitar, pensar, de Heidegger, demonstra-se que a solidariedade intrínseca entre a construção da casa, a narração da estória e a eclosão da vida constitui o sentido mais profundo desta estória fundamental. Somente um habitar tomado de poesia corrige a errância em que se dissipa o homem. Em “Lá, nas campinas”, da audição da palavra mítica depende a reconstituição de uma existência rompida, que perdeu o vínculo com a Infância longínqua. O mito é a palavra que pronuncia o que é, suscitando a presença do que nomeia. Falar já é responder à linguagem essencial, que se exprime através do mito. Em ambas as estórias, estranhas e enigmáticas, a existência está por construir, e a única possibilidade desta construção é o vigor originário da palavra poética. Palavras chave: Construir, Habitar, Narrar, Mito, Palavra poética Guimarães Rosa’s work exhibits a pronounced mythical-philosophic inclination. The two following interpretations prove that the resource to philosophy and mythology allow a more satisfactory understanding of the great writer’s stories. In “Curtamão”, 56 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA with the help of Heidegger’s essay Building, dwelling, thinking, we demonstrate that the intimate bond between the building of the house, the telling of the story and the breaking forth of life constitutes the deepest meaning of this fundamental story. Only a dwelling infused with poetry can redeem the wandering astray in which human spirit dissipates itself. In “Lá, nas campinas” hearing the mythic word is the path to reconstituting a disrupted existence, which lost access to its infancy. Myth is the word that pronounces being, bringing to presence that which is named. To speak is to answer essential language that comes to life through myth. In both strange and enigmatic stories, existence awaits constructing, and the only possibility for this construction is the originating vigor of the poetic word. Key words: Building, Dwelling, Narrating, Myth, Poetic word 1. 1. A obra abria: “Curtamão” O desterro e a errância do homem só se aplacam mediante um construir, cujo significado profundo é a expressão de um habitar. Construir é, já de si, habitar. O homem não habita, porque constrói, mas constrói, porque habita. Habitar é o acontecer primordial. E é poeticamente que o homem habita sobre esta terra. A poesia é o único construir que lhe outorga o lugar pátrio. Concedendo ao homem uma terra natal –a que alberga o nascimento abissal do seu próprio ser– o construir abriga o habitar, que redime o homem de um auto-exilamento em que se dissipava. Inventar-se requer o sigilo e o silêncio de uma morada própria, fundada no poético e desafeita a reles usos. Construir a casa natal, assentando o “edifício ao contrário”, de costas para “o povo inglório” e respeitando frente à abertura de horizonte e várzeas, é colocar-se no mundo em posição personificada. Contemporâneo ao construir é o narrar, ato que funda e respalda o existir. Narrar o construir da casa é compor o estarno-mundo. A obra abre: o seu operar constitui a abertura do mundo e a desocultação do homem. A operatividade da obra abre a clareira para o amanhecer do homem. Este amanhecer, contudo, é todo mistério: ele jaz sobre um fundo de treva que nunca se apaga, e sobre uma reserva de silêncio que jamais se cala. A co-operação entre o que se abre e o que se fecha, entre o que se diz e o que se não diz, entre o que se esbanja e o que se resguarda, é o segredo dessa estória fundamental (Rosa, 1979: O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 57 34-37). Num importante ensaio, intitulado Construir, habitar, pensar, Heidegger (2002) demonstra poeticamente a equação essencial construir = habitar. O ponto de partida para o seu pensamento reminiscente repousa na sabedoria da linguagem: em alemão, bauen (construir) deriva de buan (habitar), do qual procede também bin (ser). Dessa família etimológica altamente significativa, ele extrai a consequência basilar: a maneira como eu sou e tu és, o modo segundo o qual somos homens sobre esta terra, é o habitar. Mas bauen significa, ainda, proteger e cultivar. Ambos os modos de construir –cultivar e edificar– estão contidos no habitar. Percebendo essa relação essencial, Heloísa Vilhena de Araújo enfatiza que «construir é proteger o ser do homem, é mantê-lo em seu lugar próprio, (...) é liberá-lo em seu ser autêntico» (Araújo, 1974: 36). No entanto, no manejo cotidiano da língua, o edificar torna-se a noção habitual, e o sentido próprio de construir –habitar– cai no esquecimento: não se pensa mais que habitar é o traço essencial do ser homem. É esse sentido originário e ancestral que a estória “Curtamão” magistralmente resgata. “Habitar”, diz Heidegger, «é ser trazido à paz de um abrigo, permanecer pacificado na liberdade de um pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência. O traço fundamental do habitar é esse resguardo» (p. 129). Rosianamente pensando, habitar é imanecer. A bela criação imanecer (Rosa, 1978: 47) pertence à constelação semântica de imanência, que se reporta ao latim maneo (-es, mansi, mansum, -ere), com o significado de ‘ficar’ (sentido absoluto) do qual derivam ’morar’ e ‘habitar’ (Ernout et Meillet: 1994). O francês maison e o português mansão integram a linhagem do verbo latino. É esse habitar original que se busca reatar em “Nenhum, nenhuma”, mediante a memória da «mansão, estranha, fugindo atrás de serras e serras» (Rosa, 1978: 43). É também esse o habitar de Tio Man’Antonio, instalado em sua plenitude na «mansão suspensa –no pérvio» (ibidem: 74). É ele que se presenteia a Sorôco nas asas da canção que o leva «para a casa dele, de verdade» (ibidem: 16). E é esse habitar que inspira e funda a casa-grande do narrador-pedreiro de “Curtamão”. 58 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA Para se tornar o construtor do próprio existir, o homem deve primeiro aprender a habitar. Somente assim, ele deixa de ser o apátrida, que vaga pelo mundo desterrado e desfamilhado, errante pela vida, estrangeiro em toda parte, para sempre «desusado forasteiro» (Rosa, 1979: 27). O desenraizamento é o único apelo que convoca o homem para um habitar. A angústia da errância é o acicate para a edificação do abrigo que agasalha o espírito tomado de poesia e lhe fornece o espaço para o seu prodigioso realizar. Quando o homem aprende a habitar, ele pode, e mesmo deve, tornar-se o intrépido viajante de todos os caminhos, na cigana aventura do devir. Então, a intensa mobilidade da alma não é desterro, mas propulsão deveniente, a errância se converte em ritmo festivo de transcensão, e a constante mutação, metamorfose contínua, é a mais legítima forma de transcendência. Construir é um modo de transcender, porque põe alguma coisa para existir, arrebata algo ao nada, ao não-ser, à não-existência, e, nesse trânsito, verdadeiramente cria o novo. O homem se transumaniza, transpondo os umbrais da condição estreitamente humana, e se assemelha a Deus. Os espaços abrem-se pelo fato de serem admitidos no habitar do homem: «A obra abria» (ibidem: 36), diz o narrador. Habitando, o homem pode inaugurar e articular espaços. Não é a abertura que cede espaço à obra, mas a obra que propicia o aberto em que se edificam lugares. A obra abre, porque coloca o homem em intercâmbio frutuoso com todas as faces da criação: a terra que acolhe, o céu que ilumina, os deuses que acenam e os demais mortais com quem interage. Construindo a Casa, expressão poética do habitar, o homem preserva a integridade dessa relação quaterniforme. A casa é um microcosmo, miniatura inspirada do universo. Precisamente por isso, o seu traçado é “custoso” (ibidem: 34). A conceção e execução do projeto se fundam num imbricamento de casa, obra e vida, que fazem da construção uma realização poético-existencial. A casa planta-se sobre o intercâmbio do humano com o divino, na interação da vida e da morte, a partir da reciprocidade entre o ser e o nada. Em profícuo diálogo consigo mesmo, o narrador de 1ª pessoa, oficial pedreiro, que narra esta estória essencial, “revém ver” a casa que construíra. Nessa re-visão, norteada por olhos que «põem as coisas no O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 59 cabimento» (ibidem: 34), ele re-dimensiona a experiência vivida com um esquadro de grandes proporções (curtamão), capaz de abarcar, “de cerces à cimalha”, toda a amplitude daquela construção, cujo impulso criador era o mais puro arroubo de poesia. A re-visão assimila o sentido total do construir e propõe a equação que fundamenta a estória: CASA = OBRA (de arte) = VIDA. O assentar-se da casa é o abrir da obra e o eclodir da vida. A casa abriga o operar da obra e resguarda o vir-a-ser da vida: eis a compreensão que se descerra para o alvenel, na revisão que se interroga pelo projeto e edificação da casa. Lívia Ferreira Santos verifica que o narrador de “Curtamão” preocupa-se «com alguma coisa além do cotidiano ofício de pedreiro», e avalia que, mais do que o reconhecimento público, «alguma coisa mais profunda e valiosa lhe ficou –certa arquitetura interior, da alma» (Santos, 1991: 539). Dizer a casa é formar a estória –«Dizendo, formo é a estória dela, que fechei redonda e quadrada» (Rosa, 1979: 34)– e essa construção conjunta é o amanhecer do narrador-pedreiro: «a minha construção, desconforme a reles usos. Assim amanheci (ibidem: 35). Ao compartilhar o ganho dessa magna aquisição –«Convosco, componho» (ibidem: 34) – o arquiteto ensina a lição central para se chegar a existir. Não sem razão a dita casa transforma-se em «escola de meninos, quefazer vitalício» (ibidem: 34). Compor com o leitor implica não apenas em inseri-lo “na tarefa do autor”, como indica Jorge Wanderley (1996: 21), mas consiste, sobretudo, em convocá-lo à construção da sua própria existência no convívio com a experiência de quem “chegou a mais” (ibidem: 34), suplantando o descrer e o desprezo de todos. Compondo com o leitor, o narrador faz do outro a sua voz alterna, em cuja companhia empreende a «antiperipléia» (Rosa, 1979: 13), que re-vém ver a casa construída em fama e idéia. Seguindo o ensinamento da primeira estória do livro, o prefixo “re” assinala o retorno à origem, ponto de partida para o autêntico nascimento: «Estou para nascer, se isso não faço!», desfecha decisão o pedreiro-narrador (ibidem: 35). Revir e rever compõem uma única operação, que divulga a obra aberta, ao mesmo tempo que prospeta os seus abismos. Narrar o construir é evidenciar a ampla dimensão revelada e, simultaneamente, interrogar os fundamentos ocultos –vigas, baldrame, fundações– que sustentam a revelação. 60 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA A casa concebida pelo oficial pedreiro é toda ambiguidade. Suas fundações plantam-se no reino dos mortos: «A cova –sete palmos– que antes de tudo ali cavei, a de qualquer afoito defunto, estreamento, para enxotar iras e orgulho» (ibidem: 35-36). Seu “estreamento”, vale dizer, seu princípio, sua arkhé, o núcleo de onde promana o seu vigor, é a morte. Ela era «a mais moderna» (ibidem: 34), «progresso do arraial» (ibidem: 37), mas o iniciar-se da obra respeitava os antiquíssimos rituais de fundação dos templos sagrados, cujas colunas afundavam-se até o domínio dos mortos, assim convidados a abençoar a nova vida que se inaugurava. Para lançar-se ao alto em «infinito movimento» (ibidem: 37) é preciso, primeiro, «cavar os profundamentos» (ibidem: 36). Só o que bem se aprofunda pode elevar-se. A vida só toma alento com o respaldo da morte. Mas a plena ambiguidade da casa avulta no plurissimbolismo que a investe. Idealizada como residência para o casal apaixonado, a casa –que re-une os amantes mesmo sem jamais abrigá-los– é cobiçada pelo padre para igreja, comprada pelo Governo para escola de meninos, mas fundamentalmente apresenta-se como templo no qual atuam conjuntamente o construir humano e o arquitetar divino: «A casa, porém de Deus, que tenho, esta, venturosa, que em mim copiei –de mestre arquiteto– e o que não dito» (ibidem: 37). Edificando a mansão singular, o alvenel copia não os feitos de Deus, mas o divino fazer que opera com a matéria plástica do nada. Inspirando-se no Criador, o pedreiro formase “mestre arquiteto”, prezado pelo seu engenho, louvado por sua arte, e, «valendo-lhe o extraordinário» (ibidem: 37), projeta o edifício que desdenha usos triviais e sagra-se como uma confluência de casa, escola, igreja, e templo, sustentando o nexo vital entre o que foi, o que é e o que será. Não sem razão, afiança o mestre-de-obras: «Primeiro o sotaque, depois a signifa» (ibidem: 36). Se a obra se funda no próprio operar do ser, ela se abre a todos os sentidos e dela aflui uma multiplicidade de significados. Igreja, escola, templo, a casa é, primordialmente, um ovo, com toda a simbologia auroral: «e todo ovo não é uma caixinha?» (ibidem: 37). O ovo é a arkhé genéseos, o início da criação –semente da casa, núcleo da obra, germe da vida. Tudo começa e se encerra no ovo. As O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 61 duas noções mais importantes que se lhe associam são o nascimento e a interiorização. Compreende-se o desejo do alvenel de fazer «a casa sem janelas nem portas» (ibidem: 37). A intimidade e o recolhimento do ser que repousa em seu habitar primordial são os requisitos centrais dessa casa. Heloísa Vilhena de Araújo esclarece que, ao idealizar a casa sem janelas nem portas, o pedreiro ambicionava «construir uma obra que não permitisse acesso do exterior. Para compreendê-la, para entrar nela, seria preciso um acesso interior. [...] Seria preciso já estar dentro» (Araújo, 2001: 166-7). Quem não for capaz de compor com o arquiteto-narrador, atendendo ao apelo inicial da estória, estará excluído do extraordinário. Por outro lado, quem compreender a lição de originalidade que propõe a casa «levada da breca» participará da «invenção de sentimento» (Rosa, 1979: 36) e da «desconstrução de sofrimento» (ibidem: 37) que constituem o saldo total da experiência da casa. Dessa dupla possibilidade decorrem a dubiedade e a ironia da recepção do pedreiro: «Revólver meu no bolso, aqueles recebi, disse: –‘É para não entrarem! A casa é vossa…’– por não romper a cortesia» (ibidem: 37). Como diz Jorge Wanderley, comparando-a à própria linguagem em Guimarães Rosa, esta é a «casa da fala avessa, dá-se ao se negar, nega continuamente ]…] a possibilidade de entrada para uma verdade única: abre-se para o múltiplo, recusa o trânsito simples de ir e vir sem a pluralidade frondosa de seus abarrocados descaminhos» (Wanderley, 1996: 21). «Vamos propor, à revelia desses, dita casa…» (Rosa, 1979: 34). Posicionando-se de forma inovadora, ao contrário das outras, «de costas para o rual, respeitando frente a horizonte e várzeas» (ibidem: 36), recusando o pragmatismo e a objetividade de qualquer emprego funcional, subindo-se sempre mais, em «infinito movimento, sem a festa da cumeeira» (ibidem: 37), a casa se consagra como obra de arte, capaz de notabilizar o seu criador: «a minha construção, desconforme a reles usos» (ibidem: 35). Respeitar frente a horizonte e várzeas significa situar-se no aberto, em plena disponibilidade para o diálogo com todas as forças cósmicas que animam o universo. O verbo “respeitar” nomeia o resguardo da relação quaterniforme –a reciprocidade entre o terrestre e o celeste, o divino e o humano– que constitui o traço essencial do habi- 62 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA tar. Não concluir-se na cumeeira equivale a realizar-se como movimento puro que jamais se perfaz, num anelo perpétuo de transcendência. Subirse «lanço a lanço» em tantos andares, portentando-se em monumento, é edificar a «casa-grande», tradução literal da palavra «faraó». Os antigos faraós eram “mestres arquitetos” que jamais cessavam de construir, na eterna edificação de uma nação que nunca se completava. Com todas essas ressonâncias e implicações, a «dita casa» é ditosa, dita e ditada. Ela é ditosa, pois, “desconstruindo o sofrimento”, constrói a cura para a “desdita” em que se viam imersos o seu mentor e o seu patrocinador (ibidem: 34). Ela é dita, porque, no dizê-la, a construção adquire uma nova fundura e amplitude. E ela é ditada, porque se funda na audição da voz do silêncio, em que se escuta a cifrada fala de Deus. As duas vigas-mestras da edificação da obra são a “desconstrução de sofrimento” e a “invenção de sentimento”, que arquitetam a perfeita conjunção entre a construção da casa e a composição da estória. A desconstrução de sofrimento é um aprender pelo sofrer, páthei mathos, um engrandecimento da miséria, que, de outra forma, aniquilaria o homem. Desconstrói-se o sofrimento, para, em seu lugar, inventar-se o sentimento novo que resgata o homem da triste condição de «desistido ente» (ibidem: 37) e concede espaço ao seu querer superar-se. A invenção de sentimento é uma transfiguração da dor, que deixa de manifestar-se como ressentimento ou mágoa, para transmudar-se na própria matéria prima com que se edifica uma nova realidade. Rilke muito bem exprimiu essa metamorfose, nos admiráveis versos do poema “Por Wolf Conde de Kalckreuth”: Oh velha maldição dos poetas, que sempre lamentam quando deviam dizer, que sempre julgam o próprio sentimento em vez de lhe darem forma; que ainda supõem que tudo o que neles é triste ou alegre o sabem e o podem lastimar ou celebrar num poema. Como os doentes, eles usam a língua cheios de melancolia para descreverem onde é que lhes dói, O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 63 em vez de se transmudarem em palavras, duramente, como o canteiro duma catedral se transpõe com aferro para a equanimidade da pedra (Rilke, 1983: 138). Concretizando, na carnadura da vida, essa expansão de alma, o pedreiro-poeta realiza com suas mãos essa operação espiritual, e assim se apresenta diante do padre, que intuíra a grandeza daquela construção: «Minhas mãos de fazer a ele mostrei –mandato– por invenção de sentimento». Percebendo a transmutação do sofrimento que o alvenel pusera em obra, o padre convém: «Deus do belo sofrido é servido…» (Rosa, 1979: 36). Sem esta argamassa poético-existencial, a casa não passaria de prédio funcional, e não promoveria a virada na sorte de seu criador, de «muito repelido» (ibidem: 34) a figura mais proeminente do arraial: «Agora, comigo e por pró estavam, vivavam» (ibidem: 37). Vera Novis salienta o farto emprego do jargão técnico que associa o construtor ao escritor, vinculando a construção civil à obra literária (Novis, 1989: 623). Dessa forma, como observou Jorge Wanderley, “Curtamão” encerra uma verdadeira ars poetica. A construção, que é, ao mesmo tempo, desconstrução, é um fazer complexo, por um triz, indizível. Narrar a tríplice articulação da obra, que se consuma como casa, arte e vida, não é tarefa simples. O fio dessa meada ora se enrola, ora se desenrola, unindo coisas díspares, costurando “trapos e ornatos”, engraçando dor e louvor, em busca do surto originário que tornou possível o amanhecer: Em três, reparto quina pontuda, no errado narrar, no engraçar trapos e ornatos? Sem custoso, um explica é as lérias ocas e comuns, e que não são nunca. Assim, tudo num dia, nada, não começa. Faço quando foi que fez que começou” (p. 34). Dizer a construção é interrogar-se pela brotação conjunta do homem e do mundo, que se constituem como resultado concreto da me- 64 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA tamorfose existencial em que o poeta se transmuda em palavras para narrar, como quem constrói, o advento do ser. Explicar os fatos claros e objetivos é fácil, porque, desvelados e manifestos, há muito sepultaram a misteriosa dimensão do acontecer, e, por isso, “não são nunca”, tornando-se estáticos e apreensíveis. Mas aquele começar que não cessa de re-começar é fugidio e dissimulado, escapa a qualquer fixidez, é um tudo que é nada, e começa «deveras é por detrás, do que há, recurso» (Rosa, 1979: 13). A estranha construção «faço quando foi que fez que começou» menciona esse negaceio da origem, que se dá na mesma medida em que se furta, que acena e se ausenta, fala e cala. O pedreiro inaugurara-se em estado de gestação, quando, insatisfeito com sua condição mediana, «nem ordinário nem superior» (ibidem: 34), alimentara a vontade de suprir “o faltado”, premido pelo alvoroço interior da possibilidade de vir-a-ser: «Minha mulher mesma me não concedia razão, questionava o eu querer: o faltado, corçôos do vir a ser, o possível» (ibidem: 34). Ao andar aparentemente sem propósito, ele dá com o Arminhinho, e a intensa aventura do construir se deslancha: «Saí, andei, não sei, fio que numa propositada, sem saber. Dei com o Armininho; eu estava muito repelido. Ele, desapossado, pior, por desdita. […] Igualei com ele –para restadas as confidências» (ibidem: 34). A compreensão, entretanto, de que tudo se encaixara admiravelmente, fiando a composição de um enredo de salvação, só vem mais tarde, com a retrospeção, possibilidade intrínseca da narrativa de 1ª pessoa, que constitui o seu dom mais significativo: «Não há como um tarde demais –eu dizendo– porque aí é que as coisas de verdade principiam» (ibidem: 35). O autêntico narrador de 1ª pessoa é aquele que revém ver-se, e, na distância temporal que propicia essa revisão, descobre a metamorfose existencial que se operou. É a narração que verdadeiramente constrói o seu ser, pois apenas o narrar põe-em-obra a totalidade das forças que interagem na criação, convertendo «um solfejo, um modulejo» (p. 35) (ibidem: 35) na sinfonia de um todo musical harmônico. “De alvenel a mestre-de-obras”, o narrador-pedreiro deixa de ser personagem para tornar-se «personagente» (Rosa, 1978: 124). «Desrespondendo» a quem o iludia, arredando de si «desânimo pegador», afastando-se de quem «desentendia a sua fundura», ele «rodou a cabeça»” e «empicou», praticando uma espécie de ritual de auto-afirmação do O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 65 espírito: «e parti copo, (…) me pondo em pé, o pé em chão, o chão de cristão» (ibidem: 35). Quando a coragem parece faltar-lhe, ele empina ainda mais a vontade e, duplicando a altura da casa, confirma a sua altivez: “Tive começo de ameaço de medo. Então eu disse: – ‘Redobrar tudo, mais alto! sobrado!’” (ibidem: 37). Artista na realização da obra, «psiquiartista» (Rosa, 1978: 132) na reinvenção da própria vida. O impulso subjacente ao seu arroubo de construção foi um apelo do Ser, atendido em forma de poesia. Seja tratando com pedra e cal, seja trabalhando com palavras, é a vocação do poético que inspira os atos de quem autenticamente constrói. A poesia é o mais nobre construir. Elevando-se sobre a terra, a poesia não a abandona, mas, ao contrário, traz o homem para a terra como aquele que é capaz de preservá-la como physis –a que tudo doa, mas eternamente se resguarda no silêncio de um auto-velamento inexpugnável. Zelador da physis, o poeta faz do seu dom um abrir-se para a eclosão da vida, construindo o assento do ser nas cercanias do nada. O mistério do construir é o seu repousar sobre a dimensão do silêncio: «Tirada a licença completa; e o que não digo» (ibidem: 35). O não-dito sigilosamente exprime o indizível: a misteriosa, e apenas poeticamente exprimível, passagem do não-ser ao ser. Fazer-se ao aberto, irromper do nada, chegar a existir são acontecimentos desmedidos que não cabem em dizer. O silêncio é o ambiente propício ao construir que transcende o horizonte habitual da experiência humana. Apenas a poesia tem trato com o silêncio, pois o revela tal qual o silêncio que é. O poetar é um dizer que resguarda o calar-se. A quádrupla reiteração do não-dito na estória (ibidem: 35-37) assenta a construção e o seu narrar nessa dimensão originária e fundamental. «E o que não digo, meço palavra» (ibidem: 35). A poesia é a tomada de uma medida. Curtamão é justamente um instrumento que serve para medir ângulos, acertar cantos e bordas, retificar, tornar exato, dar a medida (Wanderley, 1996: 20). O divino é a medida com a qual o homem dimensiona o seu habitar: «Mas o mundo não é remexer de Deus? –com perdão, que comparo» (ibidem: 34). Na comparação, que remete ao compor com, o homem mede-se com Deus. Poetar é propria- 66 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA mente medir. No importantíssimo ensaio «…poeticamente o homem habita…», inspirado no sábio poema de Hölderlin, Heidegger revela que a medida consiste no modo como Deus, que permanece desconhecido para o homem, aparece como tal através do céu. O aparecer de Deus é um desocultamento que deixa ver o que se encobre, não no sentido de arrancá-lo do seu encobrimento, mas preservando-o em seu encobrir-se. A presença de Deus é o seu ausentar-se. Deus se dá a conhecer como o ignoto rosto das sombras. Resulta daí que a revelação de Deus, e não Ele mesmo, é que constitui o mistério (Heidegger, 2002: 174). Esse “revelarse” de Deus é a medida que norteia o construir do homem. O desvelar que nomeia um ininterruto velar-se é um desafio e um convite ao humano construir, pois a morada terrena deve simultaneamente acolher o que se mostra e garantir o resguardo ao que se oculta. A casa do homem deve ser de tal forma a sediar a teofania (o aparecer de Deus) como teocriptia (o Seu ocultar-se). Esta é precisamente a mansão suspensa –no pérvio: entre a palavra de louvor e o silêncio da devoção, ostentando-se sobre um infinito e inesgotável recato. Esta é a casa, venturosa, cujo dizer é o estar impregnada de um excesso de indizível. O dizer poético reúne, integrando, a claridade e a obscuridade, a ressonância e o silêncio, a aurora e o crepúsculo, a vastidão e a profundidade. Enquanto medição da dimensão do habitar, a poesia é um construir em sentido inaugural. O homem só é capaz de construir na acepção de edificar, porque já constrói no sentido de tomar poeticamente uma medida. Poetar e habitar não apenas não se excluem: eles se pertencem mutuamente, no modo em que exige o outro. 2. O último íntimo: “Lá, nas campinas” O homem vaga, apátrida, pelos caminhos do nada, enquanto não estabelece o frutuoso contato consigo mesmo. Qualquer lugar é nenhum, se falto de alma, mas qualquer nenhum é lugar se, lá, por vez primeira se exprime a voz longínqua e quase calada do “último íntimo”. A catábase* * Propriamente catábase significa ’descida’. Usa-se, porém, miticamente, com o significado mais restrito de ‘descida aos infernos’, acesso ao reino dos mortos, situado nas profundezas da terra. Num sentido mais lato, e também mítico, assinala a transposição do último horizonte da experiência comum (Sousa, 1975: 24). O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 67 assume toda a sua plenitude quando, transcendendo o horizonte habitual da experiência humana, leva o homem até o “mim de fundo”. O “mim de fundo” não é sujeito nem objeto, mas pura energia, coalescência de caos, a força de existir em estado bruto. Infinito reservatório de lembranças, o “mim de fundo” mantém-se como misteriosa fonte de brotação do eu, graças à vizinhança e afinidade com o silêncio. No “mim de fundo” abre-se a escuta da Palavra Acontecedora, cujo advento dá início à vigência da poiesis. Viver em estado de poiesis é permanecer ao alcance do ser. Na linguagem que promana dessa morada tão ancestral, cada palavra “tatala” como o vibrar de asas de um pássaro em ascensão. No soar de cada uma destas palavras, fala o silêncio, e, no silêncio, exprime-se o ser. Acima de qualquer definição filosófica, o ser é um chamado, que avoca. «Está-se ouvindo» (Rosa, 1979: 84). Drijimiro ouve. E fala. O que ele ouve é o que ele fala. Para falar, é preciso primeiro ouvir. Fundamentalmente, falar é responder. Mas a audição é interrompida, incompleta, lacônica. Por isso, a elocução é rompida, cindida, fragmentária, «retalhos do verbo» (ibidem: 84). Drijimiro tenta recompor o sentido do mundo, buscando acordar a origem imemorial. De sua infância longínqua, nada sabe, mas sente que ela pulsa em seu coração –«recordava-a, demais» (ibidem: 84 – como uma música desconhecida. A sua voz, normalmente «escura, imesclada, amolecida», modula-se, «vibrando com insólitos harmônicos», ao falar “naquilo”: a recordação irrecordada. Tudo o que diz é: «Lá, nas campinas...», frase única, «desinformada, inconsoante, adsurda» (ibidem: 84). Como não entende o pouco que ouve, Drijimiro fecha-se, «hermético feito um coco» (ibidem). Ele nada diria, carente, e permaneceria monológico, incomunicante, como o Mistério, que fecha. A saudade, porém, a serviço da memória, fustigava-o. E a vida, ávida, em sua premência de abrir, superou-o, e soprou-lhe ao ouvido a Palavra mítica: Lá, nas campinas... O que era fechado começou a abrir-se, pois, se o Mistério fecha, o Mito abre: O verbo correspondente ao substantivo mythos é mythéomai, que significa abrir, desocultar pela palavra, dizer, e o verbo relativo ao nome mystério é myeín ou myeísthai, com o sentido de fechar. A raiz my- se 68 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA pronuncia com y longo, figurando no latim mutus e no sânscrito mukas (= mudo, silente) (Souza, 1988: 17). O mito é a palavra que revela o que é, suscitando a presença do que nomeia. Pronunciá-la é instaurar um sentido inédito e um novo horizonte vital. O mito é a palavra poética, que o homem não domina, porque, suplantando-o, é ela que se expressa por seu intermédio. Quando fala autenticamente, o homem está respondendo à voz da Linguagem essencial do Ser que se exprime no mito. Não é ao poeta, ao compositor, ao cantor, enfim, ao homem que devemos escutar, mas ao Logos. Este é a irrupção, em nossa vida ordinária, do extraordinário, da Linguagem poética, do mito, enfim, do sagrado (Castro, 2003: 181). Este fabuloso mito-logos, que fala e faz falar, subage nas estórias rosianas, e dele decorre a estrutura dialógica que enforma algumas narrativas. Nesta estranha estória, há o diálogo entre Drijimiro e o Logos original: Drijimiro, cuja existência depende de recobrar um elo partido, é o auditor do Logos. Este é o seu dom, «dom, porém, que foi perdendo» (ibidem: 86), à medida que, distanciando-se do “mim de fundo”, fugialhe o acesso àquela pátria sensível, expressa pelas campinas. O “último íntimo” é o ponto mais profundo, remoto e obscuro da interioridade humana, onde corpo e alma se tornam uma coisa só, que transcende os limites da individualidade e coloca o homem em contato com as forças germinativas da vida, lá, onde somente se pode ouvir o silêncio do Logos. Há, também, o diálogo entre Drijimiro e “o narrador imaginário”, imaginário porque, embora tenha o que narrar, falta-lhe o como, em virtude da falha na comunicação com a lembrança perdida. Este narrador imaginário é a face de Drijimiro voltada para fora, a fim de contrabalançar a contraface imersa em sombra , uma espécie de eco de uma voz longínqua e inaudível, um duplo, o personagem que se desdo- O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 69 bra em personagente na desesperada tentativa de reaver a si mesmo. Na fenomenologia do imaginário, diz Bachelard, a imaginação atua como «princípio direto de excitação psíquica», como «fator de imprudência que nos liberta das pesadas estabilidades» (Bachelard, 1960: 7). Há o diálogo entre Drijimiro e o narrador de 1ª pessoa que narra a estória, a quem Drijimiro «teve recurso» e que se «emocionou» (ibidem: 84) com o relato rompido. Emocionalmente aderido ao personagem, com cuja busca se solidariza, este narrador procura decifrar, ordenar, remendar os retalhos do verbo de Drijimiro, a fim de ajudá-lo a restituir-se a infância perdida. Passo a passo ele acompanha a trajetória do «orfandante» (ibidem: 85), e, ao fim, é ele quem testemunha e anuncia «o desmedido momento» (Rosa, 1978: 155) da brotação da memória. E há o diálogo entre o narrador e o leitor, cujo desempenho, tentando colher os fragmentos da estória, se assemelha ao do próprio Drijimiro, que precisa ler a legenda da vida nos esparsos sinais espalhados em seu percurso, para com eles compor uma memória que possa engendrar simultaneamente um presente, um passado e um futuro. São diálogos pontuados de silêncio, de lacunas, de ausência, que refletem, ao mesmo tempo, a excessividade da Palavra mítica e a insuficiência do receptor. Drijimiro é um homem dividido entre duas vidas: a vida prática, o quotidiano compromisso de sobreviver –«viver é obrigação sempre imediata» (ibidem: 84)– e a vida ou-vida, «nunca conseguida» (ibidem: 85), alternativa sagrada que constitui a sua única salvação. O «sítio, além, durado na imaginação» (ibidem: 85) é o recinto poético da Infância Imemorial, que é «só lugares», o «nenhum lugar antigamente» (ibidem: 84), movediçamente situado na pura anterioridade de tudo, banhado do orvalho inseminador da vida, com forte simbologia de origem: Largo rasgado um quintal, o chão amarelo de oca, olhos-d’água jorrando de barrancos. A casa, depois de descida, em fojo de árvores. Tudo o orvalho: faísca-se, campo a fora, nos pendões dos capins passarinhos penduricam e se embalançam. (...) Num ninho, nunca faz frio (ibidem: 84). 70 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA A clareira onde o ser se manifesta (largo rasgado um quintal) como o auto-velante (fojo), o ímpeto originário da vida (olhos-d’água jorrando), o princípio de ordenação (casa), a redondeza do ser acolhido em si mesmo (ninho), o vigor auroral da origem (orvalho), são elementos que compõem a pátria ancianíssima, à qual Drijimiro perdera o acesso e da qual só restaram indicações imprecisas. «Orfandante, por todo o canto e parte», ele andara «às vastas terras e lugares» (ibidem: 85). Entretanto, «nada encontrava, a não ser o real: coisas que vacilam, por utopiedade» (ibidem). O real é o recinto da ambiguidade, a permanente clareira do desvelar auto-velante do ser, onde “as coisas vacilam” em seu simultâneo ocultar-se e desocultar-se. O que Drijimiro buscava eram coisas acontecidas, mas as coisas se lhe apresentavam em seu frondoso acontecer, configurando a realidade, não como um desvelado estável, mas como a «utopiedade» de um espaço prodigamente acolhedor da incessante brotação de tudo o que é. Encontrar nada é deparar-se com a perpétua possibilidade aberta do advir de tudo. As campinas, que ele procurava aquém, estariam, porventura, além, «na infinição, a serra de atrás da serra» (ibidem). Ou talvez estivessem fora do tempo e do espaço, «nem onde nem longe», inalcançável aos passos do corpo e accessível apenas às passadas do espírito, pois, «se num lugar tal alguém aquilo falara, então não seriam lá as campinas, mas em ponto afastado diverso» (ibidem). As campinas são o semtempo e o sem-espaço, a concruz de mito e mistério, interseção do dia e da noite –«o sol da manhã sendo o mesmo da tarde» (ibidem: 87). A buscada pátria, Drijimiro carece de projetá-la e construí-la em si, para, habitando-se, habitá-la. Encontrar a pátria no lugar que ainda não se espacializou e no tempo ainda não comprometido com o fluxo temporal solicita a descoberta do sujeito que ainda não se assujeitou: «nessas tão minhas lembranças eu mesmo desapareci», diz a epígrafe. Não é o eu que faz existirem as lembranças; é a memória que concede existência ao eu. Drijimiro, porém, tornara-se «esperto e prático» (ibidem: 85), «estava agora bem de vida» (ibidem: 84), e cada vez mais afastava-se do “mim de fundo”. Alcançar, contudo, esse subsolo trevoso era a única O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 71 possibilidade de religamento. O resgate da lembrança esquecida exigia uma “antiperipléia”, patrocinada por uma arqueologia do sensível. O tempo perdido seria redescoberto mediante a leitura da legenda da vida, pois «cada pedrinha de areia» era «um redagüir reluzente», e «até os vôos dos passarinhos eram atos» (ibidem: 85-86). O verbo “redargüir” aponta a reciprocidade entre homem e natureza, em que se estabelece o intercâmbio de um dar, que é simultaneamente um receber. Nessa troca, é possível trazer de volta ao coração (re-cordar) e recolher (re-legere = re-ler = recollect = lembrar) os inúmeros acenos que animavam o cenário movente de sua alma, «o ipê, meigo, o sol-poente cor de cobre, a lua verde e esverdeadas as estrelas» (ibidem: 86). Desviando os olhos do presente imediato, da ação acumuladora de capital, ele relembra «como se combinam inesquecivelmente os cheiros de goiaba madura e suor fresco de cavalo». Era possível achar a visada pátria, «já sem sair do lugar», com o vasto patrimônio sensível que constituía «o que tinha em si, dia com sobras de aurora» (ibidem: 85). Contudo, à medida que trocava os bens móveis de uma revelação vertente pelas posses imóveis resumidas na «tenda de aguardenteiro» (ibidem: 86), Drijimiro perdia o dom de convocar o ausente. O “inesquecivelmente” se contradisse e caiu no olvido. Há uma correspondência direta entre a vida que se leva e o passado de que se dispõe. Dependendo do horizonte vital, os vínculos com o passado vão-se esgarçando, com o tempo desbotam-se e, por fim, embotam-se, restando apenas vestígios inconsoantes, que vestem exteriormente a vida, como uma máscara encobre um rosto. Drijimiro, órfão de passado e carente de memória, necessitava «desesquecer» para edificar a sua estória dos retalhos descontínuos de uma história esquecida e sepultada alhures. O itinerário de Drijimiro coincide em muitos pontos com o do velho Segisberto Jéia, o Cara-de-Bronze (Rosa, 1956). Um e outro tornaram-se ávidos acumuladores de bens e paralíticos de alma. Num e noutro, a perda da infância e o esquecimento da palavra poética acarretaram enorme estrago existencial. E, assim como o Cara-de-Bronze, na última velhice, decidiu enviar, em busca do tempo perdido, um especialíssimo emissário, que lhe trouxe a poesia sob a forma de «palavras de voz», Drijimiro, já envelhecendo, vivenciou o decisivo lance da sua existência, sob a intervenção propiciatória de uma “figura” singular. 72 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA «E ia Drijimiro, rugoso, sob chapéu, sem regalo nenhum, a ceder-se ao fado» (Rosa, 1978: 86). Quando esta disposição anímica toma conta do seu ser, ele assume plenamente sua carência, experimenta o desgarramento radical e ousa a tristeza em toda a profundidade: «Ousava estar inteiramente triste» (ibidem: 86). É, com certeza, um intrépido ato reconhecer-se integralmente triste. Tendemos a erguer uma parede de olvido entre nós e o núcleo vivo da nossa tristeza, de modo a nunca sabermos o que verdadeiramente nos aflige. Jamais olhamos nos olhos a fisionomia cheia de pathos da nossa angústia, porque, tal é a força elementar do seu sentir, que ela nos traria ao vórtice de um abismo sem fundo. No entanto, lá, é o “último íntimo”, onde reside o “mim de fundo”. Mergulhar na dor é atingir o vertiginoso centro da errância, que se abre ao advento de qualquer extraordinário evento. O sítio caótico e turbulento é ele mesmo o recinto das coisas em gestação. Pois foi durante esta profunda incursão anímica que se deu o grandioso acontecer: Surgindo-lhe, ei, vem, de repente, a figura da Sobrinha do Padre: parda magra, releixa para segar, feia de sorte. Sós frios olhos, árdua agravada, negra máscara de ossos, gritou, apontou-o, pôde com ele (ibidem: 87). Quem seria a misteriosa Sobrinha do Padre, anônima, em si mesma contraditória, múltipla em sinais, propiciatória? A Morte? Uma estúrdia sacerdotisa? A «emissária de algum deus desconhecido cumprindo informes instruções de além»? (Pessoa, 1974: 128). A luz, na travisagem avessa da treva? Ela desempenha-se como um atalho (releixo) para o que estava “oculto em esconso” (ibidem), dentro do próprio Drijimiro. O modo como ela é apresentada –«surgindo-lhe, ei, vem, de repente»– o pronome “lhe” particularizando a aparição para Drijimiro, suscita a impressão de que ela eclode de dentro, brotada, emergida, resgatada de alguma ancestralidade distante, em estado bruto, peremptória, em missão de ceifar (segar) o que, mais que maduro, carecia apenas de ser partejado. Fosse lá quem fosse, sendo ou não sendo, ela veio para ser, por Drijimiro: «gritou, apontou-o, pôde com ele». Assim como o Gri- O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 73 vo entregou ao Cara-de-Bronze as «palavras muito trazidas», sob cujo sortilégio o Velho pôde «chorar pranto», a estranha mensageira trouxe o milagre, sob a forma de uma pitada de caos espargida sobre um excesso de ordem. Drijimiro perdeu o tino, perdeu o rumo, perdeu o senso, perdeu-se a si, e achou-se: Falou, o que guardado sempre sem saber lhe ocupara o peito, rebentado: luz, o campo, pássaros, a casa entre bastas folhagens, amarelo o quintal da voçoroca, com miriqüilhos borbulhando nos barrancos... Tudo e mais, trabalhado completado, agora, tanto – revalor – como o que raia pela indescrição: a água azul das lavadeiras, lagoas que refletem os picos dos montes, as árvores e os pedidores de esmola (ibidem). Pela intermediação da sinistra mensageira, tenebrosa mas luciferina, silente em suas causas mas fabulosa em seus efeitos, Drijimiro atravessou o funil do final e tocou o mais longínquo de si, a recôndita reminiscência, que arrastou proustianamente atrás de si o «edifício imenso da recordação» (Proust, 1987: 46). No instante em que a reminiscência ganha dinamismo, o passado adquire um valor renovado, um revalor. A palavra “revalor” –entre travessões para realce– ressalta que a recordação, haurida no fundo e tornada ativa, é existencialmente mais eficaz do que a realidade vivida. O prefixo “re”, tão recorrente nas Terceiras estórias (1979), duplica o valor, comprovando que a estória criada pelo personagente, na re-leitura poética da própria vida, é mais vital do que a história vivida pelo personagem. Agora, as fatias de lembranças se emendavam, os retalhos do verbo formavam enredo, entrelaçava-se a trama de um passado e de um futuro no desmedido acontecer de um presente, que, enfim, se apresentava. A tosca e pálida imagem de antes (Rosa, 1978: 84) esbanja-se em luz e cor. O «rasgado quintal» é um «campo», o «chão amarelo de oca» é o amarelo «quintal da voçoroca», os «olhos d’água» são «miriqüilhos» borbulhantes, a casa assoma «entre bastas folhagens», os pássaros ganham ímpeto, outros elementos se aduzem, «tudo se inteira num arre- 74 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA dondamento» (Rosa, 1979: 184). O quadro palpita tão completo em vida que mal cabe em descrever, «raia pela indescrição». Drijimiro, agora, é capaz de exprimir, «de broto e jorro» (ibidem: 66) o que «guardado sempre sem saber lhe ocupara o peito». Apenas quando o homem faz a experiência do promanar do tempo a partir da foz do seu próprio ser pode ele falar. A angústia estrangulada do seu nome se apazigua nesta catarse. Enquanto permaneceu no âmbito da ação imediata, esteve expatriado de qualquer possibilidade de memória. No instante em que se recorda, passa a ter, não só um passado, mas um presente e um futuro. O homem precisa ultrapassar-se para ter passado. Somente quem tem a força de ir além de si mesmo é capaz de criar um passado. Ao empreender a catábase ao último íntimo, Drijimiro se ultrapassou, e o seu passado emergiu do olvido. Vivamente encarnada na medonha catadura da Sobrinha do Padre, a tristeza foi o passaporte para a nascente secreta de si mesmo. Drijimiro despertou e «recobrou aquilo, o que ele pretendia mais que tudo» (ibidem: 84), tornando-se apto para a grande revelação: –‘Lá, nas campinas!...’ – um morro de todo limite. O sol da manhã sendo o mesmo da tarde” (ibidem: 87). O morro de todo limite é o termo de encontro entre o finito limitar-se e o infinito transcender-se, no transfinito circunferir-se da terra e do céu, onde se orquestra a reversa harmonia dos contrários («o sol da manhã sendo o mesmo da tarde»). “Limite” não é o lugar onde alguma coisa termina, mas o ponto a partir do qual alguma coisa começa a ser. Com raízes mergulhadas no inferno, o topo lançando-se ao superno, e as entranhas situadas nos umbrais da terra e do céu, o Morro é a imagem material e dinâmica da Origem, que não é início, mas a possibilidade permanentemente aberta de haver início. As campinas, onde tem assento o morro de todo limite, são o generoso espaço de um brotar incessante, mas também o silêncio e o sigilo de um velamento que resguarda a opulência daquela brotação permanente. O mistério desse auto- O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 75 velamento desvelador não pode ser dito, podendo apenas exprimir-se na elocução da physis, em linguagem fartamente sensível, em que não mais fale o homem, mediante a razão, mas falem as próprias coisas, fale a alma através das coisas, fale o Logos através da alma, fale o cosmos através do Logos, fale o divino através do cosmos. Essa cadeia expressiva subjaz à obra rosiana como um todo e constitui uma das fontes de seu poder de encantação. O recado do morro de todo limite já não é mais questão de palavras: é o silêncio que sugere a mais sutil impregnação sensível. Não sem razão declara o narrador ao fim da narrativa: «–‘Lá...’ Mas não acho as palavras». A grande virada na vida de Drijimiro consiste na passagem do silêncio como carência para o silêncio como excessividade. Enquanto quis encontrar o que era tal qual era, como entidade deixada em algum passado esquecido de si, Drijimiro não saiu do lugar e anulou-se. Adverte o narrador: «O mundo se repete mal é porque há um imperceptível avanço» (ibidem: 86). Não adianta querer o que foi, como foi. O passado que não é mais não faz futuro. A reminiscência precisa pôr-se em movimento, tornar-se reminisção (Rosa, 1979: 81), para engendrar existência. Quando o homem compreende que não adianta achar o lugar do passado, pois, se permanecer onde está, nada acrescentará à vida presente, ele passa a procurar «o sítio, além», lá, onde ele é semente viva: no último íntimo, «reino perturbador» (ibidem: 84), onde se esbanja a imaginação, que é o permanente canal de expressão do mim de fundo. O ‘Lá’ que agora se diz, prenhe de silêncio, afirmação sem incerteza, é “desconstrução do sofrimento” da orfandade e “invenção do sentimento” da plenitude vital. O encontro com a Sobrinha do Padre foi uma espécie de morte para Drijimiro, mediante a qual ele desnasceu de uma modalidade inautêntica de vida e deu-se à luz para um novo existir. Por isso, a estória, ao encerrar-se, inicia-se: Então, ao narrador foge o fio. Toda estória pode resumir-se nisto: –Era uma vez uma vez, e nessa vez um homem. Súbito, sem sofrer, diz, afirma: –‘Lá...’ Mas não acho as palavras (ibidem: 87). 76 MARIA LUCIA GUIMARÃES DE FARIA No fluxo diluvial do tempo, um certo dia certo chega a hora e vez daquele homem. A vitória conquistada sobre o espírito inercial, que deseja que o homem se iguale à pobre versão de si mesmo, assinala o instante em que a vida deixa de ser história, a enfadonha sucessão de fatos desalmados, para converter-se em estória, um incessante acontecer de «singulares-em-extraordinários episódios» (Rosa, 1978: 35), através dos quais o homem se revela a si próprio como o mesmo que é sempre outro. Toda história é a estória de um homem que, perdido, achou-se, ou, achado, perdeu-se. As sessenta e uma estórias rosianas relatam esta destinada vez, em que o homem, «perfeitamente assaz», «ergue a cabeça ante o estremecer dos prados» (Rosa, 1979: 73) e «chega a existir» (Rosa, 1978: 68), liberto das forças imanentizadoras de sua propulsão transcendente. Em última análise, o mito fundamental é o do Homem, que, ouvindo o chamado do Logos, pronuncia a Palavra poética, misturada em sombra e silêncio, que lhe permite construir na linguagem o santuário do Ser, que se torna, doravante, a sua morada sobre a terra. REFERÊNCIAS: ARAÚJO, Heloísa Vilhena de. “Encontrar Guimarães Rosa III” (Tutaméia). Convivium, 1, 1974: 27-43. BACHELARD, Gaston. La poétique de la rêverie. Paris, P.U.F., 1960 CASTRO, Manuel Antônio de. “O canto das sereias: da escuta à travessia poética”. Revista da FACED, 7, 2003 ERNOUT, A. et MEILLET, A. Dictionnaire étymologique de la langue latine (Histoire des mots). Paris, Klincksieck, 4.ed, 1994. HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências (t. Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan Fogel e Márcia Sá Cavalcante Schuback). Petrópolis, Vozes, 2002: 125-141. NOVIS, Vera. Tutaméia: engenho e arte. S. Paulo, Perspectiva, 1989 PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio, Aguilar, 1974 PROUST, Marcel. À la recherche du temps perdu. Paris, Gallimard, 1o vol, 1987 RILKE, Rainer Maria. Poemas. As elegias de Duíno e Sonetos a Orfeu (t. Paulo Quintela). Porto, Editorial O Oiro do Dia, 1983. ROSA, João Guimarães. “Cara-de-Bronze”. In: Corpo de baile. Rio, José Olympio, 2o vol., 1956: 555-621. ----. Primeiras estórias. Rio, José Olympio, 1978. ----. Tutaméia. Terceiras estórias. Rio, José Olympio, 1979. O DIÁLOGO DE POESIA, FILOSOFIA E MITOLOGIA EM GUIMARÃES ROSA: “CURTAMÃO” E “LÁ, NAS CAMPINAS” 77 SANTOS, Lívia Ferreira. “A desconstrução em Tutaméia”. In: COUTINHO, Eduardo (Seleção de textos). Guimarães Rosa. Coleção Fortuna Crítica 6. Rio, Civilização Brasileira, 1991: 536-561. SOUSA, Eudoro de. Horizonte e complementariedade. S. Paulo, Duas Cidades, 1975. SOUZA, Ronaldes de Melo e. “O saber em memória do ser”. Tempo Brasileiro, 95, 1988: 13-30. WANDERLEY, Jorge. Um conto de Guimarães Rosa: “Curtamão” e a linguagem”. Rangerede, 2, 1996: 18-21. VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 79-100 A INVEJA: articulação entre psicanálise e literatura LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul Este artigo tem como fio condutor o sentimento de inveja, que motiva a aproximação de diferentes textos da cultura ocidental. A leitura do romance Dois irmãos, de Milton Hatoum, desencadeou relações intertextuais que dizem respeito à inveja entre irmãos, perceptível nos mitos As Duas Lutas (Hesíodo), Caim/Abel e Esaú/Jacó (Bíblia) e Aglaura (Ovídio). Retomando esse veio, o romance Esaú e Jacó (Machado de Assis) revive a velha rixa que desune os irmãos gêmeos. Nos cantos XIII e XIV do Purgatório (Dante Alighieri), os invejosos passam por um processo de reparação na esperança de atingirem o Paraíso. O conceito de inveja, sob a perspetiva psicanalítica, perpassa a leitura desses textos, demonstrando a persistência desse sentimento arcaico que se instala também na sociedade contemporânea em que predomina o autocentramento individual. PALAVRAS-CHAVE: Mito, Dois irmãos, Milton Hatoum, inveja. This article has as its imparting source the feeling of envy, which motivates the approach of different western culture texts. The reading of the novel Dois Irmãos, by Milton Hatoum, sets off intertextual relations regarding envy among siblings, acknowledged by the myths in As Duas Lutas (Hesiod), Cain/Abel and Esaú/Jacó (Bible) and Aglaura (Ovid). Reclaiming this trait, the novel Esaú e Jacó (Machado de Assis) relives the 80 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI old feud, which brings twin brothers apart. On the Cantos XIII and XIV in Purgatory by Dante Alighieri, the envious ones go through a reparation process hoping to reach Paradise. The concept of envy, under the psychoanalytic perspective, permeates the reading of these texts, displaying the persistency of this archaic feeling that is also present on the contemporary society in which the self-centering ways prevail. KEY WORDS: myth, Dois irmãos, Milton Hatoum, envy. ANTECEDENTES O tema da inveja nos conduz a vários escritos clássicos da cultura ocidental os quais não podemos deixar de relembrar quando lemos textos contemporâneos que tratam de relações humanas enraizadas nas profundidades inalcançáveis das origens. Como representante de sentimentos, desejos e expressões pulsionais, a inveja está presente nas narrativas míticas, em textos literários de diferentes épocas, na Bíblia e na luta travada entre povos. A aparente simplicidade dos mitos não pode nos enganar quanto às complexas e múltiplas nuanças, características dos relatos míticos em geral, e quanto às suas ambivalências. Acercamo-nos dos mitos com enfoques diferentes, analisando-os a partir de determinadas referências, desdobrando-os em várias perspetivas. Apropriamo-nos dos mitos As duas lutas, de Hesíodo, Aglaura, de Ovídio e dos cantos XIII e XIV do Purgatório, de Dante Alighieri, com a intenção de buscar os sentidos da figura mítica Inveja para estabelecermos relações entre esses e outros textos. Temos a expetativa de que essas relações sejam esclarecedoras para a compreensão do romance Dois irmãos, de Milton Hatoum, que pretendemos analisar sob a perspetiva desse sentimento «raivoso de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável – sendo o impulso invejoso o de tirar este algo ou de estragá-lo» (Klein, 1991: 212). Hesíodo, em Os trabalhos e os Dias (E nos apresenta três narrativas míticas: As duas lutas, Prometeu e Pandora e As cinco raças, em que pese a importância da segunda em relação à A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 81 condição humana e à ambivalência entre o mal e o bem, a primeira nos leva à figura mítica . Essa filha da Noite tem sua linhagem descrita na Teogonia, também de Hesíodo: «pariu Éris de ânimo cruel./Éris hedionda pariu Fadiga cheia de dor,/Olvido, Fome e Dores cheias de lágrimas./Batalhas, Combates, Massacres Homicídios [...]» (Hesíodo, 2003, vv.225-228). As figuras míticas apontadas, descendentes de Éris, podem representar, segundo a psicanálise, o sentimento de inveja que tem raízes muito arcaicas na constituição do psiquismo humano. De forma análoga, o mito e a inveja são registros primários, inscritos no momento inaugural do psiquismo. Entretanto, há diferenças de abrangência, pois o mito é uma narrativa que trata das relações do homem com as divindades, com a natureza (forças divinas) e com os outros homens, enquanto a inveja tem origem na relação do sujeito com o outro (o primeiro objeto de amor e de ódio), potencialmente desdobrável nas demais relações. Na concepção psicanalítica, o ser humano quando nasce é governado pelo princípio do prazer (Freud, 1914), o confronto com o princípio da realidade provoca dor e desconforto. Para evitar o desprazer, o sujeito busca um estado de completude, uma forma alucinada de viver de modo paradisíaco com a plenitude de prazer. Nessas circunstâncias, prevalece um estado idealizado do sujeito em que nada falta. A idealização de um ser pleno de gratificações realça a vida pessoal e a dos outros. A inveja faz parte dessas idealizações, ou seja, de um Eu ideal, sustentado pelas fantasias de que o Outro é um ser portador de todo que se pode almejar. Para Hesíodo, em As duas lutas, há uma luta boa e uma má. No pequeno poema-relato, o autor exorta seu irmão à boa luta, ao trabalho, motivado pela inveja1: Esta desperta até o indolente para o trabalho: pois um sente desejo de trabalho tendo visto o outro rico apressado em plantar, semear e a casa beneficiar; o vizinho inveja ao vizinho apressado 1 Devemos lembrar que Hesíodo dirige o poema a seu irmão Perses, em situação de disputa pela herança paterna. 82 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI atrás de riqueza; boa Luta para os homens esta é; (Hesíodo, 1991: vv. 20-24) No subtexto, sob a perspetiva psicanalítica, há um sentimento de inveja prevalente em relação a Perses que parece ter conquistado algo de valioso, talvez supervalorizado, idealizado, ao olhar de seu irmão que, através do poema, tenta estabelecer normas que lhe garantam a posse dos bens que estão na mão do outro. «Já dividimos a herança e tu de muito mais te apoderando/ levaste roubando e o fizeste também para seduzir reis/ comedores-de-presentes, que este litígio querem julgar». (Hesíodo 1991: vv.37-39) O campo semântico da palavra ‘Éris’ abrange os significados de luta, discórdia, disputa, rivalidade, aproximando-a de ágon (disputa, conflito) que, para a cultura grega, estava relacionada ao equilíbrio, à justiça. O trabalho para Hesíodo é o caminho para a justiça e a equilibrada, equitativa, distribuição dos bens, suporte para a sobrevivência material. O fecho do relato reforça a ideia da medida justa «Néscios, não sabem quanto a metade vale mais que o todo» (v. 40), aludindo à desmedida, ao excesso (hybris), causa dos males humanos. Dessa forma, num entrelaçar de sentidos temos preceitos éticos que unem o trabalho à justiça, ao equilíbrio, delimitando por um tênue fio a medida da desmedida, geradora da discórdia. A literatura psicanalítica introduz o tema sobre a inveja através dos estudos de Melanie Klein em 1924. Por tratar-se de um sentimento humano bastante arcaico, a inveja tem sua origem desde o nascimento e é dirigida ao primeiro objeto de amor, traduzido como cuidador básico e muitas vezes representado pela própria mãe. A imagem mítica da Inveja, transmitida em As metamorfoses, por Ovídio (42 a.C – 18 d.C) –poeta romano, cujo epitáfio alude à inveja como causa de sua morte-2, é a de um monstro repulsivo: 2 «Hic ego qui jaceo, tenerorum lusor amorum, Ingenio perii Naso poeta meo [...]» (Ovídio, 2006: 130): «Eu que aqui jazo, o poeta Nasão, cantor dos doces amores, pereci por causa do meu talento [...]»,. A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 83 Sem demora, a deusa se dirige à casa, toda manchada pela negra peçonha da Inveja. A casa fica escondida em um vale, privada do sol, nenhum vento ali sopra; imperam a tristeza, o frio intenso, e a escuridão, com o fogo sempre ausente. Quando lá chegou [...] Minerva vê no interior a Inveja, comendo carne de víboras, alimento de seus vícios, e, a essa vista, afasta os olhos. A Inveja, porém, se ergue, preguiçosamente, deixando no chão os corpos semidevorados das serpentes e caminha, sem se apressar. Quando vê a deusa, imponente por sua beleza e por suas armas, geme, e a expressão da fisionomia condiz com os suspiros que dá. A palidez cobre-lhe o rosto, o corpo é descarnado, seu olhar não se fixa em coisa alguma, os dentes são cobertos de sarro, o peito esverdeado pela bílis, a língua empapada de veneno. Não ri, a não ser quando a diverte o espetáculo de um sofrimento; não dorme, pois as preocupações a mantêm em vigília, mas assiste aos sucessos dos homens, desespera-se, e esse desespero é o seu suplício. (Ovídio, 1983: 45) Pelo fragmento transcrito, se reconhecem as marcas distintivas dessa figura mítica que introjeta o veneno das serpentes, geme e seu rosto torna-se lívido quando se depara com a beleza do outro; tem na língua, órgão da expressão e da comunicação, seu depósito de veneno. A narrativa trata de um relacionamento entre mortais e imortais, como tantos outros da mitologia, mas salienta a interferência da Inveja e o seu poder aniquilador. Três irmãs –Pandrosa, Herse e Aglaura–, quando voltavam de uma oferenda a Palas Atena, são percebidas pelo deus Hermes (Mercúrio), que se apaixona por Herse. Hermes (Mercúrio) desce à terra e dirige-se à parte da casa onde se localizam os quartos das jovens. Quem o vê é Aglaura que, em resposta ao pedido de favorecimento ao amor entre o deus e a jovem Herse, pede ao deus uma grande quantia em ouro. Atena (Minerva), que a tudo assistia, irrita-se com a imprudência e a excessiva exigência da moça e vai à casa da Inveja para que essa macule «com a tua baba uma das filhas de Cécrope» (ibidem: 45). Inveja cumpre a ordem «toca o peito da jovem com a mão coberta de ferrugem e enche-lhe o coração de farpas aguçadas, insufla-lhe um vírus funesto, espalha pez em seus ossos e veneno nos pulmões» (ibidem: 45). Aglaura sofre, consome-se e decide expulsar o deus visitante. 84 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI Uma persistente expressão do sentimento da inveja é a voracidade e a destruição do outro que supostamente representa o seu ideal de completude. Dessa forma, no campo da inveja há um constante ataque aos vínculos de modo a impedir qualquer reconhecimento de valor do outro. Aglaura, após ser tocada pela inveja, não suporta a visão da felicidade da irmã. É surpreendente no texto de Ovídio as reiteradas situações em que o olhar conduz as ações e como os espaços se correlacionam. «O deus portador do caduceu alçara vôo [...] contemplava embaixo de si [...] os campos de Muníquia [...]. O deus alado as percebeu [...] rodeia, voando, o que cobiça [...].Ele muda de rota, procura a terra, abandonando o céu [...]» (ibidem: 43-44). Já em terra, na casa de Cécrope, Hermes/ Mercúrio tenta um acordo com Aglaura para realizar seu intento amoroso com Herse. «Aglaura o fita com os mesmos olhos que antes fitara os segredos ocultos da loura Minerva [...]. A deusa guerreira volve para ela um olhar feroz [...]» (ibidem: 44-45). Atena/Minerva que já estava irritada com Aglaura porque esta, desobedecendo às suas ordens, olhara o interior do cofre em que a deusa havia escondido Erictônio, reage deslocando-se do Olimpo para o vale onde mora a Inveja. O encontro entre as duas se dá com poucas palavras e significativas trocas de olhares. «Minerva vê no interior a Inveja [...] a essa vista, afasta os olhos. A Inveja [...] quando vê a deusa [...] geme [...]. A palidez cobre-lhe o rosto [...] seu olhar não se fixa em coisa alguma» (ibidem: 45). Com essa intencional seleção, destacamos um encadeamento de olhares que não dizem respeito à interação do Eu com o Outro, mas são olhares cobiçosos e suspeitos. Aqui cabe lembrarmos a distinção entre o sentido de ‘olho’ (órgão dos sentidos) e o ato de olhar. Embora em muitas línguas a distinção seja feita nos próprios termos (oeil/regard; eye/look; ojo/mirada), para nós tanto o movimento interno da percepção quanto o órgão do sentido se traduzem pelo mesmo significante. De qualquer forma, o olhar está enraizado no corpo que se movimenta para o mundo externo e dele internaliza percepções. Ou, noutra perspetiva, o sujeito constituído pela memória individual e pela memória coletiva percebe/cria aquilo que vê. Na interação do olho e do olhar processa-se uma metamorfose do real, potencializada pela arte. O ponto culminante em que a Inveja A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 85 sorrateiramente executa a ordem de Atena/Minerva salienta a função desse órgão do sentido, com uma conotação do olhar interiorizado: E, a fim de evitar que haja dificuldade em se procurar a causa do mal, põe, diante dos olhos da irmã, a união afortunada da irmã, a beleza do deus amante, exagerando tudo. Irritada com aquilo, a filha de Cécrope é torturada por uma dor oculta e geme, angustiada, de noite e à luz do dia, corroída, lentamente, como o gelo se derrete sob o calor do Sol. (Ovídio, 1983: 45) Tomando como referência o funcionamento das relações interpessoais, mediadas pela inveja, podemos dizer que elas são movidas por uma exacerbada fantasia fundada na idealização. Na transcrição acima, a figura mítica Inveja executa os movimentos próprios de um ser que necessita devorar tudo, danificando o outro (o ser que é tocado). No final da narrativa, a irada e torturada Aglaura posiciona-se no umbral da porta, ou seja, no limiar entre o dentro e o fora. Não está nem no interior nem no exterior, mas num ponto de passagem. É, justamente, a passagem do deus para o encontro com a irmã que ela quer impedir, entretanto o poder do imortal fere-a na sua condição de mortal. Aglaura é petrificada ali mesmo nesse espaço de trânsito, mais próxima da escuridão da Inveja do que da luminosidade divina, pois «E a pedra não era alva: sua alma a escurecera» (Ovídio, 1983: 46). Já sob espírito cristão, a Inveja será objeto poético de Dante Alighieri (1265-1321) que a representa no espaço de esperança e reparação –o Purgatório–, Cantos XIII e XIV de A Divina Comédia. O Purgatório é configurado em sete círculos reservados aos orgulhosos, invejosos, iracundos, preguiçosos, avaros e pródigos, gulosos e luxuriosos. Vemos que na base dessa montanha piramidal, no II círculo, encontramse os invejosos. Na entrada, o ambiente é silencioso, aparentemente sem vida, neutro, sem algum elemento de destaque: «Não há alma lá, não lavor aparente/na pista lisa, nem na nua encosta/da cor bruta da rocha unicamente» (Purgatório, Canto XIII, vv.7-9). Inicialmente, aos dois 86 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI poetas representados (Dante e Virgílio) não se apresentam imagens a serem vistas, entretanto vozes são ouvidas, dessa forma prenunciando que, nesse local, a visão é inexistente, sendo o olho substituído pelo órgão do sentido da audição. As vozes emitem pequenas frases que evocam situações de grande generosidade, fazendo contraponto às situações de inveja. «E o meu bom Mestre: ‘Este grito vergasta/ o pecado da inveja, donde é aposto/ senso de amor às tiras da vergasta://o freio deve ser ao som oposto» (Purgatório, Canto XIII, vv. 37-40). O motivo de tal ênfase no som vem a seguir: E como para o cego o Sol não chega, Assim aos pecadores de que eu falo O Céu seu resplendor também lhes nega Que as pálpebras lhes cose, pra ocultá-lo, Co´arame, qual co´gavião bravio Se usa fazer pra quieto conservá-lo. (Purgatório, Canto XIII, vv.6773) Talvez possamos associar as frases que lembram feitos de grande generosidade ao processo de desidealização, realizado pelo invejoso frente à grandiosidade por ele concedida ao outro em sua fantasia. Sápia, um dos espíritos, relata a Dante seu infortúnio, derivado da inveja e do gozo que sentia com a desventura do outro. No canto XIV, depois de ouvir de Guido del Duca, «Fui, na inveja, tão árdego e impulsivo,/ que em minha cara, ao ver do outro a boa sorte,/verias da inveja o livor ostensivo» (Purgatório, Canto XIV, vv.82-84), Dante e Virgílio ouvem uma voz que grita «Matar-me-á qualquer que ora me prenda» (Canto XIV, v. 133), referência direta ao Gênesis, quando Caim mata Abel e é inquirido por Deus. Na seqüência do diálogo entre ambos, Deus amaldiçoa Caim e o expulsa da sua terra, fazendo-o peregrinar e errar por caminhos desconhecidos. Essa errância faz parte do processo de sublimação, necessário à superação do ódio incontrolável dirigido ao Outro. Então Caim profere a sentença acima a que Deus responde: «Não, mas aquele que matar Caim será punido sete vezes» (Gênesis, 4.15). A fala A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 87 de Caim, paradigmática da inveja, que ecoa no II círculo do Purgatório, é seguida de outra voz que repete: «Aglauro eu sou, que me tornei molasso» (Purgatório, Canto XIV, v.139). O purgatório, em A Divina Comédia, é espaço de espera e de passagem para o paraíso, ou para um estado de bem-aventurança que será alcançado mediante orações e purgação. Em cada círculo, há representações do pecado e de sua virtude oposta, no caso da inveja, vozes proclamam o amor. A passagem da inveja para uma condição mais evoluída ocorre quando há reparação, ou seja, reconhecimento do outro, menos idealizado, com predomínio da generosidade nessa relação. Nesse contexto, a percepção que o Sujeito tem da não totalidade do Outro provoca sofrimento e repressão dos impulsos –elementos estruturantes da subjetividade. Segundo Segal (1975: 105), «os impulsos reparadores ocasionam um maior avanço na integração. O amor é colocado mais nitidamente em conflito com o ódio, e age tanto no controle da destrutividade quanto na reparação e na restauração do dano causado». Segundo Klein, [r]essentimentos inevitáveis reforçam o conflito inato entre o amor e o ódio, isto é, basicamente entre as pulsões de vida e de morte [...]. Ao falar de um conflito inato entre amor e ódio, deixo implícito que a capacidade tanto para o amor quanto para impulsos destrutivos é, até certo ponto, constitucional, embora varie individualmente em intensidade e interaja desde o início, com as condições externas (Klein, 1991: 211). DOIS IRMÃOS O preâmbulo precedente tem a função de emoldurar a análise do romance Dois irmãos (2000), de Milton Hatoum, vencedor do prêmio Jabuti em 2001, sob a perspetiva desse mal ingênito do ser humano, a inveja. Numa focalização muito bem construída é-nos apresentada a história de uma família composta pelos pais, Zana e Halim, pela filha 88 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI Rânia, pelos gêmeos Yaqub e Omar. Fazem parte dessa constelação familiar a serviçal Domingas e o seu filho Nael, narrador que se revela aos poucos e somente é nominado no final do romance. A paixão de Halim, imigrante libanês, por Zana, filha do viúvo libanês Galib, vindos de Biblos, era amortecida pela presença dos filhos, principalmente de Omar, chamado o Caçula. Halim nunca quis ter filhos, mas com a morte de Galib, Zana impõe seu desejo de maternidade. Nascem os gêmeos: Nasceram em casa, e Omar uns poucos minutos depois. O caçula. O que adoeceu muito nos primeiros meses de vida. E também um pouco mais escuro e cabeludo que o outro. Cresceu cercado por um zelo excessivo, um mimo doentio da mãe, que via na compleição frágil do filho a morte iminente. Zana não se despregava dele, e o outro ficava, aos cuidados de Domingas, a cunhatã mirrada, meio escrava, meio ama, “louca para ser livre”, como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, não muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade. (Hatoum, 2006: 50)3 A sucinta descrição de Omar, o Caçula, «um pouco mais escuro e cabeludo que o outro» traz à memória do leitor o conhecido texto bíblico que narra o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, a disputa pela primogenitura e suas descendências. Jacó, assim como Omar, nasce depois, mas são de Esaú as características apontadas «O que saiu primeiro era vermelho, e todo peludo como um manto de peles» (Gênesis, 25: 2425). Já no ventre materno, os gêmeos bíblicos lutaram e, durante suas vidas, manifestaram polaridades no temperamento, nas atividades, na preferência dos pais. «Esaú torna-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico, que morava na tenda. 3 As próximas citações do romance serão indicadas apenas pelas páginas e podem ser localizadas em Hatoum (2009). A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 89 Isaac preferia Esaú, porque gostava de caça; Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó». (Gênesis, 25: 27-28). No momento de receber a bênção paterna, Jacó com a ajuda de Rebeca, engana seu velho pai, passando-se por Esaú, e recebe a bênção devida ao primogênito. Anteriormente Esaú já havia trocado a primogenitura por um prato de lentilhas. As associações são bem evidentes, embora com assimetrias, pois ora Omar, o Caçula, pode ser relacionado a Jacó, ora, ao contrário, a Esaú; da mesma forma, Yaqub, o primogênito, se assemelha ora a um ora a outro do par bíblico. Yaqub, embora tenha sido afastado de casa, para viver por cinco anos em terras distantes, no Líbano, adquirindo lá características rudes de campônio, é o que por vontade própria permaneceria, temporariamente, em casa. Seu comportamento é pacato, como o de Jacó, seu temperamento é ensimesmado, circunspecto, dedica-se aos estudos. Como na narrativa bíblica, é o preferido do pai, associando-se a Esaú. Paradoxalmente, Yaqub tem na sua formação as experiências de campônio e, mais tarde, no aprendizado profissional, conquista notável posição no centro de maior desenvolvimento do país. «Um outro Yaqub, usando a máscara do que havia de mais moderno no outro lado do Brasil. Ele se sofisticava, preparando-se para dar o bote: minhoca que se quer serpente, algo assim. Conseguiu. Deslizou em silêncio sob a folhagem» (Hatoum, 2009: 45). O campônio, que não sabia mais falar corretamente na sua língua materna, tinha comportamento rude, mas soube transformarse num homem respeitado. Conquistou uma posição profissional de destaque, casou-se com a mulher que amava desde a adolescência e que foi o objeto declarado da disputa entre os irmãos. Lívia, a menina aloirada, corpo alto de moça» (Hatoum, 2009: 15), conquistou os dois irmãos. Mesmo tendo ficado primeiramente com Omar, causando grande desespero em Yaqub «odiei as músicas daquela noite, os mascarados, e odiei a noite» (ibidem: 16), Lívia volta-se para Yaqub, provocando reações de violência em Omar. Antes de partir para suas conquistas profissionais, Yaqub exibiuse com garbo diante do olhar de toda a cidade, provocando a admiração orgulhosa de sua mãe, a indiferença de seu pai e o despeito de seu irmão: 90 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI Yaqub recusou o dinheiro e a bicicleta. Pediu uma farda de gala para desfilar no dia da Independência. Era seu último ano no colégio dos padres e agora ia desfilar como espadachim. Já era garboso à paisana, imagine de farda branca com botões dourados, a ombreira enfeitada de estrelas, o cinturão de couro com fecho prateado, a polaina, a luva branca, a espada reluzente que ele empunhou diante do espelho da sala. A mãe, com o olhar maravilhado, não sabia se mirava o filho ou a imagem dele. Talvez tivesse olhos para mirar os dois, ou os três, pois do alpendre o Caçula espiava a cena sentado na bicicleta, a cara meio alesada com um sorriso esquisito, vá saber se de despeito ou irrisão. Ele ignorou o desfile e da Independência. O pai preferiu aproveitar em casa a quietude do feriado. Insistiu para que Zana ficasse com ele, deixasse o filho desfilar e marchar à vontade, mas ela queria a emoção de ver Yaqub fardado no centro da avenida Eduardo Ribeiro. (Hatoum, 2009: 31) O fato marcante da separação física dos dois irmãos, após uma briga desencadeada pela atração que ambos sentiam pela mesma garota (Lívia), teve a interferência categórica de Zana, na decisão de Halim de mandar apenas Yaqub, com treze anos de idade, para o sul do Líbano, ficando Omar próximo da mãe, como filho único, deixando em Yaqub uma mágoa nunca verbalizada e uma lembrança imersa nas águas do esquecimento: “Não morei no Líbano, seu Talib. [...] Me mandaram para uma aldeia no sul, e o tempo que passei lá, esqueci. É isso mesmo, já esqueci quase tudo: a aldeia, as pessoas, o nome da aldeia e o nome dos parentes. Só não esqueci a língua...” [...] “Não pude esquecer outra coisa” [...] “Não pude esquecer...” ele repetiu, reticente, e se calou (ibidem: 89). Omar foi aquele que não se afastou da mãe, «‘Meu mico-preto, meu peludinho’, Zana dizia a Omar, para desespero de Halim. O peludinho cresceu e aos doze anos já tinha a força e a coragem de um homem» (ibidem: 53), foi quem mais explorou a vida em sua luxúria, bebedeiras A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 91 e ausências, motivadas por aventuras com mulheres, em geral prostitutas. Exceder os limites fazia parte da compleição de Omar. Entretanto, ficou sempre a deriva, satélite errante do núcleo familiar, sempre retornando, arrastado pelas buscas do pai ou da mãe. «Mas o teu filho [Omar] topa todas, Halim. Colhe a orquídea mais rara, mas também arranca a aninga da lama. [...] Mas o Omar quer muito mais, deseja tudo. É um prisioneiro de tanto desejo» (ibidem: 119-120). Nas relações entre mãe e filho existia uma cumplicidade que os transformava em prisioneiros: «Essa fidelidade à mãe merecia uma recompensa. E, para desespero de Halim, o Caçula foi mimado como nunca» (ibidem: 133). Depois da morte dos pais, Yaqub vinga-se do irmão que se transforma em foragido, até ser preso e condenado. Após algum tempo na prisão, volta a perambular por caminhos tortuosos. Rânia, a irmã a quem não foi dada muita atenção, torna-se a sustentação dos restos da família: «aos poucos, ela foi descobrindo que o irmão distante havia calculado o momento adequado para agir. Yaqub esperou a mãe morrer. Então, com truz de pantera, atacou. A fuga foi pior para Omar. Agora ele não tentava escapar às garras da mãe, mas ao cerco de um oficial de justiça» (ibidem: 192). Nesse processo intertextual, não escapou ao autor a trama familiar de desavenças entre os gêmeos Paulo e Pedro, criada por Machado de Assis (1838-1908). Evocando no título os dois irmãos bíblicos, o romance Esaú e Jacó (1904) retoma a cena da consulta ao Senhor feita por Rebeca, transportando-a ao cenário profano do Morro do Castelo para onde se dirige a mãe dos gêmeos em busca da predição do futuro, feita pela cabocla vidente: - Cousas futuras! murmurou finalmente a cabocla. [...] - serão grandes, oh! grandes! Deus há de dar-lhes muitos benefícios. Eles hão de subir, subir...Brigaram no ventre de sua mãe, que tem? Cá fora também se briga. Seus filhos serão gloriosos. É só o que lhe digo. Quanto à qualidade da glória, cousas futuras (Assis, 1966: 23). 92 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI Assim como Zana devotava-se aos filhos, principalmente a Omar, de forma excessiva, Natividade, a mãe dos gêmeos Pedro e Paulo, dirigia a eles um olhar benevolente, enquanto os filhos cresciam e se desentendiam, mirando o futuro predito pela cabocla. Quando esta lhe pergunta se os filhos brigaram no ventre da mãe, Natividade responde afirmativamente e durante a formação dos gêmeos sua reação às brigas dos filhos será de tentativas de conciliação através de agrados: Natividade acudiu prestamente, não tanto que impedisse a troca dos primeiros murros. Segurou-lhes os braços a tempo de evitar outros, e, em vez de os castigar ou ameaçar, beijou-os com tamanha ternura que eles não acharam melhor ocasião de lhe pedir doce. Tiveram doce; tiveram também um passeio, à tarde, no carrinho do pai (Assis, 1966: 57). Nos dois romances, a aparente dedicação materna camufla um domínio sedutor que enreda os filhos, promovendo a inveja entre eles e fertilizando condutas mutuamente destrutivas. Os dois textos desenvolvem esse veio de diferentes formas, marcando sempre uma posição de poder da mãe, que o exerce com encantos e promessas. Para Klein (1991), os sentimentos de amor e de ódio presentes de modo implícito e explicito nas relações iniciais do Sujeito, são fortalecidos pelas fantasias e necessidades pulsionais dirigidas ao objeto originário (o Outro da relação) que se torna a base da confiança, da esperança, e é fonte de bondade. Esse modo de relação é transferido a objetos, pessoas e situações ao longo da vida. Expressa-se de maneira recrudescida quando as representações primárias permanecem fortalecidas pelo processo imaginário. Ainda num jogo de intertextualidade explícita, Dois irmãos dialoga com Esaú e Jacó na aproximação de uma fala de Domingas, quase no final do romance, com uma reflexão do Conselheiro Aires, na finalização do capítulo Último, do romance Esaú e Jacó. As duas frases desses dois personagens, observadores atentos dos acontecimentos, A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 93 refletem-se criando uma imagem da persistência desse mal que se revela na disputa aniquiladora entre os irmãos. O Conselheiro, ao constatar que os irmãos Pedro e Paulo voltaram a tomar partidos contrários, após um período de respeito ao juramento feito à mãe moribunda, não alimenta a discussão que se formara: «Aires sabia que não era a herança, mas não quis repetir que eles eram os mesmos, desde o útero. Preferiu aceitar a hipótese, para evitar debate, e saiu apalpando a botoeira, onde viçava a mesma flor eterna» (Assis, 1966: 235). Domingas, quando Yaqub e Omar definitivamente rompem de forma violenta, tem pesadelos, preocupa-se com ambos: «Encostada no tronco da seringueira em que o Caçula havia trepado, dizia: ‘Os dois nasceram perdidos’» (ibidem: 178) Essa referência à arkhé, à vida uterina, é reiterada nos relatos. Está no texto bíblico em que o Senhor responde à pergunta feita por Rebeca sobre o motivo de os filhos em gestação lutarem em seu ventre: «Tens duas nações em teu ventre; dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo» (Gênesis, 25. 23). Está no Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Natividade sobe o morro para perguntar à cabocla vidente sobre o futuro dos filhos e é surpreendida pela pergunta desta: «Natividade não tirava os olhos dela, como se quisesse lê-la por dentro. E não foi sem grande espanto que lhe ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes de nascer» (Assis, 1966: 22). Também em Apócrifos II: os proscritos da Bíblia, Caim, o primogênito já nasce cheio de ódio: «O significado de Caim é ‘aquele que odeia’, porque ele odiou sua irmã no ventre de sua mãe; antes de eles saírem deste. Por isso Adão o chamou Caim» (1992: 121). Ao contrário da história dos gêmeos Pedro e Paulo (Esaú e Jacó), a vida de Yaqub e Omar (Dois irmãos), fisicamente idênticos, foi marcada não apenas por diferenças de comportamento, de personalidade, de posições, mas por desavenças e violência: Uma pane no gerador apagou as imagens, alguém abriu uma janela e a platéia viu os lábios de Lívia grudados no rosto de Yaqub. Depois o barulho de cadeiras atiradas no chão e o estouro de uma garrafa estil- 94 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI haçada, e a estocada certeira, rápida e furiosa do Caçula. O silêncio durou uns segundos. E então o grito de pânico de Lívia ao olhar o rosto rasgado de Yaqub. (Hatoum, 2009: 22) Esse comportamento violento de Omar o coloca na mesma posição de Yaqub, no que se refere à inveja, embora suas manifestações preponderantes o aproximem do sentimento de ciúmes. «Omar, mordido de ciúme, não tocou no nome do irmão. E a mãe, pura ânsia, dizia que filho que parte pela segunda vez não volta mais para casa» (Hatoum, 2009: 35).Da mesma forma que Natividade (Esaú e Jacó), Zana (Dois irmãos) é levada pela esperança de reconciliação até a morte: «Não queria morrer vendo os gêmeos se odiarem como dois inimigos. Não era mãe de Caim e Abel. Ninguém havia conseguido apaziguá-los, nem Halim, nem orações, nem mesmo Deus» (Hatoum, 2009: 170). Apesar do empenho da mãe e da irmã Rânia, nenhum dos dois cedia: «Oxalá seja resolvido com civilidade; se houver violência, será uma cena bíblica» é a resposta de Yaqub que, pouco depois, será quase morto pelo irmão: «Quando gritei, Omar deu um salto, ergueu a rede e começou a socar Yaqub no rosto, nas costas, no corpo todo. [...] [e]le chutava e esmurrava o irmão, xingando-o de traidor, de covarde» (Hatoum, 2009: 175). Nessa e noutras passagens a tradição bíblica é invocada na sua manifestação mais cruel da inveja causadora de fratricídio. Os dois irmãos, assim como Caim e Abel, têm temperamentos antagônicos: Não, fôlego ele não tinha para acompanhar o irmão. Nem coragem. Sentia raiva, de si próprio e do outro, quando via o braço do Caçula enroscado no pescoço de um curumim do cortiço que havia nos fundos da casa. Sentia raiva de sua impotência e tremia de medo, acovardado, ao ver o Caçula desafiar três ou quatro moleques parrudos, agüentar o cerco e os socos deles e revidar com fúria e palavrões. Yaqub se escondia, mas não deixava de admirar a coragem de Omar. Queria brigar como ele, sentir o rosto inchado, o gosto de sangue na boca, a ardência no lábio estriado, na testa e na cabeça cheia de calombos; queria co- A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 95 rrer descalço, sem medo de queimar os pés nas ruas de macadame [...] (Hatoum, 2009: 14) Omar é extrovertido, excessivo em suas brincadeiras; Yaqub é contido e não se expõe ao perigo. Enquanto Yaqub estudava e surpreendia os professores com sua habilidade matemática, Omar era expulso do colégio e tornava-se um boêmio, beberrão. Tudo sob o olhar cuidadoso da mãe e de Domingas. Apesar de calado, circunspecto, e de não participar de festas, Yaqub atraia as mulheres pelo seu porte e principalmente pelo seu olhar. A INVEJA Alguns mitos, incluindo os aqui relembrados, narram a luta entre os irmãos, movida pela inveja da progenitura –é o caso de Esaú e Jacó; pelo inveja do olhar benevolente do outro; caso de Caim e Abel-, na narrativa bíblica. Na narrativa apócrifa, a inveja de Caim é incrementada pelo possível casamento de Abel com Luluva, a bem dotada. Em Esaú e Jacó, de Machado de Assis, os irmãos Pedro e Paulo crescem e vivem em disputas, culminando com a rivalidade pelo amor de uma mesma mulher. Dois irmãos, de Milton Hatoum, publicado na virada do século XXI, recupera esse filão em que flui “bile negra”, em que o olhar dirigido ao outro, ao próximo, é mortífero como o de Medusa, petrifica, destrói o rival, não gerando prazer mas um gozo nefasto, próximo da morte. Embora a narrativa de Dois irmãos esteja situada entre as I e II Guerras, abrangendo o início da segunda metade do século XX até o período da ditadura no Brasil, seu contexto de produção é já a virada para o século XXI. Como podemos pensar a permanência, a persistência desse mito arcaico numa sociedade em que o indivíduo, centrado em si, busca o sucesso, que lhe vem pelo poder, posição profissional e dinheiro? Não há mais uma dependência de primogenitura, não há mesmo, em geral, uma dependência familiar: «Halim estava orgulhoso: o filho ia morar sozinho no outro lado do país, mas ia precisar de dinheiro, não podia viajar 96 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI assim... Por um momento a voz de Yaqub ressoou na casa, uma voz já de homem, cheia de decisão dizendo: ‘Não, baba, não vou precisar de nada...» (Hatoum, 2009: 33). A sociedade hipermoderna se caracteriza pelo excesso. Segundo Lipovetsky, «[n]ossa sociedade não conhece precedência, codificações definitivas, centragem: conhece apenas estímulos e opções equivalentes em cadeia. Daí resulta a indiferença pós-moderna, indiferença por excesso e não por falta, por hiper-solicitação e não por privação» (2005: 22). Esse excesso não chega a ser processado para construir saberes, mas para ser consumido, gerando em ritmo frenético a necessidade de novas informações e novas satisfações num mundo do espetáculo em que a exposição individual rompe as barreiras entre o público e o privado. Mas nem tudo é exposto, pois quem vai exibir sua fraqueza diante do outro?: [o] capitalismo de consumo completou o processo de erosão do receio da inveja. Propagando uma cultura que encoraja cada individuo a viver para si e a gostar de si próprio, as sociedades consumistas substituíram a obsessão da inveja pelo exibicionismo da felicidade, o medo da maledicência pela indiferença face ao outro. (Lipovetsky, 2007: 271) O processo de democratização do acesso aos bens materiais numa sociedade de consumo provocou o deslizamento gradativo da inveja em relação ao Outro, à riqueza, ao luxo, aos privilégios dos mais ricos para um olhar invejoso sobre a existência do Outro, seja no âmbito profissional ou particular: prestígio, talento, sucesso, promoção profissional, conquista amorosa, beleza. Yaqub constrói sua trajetória nessa direção, em ambos os planos: «Trancava-se no quarto, o egoísta radical, e vivia o mundo dele, e de ninguém mais. O pastor, o aldeão apavorado na cidade? Talvez isso, ou pouco mais: o montanhês rústico que urdia um futuro triunfante» (p.26). Como modo de defesa inconsciente frente à raiva ocasionada A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 97 pela falta de conforto e de gratificação, o Sujeito projeta no Outro todo o sentimento de ódio. Dessa forma, o Outro é revestido dos objetos que o Sujeito, privado de gratificação plena, deseja. No imaginário do Sujeito que vivencia de modo intenso a inveja, o Outro é possuidor de um atributo material ou psíquico, que por ser altamente valorizado, é também bastante cobiçado. Nesse sentido, a inveja não pode ser entendida como sentimento de admiração, mas de posse, de destruição do Outro e até de danificação. O Sujeito, embora tomado pela inveja, já discrimina entre o Eu e o Outro, entre aquilo que esse possa conceder ou privar e o que ele mais deseja. As duas formas de manifestação envolvendo o excesso de idealização ou de desidealização realçam o narcisismo e a onipotência. Ambos são mecanismos considerados primários no funcionamento psíquico, prevalecendo, nesse modo, o ataque aos vínculos. As intercorrências do sentimento de inveja resultam no temor do Sujeito para experimentar novas relações interpessoais. Segundo Zimerman (1999: 146), [n]esses casos de inveja excessiva costuma haver, proporcionalmente, um prejuízo na capacidade de formação de símbolos. Como sabemos, essa capacidade permitiria a substituição de um objeto ausente por um outro equivalente, presente ou abstrato. Ao invés disso, a valoração e a representação dos objetos ficam sendo de natureza concreto-sintética, no nível do plano imaginário, essa é a razão porque, na lógica do invejoso, não existe um objeto que seja análogo: o que há é um objeto único e incompartilhável. Entre as manifestações do indivíduo invejoso, temos a constante comparação entre pessoas ou situações em que a relação de tudo ou nada pode estar presente. O Sujeito é considerado bom ou mau, não havendo espaço para reconhecimento de que o bom e o mau transitam entre si, sem necessariamente polarizar ou tornar absoluta a questão. A inveja, acompanhada do mecanismo de identificação projetiva, impede que a pessoa se expresse ou que revele suas habilidades, pelo 98 LENY DA SILVA GOMES E NOELI RECK MAGGI medo de que outros possam tomar posse do que é seu. A inveja, nesse sentido, inviabiliza a aproximação com outras pessoas, com o sucesso pelo sentimento de ameaça que é projetado nos outros. Em Dois irmãos, parece haver um hibridismo em relação à representação da inveja, associando os comportamentos próprios da sociedade hipermoderna, individualista, que encoraja o viver para si e o gostar de si próprio, o exibicionismo das conquistas individuais e a indiferença pelo Outro, com os traços mais arcaicos que marcam a rivalidade entre os homens, a avidez em relação a um objeto de desejo. Como as frustrações que impregnam a realidade fortalecem no Sujeito um impulso incontrolável para obter conforto e prazer, esse impulsiona-o a buscar de modo desmesurado a posse total do Outro. Temos, então, a voracidade acompanhada da necessidade de atacá-lo para denegri-lo, dispensá-lo de modo onipotente, deixando de considerá-lo objeto de ajuda. Nas culturas em que prevalece o narcisismo e o culto ao prazer paradisíaco, as atividades envolvendo pensamento e reflexão crítica não têm espaço. Nessa condição considerada a mais primária de viver, uma vez que predomina a impulsividade e a passagem ao ato, o Sujeito não transita entre o registro do ser e do ter. Esses elementos se confundem, ou seja, predomina a onipotência definidora de que o sujeito em princípio já é o que necessita ou deseja. Diante de tal autocentramento, o processo civilizatório torna-se caótico, porque o mal-estar inevitável para a conquista da alteridade e do respeito às diferenças não é suportado. Se a civilização se dá às custas da repressão, paralelamente podemos dizer que a reparação da inveja ocorre a partir da posição depressiva, quando há um reconhecimento de que o Outro não é fonte absoluta ou de gratificação, ou de frustração, mas simultaneamente de ambos os sentimentos, humanos no sentido pleno da palavra. A INVEJA: ARTICULAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E LITERATURA 99 REFERÊNCIAS: ALIGHIERI, Dante. A Divina comédia: purgatório. Trad e notas Ítalo Eugenio Mauro. São Paulo: ed. 34, 1988. ASSIS, Machado. Esaú e Jacó. Org. intr. notas de Massaud Moises. 4ª ed. São Paulo: Cultrix, 1966. BIBLIA SAGRADA. Trad. Centro bíblico católico. 34ª ed. São Paulo: Ed. Ave Maria. BÍBLIA. Apócrifos II: os proscritos da Bíblia. Comp. Maria Helena de Oliveira Tricca. São Paulo: Mercuryo, 1992. FREUD, Sigmund. Sobre o narcisismo: uma introdução. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Trad. Themira de Oliveira Brito, Paulo Henriques Britto e Christiano Monteiro Oiticica. Ed. Standard Brasileira, Rio de Janeiro: Imago, 1980, v. XIV. HATOUM, Milton. Dois irmãos. 8ª reimpressão. São Paulo: Companhia de bolso, 2009. HESÍODO. Os trabalhos e os dias (primeira parte). Intr. trad. comentários Mary de Camargo Neves Lafer. 1ª reimpressão. São Paulo: Iluminuras, 1991. HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Estudo e tradução Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 2003. KLEIN, Melanie. Inveja e gratidão: e outros trabalhos (1946 – 1963). Trad. da 4ª Ed. Inglesa; Elias Mallet da Rocha, Liana Pinto Chaves (coordenadores) e colaboradores. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1991. LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo. Trad. Therezinha Monteiro Deursch. São Paulo: Manole, 2005. ----. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo. Trad. Patrícia Xavier. Lisboa/Portugal: edições 70, 2007. OVÍDIO. As metamorfoses. Trad. David Gomes Jardim Junior. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1983. ----. As metamorfoses. Excertos traduzidos por Bocage. São Paulo: Martin Claret, 2006. SEGAL, Hanna. Introdução à obra de Melanie Klein. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Imago, 1975. ZIMERMAN, David E. Fundamentos psicanalíticos: teoria, técnica e clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, l999. VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 101-124 Anatomia da ausência: Corporeidades, finitude e permanência na poesia de Carlos Drummond de Andrade LUCIANO ROSA Universidade Federal do Rio de Janeiro O presente trabalho procura examinar como se configuram, na poesia de Carlos Drummond de Andrade, formas de existência não chanceladas na realidade objetiva que no entanto se viabilizam no discurso poético, espaço simbólico em que tais formas, valendo-se da carnadura da palavra, adquirem materialidade e legitimidade. Palavras chave: Poesia brasileira, Carlos Drummond de Andrade, corporeidades. This essay proposes to examine how to configure, in the poetry of Carlos Drummond de Andrade, forms of existence not sanctioned in objective reality, but made possible in the poetic discourse, symbolic space in which, from of the word’s corporeality, acquire materiality and legitimacy. Key words: Brazilian poetry, Carlos Drummond de Andrade, corporealities. 102 LUCIANO ROSA Introdução O presente trabalho tem por escopo investigar o pensamento poético de Carlos Drummond de Andrade formulado em torno de questões como corporeidades, finitude e permanência, categorias que, conforme pretendemos demonstrar, adquirem instigante especificidade na poesia drummondiana. Corpo e finitude são temas recorrentes na obra do poeta, abordados das mais diversas formas. Vários são os textos em que o corpo é convocado em sua acepção clássica, considerado como estrutura biologicamente constituída, tal como lhe é próprio apresentarse no mundo concreto. Essa noção fundamenta, entre tantos outros, os poemas eróticos de O amor natural (1992); a conjunção dor/prazer referida em textos como “Missão do corpo” (Farewell, 1996); ou a cisão entre corpo e consciência, eixo de poemas como “As contradições do corpo” (Corpo, 1984). Neste estudo sustentamos que a poesia de Drummond, paralelamente ao discurso em torno do “corpo corporificado”, também se ocupa do “ser incorpóreo”, que, destituído de concretitude, de algum modo existe –na memória, em especulações ontológicas– e se manifesta por intermédio da palavra poética. A nossa proposta de leitura se assenta fundamentalmente em três escritos: “Ser”, de Claro Enigma (1952); “Verbo ser”, de Boitempo: Menino Antigo (1973); “O que viveu meia hora”, de A Paixão Medida (1980). A partir desses textos-base buscaremos examinar como se configura e se desdobra uma espécie de “corporificação da ausência” na poética de Drummond. Além dos textos-base, outros poemas, surgidos em momentos diversos da longeva produção do poeta, serão chamados à nossa análise. São textos que, no todo ou em parte, revelam aspectos do pensamento –e especialmente os questionamentos– de Drummond sobre a vida, a morte, o ser, o não-ser, o estar-no-mundo. Um episódio biográfico Antes de nos ocuparmos dos poemas, achamos conveniente trazer à baila um episódio da biografia de Drummond: a morte, decorrente ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 103 de complicações no parto, de seu filho Carlos Flávio, meia hora após o nascimento. O acontecimento dramático teve funda repercussão no poeta. O biógrafo José Maria Cançado, em Os Sapatos de Orfeu, relata assim o incidente: No dia 21 de março de 1927, no fim da tarde, depois de quase dois dias de penoso trabalho de parto, Dolores deu à luz um menino. O nome já tinha sido escolhido: Carlos Flávio. Mas ele não viveria mais de meia hora, asfixiado pelo cordão umbilical, e assistido na sua agonia pela impassibilidade ou impotência de dois médicos. . . Conhecem-se poucas reações de Drummond com relação à morte do filho. .. . Há uma . . . carta, escrita dois dias depois da morte de Carlos Flávio, tão mais comovente na medida em que nela Drummond chega a falar até no que sentiu quando se soube pai pela primeira vez, durante o pouco tempo de vida do filho. Na carta, em que a dor ecoa seca de cada frase, Carlos Drummond de Andrade comunicava ao irmão e à cunhada que, depois de sofrer dezessete horas, Dolores dera à luz um menino “enorme e robusto”. Ele viveria apenas meia hora: “nasceu às 4h15 e morreu às 4h45”, anotou o pai na carta ao irmão. O mais duro é a sua confissão de que, na “experiência e até na alegria que senti no momento de ver meu filhinho”, ele nem notou o seu estado. Estava “roxo”, conta ele, e desfalecido. Ao voltar a si, sem chorar, “gemendo apenas”, anota mais uma vez o pai no seu sofrimento, ele foi batizado às pressas, no banho, pela parteira. Depois, ao fechar os olhos, talvez ele estivesse dormindo, pensou Drummond, mas na verdade estava morto. A carta é monstruosamente sofrida, justamente porque narra algo inenarrável. Drummond não falaria mais na morte de Carlos Flávio. (2006: 123-24) “Como se faz um homem?” 1 O acontecimento dramático decerto abalou o jovem Drummond, na época poeta ainda não publicado em livro. No entanto, Cançado afir1 Verso do poema “Especulações em torno da palavra homem” (Drummond, 1996: 215-19). 104 LUCIANO ROSA ma que «Carlos Drummond de Andrade não menciona sequer uma vez a morte do filho na sua obra (ao contrário do que se pensa, o poema que se inicia com os versos ‘O filho que não fiz/ hoje seria homem’ não se refere a Carlos Flávio)» (2006: 124). O poema a que o biógrafo alude é “Ser”, enfeixado em Claro Enigma, primeiro texto poético que trazemos a este trabalho: Ser 3 6 9 12 15 18 21 O filho que não fiz hoje seria homem. Ele corre na brisa, sem carne, sem nome. Às vezes o encontro num encontro de nuvem. Apoia em meu ombro seu ombro nenhum. Interrogo meu filho, objeto de ar: em que gruta ou concha quedas abstrato? Lá onde eu jazia, responde-me o hálito, não me percebeste, contudo chamava-te como ainda te chamo (além, além do amor) onde nada, tudo aspira a criar-se. O filho que não fiz faz-se por si mesmo. (Drummond, 2006b: 63) Muito embora o biógrafo afirme categoricamente que esses versos não guardam relação com a morte do filho do poeta, talvez não seja ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 105 totalmente descabida a aproximação entre o personagem central do poema –o filho não feito– e Carlos Flávio. Contudo, se a relação entre vida e obra, nesse caso específico, pode oferecer elementos para a melhor compreensão do poema (ao menos a motivação essencial de sua gênese), não é prudente que seja alçada ao status de dado essencial ou chave interpretativa do texto poético. Ainda assim, cremos ser pertinente a menção ao trágico episódio, sem que isso signifique vinculação automática e necessária entre o poema e a biografia do poeta. Apesar de monóstrofo, o poema pode ser dividido, para fins de análise, em quatro partes: a primeira seria composta pelos dois versos iniciais; a segunda compreenderia as dez linhas seguintes (versos 3 a 12); a terceira, os oito próximos versos (13 a 20); e a quarta, as duas linhas finais. A primeira parte introduz a figura principal do poema («O não feito) prefilho que não fiz»). A caraterização («que não fiz» nuncia a não-existência desse filho, e o emprego do futuro do pretérito («seria») –tempo verbal que indica um fato dependente de condição (irrealizada, no caso)– reforça-lhe a vacuidade. Desdobrados, os versos iniciais informam que, se houvesse sido feito, o filho hoje seria homem; como não foi feito, não existe no mundo real. Na segunda parte, entretanto, o poeta flexibiliza essa condição. Em algumas passagens, o filho aparece como se de fato existisse, corporificado: «Ele corre na brisa», afirma a terceira linha. O verso seguinte, porém, mina a expetativa de concretude, afirmando faltar-lhe carne e nome. O quinto verso, de par com o terceiro, insinua a materialidade do filho, com quem às vezes se encontra o pai. Mas esse encontro é «de nuvem», impalpável, fugidio, quase irreal. Os sétimo e oitavo versos, por seu turno, a um só tempo corporificam e desmaterializam o filho, que «Apoia em meu ombro/ seu ombro nenhum». Esse duplo movimento de afirmação e refutação da corporeidade do filho estrutura toda a segunda parte, que, tomada como bloco único, relativiza a inexistência veiculada, de forma indubitável, nos dois versos de abertura. No plano textual, é de se salientar o uso dos verbos na segunda parte, conjugados, todos, no presente do indicativo. O tempo das formas verbais, empregadas no modo que expressa ação como fato real (o indi- 106 LUCIANO ROSA cativo), presentifica e confere certa aura de ‘realidade’ à figura do filho, que assim se reveste de maior concretude, bem como, a partir desse recurso discursivo, tornam-se mais palpáveis as ações e interações entre filho e pai. Na terceira parte ouve-se a voz (ou “o hálito”, termo que acentua o caráter quase inaudível da fala) do filho: metaforizado em “objeto de ar”, ele responde à interrogação do pai: «em que gruta ou concha/ quedas abstrato?». Ao reproduzir o discurso do filho, ou seja, ao colocá-lo na posição de sujeito da elocução, a terceira parte lhe confere maior materialidade, embora, no verso 12, o adjetivo «abstrato» apareça para qualificá-lo –ou para desqualificar-lhe a pretensa concretude. A sua fala inicia-se no verso 13: «Lá onde eu jazia». É expressivo o emprego do verbo “jazer” no pretérito imperfeito do indicativo, assinalando que o momento da elocução é posterior à inação evocada pelo verbo “jazer”. É como se o filho, outrora jacente, se presentificasse, se tornasse real (ou menos irreal) no instante em que fala. Oposto ao tempo verbal de toda a segunda parte, o pretérito em “jazia” corrobora a ideia de que, agora, o filho se faz presente. O filho revela que, enquanto jazia, chamava pelo pai, que não o notava. Nesse passo, a ‘existência’ peculiar do filho é reafirmada pela condição de sujeito-agente da forma verbal. Ele diz, valendo-se da primeira pessoa gramatical: «contudo chamava-te/ ainda te chamo». Nesses versos, o sujeito realiza a ação verbal em dois momentos distintos, no passado (“chamava-te”) e no presente (“ainda te chamo”). Tal estratégia posiciona o filho no fluxo de uma existência que se estenderia do passado ao presente –ou numa inexistência eternamente presentificada, que se converte, em última análise, em existência flagrante. Na sequência, o filho delineia o ‘lugar’ onde ‘vive’, caracterizado como espaço «além, além do amor/ onde nada, tudo/ aspira a criarse». É como se essas linhas metaforizassem o domínio simbólico em que se funda o discurso poético do pai. Referência ao sentimento que o une ao filho –sentimento que, imensurável e indefinível, se espraia para além das bordas do amor–, esse território «onde nada, tudo/ aspira a criar-se» acolhe com justeza esse filho-tudo-nada, corpóreo e incor- ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 107 póreo, que, inexistindo, existe; que, aspirando a criar-se, “faz-se por si mesmo”, a ponto de interagir com o poeta. O fecho do poema (os dois versos finais, que aqui chamamos ‘quarta parte’) conclui o jogo de afirmação e negação em torno da existência do filho. Retomado, o verso de abertura é suplantado pelo verso final: não feito pelo pai, o filho “faz-se por si mesmo”, habilitando-se, assim, à existência. Em “Ser”, a configuração sui generis desse filho aponta para uma espécie de existência difusa, conformada entre o real e o irreal e manifestada numa ‘corporeidade’ rarefeita, tendente à concretude e, ao mesmo tempo, à dissolução. O título do poema indicia esse intermédio (ou essa conjunção). “Ser” é palavra polissêmica, que se pode tomar por substantivo ou verbo. Segundo o Dicionário Houaiss Eletrônico, o substantivo “ser” designa «o que existe realmente; aquilo que é; homem, pessoa, indivíduo». Já o verbo “ser”, com múltiplas acepções, pode significar, como verbo intransitivo, «ter existência real; existir, viver». Pode ainda figurar como verbo de sentido absoluto, «sem especificação ou delimitação de tempo, espaço ou circunstância», manifestando, assim, carga semântica plena. Ainda segundo o Houaiss, o verbo “ser” «é por vezes considerado de sentido vazio, desempenhando apenas função de ligação entre o sujeito e o predicativo». No título do poema, sem contexto frasal que lhe defina acepção unívoca, o vocábulo “ser” ostenta todo o seu potencial significativo, potencial esse que espelha, no nível semântico, as nuanças e oscilações que fundam todo o texto, no nível poético. Como compreender o “ser” que, antecipado no título, Drummond modela no corpo do poema? Existência real ou vaziez de sentido? Acreditamos que o “ser” do poema –o filho não feito que de alguma forma é– reúne em si todas as instâncias de significado latentes no título (e potencialmente outras), tão engenhosamente essa polivalência é articulada no texto poético. No filho se interpenetram o traço substantivo (“aquilo que é; homem, pessoa, indivíduo”); o valor absoluto do verbo, que referiria uma existência «sem especificação ou delimitação de tempo, espaço ou circunstância»; a função de ligação (própria do verbo predicativo) entre as margens aparentemente inconciliáveis da existência e da inexistência, vale dizer, da corporeidade e da incorporeidade. 108 LUCIANO ROSA “Ser ou não ser? Eis a questão” A célebre questão de Hamlet,2 de Shakespeare, parece pontuar as reflexões de Drummond que despontam neste trabalho. Na leitura que propomos para “Ser”, ela está na base das especulações sobre a (in)existência do filho: afinal, ele é ou não é? Eis a questão fundamental, cuja resposta, em vez de excluir uma das possibilidades, tende a conjugar as duas: o filho é e não é, pois que, não feito, faz-se per se. Num pequeno texto chamado “Verbo ser”, o poeta tece especulações essenciais, anteriores à dúvida hamletiana, como «Que é ser?», «E sou?». Vejamos como se articulam essas e outras perguntas e, a partir delas, que relações podem ser estabelecidas com o poema “Ser”: Verbo ser Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. (Drummond, 2006b: 293) Diferentemente do vocábulo que nomeia o primeiro texto, o título desse diminuto poema em prosa não deixa dúvida quanto à classificação morfológica do vocábulo “ser”. O verbo com seus significados e implicações deflagra as dúvidas que o poeta lança em texto eminentemente interrogativo. Aqui, interessam-nos de perto os questionamentos em torno do “que é ser?”, pergunta que aparece já na primeira linha. Adiante, a questão se desdobra em outras interrogações que, longe de responderem à pergunta-matriz, adensam-na ainda mais. “Ser” «é ter um corpo, um jeito, um nome?». O ânimo asserti2 Outras relações podem ser apontadas entre a peça de Shakespeare e o poema de Drummond: a manifestação de seres que em tese não pertenceriam ao mundo real (o rei assassinado, o filho não feito), bem como a interação dialógica entre pai e filho. ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 109 vo do poeta esgota-se na declaração «Tenho os três», logo esvaziada por outra questão provocativa: «E sou?». Desinteressado em consignar respostas, o poema se ocupa em pôr em xeque a validade de três constituintes basilares da condição de “ser”. Assim, elementos que afirmariam a existência real e garantiriam a identidade do indivíduo («um corpo, um jeito, um nome») se revelam insuficientes para o poeta afirmar que de fato é. O confronto entre essas questões e o poema “Ser” conduz a instigante conclusão acerca da (in)existência do filho não feito. Nas linhas 3 e 4 de “Ser” lemos: «Ele corre na brisa,/ sem carne, sem nome». Considerado o jogo de afirmação e negação da corporeidade do filho (estratégia empreendida em todo o poema, em especial no que chamamos ‘segunda parte’), o verso «Ele corre na brisa» será desdito (ou contradito) pelo verso seguinte, «sem carne, sem nome». Afinal, a ação de correr, quando atribuída a um indivíduo, pressupõe “carne”, substantivo metonimicamente empregado em lugar de “corpo”. No entanto, as duas primeiras linhas de “Verbo ser” põem em suspeição a necessidade e suficiência de “ter um corpo” (e um nome e um jeito) para ser. O poeta afirma ter corpo, jeito e nome, mas pergunta: «E sou?». Ora, se possuir um corpo não é garantia de ser, parece lícito inferir que não possuí-lo não é condição de não ser, o que levaria a uma proposição do tipo “não tenho corpo, mas posso existir”. No primeiro poema, a ‘existência’ do filho não feito teria, pois, mais um dado a seu favor. A ele caberia uma existência descarnada, incorpórea, mas que, ainda assim, se afirmaria como modo de ser. As questões vão adiante. Partindo de pergunta aparentemente despretensiosa, em geral dirigida de forma quase lúdica às crianças –“Que vai ser quando crescer?”–, o poema lança as bases para especulações em torno dos processos de “ser” e “crescer”. Valendo-se da semelhança fônica que aproxima os dois verbos (foneticamente, “ser” está contido em “crescer”), Drummond manifesta, em tom pueril, uma série de dúvidas que põem em perspetiva a condição humana e a compreensão do que é ser. Seguindo-se às questões-matrizes que nos interessam de forma mais específica («Que é ser?»; «E sou?»), essas perguntas («Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia 110 LUCIANO ROSA a ser quando cresce? Que vou ser quando crescer?») revelam, também no estrato semântico-poético, a íntima relação entre “ser” e “crescer”, já apontada no nível fônico. Todavia, a associação entre “ser” e “crescer” não se resolve, no texto, a partir da previsível interdependência entre os dois termos. Se foneticamente “ser” está contido em “crescer”, no plano da experiência essa relação se mantém, mas também se inverte: a ação de “crescer”, isto é, “desenvolver-se progressivamente em etapas próprias após o nascimento ou até antes dele”, segundo o Dicionário Houaiss, é parte do processo de “ser”. «Ser: pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas?», pergunta o poeta, decerto já sabedor da resposta afirmativa adequada a tal questão. No plano da experiência humana, os efeitos visíveis do processo de crescimento aparecem nas modificações do corpo. Via de regra, o ciclo biológico determina que, conforme avança a existência do indivíduo, o corpo cresce, desenvolve-se até atingir a maturidade, a partir da qual se inverte o processo e o organismo paulatinamente se degenera e perde (ou tem alteradas) as características e funções que lhe são próprias. “Crescer”, portanto, implicaria mudanças –no corpo, na vida, na relação do indivíduo com o mundo, ou seja, nas diversas manifestações de ser. Contudo, o poeta mais uma vez questiona –«Tenho de mudar quando crescer?»– e põe em dúvida a mudança como consequência inevitável do processo de crescimento. Mais à frente o poeta interroga: «Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher?». Chama a atenção a ambivalência dessas questões, deliberadamente lacunares. As omissões em «Sou obrigado a?» e «Posso escolher?» podem ser supridas com qualquer dos verbos enunciados na frase anterior. Assim, as comutações «Sou obrigado a [ser]?/ Sou obrigado a [crescer]?» e «Posso escolher [ser]?»/ «Posso escolher [crescer]?», potencialmente viáveis, se justapõem e aprofundam as especulações em torno do binômio “ser” / “crescer”. A ausência de respostas revela a incapacidade de compreender o que de fato encerram os processos de “ser” e “crescer”: «Não dá para entender», declara o poeta, para, na sequência, demitir-se de “ser”. No remate, a cisão entre “ser” e “crescer” esboçada no decorrer do tex- ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 111 to é definitivamente levada a efeito: «Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer». A conclusão traz ao jogo um novo verbo, o qual, assim como “crescer”, guarda semelhança fônica com o verbo-fonte do poema. Foneticamente, “ser” integra “esquecer”. No plano da experiência, “esquecer” também faz parte de “ser”: ao longo da vida naturalmente esquecemos boa parte do que registramos. No entanto, esquecer pode, simbolicamente, anular o ato de ser: não havendo lembrança, é como se o deslembrado não houvesse sido, de vez que não restaria vestígio de sua existência. Nesse sentido, esquecer traria a reboque uma espécie de não ser, pois o vácuo do olvido dissolve o território em que, ainda simbolicamente, tudo adquiriria perenidade: os domínios da memória. Seguindo-se a «Sem ser» no derradeiro verso, «Esquecer» –palavra final do poeta– reafirma e ultima o desejo de não ser anteriormente expresso. Talvez a vontade de não ser advenha da ausência de respostas às dúvidas que o poema manifesta, como, por exemplo, «É terrível, ser? Dói? É bom? É triste?». Essas, por sua vez, derivam da questão fundamental «Que é ser?», a qual, ao fim e ao cabo, permanece igualmente irresoluta. Interrogação fundadora dos textos aludidos até aqui, a pergunta «Que é ser?» se atualiza em diversos poemas de Drummond. “Ou a gente só principia a ser quando cresce?” Ao questionar o ato de ser como consequência necessária e dependente do processo de crescimento, a interrogação «Ou a gente só principia a ser quando cresce?» transforma a pergunta capital “Que é ser?” em “Quando se começa a ser?”. Essa questão tem estado no centro de debates em que se entrechocam concepções de naturezas filosófica, religiosa, biológica, jurídica. Naturalmente controversa, a definição do marco inicial da vida humana, isto é, quando efetivamente se “principia a ser”, é objeto de várias teorias, basicamente diferençadas pelo evento que, segundo cada uma delas, assinalaria o princípio de (do) ser: a fecundação, a nidação, o início dos batimentos cardíacos, a passagem de embrião a feto, a formação do sistema nervoso central, o nascimento. Motivada por preocupações e interesses diversos, a pergunta «Ou 112 LUCIANO ROSA a gente só principia a ser quando cresce?» pareceria infundada aos olhos dos especialistas, afeitos aos nexos institucionalizados do saber constituído. Todavia, a questão adquire relevância e legitimidade no universo –poético– em que desponta, tanto mais quando articulada com outros textos que, debruçados sobre o mistério de (do) ser, veiculam questões igualmente instigantes. Como o poema “O que viveu meia hora”, o qual, falto de perguntas expressas, recoloca de modo implícito a questão «Ou a gente só principia a ser quando cresce?». O poema parece ainda orientar-se por dúvidas fundamentais como “para que ser?” ou “por que ser?” –outros desdobramentos possíveis para “O que é ser?”: O que viveu meia hora 3 6 9 12 Nascer para não viver só para ocupar estrito espaço numerado ao sol-e-chuva que meticulosamente vai delindo o número enquanto o nome vai-se autocorroendo na terra, nos arquivos na mente volúvel ou cansada até que um dia trilhões de milênios antes do Juízo Final não reste em qualquer átomo nada de uma hipótese de existência. (Drummond, 2006b: 63) Tal como “Ser”, o poema “O que viveu meia hora” poderia ser lido em referência imediata com a biografia de Drummond. Afinal, em que pese a afirmação de que o poeta «não menciona sequer uma vez a morte do filho na sua obra» (Cançado, 2006: 124), a matéria e sobretudo o título do poema parecem guardar íntima relação com a morte do ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 113 pequeno Carlos Flávio, ocorrida meia hora após o nascimento. Contudo, como registramos na análise que propomos para “Ser”, ainda que a biografia do autor aduza elementos que esclareçam o poema (ou a sua gênese), não pretendemos tomá-la como luz essencial a iluminar o texto poético. Independentemente da vinculação entre vida e obra, o poeta delineia a existência débil e brevíssima de um recém-nascido abruptamente extinto e põe em xeque a razoabilidade de um nascimento que não se converterá em presença efetiva. Como dito, o poema parece orientado pelas perguntas “para quê?” ou “qual o sentido?”, implícitas já no primeiro verso: qual o sentido de «nascer para não viver»? Em regra, o nascimento inicia um processo que, supõe-se, se estenderá por décadas. A interrupção fortuita e abreviada dessa marcha se oporia a um presumível ‘curso natural da vida’, e tal incongruência se revela na aparente dissensão entre as estruturas oracionais do verso inicial: “Nascer” e “para não viver”. O ato de nascer traz em si, como finalidade e seguimento previsível, a vida: nasce-se para viver, mas o verso subverte, pela negação, a consequência esperada de tal evento. Assim, ao invés de cantar a vida, o poema se ocupa do destino reles do pequeno corpo morto, vindo à luz «só para ocupar/ estrito espaço numerado» de uma sepultura exposta ao «sol-e-chuva». Tal como o ato de nascer, o corpo tem baldada função essencial, qual seja, manifestar a existência do indivíduo, conferindo-lhe identidade. Convertido em cadáver, o corpo não mais identifica o sujeito; confundido com o jazigo que o cinge, passa a ser identificado por um número, que pouco e pouco é delido pela ação do tempo. Da mesma forma o nome (outra marca de identidade) «vai-se autocorroendo/ na terra, nos arquivos/ na mente volúvel ou cansada», num processo de apagamento que extinguiria por completo a lembrança ou qualquer vestígio da existência tão efêmera desse ser. Os versos finais de “O que viveu meia hora” ratifica, assim, o poder de dissolução do ato de esquecer, a que atribuímos a capacidade de, simbolicamente, anular o ato de ser. Perpetrado nos labirintos da «mente volúvel ou cansada», o olvido faz que “não reste em qualquer átomo/ 114 LUCIANO ROSA nada de uma hipótese de existência”, ou seja, a total deslembrança promoveria o absoluto desaparecimento de qualquer indício de existência, impondo, ainda no plano simbólico, que o ser não houvesse sido. E eis que ressurge a pergunta: «a gente só principia a ser quando cresce?». Impedido de crescer pela morte precoce, o que viveu meia hora de fato não teria sido? Não poderia, de algum modo, ser? Haveria meios de o ato de ser, desvinculado de crescer, afirmar-se em instâncias outras que não a realidade objetiva? Postulamos que, após assinalar, já na abertura, o despropósito dessa vida tão prematuramente ceifada, o poema configura uma existência específica, ou por outra, uma inexistência que se afirma como possibilidade de permanência à medida que se manifesta no plano poético, escapando, assim, ao destino de total esquecimento vaticinado adiante. Não se deve perder de vista que, apesar de extinto no plano da experiência,3 o que viveu meia hora perdura na memória e no discurso do poeta. Registrando-lhe a existência fugaz, o poema –mais que certidão de nascimento e de óbito, sua própria biografia– converte-se em ‘estratégia de permanência’, que acaba por revogar o pronóstico de apagamento irrecorrível consignado em seus próprios versos. Segundo o poeta, o desaparecimento absoluto de qualquer “hipótese de existência” do que viveu meia hora ocorreria nalgum dia «trilhões de milênios antes do Juízo Final». É o caso de perguntar que dia seria esse. Hoje? Há dez, vinte anos? Daqui a três, quatro décadas? Impossível precisar. De toda forma, o fato de travarmos contato com o texto que manifesta a brevíssima existência (verídica ou inverídica, não importa) desse recém-nascido morto meia hora após ter vindo ao mundo vai refutando, ao menos por ora, a previsão de total esquecimento. Corroídos corpo e nome, destruídos os arquivos, fenecida a mente volúvel e cansada, o que viveu meia hora, assim como o filho não feito de “Ser”, permanece, redivivo, no corpo do poema. 3 Embora a situemos no “plano da experiência”, a morte do que viveu meia hora não se refere, necessariamente, a evento verídico, isto é, efetivamente ocorrido no mundo real (ou na biografia do poeta). A alusão se faz tão somente com base no texto poético. ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 115 “Afinal, ele é gente/ ou registro pungente?” 4 A leitura que propomos para os três textos-base analisados até aqui procura fundamentar a proposta central deste trabalho: a de que se pode mapear na obra de Drummond uma espécie de anatomia da ausência, que se ocupa não da existência corpórea dos seres, mas de outro modo de fazer-se presente, viabilizada nos domínios da poesia. Corporeidades, finitude e permanência estão no cerne de tal propositura. Os poemas “Ser” e “O que viveu meia hora”, por exemplo, organizam-se em torno de entes cujas existências não se sancionam à luz da realidade objetiva. No mundo real, “o filho que não fiz” e “o que viveu meia hora” não são, pois um nem chegou a ser efetivamente feito, e o outro faleceu logo após o nascimento. Essas informações capitais se apresentam no próprio texto e, tomadas de forma estritamente racional, não admitiriam cogitações em torno da existência de ambos. A poesia, porém, tem o condão de instaurar lógicas próprias, cuja validade se atesta exclusivamente no universo que ela mesma, a poesia, urde. Esse atributo põe em suspensão os ditames inflexíveis do real e enseja as formulações em torno de possibilidades de ser não abarcadas no plano da experiência objetiva. A viabilidade de outras formas de existir se infiltra na poesia de Drummond sobretudo pelos questionamentos que inoculam a dúvida em premissas incontestes do mundo real. É o caso de «Que é ser?» e «E sou?», de “Verbo ser”. No mesmo passo, o poema “Especulações em torno da palavra homem” articula uma série de perguntas que amplificam as questões de “Verbo ser” e adquirem especial interesse neste trabalho. “Como se faz um homem?”; “Como morre o homem, / como começa?”; “Quando morre, morre?”; “Como vive o homem, / se é certo que vive?”, “Mas existe o homem?”5 –são versos que dão a medida da sondagem ontológica levada a efeito no longo poema. A certa altura de “Especulações em torno da palavra homem” o poeta inquire: «Campeia outra forma/ de existir sem vida?». Talvez a pergunta se volte mais imediatamente sobre os desvães das conjeturas 4 5 Dístico final do poema “O homem escrito” (Drummond, 2002a: 68). Versos do poema “Especulações em torno da palavra homem” (Drummond, 1996: 215-19). 116 LUCIANO ROSA metafísicas e cogite alguma instância possível de transcendência, expressando, assim, questão corrente (e a rigor irrespondível) na realidade objetiva. Não obstante, podemos considerá-la à luz das proposições aqui intentadas e arriscar respostas. Como exposto no exame dos textos-base, parece mesmo campear no universo poético de Drummond uma “outra forma de existir”, isto é, uma existência modelada no corpo do texto, manifestada por intermédio da palavra poética. Nesse sentido, tendo em mente o filho não feito do poema “Ser”, por exemplo, poderíamos responder à questão “Como se faz um homem?” do seguinte modo: faz-se a partir de sua manifestação no poema, universo específico “onde nada, tudo aspira a criar-se”, território em que esse «objeto de ar» (o filho não feito), adquirindo a carnadura da palavra, aparece e permanece no mundo real, espaço em que, afinal, circula o texto poético. Assim, a questão «Quando morre, morre?», de “Especulações em torno da palavra homem”, embora não encontre resposta peremptória no nível da experiência, admite resposta negativa no âmbito de nossa proposição. O que viveu meia hora não morreu quando morreu: apesar de expirado no mundo real, ele se manifesta e permanece no corpo do poema, tal como ocorre com o filho não feito. Da mesma forma, perguntas «Como morre o homem, / como começa?» e «Como vive o homem, / se é certo que vive?» assumem insuspeitos significados diante dessa extraordinária forma de ser que aventamos. A existência incorpórea que cremos configurar-se na poesia de Drummond prescinde, pois, da concretitude, que normalmente aparece como requisito basilar das coisas e dos entes que de fato são na realidade material. As questões suscitadas até agora põem em dúvida (ou mesmo refutam) a indispensabilidade de tal atributo para ser, mas talvez o façam de forma indireta, quase oblíqua. Um outro poema, significativamente intitulado “A suposta existência”, retoma a estratégia de desferir perguntas nessa aparentemente inesgotável «tentativa de exploração e de interpretação do estar-no-mundo»6 e já na quadra de abertura lança 6 “Tentativa de exploração e de interpretação do estar-no-mundo” é o título que Drummond atribui a uma seção da Antologia Poética elaborada pelo próprio, editada originalmente em 1962. Nessa seção, o poeta reúne 28 poemas que, segundo ele, manifestam «uma visão, ou tentativa de, da existência». ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 117 a interrogação: «Existem as coisas/ sem ser vistas?». A quinta estrofe, por sua vez, volta-se especificamente para a “concretitude das coisas”, em torno da qual se levanta questionamento que, malgrado o cunho de interrogação, chama a atenção pelo tom assertivo: A suposta existência (fragmento) ... Concretitude das coisas: falácia de olho enganador, ouvido falso, mão que brinca de pegar o não e pegando-o concede-lhe a ilusão de forma e, ilusão maior, a de sentido? (Drummond, 2002a: 21-3). [. . .] A passagem parece travestir de dúvida o que, no fundo, soa como afirmativa. De toda forma, a aproximação entre a “concretitude das coisas” e termos como «falácia/ de olho enganador, ouvido falso» e «mão que brinca de pegar o não» denota o descrédito (ou a suspeita) que se abate sobre a concretitude, cujo poder de lastrear e confirmar a realidade das coisas se revela invalidado: a forma que ela manifesta seria ilusória, bem como o sentido que ela cunharia no mundo real. Dissolvida a concretitude como elemento essencial para a realidade e o sentido das coisas e dos seres, parece sobrevir, ainda mais pujante, a noção de “outra forma de existir” a campear no universo poético de Drummond. E nessa “outra forma de existir” «como começa o homem?», «Como vive, [. . .] / se é certo que vive?». Decerto de maneira diversa da que se verifica na realidade objetiva. Na concepção do poeta, nascer, no mundo real, representa o contato com o “concreto”, definido como «a dor de formas repartidas». É com essa ideia que ele abre o poema “Nascer de novo”: 118 LUCIANO ROSA Nascer de novo (fragmento) Nascer: findou o sono das entranhas. Surge o concreto, a dor de formas repartidas. Tão doce era viver sem alma, no regaço do cofre maternal, sombrio e cálido. Agora, na revelação frontal do dia, a consciência do limite, o nervo exposto dos problemas. Sondamos, inquirimos sem resposta: nada se ajusta, deste lado, à placidez do outro? É tudo guerra, dúvida no exílio? O incerto e suas lajes criptográficas? Viver é torturar-se, consumir-se à míngua de qualquer razão de vida? (Drummond, 2002a: 51) [. . .] O poema configura dois espaços distintos: o primeiro é o «regaço do cofre maternal, sombrio e cálido», no qual «o sono das entranhas» é doce e tranquilo. O outro é o mundo real, lugar da angustiante «consciência do limite» e do desconfortável «nervo exposto dos problemas». Nascer significa, portanto, entrar num tormentoso mundo de “exílio”, varado por guerras e dúvidas, no qual «nada se ajusta à placidez» do «cofre maternal». As interrogações da segunda estrofe, em vez de relativizarem as afirmações da primeira, parecem corroborar a impressão pouco condescendente do poeta sobre o mundo concreto. A noção de que a vida real (que o poeta aproxima de “torturarse, consumir-se”) transcorre «à míngua de qualquer razão» coloca no- ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 119 vamente em cena a falta de sentido referida em “A suposta existência” e reafirmada em “Por quê?”, poemeto publicado em Corpo, no qual o poeta questiona: «Por que falta sentido/ ao sentido de viver, amar, morrer?» (Drummond, 2007: 53). Essa razão minguada –ou essa ilusão de sentido– de um mundo de aflições se estende à própria vida, como se vê no desfecho de “Elegia a um tucano morto”: Elegia a um tucano morto 7 (fragmento) [. . .] Eu te registro, simplesmente, no caderno de frustrações deste mundo pois para isto vieste: para a inutilidade de nascer. (Drummond, 2002b: 69). A desrazão desse mundo de frustrações está também na «inutilidade de nascer», que, como se viu, significa travar contato com o «concreto, a dor de formas repartidas». Em análise sobre Farewell, Marlene de Castro Correia (2002: 172) assinala que «a conclusão de ‘Elegia a um tucano morto’ aponta para uma concepção trágica da vida, homóloga à exposta pelo sábio Sileno (e referendada por Nietzsche), quando considera que o bem supremo seria não haver nascido». Nesse sentido, o despropósito da abertura de “O que viveu meia hora” –«Nascer para não viver»– se legitimaria ainda que o verso fosse enunciado sem a negação: nascer para viver veicularia o intuito irremediavelmente vão e a essência injustificável da vida corpórea no mundo concreto. “Não há falta na ausência” Estabelecendo com o mundo concreto uma relação de aproximação e afastamento, a “outra forma de existir” que campeia no uni7 A matéria do poema é a morte do tucano Picasso, ave de estimação do neto do poeta. O tucano teria falecido depois de bicado por uma galinha. Consta que foi esse o último poema escrito por Drummond. 120 LUCIANO ROSA verso poético de Drummond se conforma numa espécie singular de corporeidade, que, esquivando-se da concretitude absoluta da realidade objetiva, logra uma representação poética que lhe confere presença e permanência. As figuras centrais de “Ser” e “O que viveu meia hora” se manifestam sob esse estado híbrido de presença-ausência, como se erigidos numa zona fronteiriça entre ser e não ser, ou, por outra, entre imanência e transcendência. Faltos de carnadura e, por isso mesmo, ausentes do mundo concreto, o filho não feito e o que viveu meia hora povoam um território simbólico –o universo poético drummondiano– que efetivamente existe e, por intermédio dele, manifestam-se no mundo concreto. Isso nos leva a pensar essa “outra forma de existir” como a corporificação da ausência de seres que se presentificam a partir da própria falta. Um poema de Drummond trata da questão: Ausência Por muito tempo achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante, a falta. 3 Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. 6 E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, 9 ninguém a rouba mais de mim. (Drummond, 2007: 31) O poema estabelece com propriedade a distinção entre ausência e falta, conquanto os dicionários registrem os dois vocábulos como sinônimos. Tendo-os confundido «por muito tempo» –e dizendo-se «ignorante» por isso–, o poeta passa a diferençá-los, e lança a afirmativa categórica que parece chancelar nossa propositura: “Não há falta na ausência”. Aqui, a falta aparece como lacuna, espécie de hiato não preenchido, repleto de inanidade. A ausência, ao revés, surge como ca- ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 121 tegoria substantiva (vale dizer, tendente à concretude; preenchida; nãolacunar) impermeável à vacuidade da falta. Distanciada do significado que se lhe atribui no mundo concreto, a ausência, aqui, não configura privação de presença, mas, ao contrário, afirmação de presença. A próxima linha, ao vincular o sujeito “A ausência” ao predicativo “um estar”, imprime-lhe a feição de algo que comparece, que marca presença no ânimo do poeta. O verso 6 –«E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços»–, por seu turno, reafirma de forma mais veemente o seu caráter substantivo. Referida com alto grau de concretude, dotada de cor e forma, a ausência é sentida de modo densamente tátil, e nesse enlace com o sujeito-poeta, «tão pegada, aconchegada em [seus] braços», adquire especial relevo, por conta de sua configuração quase corpórea. Dessa conjunção “corporal” entre o poeta e a ausência resulta a euforia revelada no sétimo verso. Riso, dança e exclamações alegres (manifestações que, embora impalpáveis, são perceptíveis no mundo sensível) são provocados pela presença dessa ausência que, simbolicamente materializada, aninha-se em seus braços. No penúltimo verso, convém nos determos no sentido particular da expressão “ausência assimilada”. “Assimilada” é adjetivo de base participial, derivado de “assimilar”, que pode significar, conforme registra o Dicionário Houaiss Eletrônico, ‘converter(-se) em substância própria’; ’absorver, incorporar’; ’ser absorvido e incorporado’. Num primeiro plano, «assimilada» aludiria à incorporação, isto é, à absorção da ausência pelo poeta: ela (a ausência), incutindo-se em seu espírito, converte-se em substância dele (poeta). No entanto, todo o poema opera no sentido de converter a ausência em “substância própria”, ou seja, transmudar um conceito a princípio abstrato num ente que passa a se manifestar a partir da substância (vale dizer, corporeidade) que o texto poético lhe confere. Assim, ao mesmo tempo em que dá conta da ausência infundida no poeta, o adjetivo “assimilada” faria referência a outra forma de incorporação (especificamente referendada no poema), qual seja, o ato de dar forma corpórea à ausência. Nesse sentido, a ausência seria assimilada não só pelo poeta, mas, uma vez corporificada, também pelo mundo sensível. 122 LUCIANO ROSA Desse modo, na primeira hipótese de leitura a ausência reassumiria seu estado “natural” (incorpóreo) de abstração, pois sua assimilação se daria no espírito do poeta. Afinal, sendo ele o sujeito do ato de assimilar, não seria lícito supormos que tal assimilação se efetivasse no plano concreto, corporal. A segunda leitura que propomos, ao contrário, reafirma a corporalidade que o poema confere à ausência. Nessa segunda leitura, a “ausência assimilada”, isto é, incorporada, vale dizer, corporificada, se tornaria apta a integrar (ou seja, incorporar-se a) o universo das materialidades. No último verso, concluindo o enunciado que convoca a expressão “ausência assimilada”, o poeta afirma: «ninguém a rouba mais de mim». O emprego de “roubar” também é significativo. Usualmente, “roubar” exige como objeto direto (isto é, como coisa roubada) algo dotado de concretude. É com esse sentido que o Dicionário Aurélio Eletrônico registra a primeira acepção de ‘roubar’: ‘subtrair (coisa alheia móvel) para si ou para outrem’. Na conclusão do poema, o termo «ausência assimilada», expresso no verso anterior, é retomado pelo oblíquo “a”, que figura justo como objeto direto de “roubar”. Assim, em «ninguém a rouba mais de mim», o poeta assevera que ninguém rouba dele a ausência assimilada. Dessa forma, poderíamos inferir que o emprego de “roubar”, com o termo “ausência assimilada” figurando, semanticamente, como objeto direto (como “coisa a ser roubada”), acentuaria a concretude com que o poema dá corpo à ausência. Contudo, quando se refere ao ato de roubar, o poeta o faz para afirmar, categoricamente, que “ninguém roubará dele a ausência”. Mas o que lhe garante, com tamanha certeza, que ninguém poderá privá-lo da ausência? Talvez a própria incorporeidade, ou seja, a incapacidade de manifestar-se como coisa (material) a ser roubada. Essa mesma incorporeidade torna possível que ela, a ausência, seja assimilada por seu espírito. Estamos, pois, novamente diante da estratégia discursiva fundada no embate entre confirmação e refutação da corporeidade, a mesma apontada no poema “Ser”. No texto que a elege como título, a ausência manifesta, como o filho não feito e o que viveu meia hora, uma corporalidade potencialmente viável, a partir das formulações e relações que em torno dela estabelece o texto poético. No poema “Ausência”, portanto, ANATOMIA DA AUSÊNCIA: CORPOREIDADES, FINITUDE E PERMANÊNCIA NA POESIA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 123 parece conformar-se e confirmar-se o que chamamos estado híbrido de presença-ausência, aqui configurado com maior sofisticação, uma vez que articulado no bojo da própria noção de ausência. O estado particular –corpóreo e incorpóreo– da ausência vem, tal qual o do filho não feito e o do que viveu meia hora, na esteira dessa «outra forma de existir» que buscamos rastrear no universo poético de Drummond, «onde nada, tudo aspira a criar-se», onde o tudo-nada aspira à permanência. Considerações finais O corpo e a existência corpórea do indivíduo, em sua conformação, contradições e usos habituais, são temas largamente explorados na alentada obra de Carlos Drummond de Andrade, em textos fundados em sensualidade latente, em patente erotismo, em humor ora complacente, ora cruel, em lúcida crítica social, em densa reflexão. Da mesma forma, a finitude do corpo físico –a morte e os seus mistérios– é assunto que comparece com frequência aos poemas. Buscando outras vias de acesso ao universo poético drummondiano –território tão extenso quanto fascinante, dispomo-nos neste estudo a investigar outras formas de agenciamento das categorias corpo e finitude, bem com suas relações com outras que lhes são próximas –corporeidades, memória, ausência, presentificações, permanência. Assim, a análise dos textos trazidos a este trabalho redunda na tentativa de aventar possibilidades outras de existência para além da concretude das coisas e dos seres, existências essas viabilizadas e legitimadas pela (e na) própria poesia de Drummond. Circunscrito ao universo do autor, nosso esforço se deu no sentido de esboçar o que chamamos anatomia da ausência, conceito que aponta para o exame da constituição interna das “outras formas de existir”, que, embora incorpóreas, se presentificam e adquirem permanência no corpo do próprio texto poético. Neste exercício valemo-nos de formulações e conceitos quiçá um tanto originais, mas que acreditamos legitimarem-se a partir da leitura dos poemas e das conexões estabelecidas entre eles. 124 LUCIANO ROSA As especulações e proposituras aqui intentadas decerto poderiam ir além: muitos foram os poemas que, aptos a integrar o corpus deste trabalho, ao qual trariam indubitável contribuição, não tomaram parte nestas páginas. Optamos por limitar o número de textos por crermos que o aprofundamento demasiado fugiria ao propósito e à extensão razoável deste estudo. Ainda assim, acreditamos ter sinalizado um nicho instigante e pouco explorado no “vasto mundo” da poesia de Drummond. Por fim, cumpre salientar que nossa investigação prescindiu deliberadamente do aparato teórico de outras áreas do conhecimento, como psicanálise, filosofia ou semiologia, comumente evocado no exame da obra literária. Tomamos o texto poético como unidade autônoma de significação plena, cujo sentido se amplia na inter-relação com escritos de mesma natureza. O objetivo, pois, foi penetrar os meandros dos poemas, de modo a inferir significados, estabelecer relações e revelar aspectos relevantes da poesia drummondiana, num exercício de imaginação, de exploração de significados e de interpretação e reflexão críticas. REFERÊNCIAS: ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Record, 1996. ---. A Paixão Medida. Rio de Janeiro: Record, 2002. ---. Boitempo: Menino Antigo. Rio de Janeiro: Record, 2006. ---. Claro Enigma. Rio de Janeiro: Record, 2002. ---. Corpo. Rio de Janeiro: Record, 2007. ---. Farewell. Rio de Janeiro: Record, 2002. CANÇADO, José Maria. Os Sapatos de Orfeu: Biografia de Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: Globo, 2006. CORREIA, Marlene de Castro. Drummond: A Magia Lúcida. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. Dicionário Aurélio Eletrônico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. Dicionário Houaiss Eletrônico. São Paulo: Objetiva, 2009. VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 125-142 Educar pelo Espinho RICARDO POSTAL Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos Faculdade de Novas Filologias da Universidade de Varsóvia Este artigo analisa a coletânea da correspondência, ativa e passiva, de Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, pensando em como essa troca de leituras foi produtiva para a poesia e para a noção de artista que os dois elaboraram juntos. Os sofrimentos dos dois poetas foram uma fonte constante de aprendizado mútuo pela proposição de um sacrifício para a realização da arte no Brasil. Palavras-chave: Poesia Moderna Brasileira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. This article analyzes the collection of the correspondence, active and passive, of Mário de Andrade and Carlos Drummond de Andrade, thinking about how this exchange of readings was productive for the poetry and for the notion of artist who the two had elaborated together. The sufferings of the two poets were a constant source of mutual learning by the proposition of a sacrifice for the achievement of art in Brazil. Key-words: Brazilian Modern Poetry, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. 126 RICARDO POSTAL Ame viva chore em versos. Na prosa, na prosa crítica: ensine. Não me venha com modéstias: não tenho nenhum talento crítico. Besteira. Suas cartas, seus artigos sempre me provaram o contrário. Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade (Santiago, 2002: 114 [1925]) O ímpeto da curiosidade. Assim se pode resumir a emoção nervosa de rasgar um envelope para saber o que nos escreve aquele que longe permanece, o amigo que conosco compartilha vivências e memórias a circundarem o lacre quebrado. Se, porém, além de amigo, ele é feito da mesma substância nossa, qual seja, de uma sensibilidade que transforma da vida os dias em verso, sempre se quer pôr as mãos no ouvido em concha para tudo saber sobre o que pensou ele de nossas borradas linhas. E de pronto se quer, depois da delícia da leitura, meter-se a responder, a criar a constância do ato de dizer-se para quem realmente importa, para quem sabe nos compreender em traço trêmulo. Disso tudo é feito o envolvente campo da correspondência postal que por muito tempo uniu as pessoas, mantendo-as numa constante intimidade, fraterna e profunda. Sendo a correspondência de dois artistas, nela podemos antever as opiniões que os mesmos têm de suas obras, observando a gênese e transformação de sua criação, sua metodologia de trabalho, suas “fomes”, misérias e delícias. Observada assim, em seu processo de composição, inserida na história, ou melhor dito, na mitologia pessoal do artista, sua obra perde os tênues e imprecisos limites em relação à vida quotidiana. Permite perceber, assim, a relevância de elementos que, ao ocorrerem concomitantemente, puderam trazer à luz certas compreensões estéticas. Adentraremos então um tomo em que está reunida a correspondência ativa e passiva de dois grandes poetas, anelados por uma amizade que atravessa mais de vinte anos, com idas e vindas, altos e baixos, constâncias e esquecimentos. A proposta aqui é a de, mais que tudo, entender os caminhos desta amizade vertida em letra e como ela demonstra alterações na criação EDUCAR PELO ESPINHO 127 artística de ambos, a partir dos diálogos e discussões tidas sobre composição, estética e vida. Deixando que os dois poetas falem, de e por si mesmos, pretendemos olhar por sobre os ombros de ambos, no momento em que reconhecem o sinete mútuo, em que silenciam e sorriem dentro de seus gabinetes sabendo-se não mais tão sós no mundo. A intenção é a de pensar nas transformações que os sentimentos carregados de vida e história imprimem no fazer-se poeta modernista brasileiro, estando as considerações sobre a constituição dos artistas e obras entremeadas a esta fala que impunemente podemos agora escutar. Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade são dois lustros imensos no “vasto campo do céu” da poesia brasileira, com papéis distintos, cabendo a um o de desbravar e ao outro de consolidar a força da poesia modernista, sendo que a relação entre os dois é tomada como “pedagógica” de maneira manifesta quando da reunião da correspondência recebida por Drummond de Mário, a qual ele chama de A lição do amigo (Andrade, 1988). O tomo que aqui será lido é uma reedição deste, complementada pela correspondência enviada por Drummond a Mário, tornando-se o registro definitivo das cartas de ambos (Santiago, 2002)1. Essa obra compreende todas as cartas, bilhetes, telegramas e cartões-postais enviados por ambos, devidamente anotados e comentados, cobrindo o período que vai do primeiro contato escrito entre eles, em 1924, com a iniciativa de Drummond para que o outro entre em naa vida, até 1945, com a morte de Mário. O conjunto é um tanto irregular, visto que Drummond escreve com menos freqüência, porém sempre respondendo a pedidos e mantendo-se presente quando de momentos dolorosos do cotidiano do amigo. Mário é insistente, questionando o outro sobre notícias de seus problemas, sua família, suas crises, porém com o interesse focado, principalmente, sobre a poesia, que ele deseja ser o primeiro a ler, procurando salvá-la dos momentos em que Drummond fraqueja e pensa em 1 Todas as citações serão feitas a partir desta edição (referida por Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade) com a paginação e ano da carta. 128 RICARDO POSTAL desistir desta expressão, em nome do trabalho ou das dificuldades corriqueiras: Você me falou que eu não me espantasse se um dia você rasgasse o seu caderno de versos. Isso você não tem o direito de fazer e seria covardia. Você pode ficar pratiquíssimo na vida se quiser porém não tem o direito de rasgar o que já não é mais só seu, que você mostrou pros amigos e eles gostaram. Antes de mais nada eu estava mesmo com um pedido a fazer pra você e agora você tem tempo e pode cumpri-lo. Eu quero uma cópia de todos os seus versos pra mim. Quero e exijo, é claro. Você vai principiar a copiá-los e vai me mandar isso o mais depressa possível. Pode ter certeza que serei da máxima correção, não publicarei nada sem licença de você, mostrarei só pros que puderem compreender você e na verdade serão só meus. (ibidem: 215 [1926]) Esse sistema de troca de materiais, auxílio e discussão acalorada de idéias já se processava entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira2, a quem ele credita como seu mestre. Ressalta-se que entre Drummond e Mário de Andrade, as lições não são somente proferidas pelo mestre, mas também pelo dileto pupilo, pois as ações e intervenções de ambos no mundo diferem, sendo essa diferença o motor da profunda amizade que se cria. No trato da franqueza, no transbordar-se constante para outrem, ensinam-se mutuamente sobre o fato de se fazerem amigos, poetas e mais que tudo seres humanos. Humilde, porém muito corajoso, Drummond dá o primeiro passo, se apresentando, enviando material para avaliação, dizendo querer se compartilhar com o outro. Com a porta devidamente escancarada, Mário responde, professoral, mas sem arrogância, com sinceridade pontual e uma leve agressividade, mantendo o rastilho aceso e ao mesmo tempo 2 Cada um dos vários tomos de correspondência de Mário de Andrade merece um estudo separado, visto serem modulados no tom, tema e linguagem de acordo com as familiaridades em relação ao correspondente. Vários Mários pareciam operar ao mesmo tempo na tarefa de tudo abarcar, obter e divulgar, num projeto que, como veremos aqui, unia poética, prática e vida. EDUCAR PELO ESPINHO 129 passando um recado, que neste momento, trata basicamente do sacrifício artístico pelo Brasil: Nós temos que dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até agora não viveu, nós temos que dar uma alma ao Brasil e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime. E nos dá felicidade. Eu me sacrifiquei inteiramente e quando eu penso em mim nas horas de consciência, eu mal posso respirar, quase gemo na pletora da minha felicidade. Toda minha obra é transitória. Com a inteligência não pequena que Deus me deu e com os meus estudos, tenho a certeza de que eu poderia fazer uma obra mais ou menos duradoura. Mas que me importam a eternidade entre os homens da Terra e a celebridade? Mando-as à merda. Eu não amo o Brasil espiritualmente mais que a França ou a Conchinchina. Mas é no Brasil que me acontece viver e agora só no Brasil eu penso e por ele tudo sacrifiquei. A língua que escrevo, as ilusões que prezo, os modernismos que faço são pro Brasil. E isso nem sei se tem mérito porque me dá felicidade, que é minha razão de ser na vida. Foi preciso coragem, confesso, porque as vaidades são muitas. Mas a gente tem a propriedade de substituir uma vaidade por outra. Foi o que fiz. A minha vaidade é de ser transitório. Estraçalho minha obra. Escrevo língua imbecil, penso ingênuo, só para chamar a atenção dos mais fortes do que eu pra este monstro mole e indeciso ainda que é o Brasil. Os gênios nacionais não são de geração espontânea. Eles nascem porque um amontoado de sacrifícios humanos anteriores lhes preparou a altitude necessária de onde podem descortinar e revelar uma nação. Que me importa que minha obra não fique? É uma vaidade idiota pensar em ficar, principalmente quando não se sente dentro do corpo aquela fatalidade inelutável que move a mão dos gênios. O importante não é ficar, é viver. Eu vivo. (ibidem: 51[1924]) Nota-se que Mário, nos idos de 1924 está completamente empenhado num projeto que, se a princípio parece ser particular, tem muito de coletivo e nacional, visto que se anula para no futuro outros brotarem em seu caminho já aberto. Este se imolar não tem função em si, mas carregando esta coroa de espinhos, expondo-se à ignomínia, Mário está, segundo suas palavras, não tomando as glórias para si, mas servindo 130 RICARDO POSTAL somente de exemplo para os pósteros, que no caso já se configuram nos jovens escritores com quem se corresponde. Ele não se propõe como um gênio nacional, apenas como aquele que se sacrificou para que o gênio surgisse. Talvez a pretensão seja que, mesmo sendo sua obra passageira, sua ação permaneça através das lições que passa nas cartas. A intenção era gradativamente ir trazendo os novos para as fileiras modernistas, como expressa em carta a Tarsila: «tenho amigos que estou paubrasileirando. Conquista importantíssima é o Drummond, lembras-te dele, um daqueles rapazes de Belo Horizonte. Está decidido a paubrasileirar-se e escreve atualmente um livro de versos» (ibidem: 85 -nota 43 [1924]). Depois de algumas cartas, com discussões sobre nacionalismo, universalismo, mostrando Drummond opiniões formadas, mas disposto a mudanças e assumindo sua juventude, ele se alinha aos poetas interessados pelo Brasil, largando um tanto suas influências francesas, com profunda gratidão: Ah! Quando penso que também eu andei a esmo pelos jardins passadistas, colhendo e cheirando flores gramaticais, e bancando atitudes de sabedoria! Pois veio o imprevisto e me expulsou do jardim. Você, com duas ou três cartas valentes acabou o milagre. Converteu-me à terra. Creio agora que , sendo o mesmo, sou outro pela visão menos escura e mais amorosa das coisas que me rodeiam. Respiro com força. Berro um pouco. Disparo. Creio que sou feliz! (ibidem: 95 [1925]) Mas Drummond vive uma realidade muito diversa, disperso entre estudos, incapacidades financeiras, casamento e fazendas. Sempre se sentindo exilado, sozinho na longínqua mingua cultural de Belo Horizonte, sofre o sensível poeta as vicissitudes, as crises e os reveses da vida. O tom vem carregado de melancolia, de tristura agreste de céu e montanhas: EDUCAR PELO ESPINHO 131 Você me comoveu. Sou-lhe grato sobretudo por isso; e em segundo lugar, pelo benefício intelectual que me veio de sua convivência. Minas é uma linda terra no ponto de vista de tradição e história; mas para uma criatura que deseja aprender um pouco, instruir-se, viver em comunhão espiritual com outras criaturas mais ditosas! Numa terra assim, é com emoção que lhe conheci e é sempre com emoção que lhe escrevo. (ibidem: 107 [1925]) Tanto o casamento quanto a ida para Itabira provocam sentimentos contraditórios e profundos no poeta mineiro, recebendo sempre palavras preocupadas e confiantes de Mário, a quem o primeiro agradece pelo conforto recebido em tão confuso momento: Pois é isso. Tua última carta me fez um bem horroroso. Me ensinou tanta coisa útil, importante e séria [...]. Pode acreditar que associei o nome de você à idéia da minha felicidade doméstica [...]. Sim senhor, seu Mário, Deus te pague a boa palavra. Você é para mim aquilo que o diabo da retórica já estragou: o anjo do lar. Sem o passadismo das duas asas brancas, acho que a imagem é boa e explica bem o papel realmente paternal que você desempenha na minha intimidade. (ibidem: 145 [1925] Grifo nosso). Mário vai, aos poucos apreendendo com o amigo a manutenção de uma força inquebrantável, de um caráter que suporta os duros golpes com um sofrimento que não se resigna, mas produz a partir dele versos de lirismo sincero, sem poses ou afetações artísticas, a poesia verdadeira da rua, que ele, tão encastelado na casa da Lopes Chaves, 108, não conseguia abarcar de todo. O retorno de Drummond para Belo Horizonte parece restabelecer a calma, visto que ali a esposa, que estivera adoentada, poderia receber melhores cuidados. O emprego num jornal e o contato com uma vida cultural mínima davam novo ânimo ao poeta, quando o destino lhe prega a peça mais fatal: 132 RICARDO POSTAL Meu filhinho viveu apenas meia hora. [...] Fiquei tão alegre vendo-o nascer e sabendo que era homem que nem reparei no que se estava passando [...] Levaram o menino para outro quarto e ali o médico começou a fazer massagens no corpinho dele [...]; mas já era tarde. Dolores graças a Deus vai bem chorando a miúdo, como é natural, mas sem ter experimentado nenhuma complicação no seu estado. Escreva para este seu pobre Carlos. (ibidem: 282 [1927] Grifo nosso). Diante da fatalidade, o poeta paulista opta por aconselhar expondo seus próprios princípios referentes à distinção entre dor e infelicidade: Em todo caso cuide logo de se defender, já não digo da dor porém da infelicidade. Isso de sofrer pode ser parecido porém está longe de ser infelicidade. Isso da gente reconhecer com franqueza e confiança a realidade e os direitos da realidade, o manuseamento cotidiano da realidade que obriga a gente a se conformar com ela e tratar de consertá-la como melhor pode dá pra gente essa felicidade interior que não tem dor que acabe, essa mesma felicidade talvez um pouco descarada de tão impetuosa, que você já deve ter percebido nas minhas cartas e que eu tenho. (ibidem: 284 [1927]) A felicidade parece ser, para Mário, um estado em que se conseguiu reduzir o sofrimento e as dores que são constantes na vida. Quando se ultrapassa um ápice de sofrimento, volta-se a ser infeliz, que é uma condição parecida com a felicidade no meio do contínuo sacrifício de se viver. A resignação parece ser característica comum entre os amigos, e os percalços do caminho são deixados para trás: Eu queria ainda escrever uma linha sobre a sua grande, extraordinária carta a propósito da morte de meu filinho...Não posso. Você receou que as suas palavras me assustassem. Não. Eu as compreendi bem, mas não tive forças pra praticá-las. Você é quem tinha razão. Voltei a ser o que EDUCAR PELO ESPINHO 133 era antes da morte dele. É possível que um pouco melhor. Mas: infelizmente tão pouco. (ibidem: 296 [1927]) Algumas outras vezes Drummond assumirá que não tem forças, para as dificuldades, críticas, para tamanho trabalho, para a poesia, e para a própria escrita das cartas ao amigo: Eu podia inventar uma doença, excesso de trabalho, aborrecimentos, para justificar meu atraso epistolar. Mas tudo isso é indigno do respeito que me merece a nossa camaradagem, e eu não compraria o seu perdão por uma mentira dessas. Insisto nestas coisas não porque considere o meu silêncio uma falta para com nossa amizade (esta independe da regularidade da correspondência) mas sim como um sintoma triste, de quê, meu Deus? de qualquer coisa bem triste também, que venho adivinhando e observando em mim, e que só a você eu digo; porque só você me compreenderá logo e bem, embora proteste a minha derrota como homem. Eu sou aquele que não escreve cartas e nem caminha firme na vida porque (é difícil dizer por quê) mas que certamente nunca caminhará firme na vida, nunca. Passe-me um sabão fortíssimo; eu preciso disso, embora saiba que no fundo é inútil. (ibidem: 325 [1928]) Nesta mesma carta Drummond anuncia sua grande felicidade: o nascimento da filha, que vem a ser um alento em sua fraqueza e incerteza perante a vida e as escolhas que fazia. O mesmo ano traz a lume Macunaíma, o filho dileto e definitivo, que será um marco no caminho estético de Mário, como ele explica: Pois esse tal de brasileirismo está me fatigando um bocado, de tão repetido e tão aparente. [...] É tão fácil a gente ser brasileiro sem gritar isso! Também publico o Macunaíma que já está feito e não quero mais saber de brasileirismo de estandarte. Isso tudo conto só pra você porque afinal de contas reconheço a utilidade do estandarte. Meu espírito é que é por demais livre pra acreditar no estandarte. E por aí você já 134 RICARDO POSTAL vai percebendo quanto me sacrifico em mim pela parte da ação que me dou, que me interessa mais, tem maior função humana e vale mais que eu. Mas agora a ação já está feita e o que carece é a contra-ação porque o pessoal engoliu a pírula e foi na onda com cegueira de carneirada. Confesso que quando me pus trabalhando pró-brasilidade complexa e integral (coisa que não se resume como tantos imaginaram no trabalho da linguagem) confesso que nunca supus a vitória tão fácil e o ritmo tão pegável. Pegou. Eu estava disposto a dedicar minha vida pro trabalho. Bastaram uns poucos de anos. Tanto melhor: vamos pra frente! (ibidem: 321 [1928]) Sua índole o impele a ser vanguarda, a continuar uma provocação que seja anterior às escolas e às escolhas fáceis. O sacrifício continua implícito para a realização de grandes coisas, e a brasilidade parecia já uma afetação da qual não participava, e que não compartilhava com Drummond, este que em sua constância e firmeza (mesmo que numa letargia austera) faz as vezes de professor com freqüência. Nos diz Mário: Já sei mesmo como você é folha ao atá, levada pelos ventos. O engraçado é que se trata duma folha pensante, reagente como sensibilidade, que espiritualmente caminha contra os ventos mas que até já está achando um certo sabor nessa malinconia de se deixar levar. Porque apesar de todas as reações e projetos e desejos, você continua folha. Você jamais esquecerá que no meio do caminho tinha um pedra. De primeiro você me comovia, o jeito de você me esfolava o jeito meu, somos fundamentalmente diferentes na maneira de ser. Isto é, de ser, não, porque a base de nós dois é a mesma timidez, mistura dos efeitos da época com o nosso no-meio-do-caminho-tinha-uma-pedra provinciano. O que temos de diferente foi o meio de praticar a nossa timidez diante da vida. Você como que se esquivou à jogatina. Eu joguei tudo numa cartada só. Estou desconfiando que perdi, não sei. [...] Você, com que melancolia invejosa falo isso!...você só tem a ganhar em não ter jogado. No princípio eu quis mudar você, fazer você que nem eu. Porque, já falei, você me esfolava e eu queria ser amigo de você. Mas você foi discreto, me engambelou, me engambelou, continuou na mesma, deu EDUCAR PELO ESPINHO 135 temo ao tempo. Foi bom porque hoje você não me esfola mais, não me contunde, eu já não quero mais mudar você. (ibidem: 350 [1929]) A que Drummond responde firme, pondo o mestre em seu lugar: Como se até não fosse mais triste fazer o jogo cético que eu fiz, em que nunca tive esperanças e certezas para me abastecer, e sabia previamente que perderia. Eu também quero ter a honra de declarar que perdi o jogo. Assim, ao passo que você vê na plenitude de sua saúde moral, no dinamismo intenso da sua vida de trabalho, você não pode dizer o mesmo, entregar as cartas e retirar-se...Continuo tendo uma serena confiança em você e no que você fará ainda, e continuo a achar você o homem essencial no nosso momento intelectual. À proporção que cresce meu nojo por esses filhos-da-puta que descobriram um rótulo novo para mascarar uma coisa tão antiga como o mundo, que é a falta de caráter, dando-lhe apenas uma nova aplicação: a literária – cresce também essa confiança lúcida em você, no ser moral e mental que você é. Estou farto de modernismo, de nacionalismo, de antropofagismo, de crioulismo, de burrismo, de tudo que enodoa a nossa época e dá aos espectadores insuspeitos uma triste impressão ou de canalhice ou de burrice, quando não das duas coisas ao mesmo tempo. Estou farto de literatura...Preciso repousar num coração amigo [...] para fazer abstração de tudo isso, esquecer tudo, ser um homem livre e incontaminado. (ibidem: 351/52 [1929]) O tom certamente não é o mesmo que o de 1924-25, o convívio faz com que Drummond se permita certas ousadias, “ralhando” com sua “figura paternal”, a quem já dissera anteriormente que: não tem razão de queixa contra o trabalho em jornal, que você está aproveitando pra dizer coisas úteis ao povo, de maneira menos irritante possível. O que inutiliza os melhores esforços do modernismo é um certo ar irritante que a gente cultiva, não é? [...] Felizmente que em 136 RICARDO POSTAL conjunto o pessoal vai perdendo esse ar alarmante, e você, animador de nós todos, tem nos dado excelentes lições de tato e tolerância. (ibidem: 306 [1928]) Para quem se dizia sem capacidade para crítica, vemos dois exemplos de desgosto, questões precisas e auto-crítica, ao se reconhecer como parte de um grupo em transformação sob influência de Mário. E assim seguem, um incentivando o outro, Drummond sempre com grande admiração, e Mário com a certeza da grandiosidade da poesia do outro. Trabalhador incansável o segundo, manda sempre notícias de todos os projetos, cobrando do amigo mais produção, mais publicações, a poesia que ele sabe escondida no cotidiano das repartições. Dividem ambos essa amargura tímida, esse refreamento de que um, antigo poeta futurista, deságua no periodismo cultural, na crítica, no folclore, e o outro, o antigo estudante, agora burocrata, guarda para a lírica profunda e melancólica. A relação escrita entre estes dois poetas, que a princípio, quando da iniciativa de Drummond, era de aprendizado para ele, passou a ser ao longo dos anos uma franca troca de experiências de vida e de estética (sendo que ambos remetiam, liam e anotavam os livros que lançavam). No centro desta troca está a lição do sacrifício que fazia Mário para implementar a cultura e as idéias nacionais, mesmo que com pouco respaldo3, sendo criticado, achincalhado, sofrendo campanhas detratórias. Seus esforços não lhe rendiam louros, apenas incomodações, mas ele, ciente de que seu papel era este, como manifesta ao amigo mineiro, espera que no futuro grandes coisas se realizem. Aprende também com Drummond, a “mineiridade” esperta da espera, o lento provincianismo que não se afoba, aceita a inevitabilidade de certos aspetos, e transforma isso, sem fúria, e com agudez na grande poesia. Claro que esta troca, sendo tão franca, não escapou de farpas, 3 Muito bem anotados, no tomo referido, são os constantes problemas financeiros e de saúde de Mário de Andrade, que compõem anexos com várias citações que iluminam as situações complicadas por que passava o poeta. EDUCAR PELO ESPINHO 137 visto que ambos forjaram personalidades fortes, e ao exporem-se completamente frente ao amigo, tocaram em suscetibilidades sérias. O elemento político foi algo que poderia tê-los separado definitivamente, principalmente quando do movimento constitucionalista de São Paulo, porém Drummond, com elegância e mestria, quebra o gelo e incita o outro, derrotado pelas circunstâncias históricas, a retomarem os caminhos escritos: De sua atividade durante esse tempo tive apenas uma vaga notícia – o seu nome numa comissão do conservatório – mas imagino que tenha sido intensa e fervorosa, como é toda a atividade de um ser eminentemente humano, como você. Estou certo que você viveu todo o drama, e mais dramaticamente ainda que os outros, pois sua inteligência implacável há de ter espiado os acontecimentos, os entusiasmos, as paixões, ao passo que no grande número de pessoas apenas o instinto comandava. Eu também, do meu lado, fiz o que pude. Mas apenas produzi palavras. Gostaria muito que você compreendesse o ardor que Minas pôs na luta, [...]. Mas essas coisas, só muito conversadas e pensadas, e agora não há tempo senão para mandar-lhe um fraterno e saudosíssimo abraço. (ibidem: 422-23 [1932]) A amizade continua serena, sendo Drummond quem convida Mário, a pedido de Capanema, em 1935, para que venha trabalhar no Rio de Janeiro, o que só acontecerá em 1938. O poeta paulista tenta, assim, fugir da “terra da garoa” que lhe maltrata a saúde (ao mesmo tempo em que tem frustrados seus sonhos de morar no nordeste), e obter um cargo que lhe garanta proventos mais efetivos. No período de 1939 a 1941, a correspondência cessa e o próprio Drummond nos explica na introdução das cartas que mesmo estando na mesma cidade, pouco se freqüentavam, tendo a amizade escrita recomeçado quando da volta de Mário a São Paulo. As cartas de então tem um tom diverso, com muita burocracia e bem menos sentimento daquele vertido no início da amizade. Favores, trabalhos, e troca de escritos para serem lidos e criticados, tudo isso con- 138 RICARDO POSTAL tinua acontecendo, mas nota-se uma certa frieza, como se a amargura do tempo tivesse tolhido o brilho dos envelopes abertos. Talvez a silenciosa rusga que entre os dois houve, que Drummond diz desconhecer tenha mudado os ânimos. Talvez tivesse que ser assim mesmo, já que a suscetibilidade de Mário devia ser difícil de contornar: Um livro de Mário de Andrade nunca poderá ser criticado sem se levarem em conta as reações que é suscetível de provocar. A responsabilidade do autor é já hoje de tal ordem que nada se lhe deve perdoar. Daí as raras restrições que ousei fazer. [...] Mas assim como um grande líder político tem que exibir uma moral sem máculas, um escritor ouvido com amor e admiração pelos mais novos, precisa dar sempre além de suas forças humanas, ultrapassar-se sem cessar. (ibidem: 476, Sérgio Milliet, nota 6) Em todo caso, em resposta à carta com a qual recebe o volume de Poesias, de Mário, Drummond assim lhe segunda: Mas não posso fugir a uma quase confidência, depois dessa digressão confusa e atrapalhada. É a seguinte: ao lado dos motivos grandes de satisfação poética, a mim oferecidos por seu livro, motivo de pura voluptuosidade do espírito, houve um que me tocou mais de perto, foi o de reencontrar nele o Mário dos anos 1920-30, o das cartas torrenciais, dos conselhos, das advertências sábias e afetuosas, indivíduo que tive a sorte de achar em momento de angustiosa procura e formação intelectual. Ele está inteiro nas poesias. E como permaneceu grande depois desse tempo todo! Sei que você compreenderá a minha emoção encontrando esse velho companheiro. (ibidem: 475 [1942]) No momento em que Mário está pedindo material a Drummond para um grande ensaio sobre este, Bandeira e Murilo Mendes, o poeta mineiro ainda o reverencia, e dá o tom certo do grande papel que ele EDUCAR PELO ESPINHO 139 representa para as gerações que ainda se formarão. Teria o sacrifício valido a pena? Feito o balanço do Modernismo na famosa conferência de 1942, «[o] movimento modernista (‘Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição.’; ‘Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto, a insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões» (ibidem: 470/nota1), parece que o passado está bem acomodado, e que é preciso, como já nos disse, ir à frente. Porém as condições da época, no cerne de uma Segunda Grande Guerra, transformavam a visão dos intelectuais sobre a humanidade e sobre seu próprio papel. Vem à tona então outro aspecto do já referido “sacrifício pela ação” de que já nos falou o poeta paulista. Se no começo da amizade, Mário propunha que Drummond fosse menos artista e vivesse, como se assim garantisse sua participação efetiva no mundo, mesmo no da arte, ao ser, mais do que fazer arte, quase no fim da vida, passado seu cinqüentenário, encaminhada sua Obra Completa, o antigo futurista está completamente convencido que todo artista precisa de sua torre de marfim, e deve ficar nela encerrado, criando o que pode, da única maneira que consegue modificar algo no mundo: Pela primeira vez se impôs a mim o meu, o nosso destino de artistas: a Torre de Marfim. Eu sou um torre-de-marfim e só posso e devo ser legitimamente um torre-de-marfim. [...] Mas o intelectual, o artista, pela natureza, pela sua definição mesma de não conformista, não pode perder a sua profissão, de duplicando na profissão de político. Ele pensa, meu Deus! e a sua verdade é irrecusável para ele. Qualquer concessão interessada pra ele, pra sua posição política, o desmoraliza, e qualquer combinação, qualquer concessão o infama. É da sua torre de marfim que ele deve combater, jogar desde o guspe até o raio de Júpiter incendiando cidades. Mas da sua torre. Ele pode sair da torre e ir botar uma bomba no Vaticano, na Casa Branca, no Catete, em Meca. Mas sua torre não poderá ter nunca pontes nem subterrâneos. (ibidem: 539-542 [1945]) 140 RICARDO POSTAL Drummond não chegou a responder a esta carta, recebeu mais um bilhete, apresentando um rapaz que precisava de um favor no ministério e pedindo se recebera a carta. Dois dias depois desse bilhete Mário falece. Mário está propondo nesse amargurado testamento que é impossível ao artista cometer outra ação que não a artística, em suma, contradiz o conselho ao jovem Drummond para que vivesse. Viver parece agora para Mário, num mundo de desespero e intolerância, permanecer através de uma obra significativa, que represente a lembrança da humanidade, num ponto em que ela se perde no centro da guerra. A imagem que fica do primeiro Mário de Andrade era a de um ouriço, movendo-se na corrente, desafiando, sempre à frente, tocando aos outros com agudez, como a citada por Drummond: Você me deu um alegrão com a leitura da Lira paulistana. Eu estava precisando de ler poesia, e foi bom que essa poesia me viesse de você. Como sempre desconcertante, mesmo na simplicidade, sua poesia é para mim um ponto de partida para novas procuras e novos achados. Quantas vezes li um poema seu e não gostei à primeira leitura! Dom de contrariar e de chocar; na realidade, dom de demolir o convencional ou o fácil e conduzir para um rumo diferente. Ainda agora, sua poesia não me deixou indiferente. [...] Vi com interesse na Lira a volta de uns tantos refrões [...] assinalando a impressionante coerência de sua evolução e ao mesmo tempo a extensão e profundidade desta [...]. O fato é que na melancolia de envelhecer na rua Lopes Chaves sem saber quem foi Lopes Chaves e dize-lo num poema sem ornatos é de uma dignidade consoante e tem para mim a lição que se desprende sempre das coisas que você faz, tão agudas! (ibidem: 507 [1944] Grifo nosso). Os espinhos, os martírios e sacrifícios de Mário sempre foram públicos, em lutas gigantescas e estrondosas. Drummond, por sua vez, cravejado pelas vicissitudes da vida, lembra mais o ouriço-reverso4, com 4 A imagem do ouriço-reverso provêm de Raul Pompéia, n’ O Ateneu: «O meio, filosofemos, é um ouriço invertido: em vez da explosão divergente dos dardos - uma convergência de pontas ao redor. EDUCAR PELO ESPINHO 141 as lanças apontadas para si, para quem cada lento mover-se implicava um sofrimento solitário e silente. Tal matéria só será exposta depois de elaborada em lirismo, ao passo que Mário a verte constante, por precisão, por desmantelo da própria angústia. A educação de ambos se processa, um ensinando ao outro na troca de farpas e ungüentos, estando ambos, ao fim da jornada, transfigurados em outros seres: Mário agora se propõe a imobilidade produtiva da torre, como se o mundo fosse por demais arriscado, desistindo do jogo que dizia ter perdido, sentindo em cada ato uma punção contra si; Carlos Drummond de Andrade se ergue, consolidado, e contrapondo a visão do mestre, transformado em indivíduo autônomo, afia suas cerdas e apronta-se para afrontar o mundo que tanto lhe fez sofrer. Mário sucumbe à própria saúde frágil, levando consigo mundos de literatura e obras etnográficas que pretendia trazer a lume, também sem ver sorrir plena a linda e sofrida Rosa do Povo de seu amigo. Drummond, que já vinha fazendo, há muito, escolhas que aproximassem a poesia de uma modernidade cotidiana -«Pergunto estas porcariinhas porque me interesso deveras pela língua que escrevo, e que desejo escrever o mais facilmente possível (facilidade tanto quanto possível honesta» (ibidem: 147 [1925]), amplia sua atuação, saindo à rua com sua poesia, iluminando a feiúra das cidades e as agruras dos homens com sinceridade. Nesse momento, porém, creio que a educação pelo espinho foi efetivada, ela que mostra que o sofrimento fero machuca fundo, porém cicatriza e fortifica. REFERÊNCIAS: DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. A lição do amigo. Rio de Janeiro: Record, 1988. SANTIAGO, Silviano. (Org.) Carlos & Mário: correspondência de Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade. Rio de Janeiro: Bem-te-vi, 2002. POMPÉIA, Raul. O Ateneu. Porto Alegre: L&PM, 2006. Através dos embaraços pungentes cumpre descobrir o meato de passagem, ou aceitar a luta desigual da epiderme contra as puas» (Pompéia, 2006: 80). VEREDAS 13 (Santiago de Compostela, 2010), pp. 143-156 O animismo e a arte de narrar em O Assobiador, de Ondjaki REGINA DA COSTA DA SILVEIRA Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter/Porto Alegre Com o título O Assobiador, a novela de Ondjaki sugere que agucemos todos os sentidos, para perceção dos recursos estéticos da arte de narrar. O Assobiador, indivíduo novo na aldeia, descobre que na igreja o som de seu assobio se propaga de forma encantadora, pois o cenário luminoso e a amplidão do lugar em tudo para isso colabora. Dissoxi, por sua vez, a dona do sal e do mar, guarda consigo o sal e representa o infinito mistério que há nas mulheres e em todas as coisas da natureza. De mistério em mistério, as palavras se revestem de poesia e o texto se abre para múltiplas indagações. O assobio se torna epifania. Como aparição epífana de algo simples e inesperado, mas essencial e inusitado, é que o som do assobio do forasteiro se propaga pelo templo, leva o padre às lágrimas e comove os demais personagens, exceto o segundo forasteiro da aldeia, KeMunuMunu, um alquimista que não consegue ver no assobio senão um artefato comerciável. Pretende-se, no decorrer deste ensaio, observar a presença de elementos insólitos na novela angolana, mediante os conceitos de animismo, realismo maravilhoso, tal como o concebemos na teoria, de Harry Garuba, e na teoria do animismo, de Sigmund Freud. PALAVRAS-CHAVE: animismo; arte de narrar; realismo mágico. With the title The Whistler, Ondjaki’s novel encourages us to sharpen all our senses in order to actually see the aesthetic resources of the narrative art. The Whistler, a new dweller in the village, finds that inside the church the sound of his whistle propaga- 144 REGINA DA COSTA DA SILVEIRA tes pleasantly, since the luminosity and the width of the place collaborates perfectly for such. Dissoxi, the owner of the salt and the sea, keeps the salt for herself and represents the infinite mystery that lies in women and in all the nature. Along with the mysteries, the words are covered with poetry and the text opens up to multiple questioning. The whistle becomes epiphany. As simple and unexpected, but essential and unusual epiphanous appearance of something, the sound of the foreigner’s whistle spreads through the temple, brings the priest to tears and moves the other characters, except the second foreigner of the village, KeMunuMunu, an alchemist that sees in the whistle nothing but a marketable device. It is the aim of the following essay to observe the presence of uncommon elements in the Angolan novel, through concepts of animism, magical realism, as we conceive it in the theory, by Harry Garuba, and in the animist, theory developed by Sigmund Freud. KEY WORDS: animism; aesthetic resources; magical realism. [...] e tantos mistérios que compõem a solidão na voz densa de homem que assobia... Ondjaki, em O Assobiador Para uma breve retomada de alguns matizes nas artes do século XX, vale lembrar que, na virada daquele século, tomou-se consciência de que uma nova forma de arte tinha nascido. Dentre as várias expressões dessa arte, chama a atenção dos leitores o movimento denominado fauves, que em sua tradução “feras” caracteriza metaforicamente o conjunto dos artistas que participaram dos movimentos de vanguarda. De efêmera existência, como todo movimento de vanguarda, o que se convencionou chamar de fauvismo iniciou com uma exposição na França, caracterizando-se por uma suposta selvageria, dadas as suas cores vivas, seus traços espontâneos e violentos: as tintas, tais como saem das bisnagas, criam traços impulsivos e traduzem as sensações no mesmo estágio de espontaneidade e graça das crianças e dos selvagens. Para Thérèse Delpech (2006: 113), que discorre sobre o assunto em El retorno a la barbarie en el siclo XXI, o fauvismo marca não só o nascimento da arte do século XX , mas vem citado dentre os acontecimentos capitais que ocorreram no mundo em 1905 nas ciências e nas O ANIMISMO E A ARTE DE NARRAR EM O ASSOBIADOR, DE ONDJAKI 145 artes. No capítulo intitulado “Nacimiento de la modernidad”, a autora destaca três acontecimentos decisivos na história das ideias: En Física, la publicación en Suiza de la teoría de la relatividad, junto con otros três escritos de Albert Einstein, provocaria una revolución [...]. En la história de la pintura, 1905 fue el año de la primera exposición de los Fauves (feras) en el Salón de Otoño de París. [...]. Por último, em 1905, se publicó en Viena una obra crucial de Freud,1 cuyo pensamiento influenciaria a tal punto el siglo que no resulta excesivo hablar del siglo del inconsciente. Não é propósito deste ensaio resenhar os acontecimentos que, como esses que irromperam junto às vanguardas, passam a compor a história em paralelo às propostas que revitalizam as artes plásticas e a literatura no decorrer do século XX. Importante tarefa é relacionar essas manifestações artísticas que contribuíram para representar momentos decisivos da vida dos povos, sobretudo os medos da humanidade na iminência das guerras, das arbitrariedades políticas, das catástrofes ecológicas, mas também das épocas de grandes descobertas que beneficiaram a humanidade. Tais representações na arte e na literatura têm permitido a sucessivas gerações participar da cultura e da memória cultural, pondo assim em processo a tradição e dando continuidade, afinal, à história da condição humana. É sobre culturas e memórias que resistem ao tempo mesmo diante da finitude da vida humana que o jovem escritor angolano Ondjaki leva seus leitores a refletir, de modo especial quando afirma que «As CULTURAS encerram em si a possibilidade de resistência ao tempo. As pessoas não, pois são efêmeras. [...] A CULTURA fica, mãos dadas com as gerações vindouras, como um tesouro teimoso» (2008: 1906). Assim, segundo o autor da novela O Assobiador, livro que será objeto de análise e interpretação neste ensaio, o texto transborda dos livros como um momento de «excedente cultural», comparável 1 Trata-se da obra Três ensaios para uma teoria sexual (1905). Antes desse ensaio, Freud já havia tratado da psicologia individual com a publicação sobre as neuroses (1888), sobre a interpretação dos sonhos (1900) e, em 1913, ocorre a publicação da teoria da cultura, em Totem e Tabu, de que destacamos um capítulo que aqui auxiliará como aporte teórico. 146 REGINA DA COSTA DA SILVEIRA também ao que ele considera como «retorno afectivo», ou simples «celebração» (ibidem). Animismo e magia em Totem e Tabu É de 1913 a obra Totem e Tabu, de Sigmund Freud, em que se insere o capítulo “Animismo, Magia e Onipotência das Ideias”. Com base em Herbert Spencer, Frazer, Lang, Taylor e Wundt, Freud expõe, em suas Obras Completas (1958: 453), todas as informações possíveis que recolheu desses autores sobre o animismo e a magia: No sentido estrito da palavra, o animismo é a teoria das representações da alma; no sentido mais amplo, a dos seres espirituais em geral. [...] O termo animismo serviu antigamente para designar determinado sistema filosófico e parece ter recibo a sua significação atual de E. B. Tylor. O que provocou a criação desse termo foi o exame das interessantíssimas concepções dos povos primitivos, pré-históricos ou contemporâneos, sobre a natureza e o mundo. Ao considerar que a maioria dos autores está disposta a admitir que essas representações da alma constituem o núcleo originário do sistema animista, que os espíritos correspondem a almas que se tornaram independentes e, mais, que as almas dos animais, das plantas e dos objetos foram concebidas analogicamente às almas humanas, Freud lança a indagação sobre como os homens primitivos chegaram às conceções fundamentais, propriamente dualistas, em que se ampara o sistema animista. Em suas hipóteses e em busca de possíveis respostas, Freud (ibidem: 455) supõe que isso se deva à observação do fenômeno do sono e do sonho e por extensão à morte, ideia que é até hoje “aceita com dificuldade”, senão “vazia e inapreensível”: O ANIMISMO E A ARTE DE NARRAR EM O ASSOBIADOR, DE ONDJAKI 147 Quando o primitivo reage, ante os fenômenos que lhe excitam a reflexão, com a formação das representações da alma e as transfere sobre os objetos do mundo exterior, considera-se esse seu comportamento como muito natural e não mais enigmático. Considera-se, pois, a relevância das ideias que Freud destaca de Wundt, segundo as quais, «nos povos mais diversos e em todas as épocas coincide a existência das mesmas representações animísticas» e tais representações seriam o produto psicológico necessário da consciência criadora dos mitos. Quanto ao animismo primitivo, este deve ser considerado como a expressão espiritual do estado natural da humanidade, tanto quanto é este acessível à nossa observação (ibidem: 455). O animismo é, para Freud, um sistema filosófico, dentre as três grandes concepções do universo, a saber: a ANIMISTA (mitológica), a RELIGIOSA e a CIENTÍFICA. Dentre essas três concepções, o primeiro concebido, o animismo, é talvez o mais criador e o mais lógico e também o que explica, integralmente, a essência do mundo. Assim, «sem ser ainda uma religião, o animismo implica todas as condições preliminares sobre as quais são construídas todas as religiões» (ibidem). Freud afirma ser essa «primeira concepção humana do universo» uma «teoria psicológica». Não obstante, o autor admite não terem sido ainda devidamente esclarecidos os pormenores da relação entre o mito e o animismo. Sobre o animismo ou «teoria psicológica», diz o autor (ibidem: 456): «[f]oge ao nosso propósito demonstrar o quanto dela [da teoria psicológica] ainda subsiste na vida atual, seja [o animismo] depreciado sob a forma de superstição, seja ainda vivo, como base da nossa linguagem, da nossa crença, da nossa filosofia».» Manifestações do animismo na literatura Como dinamizador do conhecimento, o animismo cedo encontra lugar nos estudos sobre a criação literária, se o concebermos dentre as forças dinamizadoras das grandes concepções do universo –a animis- 148 REGINA DA COSTA DA SILVEIRA ta, a religiosa e a científica- tal como Freud assim o concebe. Nessa direção, caberia ao autor do texto literário representar a natureza pela via da imitação (imitatio, em latim), ou seja, da mimese aristotélica, entendida como ação de reprodução ou representação da natureza que fundamenta toda a arte. Diante do exposto, consolidamos nossa afirmação quanto ao desempenho indispensável da literatura como arte da representação da realidade. Como manifestação da arte, o texto literário pode ser interpretado à luz do conceito aristotélico de verossimilhança, segundo o qual, existe uma lógica entre os elementos constitutivos da narrativa, de tal sorte que, se os acontecimentos narrados não ocorreram, estes poderiam ter acontecido. Reforçam-se, portanto, algumas ideias anteriormente aqui lançadas. Desafiadora continua sendo a arte de narrar para o escritor contemporâneo: como lidar com o conhecimento científico, que se sobressaiu de modo exponencial na era da tecnologização da palavra e, ao mesmo tempo, estabelecer as necessárias mediações entre a conceção científica e as outras grandes conceções do universo: a animista (mito) e a religiosa, que sempre espreitaram a vida do homem. Ser capaz de demonstrar o quanto o animismo ainda subsiste na vida atual seja na forma de superstição, seja ainda vivo, como base da nossa linguagem é, portanto, tarefa que se impõe para as representações artísticas, entre elas a literatura, no presente século. Tratar do elemento insólito na ficção é resolver uma questão conceitual, ainda que seja lugar comum para os iniciados nas literaturas em língua portuguesa e hispano-americana. Falar do realismo mágico, realismo fantástico ou realismo maravilhoso, como é conhecido no Brasil e entre latino-americanos, portanto, não constitui mais novidade alguma. Diante do propósito de se estudar uma teoria que aproximasse países distantes em épocas diferentes e nos dias de hoje-, pelo tratamento do insólito na literatura e pela via do imaginário, interessa-nos compreender os mencionados conceitos, o ‘realismo mágico’ e o ‘realismo maravilhoso’ latino-americanos, em sua correspondência com o chamado ‘realismo animista’ africano, de modo especial, da África de língua portuguesa. Mas a problematização que advém do paralelo entre O ANIMISMO E A ARTE DE NARRAR EM O ASSOBIADOR, DE ONDJAKI 149 essas expressões teóricas cede lugar neste ensaio para a apreciação da arte de narrar e da dinamização do animismo em O Assobiador (2002). É pela obra do escritor angolano Pepetela (2008), destaque na literatura lusófona, que conhecemos a expressão ‘realismo animista’. Estudo recente sobre o termo vem sendo desenvolvido pelo sul-africano Harry Garuba. Para o professor Garuba, a expressão ‘realismo mágico’ não daria conta das representações identitárias dos mitos sul-africanos, é o que diz o ensaísta ao referir-se à terra de Yoruba com a veneração à estátua de Sango, o deus do raio, exemplos que são pontuais quando relacionados ao conceito de ‘materialismo animista’ (Garuba, 2003). De fato, trata-se de uma expressão que se complementa em seu caráter paradoxal, uma vez que a palavra “materialismo” difere de “animismo”, palavra que vem do latim anima, alma, e que corresponde à atitude que consiste em atribuir às coisas uma alma análoga à alma humana (Costa e Melo, 1999). Para análise do texto literário, lança-se aqui a hipótese de que o realismo-animista, que se conhece pela mão de Pepetela e, a seguir, a expressão ’materialismo animista’, de Harry Garuba, são conceituações teóricas que brotam de modo espontâneo na novela do escritor Ondjaki2. Rica em mistérios e epifanias, talvez seja essa pequena novela angolana uma das que melhor exemplifique o animismo nos últimos tempos. Tão cara à obra Lueji, de Pepetela um de seus criadores, senão o seu precursor-, conforme se observou, a expressão será aqui examinada, portanto, em alguns de seus desdobramentos, à luz do que no início do século passado Freud já assinalava acerca do animismo e da magia. A novela O Assobiador e o animismo Em O Assobiador, de Ondjaki, observa-se que seus personagens provêm de uma pequena aldeia, com um padre, pombas, burros, o lago 2 O poeta africano Ndalu de Almeida, conhecido como Ondjaki, nasceu em Luanda, 1977. Para formulação da hipótese sobre o realismo animista em sua obra, valemo-nos da palestra do autor Ondjaki, em mesa redonda sobre Literatura Africana, na 55ª. Feira do Livro, Porto Alegre, 15/11/2009. Junto ao escritor angolano, compuseram a mesa: Drª. Jane Tutikian, Dr. Agnaldo Rodrigues e a autora do presente ensaio. 150 REGINA DA COSTA DA SILVEIRA e a presença da comunidade, pessoas comuns, velhos e jovens, em meio às quais inserem-se pelo menos dois importantes forasteiros: o caixeiroviajante KeMunuMunu, com o seu ofício híbrido de alquimista, e o notável Assobiador, personagem anônimo e homônimo à obra, que produz transe, verdadeira epifania, com seu assobio dentro da igreja, considerada o «melhor sítio do mundo para assobiar melodias» (Ondjaki, 2002: 25). Próxima ao lugar de protagonista, encontra-se a personagem Dissoxi, «moça vinda não se sabe de onde» que «[g]uardava quantidades excessivas de sal em sua casa e sempre que alguém precisasse ela ofertava, de bom grado a substância salina» [...]; «poupadíssima nas palavras. Um mistério em forma de mulher» (ibidem). O Assobiador é, pois, um texto permeado de mistérios, e o que ocorre entre a comunidade da aldeia mediante o assobio é algo próximo ao milagre, mas que pode ser interpretado como epifania, termo entendido aqui como aparição, isto é, algo inusitado, um acontecimento único e revelador, de natureza divina, quase sobrenatural. Além de conter mistérios que circunscrevem o itinerário dos personagens, a novela O Assobiador é sinestésica, com destaque para o sentido da audição, ora aguçado pelo insólito e transfigurador assobio no interior da igreja, ora estagnado, no mais completo silêncio. Por que esse personagem assobia? Seu assobio é «verdadeiramente choroso, numa comoção altamente contagiante, como se a sua vontade de chorar estivesse amordaçada e o único recurso de que se podia valer fosse aquele assobio!» (ibidem). O forasteiro assobiador atraiu a passarada que pousou nas janelas da igreja, o padre transfigurou-se com a beleza do assobio a tal ponto que passa a permitir o assobio dentro da igreja, sob admiração da comunidade, tais como de Dona Mamã, a velha, e de KoTimbalo, o coveiro. Dissoxi tem premonições e, ao sair da igreja, lugar para onde foi atraída pelo assobio, “«[d]escendo as escadas, franziu ligeiramente a testa no intuito de apagar da consciência a nítida premonição de que algo estava para acontecer sob a forma da magia» (ibidem). Em cada personagem o assobio causa sensação reveladora: KeMunuMunu, caixeiro-viajante e alquimista, ao ouvir o assobio dentro da igreja, tem «uma perturbadora sensação que não soube explicar a si próprio». Como se em imagens isoladas lhe surgissem capítulos da no- O ANIMISMO E A ARTE DE NARRAR EM O ASSOBIADOR, DE ONDJAKI 151 vela da sua vida, «[c]apítulos que nunca mais tivera tempo de reviver ao ponto de os analisar com degusto]» (ibidem: 44), KaLua, o homem da memória, sempre munido de dois rolos de papel higiênico na mão, narra o encantamento produzido pelo assobio a Dissoxi (ibidem: 50): - E então aconteceu aquilo... fechou os olhos KaLua, apertou os seus rolozinhos de papel higiênico. – Aquele som ... O homem começou a assobiar, bem, nem percebi onde é que ele estava ... Comecei a ouvir o som, olha, juro pela saúde de quem quiseres, jão não me mexi mais... Nem sei explicar, doía-me a barriga, a cabeça, tudo, só os ouvidos não me doíam...- E o padre? – indagou Dissoxi, olhos tristes. – O Padre estava quieto, como os outros! É como digo ninguém se mexia... o som é que se mexia! E depois ficou tudo parado, à espera do fim da música que não acabava nunca... [...] Quando dei por mim, estava ali ao lado da igreja a fazer cocó... – acena com os rolos de papel. Depois mirou os olhos de Dissoxi: «[a] janela da sua tristeza era tão imensa que quase dava para espreitar a sua alma». Dissoxi escreve poemas na areia. Na areia, «[a] disposição das letras, da linguagem irreconhecível, era de uma extraordinária beleza e de um correcto alinhamento estético» (ibidem: 51). Para quem Dissoxi escreve?: «ela virou seu olhar quase morto para o olhar terno dele e respondeu: Escrevo para Deus; peço-lhe paz...» (ibidem); KaLua, ao ouvir a palavra paz, desenrola freneticamente meio rolo de papel higiênico e oferece à Dissoxi. Ela aceita e volta a embrenhar-se na escrita. Ao que o texto conclui: «O mistério da cabana desvendou-se ali, naquele episódio aquático. De volta à aldeia, KaLua foi juntando os pedaços da história» (ibidem: 52). A ausência do mar tornava Dissoxi aleijada «do seu efeito revitalizante para aqueles que são do mar». Antes disso, lê-se no texto: «O mistério da cabana desvendou-se ali, naquele episódio aquático» . O mistério da cabana pode ser desvendado ao leitor, retrocedendo à leitura do capítulo intitulado “Dissoxi”. Lá está a cabana cheia do sal guardado pela personagem homônima ao capítulo: «vinda não se sabe de onde» (ibidem: 25). Ora, na simbologia do sal, encontra-se a 152 REGINA DA COSTA DA SILVEIRA esterilidade. Assim, é possível depreender do texto que Dissoxi, por sua solidão, resguarda-se em seu mistério, interpretado como uma missão religiosa. Como um mistério, essa personagem aproxima-se ao mito da sereia e a entidades religiosas, tais como Iemanjá, criaturas que, conforme o texto, “são do mar”. Não raros são os momentos em que o texto em seus mistérios e em sua trama narrada dá conta das três grandes concepções do universo de que trata Freud, com destaque para o animismo. Este vem representado pela vida anímica da passarada que vem pousar nas janelas da igreja e que causam sombra no povoado na hora em que o assobio se propaga dentro da igreja, ao que se soma o caráter insólito do assobio que, por sua vez, causa o encantamento, verdadeira epifania na comunidade da aldeia. Os elementos que apontam para a religião permeiam todo o texto, com a presença de uma igreja, de um padre e de uma personagem como Dissoxi. A ciência, afinal, pode ser representada pelo personagem KeMunuMunu, na tecnologia do caixeiro-viajante e alquimista que quer estrategicamente recolher o assobio para colocá-lo em pequenos frasquinhos, escondidos no fundo falso de uma mala. Em O Assobiador, a morte a indesejada das gentes, para lembrar o verso do poeta Manuel Bandeira– vem representada por KoTimbalo, o Coveiro, que aguardava a morte dos outros sentado, embaixo de um embondeiro. A morte é no texto também metaforicamente representada pelo ato sexual entre ele, KoTimbalo, e “a velha adormecida”, personagem Dona Mamã, revigorada na «oportunidade tantas vezes imaginada» (ibidem: 106) por ela durante o longo tempo de sua viuvez. Insolitamente, essa personagem foi enterrada anos mais tarde em sua própria cama, com os dedos cheios de anéis, tamanha a força com que se agarrou ao móvel na hora de morrer. Não faltou ao livro de Ondjaki o humor, presente nesse episódio, e na história do lavrador que faz sexo com suas cabras e galinhas, do que decorre espanto entre a comunidade diante do insólito piar de uma galinha tal como se fosse um passarinho. Para reafirmar que o bom escritor é aquele que transfere para o texto literário os mistérios da vida humana, dos grandes acontecimentos da história, de heróis notáveis, mas também O ANIMISMO E A ARTE DE NARRAR EM O ASSOBIADOR, DE ONDJAKI 153 de comunidades de aldeias sem mais virtudes do que as que se expressam pela graça e pela simplicidade, pela convivência por vezes indistinta entre o humano e o animal. Como as tintas em cores vivas que saem das bisnagas, os acontecimentos narrados em O Assobiador aproximam-se aos traços espontâneos e violentos do fauvismo. São traços impulsivos, que aguçam sentidos no estágio próximo à espontaneidade do homem primitivo, das feras, mas que também traduzem a graça e a espontaneidade da criança. Dando conta da paisagem, delineia-se no texto o quadro da aldeia em sua simplicidade, com seus caminhos que convergem todos eles para um lago. Pelos recursos estéticos da arte de narrar, a obra do angolano possibilita uma interpretação que vai além da cor local. Assim, é possível situar aquela aldeia, os indivíduos e os animais que nela habitam, também no interior de cada indivíduo dos nossos tempos modernos. Com tal preocupação sobre os recursos estéticos de que um escritor lança mão, o autor declara que «[à]s vezes é preciso emprestar voz a outros de nós, perder esse referente local e localizado, e dar vez de serem elas, as outras vozes, a falar um pouco também» (Ondjaki, 2008: 1905). A propósito do interesse de Ondjaki pelas outras artes, lê-se em sua entrevista concedida a António Manuel Venda (2010): Depois, existe também a possibilidade − sempre presente nas artes − de contar uma estória, seja pela pintura, seja, mais concretamente, pelo cinema. E a junção da sensibilidade com a possibilidade de inventar ou dizer uma estória alimenta imenso a minha motivação. Essas três áreas − pintura, teatro e cinema − são zonas de acção para mim, e além de permitirem fazer coisas, permitem receber também, uma vez que há uma interacção com novos motivos e, felizmente, com outras pessoas. Penso que toda a movimentação artística acaba por enriquecer a sensibilidade. Com os personagens na criação de Ondjaki, o animismo estabelece continuidade entre a vida que anima os homens, a natureza e as 154 REGINA DA COSTA DA SILVEIRA coisas. Tênue é essa passagem, uma convivência harmoniosa entre água, deuses e passarinhos de que o leitor não se dá conta dada a leveza dessa transição. Sensível, o poeta passa a dar alma às coisas simples da natureza. Para revelar-nos que o animismo e a magia podem brotar mesmo de modo espontâneo no texto literário. Próximo ao primitivo e à selvageria, o grotesco interage com o sublime. Violador da ordem, o assobiador encontra no interior de uma igreja o palco para a verdadeira e súbita revelação de seu assobio, até então considerado profano naquele espaço sagrado. Como nos textos de Clarice Lispector (1920-1977) e de Vergílio Ferreira (1916-1996), a epifania é recorrente na novela de Ondjaki e pode ser entendida como sinônimo de aparição. Capazes de encontrar num assobio a súbita revelação, esses escritores oportunizam a seus leitores refletir sobre os mistérios insondáveis e incompreensíveis que têm como exemplo exponencial a morte, incógnita misteriosa, assim considerada pela a humanidade desde os tempos primitivos até os dias de hoje. Pois são esses escritores que tratam do insólito, das coisas sentidas, mas difíceis de serem explicadas à luz da razão, que recriam mimeticamente o que Freud chamou de ‘a animação do inanimado’. Não por acaso, precedendo a carta de Ana Paula Tavares que vem transcrita ao final do livro de Ondjaki, o leitor encontra como epígrafe um trecho de Carta ao futuro, de autoria do escritor e filósofo existencialista Vergílio Ferreira: «uma frase musical de um tocador ambulante, o assobio de quem passa, um talo de erva que irrompe de uma juntura de pedras, podem alvoroçar-nos como a mais pura e vidente aparição da beleza» (Ondjaki, 2002 : 115). Com a presença do insólito e de mistérios insondáveis, a novela de Onjaki deixa emergir o “realismo animista”, tal como esse conceito literário é proposto pelo angolano Pepetela. Pela mesma via em que se alternam os sentidos, o texto deixa transparecer a aparição da beleza ao sabor da razão e da ilogicidade, da simbiose entre sagrado e profano, entre grotesco e sublime, o que não se distancia do que propõe Harry Garuba (2003) ao tratar do ‘materialismo animista’. Para refletir sobre O ANIMISMO E A ARTE DE NARRAR EM O ASSOBIADOR, DE ONDJAKI 155 essa “alternância de sentidos”, o próprio autor de O Assobiador declara (Ondjaki, 2008: 1905-1906): Ao longo do tempo, das leituras e das escritas, vai-se descobrindo a importância da alteração dos sentidos para buscar o modo propício de chegar ao que se quer dizer. Experimento ecos do mesmo rio, buscando águas que já choveram e outras que estão por chegar. É nessa permissividade de conteúdos literários que o escritor cria e ganha alternância ao hábito de sentidos. Julgo que não há criatividade sem alternância de sentires e a permissão dessa alternância. Na procura de um modo para chegar ao que o narrador quer dizer, o texto se constrói mediante o conceito de animismo, evidenciando de modo muito espontâneo que existe mesmo entre os homens uma tendência geral de conceber todos os seres da natureza como semelhantes a eles próprios e a transferir essas qualidades também às coisas. REFERÊNCIAS: COSTA, J. Almeida e MELO, A. Sampaio. Dicionário da Língua Portuguesa. Porto, Porto Editora, 1999. DELPECH, Thérèse. El retorno a la barbárie em el siclo XXI. Trad. Laura Fólica. Buenos Aires, El Ateneo, 2006. FERREIRA, Vergílio. Aparição. São Paulo, Difel, 1983. FREUD, Sigmund. “Totem e Tabu”. In: Obras Completas de Sigmund Freud. Trad. Elias Davidovich. Vol. 7. Rio de Janeiro, Editora Delta S.A., 1913: 361-485. GARUBA, Harry. “Explorations in Animist Materialism: Notes on Reading/Writing African Literature, Culture and Society”, In: Public Culture 15, n. 2, 2003: 261-285. ONDJAKI. O Assobiador. Lisboa, Caminho, 2002. ----. In “Na pluralidade das línguas”. Actas do VIII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, Santiago de Compostela, 18 a 23 de Julho de 2005, Reunidas e Editadas por Carmen Villarino Pardo, Elias J. Torres Feijó, José Luís Rodríguez, Santiago de Compostela: Imprenta Universitária, Universidade de Santiago de Compostela, 2008. PEPETELA. Lueji, o nascimento de um império. Alfragide, Dom Quixote, 2008 VENDA, António Manuel. Entrevista a Ondjaki. IN: Blog de António Manuel Venda. Acesso em: floresta-do-sul.blogspot.com/.../entrevista-ondjaki.html. (21/05/2010). 157 OS/AS AUTORES/AS Paulo Motta Oliveira é Professor Associado da USP e Doutor pela UNICAMP; Livre Docente pela USP, Pós-Doutor pela Universidade de Lisboa; Bolsista de Pesquisa, nível 2, do CNPq e coordenador do Grupo de Estudos Oitocentistas. Organizou, sozinho ou em parceria com outros pesquisadores, nove livros e dez números de revistas especializadas, e publicou cerca de uma centena de ensaios em livros, revistas e anais, no Brasil e no exterior. Atua na área de Letras, com ênfase nas Literaturas de Língua Portuguesa, em especial as do século XIX, e suas inter-relações seja com outras literaturas nacionais, seja com produções de outros períodos. E-mail: [email protected] Suzana Raquel Bisognin Zanon é Diretora do Centro de Referência de Assistência Social do Município de Jaboticaba (Rio Grande do Sul), Mestranda em Letras –Área de Concentração: Literatura pela URI– Campus de Frederico Westphalen –R/S. Email: [email protected] Élio Cantalicio Serpa é Professor Adjunto IV na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, Doutor em História Social pela USP, e Pesquisador de Produtividade em Pesquisa/ CNPq. E-mail: [email protected] Maria Lucia Guimarães de Faria, Doutora em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é Pesquisadora de Pós-Doutrorado pela FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), vinculada ao Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ, onde leciona Teoria Literária. Foi uma das organizadoras do livro Veredas no sertão rosiano, publicado em 2008, pela 7letras, do Rio de Janeiro. Email: [email protected] 158 Leny da Silva Gomes é Professora Titular da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre/RS. Doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coordenadora do PPGL (UniRitter). É líder do grupo de pesquisa Língua e Literatura na formação do sujeito. Recebeu, em 2007, o Prêmio Açorianos de Literatura pela organização (conjunta) do livro Aprendizagem de língua e literatura: gêneros & vivências de linguagem. Atualmente desenvolve pesquisa na área de hipertexto em sistema digital. Em 2009 e 2010 publicou em periódicos e anais, organizou o livro Teorias de linguagem e práticas de sala de aula: um diálogo possível e o primeiro número do periódico Cenários: Revista de Estudos da Linguagem pela UniRitter. Email: [email protected] Noeli Reck Maggi é Professora Titular no Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre e RS. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com graduação em Pedagogia e Psicologia e com formação em Psicanálise. Professora nos cursos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu na área da Educação e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na área de Letras. Psicanalista do Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, tem experiência em pesquisa com ênfase em Psicanálise e Educação, atuando em temas como: processos de simbolização, criatividade, aprendizagem e educação. Tem publicações em periódicos da área. Email: [email protected] Luciano Rosa é doutorando em Letras pela UFRJ. Pesquisador da Literatura Brasileira do século XX, é autor de artigos, ensaios e prefácios sobre o tema. Organizou e prefaciou os volumes Roteiro da Poesia Brasileira – anos 40 (2010) e Melhores Contos de Aurélio Buarque de Holanda (2007), ambos da Global Editora. Email: [email protected] / [email protected] 159 Ricardo Postal é licenciado em Letras (Português e Italiano) pela UFRGS, onde realizou o seu mestrado em Literatura Brasileira (com dissertação sobre o indianismo de José de Alencar) bem como o seu Doutorado em Literatura Brasileira (com tese sobre a composição all’improviso na obra de Mário de Andrade). Realizou estágio de doutoramento junto ao CREPAL (Centre de Recherches sur les Pays de Langue Portugaise) –Sorbonne Nouvelle 3, tendo publicado “Des excès et de masques dans la ‘Carta pras Icamiabas’ de Mário de Andrade” em Débordements, Cahiers du Crepal n° 13, PSN (2006). Email: [email protected] Regina da Costa da Silveira é Doutora em Letras (Literatura Brasileira), pela UFRGS. Titular do PPG -Letras do Centro Universitário Ritter dos Reis– UniRitter/Porto Alegre/RS. Atualmente é editora de Nonada Letras em Revista. Organizou em 2009, em parceria com a Drª. Maria Luíza Ritzel Remédios, o livro Redes & Capulanas: identidade, cultura e história nas literaturas lusófonas, editado pela UniRitter. Email: [email protected]
Download