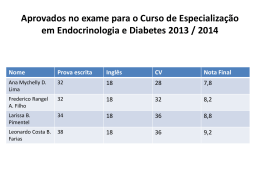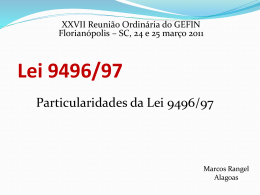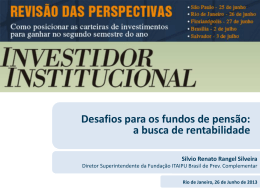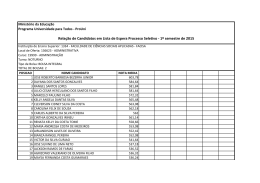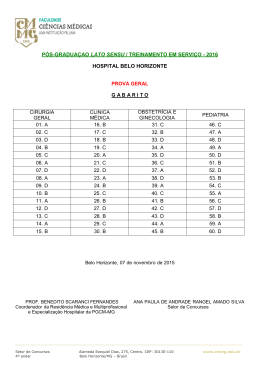Bruna Nunes da Costa Triana Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social Universidade de São Paulo Av. Professor Luciano Gualberto, 315 São Paulo, SP, Brasil, CEP: 05508-010 Telefone: 55 11 30913755 E-mail: [email protected] EXPERIÊNCIA E MEMÓRIA DO COLONIALISMO EM MOÇAMBIQUE NA FOTOGRAFIA DE RICARDO RANGEL RESUMO: Esta comunicação apresenta uma análise sobre a produção fotográfica de Ricardo Rangel (1924-2009) entre os anos de 1950 e 1975, no contexto de luta de independência em Moçambique. Tendo atuado como fotojornalista, sobretudo, em Maputo, Rangel produziu imagens que conseguiram entrelaçar denúncia social, engajamento político e composição poética, o que o tornou referência no campo da fotografia moçambicana e africana. Assim, o pano de fundo que une as imagens recortadas para este exame é o sistema colonial português e a luta armada de libertação – bem como a efervescência cultural, o processo de modernização urbana e as rupturas políticas pelos quais passava a capital moçambicana. O objetivo é compreender a especificidade de seu olhar e os recursos narrativos utilizados por Rangel para tematizar a violência intrínseca ao colonialismo, o processo de independência e as transformações da sociedade nesse período. A metodologia de análise das imagens baseia-se, em especial, em Walter Benjamin e Georges Didi-Huberman. PALAVRAS-CHAVE: Análise fotográfica; História; Fotojornalismo; Colonialismo Português; Memória. 1. Introdução No período colonial em Moçambique, em especial quando os conflitos pela independência mais se acirraram, é possível observar a constituição de uma série de contranarrativas importantes para a memória social do país, que questionou as narrativas hegemônicas e oficiais do império português alémmar. Um nome que ocupa posição de destaque nesse período é o de Ricardo Rangel (1924-2009), fotógrafo moçambicano que quis problematizar em suas obras os conflitos e paradoxos gerados pela colonização portuguesa tardia. Este trabalho pretende analisar algumas das especificidades de seu olhar e dos recursos narrativos utilizados por Rangel para tematizar a violência intrínseca ao colonialismo, o processo conflituoso de libertação e as intensas transformações por que passava aquele país. Tendo atuado como fotojornalista, Rangel fotografou os mais variados espaços urbanos de Maputo (até 1976, Lourenço Marques), capital de Moçambique, descortinando suas desigualdades e dando vida a personagens cotidianos da cidade, a maioria estigmatizada pela pele negra em meio ao colonialismo branco. Ele conseguiu compor, assim, uma obra que entrelaçou denúncia social, engajamento político e composição poética, o que o tornou referência no universo fotográfico moçambicano, na medida em que alcançou ângulos e perspectivas que iluminaram momentos ímpares da colonização. Ricardo Rangel foi contemporâneo do processo de apropriação da fotografia como instrumento de construção de um outro “real”, manejando a câmera para (re)construir uma memória na contramão da inteligibilidade colonial (FIRSTENBERG, 2001). Começou atuando como auxiliar num estúdio fotográfico, em meados dos anos 1940, na então Lourenço Marques. Em 1952, foi contratado pelo Notícias da Tarde, sendo o primeiro não branco a trabalhar para um periódico do país. Sua consolidação profissional pode ser sintetizada neste período (1950-1970), quando passou por jornais importantes, como A Tribuna e Diário de Moçambique. Em 1970, juntou-se a amigos jornalistas e fotógrafos (como Kok Nam, Mota Lopes e Armindo Afonso) para fundar o semanário Tempo, que agiu como publicação de oposição ao governo colonial, sendo alvo de constantes censuras. Na década de 1980, fundou o Centro de Documentação e Formação Fotográfica (CDFF) e a Associação Fotográfica Moçambicana (AFM), locais onde se encontra seu acervo. Faleceu em 2009, em Maputo, tendo um funeral com honras de Estado e ao som de Charlie Parker, tal qual desejara. Com base nesse breve contexto, o objetivo central deste ensaio é refletir sobre algumas imagens que compõem a produção fotográfica de Rangel, entre 1955 e 1975, tendo como eixos sua condição de militante anticolonial, seu pioneirismo e inventividade na prática do fotojornalismo e os aspectos memorialísticos – mormente, do sistema colonial, mas, também, do espaço urbano que sofria intensas transformações sociais e culturais – presentes em sua obra. O recorte temporal abarca a luta anticolonial e de libertação em Moçambique, que culminou em sua independência, em 25 de junho de 1975, período de maior produção de Rangel, devido à sua passagem pelos principais jornais e periódicos do país. Nessa medida, gostaria de apreender, de um lado, alguns dos mecanismos narrativos e poéticos usados por ele para compor uma experiência fotográfica, um olhar acurado sobre os grupos sociais marginais e desviantes da sociedade moçambicana; e, de outro, certos aspectos sociais e políticos que suas fotografias revelam, em especial, sobre o panorama urbano em mudança e o universo cultural e boêmio da capital em meio ao processo de independência. Pretende-se analisar, então, a produção de Rangel sob o prisma da construção de uma experiência e de uma memória fotográfica. Para tanto, volto o olhar para uma produção artística bastante singular do artista, a fim de vislumbrar os cruzamentos e as relações entre a narrativa fotográfica e a análise antropológica, pensando a mediação da produção de Rangel, suas formas e potências, a partir das noções de experiência e memória. Dialogando com vários eixos analíticos, como a antropologia visual, os usos da fotografia, os estudos do colonialismo português além-mar e da construção da memória, a seguir, exploro brevemente uma proposta de referencial que, no limite, compõe o objeto, destacando leituras que discutiram o uso da fotografia na antropologia e, logo depois, o sistema colonial em Moçambique – sempre mediadas pela obra de Rangel. 2. Antropologia Visual: a fotografia As aproximações entre antropologia e imagem – abarcando, aqui, a fotografia, o cinema e as novas mídias – já foram pensadas por muitos autores contemporâneos. Em relação à fotografia, podemos citar: Caiuby-Novaes (2008; 2009), Frehse (2005), MacDougall (2006), Mendonça (2005), Mitchell (2002), Moreira Leite (1998; 1999), Samain (2000; 2004), Tacca (2001; 2007), entre outros. Dessas análises, cabe destacar que tanto a antropologia quanto a fotografia e o cinema surgiram em fins do século XIX, auge do colonialismo; ou seja, essas tecnologias se desenvolveram no campo antropológico por intermédio de um olhar específico sobre o outro, tomado, quase sempre, como exótico. No entanto, embora as imagens, inicialmente, tenham se configurado como instrumentos acessórios ao trabalho etnográfico e, em seguida, como campo estimulante para a reflexão antropológica, as relações entre antropologia e imagens demoraram a consolidar-se. Paulatinamente, o olhar antropológico foi se debruçando sobre as artes visuais, a fim de procurar novas formas de pensar e expressar as experiências de campo, bem como refletir o estatuto da imagem, sua construção e possibilidades epistemológicas (MACDOUGALL, 2006). A antropologia visual busca problematizar a imagem, e não fazer da foto mera ilustração, como ela foi (e, em certa medida, ainda é) usada nas ciências sociais e na imprensa. Por isso, focando na fotografia, é interessante restaurar “a qualidade mágica, ou profética, que as torna sempre atuais, sempre subversivas” (LÖWY, 2009: 19). Assim, a força da imagem está exatamente em apresentar ao olhar cenas que não constam na historiografia: gestos, expressões, atitudes, sentidos. Isso, porque a fotografia sugere movimentos, sons, tensões presentes em eventos e memórias, fazendo ver o espantoso no cotidiano – e também o inverso. Como crê Rouillé (2009), a fotografia exprime situações sociais, e cada momento imagético é duplo: conserva uma face no presente atual da matéria e outra no passado virtual da memória. Martins (2011) ainda acrescenta a importância da fotografia como objeto de representação de imaginários socialmente partilhados. A partir das imagens, é possível compreender alterações socioculturais e urbanas, perceber aspectos ímpares da sociabilidade de grupos e sujeitos fotografados (TACCA, 2011). A fotorreportagem, gênero no qual Rangel mais trabalhou, guarda particularidades dentro do que se convencionou chamar de “fotografia documental”, que registra temas voltados para assuntos humanos ou situações sociais e políticas, preocupando-se com eventos que afetam a vida cotidiana das pessoas retratadas e suas condições de vida. E é precisamente dentro da fotografia documental, segundo Rouillé (2009), que se pode observar, no início do século XX, uma virada de tendência em direção à fotografia que dá mais relevância ao aspecto expressivo. Ora, a fotografia possui valor documental, que varia segundo seu uso; a fotografia-documento não se separa da fotografia-expressão, pois inclui “a imagem, com suas formas e sua escrita; o autor, com sua subjetividade; e o outro, enquanto dialogicamente implicado no processo fotográfico” (ROUILLÉ, 2009: 19-20). Dentro dessa concepção de fotografia, que alia valor documental e expressividade poética, nasce, em meados dos anos 1930, a fotorreportagem de caráter humanista – cujo tipo ideal seria Cartier-Bresson –, a partir da qual o universo cotidiano popular e o elemento social passam a ser fundamentais. Na fotorreportagem, domina, segundo Rouillé (2009), a exterioridade em relação aos acontecimentos, a captação do “instante decisivo” – síntese de um evento – e a transparência da imagem – distância focal normal, sem flash. No entanto, no caso específico de Rangel, o que notamos, numa primeira aproximação, é a subversão – pelo menos parcial – desse modelo, na medida em que ele se coloca, muitas vezes, na situação fotografada (figura 1), de modo a não posicionar-se alheio aos eventos e fatos; ele está ali, como seus interlocutores, vivendo a mesma condição colonial, alvo, ele também, de estigmas e segregações. Figura 1 – “Bar Texas”, Ricardo Rangel, Lourenço Marques (Maputo), 1970. Fonte: Rangel (2004b). A obra de Rangel pode ser tomada, de início, como portadora de valor documental e memorialístico, como expressão poética e narrativa, circunscrita em certo momento histórico, o que permite analisar as referências e dinâmicas socioculturais do período e entender a construção da memória e dos processos de luta anticolonial. O intuito, ao voltar meus interesses para as fotografias de Rangel, não é olhar e contar o passado “como ele, de fato, foi”, mas apropriar- me “de uma reminiscência, tal como ela relampeja num momento de perigo” (BENJAMIN, 1994: 224). A equação de Benjamin (2006: 473) sugere, aqui, que a história está ligada à ideia de rememoração, de construir uma experiência relevante com o passado, sendo que tal experiência viria do choque frontal do presente contra o passado, o que colocaria o presente numa situação crítica. Benjamin (1994: 94), em Pequena História da Fotografia, de 1931, confere a certas imagens uma magia, uma aura: “depois de mergulharmos suficientemente fundo em imagens assim, percebemos que também aqui os extremos se tocam: a técnica mais exata pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro nunca terá para nós”. Nessas imagens, não obstante toda técnica e perícia, procura-se “a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem”. O que Benjamin (1994: 94) insinua está ligado à sua concepção de “atualização” da memória, tal qual sua teoria da história, pois a “magia” da foto faz com que o observador busque aquele “lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, há muito extintos, e com tanta eloquência que podemos descobri-lo, olhando para trás”. O que se procura no instantâneo fotográfico é a transmissão de experiências, a possibilidade de salvar o que não pode ser esquecido e que deve, portanto, construir uma memória de algo que, de outro modo, perde-se por não ser testemunhável e que não encontra uma saída transmissível (DIDIHUBERMAN, 2003). Com as imagens, os sentidos não são dados e fixados a priori; por isso, é preciso articular passado e presente, mediante uma dialética de rememoração e atualização, tal qual a equação de Benjamin (1994), pois é daí que irrompem as “imagens dialéticas”, “lampejos”, “iluminações momentâneas”, devido à ambiguidade e à abertura que as fotografias carregam. A ideia de trabalhar as fotografias de Rangel é rememorar e recuperar a potência das imagens sobre o colonialismo e o processo de libertação de Moçambique, estendendo seu alcance no presente. A tentativa de despertar uma sensibilidade para as memórias imagéticas, a partir de Rangel, justifica-se porque sua potência, sua magia, vai além do texto (CAIUBY NOVAES, 2008; MACDOUGALL, 2006). Nesse sentido, o desafio de olhar para uma imagem está no fato de que esse olhar não é uma rua de mão única. Segundo Mitchell (2002: 118), as fotografias são dotadas “com a unidade independente que torna possível que elas nos olhem de volta, ao mesmo tempo em que mantém seus segredos”. É exatamente esse retorno que constitui a potência da fotografia, na medida em que ser afetado pelas imagens, para usar a corrente expressão de Favret-Saada (2005), é reacender o passado no presente, rememorar a história e atualizá-la no momento coevo. Todavia, para que isso se torne viável, é necessário conferir um enquadramento contextual no interior do qual essas imagens puderam ser produzidas. Isso pode permitir melhor localizar a obra de Ricardo Rangel dentro do colonialismo português tardio. 3. Breve contextualização do colonialismo português em Moçambique Foi no fim do século XV, segundo Cabaço (2009), que foram feitos os primeiros contatos de europeus e os povos da costa que compreende o atual Moçambique. Desde então, o litoral atlântico e oriental integrou-se ao comércio internacional, sobretudo como fornecedor de escravizados. A partir do século XIX, o imperialismo europeu deu novo passo no processo de mundialização do capital. África e Ásia foram incorporadas à ordem europeia, que se utilizou, inclusive, do discurso “civilizador” como justificativa a uma função econômica precisa (FERRO, 2004). É interessante notar que, diferentemente do colonialismo do século XVI, cuja meta era a obtenção de especiarias, metais preciosos e escravos, o “neo” colonialismo buscou, além do fornecimento de matéria-prima e mercados consumidores de manufaturas, uma “dimensão imperial moderna” (RIBEIRO, 2004). Todavia, antes dessa fase do imperialismo, Portugal já havia implementado protetorados em Angola e Moçambique, o que lhe daria subsídio para pleitear esses e outros territórios na partilha do continente africano1. Não se pode falar de uma expansão imperialista europeia de modo genérico; ela se moveu pela mesma sede de prestígio e poder, mas “as características da expansão ocidental foram variadas na medida em que eram 1 A definição das regras para a divisão da África ocorreu com a Conferência de Berlim, de 1884-1885, onde se reuniram, entre outros, Grã-Bretanha, França, Portugal e Bélgica. A partir daí, as nações europeias construíram seus impérios coloniais em África. O complemento do Congresso de Berlim ocorreu em Bruxelas, em 1890, quando se definiu a organização dos serviços administrativos e militares, as bases do comércio e, ainda, a restrição da compra de armas de fogo pelas populações autóctones dos territórios conquistados (SILVA, 2003). diversos seus agentes”, no que se refere à cultura, visão de mundo e tradição do colonizador, que configurou uma prática colonial com distintas formas (THOMAZ, 2002: 20). Desse modo, o “terceiro império português” (RIBEIRO, 2004; THOMAZ, 2002) carrega uma história específica em sua configuração, em sua justificativa e em seu projeto de incorporar populações nativas. A ordem colonial funda-se e estrutura-se em múltiplos dualismos, concebidos sobre a oposição colono/colonizado, que, de fato, estipula uma relação de superioridade-inferioridade, pautada nas questões de raça e civilização. É nesse sentido que Cabaço (2009: 22) vai afirmar: “não existe, até fins do século XIX, uma política de identidade, já que a ‘assimilação unificadora’ era fundamentalmente uma declaração de princípios, expressa em textos legais e em pronunciamentos políticos, de inspiração liberal, mas sem consequências práticas”. No fim de século XIX, a consolidação da ocupação dos territórios portugueses tratou de definir o lugar das populações e regularizar as formas de trabalho, dado que o escravismo não era mais aceito nos círculos políticos ocidentais. Tendo em conta o sucesso de ideias do evolucionismo social, o projeto assimilacionista foi embasado por um racismo aberto, que não supunha qualquer igualdade entre colonos e colonizados. O Ato Colonial, promulgado em 1930, no Estado Novo de Salazar, é decisivo para a alteração da estratégia colonial vigente, pois define o quadro jurídico-institucional da nova política para os territórios além-mar, abrindo uma fase mais nacionalista e centralizadora, fruto de uma nova conjuntura externa e interna, traduzida numa orientação diversa de aproveitamento das colônias (ROSAS apud THOMAZ, 2002). A teoria do lusotropicalismo, de Gilberto Freyre, surge, então, para justificar e preservar o império além-mar, a nação portuguesa e o regime ditatorial2. Segundo Castelo (2013), essa teoria não teve sucesso nas camadas 2 Vecchi (2010), Ribeiro (2004) e Castelo (2013) localizam as bases do lusotropicalismo em Casa-Grande & Senzala ([1933] 2013), de Freyre, sendo que vestígios mais coesos surgem nas Conferências na Europa (1938) e em sua versão revista, O mundo que o português criou (1940). A nova formulação é explicitada, contudo, nas palestras que integram Um brasileiro em terras portuguesas (1953). A Integração portuguesa nos trópicos (1958) e O luso e o trópico (1961) teorizam e contribuem, por fim, para a sua difusão. Segundo os autores, o discurso lusotropicalista postula a capacidade de adaptação dos portugueses aos trópicos, não só por interesses econômicos, mas, sobretudo, por empatia inata e criadora. A aptidão do português para se relacionar com terras e gentes tropicais, sua plasticidade intrínseca, resultaria de sua própria origem étnica híbrida. políticas do regime até a década de 1950, sendo conhecido, até aí, apenas nas camadas intelectualizadas. O ponto de rejeição, por parte dos dirigentes políticos, ao lusotropicalismo era o elogio à mestiçagem; já o aspecto do pensamento de Freyre que era consensual, nos anos 1930-1940, era a confirmação da capacidade portuguesa para a colonização, isto é, sua adaptação aos trópicos e sua boa relação com os povos colonizados. É só no segundo pós-guerra, frente às pressões das resistências nacionalistas africanas e internacionais, sobretudo da ONU, que emergem os processos de descolonização, fortemente marcados por lutas de independência. Com a crescente pressão internacional, Portugal delineia uma nova argumentação para legitimar a manutenção de suas colônias em África: Salazar revoga o Ato Colonial, em 1951, para alterá-lo e integrá-lo à Constituição, com pequenos ajustes de terminologia, essencialmente3. A difusão do discurso lusotropical não se circunscreve aos circuitos internacionais da diplomacia, mas se constrói pela propaganda – em Portugal, nas “províncias ultramarinas” e internacionalmente – e, ainda, como autorrepresentação no senso comum e na retórica política (ALMEIDA, 2000). Essa propaganda, baseada na simplificação do lusotropicalismo, quis moldar pensamento e ação de colonos e agentes coloniais. Assim, a censura às denúncias de abusos, violências e segregações dentro de Portugal e suas “províncias” coibia o desvelamento da realidade conturbada e racista, que, todavia, era negada – no intuito de conservar sua viabilidade. A “assimilação” – depois “integração” – não fazia do colonizado membro da nação portuguesa. Primeiro, por fatores objetivos – isto é, ausência de infraestrutura da administração colonial –, e, segundo, por fatores subjetivos – ligados à falta de vontade e empenho dos colonos e da burocracia e pela dinâmica de “autoproteção dos privilégios e mordomias, expressos nas barreiras racistas que se erguiam [...], cerceando a mobilidade social que a legislação anunciava” (CABAÇO, 2009: 118). Desde a década de 1950, multiplicavam-se greves e manifestações contra a ordem colonial. Em Oficialmente, Portugal “constitui uma comunidade multirracial, composta por parcelas territoriais geograficamente distantes, habitadas por populações de origens étnicas diversas, unidas pelo mesmo sentimento e pela mesma cultura. Como se comprova pela leitura [...] de Freyre, o poder exercido nas ‘províncias ultramarinas’ portuguesas não é de natureza colonial, ao contrário do que sucede em territórios sob soberania de outros países” (CASTELO, 2013, s.p.). 3 contrapartida, o regime português acentuou, nos territórios ultramarinos, mecanismos administrativos e repressivos, discriminações raciais e intervencionismo direto. Isso foi de encontro com a ideologia lusotropical propalada pelo governo. E é tal contradição que Rangel apontou em suas fotografias: o discurso lusotropical sobre a vocação portuguesa e sua boa índole com os colonizados esbarrava nas barreiras raciais e segregacionistas (figura 2). Dessa forma, a realidade em Moçambique estava distante da descrita por Freyre e pelo governo português. A cidade e o campo eram palco de repressão constante, já que uma miríade de práticas discriminatórias e de marginalização representava a vida em Moçambique, expressão maior “de um sentimento de ‘casta superior’, profundamente enraizado no subconsciente de cada colono e no consciente colectivo da comunidade branca” (CABAÇO, 2009: 224). Figura 2 – “Homens e Serventes”, Ricardo Rangel, Lourenço Marques (Maputo), 1957. Fonte: Calado (2005). É nesse contexto que, na década de 1950, emerge o trabalho de Rangel, engajado na denúncia do sistema colonial. É o momento, também, em que o governo português combate mais assiduamente as resistências anticoloniais. A guerra de libertação nacional – para Portugal, “guerra subversiva” –, iniciada em meados de 1960, acirrou ainda mais as contradições dentro do regime administrativo português. Refletindo a memória como experiência, Benjamin (1994) percebeu que ela é uma das mais épicas das faculdades humanas, já que permite a apropriação singular da história e das estórias e sua potencial transmissão. Porém, no processo de construção da memória, corre-se o risco dela congelarse entre dois extremos: de um lado, de uma memória expressa na forma de trauma – os “traumatismos da memória”, como se referiu Paul Ricoeur (2007) – , não elaborada e sempre menos representável e transmissível quanto mais ela se distancia do evento; de outro, de uma “memória como dever”, digamos assim, própria das datas comemorativas, das celebrações, dos museus e demais “lugares de memória” (Nora, 1993), sempre mais esquecida de sua própria história justamente porque transformada em monumento estático e celebrativo apenas. Quem recorre ao passado por meio da memória pode se deparar, eventualmente, com restos, traços, fragmentos de história. Quando os restos são vertidos em fontes de testemunho, eles passam a carregar, então, um valor documental. E os documentos, segundo Le Goff (2003), nunca são inócuos: são, antes de tudo, coisas que ficam, que permanecem, traços que perduram no tempo e no espaço; são o resultado de uma recoleção feita por quem volta ao passado para contar a história a partir de vestígios muitas vezes esquecidos ou silenciados (OLIVEIRA, 2013). Testemunha desse período, Rangel buscou registrar e questionar o colonialismo, ocupando um lugar dentro desse contexto, sendo, atualmente, considerado o maior fotógrafo moçambicano4. Assim, esse é um período histórico conturbado e ainda disputado em sua constituição enquanto memória. Sendo assim, a preocupação, aqui, é contar essa história pelo visual, pelos detalhes, pelos gestos, atentando para a obra de Rangel, sua trajetória e as condições de possibilidade de sua produção, avaliando a construção de uma experiência e de uma memória fotográfica. 4. Memórias e histórias: a fotografia de Ricardo Rangel A fotografia, sobretudo no que diz respeito às narrativas coloniais e póscoloniais em África, desempenhou papel importante na produção de memória. 4 A obra de Rangel alcançou, no final do século XX, certo reconhecimento internacional, evidenciado pelas exposições organizadas em África, Europa e Estados Unidos – como no Guggenheim Museum, de Nova York, em 1996. Algumas das exposições estão disponíveis em: http://www.afronova.com/Ricardo-Rangel.html. Acesso em: 21/09/2014. Em Moçambique, pode-se afirmar que, antes de Rangel, a população local era quase ausente da representação imagética, parte de uma imagem etnográfica, peça da paisagem e definida dentro do “exotismo” (SORRINI, 2013). Em relação às imagens de Moçambique colonial, criadas por diversos agentes (institucionais e individuais), nota-se uma continuidade: a população “originária” está ausente ou aparece secundarizada nas imagens, estereotipada, objeto “etnográfico”. Se a fotografia esteve, desde cedo, presente na região, era como instrumento de retrato e identificação do colonizador (TEIXEIRA, 2012). É nesse âmbito que a prática de Rangel surge como precursora da fotografia moçambicana (SOPA, 2002). A grandeza e a ruptura do projeto fotográfico de Rangel residem, no limite, em sua postura ética e na prática metodológica, inventivas na abordagem do complexo universo colonial. Pode-se perceber, em algumas de suas obras, uma sensibilidade e uma capacidade de tornar visível o invisível. A denúncia do colonialismo e de sua violência é um ingrediente chave no exame de sua produção; mas não o único, pois suas imagens insistem mais na censura que esse discurso produz, na ocultação da realidade que está diante dos olhos de todos, mas que ninguém consegue ou quer “ver” (Teixeira, 2012). Rangel busca capturar o que se esconde por trás das dobras do cotidiano – foi, aliás, o que José Craveirinha (2008: 21-22) notou: “Deste-nos o verso e o inverso da vida [...], dá-nos simultaneamente o explícito e o implícito”. A fala de Craveirinha aponta para o movimento de levar o fotojornalista às galerias, já nos anos 2000. A exposição “Iluminando vidas: fotografia moçambicana (1950-2001)” levou 25 fotos de Rangel, além de outras 100 imagens de 14 fotógrafos, antigos alunos do CDFF, a lugares como Suíça, África do Sul e Portugal, entre 2002 e 2005 – em Maputo, foi exposta em 2003, no período de 26 de abril a 25 de maio, na AMF. Além disso, ocorreram, em Maputo, as exposições “Ricardo Rangel: 50 anos de fotojornalismo em Moçambique”, em 2008, “Revisitar Ricardo Rangel”, em 2010, e “Ricardo Rangel e o jazz”, em 20115. Com efeito, esse período “Ricardo Rangel: 50 anos de fotojornalismo em Moçambique”, retrospectiva realizada no Centro Cultural Franco-Moçambicano, de 21 de outubro a 22 de novembro de 2008, Maputo. “Revisitar Ricardo Rangel”, exposição fotográfica ocorrida no Centro Cultural Kulungwana, de 10 de junho a 15 de julho de 2010, Maputo. “Ricardo Rangel e o jazz”, exposição realizada no Centro Cultural Kulungwana, de 03 de novembro a 27 de novembro de 2011, Maputo. 5 congrega também as mais relevantes análises do trabalho de Rangel. Trata-se de livros compostos por artigos de amigos (jornalistas, fotógrafos, escritores, políticos), dedicados, sobretudo, a prestar homenagem à obra de Rangel e localizá-la no panorama artístico e político moçambicano, como a organizada por Couto (2008), “Ricardo Rangel: Homenagem de amigos”, Z’Graggen e Neuenburg (2002), “Iluminando Vidas: Ricardo Rangel e a fotografia moçambicana” e Honwana (2010), “Revisitar Ricardo Rangel”. Ainda a respeito, e em homenagem, ao fotógrafo, em 2006, foi lançado o documentário “Ferro em Brasa”, de Licinio de Azevedo6. Rangel possui, ainda, três ensaios fotográficos publicados: “Ricardo Rangel: Fotógrafo” (2004a), “Pão Nosso de Cada Noite” (2004b) e “História, Histórias… 50 Anos de Fotojornalismo em Moçambique” (2008). Destes, o mais notável é “Pão nosso de cada noite”, que reúne as imagens da Rua Araújo, das décadas de 1960-1970, e sua vida noturna. Outra publicação dele, “Fotojornalismo ou Foto-confusionismo” (2002), traz um debate sobre os caminhos do fotojornalismo, sua função, possibilidade e alcance. Essa ida às galerias, bem como sua entrada no sistema artístico mundial, de certa forma, demonstra a apropriação do trabalho de Rangel como figurativo de um símbolo nacional, que, com sua fotografia, ajuda a construir a ideia da nação, sua memória. Juntamente com outros intelectuais e artistas, Rangel encabeça um processo de reflexão e legitimidade quanto à história do país. Aliás, esse processo dá materialidade a uma memória difícil de ser lembrada, mas também difícil de ser esquecida. Como narrar sem sufocar os silêncios, as hesitações, as lacunas e as ambiguidades? Ora, as fotografias de Ricardo Rangel configuram um olhar que procura o que o modelo estabelecido tende a ocultar, “sua ‘estranheza’, seu ‘desbotamento’ e suas ‘elipses’, ‘incoerências’, ‘emendas suspeitas’ e ‘comentários tendenciosos’” (DAWSEY, 1999: 44). “Ferro em Brasa”. Diretor: Licinio de Azevedo. Produtora: LxFilmes. França, Moçambique e Portugal. 2006. 48 min. 6 Figura 3 – “Ferro em Brasa”, Ricardo Rangel, Lourenço Marques (Maputo), 1973. Fonte: Rangel (2004a). “Ferro em Brasa” (figura 3), de 1973, talvez umas das imagens mais marcantes do fotógrafo moçambicano, revela um menino pastor, marcado por seu patrão por haver perdido uma cabeça de gado. A imagem condena de maneira contundente as escolas de pensamento que pregavam a humanização do discurso colonial, como o lusotropicalismo, uma vez que desvela toda arbitrariedade e crueldade do colonialismo português. O valor do pastor não é superior ao do animal. A imagem é uma denúncia da propaganda salazarista: evidencia a violência física e torna palpável a violência simbólica, própria à cotidianidade colonial. “Ferro em Brasa”, por isso, é uma das sínteses do trabalho de Rangel, o que o torna único se considerarmos a aspereza do momento captado, bem como a amargura na expressão do garoto. Mais que a violência explícita na marca da testa, inquieta o espanto petrificado escondido nos olhos do menino, neutro, impassível, perdido. O olhar encarna o horror que se faz normalidade, a exceção que se faz regra (VECCHI, 2010). A câmera de Rangel se volta para os oprimidos – não denuncia os opressores, mas o sistema que os produz. Esse é um dos vetores de seu olhar: a materialização da realidade social que o envolvia, da violência em que ela se assentava. Tal dimensão da abordagem rangeliana à situação de Moçambique tem, inclusive, um aspecto de manifesto. Sua obra enfrenta, com isso, a autoimagem colonial que a metrópole buscava transmitir, já que a retórica do lusotropicalismo não se restringia, apenas, a uma estratégia discursiva, funcionando como autoconsciência, vivenciada por muitos de seus agentes. Em Rangel, os sujeitos não são “etnográficos”, “paisagísticos”, mas também não o são vitimizados. Como em “Ferro em Brasa”, suas imagens são tentativas de romper com a história dos vencedores e trazer à tona “os ecos de vozes que emudeceram”, para usar o léxico benjaminiano. Esse eco ressoa na imagem do olhar mudo do menino pastor, bem como em outras fotos, que não retratam seus interlocutores como vítimas, mas como subalternos do sistema colonial. Trazer a fotografia para rememorar e atualizar o período colonial moçambicano deixa entrever a vontade de mostrar outras visibilidades e memórias, outras histórias. O que a fotografia pode capturar é, justamente, a potência dos oprimidos e emudecidos da história, na medida em que se volta para eles num momento de “iluminação momentânea”, de modo a capturar uma experiência. Ao recordar imageticamente esses eventos, atualizando-os, as fotografias de Rangel tentam “escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1994: 225). Em suas imagens explodem as contradições, num jogo de justaposições e conjugações de situações tantas vezes ambivalentes (figura 4), apresentando as agruras e vicissitudes que o país atravessava e exibindo a “beleza trágica” de um país em crise e construção. Seus registros datam, com efeito, do período colonial “tardio”, do processo de urbanização e independência e dos desdobramentos da luta por emancipação. Por intermédio da fotografia de Rangel, pode-se antever as emendas, incoerências, o esquecido da história, apreender alguns importantes aspectos de denúncia e expressão, rastros de violência e racismo que assinaram com sangue o período, deixando as imagens falarem e revelarem os possíveis daqueles eventos. Figura 4 – “Exposição de Arte”, Ricardo Rangel, Lourenço Marques (Maputo), 1961. Editada. Fonte: Rangel (2004a). 5. Considerações finais O estudo das imagens permite aprofundá-las, pensar com, através e além delas, já que o trabalho antropológico deve envolver o modo fotográfico de olhar para os agentes sociais, a rua, a cidade, e pensar a lógica que abrange essa experiência, o que permite, ainda, manipular o material de Rangel, retirando-o de seu silêncio próprio, da imagem isolada, recombinandoas e procurando semelhanças para criar séries, bem como novos arranjos, a partir de padrões materiais, formais e temáticos. Segundo Ginzburg (2007), a análise de imagens deve seguir rastros, traços, resquícios, elementos que, somados, permitem montar conjuntos que (re)contam as histórias e narrativas que daí emergem. É preciso pensar até que ponto as fotografias de Rangel sinalizam temporalidades e territórios outros, paradoxais e ocultos. É nessa medida que, acredito, as imagens do fotojornalista moçambicano sobre o período colonial em seu país oferecem elementos importantes para uma compreensão dessa história. As questões sugeridas por Assmann (2002), nesse sentido, podem ser importantes, visto que enquadram a memória coletiva de um país, adquirida e elaborada a partir da transmissão de experiências, como construção simbólica, perpetuada por textos, monumentos e imagens. Em especial, a fotografia seria um mediador exemplar de suporte da memória social e de transmissão de experiências. Por sua vez, Samain (2012) propõe verificar a forma pela qual as imagens nos fazem pensar, como veiculam conhecimento e como estabelecem relações de sentidos ao combinar dados (traços, cores e relevos) e ao associarem-se com outras imagens. Isso é possível porque as imagens participam das histórias e memórias que as precederam, daquelas que fazem face ao momento em que foram produzidas e, ainda, de um futuro possível, ao reformular-se em outros usos e direções. Didi-Huberman (1998: 161), em sentido semelhante, sugere perceber a imagem como vivência, experiência e sobrevivência que atravessa e se nutre do tempo, impondo uma dupla distância, que se configuraria a partir de “um jogo assimétrico do próximo e do longínquo”. Figura 5 – “Rua Araújo”, Ricardo Rangel, Lourenço Marques (Maputo), 1960. Fonte: Rangel (2004b). A obra de Rangel vai além do questionamento da retórica, e realidade, colonial; ela marca e faz sensível e assimilável esse mundo. A figura 5 apresenta traços da efervescência da noite de Lourenço Marques e, também, a marca colonial em seu registro. Tal imagem condensa e multiplica várias interpretações, possibilita ao “leitor”, com uma imagem singela, um desdobramento, um questionamento. Essa é uma de suas características narrativas mais visíveis: justapor contradições, favorecer a ambiguidade, revelar espaços, resquícios e ecos que sussurram abaixo de uma superfície tomada dentro da aparência da normalidade. A arte da narrativa está, justamente, em evitar explicações, pois o leitor “é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação”, de tal modo que a narrativa “conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver” (BENJAMIN, 1994: 203-204). Dessa forma, o material da imagem tem de ser complexificado, transformando as fotografias, aparentemente simples, em “iluminações profanas”. Nesse sentido, compreendemos que as fotografias de Rangel logram provocar um impacto sensorial, um conhecimento sensível que tomamos como campo, como experiência fotográfica, propriamente dita. Restam muitas questões, obviamente. O que as imagens de Rangel permitem conhecer e compreender sobre o colonialismo tardio em Moçambique, e quais os mecanismos narrativos que ele mais utilizou para a construção de uma memória desse período? Vale dizer: quais os limites e possibilidades de seu trabalho fotográfico, primeiro, na construção de uma memória de Moçambique, e, segundo, na transmissão de experiências? Afinal, qual o potencial de suas imagens na geração de novos conhecimentos sobre o evento traumático que foi o colonialismo? E, enfim, em que medida sua obra pode ser tida como instrumento de transmissão de experiência sobre esse passado? Estas são perguntas ainda por responder. Referências bibliográficas ALMEIDA, M. (2000) Um mar cor da terra: “raça”, cultura e política de identidade. Oeiras: Celta. ASSMANN, A. (2002) Ricordare. Bologna: Mulino. BENJAMIN, W. (1994) Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense. _____. (2006) Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG. CABAÇO, J. (2009) Moçambique: Identidade, colonialismo e libertação. São Paulo: Unesp. CAIUBY NOVAES, S. (2008) Imagem, Magia e Imaginação: desafios ao texto antropológico. Mana, Rio de Janeiro, 14(2), p.455-475. _____. (2009) “Imagem e ciências sociais: trajetória do uma relação difícil”. In: BARBOSA, A.; CUNHA, E; HIKIJI, R (Orgs.) Imagem-conhecimento. Campinas: Papirus. CASTELO, C. (2013) O luso-tropicalismo e o colonialismo português tardio. Buala, Lisboa. COUTO, F. (Org.) (2008) Ricardo Rangel: Homenagem de Amigos. Maputo: Ndjira. CRAVEIRINHA, J. (2008) Carta para o Ricardo sobre as suas fotografias. In: COUTO, F. (org.). Ricardo Rangel. Homenagem de Amigos. Maputo: Ndjira. DAWSEY, J. (1999) De que riem os bóias-frias? Walter Benjamin e o teatro épico de Brecht em carrocerias de caminhões. Tese (livre docência). São Paulo: SBD/FFLCH/USP, datilo. DIDI-HUBERMAN, G. (1998) O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34. _____. (2003) Images malgré tout. Paris: Les Éditions de Minuit. FAVRET-SAADA, J. (2005) Ser afetado. Cadernos de Campo, São Paulo, n.13, pp.155-161. FERRO, M (Org.) (2004) O livro negro do colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro. FIRSTENBERG, L. (2001) “Postcoloniality, Performance and Photographic Portraiture”. In: ENWEZOR, O (Org.). The Short Century. Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994. Munich: Prestel Verlag. FREHSE, F. (2005) “Antropologia do Encontro e do desencontro: fotógrafos e fotografados nas ruas de São Paulo (1880-1910)”. In: MARTINS, J; ECKERT, C; CAIUBY NOVAES, S (Orgs.). O imaginário e o poético nas Ciências Sociais. Bauru: EDUSC. FREYRE, G. (2013) Casa-grande & senzala. São Paulo: Global Editora. _____. (1938) Conferências na Europa. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde. _____. (1940) O mundo que o português criou. Rio de Janeiro: José Olympio. _____. (1953) Um brasileiro em terras portuguesas. Rio de Janeiro: José Olympio. _____. (1958) Integração portuguesa nos trópicos. Lisboa: Tipografia Minerva. _____. (1961) O luso e o trópico. Lisboa: C. Ex. do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique. GINZBURG, C. (2007) O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Cia das Letras. HONWANA, L. B. (2010) Revisitar Ricardo Rangel. Maputo: Kulungwana. LE GOFF, J. (2003) História e memória. Campinas: Editora da Unicamp. LÖWY, M. (2009) “Introdução”. In: Revoluções. São Paulo: Boitempo. MACDOUGALL, D. (2006) The corporeal image. Princeton: Princeton University Press. MARTINS, J. S. (2011) Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo: Contexto. MENDONÇA, J. (2005) Pensando a Visualidade no campo da Antropologia: reflexões e usos da imagem na obra de Margaret Mead. Tese de doutorado. UNICAMP, Campinas. MITCHELL, W. (2002) O ensaio fotográfico: quatro estudos de caso. Cadernos de Antropologia e Imagem, Rio de Janeiro, 15(2), pp.101-131. MOREIRA LEITE, M. (1999) “O opaco e a transparência no texto visual”. In: ECKERT, C; MONTE-MOR, P (Org.) Imagem em Foco. Porto Alegre: Editora da UFRS. _____. (1998) “Retratos de família: imagem paradigmática no passado e no presente”. In: SAMAIN, E (Org.) O fotográfico. São Paulo: Editora HUCITEC. NORA, P. (1993) Entre história e memória. Projeto História, São Paulo, v.10, p.7-28. OLIVEIRA, Lucas Amaral de. (2003) Primo Levi e os rumores da memória: limites e desafios na construção do testemunho. Dissertação (Mestrado em Sociologia), USP, São Paulo. RANGEL, R. (2004a) Ricardo Rangel - Fotógrafo. Montreuil: Éditions de l’Oeil. _____. (2004b) Pão Nosso de Cada Noite. Maputo: Marimbique. _____. (2008) História, Histórias… 50 Anos de Fotojornalismo em Moçambique. Maputo: CCFM. _____. (2002) Foto-jornalismo ou Foto-confusionismo. Maputo: Imprensa Universitária. RIBEIRO, M. C. (2004) Uma história de regressos. Porto: Edições Afrontamento. RICOEUR, P. (2007) A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp. ROUILLÉ, A. (2009) A fotografia. Editora SENAC. São Paulo. SAMAIN, E. (2000) Gregory Bateson: Antropólogo e Comunicólogo. Cadernos de Pós-Graduação da UNICAMP, Campinas, v. 4, n. 1. _____. (2012) “As imagens não são bolas de sinuca. Como pensam as imagens”. In: Como pensam as imagens. Campinas: Editora Unicamp. SILVA, A. C. (2003) Um rio chamado Atlântico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/UFRJ. SOPA, A. (2002) “O Fotojornalismo em Moçambique”. In: Z’GRAGGEN, B; NEUENBURG, G. L (Orgs.) Iluminando Vidas. Ricardo Rangel e a Fotografia Moçambicana. Maputo: Christoph Merian Verlag. SORRINI, A. (2013) Fotografia e forma breve: una narrativa del Mozambico. Tese (Doutorado em Literatura). Universidade de Bolonha. TACCA, F. (2011) Andarilhagens portenhas: crônicas fotográficas sobre Buenos Aires. Líbero, São Paulo, v. 14, n. 27. _____. (2007) Fotografia. Fotográficos, v.3, n.3. Intertextualidades e Hibridismos. Discursos _____. (2001) A Imagética da Comissão Rondon. Campinas: Papirus. TEIXEIRA, J. P. (2012) A lente pertinente: Ricardo Rangel no “Pão nosso de cada noite”. Anais do Colóquio Sobre a Obra de Rangel. Centro Cultural Brasil – Moçambique, Maputo. THOMAZ, O. (2002) Ecos do Atlântico Sul: representações sobre o terceiro império português. Rio de Janeiro: UFRJ/Fapesp. VECCHI, R. (2010) Excepção atlântica. Porto: Afrontamento. Z’GRAGGEN, B; NEUENBURG, G. L (Orgs.). (2002) Iluminando Vidas: Ricardo Rangel e a Fotografia Moçambicana. Christoph Merian Verlag.
Baixar