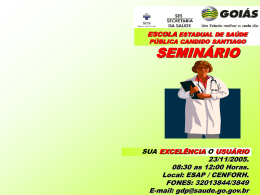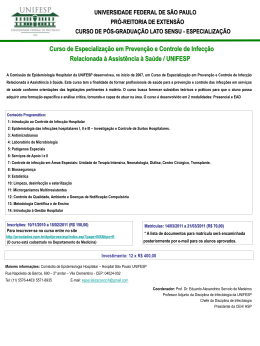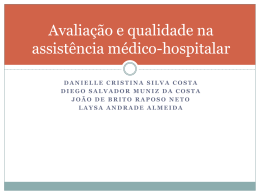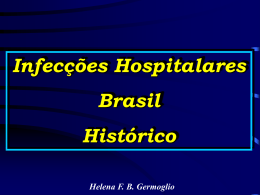UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I CURSO DE PEDAGOGIA – ANOS INICIAIS FERNANDA BARRETTO FONTES FERREIRA CORPOREIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA CLASSE HOSPITALAR E DOMICILIAR DO NÚCLEO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER INFANTIL - NACCI Salvador 2012 FERNANDA BARRETTO FONTES FERREIRA CORPOREIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA CLASSE HOSPITALAR E DOMICILIAR DO NÚCLEO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER INFANTIL - NACCI Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção da graduação em Pedagogia – Anos Iniciais, do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, sob orientação do Prof. Dr. Gilmário Moreira Brito. Salvador 2012 FERNANDA BARRETTO FONTES FERREIRA CORPOREIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA CLASSE HOSPITALAR E DOMICILIAR DO NÚCLEO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER INFANTIL - NACCI Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção da graduação em Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, sob orientação do Prof. Dr. Gilmário Moreira Brito. Salvador, 30 de março de 2012. _________________________________________ Profº. Gilmário Moreira Brito (Orientador) _________________________________________ Profº. Walter Von Czékus Garrido _________________________________________ Profª. Rilza Cerqueira Santos A minha mãe, meu pai, meus avos e irmãos que em especial me ensinaram a viver e a ser o que sou hoje e serei amanhã. Adenilton, meu querido esposo, por seu amor, dedicação e compreensão. A Pedro, meu filho querido, que apesar de não ver o rostinho ainda, já sinto presente e me estimulando a completar mais essa jornada da minha vida. AGRADECIMENTO São tantos e tão especiais... Primeiramente a Deus, por ter me dado a benção de poder desfrutar de todas as maravilhas da vida; a minha mãe, que com sua eterna dedicação me estimulou e incentivou a seguir neste curso, uma vez que eu já estava em outra universidade no Curso de Licenciatura em Educação Física. Se não fosse pelos esforços dela e de meu pai com toda certeza o caminho percorrido por mim durante esses anos seriam muito mais árduos. Aos meus avos e irmãos que sempre me incentivaram. Ao meu esposo que com sua paciência escutava atencioso meus desabafos durante a realização desta monografia. E a toda minha família. Em especial ao professor orientador Gilmário Moreira Brito pela confiança na minha pesquisa, ao professor Walter Von Czékus Garrido pelo estimulo à minha pesquisa e à professora Rilza Cerqueira Santos por participar da tão esperada banca de aprovação. Não obstante a todos os meus professores, colegas e amigos que me estimularam e não me deixaram desistir desse maravilhoso tema, em especial à Jamin Santana por estar sempre presente nessa longa caminhada acadêmica. Determinação coragem e auto confiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estivermos possuídos por uma inabalável determinação conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstancias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. (Dalaí Lama [ca.1980] p. 1) RESUMO Esse é o trabalho monográfico realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica e de campo, exigido pelo curso de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Apresenta como problemática compreender através de observação no campo, do registros das atividades na Classe Hospitalar e Domiciliar e das analise das atividades corporais, como as crianças em situação de ambiente hospitalar são trabalhadas por professores nas Classes Hospitalares e Domiciliares. O objetivo do estudo foi a necessidade de verificar de que forma o corpo da criança é tratado na escolarização no contexto hospitalar. Tendo como objetivos específicos Identificar as práticas pedagógicas que orientam as Classes Hospitalares e Domiciliares e suas relações com os conceitos e fundamentos legais; Identificar quem são e quais as formações dos sujeitos que mediam o processo de aquisição do conhecimento; Verificar através das práticas pedagógicas existentes no Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil – NACCI, observando o contexto da instituição e das relações que estabelece como a sociedade e como se verifica o processo de aquisição do conhecimento levando em conta a cultura corporal. Assim sendo, trataremos sobre a corporeidade e utilização desta como meio de aprendizado. Abordamos aspectos sobre a visão dos educadores sobre o corpo, sua utilização na sala de aula e a forma como este tratamento poderá interferir sobre a aprendizagem educacional infantil, verificando na prática como isso acontece efetivamente. Os resultados da pesquisa apontam que apesar do pouco tempo de observação, foi verificado que as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras na instituição não levam em conta a cultura corporal, pois as atividades desenvolvidas não contemplavam o corpo no processo de aquisição de conhecimento. Essas práticas eram na maioria das vezes voltadas para leitura e escrita, porém eram atividades impressas que não necessitavam da expressão corpórea. Como o fator tempo de observação não ajudou muito, não podemos afirmar que em nenhum momento da prática pedagógica das professoras elas fazem uso da cultura corporal com os educandos. Contudo, foi percebido que a patologia, em especial na Classe Hospitalar e Domiciliar do NACCI, não era empecilho para que fossem desenvolvidas atividades que contemplasse a corporeidade dos alunos. Palavras-Chave: Classes Hospitalares. Corporeidade. Educação Especial. Cultura Corporal ABSTRACT This monograph is made from a literature search and Field, required by the Faculty of Education at the University of Bahia – UNEB. Shows how to understand problems through field observation, the activity logs in Hospital Class and Home and analysis of bodily activities, such as children at the hospital are worked by teachers in Classes Hospital and Domiciliary. The aim of this study was the need to verify how the child’s body is treated in schooling in the hospital. Review aimed to identify the specific teaching practices that guide Classes Home and Hospital and its relations with the concepts and legal grounds, identify who they are and what the formations of the subjects that mediate the process of acquiring knowledge; Check through the pedagogical practices existing in Center for Support and Combat Childhood Cancer – NACCI, noting the context of the institution and establishing relationships as society and as shown in the process of knowledge acquisition taking into account the physical culture. Therefore, we will corporeality and use this as a means of learning. We discuss aspects of the vision of educators on the body, its use in the classroom and how this treatment can interfere with children’s educational learning, checking in practice as it really happens. The survey results indicate that despite the short time of observation, we determined that the pedagogical practices developed by teachers in the institution do not take into account the physical culture, because the activities did not cover the body in the process of knowledge acquisition. These practices were mostly focused on reading and writing, but they were printed activities that did not require the bodily expression. As the observation time factor did not help, we cannot say that at no time of the pedagogical practice of teachers they make use of physical culture with the students. However, it was realized that the pathology, particularly in the Hospital Class and Home NACCI was not impediment to activities that were developed that encompassed the embodiment of the students. Keywords: Hospital Class. Embodiment. Special Education. Body Culture. LISTA DE TABELAS Tabela 1 Ação estimuladora por faixa etária proposta por Friedmann ...................... 38 LISTA DE SIGLAS CENESP Centro Nacional de Educação Especial C.N.E.F.E.I Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes. CONANDA Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. GACC Grupo de Apoio a Criança com Câncer. LDB Lei de Diretrizes e Bases MEC Ministério da Educação e Cultura. NACCI Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil. OMS Organização Mundial de Saúde. SECULT Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. UNEB Universidade do Estado da Bahia. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 11 2 EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONCEITOS QUE TRANSFORMAM ............ 17 2.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL ....................................................................................... 17 2.1.1 Classe Hospitalar e Domiciliar: Educação que inclui ....................................... 20 3 CORPOREIDADE: O USO DA CONSCIÊNCIA CORPORAL ................. 25 3.1 A CULTURA CORPORAL COMO MEIO DE APRENDIZADO SIGNIFICATIVO .. 28 4 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NAS CLASSES HOSPITALARES E DOMICILIARES: DA TEÓRIA À PRÁTICA .................. 32 4.1 O QUE ENCONTRAMOS NA LITERATURA ......................................................... 32 4.2 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CORPORAIS NA CLASSE HOSPITALAR E DOMICILIAR DO NÚCLEO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER INFANTIL - NACCI ...................................................................................................................................... 39 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 46 REFERÊNCIAS ................................................................................................... 48 FICHA CATALOGRÁFICA Sistema de Bibliotecas da UNEB Ferreira, Fernanda Barretto Fontes. Corporeidade no processo de ensino-aprendizagem na classe hospitalar e domiciliar do Núcleo de Apoio ao Combate ao Câncer Infantil - NACCI / Fernanda Barretto Fontes Ferreira - Salvador, 2012. 48f. Orientador: Prof. Gilmário Moreira Brito. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Colegiado de Pedagogia Campus I. 2012. Contém referências. 1. Crianças doentes - Educação. 2. Crianças - Assistência hospitalar. 3. Educação especial. 4. Prática pedagógica. 5. Aprendizagem. I. Brito, Gilmário Moreira. II. Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação. CDD: 371.9 11 1 INTRODUÇÃO O tema Corporeidade nas Classes Hospitalares e Domiciliares que será abordado neste trabalho instigou meu interesse pelo fato de que na infância por motivos de doença, as idas à hospitais eram frequentes, fazendo com que os estudos ficassem um pouco de lado, porém nada que me impedisse de retomar os estudos e concluílo em tempo. Isso me despertava a inquietação de que, como o que eu tinha não era tão grave, pensava em como seria o processo de escolarização das crianças que possuíam patologias mais serias. Ao entrar na universidade, no curso de Pedagogia, essa lembrança veio à tona e descobrir que estar hospitalizada não era mais problema para aprender. O objeto de estudo, que é a corporeidade nas Classes Hospitalares e Domiciliares, é de fundamental relevância, tanto para mim enquanto pesquisadora quanto para sociedade, pois visualizar como acontece o processo de escolarização em diferentes ambientes é fator primordial para uma boa formação e o desenvolvimento de uma educação de qualidade deve-se dá em todos os ambientes de ensino. O (re)conhecimento do funcionamento da escola no hospital e nos espaços de tratamento da saúde para a formação dos professores é muito importante, pois adoecer faz parte da vida e nesse momento o educador ali inserido poderá, através de praticas pedagógicas condizentes aquele contexto, auxiliar à recuperação mais rápida da criança enferma. A Universidade, meio de aquisição de conhecimento nos traz através de diversos teóricos da área diversos conceitos, como que a educação se constitui num veiculo de transmissão de valores sociais, culturais, tradições que acompanham o ser humano desde a sua existência até o final desta. No começo do período de escolarização que chamamos de educação infantil, podem-se incluir ações pedagógicas capazes de favorecer a inclusão da criança ao grupo que pertence, proporcionando assim a compreensão e sensação de pertencimento do grupo ao qual se encontra vinculada. As ações pedagógicas não ocorrem somente na escola, elas estão presentes na família, nos meios de comunicação, materiais informativos, na criação e elaboração de jogos e brinquedos, pois a socialização - processo educativo que torna o 12 individuo um membro da sociedade – promove a interação entre os seres humanos, para adquirirem a capacidade de ação e reação juntamente com outros seres, exercendo seu papel de sujeito de suas ações. Não obstante, sabe-se que todos os seres humanos estão susceptíveis de adoecer, porém, quando existe necessidade de hospitalização, contudo, várias consequências nefastas advêm deste episódio, seja ela um incomodo por conta da patologia, ingestão de medicamento ou até por alguma mutilação sofrida. Particularmente quando se trata de crianças, que por estarem doentes estão com necessitadas de internação hospitalar, esse processo se constitui em situação muito mais sacrificante e desagradável do que possa parecer, mesmo que a hospitalização seja por curto período de tempo. Em situações como esta, a criança portadora de enfermidade que é obrigada a conviver em ambiente hospitalar, se depara com uma realidade desconhecida e hostil que pode levá-la a interpretar essa experiência como fracasso, pois ocorre a perda de sua autonomia ficando impedida de realizar suas tarefas escolares de rotina, como é o caso das atividades lúdicas e escolares, afastando-se diretamente de suas necessidades sociais, culturais e afetivas. Atentando para ocorrências dessa natureza, instituições de saúde, em sua maioria públicas, buscando atender as Diretrizes do Governo Federal, implementam nos espaços hospitalares e domiciliares (casas de apoio) para pacientes do setor de pediatria as chamadas Classes Hospitalares e Domiciliares, que segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica compostas pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC (BRASIL, 2001) é o local destinado a prover a educação às crianças que por motivo de doença estão impossibilitadas de frequentar a escola regularmente. Apesar de toda legislação que lhe ampara a maioria dessas Classes podem até ser instaladas no próprio leito do paciente, por falta de espaço físico específico no hospital. Devido à patologia, as crianças que estão em situação de internamento hospitalar ficam muitas vezes impossibilitadas de praticar alguns tipos de atividades e brincadeiras. E como o universo da criança é lúdico, pois tudo que ela faz de livre vontade é por prazer e corporalmente, é por meio destas que o aprendizado deve acontecer, fazendo assim com que o interesse e a vontade de está em contato com o meio educacional floresçam e o corpo debilitado não seja um empecilho para uma 13 aprendizagem significativa. Nesse sentido, buscamos compreender de que forma as práticas educativas são desenvolvidas nas Classes Hospitalares e Domiciliares de maneira a tornar o corpo que ali está inerte em um leito mais propenso para o aprendizado cognitivo, fazendo com que seja contemplado em seu processo de desenvolvimento o sujeito como um todo e que não somente haja a preocupação com sua mente. Essa pesquisa busca compreender através de observação no campo, do registros das atividades na Classe Hospitalar e Domiciliar e das analise das atividades corporais, como as crianças em situação de ambiente hospitalar são trabalhadas por professores nas Classes Hospitalares e Domiciliares. Ante a essa problemática do estudo elegemos como problema a necessidade de verificar de que forma o corpo da criança é tratado na escolarização no contexto hospitalar? A pesquisa foi desenvolvida a partir de um levantamento bibliográfico, utilizando livros didáticos e artigos científicos nacionais, observação de campo através de anotações em diários de campo, questionário e observações considerando os seguintes objetivos específicos: Identificar as práticas pedagógicas que orientam as Classes Hospitalares e Domiciliares e suas relações com os conceitos e fundamentos legais; Identificar quem são e quais as formações dos sujeitos que mediam o processo de aquisição do conhecimento; Verificar através das práticas pedagógicas existentes no Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil – NACCI, observando o contexto da instituição e das relações que estabelece como a sociedade e como se verifica o processo de aquisição do conhecimento levando em conta a cultura corporal. Parte desse estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa exploratória do tipo revisão bibliográfica fundamentada em artigos científicos, livros e periódicos de publicação nacional. O estudo desenvolve-se através de uma abordagem qualitativa, pois a análise dos dados é feita de maneira descritiva, na qual a preocupação com todo processo de investigação é mais focada do que o resultado final. De acordo com a proposta de Ludke (1986), o contato com o ambiente traz a realidade como ele realmente se apresenta, fazendo com que todos os objetos observados tenham sua importância. Todo material recolhido foi submetido a uma 14 analise, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de um estudo que se fez acompanhar as interpretações e anotações que, eventualmente, servirão à fundamentação teórica do estudo. Para o desenvolvimento desse estudo, será desenvolvido capítulos que embasem o tema em questão, que trata da corporeidade no processo de ensino-aprendizagem nas Classes Hospitalares e Domiciliares. Além da analise do material (diário de campo, atividades realizadas e fotos) recolhido durante as observações. A metodologia aplicada à pesquisa iniciou-se através de revisão bibliográfica, observação de campo e analise e discussão do material observado. Através da revisão de literatura buscamos conceitos e fundamentos que pudessem embasar o tema em questão, através da revisão bibliográfica de livros, artigos científicos, Diretrizes Governamentais e também palestras sobre o referido assunto. Procuramos estruturar essa pesquisa através de capítulos que se desenvolvem seguindo uma cronologia, primeiramente esta introdução onde visamos apresentar os objetivos, a problemática, o problema, os procedimentos metodológicos e elementos que justificam a pesquisa sobre o referido tema. O segundo capitulo, vem trazer o desenvolvimento através do referencial teórico, onde trazemos os aspectos referentes à revisão bibliográfica. Este é encontrado através dos referidos títulos: A Educação Especial: conceitos que transformam, onde traremos sobre o referido título de maneira a inserir o leitor nesse modelo de educação. A partir daí abre-se espaço a outra seção: Classe Hospitalar e Domiciliar: educação que inclui. O terceiro capitulo trás ainda conceitos que ajudam a embasar o referido tema desta pesquisa, Corporeidade nas Classes Hospitalares e Domiciliares, o qual foi intitulado de Corporeidade: o uso da consciência corporal, sendo precedido pelo subcapitulo: a cultura corporal como meio de aprendizado significativo. Dialogando assim com conceitos que serão de extrema importância para o bom entendimento do tema em questão. No capitulo seguinte, intitulado de “Reflexões sobre a prática docente nas Classes Hospitalares e Domiciliares: da teoria à prática” o qual será desdobrado em dois subcapítulos com os referidos nomes: O que encontramos na literatura, o qual vem embasar sobre a prática docente, de acordo com os achados bibliográficos e o outro 15 intitulado A prática pedagógica e corporal na Classe Hospitalar e Domiciliar do NACCI, onde buscamos demonstrar os fatos observados durante o período de observação na Instituição escolhida para finalizar a pesquisa no próximo capitulo através de considerações finais que possam contribuir para evolução da educação nessa área. È importante esclarecer que durante a pesquisa passamos por alguns entraves para a escolha da Instituição em questão, pois no período de inicio do encaminhamento à Instituição desejada e tão esperada observação, descobri que estava grávida, e, por recomendações médicas, não pude ir a hospitais que pusessem em risco minha gestação. Começou ai mais uma correria para verificar um local que fosse mais adequado a minha atual situação. Através de contatos com pessoas muito solicitas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SECULT e com uma das professoras da Classe Hospitalar e Domiciliar do Hospital Aristides Maltez resolvemos então que a pesquisa seria desenvolvida numa casa de apoio, o NACCI. A observação foi desenvolvida na sala de aula intitulada professora Tércia Borges, localizada na Escola Hospitalar e Domiciliar SECULT, no NACCI que, é também conhecida como Casinha Almerida Argouelo Rivarola, que iniciou suas atividades em 27 de outubro de 1994, gerado da iniciativa de amigos em comum sobre a liderança e perseverança de Clayton Costa Oliveira, que sempre atuou como voluntário em instituições trabalhando em prol da cidadania e tratamento digno para as crianças portadoras de câncer. 1 O NACCI é uma instituição filantrópica, localizada no bairro da Saúde em Nazaré, na qual atende crianças com câncer advindas do interior do Estado e região metropolitana de Salvador. Essas crianças são atendidas pelos hospitais Hemoba, Martagão Gesteira e Hospital das Clinicas. Lá elas recebem alimentação, medicamentos (que são doados pelos órgãos competentes), translado para o hospital e para sua cidade de origem, além da estadia para ela e o acompanhante pelo tempo necessário para o tratamento. A foto a baixo traz a imagem da fachada da instituição: 1 Informações contidas no site da Instituição 16 Fachada da Instituição A maioria dos funcionários são voluntários, porém o corpo docente é composto por professoras que são encaminhadas pela SECULT. As aulas são ministradas por duas professoras: Francisca, que já tem 10 (dez) anos de experiências em Classes Hospitalares e Domiciliares e Adriana com apenas 1 (um) semestre ministrando aulas em Classes de ambientes hospitalares, porém acabou de ingressar na Instituição tendo apenas duas semanas de experiência apenas no NACCI. 17 2 EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONCEITOS QUE TRANSFORMAM Para tratar de um tema tão importante quanto o corpo nas Classes Hospitalares e Domiciliares é fundamental dialogar com conceitos e referências que possibilitem ampliar nossa percepção dos significados apreendidos no campo de pesquisa. Nessa perspectiva, as vivências na infância podem ser um período de constante aprendizado fazendo com que essa dinâmica seja mais corporal que na fase adulta; assim conceitos como educação formal e especial, classes hospitalares, corporeidade e cultura corporal são de fundamental importância para alimentar os diálogos, discussões e reflexões sobre esse trabalho, não poderiam deixar de ser abordados. 2.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL A educação é muito importante para o ser humano, como somos diferentes e existem pessoas que necessitam de uma atenção especial por terem algum problema que afete seu lado cognitivo houve-se a necessidade da criação de uma educação que contemplasse esse público, chamada Educação Especial. Por esse motivo para conceitua-la utilizaremos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que nos diz que, A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL 2007, p. 10). Para entendermos mais sobre a modalidade de ensino especial é interessante compreender como ela surgiu, foi aprimorada e implantada para entender qual a necessidade de criar nova modalidade educacional que contemple as pessoas com necessidades especiais. De acordo com estudo histórico desenvolvido por Kassar (2011, p. 43) a Educação Especial surgiu na maior parte do Brasil desde o período da Colônia e do Império, a 18 partir da necessidade de manter o ambiente escolar mais homogêneo e, considerado, mais produtivo. Em muitos Estados foram “implantados serviços de higiene para identificação de crianças anormais”, para confirmar à sociedade que há exclusão das crianças com necessidades especiais, daquelas ditas “normais”, assim como não pertenciam a classe abastarda da sociedade também não tinham acesso a uma educação de qualidade, como vemos, inclusive na atualidade. Assim, ainda de acordo com Kassar (2011), a atenção direcionada para pessoas com deficiência (Educação Especial) deu-se, em grande medida, pela ação de um conjunto de instituições privadas de caráter assistencial, não considerada pertencente à rede de ensino brasileira. (KASSAR 2011, p. 44) Percebe-se pelos estudos de Kassar que os grupos mais pobres da população, que mais necessitavam de uma educação de qualidade eram excluídos da sociedade, e depositadas em instituições assistenciais que muitas vezes nem eram especializadas, as quais serviam apenas de deposito para esconder o que a sociedade não desejava ver. Muito tempo se passou e nenhuma atitude real foi tomada para evitar essa situação de exclusão das pessoas com necessidades especiais, somente após a criação da LDB - Lei de Diretrizes e Bases de 1961 foi que a criança com necessidade especial passou a ser vista como um ser, porque passou a reconhecer, [...] a educação dos “excepcionais” quando indica sua matrícula “dentro do possível” na rede regular de ensino, mas ao mesmo tempo garante apoio financeiro às instituições especializadas. Chama a atenção a proposição da matrícula na rede regular para alunos que, cerca de trinta anos antes, eram dispensados da escola. (KASSAR 2011, p 44) Essas pistas apontadas acima por Kassar indicam que a partir da LDB de 1961 começou haver uma inclusão disfarçada demonstrando o real interesse do Governo em não inserir verdadeiramente as crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino, pois através de apoio financeiro dado às instituições especializadas ratifica que elas estariam ali inseridas apenas para constar, pois o verdadeiro ensino era prestado fora da rede regular. 19 Contudo, em 1971 após a criação do Centro Nacional de Educação Especial – CENESP é que começaram dispensar maior atenção e relevância à Educação Especial no Brasil, porém, a referida atenção não era sem propósito, tinha em seu intimo, motivações econômicas, já que uma pessoa portadora de necessidade especial, ou seja, um “excepcional” que soubesse trabalhar, de alguma forma, seria menos onerosa aos cofres públicos. Somente com a Constituição Federal de 1988, é que a educação escolar passou a ter formato de uma educação inclusiva e sua disseminação está relacionada a três aspectos: O primeiro refere-se a mudanças importantes ocorridas pelo mundo, relativas ao atendimento das pessoas com deficiências. No final da II Guerra Mundial, [...] a Organização Internacional do Trabalho (OIT)14 apresentou, [...] entre suas preocupações a garantia de emprego para os mutilados de guerra e indenizações (...); O segundo refere-se ao movimento de pessoas com deficiências ou de pais e profissionais ligados a elas que, [... na] década de 1950, organizamse em associações em defesa de seus direitos; As instituições passaram a se internacionalizar, articulando-se através de redes de informação e de colaboração, com a formação de ligas, congressos, associações, entre outros. O terceiro, às convenções internacionais que são aceitas e ratificadas pelo Brasil. A relação entre a política pública brasileira [...] diz respeito ao processo de internacionalização da economia, que conta com a participação direta de proposições estabelecidas com instituições financeiras internacionais. (KASSAR 2011, p. 47) Uma leitura desse contexto permite perceber que a educação inclusiva passou por diversas fases para que pudesse ser consolidada e aceita em nossa sociedade. Após a Segunda Guerra Mundial, a união de pais e profissionais ligados às pessoas com algum tipo de deficiência e a internacionalização entre as políticas públicas, fez com que houvesse a necessidade de uma reformulação mais consistente no quadro educacional inclusivo do Brasil. Não que esta legislação seja perfeita, mas já é um passo para esse reconhecimento, pois através de diversas convenções e documentos como a Declaração de Viena em 1993, Declaração de Salamanca em 1994, na nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996, entre outros, os direitos das pessoas com necessidades especiais começam a ser respeitados. 20 Dentro desse contexto, surgem as Classes Hospitalares, que é uma modalidade de Educação Especial e Inclusiva que visa atender e dar atenção educacional a alunos com necessidades especiais, pois o estar hospitalizado já caracteriza a criança como portadora de necessidades especiais, independente de ser esta necessidade temporária (uma doença que, se tratada, é curada) ou permanente (além da doença que acarretou a internação, a criança é portadora de síndrome de Down ou paralisia cerebral, por exemplo). (FONSECA 2003, p. 16) Essa modalidade de educação vem assumir um papel essencial na vida das crianças que estão impossibilitadas de frequentar a classe regular de ensino. Assim sendo, há uma necessidade de compreender sobre essa modalidade educacional, conhecendo histórico, conceitos e legislações que embasem o referido tema. Além de conhecer seu funcionamento tanto nacionalmente assim como a especificidade da Classe observada para esse estudo. 2.1.1 Classe Hospitalares e Domiciliar: Educação que inclui Adoecer faz parte da vida e como a hospitalização é uma experiência desagradável para um adulto, essa situação se agrava ainda mais quando se trata de uma criança que não tem autonomia e poder para tomar iniciativas e decisões. De acordo com Kumamoto (2003) e Isayama (2005) quando uma criança é hospitalizada suas atividades psicomotoras, funções afetivas e cognitivas ficam comprometidas devido ao estado patológico em que se encontram. Diante desses incômodos, mesmo que a hospitalização seja por um curto período de tempo, a criança depara-se com um contexto desconhecido e hostil, que ela pode compreender como uma experiência negativa, tanto pela perda da autonomia como por perceber que está impedida da realização de tarefas e atividades rotineiras, que, de certa forma, lhe mantém afastada do convívio familiar, social e escolar, comprometendo integralmente o cotidiano infantil. Nesse sentido a implementação de um espaço para o desenvolvimento das atividades escolares dentro do ambiente hospitalar, faz-se necessário para que essas crianças e adolescentes segundo Fonseca (2003, p. 8) tenham “a chance de 21 atualizar suas necessidades, desvincular-se mesmo que momentaneamente das restrições que um tratamento hospitalar impõe, e adquirir conceitos importantes tanto para sua vida escolar quanto pessoal”. Desta forma, o internamento poderá ser menos doloroso e através do resgate de parte de sua vida cotidiana que havia sido rompida ela poderá ter um tratamento mais humanizado e quiçá mais rápido. Contudo são diversos os autores que abordam a temática e utilizam nomenclaturas diferentes para enfocar o mesmo tema. Podemos destacar Fonseca (1999), Medeiros (2004), Invernizzi (2005), Vaz (2005), Fontes (2005) e Funghetto (2006) que trabalham e usam o conceito Classe Hospitalar. Biscaro (2006) e Esteves (Sd) descrevem como Pedagogia Hospitalar e, posteriormente, Fonseca (2003) apresenta outra terminologia diferente da Classe Hospitalar, modificando essa nomenclatura para Escola Hospitalar por considerá-la mais abrangente. Porém, neste estudo usaremos o conceito de Classe Hospitalar e Domiciliar, que de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL 2001, p. 51) a define como “serviço destinado a prover, mediante atendimento especializado, a educação escolar a alunos impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de tratamento de saúde, que implique internação ou atendimento ambulatorial”. Para recuperar aspectos históricos da Educação Especial e, principalmente, sobre atividades educativas realizadas em ambiente hospitalar, recorremos a Esteves (Sd, p.2) o qual localiza que “a Classe Hospitalar teve seu inicio em 1935, quando Henri Sellier inaugura a primeira escola para crianças inadaptadas, nos arredores de Paris”. Esta tinha como principal objetivo, suprir as dificuldades escolares das crianças tuberculosas internadas nas instituições hospitalares. Porém, a referida autora considera que o marco decisório da implementação das referidas Classes foi a Segunda Guerra Mundial, já que ao longo dos cinco anos de batalhas em vários países o número de crianças e adolescentes mutilados e impossibilitados de ir a escola era muito grande e para promover o ingresso dos jovens na escola houve amplo engajamento, sobretudo dos médicos para a criação desse novo espaço hospitalar. É importante esclarecer que, no período de 1939, foi criado o C.N.E.F.E.I – Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes, que teve como objetivo principal à formação professores para desenvolver trabalhos em 22 Classes Hospitalares e Domiciliares cuja sua missão seria mostrar “que a escola não é um espaço fechado” (ESTEVES, s/d, p. 2). No Brasil, as Classes Hospitalares e Domiciliares “tiveram sua primeira atuação em meados de 1950, na Escola Hospital Menino Jesus, no Rio de Janeiro que está funcionando até hoje” (MARTINS Sd, p. 1). Em 1960 no Hospital de Base de Brasília criou-se a segunda experiência implementada no país. De acordo informações obtidas no I Congresso Baiano de Educação Inclusiva: a deficiência como produção social2, o Brasil até o ano de 2007 já contava com 105 hospitais com Classes Hospitalares em funcionamento. Ainda segundo informações divulgadas no mesmo Congresso o Hospital Sarah foi o primeiro a implementar esse modelo de educação em 1994 e em 2001 foi implantado no Hospital da Criança das Obras de Irmã Dulce, em parceria com a Prefeitura de Salvador. Em Salvador as demais instituições que incluem no setor pediátrico esta modalidade de atendimento são os Hospitais: Edgar Santos, Martagão Gesteira, Roberto Santos, Couto Maia, Santa Izabel, Aristides Maltez, o Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil – NACCI, a Casa da Criança Cardiopata e o Grupo de Apoio a Criança com Câncer - GACC, todas essas permanecem oferecendo esta modalidade de ensino aos seus pequenos pacientes/alunos. Segundo pesquisa realizada por Fonseca (1999, p 15) “as Classes Hospitalares e Domiciliares são, em geral, resultado de convênio entre as Secretárias de Educação e de Saúde”, que segundo a SECULT, é o caso das Classes que funcionam da Cidade de Salvador. Nesse sentido, todos os professores que estão inseridos neste espaço fazem parte do quadro de funcionários públicos municipais. Essa última autora identificou nos hospitais que pesquisou a falta de espaço físico, à maioria dessas Classes funcionavam nas próprias enfermarias, e as crianças participavam das aulas nos leitos. Em hospitais que possuem maior espaço físico, existem salas apropriadas para o funcionamento das classes hospitalares e muitas delas são também denominadas de brinquedoteca. Na maioria dos exemplos pesquisados, essa modalidade de ensino, a docência e a coordenação são feitas por pedagogas. O funcionamento deste tipo de ensino está embasado na Resolução nº 41 de 2 I Congresso Baiano de Educação Inclusiva: a deficiência como produção social, foi realizado no Centro de Convenções de Salvador nos dias 12 e 13 de novembro de 2007. 23 outubro de 1995, do direito da criança e do adolescente hospitalizado no item 9 em que cita o “direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, durante sua permanência hospitalar”. Esta modalidade de educação conta com o suporte da escola regular, pois a partir do momento que o aluno frequenta a Classe Hospitalar e Domiciliar ele passa a ter um cadastro com seus dados pessoais, de hospitalização e da escola de origem. Ao final de cada aula o professor registra o que foi trabalhado nesta ficha cadastro obedecendo todos os passos preconizados no processo como um todo. Segundo Esteves, o aluno que frequenta a classe por três dias ou mais é realizado contato telefônico com sua escola, comunicando da sua participação na classe e obtendo-se informações referentes aos conteúdos que estão sendo trabalhados, no momento, em sua turma. Após alta hospitalar, é enviado relatório descritivo das atividades realizadas, bem como do seu desempenho, posturas adotadas, dificuldades apresentadas (ESTEVES S/D, p 3). De acordo com o MEC, escrito por Brasil (1998) e a Organização Mundial de Saúde – OMS, a definição de saúde não está relacionada somente a ausência de doenças, já que o ser humano é considerado como um todo harmonioso integrado em seus aspectos biopsicosocioculturais e religiosos. A esse respeito, vários autores como Kumamoto (2003), Isayama (2005) e Funghetto (1998) puderam perceber uma atenção especial no Brasil, sobre a assistência à criança hospitalizada junto ao MEC, que, em 1984 criou o Centro Nacional de Educação Especial - CENESP lançando os subsídios para Organização e Funcionamento de serviços de Educação Especial – área de deficiências múltiplas. Além da lei nº 7853 de 24/10/1989 criada pela União que dispõe sobre o apoio da pessoa com deficiência, na qual situa em esfera nacional, a Classe Hospitalar como direito do Portador de Necessidades Especiais, há também atenção especial do Ministério da Justiça dedicada a esse tema que promulgou em 1995, os Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados. Além destes, a própria LDB 9394/96 (1996, p 3.) propõe que toda criança disponha de todas oportunidades possíveis para que os processos de desenvolvimento e aprendizagem não sejam suspensos, e a Resolução 41, de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA (1995 p. 1), que em seus artigos 8, 9 e 10 faz recomendações para os direitos da criança e do adolescente hospitalizados: 24 Art. 8: Direitos a ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico quando se fizer necessário. Art. 9: Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. Art. 10: Direito de seus pais ou responsáveis participarem ativamente do seu diagnostico, tratamento e prognostico, recebendo informações sobre os procedimentos ao qual que será submetida. Segundo Fontes (2006, p. 98) “é preciso deixar claro que tanto a educação não é elemento exclusivo da escola, assim como a saúde não é elemento exclusivo do hospital”, seguindo essa sugestão devemos compreender que o processo de ensino aprendizagem, desenvolvido num ambiente hospitalar, deve ser empreendido de modo diferente da pedagogia tradicional, uma vez que essa escolarização deverá contribuir para o bem-estar da criança enferma, socializando-a tanto no ambiente atual, como no contexto social. Segundo Fonseca (2003, p. 18) a Classe Hospitalar “serve como uma oportunidade extra de resgate da criança para a escola, a partir da qual terá condições de exercendo o seu direito de cidadão, aprender”. Assim sendo, a implementação dessa modalidade de ensino faz-se necessário para que as crianças que por motivo de saúde encontram-se afastadas do convívio escolar possam dar continuidade aos estudos e consequentemente a sua socialização. 25 3 CORPOREIDADE: O USO DA CONCIÊNCIA CORPORAL Trataremos neste momento sobre a corporeidade e utilização desta como meio de aprendizado. Abordaremos aspectos sobre a visão dos educadores sobre o corpo, sua utilização na sala de aula e a forma como este tratamento poderá interferir sobre a aprendizagem educacional infantil. Nessa perspectiva, de acordo com Silva (2009, p.31) “vivemos socialmente pelo corpo e é através dele que nos relacionamos, aprendemos, descobrimos e marcamos nossa presença no mundo, pois esta é corporal”. Mas, o corpo na atualidade é exaltado apenas pela sua forma estética, porém, essa compreensão desconsidera que o corpo não é apenas estereótipo, cujo empenho para mantê-lo ajustado aos modelos apresentados por uma cultura física o transformou em uma fonte de lucro, que segundo a mesma autora é um corpo vazio, sem relação com a materialidade histórica do sujeito. A esse respeito, Silva descreve muito bem como o corpo é visto historicamente numa visão social, familiar e educacional quando diz que a cultura “física”, corporal, foi sendo desenvolvida historicamente através de uma intervenção e controle nos hábitos da família e da sociedade em relação ao corpo. Esta relação foi auxiliada pela escola, uma das instituições responsáveis pela normalização das condutas e sentimento, sendo a educação – responsável pela transmissão de modelos sociais e difusora de ideias políticas – inscrita nas preocupações em torno do corpo, sexo e do intimismo psicológico, a partir de então impregnado pela norma terapêutica. (SILVA 2009, p. 40) A cultura corporal foi sendo desenvolvida através da intervenção externa nos hábitos corporais, começando através da família, quando na educação doméstica se “poda” certas expressões corporais que são avaliadas como inadequadas e expressão não aceita pela sociedade que define normas e padrões posturais para moldar costumes sociais. Quando a criança ingressa no universo escolar a educação que recebe não se diferencia muito da recebida em casa, pois na maioria das vezes, as tradições que limitam e que perpassam através do tempo pela sociedade a qual a criança está inserida, são ainda mais ratificadas. No caso especifico da sala de aula que é o local responsável por disciplinar os corpos desde a primeira idade, o 26 enrijecimento do corpo torna-se ainda mais marcante, quando a disciplina escolar faz com que esse controle corporal seja mais explicito. Apesar de a dicotomização entre o corpo e a mente não apresentar na atualidade grande visibilidade social, à corporeidade ainda não recebeu à devida relevância. Muitos educadores e educadoras ainda separam corpo e mente na sala de aula, sendo que a corporeidade implica a inserção de um corpo humano num mundo significativo, a relação dialética do corpo consigo mesmo, com outros corpos expressivos e com os objetos do seu mundo. A cognição emerge da corporeidade, expressando-se na percepção como movimento (RODRIGUES 2009, p. 2). Seguindo as reflexões de Rodrigues, compreendemos que o corpo na escola não é trabalhado de maneira a fazer com que o educando se perceba como um ser único, onde corpo e mente trabalhem em perfeita sintonia. Silva (2009, p. 31) vem afirmar a existência dessa união e a importância do corpo na sociedade quando afirma que “vivemos socialmente pelo corpo e é através dele que nos relacionamos, aprendemos, descobrimos e marcamos nossa presença no mundo, pois está é corporal”. A corporeidade, nesse sentido, deve vir como meio de fazer o individuo se perceber como ser integrante do mundo, interagindo com os outros, com os objetos que lhe circundam e consigo mesmo numa relação lógica entre tudo que interage. A escola, que seria o lugar ideal para se aprender a pensar e agir, utilizando para tanto numa atitude reflexiva é geralmente o lugar onde mais se vê essa dicotomia. Os alunos espelham-se nos professores e de acordo com Keleman (2001, apud Moyzés e Mota Sd, p. 2) “é necessário que o docente experimente um prazer intelectual e corporal para que o aluno possa se conectar também com seu prazer e desejo de aprender”. Assim sendo o aprendizado será mais significativo e a mediação também. Essa aprendizagem quando é desenvolvida através das experiências corporais tornam-se mais prazerosas. Contudo as experiências trazidas na formação do educador irão contar bastante para o enriquecimento de suas aulas, uma vez que na maioria dos casos ocorre em suas aulas a separação entre o corpo e a mente é como se o corpo tivesse ficado fora da escola. A esse respeito Silva sugere que 27 o corpo aprende, e é cada sociedade específica, em diferentes momentos históricos e com sua experiência acumulada, que o ensina. E, ao ensiná-lo, nele se expressa: no olhar, no andar, no dormir, nos gestos, nas posturas e nas sanções. Diz mais: mesmo tratando-se da mesma sociedade, o corpo se expressa de acordo com sua historicidade. (SILVA, 2009, p. 37) A sociedade, a história do sujeito e suas experiências acumuladas fazem com que o corpo aprenda a se inserir na sociedade a qual pertence, pois em cada contexto vivido o individuo saberá como se expressar, seja através de um andar ou até mesmo de um olhar. Ou seja, a história vivida pelo educando fará com que este se expresse da forma que ele acha adequada. O professor precisa estar atento também à linguagem corporal, pois na maioria das vezes envolvem-se apenas com a linguagem oral e escrita, esquecendo que no corpo também há comunicação como cita Moysés e Mota o professor precisa conscientizar também dessa realidade e observar mais detidamente, não só o registro do seu corpo como o registro do corpo de seus alunos, procurando entender essa linguagem ou pelo menos estando mais sensível para perceber o inicio de algum bloqueio, a importância de uma respiração mais profunda, o modo como o corpo responde aos cuidados recebidos e principalmente aumentando seu contato consigo próprio e conseqüentemente, melhorando a qualidade das relações com as crianças que estão sob seus cuidados. (MOYSÉS E MOTA. Sd, p. 3) É preciso que o professor perceba sua corporeidade para que ao se conhecer possa vir a auxiliar os educandos no processo de reconhecimento corporal. É preciso valorizar o corpo, pois ele está sempre presente na sala de aula, temos que valorizar, incluir e reconhecer este corpo tão presente. Caso contrário de acordo com o referido autor tentando controlar seus afetos, sua expressão, as crianças enrijecem o corpo através de uma educação descompassada, podendo afetar a criatividade e a espontaneidade até mesmo na vida adulta. Silva (2009) vem corroborar afirmando que a linguagem do corpo se torna importante para a educação porque ela explicita, reformula e traz à tona questões que expressam o ser no mundo, sua concretude existencial. O corpo tem uma linguagem. Uma linguagem de poder. Poder que circula, que funciona em rede; e a produção do poder se faz através do saber. E o corpo, na sociedade, na escola, é como objeto a ser disciplinado e controlado. Para tal, a escola desenvolve mecanismos disciplinadores dos corpos, onde o controle se exerce pelo detalhamento dos movimentos (SILVA 2009, p. 46). 28 Trabalhar a linguagem corporal na escola e principalmente na sala de aula é de fundamental importância na vida da criança, pois essas atividades podem estimulála a manter as inter-relações entre seu corpo e sua mente que fazem parte de um todo integrado a partir do qual o educando se perceba na sua existência no mundo. Contudo a escola que deveria desenvolver esse papel não está muito interessada em transformar educandos em cidadãos conscientes de seu lugar na sociedade, pelo contrario a escola tem controlado os corpos infantis de maneira a deter a disciplina na sala de aula, transformando os educandos em crianças que não podem se expressar corporalmente, onde essa expressão só pode ser liberada durante o recreio e quando tem as aulas de Educação Física. Recorrendo às reflexões e experiências de William Reich (1992 apud Moysés e Mota Sd, p. 6) nos sugerem que “as palavras podem enganar, mas o corpo não consegue dissimular o que sente”, assim, como o corpo está inserido no processo de aprendizagem ele cria mecanismos ou recursos para manutenção de sua saúde, utilizando-se até do esquecimento como forma de aliviar a sobrecarga. Ou seja, conforme Alves (2002 apud Moysés e Mota Sd, p. 6) o “esquecimento é uma recusa inteligente da inteligência”. Ainda de acordo o referido autor este vem explicar o porquê do acontecimento (o esquecimento) quando afirma que “o corpo tem uma precisa filosofia de aprendizagem: ele aprende os saberes que ajudam a resolver os problemas que está se defrontando”. (ALVES 2001 apud MOYSÉS E MOTA Sd, p. 7). Percebe-se então que nosso corpo só absorve o que realmente lhe é importante, assim, é possível compreender que todo e qualquer movimento ou palavra humana, mesmo as mais simples, corriqueiras e distraídas têm significados. 3.1 A CULTURA CORPORAL COMO MEIO DE APRENDIZADO SIGNIFICATIVO A partir do que afirma o Coletivo de Autores (1992, p.63) passamos a expor que a Cultura Corporal está respaldada numa pedagogia crítica superadora, onde a seleção dos conteúdos deve exigir coerência com o objetivo do professor que é promover uma leitura crítica da realidade. Esses conteúdos devem promover a compreensão das atividades corporais num panorama sócio-histórico. 29 A percepção corporal é muito importante na aquisição do conhecimento, porque o ser é constituído de partes que formam um todo integrado e é através da ação do corpo que o sujeito interage com a sociedade, como afirma Rodrigues (2009) Ao conceber que os conceitos de corporeidade e aprendizagem se interpenetram através de uma lógica recursiva, que o corpo é uma construção biocultural, e ao compreender que o todo é tão importante como cada uma das partes que o complementam pode-se reconhecer tanto a autonomia do corpo quanto a sua dependência com o meio e consequentemente com a aprendizagem (RODRIGUES 2009, p. 1). O corpo na história da humanidade foi sendo percebido como portador de significado para sociedade, através dele o homem conseguiu se expressar e produzir conhecimentos significativos. O exercício de pensar que é uma atividade da mente interage com o agir e o sentir que é o movimento corporal, interligado ao pensar; de acordo com Rodrigues (2009, p.2) “nosso corpo traz marcas sociais e históricas, dessa forma, questões culturais, de gênero e sociais podem ser lidas nele”. A esse respeito, Silva (2001, p. 71) ao dialogar com Rodrigues sugere que “o corpo humano não é como uma folha de papel em branco, tal qual afirmava Locke, em que a cultura pode escrever seu texto”, nesse sentido, o corpo interage consigo mesmo e com o meio exterior, através de práticas dialógicas vai afirmando a cultura corporal do individuo. As práticas corporais que devem ser desenvolvidas na escola são de grande importância para a criança, que está numa constante fase de desenvolvimento corporal, que é a sua consciência corporal, como afirma Pereira (2000) a consciência corporal é vital para um ajustamento harmonioso da personalidade, para a saúde pessoal integral, para uma comunicação eficiente e eficaz, para o sucesso profissional que, hoje mais do que nunca, exige um corpo saudável, capaz de lidar adequadamente com o estresse e a tensão do dia-a-dia, com as emoções (PEREIRA 2000, p. 118). Prestando atenção nessas reflexões é importante que a pedagogia fique sempre atenta para poder intervir de maneira significativa, interagindo sempre com as práticas corporais dos educandos. É importante esclarecer que falamos de aprendizado significativo, como uma aprendizagem integral, que abrange além da 30 agregação de valores, também a exploração dos potenciais intelectuais, psicológicos e psicomotores do educando. Apesar das recomendações de estudiosos que tratam dessa temática pudemos perceber durante a realização desta pesquisa e constatar a afirmação de Silva (2009) para quem o corpo está presente em todos os lugares, porém, ainda permanece ausente nos debates educacionais. Rodrigues (2009, p.5) nos mostra em seus estudos que “o conhecimento e a aprendizagem dependem da existência do mundo, o qual é inseparável do corpo, da linguagem e da história social”, nessa perspectiva, história, corpo e linguagem são constitutivos do sujeito e, por isso, um interdepende do outro para que haja uma aprendizagem significativa do conhecimento. Assim, a educação ao perceber que o corpo e a mente se interpenetram, deverá buscar métodos para que a visão mecanicista de ensino, aquela na qual o educando é visto apenas como ser que deve reproduzir e dar respostas predeterminadas necessita ser ultrapassado, porque a aprendizagem surge do corpo a partir do momento em que estabelece relações com o entorno. Nesse sentido, Silva (2009, p. 47) adverte que é preciso lutar contra o sistema que: “[...] não admite diferenças, que não respeita as singularidades, [...] só pensa na produção de pessoas eficientes, dóceis e rentáveis”. É preciso que o docente saiba respeitar as diferenças e trabalhar com isso de maneira produtiva, com as pessoas e não contra as pessoas. Partindo dessas propostas compreendemos que, o trabalho com o corpo deve ser desenvolvido em todas as fases do processo educativo e, preferencialmente, de maneira interdisciplinar, pois O desafio está em considerar que o corpo não é um instrumento para as aulas de educação física, ou ainda um conjunto de órgãos, sistemas, ou objeto de programa de saúde e lazer. A gestualidade ou os cuidados com o corpo podem e devem ser tematizados nas diferentes práticas educativas propostas nos currículos e viabilizados por todas as disciplinas. (RODRIGUES 2009, p.9) Desta forma, o professor dentro da sala de aula deve dispor de meios, seja em atividades ou de outra forma, para que os educandos possam se expressar corporalmente e não permanecer apenas estáticos respondendo a questionamentos que possuem respostas orais ou escritas predeterminadas; ao utilizar de 31 mecanismos biomecânicos, mediadores podem fazer com que os educandos partindo de suas experiências corporais possam refletir sobre sua individualidade, a sociedade na qual estão inseridos e estabelecendo diálogos entre elas, fazendo um percurso de uma aprendizagem realmente significativa. Assim, o trabalho escolar deverá ser pautado em ações que façam com que o educando se desenvolva criticamente para que possa ser um cidadão consciente. 32 4 REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NAS CLASSES HOSPITALARES E DOMICILIARES: DA TEORIA À PRÁTICA. O presente capítulo visa apresentar e discutir as práticas que registramos sobre a prática docente no ambiente de atenção hospitalar e educacional que acompanha crianças e adolescentes acometidos pelo câncer. Como se pode observar, realizamos uma revisão bibliográfica sobre estudos e pesquisas que tratam da “prática docente nas classes hospitalares e domiciliares” e observamos e relatamos trabalhos desenvolvidos em apenas uma instituição que lida com alunos / pacientes submetidos a situação de classe hospitalar no Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil - NACCI para tentar estabelecer um diálogo entre o que observamos na literatura e o que acontece efetivamente na prática, considerando situações e contextos específicos comparando-os através de diálogos com autores que embasam suas pesquisas a partir de outras práticas observadas, com o propósito de seguir em direção de uma práxis pedagógica efetiva. 4.1 O QUE ENCONTRAMOS NA LITERATURA Para haver um embasamento teórico a respeito do assunto, iremos discutir a partir da revisão de algumas literaturas sobre as Classes Hospitalares como eram desenvolvidos os trabalhos pedagógicos nas classes, para que possamos analisar o que foi visto nesta pesquisa. Para isso analisamos alguns livros, artigos publicados na internet e algumas monografias mais recentes realizadas no departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. O perfil do professor que trabalha no ambiente da Classe Hospitalar deve ser mais flexível e mediador do que na escola convencional, pois ele deve entender a aula como a junção da sua prática, com os alunos, pois segundo Invernizzi (2005) se compreender a aula como resultado da interação entre professor, aluno e conteúdo, considerando o aprendiz importante para o processo, provavelmente minimizará as ocorrências das diferenças nos tempos de ensino e aprendizagem que interferem neste, podendo, inclusive, ser um elemento facilitador desta última (INVERNIZZI 2005, p. 56). 33 Trabalhar de maneira flexível é um fator que deve ser respeitável, contudo é importante também que o professor que atua nessa área deve estar atento, para uma melhor abordagem pedagógica, é de obter informações a respeito das mais variadas patologias e procedimentos hospitalares, pois de acordo com o estudo realizado por Invernizzi (2005) a formação de professores que desejam atuar nesta área educacional deve incluir conhecimentos acerca de tais assuntos que permeiam o hospital, indo desde a linguagem específica até as implicações de determinados procedimentos hospitalares. (INVERNIZZI 2005, p. 56) Nesse sentido, é necessário desenvolver um estudo prévio sobre as diversas patologias que permeiam o ambiente da classe hospitalar, para que assim os professores possam perceber os sinais que os alunos possam vir a demonstrar durante a aula, seja um sinal de fraqueza ou até uma reação quimioterápica. Além do que, é importante o diálogo entre os profissionais de educação e de saúde, para que os cuidados sejam realmente complementares. Em estudos realizados por Invernizzi (2005, p. 29), foi observado que as aulas devem acontecer preferencialmente em dias consecutivos, para que a dinâmica da aula não seja quebrada por motivo da rotatividade dos alunos, pois “como na classe não são previsíveis quanto e nem quais os alunos que estarão presentes, visto que a presença é facultativa, as aulas em dias consecutivos, possivelmente minimizarão a problemática”. Outra forma de minimizar essa problemática abordada pela referida autora, foi organizar os conteúdos por temática, para que as aulas sejam concluídas no máximo no próximo encontro, no qual a participação de todos poderá acontecer, até o final da atividade desenvolvida. Essas atividades tornam-se importantes para a criança, pois ao perceber que seu trabalho foi concluído a criança sente-se estimulada, fazendo com que o desejo de continuar ali inserida floresça ou permaneça em seu pensamento. Além do que, desta forma com o conteúdo entendido, quando a criança retornar a sua escola de origem poderá levar para sua vida prática e em seu relatório educacional o que foi apreendido. Outra observação que Vaz (2005) e Invernizzi (2005) chamam atenção é para a periodicidade das aulas que não acontecerem nos dias de segunda e nem sexta- 34 feira, pois a chegada e altas das crianças geralmente acontecem nesses dias, uma solução para esse fato foi apontada por Invernizzi (2005) em seu estudo de caso, na qual elegendo como dias letivos às terças-feira, quartas-feira ou quintas-feiras, preferencialmente. Durante a pesquisa bibliográfica percebemos que essa observação somente nessas duas pesquisas, contudo na observação desenvolvida no NACCI foi constatado que as aulas aconteciam de segunda-feira a quinta-feira, deixando a sexta-feira para livre para a reunião entre os professores e coordenadores quando houvesse necessidade. A prática pedagógica abordada na experiência vivida por Invernizzi (2005) e Vaz (2005), que foi desenvolvida em um Hospital Universitário do Sul do Brasil, foi estruturada para que acontecesse no formato de oficinas, na qual compreendia duas aulas semanais, para que as crianças ali presentes pudessem participar das atividades desenvolvidas de forma completa; ou seja, do começo ao fim do conteúdo abordado através de temáticas, como explicita Invernizzi (2005, p. 8) “a aula deveria ter um fim, mas não completo, ou seja, havendo um fechamento do conteúdo, porém com a expectativa de continuação”. Para enfrentar as questões imprevistas que se tornam muitas vezes limitantes para o aprendizado segundo Fonseca (2003) é necessário que o professor crie estratégias que favoreçam o processo ensino-aprendizagem, contextualizando-o com o desenvolvimento e experiências daqueles que o vivenciam. Mas, para uma atuação adequada, o professor precisa estar capacitado para lidar com as referências subjetivas das crianças, e deve ter destreza e discernimento para atuar com planos e programas abertos, móveis, mutantes, constantemente reorientados pela situação especial e individual de cada criança, ou seja, o aluno da escola hospitalar (FONSECA 2003, p. 26). Percebemos que, agindo dessa forma, o professor faz como que o aluno não se perceba com uma máquina que não tem sentimentos, na qual ele apenas deposita conhecimento, nesse sentido Duran (2005, p. 16) vem ratificar o que Fonseca diz quando fala que “o aluno deve ser visto como um ser humano que, ao enfrentar um problema, encontre soluções novas e criativas, utilizando todo o referencial que possui disponível”. Desta maneira o aluno estará não só além de adquirindo novos conhecimentos, mas, principalmente, construindo outros significados para sua experiência de vida. 35 Para que a educação das crianças seja satisfatória, principalmente para as crianças que, de alguma forma, estejam afastadas do convívio social, é necessário inseri-las em um processo educacional especial, na qual a inclusão da ludicidade como conteúdo pedagógico didático é fundamental. Através de atividades pedagógicas lúdicas podemos trabalhar a imaginação das crianças atuando na formação de sua personalidade, em sua formação cultural e na aprendizagem de todas as disciplinas escolares de maneira mais prazerosa, inseridas em um processo de compreensão interdisciplinar. De acordo com estudos realizados por Luckesi (2002, p. 24) a ludicidade “é um fenômeno interno do sujeito, que possui manifestações no exterior”. Dessa forma o lúdico utilizado como ferramenta dentro do atendimento pedagógico em Classes Hospitalares e Domiciliares é importante, pois enquanto a criança aprende conteúdos através da atividade lúdica, estará integrada e vivenciando mais prazerosamente o que está sendo aprendido. Contudo, nem toda atividade lúdica é lúdica para quem a prática, pois ainda tomando como base estudos realizados por Luckesi (2002, p. 26) “uma atividade só poderá ser plena para uma pessoa como sujeito, se este poderá vivenciar a ‘plenitude da experiência’, através da realização de uma atividade. A ludicidade, nesta perspectiva, é interna”. Essa experiência vai depender de vários fatores externos ao sujeito, dentre os quais podemos destacar: a inclusão no meio social, a sua história pessoal de vida, dentre outros fatores. Dessa forma de acordo com estudos produzidos por Luckesi (2002) a atividade lúdica só poderá trazer a sensação de experiência plena, na dimensão do sujeito que a vivencia. Praticar jogos de exercício, jogos simbólicos ou jogos de regras só poderá ser pleno para quem os pratica, mas parece que todos os que os praticam com inteireza, integridade e presença, chegam a esse cume de sensação de plenitude, o que nos permite admitir que as atividades lúdicas podem e devem ser utilizadas como recursos para a busca de um crescimento o mais saudável possível (LUCKESI 2002, p. 35). Fazer com que o educando participe de jogos ou brincadeiras de cunho pedagógico pelo simples fato de participar não irá ser prazeroso para este, pois a atividade só será lúdica se o ser que a pratica estiver plenamente inserido na atividade, e isso só irá ocorrer se ele desejar. Assim sendo, o professor deverá encontrar meios de chamar a atenção e o interesse do educando para participar da atividade. 36 De acordo com Frota (2007, p. 70) “a atividade lúdica, promove fatores significativos para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, social e afetivo da criança, proporcionando um tratamento humanizado”. Por intermédio do brinquedo a criança passa a interagir com o meio em que está inserida, e com isso, desenvolverá sua função social, além do que o brincar nesse contexto servirá como uma “válvula de escape” onde será liberada parte de suas ansiedades e medos. Segundo Fontes (2005, p. 123) “o ofício do professor no hospital apresenta diversas interfaces (política, pedagógica, psicológica, social, ideológica), mas nenhuma delas é tão constante quanto a da disponibilidade de estar com o outro e para o outro”. É de suma importância que nesse contexto seja priorizado o universo infantil. Pois de acordo com estudo realizados por Frota (2007) cabe salientar que a tríade profissional – brinquedo – criança interliga propósitos e expectativas, facilitando a interação positiva, sendo o brinquedo predominantemente a ferramenta relevante à intervenção humanizada, promovendo o movimento entre - mundo real e imaginário – transpondo as barreiras do adoecimento (FROTA 2007, p.73). Em Classes Hospitalares e Domiciliares de acordo com pesquisas desenvolvidas por Medeiros (2004, p. 73) foi observado que o comportamento dos alunos que a freqüentavam, independente do quadro clinico, foi bem significativo, onde todos procuravam participar de todas as atividades propostas pela professora, desde a realização de tarefas escritas, quanto nas respostas às questões elaboradas para serem respondidas. Ficou evidenciado a importância da criação de um vínculo afetivo existente entre professor e aluno como parte do processo educativo satisfatório. Este vínculo favorece a satisfação do aluno na realização de tarefas escolares e este se desenvolve através de ações ou manifestáveis que vão desde um olhar carinhoso, um elogio, estímulo, incentivo que favoreça e estimule o aluno o prazer na realização das tarefas escolares. Esteves (s/d, p. 6) afirma que para atuar em Classes Hospitalares e Domiciliares, o professor deverá ser capacitado para trabalhar com as necessidades especiais educacionais, ter o discernimento de saber trabalhar com a diversidade humana, ser ágil nas mudanças e adaptações curriculares e o mais importante, saber se utilizar de processos flexibilizadores no ensino-aprendizagem. 37 Friedmann (1992, p.138) propõe uma ação estimuladora por faixa etária interessante para ser trabalhado com a recreação no ambiente hospitalar que pode ser inserido de maneira a agregar valores e conhecimentos na Classe Hospitalar e Domiciliar, no qual será explicitado na tabela a seguir: 38 0 a 2 anos 2 a 7 anos Necessidades Afetividade Alimentação Asseio Ambiente estimulatório Esquema 7 a 14 anos Conceitos e Corporal aprendizagem da Auto-estima vida escolar Organização necessidades e Espacial Trabalhar as propostas de Organização ação aos pré- Temporal Verbalização Motricidade escolares ampla e fina Objetos estimulativos em nto do Corpo / termos de som, espaço físico cores, formas, Propostas movimento e tato, feitos de material Reconhecime para serem fixos berço. e números, brinquedos de quebra-cabeças, sucata memória, manipulação destreza, etc. Participação no Grupo de Objetos de Jogos com letras Confecção de no teto e/ou Trabalho em dupla ou grupos Noções de tempo esterilizável, Internação Lúdica com movimentos Tabela 01 - Ação estimuladora por faixa etária (Proposta por Friedmann) Dramatizações 39 Friedimann nos traz um estudo muito detalhado sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget, fazendo um comparativo do que cada faixa etária necessita para um bom desenvolvimento da aprendizagem. Essa proposta vem nos auxiliar no que diz respeito a prática pedagógica, onde, através da utilização dessas ações o aprendizado se tornará mais significativo principalmente para o educando que encontra-se hospitalizado, pois o foco abordado pelo docente será voltado para real necessidade de cada faixa etária. A partir do exposto verifica-se a necessidade da inclusão de profissionais aptos a desenvolver o trabalho com toda equipe hospitalar, que precisa estar em harmonia, para que o resultado seja satisfatório. Segundo Lôbo (2003, p. 48) esse quadro deve ser composto por uma equipe multidisciplinar composta por: “médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, nutricionista, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, auxiliares de higienização e manutenção, etc”. A necessidade da visão multidisciplinar esta respaldada no modelo holístico de ciência na qual segundo Teixeira (1996) destaca que a saúde para ser holística precisa ser estudada como um grande sistema, como um fenômeno multidimensional, que envolve aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais, todos interdependentes e não arrumados numa seqüência de passos e medidas isoladas para atender cada uma das dimensões apontadas (TEIXEIRA 1996, p. 289). Portanto atuar em qualquer área do conhecimento na atualidade requer profissionais capazes de se lançar a desafios, sendo necessário ainda de acordo com o autor supracitado um intercâmbio transdisciplinar bastante dinâmico entre as ciências humanas, as ciências exatas, a tradição e a arte. 4.2 AS PRÁTICAS PEGADOGICAS E CORPORAIS NA CLASSE HOSPITALAR E DOMICILIAR DO NUCLEO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER INFANTIL – NACCI A pesquisa foi desenvolvida numa Instituição filantrópica que abriga e ampara crianças que estão em tratamento contra o câncer e seus responsáveis. Indivíduos estes que provem do interior da Bahia e região metropolitana de Salvador. As 40 crianças são pacientes dos Hospitais das Clinicas, Martagão Gesteira e Hemoba. A Instituição possui uma Classe Hospitalar com duas professoras, as quais interagem com todas as crianças que frequentam a classe. A sala possui um tamanho razoável para a quantidade de crianças que frequentam como nos mostra a foto: Sala de aula. Nesse sentido, analisaremos a prática observada tomando como base à cultura corporal, onde o perfil do professor deve ser o de orientador, mediador das questões sociais vivenciadas pelos alunos, pois como afirma o Coletivo de Autores (1996, p. 63) “a percepção do aluno deve ser orientada para um determinado conteúdo que lhe apresente a necessidade de solução de um problema nele implícito”. Desta forma, a curiosidade do estudante será motivada, fazendo com que ele torne-se um sujeito mais critico da sua própria realidade. O primeiro dia de aula observado iniciou-se com a professora Francisca com as crianças da educação infantil, alfabetização e algumas já cursando séries iniciais da educação básica. Antes de iniciar a aula com todas as crianças a professora teve uma conversa com uma aluna nova, Renata de 7 anos, fazendo questionamentos sobre o que ela já havia aprendido na escola de origem, do que ela gostava de fazer na escola e quando estava fora dela. Pediu também que a menina escrevesse sobre os seus gostos escolares e em seguida pediu para que ela lesse o que havia escrito, para poder ver seu nível de escrita e leitura. Após ter feito essa sondagem juntou os educandos, de início apenas 3 (três) crianças: Renata (a criança nova), Joice 41 (aproximadamente 5 anos, calada e ainda não lê) e Raquel (aproximadamente 6 ano, sabe ler, mas só fica na sala se a mãe acompanha-la). Começou com um ensaio para a apresentação de natal, cantaram a música que já vinham ensaiando, deu a letra para Renata e fez com que ela acompanhasse. No decorrer da atividade chegaram mais duas crianças: Guto (6 anos e bem esperto) que tratou logo de se juntar as outras crianças e Júnior (2 anos e 8 meses, acompanhado da mãe) ao qual foi dado um papel oficio e alguns lápis de cera para que pudesse desenhar sobre o natal e depois falou sobre o que desenhou. Este foi o único momento em que pude observar o trabalho que unia corpo e mente em uma determinada atividade, pois além de cantar eles se expressavam corporalmente. Como nos mostra a foto da apresentação do encerramento do ano letivo: Apresentação de encerramento do ano letivo Como o objeto do estudo é a chamada Cultura Corporal, nada mais adequado que esta seja inserida no projeto pedagógico das Classes Hospitalares e Domiciliares, pois segundo Vaz (2005, p. 72) o corpo no ambiente hospitalar “muitas vezes se reduz a objeto operacional, manipulável, tratável e, paradoxalmente, tornado quase 42 que a única dimensão que interessa do que resta do sujeito: sua funcionalidade”. Visto que, ainda compreende-se nos meios de saúde o entendimento de doença como foco no órgão, respectivo como a patologia, não incluindo o doente na visão do todo. Nesse sentido, o trabalho com o corpo nesse ambiente não pode ser desprezado, por achar que a patologia restringirá seus movimentos. O professor deve perceber os sinais corporais que o educando lhe demonstra para saber discernir de que forma irá trabalhar com seus alunos. Após o ensaio a professora conversou com as crianças sobre o natal, mostrou alguns cartazes sobre o tema, leu um texto de um livro sobre o natal, falou sobre Papai Noel, sempre questionando as crianças sobre o que elas já sabiam sobre o referido assunto, pois através do tema natalino ela conversou sobre questões que faziam com que as crianças refletissem sobre valores, como o exemplo dado por uma das crianças que só ganharia presente no natal quem fosse educado, e enumerou alguns valores aprendidos. Nesse sentido a instituição de ensino é também responsável por agregar valores nos discentes, assim como afirma Guimarães (2001) a escola é um ambiente em que são reforçados valores correntes na sociedade convencional, mas pode e deve ser também ambiente de problematização de valores, já que na escola estão presentes, no seu dia-a-dia, vários conflitos entre valores (GUIMARÃES 2001, p.19). Nessa prática pedagógica está inserida uma das figuras mais importantes nesse processo: o professor. Pois o “educador na sua prática, quer queira quer não, é um vinculador de valores. É nesse sentido que reside à ligação da forma de ensino com seu conteúdo”. (BRACHT, 1992 apud Guimarães 2001, p.19) Assim o professor deve aproveitar a sua grande capacidade de persuasão sobre os alunos para estimular a formação de atitudes e valores capazes de transformá-los em sujeitos comprometidos com a sua autonomia. Quando o assunto já havia sido bastante explorado, a professora deu para as crianças uma atividade impressa sobre os símbolos de natal, onde elas deveriam dizer primeiramente oralmente o que era cada símbolo, soletrar como se escreve, escrever na atividade o nome de cada símbolo e depois colorir a atividade. Indo 43 sempre ao lado de cada aluno para verificar se o mesmo tinha alguma dúvida ou questionamento. A figura que se segue vem mostrar as atividades desenvolvidas: Fotos das atividades impressas O perfil do professor neste ambiente deve ser mais flexível e mediador do que na escola convencional, pois ele deve entender a aula como a junção da sua prática, com os alunos, pois segundo Invernizzi (2005) deve-se unir os três elementos básicos para uma aprendizagem significativa: professor, aluno e conteúdo, dando sempre prioridade ao educando. Foi ensinado também as crianças a escrever a data e seu nome no local certo da atividade que seria no cabeçário. Ao terminarem essa atividade foi dada outra atividade impressa, onde havia um enigma a ser descoberto, através da primeira letra de cada figura eles iriam descobrir as palavras e posteriormente a frase secreta. Sempre após a realização da atividade eles coloriam para ficar na exposição na sala. Concomitantemente a aula da professora Francisca havia também a turma que se encontrava com a professora Adriana. Eram crianças maiores, que cursavam as últimas séries do primeiro ciclo da educação básica. Havia três alunos: Marilton (aproximadamente 11 anos) Washington (12 anos) e Bel (de aproximadamente 16 anos) ele porém era bem atrasado nos estudos e acompanhava as crianças nas atividades como resolução de problemas de matemática. 44 No final da aula foi feito um relatório informando como foi o desempenho da aluna para a escola de origem de Raquel junto com todas as suas atividades, pois a mesma, por motivo de alta no tratamento, já estava voltando para o seu interior de origem. O decorrer da semana a rotina foi se repetindo, atividades impressas, leitura, escrita e alguns cálculos. Houve a entrada de algumas crianças e saída de outras, por conta de alta ou por falecimento, essas situações são uma constante nesse meio educacional. A morte é algo que trás tristeza ou sofrimento para a maioria das pessoas adulta, e em se tratando de uma criança que está em tratamento por estar com algum tipo de patologia e que perde um coleguinha que em alguns casos possuíam uma doença parecida com a sua faz com que este, a depender da idade, sofra ainda mais. Pois de acordo com estudos desenvolvido por Torres (1979) A autora pesquisou o conceito de morte ligado a três, dos quatro períodos do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget. a) Período pré-operacional – as crianças não fazem distinção entre seres inanimados e animados. Não percebem a morte como definitiva e irreversível. b) Período das operações concretas – as crianças distinguem entre seres inanimados e animados, mas não dão respostas lógicocategoriais de causalidade da morte. Elas buscam aspectos perceptíveis, como a imobilidade para defini-la; contudo, já é capaz de perceber a morte como irreversível. c) Período das operações formais – as crianças reconhecem a morte como um processo interno, implicando em parada do corpo. (TORRES 1979 apud Teixeira 2003, p. 3). Assim sendo, é importante que o professor esteja atento ao que os educandos explicitam durante as aulas, pois a perda pode significar um retrocesso no tratamento e consequentemente no aprendizado educacional do educando que frequenta a Classe Hospitalar e Domiciliar. Na semana seguinte a sala foi enfeitada com todo material produzido pelas crianças sobre o natal. Contudo, pude perceber que em nenhum momento, mesmo com as crianças menores, houve alguma atividade que envolvesse a expressão corporal deles. Tudo bem que por se tratar de uma Classe Hospitalar e Domiciliar a desculpa poderia ser que elas encontram-se debilitadas, com baixa imunidade, mas pude perceber antes do inicio das aulas e depois (quando as crianças eram liberadas da 45 sala) que a disposição delas era muita, claro que algumas encontravam debilitadas, mas não a grande maioria. Pude perceber por diversas vezes as crianças brincando de pega-pega, dançando, brincando de esconde-esconde ou simplesmente jogando nas mesas na área em frente à sala de aula. As aulas em uma Classe Hospitalar e Domiciliar podem ser desenvolvidas de maneira a trabalhar o corpo de maneira significativa, pois a partir de estudos realizados por Vaz (2005) e por Invernizzi (2005) pudemos afirmar que a Educação Física Escolar desenvolvida nas Classes Hospitalares e Domiciliares adequadamente ao seu contexto, pode vir trazer maiores contribuições ao processo de educação de crianças hospitalizadas. E se essa disciplina, que ainda é tão marginalizada pela sociedade, pode ser desenvolvida de maneira a enriquecer o aprendizado educacional a pedagogia também deve seguir essa prática. 46 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS A pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil – NACCI, onde tivemos como principal objetivo observar como as atividades corporais da criança hospitalizada são trabalhadas pelos professores nas Classes Hospitalares e Domiciliares. Primeiramente foi observado que a Classe Hospitalar e Domiciliar inserida no NACCI utiliza-se de práticas que condizem com a estrutura utilizada em outras Instituições, vista através do estudo do referencial teórico que foi abordada nos capítulos anteriores. Está fundamentada na legislação da Educação Especial e é administrada pela Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULT, tendo em seu quadro de professores, funcionárias concursadas da referida Secretaria. A prática pedagógica na referida instituição foi observada por um curto período de tempo. Contudo, no final do ano letivo foi observado através das atividades escrita que houve muita produção. Ao findar de cada ano ou quando uma criança recebe alta do seu tratamento é feito um relatório informando tudo o que foi trabalhado com a criança na Classe e seu desenvolvimento nas atividades, assim como preconiza a legislação. Foi constatado que estão inseridos no quadro de funcionários do NACCI profissionais que em sua grande maioria são voluntários, porém as professoras ali inseridas são funcionárias concursadas da SECULT. São Pedagogas com experiência, porém uma das duas já possuía experiência em Classe Hospitalar e Domiciliar, pois antes de ir lecionar no NACCI atuou em outras escolas em ambiente hospitalar de Salvador. Apesar do pouco tempo de observação, foi verificado que as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras na instituição não levam em conta a cultura corporal, pois as atividades desenvolvidas não contemplavam o corpo no processo de aquisição de conhecimento. Essas práticas eram na maioria das vezes voltadas para leitura e escrita, porém eram atividades impressas que não necessitavam da expressão corpórea. Contudo, apesar das respostas dadas no questionário terem sido respondidas por uma única professora, mas de acordo com o pensamento e 47 fala da outra, fica evidente que a corporeidade não é muito utilizada nas aulas das professoras. Como o fator tempo de observação não ajudou muito, não podemos afirmar que em nenhum momento da prática pedagógica das professoras elas fazem uso da cultura corporal com os educandos. Contudo, foi percebido que a patologia, em especial na Classe Hospitalar e Domiciliar do NACCI, não era empecilho para que fossem desenvolvidas atividades que contemplasse a corporeidade dos alunos. O corpo entendido nesse estudo é visto como parte essencial integrante de um todo harmonioso e integrado, onde há uma interdependência entre este e a mente. O trabalho da corporeidade no âmbito escolar é fundamental, pois a partir do entendimento de que o corpo faz com que interagimos com o meio o qual se está inserido, o individuou perceberá que este faz parte da sociedade que pertence. 48 REFERÊNCIAS BISCARO, Denis Borba. Pedagogia hospitalar e suas bases legais. [São Luis: s.n]. [2006?]. 4f. Disponível em: < http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espacoeducacao-saude/classeshospitalares/WEBARTIGOS/pedagogia%20hospitalar%20%20bases%20legais.pdf >. Acesso em 20 fev. 2008. BRASIL. Programa Nacional De Humanização da Assistência Hospitalar / Ministério da Saúde, Secretária de Assistência a Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde. ______. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial – MEC; SEESP. 2001. ______. Nelson de Azevedo Jobim. Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995. Aprova em sua integra os direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Brasília, Of. Nº 141/95. Disponível em <http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/conselho/conanda/.arqco n/.arqcon/41resol.pdf.>. Acesso em 20 Fev. 2008. ______. Congresso Nacional. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília. 20 Dez. 1996. ______. Parâmetros Curriculares Nacionais. Temas transversais: Saúde. Secretária de Educação Fundamental – Brasília: MEC, SEF, 1998 ______. Secretária de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007, entregue ao Ministro da Educação em 07 de janeiro de 2008. Brasília. Jan 2008. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf> . Acesso em 02 Jul. 2008. ______. José Sarney. Lei nº 7853 de 24/10/1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Brasília. 1989. Disponível em < http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/legislacaopfdc/docs_leis_decretos/lei_7853_89.pdf>. Acesso em 02 Jul. 2008. 49 COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de Educação Física. Coleção magistério, 2º grau. Série formação do professor. São Paulo: Cortez. 1992. 120 p. DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO DE VIENA (1993) Disponivel em <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm> Acesso em 30 nov 2011. DURAN, Maurício. Aprendendo a nadar em ludicidade. São Paulo. Phorte, 2005, 96p. ESTEVES, Claudia R. Pedagogia Hospitalar: um breve histórico. [S.I.: s.n.]. [entre 1990 a 2006]. 9 f. Disponível em <http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espacoeducacao-saude/classeshospitalares/WEBARTIGOS/pedagogia%20hospitalar....pdf>. Acesso em 12 mar. 2008. FONSECA, Eneida Simões da. Atendimento Pedagógico-Educacional para crianças e jovens hospitalizados: realidade nacional. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais. 1999. 27 f. Disponível em <http://www.indime.org.br/htdocs/download.php?form=.pdf&id=24>. Acesso em 13 mar. 2008. ______. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. Memnon. São Paulo. 2003. 97 p. FONTES, Rejane de S., As possibilidades da atividade pedagógica como tratamento sócio-afetivo da criança hospitalizada, Revista Portuguesa de Educação, 2006, 19 (1), p. 95-128. ______. A escuta pedagógica à criança hospitalizada: discutindo o papel da educação no hospital. Revista Brasileira de Educação. Maio/Jul/Jul/ago. 2005. nº 29, p.119-138. FRIEDMANN, Adriana. Et al. O direito de brincar: a brinquedoteca. Scritta – ABRINQ. São Paulo. 1992. p. 123-145. FROTA, Mirna A. et al. O lúdico como instrumento facilitador na humanização do cuidado de crianças hospitalizadas. Cogitare Enferm 2007. Jan/Mar; 12 (1): 69-75. Disponível em <http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/article/viewFile/8270/5781>, acesso em 24 out. 2007. 50 FUNGHETTO Suzana Schwerz, Classe Hospitalar: vivências de uma escolarização possível para crianças da educação infantil com câncer. Rev. Bras. De Cancerol. 2006; 52(2): 149-156. GUIMARÃES, Ana A. et al. Educação Física Escolar: atitudes e valores. Motriz, JanJun, 2001, vol. 7, n. 1, p. 17-22. Disponível em http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/07n1/Guimaraes.pdf>. Acesso em 23 Jul. 2008. INVERNIZZI, Lisandra. Educação física na classe hospitalar: subsídios para a construção de uma perspectiva educacional nas séries iniciais. 2005. 96 f. Monografia (Licenciatura em Educação Física) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. Disponível em <http://www.cerelepe.faced.ufba.br/arquivos//fotos/61/educacaofisicanach.pdf> . Acesso em 14 Fev. 2008. ISAYAMA, Hélder Ferreira et al. Vivências lúdicas no hospital: intervenção sócioeducativas da Educação Física com crianças da clinica de hematologia. In: Anais do 8º Encontro de Extensão da UFMG. 2005. Belo Horizonte. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: UFMG. 2005. Disponível em <http:// ufmg.br/proex/arquivos/8Encontro/Saúde_60.pdf>. Acesso em 25 jan. 2007. KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. Percursos da constituição de uma política brasileira de educação especial inclusiva. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v.17, p.41-58, Maio-Ago., 2011. Edição Especial. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbee/v17nspe1/05.pdf> Acesso em 10 dez 2011. KUMAMOTO, Laura Helena M. C. C. et al. Apoio à criança hospitalizada: uma proposta de intervenção lúdica. [S.I.: s.n.]. [2005?]. 9 f. Disponível em <http://ies.ufpb.br/ojs2/index.php/extensaocidada/article/viewFile/1340/1013>. Acesso em 21 set. 2007. LÔBO, Janaina Silva. A importância da recreação no processo de recuperação de crianças hospitalizadas. 2003. Monografia. Bacharel em Enfermagem. Universidade Católica do Salvador. 80 f. LUCKESI, Cipriano Carlos. Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partir da experiência interna, Educação e Ludicidade, Ensaios 02; ludicidade o que é mesmo isso?, publicada pelo Gepel, Faced/Ufba, 2002, p. 22-60. Disponível em <http://www.luckesi.com.br/artigoseducacaoludicidade.htm> Acesso em 14 Out. 2007. 51 LUDKE, Menga. Pesquisa em educação - abordagens qualitativas. São Paulo EPU, 1986. MARTINS, Carlos Eduardo. A Educação Especial e a Pedagogia Hospitalar: como desatar um nó e transformá-lo em um laço. [S.I.: s.n.]. [entre 2001 e 2007]. 5 f. Disponível em <http://www.santamarina.g12.br/faculdade/revista/artigo_2.pdf>. Acesso em 17 mai. 2008. MEDEIROS, José G., GABARDO, A. A. Classe hospitalar: aspectos da relação professor-aluno em sala de aula de um hospital. Interação em Psicologia, Jan./Jun. 2004, 8(1), p. 67-79. Disponível em <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia/article/viewFile/3240/2601> Acesso em 31 Maio 2008. MOYSÉS, Márcia H. F., MOTA, Maria V. S. O despertar da consciência corporal do professor. Sd. GT: Formação de Professores/ n08. Disponível em < http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt08/t0813.pdf> Acesso em 05 dez 2010. NAÇÕES UNIDAS. DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. 1994 Disponivel em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em 30 out 2011. PEREIRA, Ieda L. L., HANNAS, Maria L. Nova prática pedagógica: propostas para uma nova abordagem curricular. Editora Gente. São Paulo, 2000. v. 2, 102 p. – Coleção novos rumos da educação. RODRIGUES, Judite F. Corporeidade e Aprendizagem: uma relação políticopedagógica. Publicado em 02 fev 2009. Disponível em <http://www.webartigos.com/articles/14042/1/CORPOREIDADE-EAPRENDIZAGEM/pagina1.html#ixzz1C9pcXHIr> Acesso em 05 dez 2010. SILVA, Maria Cecília de Paula. Do corpo objeto ao sujeito histórico: perspectivas do corpo na história da educação brasileira. Salvador: EDUFBA, 2009. TEIXEIRA, C. M. F. S. - A criança diante da morte. Revista da UFG, Vol. 5, No. 2, dez 2003 on line (www.proec.ufg.br) Disponível em <http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/infancia/B_morte.html> Acesso em 02 jan 2012. TEIXEIRA, Elizabeth. Reflexões sobre o paradigma holístico e saúde. Revista Esc. Enf. USP, v. 30, n. 2, p. 286-290, ago. 1996. Disponível em <http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/346.pdf> Acesso em 06 nov 2008. 52 VAZ, Alexandre F. et al. Educação do corpo e seus limites: possibilidades para a Educação Física na classe hospitalar. Movimento, Porto Alegre, v. 11, n.1, p. 71-87, jan/abril. 2005. Disponível em <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/221/showToc>. Acesso em 17 mar. 2008. SITES: SITE DA INSTITUIÇÃO OBSERVADA. Disponível em <http://www.nacci.org.br/> Acesso em 03 dez 2011.
Download