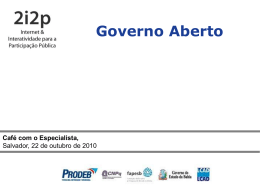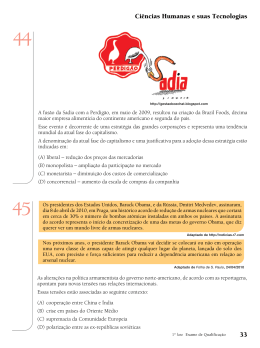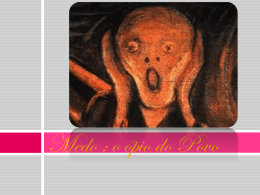Pública 26.10.08
Paul Hagstrom Quantas Américas existem hoje? Pele A raça ainda importa? Portugal
Americanos à distância Ficção E se Al Gore tivesse ganho Mais O mamilo americano
Editorial
A nação
indispensável
Sumário
06 Porque sim
58 A vida em imagens
A América e eu
Daniel Sampaio
Barack Obama
60 A vida em imagens
8 Aconteceu — América
John McCain
Alexandre Soares
José Manuel
Fernandes
Director
José Manuel
Fernandes
Editores
Ana Gomes
Ferreira
e Marco Vaza
Produtora
Maria Antónia
Ascensão
Copydesk
Rita Pimenta
Design
Mark Porter
Directora
de Arte
Sónia Matos
Designers
Ana Carvalho,
Carla Noronha,
Jorge
Guimarães,
Mariana Soares
Email
publica@
publico.pt
N
62 W.
o início do
século passado,
a economia
americana
representava
16 por cento
da economia mundial de
acordo com uma estimativa da
Universidade de Groningen. E
os países da Europa Ocidental
pesavam 27 por cento. O Império
Britânico vivia o seu apogeu.
A meio do século duas guerras
tinham devastado a Europa e
o peso económico dos Estados
Unidos saltara para 33 por
cento. O seu máximo. Mas a sua
hegemonia mundial era então
desafiada pela União Soviética.
Quando entrámos no século
XXI acreditou-se que eram a
“hiperpotência”. O peso da sua
economia à escala global caíra
para 22 por cento, mas só eles
conseguiam projectar a sua força
militar para qualquer parte do
globo, “Império sem império”
que gozava do mesmo tipo de
hegemonia que, um século antes,
pertencera aos britânicos.
Só que o sonho de uma
hegemonia benigna ruiu depois
do 11 de Setembro e da forma
desordenada como a ele se
reagiu nos Estados Unidos, na
Europa, na Ásia. No auge do
seu poder político, mas já na
curva descendente do seu poder
económico, os EUA entraram mal
no que alguns haviam previsto
vir a ser o “século americano”.
Pelo poder que têm, e pelo
que não têm, pelo que fazem
ou não fazem, pela influência
da sua cultura de massas e das
suas universidades, os EUA
não deixaram de ser a “nação
indispensável” e de assim serem
vistos até pelos seus inimigos.
Daí que todo o mundo gostasse
de poder votar a 4 de Novembro,
que até vê como a eleição mais
importante de sempre. Mas o
mundo não pode votar. Nós
não podemos votar. Podemos é
observar estas eleições mais de
perto e mais bem informados. a
10 Vai acontecer
— América
Um debate na quinta-feira:
Eleições americanas para
principiantes
Julgamento sumário
para George Bush
Paulo Moura
64 Literatura
12 Capa
Silêncio e boom
Alexandra Lucas Coelho
A reinvenção da América
Rita Siza em Washington
66 História virtual
18 Jerry Hagstrom
E se Al Gore tivesse ganho?
Paulo Moura
Há cada vez mais Américas
Teresa de Sousa
e Nuno Ferreira Santos
73 A nuvem de calças
O fim do chicote
Rui Cardoso Martins
26 Pele
A raça ainda conta?
Rita Siza em Memphis
32 Comunidades swing
Os quatro retalhos
que podem ser decisivos
Maria João Guimarães nos EUA
74 O mundo à mesa
O melhor hambúrguer
de Lisboa e o seu vinho
Fernando Melo
e Enric Vives-Rubio
76 Gastar
Shopping eleitoral
40 Opinião
“Interesses do mundo”
ou um “mundo americano”
João Marques de Almeida
79 Sexo
42 Mundo multipolar
80 Manias
José Vítor Malheiros
Sarah Palin
Joana Amaral Cardoso
O mamilo americano
Nuno Nodin
45 Opinião
O efeito Obama
Álvaro Vasconcelos
81 Nós no mundo
46 Expatriados
Bush, Obama,
McCain e o ambiente
Ricardo Garcia
Eles votam em Portugal
Kathleen Gomes
84 Tarot
Maya
54 Presidente
É o carácter, estúpido!
Miguel Gaspar
ESTE SUPLEMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PÚBLICO DO DIA 26/10/08 E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
74
crónica porque sim
A América e eu
Daniel Sampaio
S
A vitória
[de Obama]
significa
aquilo
que ele
nos repete
desde o
primeiro
momento:
é preciso
Mudar. A
América e
o mundo
empre tive uma relação ambivalente com a
América, uma espécie de amor-ódio que o tempo não
tem desvanecido.
Tudo começou com um ano de idade, quando fiquei
por cá e não acompanhei a família no mestrado paterno:
se por um lado lamentei não ter logo realizado a ambição
de conhecer os EUA, tão frequente nos anos 50, vim a
ganhar uma relação de sonho com a minha avó, de que
dou conta no meu recente livro A Razão dos Avós.
Em minha casa sempre ouvi glorificar a América.
O meu pai atribuía aos seus estudos americanos a
notoriedade e saber que veio a alcançar como médico de
Saúde Pública. A minha mãe ilustrava com exemplos a
capacidade de trabalho, a solidariedade de vizinhança e
as oportunidades aos artistas que a tinham marcado na
sua vida americana. Mesmo o meu irmão, sempre mais
crítico pela sua visão de esquerda, trazia-me uns EUA
em que as oportunidades de realização, a participação
cívica, a democracia no quotidiano e o apreço pela
ciência eram bandeiras a elogiar.
Quando em 1963 vi América, América, de Elia Kazan,
compreendi como o sonho americano persistia em
muitos: também me passou pela cabeça ir estudar para
os EUA, onde a Medicina era o exemplo do melhor
que se fazia “lá fora”. Na América existiam hospitais a
sério, onde todos os meios eram postos ao alcance de
profissionais bem treinados: estávamos longe das actuais
séries da televisão, mas dizia-se ser lá que se “curavam”
doenças nem sequer diagnosticadas entre nós.
Mas, ao contrário do grego do filme, resolvi ficar
quase 20 anos. Só em 1980 fui para Madison, Wisconsin,
aprender com Carl Whitaker, um dos pioneiros da terapia
familiar. E o amor renasceu: devo a esse treino uma
autêntica revolução na minha vida profissional, pois
compreendi que não se pode tratar ninguém sem pelo
menos compreender o seu sistema familiar (presente
e passado); e entendi que a família, espaço emocional
com diversas configurações, é o que restará quando
tudo nos parecer submerso. E sou devedor da América
na minha vida pessoal, pois com Whitaker compreendi
que a melhor forma de sermos livres é conseguida com
o amor sustentado para com os nossos familiares (o
que pressupõe podermos expressar também que há
momentos em que os detestamos).
O que gosto na América: a literatura, Faulkner,
Bellow, agora Roth; Elvis Presley, The King, em Love me
tender, a melhor canção de amor de todos os tempos;
6 • 26 Outubro 2008 • Pública
a voz de Sinatra em My way; o cinema de Orson Welles,
sobretudo o genial Citizen Kane, filme por mim revisitado
dezenas de vezes e onde está tudo, até a chave para
compreendermos a América. E as orquestras americanas
de música clássica. E as cidades americanas, Nova
Iorque e S. Francisco, com os seus museus e restaurantes
acessíveis. E a Coca-Cola, dizia um doente meu que quem
tinha inventado essa bebida merecia o Prémio Nobel.
O que eu não gosto na América: o complexo deles face
à Europa, invejosos da nossa História, sempre a dizerem
que são melhores. O seu nacionalismo exagerado e o
imperialismo que os fazem sentir-se donos do mundo
(com as consequências que estão à vista). O criacionismo
serôdio de Sarah Palin, na pretensão de combater a teoria
da evolução, uma das mais brilhantes da humanidade.
Os hambúrgueres com molho de tomate, um alimento
sem arte nem poesia. O café americano, que eu e o
José Gameiro tornámos mais forte à socapa, causando
algumas insónias aos colaboradores de Whitaker. E
detesto o Presidente George W. Bush, o pior de sempre,
uma mistura do americano rígido e provinciano do Texas
com uns tiques aprendidos a custo na
universidade, actualizados ao minuto
por conselheiros providenciais para
ele (e não para o mundo).
Feito o balanço, o fascínio mantémse: gosto dos EUA. E fico contente
porque Obama vai ganhar — uma
questão de dignidade para os
americanos —, ao contrário do
que previram os nossos analistas
de direita. E acredito que tudo
vai ser diferente, porque a sua
vitória significa aquilo que ele
nos repete desde o primeiro
momento: é preciso Mudar. A
América e o mundo. a
visitaram
Sean Penn
com Chávez
REUTERS
aconteceu américa
O actor e o político visitaram
juntos a obra que decorre
no gasoduto da Venezuela.
Na mesma semana em que
Sarah Palin chamou “ditador”
a Chávez, o Presidente
venezuelano mostrou que
tem boas relações com alguns
actores norte-americanos — foi
a segunda visita de Sean Penn
àquele país em pouco mais de
um ano.
Hugo Chávez
fez de
cicerone ao
seu amigo
Penn
compraram
Ellen e o
casamento gay
acusaram
Madonna lava
roupa suja
anunciaram
Google com
Obama?
mais do que duplicou o anterior
recorde que já lhes pertencia,
quando no mês de Agosto
conseguiu recolher 66 milhões de
dólares.
A cantora americana
Madonna acusou o ainda
marido Guy Ritchie de ser
um caçador de fortunas.
“Pensei que estávamos a viver
uma viagem espiritual, mas
estava enganada.” Ritchie
respondeu, através de amigos,
que ela nunca queria sexo
— estava sempre cansada
das quatro horas diárias de
exercício. Ritchie (a quem
Madonna poderá ter de pagar
44,5 milhões de euros no
divórcio) disse: “Abraçá-la era
como abraçar um monte de
cartilagem.”
O chefe executivo da Google,
Eric Schmidt, disse que a
empresa tem uma posição
“oficialmente neutra” em
relação aos candidatos à
presidência, mas anunciou que,
“a título pessoal”, apoia Obama.
Schmidt tem assessorado Obama
em assuntos tecnológicos.
participaram
Palin faz bem
às audiências
angariaram
Democratas
batem recorde
A campanha democrata angariou
em Setembro mais de 150 milhões
de dólares. Com este valor,
AFP PHOTO/MARTIN BUREAU
A actriz e apresentadora Ellen
Degeneres comprou
tempo de antena
numa estação de
televisão da Califórnia
para convencer
os espectadores
a defender a
institucionalização
do casamento
entre pessoas do
mesmo sexo no
referendo que
se realiza em
Novembro.
DeGeneres,
que casou
em Agosto
com a
actriz Portia
de Rossi,
gastou 75 mil euros.
A candidata republicana à vicepresidência, Sarah Palin, fez uma
participação especial no Saturday
Night Live. Durante o programa
de humor, brincou com a actriz
Tina Fey que tem feito imitações
de Palin, e o actor Alec Baldwin
disse-lhe que era “muito mais
sexy em pessoa” . Resposta: “O
seu irmão Stephen é que é o
meu Baldwin preferido.” Há 14
anos que o programa não tinha
audiências tão altas.
suspenderam
Avó de Obama
adoece
A Google
é neutra,
Eric não
O candidato democrata fez
uma pausa na campanha esta
semana para visitar a avó doente
no Havai. Madelyn Dunham,
que faz hoje 86 anos, ajudou a
criar Barack Obama. O político
costuma fazer referências à avó
nos seus discursos, contando que
Madelyn trabalhou na montagem
de bombas durante a II Guerra
Mundial. a Alexandre Soares
vai acontecer América
Hoje
A fechar o
Doclisboa, há
uma maratona de
obras do mestre
norte-americano
do documentário
Frederick Wiseman,
no cinema Londres.
Os EUA em diversas
vertentes: da
educação (vista
em 1968 e revista
em 1994) ao
militarismo, do lazer
de Aspen a uma
prisão para doentes
psiquiátricos. Mais
EUA encerram o
DocLisboa no São
Jorge: Primary de
Robert Drew sobre
o casal Kennedy
(22h00) e The War
Room de Chris
Hegedus e D. A.
Pennebaker sobre os
bastidores da eleição
de Clinton em 1992.
www.doclisboa.org
2a
Ambiente
rock’n’roll, uma
ementa a fazer
justiça ao cenário e um nome
irresistível. É
o The Great
American
Disaster,
diner saído
do imaginário
EUA de todos nós
para o Marquês de
Pombal (Lisboa).
Mesmo que não
seja pela comida — hambúrgueres, pizzas,
bifes, milk shakes...
—, o cenário merece
a visita. Todos os
dias das 12h00 às
24h00. www.myspace.com/thegreatamericandisaster
3a
Oliver Stone volta
à carga com “W”
e aponta agora a
câmara ao homem
que está prestes a
deixar o “trono”.
Uma crónica sobre
a vida e mandatos
de George W. Bush
que acaba de se
estrear nas salas
portuguesas. http://
cinecartaz.publico.pt
4a
No espaço
que celebra a
cultura rock norteamericana junta-se
uma conjugação
musical que tem
dado frutos: Açores
e EUA. O Hard Rock
Café lisboeta recebe
um showcase de
Nuno Bettencourt
e os seus Extreme,
que na quinta
actuam no Coliseu
à luz do novo disco,
Saudades do Rock.
www.hardrock.com
6a
5a
Eleições Americanas
para Principiantes
junta, às 18h30 na
Fnac do CC Vasco
da Gama (Parque
das Nações, Lisboa),
os investigadores
José Gomes André
e Pedro Magalhães,
a jornalista Patrícia
Fonseca (Visão) e
Sara Pina (FLAD
— Fundação LusoAmericana). À
mesma hora na
FLAD (Lisboa) é
lanaldo o livro
Carlucci vs.
Kissinger — Os
EUA e a Revolução
Portuguesa, de
Bernardino Gomes e
Tiago Moreira de Sá.
Broadway
e Hollywood
encontram-se no
Teatro Maria Matos
(Lisboa) num dos
grandes musicais
americanos. Cabaret
mostra uma visão
americana da
ascensão nazi ao
poder e acompanha o
amor de Sally, jovem
cantora inglesa, e um
escritor americano
na Berlim dos anos
de 1930. Ana Lúcia
Palminha é a estrela
desta obra que, no
cinema, confirmou
Liza Minnelli
como diva. http://
teatromariamatos.
egeac.pt
Sáb
Enquanto os EUA
se divertem com o
seu Halloween, o
Seixal dedica-se à
grande invenção
musical dos EUA que
enfeitiçaria o mundo
inteiro. O Seixal
Jazz, que prossegue
até dia 1, oferece
hoje dois grupos de
músicos exímios: o
sexteto all-stars The
Leaders no Fórum
Cultural do Seixal
(21h30 e 23h30) e os
The Fringe, lendário
trio com 36 anos de
entrega ao jazz, na
Mundet (23h00 e
24h00). www.cmseixal.pt/seixaljazz
É agora. Consumo combinado de 4.2 l/100km a 5.7 l/100km e emissões CO2 de 110 g/km a 133 g/km.
/
@
!!
@
! ??
å #-.ååå88>8å
åå
®åå.å
åå
capa
A reinvenção
da América
Os americanos estão abatidos, desmotivados,
aterrorizados. Vivem num turbilhão emocional.
O mal-estar é indisfarçável e alguma coisa tem de mudar.
Porque a crença no “sonho americano” é fundamental.
Texto Rita Siza em Washington
ão
RUDY SULGAN/CORBIS
AFP PHOTO
capa
I
nfelizes, furiosos, preocupados,
descrentes, ansiosos, pessimistas, inconformados, deprimidos, frustrados, desiludidos…
Nunca como hoje os americanos se mostraram tão descontentes e insatisfeitos com o
rumo do seu país — de acordo
com a Gallup Poll, o mais antigo instituto de sondagens dos
Estados Unidos, só uma minoria de nove por
cento da população considera que actualmente
a América está no bom caminho.
A principal razão para este sentimento é óbvia: a crise económica que se abateu sobre o
país, identifica Ruy Teixeira, professor universitário e fellow da The Century Foundation and
American Progress, do New Politics Institute e
da Brookings Institution.
O investigador assinala que este descrédito
não é de hoje; já há uns anos se tem vindo a
acentuar a tendência de descrédito, alimentada
pela crescente oposição à guerra do Iraque e
pela avaliação consistentemente negativa do
desempenho do Presidente George W. Bush.
“Havia muitas coisas a não correr bem há demasiado tempo”, lembra.
Além do Iraque, uma sucessão de notícias
nos últimos anos preocuparam e desanimaram o país — notoriamente, a divulgação das
imagens de tortura em prisões militares americanas, da existência de um programa secreto de vigilância electrónica doméstica, ou do
aumento galopante da dívida externa e do défice orçamental, para enumerar algumas. Mais
importante, a deterioração das condições de
vida para grande parte das famílias alimentou
lentamente o ressentimento: mais desemprego,
menos poder de compra.
“Mas, muito claramente, foi o rebentar da
bolha do mercado imobiliário, o colapso do sistema financeiro e a ameaça da paralisação total
da actividade económica da América que levaram os americanos a parar e pensar: ‘Estamos
no fundo do poço’”, repete Teixeira, que acaba
de lançar o livro Red, Blue and Purple America:
The Future of Election Demographics.
“Corre por aí a ideia de que os americanos
estão zangados. Mas não estão: estão abatidos.
E estão aterrorizados. Estão com medo de perder o emprego, ou a casa, ou a pensão de re-
forma. Estão com medo de não poder mandar
os filhos para a faculdade, de não conseguirem
tratar-se se tiverem uma doença séria”, resumia
na semana passada a escritora e realizadora
Norah Ephron.
Mas, descontando a crise económica, será
que existem outras razões, mais subterrâneas, que expliquem o actual desconforto dos
americanos?
Em Julho de 1979, num célebre discurso
em que a palavra nunca foi pronunciada, o
Presidente Jimmy Carter falou da malaise da
América. O seu argumento: o país, agitado por
uma sucessão de acontecimentos nefastos como o assassínio de John e Robert Kennedy, a
guerra do Vietname, o escândalo Watergate e
o choque petrolífero que provocara uma crise
energética sem precedentes, mergulhara na
depressão e atravessava um momento de falta
de confiança.
“Tenho de vos falar sobre uma ameaça fundamental à democracia americana”, declarou
Carter solenemente ao país, numa mensagem
transmitida pelas televisões. “É uma ameaça invisível. É uma crise de confiança, uma crise que
ataca na alma e coração e no espírito do nosso
dever nacional. Podemos reconhecer esta crise na crescente dúvida sobre o significado das
nossas vidas e na perda da unidade do nosso
propósito enquanto nação”, prosseguiu.
O discurso revelou-se um desastre político
para Carter, que nas eleições seguintes foi derrotado pelo seu optimista adversário republicano, Ronald Reagan: o país não estava preparado para pôr em causa os seus limites e a sua
grandeza. Décadas mais tarde, porém, as suas
palavras têm vindo a ser reavaliadas por comentadores e analistas políticos, que destacam a
“complexidade” da análise política de Carter
e também a “humildade” da sua retórica: os
americanos têm de perceber que enfrentam
desafios difíceis e precisam de reexaminar a sua
vida, fazer escolhas e mudar de rumo.
Turbilhão de sentimentos
Poderá a América de 2008, confrontada com
duas guerras aparentemente infindáveis, a
constante ameaça do terrorismo, o colapso
do sistema financeiro, a variação do preço
dos combustíveis, a avalancha da imigração
ilegal, a perda de competitividade do seu sec-
O discurso de Carter
revelou-se um desastre
político. Foi derrotado
pelo republicano
optimista Reagan
14 • 26 Outubro 2008 • Pública
tor industrial, o aumento do desemprego, a
concorrência internacional no recrutamento
dos melhores investigadores universitários, a
crise da saúde, o recrudescimento da animosidade contra os Estados Unidos sofrer dessa
tal malaise definida por Carter?
“Não creio”, reflecte John K. White, professor
de Ciência Política na Universidade Católica
da América em Washington DC e especialista no comportamento do eleitorado. “Malaise
implica uma falta de paixão, um niilismo ou
ambivalência de sentimentos, um estado que
vai mais além do encolher de ombros, quase
uma desistência. E neste momento o que existe
no país é muita emoção”, compara. Não é uma
emoção positiva, reconhece — é, como descreve, um turbilhão de sentimentos.
“As pessoas começam a pensar que o país não
é respeitado no mundo, que não tem soluções
para a economia, que os dirigentes nos cargos
de topo não são de confiança nem estão a fazer
muito bom trabalho. A crença no ‘sonho americano’ é fundamental, mas começa a ser muito
difícil ser superoptimista nesta situação. O desapontamento e a crise de confiança são mais
do que naturais”, concorda Ruy Teixeira.
Para Todd Gitlin, professor de Jornalismo e
Sociologia na Universidade de Columbia, em
Nova Iorque, o mal-estar da sociedade americana é indisfarçável. “Há, obviamente, uma
crise de confiança, por duas razões principais:
a guerra no Iraque é um desastre e a economia
é um desastre”, sublinha, em declarações à Pública. Outros motivos confirmam o diagnóstico.
“Podemos falar da corrupção flagrante, do abuso de poder”, prossegue. “Estes oito anos da
Administração Bush exauriram por completo
o reservatório de confiança nos republicanos.
E assim chegamos a esta situação de vácuo ideológico. A malaise é enorme!”, conclui.
Howard Wolfson, antigo director de comunicações da campanha da senadora democrata
Hillary Clinton, aponta as mesmas duas razões
para explicar o sentimento negativo que tomou
conta da América. “No dia-a-dia da cobertura
presidencial, é difícil ter uma perspectiva geral
do estado das coisas, mas podemos desde já
antecipar o colapso da Wall Street do passado mês de Setembro como um acontecimento
seminal na história dos Estados Unidos e da
política americana”, considerou. E assim, “se
as políticas falhadas da Administração Bush na
guerra do Iraque já tinham minado a confiança dos americanos relativamente às questões
de segurança nacional, agora esta calamidade
financeira veio ter implicações ainda mais ruinosas”, acrescentou.
Fim e princípio de uma era
REUTERS/ARCHITECT OF THE CAPITOL’S OFFICE/JFK LIBRARY
AFP PHOTO
Vietname,
funeral de J.F.K. e
Watergate (Nixon)
— três factores
com que Carter
explicou a malaise
da América
Num artigo publicado no jornal The Washington
Post, David Rothkopf, autor do livro Superclass:
The Global Power Elite and the World They Are
Making e afiliado do Carnegie Endowment for
International Peace, concorda que, “da mesma
maneira que o 11 de Setembro mudou a maneira como a América vê o mundo, a actual crise
financeira mudou a maneira como o mundo
vê a América” (e já agora, mudou, de forma
significativa, a maneira como a América e o
mundo funcionam).
“O débacle económico será muito provavelmente interpretado pelos historiadores como
um verdadeira linha de divisão a nível global: o
fim de um período e o princípio de outro. Um
dos efeitos imediatos desta crise foi que já deixou tanto os inimigos dos Estados Unidos como
também alguns dos seus mais próximos aliados
a questionar-se sobre o fim do capitalismo e da
supremacia americana”, escreveu.
Para este especialista, a crise financeira
(que num único dia custou ao mercado mais
dinheiro do que todo aquele que já foi gasto
no Afeganistão e Iraque desde o princípio da
guerra) veio expor as fragilidades do sistema
capitalista que está no cerne da vida americana
— e, por isso, a sua resolução necessariamente
implicará um rearranjo ideológico tão profundo como aquele que ocorreu com a falência do
comunismo soviético.
Essa foi uma ideia que começou a ser debatida nas secções económicas dos jornais e rapidamente tomou conta das páginas editoriais
— a cobertura jornalística foi evoluindo até culminar no epitáfio do capitalismo de mercado
livre. “A maior baixa da pior crise financeira
desde a Grande Depressão? O capitalismo ao
estilo americano”, declarou o Washington Post.
O Christian Science Monitor analisou a situação
do ponto de vista da Europa, “um bastião de
desconfiança do sistema capitalista”. “A mesma
questão está na base de todas as teorias para
explicar a crise financeira: será que a era c
Pública • 26 Outubro 2008 • 15
Que posição no mundo?
No que diz respeito à situação dos Estados Unidos, eis como Todd Gitlin enquadra a questão.
“Nestes últimos tempos, temos visto uma insegurança a alimentar outra insegurança a alimentar outra insegurança. É um ciclo, e é neste
cenário que a América está a tentar reimaginarse e reinventar-se a si própria”, contextualiza.
“Agora, o que eu acho é que ainda há uma tremenda dificuldade em perceber que a posição
da América no mundo vai ter de declinar — que
o domínio americano era demasiado grande
para poder ser sustentável, tanto do ponto de
vista militar como do ponto de vista económico. Vamos precisar de um longo, muito longo
período de adaptação”, estima.
Como escreveu numa crónica recente para
o diário The Los Angeles Times (e que indicou
à Pública como uma boa citação), as eleições
presidenciais são sempre momentos em que
o país procura fazer as contas com o seu passado e projectar a sua esperança no futuro. “A
cada quatro anos, as várias versões da América lutam umas contra as outras e é através
desse combate que a nação se avalia e inspecciona, dando voltas e voltas sobre si própria,
procurando escolher não só o seu líder mas a
sua afirmação, a sua identidade — na realidade
aquilo que ela quer ser, aquilo por que ficará
conhecida”, escreveu.
À Pública, o professor explicou que há uma
narrativa “subliminar” no relato da campanha
eleitoral, um outro enredo que não pode ser
resumido a cada dia pelos jornais e que tem a
ver não com o que os candidatos dizem e o que
propõem, mas sim o que eles simbolizam. “Os
candidatos são, num certo sentido, arquétipos
falantes. A decisão de apoiar um ou outro é um
Estes oito anos
Bush exauriram
o reservatório
de confiança nos
republicanos
16 • 26 Outubro 2008 • Pública
alinhamento com uma pessoa mas sobretudo
um mito, um ideal”, teoriza.
As duas figuras em contenda nesta corrida
presidencial tornam esta decisão difícil — e explicam, de certa forma, a tensão, emoção e volatilidade da campanha. “É a América em busca
de um nome para a sua alma”, escreve Gitlin.
“McCain é o herdeiro da tradição do Oeste; ele
é o rebelde que respeita o papel da justiça e da
lei, que é impetuoso em combate, mas também
firme na protecção do seu território contra o
inimigo. Obama é o desconhecido, o estranho
quintessencial, o filho do imigrante. Como figura mítica, é mais esquivo: ele é do exótico
Havai, da estrangeira Indonésia, da elegante
Harvard, da suja e dura Chicago, tudo ao mesmo tempo”.
Christopher Hull, assistente do departamento de Governo da Universidade de Georgetown,
explica que, acima de tudo, “a América é uma
ideia: a ideia de que, com liberdade individual
e política, qualquer pessoa de qualquer lugar
que trabalhe duro terá a sua oportunidade de
sucesso”.
O professor, que é também comentador da
fileira republicana, usa a noção da liberdade
como base de partida na sua análise do ponto em que se encontram os Estados Unidos.
“Benjamin Franklin, um dos chamados ‘pais
fundadores’, disse que ‘qualquer sociedade
que aceita perder alguma liberdade em troca
de pouca segurança não merece nenhuma e
perderá as duas”, cita. “Infelizmente, acredito
que em 2008 a América está num caminho de
perda de liberdade”, completa.
É assim que explica a próxima eleição presidencial de 4 de Novembro. “A eleição representa claramente uma escolha: abrir mão de
alguma da liberdade individual e política e deixar o Governo ajudar os americanos nos seus
esforços de sucesso, ou aumentar o nível de
liberdade e deixar os indivíduos assumir mais
riscos em busca desse sucesso. Nesta época de
perigo financeiro e internacional, os americanos parecem estar em busca de abrigo, dispostos a uma retirada tanto a nível internacional
como internamente”, elabora. “Falo de retirada
em termos das batalhas contra o terror; de retirada em termos de comércio livre com outras
nações; retirada do funcionamento liberalizado dos mercados imobiliários, financeiros, do
REUTERS/RALPH ORLOWSKI
dos mercados livres onde vale tudo chegou finalmente ao fim?”
Talvez por isso, para David Rothkopf, “a
questão fundamental nesta eleição é saber se
os Estados Unidos estão preparados para seguir um novo caminho e definir um novo tipo
de capitalismo americano, que ultrapassa o
dogma instituído por Reagan [e na Europa por
Thatcher], que reconhece a necessidade de novas instituições internacionais para gerir a cada
vez mais complexa economia global e aceita a
intervenção governamental”.
REUTERS
capa
STEPHEN DUNN/GETTY IMAGES/AFP
CONTA
BiGAforro
CONTA
POUPANÇA
À ORDEM
_ COM TOTAL DISPONIBILIDADE
À ORDEM
_ TAXA SUPERIOR À TAXA BASE DOS
CERTIFICADOS DE AFORRO
_ SEM COMISSÕES E
PENALIZAÇÕES
DE JUROS
A
AX
SE
M VIG
OR ATÉ 1
T
S.
RO
BRO
AN
NT
ÊS
8% 1 M
+ info em:
nnn%9`>%gk
DE 2008.
ATÉ 30.000 EU
E
EM
TES
0D
D
OÇÃO
+ PROMLIENTES
C
NOVOS
ITO
DEPÓS
(TANB)
SUPER
EZ
Os mortos
americanos na
guerra do Iraque,
a vergonha pelas
torturas em
Abu Gahrib, a
crise financeira
— retratos
da América
desiludida
O democrata Howard Wolfson acredita que será
esse o caminho (e, acrescente-se, regozija com
essa perspectiva). “Os republicanos e democratas têm andado a discutir o modelo do governo
há mais de um século. Na década de 1980, o
país alinhou pela teoria de Ronald Reagan, que
considerava que o governo se tinha tornado demasiado grande e intruso na vida das pessoas.
Nessa altura, a economia funcionava a favor
dos republicanos. Agora, o pêndulo voltou a
balançar para o lado democrata. A filosofia de
Reagan e dos republicanos foi desacreditada
pelos últimos acontecimentos. A mudança é
inevitável”, conclui.
Ao contrário, Alan Wolfe, professor de Ciência Política e director do Boisi Center for
Religion and American Public Life, do Boston
College, acha que a crise de 2008 não produzirá
os mesmos efeitos políticos nem terá as mesmas consequências culturais de outras — nomeadamente as da Grande Depressão. Como
explica, as condições económicas dos anos
1930 levaram uma geração de americanos “a
votar democrata, a optar pela Segurança Social
sobre a liberdade económica, a acreditar na
capacidade do governo para ajudar a resolver
os seus problemas”.
Mas, de então para cá, o país mudou tão significativamente que “é difícil ver a história repetir-se nesse sentido”, considera. A diferença,
na opinião deste investigador, tem a ver com
o ambiente de polarização política que agora
caracteriza a América. “A democracia sofreu
grandes danos nesta era de divisão partidária,
soundbites e ruído no acesso à informação. Não
espero que a actual crise termine com o triunfo
de um novo modelo coerente e disciplinado”,
como aconteceu com a Grande Depressão.
Wolfe, tal como John K. White e Ruy Teixeira, diz que a raiva que a população americana
exibe neste momento tem uma “qualidade”
diferente daquela que consumiu os Estados
Unidos no princípio do século passado. “Tal
como então, as pessoas diabolizam Wall Street,
mas a sua hostilidade é francamente difusa e
incoerente. Os protestos são mais simbólicos
do que concretos”, entende.
Apesar da avaliação negativa que uma c
MO
Mudança é inevitável
FINALMENTE A SUA
OU
ITO
DEPÓS (TANB)
R
SUPE
SES
E
7% 3 M
PAR
A
sistema de saúde”, concretiza.
98E:F
9`>
FJ<L
EFMF98E:F
9@>FEC@E<
Agências BiG
Lisboa Saldanha, Picoas, Campo de Ourique, EXPO
Porto : Braga : Maia : Évora : Leiria
Coimbra : Viseu : Carnaxide (nova)
AFP PHOTO/SAUL LOEB
capa
esmagadora maioria da população agora faz da
performance da Administração Bush, Alan Wolfe lembra que o país aceitou e “aguentou” as
políticas ditadas pelos grupos de lobby, os cortes fiscais para as grandes empresas e os contribuintes mais ricos e a perda de rendimentos da
classe média. “Em 2004 as sondagens davam
conta da relativa insatisfação do eleitorado, mas
a tendência era para não culpar o Presidente”,
recorda John K. White. “Agora, de repente, a
opinião pública e publicada reencontrou a sua
veia populista, atacando a ganância do sistema
financeiro, exigindo regulação e transparência
no governo. Mas, quando acabar o susto, voltaremos à política do costume num piscar de
olhos”, antevê Alan Wolfe.
O sistema ainda funciona
“As pessoas podem estar com medo da ascensão económica da China ou da ameaça do mundo islâmico e até podem achar que os Estados
Unidos não são respeitados no mundo. Mas
não deixaram de acreditar que este país é o
poder dominante, isso não está em causa”, diz
Ruy Teixeira.
Na opinião de White, a insatisfação dos americanos é muito direccionada: o descontentamento não tem a ver necessariamente com os
princípios e valores que definem o país, mas
com as pessoas nas posições-chave. “Os americanos ainda acreditam que o sistema funciona, ninguém diz que o que é preciso é rasgar a
Constituição e encontrar outro modelo”, assegura. “Talvez um dia cheguemos a esse ponto,
mas a mudança de que se fala nesta eleição tem
mais a ver com uma mudança de personalidades e partidos do que com uma revolução do
sistema político”, considera.
Steve Clark, consultor político e colunista do
Boston Globe, fala da “consistência” da política
presidencial americana, frisando que por detrás da ascensão e queda de um determinado
partido estão sempre “traumas nacionais”. A
Guerra Civil, exemplifica, deu origem ao Partido Republicano moderno, produziu um dos
seus líderes mais icónicos, Abraham Lincoln,
e inaugurou uma era presidencial que durou
desde 1860 até 1928: durante esse período, os
republicanos dominaram, ganhando 14 das 18
eleições.
A Grande Depressão, continua, voltou a alterar a paisagem política, desta vez com a predominância dos democratas, que entre 1932 e
1964 conquistaram sete das nove eleições. E
no final da década de 1970, conclui, os republicanos souberam aproveitar a reacção con-
As mudanças de que
se fala têm mais a ver
com uma mudança de
personalidades do que
com a revolução
do sistema político
18 • 26 Outubro 2008 • Pública
servadora ao movimento dos direitos cívicos,
o desânimo do Vietname e a guerra fria para
voltar a ganhar vantagem, cultural e demograficamente. Os únicos candidatos presidenciais
democratas que singraram desde então vieram
do Sul conservador, Jimmy Carter e Bill Clinton;
de resto, os republicanos prevaleceram em oito
das onze corridas.
Daí, defende, a presente conjuntura favorece
uma nova configuração política da América.
“Por mais ou menos anúncios negativos ou discursos positivos que os candidatos façam, as
suas acções não transformam a evolução política da mesma maneira que as circunstâncias
e os acontecimentos externos”, sublinha. Com
o país em crise, Barack Obama pode “alcançar
uma vitória substancial que, de novo, vire a
página na história política, com profundos efeitos que se podem estender por mais de uma
geração”, observa.
Por seu lado, Chalmers Johnson, comentador e autor de três livros sobre o militarismo
americano (Blowback, The Sorrows of Empire e
Nemesis: The Last Days of the American Republic), encontra tantos paralelos entre as condições socioeconómicas de 1932 e de 2008 que,
especula, é possível encarar a próxima eleição
presidencial como uma espécie de “renascimento”: o analista arrisca dizer que as condições favorecem um realinhamento na política
americana semelhante àquele que aconteceu
no século passado.
As pressões económicas de hoje ainda não
se manifestam com a mesma severidade que
destruiu por completo o tecido social, económico e político na época da Grande Depressão
— ao contrário de 1932, em que a taxa de desemprego atingiu mais de 30 por cento, a falta
de trabalho afecta seis por cento da população.
Mas, enumera Johnson, abundam os indicadores negativos: “A execução maciça de hipotecas, a falência de bancos de investimento, a
inflação dos preços da comida e dos combustíveis, o fracasso na garantia de um sistema de
saúde que abarque todos os americanos, uma
catástrofe ambiental, os exorbitantes custos
das operações militares no Iraque e Afeganistão (e a perspectiva de novos focos na Geórgia,
Ucrânia, Palestina, Líbano, Irão, Paquistão) e
dois défices recorde na balança comercial e no
orçamento federal.” a
®
entrevista
Jerry Hagstrom
“Não há duas
Américas.
Há muitas
Américas.
Cada vez mais”
A América mudou? Muito? Quase nada? Em que
sentido? Ao ponto de se preparar para eleger Barack
Obama? Em Novembro de 1932, também ninguém
sabia. “Por isso, quem sabe?” Daí a esperança.
Texto Teresa de Sousa Fotografia Nuno Ferreira Santos
entrevista
A
conversacomeçainformalmente, ainda sem o gravador
ligado, num hotel
de Lisboa, a meio
da tarde do dia 17
de Outubro. “Excelentes notícias
para Obama”, diz
Jerry Hagstrom,
editorialista da National Journal, jornalista várias vezes premiado, especialista na política interna norte-americana, sediado em Washington.
Esteve em Portugal para falar das eleições americanas em várias universidades. “Obama tem
agora a mesma percentagem de votos dos eleitores brancos que apoiaram John Kerry.” Não
há sequer tempo para ligar o gravador quando
se trata das eleições americanas. A conversa
não pode parar. “O maior desafio para Obama,
nestes últimos dias, é garantir que as pessoas
que o apoiam vão mesmo votar.” Sobretudo
os jovens. “O que seria uma enorme mudança
desde 1972”, quando os EUA decidiram baixar a
idade de voto dos 21 para os 18 anos. Irão?
O gravador já está ligado. É este precisamente
o tema central desta entrevista: o que mudou
na América para que Barack Obama tenha as
mais altas probabilidade de vir a ser o próximo
Presidente americano. A conversa nem sempre
é fácil, demonstrando como, por vezes, as interrogações de um europeu continuam a não fazer
sentido para um americano. Mesmo as palavras
podem ter diferentes significados. Mudança,
por exemplo. Nós, do lado de cá, sonhamos
com uma. Eles, do lado de lá, estão a pensar
noutra coisa.
A América mudou? Muito? Quase nada? Ao
ponto de se preparar para eleger Barack Obama? Em que sentido? Quem é que sabe? Daí a
esperança. “Pode haver demasiadas expectativas que redundem em desilusão.” Mas, em
Novembro de 1932, também ninguém sabia.
“Portanto, quem sabe?”
O extraordinário apoio a Barack Obama quer
dizer que a América mudou ou traduz a sobretudo a decepção com George W. Bush de
que qualquer candidato democrata poderia
beneficiar?
Penso sinceramente que traduz uma mudança
na América. Mas iria um pouco mais atrás para dizer que essa mudança começou quando
os dois principais candidatos do Partido Democrata que concorrem nas primárias foram
uma mulher, Hillary Clinton, e um negro, Barack Obama. Ambos eliminaram desde o início
todos os candidatos brancos homens, o que foi,
só por si, extraordinário num país que, ao longo
da sua história, só teve homens brancos como
presidentes.
Isso prova que pelo menos o Partido Democrata
acreditava mesmo que Hillary e Obama eram os
dois melhores candidatos para vencer as eleições. Os mais famosos, os mais inspiradores,
os mais qualificados.
Isso foi em metade dos eleitores. Agora es22 • 26 Outubro 2008 • Pública
Há um sentimento
mais forte de que
devemos consultar
mais os outros,
aprender mais sobre
os outros
Kennedy também
era muito jovem e era
diferente na medida
em que era católico.
E essa eleição pela
primeira vez é sempre
importante para nós
tamos a falar da América, no seu conjunto.
Há um ano, alguém imaginaria que os americanos se virariam para um negro para liderá-los através de uma crise financeira desta
dimensão?
Eu nunca imaginaria, de facto. Nessa altura,
quase toda a gente ainda acreditava que Hillary
Clinton iria ser a nomeada e a questão era: o
país vai votar por uma mulher?
Esta mudança de que fala é fundamentalmente uma mudança cultural? Podemos dizer que a raça deixou de ser um problema?
Não, não penso isso. Ainda é um problema.
Sondagens feitas há cerca de duas semanas
mostravam que há perto de seis por cento de
votantes americanos que levam a raça em conta
no seu voto. As mesmas sondagens mostravam
também que dois ou três por cento dos americanos nunca votariam num negro. Mas mesmo
estas sondagens já podem estar ultrapassadas,
de tal forma as coisas estão a mudar.
Mas tenho de acrescentar que 80 por cento do
crédito dessa mudança tem de ir para o próprio
Barack Obama. Ele conduziu uma campanha de
tal modo inteligente que acabou por ganhar o
voto de muita gente que nunca na vida pensaria
votar num negro. E é preciso também entender
que ele é um negro dotado de uma excelente
educação, que fala muito bem e que não dá a
menor impressão de ser um homem revoltado.
Pelo contrário, transformou-se na força tranquila no meio deste caos financeiro.
Isso quer dizer que o “Bradley effect” já passou à história?
Só saberemos responder no dia 4 de Novembro,
mas o meu sentimento é o de que, nas duas últimas semanas, com esta crise, os americanos
estão de tal modo determinados em eleger um
democrata que podem ignorar a questão da
raça. Não tenho qualquer prova do que estou
a dizer, é apenas aquilo que pressinto.
Voltando à sua questão inicial, claro que as pessoas estão desapontadas com a performance do
Presidente Bush. E também estão perfeitamente
cientes de que foi a filosofia dos republicanos
no sentido da desregulação [dos mercados] que
nos levou a esta crise financeira. Há, pois, neste
momento uma forte tendência para responsabilizar os republicanos por isto tudo. Mais forte
do que a pessoa do seu candidato.
É há também a memória de que a última vez
que estivemos numa situação semelhante foi em
1929, que Herbert Hoover, o Presidente republicano, não soube reagir devidamente à situação,
que foi preciso eleger Franklin Delano Roosevelt (F.D.R.) em 1932, que foi ele que fechou os
bancos, que regulou as coisas de outra maneira
e que garantiu a rede social de que ainda hoje
dispomos. Isto também reforça o desejo de eleger um democrata.
Obama não é um democrata qualquer. Isso
significa que os americanos têm hoje uma
percepção de si próprios que é diferente?
Como uma nação que tem outros valores?
McCain é o herói tradicional. Obama não é
propriamente o estereótipo desse herói americano. A sua não é uma história americana
típica.
É verdade. Não é típico ter uma mãe branca do
Kansas e um pai negro do Quénia ou ser criado
no Havai e acabar por frequentar as melhores
escolas do país. Mas também é, de algum modo,
uma parte do sonho americano. A América é
uma grande mistura. Não tanto uma mistura
racial mas uma mistura.
Quando me pergunta se os americanos têm
hoje uma percepção diferente de si próprios,
eu diria que não creio que os americanos se
vejam a mudar assim tão dramaticamente. Na
sua maioria, estão preocupados com os seus
interesses individuais.
Mas temos de voltar ao princípio desta história,
que começou com o Iraque. Temos de nos lembrar que Obama foi, desde o início, um opositor
da guerra e que Hillary, pelo contrário, votou
nos poderes de Bush para desencadear a guerra. Ora, esta questão atraiu uma parte muito
significativa dos jovens, que, na sua maioria,
nunca tinham votado.
A segunda coisa que conta é a capacidade natural de Obama para inspirar as pessoas. Tive a
oportunidade de ver isso logo no célebre caucus
do Iowa. Nesse dia, Hillary Clinton falou como
se estivesse a candidatar-se a um emprego. Obama falou como se estivesse a candidatar-se a
Presidente.
Estou a pensar na sua outra questão... Não foi
uma mudança assim tão brusca. Há negros no
Congresso, governadores negros...
Secretários de Estado negros, como Colin
Powell e Condoleezza Rice. Mas não um Presidente.
Não um Presidente. Mas, ao longo do tempo, os
americanos foram-se progressivamente habituando à ideia de que os negros podem ser líderes.
Eu diria que esta percepção teve o seu avanço
mais significativo com a administração Clinton,
que escolheu negros mas também hispânicos
e mulheres para posições proeminentes, e que
George W. Bush continuou no mesmo sentido.
As pessoas habituaram-se à ideia. Deixou de
ser estranha. Não representa, afinal, um salto assim tão grande, como poderia parecer à
primeira vista.
Em termos culturais, é muito interessante,
pelo menos para um europeu, olhar para o
que Obama representa e olhar para o que
Sarah Palin representa, que é precisamente
aquilo que temos mais dificuldade em entender na América. Continua a haver duas
Américas?
Eu diria que temos muitas Américas. Cada vez
mais. Fala-se muito do facto de os americanos
irem muito mais à igreja do que os europeus.
Temos essa imagem de um país muito religioso. Queria dizer-lhe que até isso está a mudar e
pude verificá-lo eu próprio. Nos últimos três ou
quatro anos, fui convidado para vários casamentos em que não havia nenhum representante
de nenhuma Igreja ou religião. Isso chamou-
me a atenção. Quando eu era novo, as pessoas
conformavam-se com o que era considerado
normal. Isso acabou. O fundamentalismo religioso desenvolveu-se mas, ao mesmo tempo,
aceita-se os casamentos entre homossexuais
ou a adopção por homossexuais.
O que quero dizer é que os americanos vivem
de maneiras muito diferentes e essa variedade
está a aumentar muito. Isso torna, de algum
modo, a política mais difícil. Porque há muito
menos conformidade ao centro e os candidatos
têm de unir pessoas com opções de vida muito
diferentes.
Mas culturalmente como é que explica o fenómeno Palin?
Está a falar dela como mulher ou como candidata?
Sobretudo como candidata.
Deixe-me falar dela como ser humano. Dizer
que ela representa o fundamentalismo religioso é apenas uma parte da sua personalidade
pública. É verdade que frequentou uma Igreja
fundamentalista e que se opõe ao aborto mesmo no caso de violação ou incesto. Mas, como
política, o seu apelo é um pouco mais amplo.
Também é verdade que atacou o seu próprio
partido no estado do Alasca, expondo vários
casos de corrupção que envolviam republicanos. O facto de ser uma caçadora e uma atleta
também permite que possa ser vista como uma
mulher moderna. Não são características que
associemos aos conservadores religiosos. c
entrevista
Nada disso quer dizer que a decisão de John
McCain não seja vista por muitos americanos,
incluindo muitos republicanos, como uma decisão criticável. Mas, como sabe, ela não era a sua
primeira escolha. Ao princípio, até pareceu que
tinha sido uma boa ideia. Houve democratas que
tiveram medo que a eleição estivesse perdida.
Mas as pessoas mais racionais disseram: esperem para ver o que ela faz. E ela cometeu os
erros que nós conhecemos. Hoje, é um peso
morto na campanha do senador McCain.
Os independentes não gostam dela. Os indecisos dizem que ela não tem a experiência necessária.
Em termos políticos, estas eleições também
parece que marcam o fim de um ciclo conservador, que começou com Ronald Reagan. Já
tinha mencionado o que significou a eleição
de Roosevelt. Estamos numa mudança de
idêntica dimensão?
É sempre difícil saber quando estamos realmente no início de um novo ciclo. Estamos, de
certeza, num momento em que a fé no sistema
de mercado livre é questionada. Mas, no longo prazo, tenho dificuldade em imaginar que
os americanos realmente desejem um sistema
económico em que o Governo passe a ter um
grande papel nos seus negócios e nas suas empresas. Nós gostamos do dinamismo inerente à
liberdade das pessoas e das empresas.
Mas é óbvio que as pessoas também percebem
que estes banqueiros cometeram grandes erros e que há um limite para aquilo que podem
fazer. Para onde é que vamos a partir daqui?
Não sei.
Pensa que as pessoas estão, mesmo assim,
preparadas para aceitar um papel maior por
parte do Estado?
Ainda não sei. E posso dizer que não há nenhum político, incluindo Barack Obama, que
realmente esteja a defender isso.
Obama disse, de resto numa tradição muito
europeia, que todos os americanos devem
ter direito a um seguro de saúde.
Estava a referir-me à economia, onde os americanos são de facto muito resistentes à ideia
de que o Governo interfira. O que creio é que
estão agora mais preparados para aceitar mais
regulação na economia. Estão em estado de choque com aquilo que viram do funcionamento
do sistema financeiro.
Em termos sociais, acredito que os americanos vão querer continuar agarrados à ideia de
que têm o direito de escolher os seus médicos
e temem que um sistema mais socializado lhes
possa tirar esse direito.
Pensa que esta crise, com o que revelou, levará os americanos a serem mais sensíveis
em relação às desigualdades?
Penso que o que verdadeiramente enfurece os
americanos é o facto de esses banqueiros terem
feito mal o seu trabalho e não os salários que
usufruíam. Aceitam perfeitamente o que eles
24 • 26 Outubro 2008 • Pública
Com muito menos
conformidade ao
centro, os candidatos
têm de unir pessoas
com opções de vida
muito diferentes
O que enfurece
os americanos é os
banqueiros terem feito
mal o seu trabalho
e não os seus salários
ganham desde que façam bem o seu trabalho.
O que podem querer não é que ganhem menos,
é que vão para a cadeia. A opinião pública vai
concentrar-se mais em pessoas concretas que
tomaram decisões erradas e que merecem castigo do que no facto de serem ricas.
Mas há outra coisa que as pessoas sentem muito: o facto de tantos empregos na indústria
transformadora estarem a sair do país para o
estrangeiro. Do que eles se ressentem é de que
os bons empregos, que garantiam o sustento
da família, férias, conforto e seguro de saúde,
estejam a desaparecer porque as coisas passaram a ser feitas na China ou no México. E não
compreendem isso.
Mas as pessoas não ficaram chocadas, por
exemplo, com as imagens de pobreza e desespero que viram em Nova Orleães, na sequência do Katrina, inimagináveis num país
tão rico e poderoso?
Sim, as pessoas ficaram chocadas. Mas em certo
medida culparam o governo do Luisiana, que
sempre teve problemas de corrupção. Não culpam as pessoas ricas, culpam um governo que
funcionava mal.
Os americanos não detestam os ricos porque
desejam ser ricos. Toda a gente tem a esperança de que os seus filhos venham a sê-lo. Ainda
temos esse sonho.
Mesmo quando, nas últimas duas décadas,
as pessoas começaram a sentir que provavelmente os seus filhos não iam viver melhor
do que eles?
Pode ser um problema, mas o que eu entendo que aconteceu nos últimos 20 anos foi que
a classe média alta, que é diferente dos ricos,
cresceu muito em número e em rendimentos.
Em certo sentido, cumpriu o sonho americano.
São sobretudo os filhos dos trabalhadores das
fábricas, os blues colours, que não foram para
a universidade, que estão a sair-se pior. Os dois
fenómenos coexistem.
É por tudo isto que eu digo que estamos, talvez, no início de uma nova era mas ainda não
sei em que direcção iremos. Se eu vivesse em
Novembro de 1932 [data da primeira eleição
de Roosevelt], não creio que tivesse compreendido imediatamente o que representaria o
novo Presidente e em que direcção iríamos a
partir dali.
Mas diria com alguma segurança que estamos
no termo de uma era conservadora que começou em 1973 com a decisão do Supremo Tribunal sobre o aborto e que deu origem ao movimento social conservador. Foi preciso esperar
por 1980 para que esse movimento tivesse um
papel na eleição de um Presidente. Isso significa
que o futuro do Partido Republicano é também
uma questão muito interessante.
Zbigniew Brzezinski dizia recentemente, numa entrevista à BBC, que o próximo Presidente tem de ensinar as pessoas a conhecer
melhor e a compreender melhor o mundo. A
América está em condições de mudar a sua
Também o acha fascinante? Eu recomendo-o
a toda a gente.
Acho. Compreendemos através dele que
ele teve uma vida, apesar de tudo, pouco
comum para um americano. Isso também
pode influenciar a forma como lidará com
o mundo?
Deixe-me dizer-lhe antes que há uma parte da
sua vida que as pessoas não levam tanto em
consideração e que é muito importante.
A sua mãe nasceu no Kansas e foi com os pais
para Seattle, Washington, onde acabou o liceu
em 1959, tendo sido aceite na Universidade de
Chicago. Como sabe, só não foi para lá porque
os pais tiveram medo de mandá-la tão jovem
para uma cidade tão grande.
Isto também representa uma parte muito importante das raízes de Obama. Eu cresci no
Dacota do Norte, um estado junto da fronteira
canadiana um pouco acima do Kansas. A minha
família ficou por lá, mas eu consigo compreender muito bem o que significa o percurso
de uma pessoa que vai do Kansas para Seattle
nos anos ‘50. São pessoas que andavam em
busca de uma vida mais liberal. E que a encontraram.
Não creio que a compreensão de Obama esteja
apenas no seu pai queniano ou no seu padrasto
indonésio. É preciso ver tudo no seu conjunto
e valorizar devidamente o papel da mãe. Mas
reconheço que o seu percurso, filho de um
queniano que vai para a Indonésia e que volta
para o Havai é muito, muito particular. Representa uma nova abertura, um novo interesse
no mundo.
relação com o mundo?
Não se esqueça que, na América como na Europa, as eleições são sempre domésticas. Não
espero grandes transformações nesse domínio.
Mas há, de facto, um sentimento muito forte
entre os americanos de que o Presidente Bush
foi um go it alone, que é explicada também por
uma certa mentalidade muito texana. O Texas
foi parte do México antes de ser membro dos
Estados Unidos [em 1845] e mantém um olhar
muito peculiar sobre o mundo.
Há hoje um sentimento mais forte de que devemos consultar mais os outros, que devemos
aprender mais sobre os outros. Mas essa não
é a questão fundamental. A questão é que são
precisos líderes que tenham a coragem de contrariar a ideia de que só devemos fazer aquilo
que é bom para nós.
Os americanos continuam a ver-se como a
nação excepcional? Indispensável?
Penso que a ideia de que a América tem o dever de fazer o bem no mundo é ainda forte.
A questão é saber como é que definimos esse
“bem”. Durante as guerras nos Balcãs, fiquei
espantado ao constatar que muita gente que
se tinha oposto à guerra do Vietname achava
que devíamos intervir. E também que devíamos intervir no Ruanda ou, agora, no Darfur.
Creio que este será um dos temas mais difíceis
de tratar no futuro. Mas não vislumbro, apesar
do Iraque, nenhuma tendência para os EUA se
isolarem do mundo.
Aliás, se há algo que toda a gente aprendeu nas
duas últimas semanas, foi que a economia é
global e que o que cada país faz tem necessariamente um efeito nos outros.
Os americanos estão mais preparados para
aceitar as Nações Unidas, por exemplo?
O Presidente Bush, sobretudo no segundo mandato, tem feito mais coisas através das Nações
Unidas do que alguma vez esperaríamos. Fala
pouco disso porque sabe que isso é muito pouco
popular entre os republicanos.
Mas qual é o sentimento dos americanos...
O que lhe posso dizer é que precisamos de lideranças que lhes digam que as Nações Unidas, o
FMI, o Banco Mundial são instituições importantes. E que, nos últimos anos, tivemos lideranças mais dispostas a criticar essas instituições.
Penso que esse, sim, é um assunto em que os
americanos precisam de ser ensinados.
Voltemos a Obama. Lendo a sua autobiografia, The Dreams of My Father, um livro fascinante...
O americano normal percebe o efeito de Obama fora da América?
Eu diria que o americano normal não está a
pensar nisso mas na sua situação financeira.
Mas há um reconhecimento generalizado de
que a nossa reputação no mundo caiu muito
e que devemos tratar disso. Claro que as elites
políticas estão muito conscientes desse facto
e do potencial enorme deste momento. Que
pode ser comparado, talvez, com a eleição de
John Kennedy.
Kennedy também era muito jovem e era diferente na medida em que era católico. E a eleição de um certo tipo de pessoa pela primeira
vez é sempre muito importante para nós. Para
podermos dizer aos nossos filhos que também
eles podem ser tudo.
Hoje, já ninguém liga ao facto de Kennedy ter
sido o primeiro católico a chegar à Casa Branca. Mas muita gente liga ao facto de termos um
jovem negro prestes a poder fazer o mesmo.
Isso também vai significar muita coisa para
muita gente.
Claro que pode haver demasiadas expectativas
que acabem por redundar em desilusão. Mas,
em 1932, F.D.R. também foi eleito numa situação muito difícil, também havia imensa gente
que o criticava e até que o odiava, e ele venceu.
Portanto, quem sabe? a
Pública • 26 Outubro 2008 • 25
REUTERS/JASON REED
Pele
A raça
ainda
importa?
A partir do momento em que apareceu um candidato
negro, era impossível ignorar esta questão, dizem
uns. Não, a América já não é um país racialmente
dividido, dizem outros. O país está dividido em
“estados azuis” e “estados vermelhos”. O discurso do
branco contra o negro e vice-versa é passado.
Texto Rita Siza em Memphis, Tennessee
B
ang! “Virei-me para começar
a descer as escadas e ouvi um
tiro”, gesticula o reverendo
Billie Kyles, o polegar e o
indicador levantados sob a
forma de uma arma de fogo. Ao
voltar-se, Kyles viu Martin Luther King caído no
chão, coberto de sangue. “Corri para o telefone,
mas a telefonista que fazia a ligação tinha saído
da recepção para ver o que era aquele barulho.
Quando se aproximou e viu o reverendo no
chão, teve um ataque cardíaco instantâneo.
Morreu dois dias depois”, recorda.
No fim daquela tarde do dia 4 de Abril de
1968, Martin Luther King devia ter ido jantar
a casa de Billie Kyles. O jovem pastor, hoje com
73 anos, fora buscar o líder do movimento pelos
direitos cívicos dos afro-americanos ao Lorraine
Motel de Memphis, onde sempre se hospedava
— King regressara àquela cidade para apoiar
a greve dos trabalhadores da recolha do lixo,
26 • 26 Outubro 2008 • Pública
depois de uma primeira manifestação ter terminado em violência e frustração.
O enorme automóvel branco que teria conduzido o grupo de Luther King para a casa de Kyles
ainda está estacionado por baixo do quarto 306
do motel — na varanda, há uma coroa de flores,
vermelha e branca, que assinala o preciso lugar
onde tombou o reverendo; o edifício, entretanto,
foi assimilado pelo Museu Nacional dos Direitos
Cívicos, inaugurado em 1991.
Para este histórico do movimento, o museu
do Lorraine Motel é o melhor de Memphis, a
maior cidade do estado do Tennessee. A cidade,
que deve o seu nome à antiga capital do Egipto,
prosperou, como muitas cidades do Sul dos Estados Unidos, no século XIX com a economia do
algodão e o comércio de escravos (um passado
bem patente na demografia: cerca de 60 por
cento da população é negra). “Gosto de olhar
para este edifício e ver como foi possível pegar
numa coisa tão negativa para esta cidade e c
Pele
DR
este país e transformá-la em algo tão positivo”,
explica.
Hoje em dia, é a música a principal razão pela
qual milhares e milhares de turistas visitam a
cidade — foi Memphis que deu ao mundo Muddy
Waters, B.B. King, Johnny Cash e Isaac Hayes;
foi aqui que Elvis Presley se radicou, e ninguém
dispensa uma visita à sua Graceland (a casa do
músico era a segunda mais visitada de todos os
Estados Unidos, e seguramente passará para
primeiro lugar porque a outra, a Casa Branca,
em Washington, deixou de estar aberta ao público depois dos ataques terroristas de 11 de
Setembro de 2001).
Mas, nota Billie Kyles, “muita gente acaba por
vir aqui ao museu dar uma olhadela”. E, garante,
ninguém sai indiferente. “As pessoas chegam
aqui e finalmente percebem que, se não fosse
o papel pacifista de Martin Luther King e do
movimento pelos direitos cívicos, a América não
ia conseguir escapar de uma segunda revolução
sangrenta”, nota.
Uma conclusão quase inevitável para quem
visita a exposição, organizada cronologicamente
para documentar a luta da população afro-americana pela igualdade de direitos desde os tempos
da escravatura. Podem parecer factos de épocas
remotas, mas, como repara Kyles, não estão assim tão distantes. “Para mim isto não é história,
isto aconteceu em frente aos meus olhos”, refere.
“Quando eu cheguei aqui, em 1959, estava tudo
segregado. Tudo, do berço ao caixão, o hospital
era segregado e o cemitério era segregado: os
brancos para um lado e os pretos para o outro”,
lembra o reverendo.
Kyles discute animadamente os momentos
vividos com Martin Luther King e os “extraordinários progressos” alcançados nos últimos 40
anos. “A única coisa que posso fazer é falar
28 • 26 Outubro 2008 • Pública
Martin Luther King
em Washington,
proferindo o
discurso I Have
a Dream (28 de
Agosto de 1963)
de todas as coisas que ele [Martin Luther King]
fez, todos os seus talentos que eu conheci. Com
ele, eu fui um pioneiro. Agora sou uma testemunha: eu sei qual era o seu sonho e sei como esse
sonho ainda está vivo. Todos os dias, eu caminho
os trilhos que ele abriu neste país.”
Billie Kyles reconhece sentir alguma dificuldade em comentar a histórica campanha eleitoral
que está prestes a terminar. Para alguém que,
como ele, esteve tão envolvido com o movimento
de Luther King, às vezes é difícil acompanhar a
realidade — nem que seja do ponto de vista do
investimento emocional. “É verdade que para a
minha geração tem sido muito difícil ultrapassar
o passado”, admite. “Por exemplo, eu comecei
por apoiar a candidatura da senadora Hillary
Clinton”, informa, “porque já não tinha coração
para mais uma ‘corrida simbólica’ de um candidato afro-americano”, explica.
“Depois Obama começou a ganhar as primárias em todos aqueles estados maioritariamente
brancos e eu dei por mim a parar e pensar: o que
é isto?, será que é desta? Este país mudou, estamos a avançar. O sonho continua vivo”, declara.
E, por estes dias, o reverendo não sai de casa
sem alfinetar um enorme pin com a fotografia
de Barack Obama na lapela do casaco.
Greg Ducket, o presidente da administração
do museu, confirma que, apesar de não envergar
as mesmas “cicatrizes” daqueles que lutaram
nas décadas de 1950 e 1960, sente a mesma
dificuldade de Kyles no momento de avaliar a
situação. “É quase impossível explicar o que a
candidatura de Barack Obama representa para
a comunidade afro-americana”, reconhece.
“Olhando para trás, podemos reclamar muitas
conquistas nestes últimos 40 anos, mas nenhuma como esta”, reflecte.
Desde o arranque da campanha, a raça tem
sido o grande imponderável da presente corrida
presidencial. Assim que Barack Obama garantiu
a nomeação democrata, imediatamente os comentadores se interrogaram se “a América está
finalmente preparada para ter um Presidente
negro”. Nesta recta final, quando o senador do
Illinois surge como favorito nas sondagens, a
pergunta é outra: qual vai ser o papel da raça
nesta eleição?
“A discussão sobre a raça e a
eleição tem-se desenvolvido em torno de dois
A Remington
30-06 com que
James Earl Ray
assassinou Luther
King em 1968, em
Memphis
pontos: um tem a ver com a noção de que uma
grande parte dos eleitores brancos são, no fundo,
uns racistas encapotados que nunca votarão por
um negro; e o outro que as sondagens de opinião
pública não representam a realidade porque as
pessoas têm vergonha de admitir os seus preconceitos”, nota Michael A. Cohen, investigador da
New America Foundation e autor do livro Life
From the Campaign Trail: The Greatest Presidential Campaign Speeches of the 20th Century and
How They Shaped Modern America.
Mas, considera, a realidade é bastante mais
fluída. É verdade que, em inquéritos de resposta
aberta, um terço de eleitores brancos que se
definem como democratas ou indecisos usa pelo
menos uma palavra negativa para descrever afroamericanos, mas isso não significa que estejam
menos inclinados a votar por Barack Obama
(que, ironicamente, chegou a ser criticado por
não ser “suficientemente” negro no início da
campanha).
Também há estudos que demonstram que o
antagonismo racial estará a custar seis pontos
percentuais a Barack Obama — mas nem por isso
o senador do Illinois deixa de estar na liderança
das preferências de voto.
As sondagens das primárias permitiram concluir que o chamado “efeito Bradley” [em 1982,
as sondagens relativas à corrida para governador
da Califórnia apontavam uma confortável liderança ao negro Thomas Bradley, que acabou por
ser surpreendentemente derrotado] não se está
a verificar nesta campanha.
Todas as eleições são
apresentadas como
as mais importantes.
Mas este ano estaremos
a fazer História
No último estudo da Gallup, realizado precisamente para detectar a possibilidade de as
sondagens nacionais poderem estar contaminadas pelo “efeito Bradley”, seis por cento dos
eleitores confessaram que o facto de Obama ser
negro tornava mais improvável que votassem
por ele, enquanto nove por cento apontaram a
raça como a razão que tornava o voto em Obama
mais provável. “O impacto da raça é um factor
neutral senão ligeiramente positivo nas atitudes
manifestadas pelos eleitores”, assinalam os responsáveis do inquérito.
Os especialistas alertam, todavia, para o outro
lado da equação: o comportamento dos eleitores
não-brancos, que compõem sensivelmente um
terço do total da população. É um dado adquirido que cerca de 95 por cento dos eleitores
negros apoiam Barack Obama. É verdade que,
historicamente, a participação eleitoral dos afroamericanos é muito baixa, mas a adesão em massa deste bloco à candidatura democrata poderá
ser um factor decisivo no dia da eleição.
Alguns números para ilustrar como o factor
racial pode funcionar a favor de Obama. No
Nevada, um aumento de menos de dez por
cento na participação dos afro-americanos face
a 2004 pode garantir a mudança do estado da
coluna republicana para a democrata. No Ohio,
que George W. Bush ganhou há quatro anos com
16 por cento do voto negro, basta que os tais 95
por cento do eleitorado afro-americano votem
no democrata para Obama carregar o estado,
sem ter de disputar os eleitores indecisos c
www.toyota.pt
Este Outono,
a Esperança
vai andar de Toyota.
Pack Solidário Toyota
Dê esperança a quem mais precisa.
Este Outono, ajude a Acreditar. Na compra de um produto do Pack
Solidário, está a contribuir para a entrega de uma Toyota Hiace a esta
instituição, cuja missão é apoiar as crianças com cancro e suas famílias.
Até 30 de Novembro de 2008, você vai ter ainda mais razões para
visitar o seu Concessionário ou Reparador Toyota Autorizado aderente.
PACK SOLIDÁRIO TOYOTA
MULTIMÉDIA
SEGURANÇA
Sistemas de Entretenimento
Cadeiras bebé
Sistemas de Navegação GPS
Faróis de Nevoeiro
Sistemas de Áudio & Som
Fêmeas de Segurança
®
Sistemas mãos-livres (THF & Bluetooth ) Sensores de Estacionamento
Kit Integração iPod® + iPod®
Alarmes + Kits elevação vidros
Sistemas anti-carjacking & localização
Toyota
Solidária
Campanha válida de 1 de Outubro até 30 de Novembro de 2008. Mais informações nos Concessionários e Reparadores Toyota Autorizados aderentes, em www.toyota.pt, ou
através da Linha Azul 808 248 248. Campanha não acumulável com outras promoções e/ou benefícios especiais oferecidos pela Rede Toyota.
MANUTENÇÃO
Baterias
Amortecedores
Pneus Bridgestone
Pneus Firestone
Pele
brancos com o seu adversário republicano.
“Na realidade, poderá ser impossível discernir exactamente qual o impacto que o facto de
Obama ser negro e McCain branco venha a ter
no resultado da eleição de 4 de Novembro. Os
resultados da sondagem indicam que uma larga
maioria de eleitores americanos diz que a raça
dos dois candidatos não será um factor na hora
de decidir em quem votar”, conclui a Gallup.
Entre os comentadores e analistas políticos
parece haver consenso relativamente ao facto
de que, perante a vantagem de Barack Obama
nas sondagens nacionais e estaduais, só uma
“reacção” racial poderá impedir a vitória do
senador democrata na próxima terça-feira. A
“chave”, opina Greg Ducket, serão os eleitores
que não viveram na pele o movimento dos direitos cívicos. “A realidade actual é a de um país
mais diverso e mais aberto às possibilidades da
inclusão”, observa.
Ao longo da campanha, houve um esforço
concertado das duas candidaturas (dos próprios
candidatos e dos seus porta-vozes) para ignorar
ou abordar a questão de forma positiva. “Não é
um problema que me faça perder o sono”, comentou recentemente David Axelrod, o director
da campanha de Barack Obama. “Se não ganharmos a eleição, não creio que será por causa da
raça. Passamos muito tempo a falar sobre muitas
coisas; essa não é uma delas”, garantia.
Mas, se o resultado da votação acabar por
desmentir ou contrariar as previsões baseadas
Comecei por apoiar
Hillary. Já não tinha
coração para mais uma
“corrida simbólica” de
um afro-americano
nas sondagens, a tampa desta panela de pressão
poderá saltar com estrondo. “Se Obama perder,
de certeza que o racismo vai ser apontado como
a principal explicação”, garante James Carville,
um dos mais famosos estrategos políticos norteamericanos.
Em Memphis, Andre Gibson, director de uma
associação constituída para promover a participação dos jovens na vida da cidade (Impact
Memphis), quer acreditar que a raça não virá
a desempenhar um papel decisivo no desfecho
da corrida. Mas não aposta que venha a suceder.
“Infelizmente, só vamos poder quantificar até
que ponto teve implicações ou não quando
tivermos os resultados. Se tivermos sorte, esta
será a última vez que o preconceito racial — ou
também a discriminação das mulheres — é um
factor importante numa campanha eleitoral.”
“Espero não estar a ser ingénuo, espero que
os corações das pessoas sejam tocados por esta
AFP PHOTO/FILES/GABRIEL BOUYS
Obama e Hillary
Clinton durante
um debate,
quando ainda
disputavam a
candidatura
democrata à
presidência
campanha. Porque, qualquer que seja o final desta história, muitas barreiras foram derrubadas
nestes meses. No princípio da corrida, ninguém
antecipava que pudéssemos estar aqui hoje nem
que dentro de dias um negro pudesse vir a ser
eleito Presidente”, prossegue Greg Ducket.
A Pública falou também com Charles Blatteis, um dos sócios da firma de advogados que
representou o movimento dos direitos cívicos
no julgamento do assassínio de Martin Luther
King. Habituado a discutir as questões ligadas
ao racismo e à intolerância racial, diz desassombradamente estar “seguro de que a raça será um
factor nesta eleição” — “Todos nós gostaríamos
que não fosse, mas essa é uma ilusão. A partir do
momento em que tínhamos um candidato negro,
era impossível ignorar a questão”, observa.
Porém, Blatteis considera que, apesar das
bolsas de preconceito, a América já não é um
país racialmente dividido. “Nestes dias de categorizações mediáticas, constatamos que o
país está dividido em ‘estados azuis’ e ‘estados
vermelhos’. Que arrumamos a realidade em
opostos do tipo liberais versus conservadores
ou rurais versus urbanos. O discurso não é o do
branco contra o negro e vice-versa, como era no
passado”, nota.
Por isso, o advogado partilha o tom optimista
de tantos outros intervenientes políticos de Memphis. “Se Obama ganhar, será uma evidência do
dinamismo da nossa cultura e da capacidade de
regeneração da nossa sociedade. Para mim, será
um grande testamento desta capacidade que a
América tem de olhar menos para o passado e
mais para o futuro”, considera.
E se o candidato democrata perder? “Se isso
acontecer, continuamos a sonhar. Até porque
agora sabemos com certeza absoluta que um
dia, sim, vai ser possível”, responde Billie Kyles.
“Martin Luther King dizia que devíamos preparar-nos para a oportunidade. Obama prova que,
se jogarmos pelas regras, essa oportunidade se
manifesta”, acrescenta Ducket.
Kemp Conrad, um empresário de Memphis
que é candidato a um assento no City Council
numa eleição local extraordinária também no dia
4 de Novembro, é um apoiante do republicano
John McCain, mas está satisfeito com os efeitos
positivos da candidatura de Barack Obama no
avanço do debate sobre a raça. “É algo que vimos
acontecer na evolução política da nossa própria
cidade, marcada por muitos líderes afro-americanos carismáticos”, atesta.
Conrad salienta ainda dois factos que, no seu
entender, levarão os historiadores a estudar
exaustivamente esta eleição presidencial enquanto momento refundador da democracia
americana. “Antes de mais nada, esta eleição já
veio reverter a dinâmica de apatia e desinteresse
do eleitorado. Todas as eleições são apresentadas como as mais importantes de sempre, mas
este ano sabemos que, independentemente
do resultado, estaremos a fazer História nos
Estados Unidos, elegendo pela primeira vez
um afro-americano ou uma mulher para a Casa
Branca”, declara. a
RUI GAUDÊNCIO
comunidades
Os quatro
retalhos que
serão decisivos
No site Patchwork Nation, o mapa dos EUA não é o vermelho ou azul dos dois
grandes partidos. Há uma América com cores que se sobrepõem, estados com
matizes, um país-caleidoscópio. A Pública serviu-se deste guia para explorar
quatro comunidades-chave que podem decidir quem será o próximo Presidente.
Texto Maria João Guimarães nos EUA
O
mapa americano começa,
neste período eleitoral,
a dividir-se em estados
marcados em tons mais
fortes de azul e vermelho, e
outros a púrpura. Diferenças
para além da clássica oposição zonas urbanas/
zonas rurais ficavam normalmente de fora.
Dante Chinni quis mudar isso com o projecto
Patchwork Nation (qualquer coisa como “naçãomanta de retalhos”) em que cruzando uma série
de estatísticas se chega a 11 comunidades-tipo da
América num mapa dividido por condados.
“As pessoas tentam categorizar estados ou
grandes regiões metropolitanas e sabemos que
lhes estavam a escapar algumas subtilezas”,
disse Chinni à Pública. “Ainda não as conseguimos captar todas com o Patchwork, mas
já vemos mais. Conseguimos ver diferenças
dentro dos estados e dentro das grandes áreas
metropolitanas.”
No site, Chinni, director do projecto e jornalista, explica que a ideia “tem como base a
prova de que os padrões de votos são, pelo
menos em parte, influenciados pelo local onde vivem”. Assim, “pessoas da mesma raça e
idade e situação familiar podem votar de modo
diferente dependendo das pessoas com quem
contactam e do que vêem nas ruas e nas suas
32 • 26 Outubro 2008 • Pública
notícias locais”, prossegue. “Em algumas zonas, vivem para as corridas de carros, noutras,
gostam de ópera. Algumas cidades começam
a sua vida cedo e outras continuam até tarde.
Algumas, só aos domingos de manhã à hora da
missa, outras vêem-se a si próprias como um
brunch de 30 dólares. E o Starbucks e Wall Mart
não estão em todo o lado... ainda.”
As onze comunidades têm nomes diferentes,
desde bastiões militares a metrópoles industriais, de centros de nação imigrante a ninhos
que se esvaziam, de centros de minorias ao
país de tractores, passando pelos campus universitários e carreiras.
Mas não são estes os tipos de comunidades
que Dante Chinni indicou, à Pública, que seriam decisivas para estas eleições. O modo
como vão votar os habitantes dos subúrbios
endinheirados, cidades em crescimento, centros de trabalhadores de serviços e epicentros
evangélicos é que será de ter em conta.
“As comunidades-chave serão os centros de
trabalhadores de serviços, cidades em crescimento [ambas votaram Bush mas por uma pequena margem] e os subúrbios endinheirados.
Os subúrbios, em especial, são importantes
porque têm um grande número de pessoas e
estão muito divididos. A diferença de votos entre George Bush e John Kerry em 2004 foi abai-
xo de um por cento.” Os centros evangélicos
também. “Foram território sólido para Bush,
mas McCain tem tido grandes problemas aqui.
Ainda não garantiu estes lugares, onde uma
grande afluência às urnas foi essencial para a
vitória de Bush na última eleição.”
Dante Chinni diz que o que o surpreendeu
mais durante o processo de criação do projecto
foi perceber melhor “quão grande e vasta é a
América”. “Às vezes pensamos na nação como
estando a tornar-se completamente homogénea
— com toda a gente a ver as mesmas coisas, a
comer nos mesmos sítios — mas quando se vê
melhor percebe-se que ainda há muitas versões
diferentes dos Estados Unidos.
No site, para além da acumulação de dados
e retratos das diferentes comunidades, pode
ver-se em que tipos de comunidades os candidatos andam a fazer campanha, e há ainda dois
blogues por cada tipo de comunidade onde os
residentes expressam as suas opiniões sobre
a campanha — e recentemente sobre a crise
económica.
A Pública seguiu as indicações de Chinni para
os locais-chave perto da zona da capital norteamericana e visitou um subúrbio endinheirado
em Maryland, um epicentro evangélico e uma cidade em crescimento na Virgínia, e um centro de
trabalhadores de serviços na Pensilvânia. c
RUI GAUDÊNCIO
cabeça
Madison está
em crescimento,
mas ainda é
muito rural: há
bancas de maçãs
e bandeiras em
vedações
Madison, Virgínia
Este país é de gente
esperta, diz Susan
O condado de Madison parece ter as suas estradas perdidas numa competição cerrada,
tão cerrada como os números do estado da
Virgínia: ao entrar na zona mais rural, os cartazes de McCain-Palin que dominavam a via
principal dão lugar a um número maior dos
de Obama-Biden, num despique quase cadenciado — um democrata, um republicano. Em
Madison encontrámos um casal republicano
numa venda de quintal, uma indecisa dona de
uma loja na Main Street, e uma voluntária da
campanha de Barack Obama. Todos a residir
no condado há menos de três anos.
Madison é, estatisticamente, uma cidade em
34 • 26 Outubro 2008 • Pública
crescimento. A viver mesmo na fronteira do
condado, o casal Dotty Bradley e Frank Herman garante que a mudança não tem gerado
os problemas habituais: “Não há crime, não
temos invasões de imigrantes”, explica Dotty
com um sorriso, entre várias bancas de tralha
da venda de quintal.
Ambos se mudaram para o sossego depois
de anos mais perto de Washington, onde trabalhavam — ela era funcionária da NASA (“Nunca
fui ao espaço”, avança logo Dotty, a evitar mais
perguntas) e ele era funcionário no Capitólio.
Mas ao começar a falar de política e da actual
campanha, ela suspira: “Espero que isto acabe
depressa! E claro, gostava que a campanha fosse mais digna.” Ele é ainda mais crítico: “Gastam muito dinheiro. Obama, por exemplo, tem
feito aqui anúncios que nunca mais acabam.
Está mesmo a tentar ganhar a Virgínia.” Algo
que nenhum deles gostaria que acontecesse
— votam McCain-Palin. “Gosto da história de
vida do McCain, da sua experiência”, sublinha
ela. “Gosto da sua ideia de governo pequeno,
de menos impostos”, justifica ele.
E regressam para as arrumações da enorme vivenda de quintal, que fica perto da casa
da filha, de um lado, e da do filho, do outro,
com um pequeno campo de futebol no meio.
“Já vivemos em vários lugares, mas este é o
final”, relata Dotty. “Vamos ficar aqui com os
nossos filhos e netos: já são cinco, dos dois aos
17 anos.” Cresça Madison à taxa a que crescer,
o casal e os filhos têm ali terreno com espaço
suficiente.
Para se chegar a Madison passa-se por estradas que têm caixas de correio como vultos
na berma, uma até está empoleirada em duas
rodas de uma carroça, às vezes as caixas têm
OWAKI/KULLA/CORBIS
Cidades em
crescimento
Há 160 condados destes nos EUA,
com 38,5 milhões de habitantes. Em
geral, os residentes nas cidades em
crescimento, pequenas localidades
que se estão a transformar, estão bem
economicamente, mas começam a ter
cada vez mais habitantes com trabalhos
menos qualificados e com vencimentos
reduzidos — e um aumento nas
minorias. As cidades em crescimento
votaram em George W. Bush em 2004
por uma pequena margem.
ao lado uma bandeira americana, às vezes estão no final do caminho para a estrada, outras
espreitam pelo meio das árvores que estão já
com uma tonalidade de Outono, verde-verde
mas também amarelo e, de repente, vermelho.
Menos românticos são os animais pequenos
e peludos que vão aparecendo atropelados
à beira da estrada. Esta começa a estreitarse mais para o interior do condado e pode
acontecer que o trânsito se interrompa por
momentos porque o motorista da carrinha
da escola parou para trocar impressões com
o condutor do camião do lixo.
Também a viver em Madison, mas do outro lado da campanha política, está Barbara
Flynn, 60 anos, que vive aqui há dois anos
(antes vivia mais a sul no mesmo estado) e que
decidiu este ano ser voluntária da campanha
do democrata.
Tem havido uma série de mudanças na vida desta mulher pequena, de cabelo branco
cortado curto: de casa, de comunidade, de
entusiasmo político. É a primeira vez que é voluntária numa campanha, porque agora acha
que pode “fazer a diferença”. Uma diferença
que começa a notar-se neste condado: “Achava
que seriam sobretudo republicanos, mas há
muitos democratas”, nota.
Chegando à cidade de Madison propriamente dita, enfim, ela não é mais do que uma rua.
Uma rua que vem a seguir a um daqueles parques com bomba de gasolina, cadeias de lojas
de comida e lojas de conveniência, e a um
grande McDonald’s.
Na rua que é a cidade, está a loja Your Last
Nickel. Para Susan Bernhardt, a dona, o crescimento de Madison ainda não está a ser suficiente. “No condado sim, na cidade não.”
Bernhardt mudou-se para esta zona depois
de ter passado a vida a andar de um lado para o outro — “família de militar”. O pai esteve
pela última vez em serviço na Virgínia e Susan acabou por decidir viver em Madison, um
“sítio lindo”.
Lindo e ainda muito rural: há um veterinário especializado em vacas e cavalos, ou
uma banca de abóboras e maçãs onde o proprietário deixou uma balança e sacos, com a
frase: “Cumpram o sistema quando não estiver ninguém.” Um casal chega e serve-se,
pesando fruta e legumes, e deixa o dinheiro
na banca.
“Uma coisa é certa”, continua Susan Bernhardt. “Quem ganhar, quem quer que seja,
vai ter tanto trabalho... Os bancos, a saúde, a
segurança social... tudo!” Vai votar? “Claro”,
responde, quase indignada perante a ideia de
não o fazer. “Mas estou indecisa. Ainda tenho
tempo para escolher.” E ao que é que vai estar
atenta na sua decisão? “Vou ver que tipos de
políticas vão saindo dos dois lados.”
Pequena empresária, Susan é afectada pela
crise económica. “As pessoas consomem menos, nós vendemos menos, criamos menos
emprego, cria-se um ciclo vicioso. Não há nada
que nós, os pequenos como nós, possamos fa-
zer — é esperar que passe”, diz. Mas ela é tudo
menos pessimista. “Somos um país cheio de
gente esperta. Acho que conseguimos dar a
volta a isto”, diz, num tom combativo. “Sabe
que mais? Se calhar já era tempo de isto acontecer. E talvez daqui a dez anos digamos que
foi o melhor que nos aconteceu.”
Culpeper, Virginia
Morton e Brown
vão rezar por quem
ganhar
Em Culpeper há um grupo que se junta para
rezar: todos juntos, acreditam ter “a força de
um raio laser” — e acham que estão a transformar a comunidade. Virginia Morton é uma
delas, o reverendo Ludwell Brown é outra.
Ela ruiva, ele negro, juntam-se e falam de reconciliação entre brancos e afro-americanos
(afinal, lembram, Culpeper foi “o epicentro
da guerra civil”), da aproximação entre as
suas igrejas e da importância da religião na
comunidade.
Num encontro num café em Culpeper, enquanto os dois falam de Deus, há pessoas com
computadores portáteis, que trabalham perto
de Washington e podem fazer trabalho à distância alguns dias por semana e que, debruçadas sobre os teclados, vão continuando as
suas tarefas enquanto comem a sopa do dia,
de vegetais com rosmaninho, feitas com produtos de agricultores da região. Culpeper é
ainda rural, mas tem crescido muito: estimase que 60 por cento dos habitantes trabalhem
na zona da capital, a cerca de duas horas de
distância.
Virginia Morton, magra, com gestos mais
rápidos, conta que começou a participar no
grupo de oração conjunta “por egoísmo”:
“Soube que estavam a rezar para que o meu
livro, Marching Through Culpeper, fosse transformado num filme — e assim, transformaram
a minha vida.” O livro conta a guerra civil na
perspectiva de uma jovem mulher em Culpeper, “o condado por onde marcharam mais
tropas durante a guerra civil, um dos mais
destruídos” (e ainda não foi adaptado ao cinema). Virginia Morton também participa num
grupo de pessoas por todo o país que reza
em videoconferência, “para ajudar a sarar o
coração da América”.
Virginia mora em Culpeper há 39 anos
— exactamente ao mesmo tempo que o reverendo Brown, descobrem agora os dois, e
espantam-se pela coincidência.
Ludwell Brown, tom de voz e entoação de
pastor, tem passado militar — “estive 32 anos
no Exército” — e veio para Culpeper por causa
da sua mulher. “É um dos melhores condados
para se viver”, diz Brown. Morton acrescenta
que é “o berço da liberdade religiosa”: foi uma
lei com origem neste condado, adoptada pelo
estado da Virgínia, que deu origem à pri- c
Pública • 26 Outubro 2008 • 35
ORJAN F ELLINGVAG/CORBIS
cabeça
Culpeper: “Não
queremos
depender
do Governo,
queremos
depender de
Deus”
ORJAN F. ELLINGVAG/CORBIS
Epicentros
evangélicos
Com 27 milhões de habitantes em
564 condados, são lugares com
maior proporção de evangélicos do
que a média nacional. Normalmente
pequenas cidades ou subúrbios, têm
uma maioria de famílias jovens. Foram
um bastião de Bush em 2004, mas
McCain, apesar de ter escolhido Palin
para vice, ainda não conseguiu garantir
um voto entusiasta nestes locais.
meira emenda da Constituição americana, que
fala da liberdade religiosa e de expressão.
Até agora, sobre política, Virginia disse apenas: “Não queremos depender do Governo,
queremos depender de Deus.” E ainda: “Não
interessa quem for eleito, vamos rezar por ele,
pois terá de passar por muito.”
A curiosidade começa a aumentar. Em que
votarão estas duas pessoas? Perante a pergunta, Brown lá acaba por dizer: “Vou votar
Obama por várias razões. Ele fala no dinheiro
mal gasto no Iraque — na bolsa de Bagdad eles
estão a ganhar muito! — e acho que é tempo
para a mudança de que ele fala. Antes achava
que o líder devia vir de West Point [academia
militar], agora acho que deve vir de Harvard
ou Yale.”
Já Virginia começa por advertir: “Não estou entusiasmada com nenhum dos candidatos.” Essencial, para ela, era “uma forma
mais limitada de governo”. Mas, como acha
que “McCain tem um melhor entendimento
de política externa” e a sua parceira no ticket
(boletim de voto), Sarah Palin, “tem uma fé e
empenho na família admiráveis”, já escolheu
os republicanos.
“Não é nada racial”, apressa-se a explicar,
dirigindo-se especialmente ao reverendo Brown. Ele acena, “certo”, diz. Não há o mínimo
de animosidade aparente ou vontade de discutir entre os dois. O reverendo conclui: “Estamos em lados diferentes mas somos amigos.
Isso é a beleza da América.”
Culpeper, pelo menos nos sinais que se vêem nos quintais das casas, está bastante dividida. É um local tendencialmente conservador,
mas Obama parece ter um grupo alargado de
fãs por aqui, com um gabinete de campanha
na cidade — o primeiro desde a campanha de
J.F.K. nos anos 1960. O candidato democrata
é também o preferido da dona do café Raven’s
Nest, Jessica Hall, que vai à mesma igreja que
Virginia Morton — não parece que os evangélicos de Culpeper sejam um bloco a votar em
McCain-Palin.
E isso é algo que desagrada a Gary Close,
que é o delegado do Ministério Público da
cidade e responsável pela campanha de McCain. “Ainda não posso acreditar que estamos
sequer a considerar eleger alguém com um
passado tão assustador — ele mal viveu como
americano”, diz Close, numa alusão a Obama.
O republicano nega que se esteja a referir à
cor de pele: “Ele viveu na Indonésia”, declara
simplesmente.
“Na actual situação internacional, com dois
tipos como Putin e Adine... Ahmajine...” — Ahmadinejad? — “Sim, esse, dois tipos como esses
não vão meter-se com John McCain. Mas vão
ver até onde conseguem ir com Obama.”
Como cristão evangélico, Close, que tem um
ar muito bonacheirão e vai dizendo tudo isto
sem se exaltar, também se preocupa com os
democratas defenderem “um tipo de sociedade mais secular — sem ofensa, mais europeia”.
Em Culpeper, por exemplo, há pessoas a lutar
contra esta tendência, e apesar de haver na
comunidade muitas escolas religiosas, optam
por ensinar os filhos em casa. “Se todas as
crianças que estão a ser ensinadas em casa
nesta comunidade fossem para a escola, precisaríamos de uma escola para todas elas”,
nota Gary Close.
“Esta continua a ser uma cidade do Sul, dá
valor às relações interpessoais, à civilidade,
tem respeito pela sua História e tem-se mantido assim.”
Wilkes-Barre,
Pensilvânia
Debbie não sabe como
vai pagar as contas
Nas ruas cinzentas de Wilkes-Barre (Pensilvânia), vêem-se muitas pessoas, mas poucos parecem viver aqui: vêm para trabalhar, vender
ou estudar. Também são muito poucos os que
parecem já ter escolhido um candidato — e há
quem diga mesmo que nem sequer vai votar.
Wilkes-Barre é uma zona sem muito dinheiro,
taciturna, deprimida e um pouco deprimente.
É a cidade gémea de Scranton, de onde é o
candidato democrata a vice-presidente Joe
Biden, e onde se passa a versão americana
da série de televisão The Office.
Na praça central da cidade está Debbie Ludden, um dos exemplos perfeitos da classe
média que se tornou baixa. É mãe de quatro
filhos, um deles autista, e divide a vida entre o
trabalho de casa, os filhos e a luta pela investigação sobre o autismo. Divorciada, diz que
há muito está habituada a poupar mas nunca
se viu numa situação como esta. “Ainda hoje
paguei as contas do mês e não faço ideia como vou pagar o aquecimento deste Inverno”,
lamenta. “Já decidi que não o vou ligar, pelo
menos até Novembro, e estou a planear usar
a lareira. Ainda devo 150 dólares da conta do
mês passado.”
Karen McCabe, que é gerente numa loja de
donuts, conta que está a tentar arranjar um
segundo trabalho em part-time para lhe permitir ir além do paycheck-to-paycheck, o que
quer dizer gastar o dinheiro todo do ordenado
até chegar o outro. Karen esconde a sweatshirt rota com um casaco largueirão enquanto
espera um autocarro para casa — também já
fora de Wilkes-Barre. “Tenho dois filhos, dois
adolescentes, que querem ir para a faculdade.
O meu marido trabalha, mas só em part-time,
e começamos a precisar de mais dinheiro para
eles poderem estudar.”
Já não é a primeira vez que Karen trabalha
em dois empregos. “Estou à procura de alguma coisa que seja três horas por dia. Trabalho
oito nos donuts; por isso trabalharia outras
três. Mais não pode ser porque os meus filhos são adolescentes, há que estar alguém
por perto.”
Karen revela ainda que, na família, apenas
o filho tem seguro de saúde. “Dão-lhe no trabalho. Como podemos ter seguro? É mais do
que uma renda de casa”, queixa-se.
A economia favorece os democratas e por
isso seria de esperar que Debbie e Karen votassem democrata. Mas não. Estão ambas indecisas, como muitas outras pessoas nesta cidade
de casas descaracterizadas, onde parece que,
prédio sim, prédio não, há um lote para estacionamento, e em cada quarteirão surge uma
loja com aspecto de já ter fechado há anos.
Debbie gostava que a sua situação económica desse uma volta. “Mas não tenho a certeza
se vou votar democrata para isso. Ainda estou a decidir. As coisas mudam até ao último
momento.”
Karen não acredita que “qualquer um deles
[dos candidatos] consiga fazer o que prometeu”. “Normalmente, por esta altura, já sei em
quem votar.” Mas desta vez não. “Estou registada como democrata. Mas não sei se Obama
tem experiência suficiente para chegar lá e
fazer o que diz.”
Debbie confessa que, apesar de não gostar
“nada” de John McCain, a candidata a vice do
partido republicano merece a sua simpatia.
“Sarah Palin é interessante para mim. Eu era
enfermeira e tinha um estilo de vida acelerado, revejo-me na figura dela, uma mãe de uma
criança com necessidades especiais.”
Os seus filhos registaram-se como democratas e é assim que deverão votar, menos um.
“O meu filho com 20 anos, autista, diz que
não vai votar este ano. Nenhum candidato
lhe agrada.”
No centro de Wilkes-Barre (há quem pronuncie “wilkes-barry” ou “wilks-barr”), há
uma praça que, como muitas outras, junta
muitos reformados e grupos de jovens com
bonés a falar demasiado alto. Ali estão dois
amigos que vão votar pela primeira vez este
ano. Walter Eaton, 19 anos, e Kirk Rily, 20,
esperam um autocarro. Kirk, de boné verde-azeitona e barba, está a tentar encontrar
trabalho numa empresa de computadores;
Walter, T-shirt dos Ramones e corte de cabelo
a condizer, estuda Biologia na universidade
local. Ambos vão votar. “Eu McCain”, diz Kirk. “Eu Obama”, diz Walter. Kirk começa por
explicar: “Acho que o Obama não está a c
Pública • 26 Outubro 2008 • 37
BROOKS KRAFT/SYGMA/CORBIS
cabeça
Cupões para
comprar comida.
Wilkes-Barre viu
empobrecer
a classe média
Centro de
trabalhadores
de serviços
São 278 condados com 12 milhões
de habitantes. São cidades médias
ou pequenas que oferecem serviços,
sejam oficinas ou postos de saúde, ou
ainda centros turísticos com lojas e
hotéis. Têm populações envelhecidas
comparadas com a média nacional, e
rendimentos, em média, também mais
baixos. Votaram em Bush, mas não por
muito, em 2004.
par de tudo e vai tremer, vai gaguejar. Além
disso, ele não nasceu nos EUA.” “Claro que
nasceu”, contrapõe Walter. “O Havai é um
estado, man!”, exclama, antes de dizer por
que é que ele vai votar Obama: “Gosto das
ideias dele, do sistema de saúde, de criação
de empregos, de deixar a dependência do petróleo estrangeiro. Coisas dessas.”
Mas, apesar das divergências, os dois continuam amigos, a esperar juntos o autocarro e a jogar bowling. “Nem nunca falamos de
política.”
Na Main Street, de repente, de um dos prédios que parecem abandonados, sai um homem com manchas nas mãos e na roupa. É
o canalizador Joseph Jackamovicz, que viveu
“toda a vida” na área de Wilkes-Barre (mas
38 • 26 Outubro 2008 • Pública
mora a cinco quilómetros da cidade). Jackamovicz diz que a situação económica não está
a afectar o seu negócio e a crise não o incomoda — “não jogo na bolsa”, dispara, a boca com
poucos dentes. A conversa foi no dia seguinte
ao último debate, e Joseph não sabia ainda
que Obama e McCain tinham falado muito da
figura de Joe the Plumber. “Podia ser eu!”,
espanta-se. Mas este canalizador diz também
que, este ano, não vai votar. “Não estou para
me chatear. Não gosto de nenhum deles.”
Bethesda, Maryland
Aqui não há donas
de casa desesperadas
O subúrbio endinheirado de Bethesda, Maryland, não é bem o subúrbio de séries de
televisão como Donas de Casa Desesperadas ou
Erva. Em Bethesda há prédios altos, embora
com rendas caras, o ambiente é mais urbano,
mais cosmopolita — diz-se que tem a maior
concentração de restaurantes internacionais
da zona — mas entrando no bairro de Chevy
Chase, a rua de casas espaçosas com jardins
e árvores frondosas está tão sossegada que o
barulho de um esquilo a roer um fruto seco
parece altíssimo.
Garret Huntress viveu toda a vida aqui em
Bethesda mas, “por razões ambientais”, está
a mudar para Washington: “Não quero ir de
carro para o trabalho, quero viver mais perto
do emprego.” Huntress, informático num la-
boratório científico, tem 26 anos e é um dos
muitos democratas desta zona, considerada
mais liberal. Sentado num banco ao sol de
Outono, diz: “Vou votar Obama. Sempre que
vem uma eleição tentamos alguém novo... Mas
não temos conseguido mudar.”
A política externa da América é, para ele,
“uma vergonha”. “A seguir ao 11 de Setembro foi uma loucura. Mas já é tempo de parar
e olhar as coisas com calma”, afirma Huntress.
Quanto à economia, o informático não acha
que a culpa do estado actual seja apenas do
actual Governo, mas constata: “Este só agiu
quando já era uma questão com uma enorme
dimensão. Devia ter agido mais cedo. A administração Bush passou demasiado tempo
a olhar para fora e descurou o que se passava
cá dentro.”
Mas mesmo com discursos mais ou menos
apaixonados dos seus residentes, chegando a
esta zona rica parece que a campanha abrandou. Quase não há sinais nos pátios com cadeiras de baloiço e jipes em frente à garagem.
Não se vê ninguém com pins na lapela. Isto até
que, de repente, aparece John Midlen, com
um crachá McCain-Palin na camisola XL.
O reformado, que tem ainda investimentos em propriedades (no bairro de Georgetown, em Washington, e a salvo, portanto, de
qualquer crise no mercado imobiliário, “a
não ser que o mundo acabe”), diz que não
se vê campanha “porque as pessoas partem
do princípio de que esta zona vai ser ganha
BROOKS KRAFT/SYGMA/CORBIS
REUTERS/ANDREW ECCLES
pelos democratas”. Ele acha que “não vai ser
bem assim”, embora admita mais tarde que
no seu bairro a proporção de democratas para
republicanos é de “3 para 1”.
John Midlen explica o seu voto em partes.
Pró-McCain: “As suas ideias para resolução
da guerra no Iraque são correctas.” Anti-Obama: “Ele é um socialista que quer distribuir
a riqueza.” Pró-Palin: “É maravilhosa, é uma
lufada de ar fresco, conseguiu mostrar que
uma hockey mom [mãe que leva os filhos ao
hóquei, termo usado para descrever mulheres
comuns, dedicadas à família] pode conseguir
coisas fenomenais.”
Midlen, que vive em Bethesda desde 1974,
altura em que ainda votava democrata. “Mudei para o Reagan [nas eleições de 1980] e
desde então voto republicano.”
A andar na rua de calções e boné, Ronald
Connor diz que apenas mora nesta zona, “cada
vez mais rica e sofisticada”, porque herdou
uma casa. Connor acabou de sair da missa — é
um pároco anglicano — e vai votar republicano, como fez a vida toda — excepto, confessa
com um ar embaraçado, quando votou em
Hubert Humphrey, que perdeu para Richard
Nixon em 1968. “Desde então os candidatos
democratas têm sido cada vez mais tolos”,
acrescenta, sorrindo. Mas Connor prefere falar
desta eleição, e para explicar por que vota em
McCain exemplifica porque é que não gosta de
Obama: “É uma criação dos media, e incompetente.” Além disso, defende “um comunismo
europeu desvalorizado”. E, por último, “é uma
imagem ambulante — tenta passar por algo
que não é: a gravata está demasiado apertada,
os sapatos também, há algo ali que não está
bem”. Já McCain “não é suave, é irreverente:
é o meu estilo de autêntico”, conclui.
Numa conversa animada em frente ao “clube dos escritores” de Bethesda está um grupo
de improvisação de teatro. A primeira coisa
que dizem é em quem vão votar: “Obama,
Obama, Obama!”, repetem. Atropelam-se para dizer porquê. Towuanda Underdue queixa-se da má fama que os Estados Unidos têm
Subúrbios
endinheirados
São a maior e mais rica comunidade
entre as 11 do projecto Patchwork
Nation, com 304 condados e mais de
84 milhões de pessoas. O grupo é, além
de mais rico do que a média nacional,
bastante mais jovem e com mais
formação universitária. Em 2004 foi o
grupo que menos diferença teve entre
Kerry e Bush (49,6 para o primeiro,
49,4 para o segundo).
no mundo. “Como americanos, não temos
boa reputação. Temos medo de ir a certos
países.”
“Sinto-me culpado por associação”, acrescenta Steven Mumford, cabelo louro penteado-despenteado, olhos azuis com uns pequenos óculos redondos de aros de tartaruga. E
começam a atirar pedras a Bush: “Roubou a
eleição — os registos vão dizer que a vitória
foi ilegítima”; “a seguir ao 11 de Setembro foi
atrás de Saddam, como se quisesse terminar
o que o pai começou”; “não agiu depressa
quando foi o [furacão] Katrina”, enfim, “há
tantas coisas a dizer que dava para encher o
jornal”, conclui Vanessa Richardson, a entrar
na conversa sobre política, o seu assunto preferido — depois do teatro, claro.
De resto, o grupo mostra algum nervosismo: “Queremos que Obama ganhe, mas temos medo do que possa acontecer”, admite
Towuanda. “Não queremos voltar a 2000”,
sublinha Vanessa, “a eleição que Bush roubou”.
E se voltar a haver uma corrida cerrada
com suspeitas de irregularidades e o Supremo decidir a favor de John McCain? “Vai haver
motins”, assegura Towuanda, a única negra
do grupo. “Eu entro num motim”, promete
Vanessa, perante o espanto de Towuanda.
“Um motim a sério. O que aconteceu em 2000
não pode voltar a acontecer.” a
Bethesda não é
bem o cenário
de Donas de Casa
Desesperadas,
mas é parecido
opinião
“Interesses do mundo”
ou um “mundo americano”?
João Marques de Almeida
C
A verdade
é que
Bush foi,
paradoxalmente, um
“óptimo”
Presidente
para os
interesses
de grande
parte
do mundo
onfesso que o PÚBLICO me surpreendeu. Depois de oito anos de Bush que transformaram
o nosso globo num “mundo antiamericano”, ainda há
quem acredite na liderança americana. Só quem pertence
a esta minoria de crentes é que me pode perguntar, como
fez o PÚBLICO, “qual o candidato [norte-americano] que
serve melhor os interesses do mundo?” O pressuposto
é, obviamente, que muito do de bom ou de mau que se
passa no mundo depende de quem governa os Estados
Unidos.
O desafio do PÚBLICO levanta ainda outra questão: há
“interesses do mundo”? A um nível abstracto, todos querem, por exemplo, paz, segurança, prosperidade e justiça. Mas a verdadeira questão não é o que aspiramos em
geral, mas o que pretendemos hoje, de acordo com a realidade actual. Será que todos querem a paz, a segurança,
a prosperidade e a justiça que existem hoje? Há quem
queira, há quem queira mais ou menos e há quem não
queira. Antes de chegarmos aos “interesses do mundo”,
temos de pensar nos interesses de cada país. O primeiro
interesse de Washington é manter a sua liderança no sistema político internacional. Desde o actual Presidente aos
dois candidatos, todos estão de acordo. Nas coisas essenciais, como o poder e a liderança, nenhum Presidente
norte-americano se engana na ordem das prioridades. A
grande diferença será a estratégia e a táctica para manter
o poder e renovar a liderança.
Há uma diferença maior entre o actual Presidente e os
dois candidatos do que aquela que existe entre Obama
e McCain. O que mudou, de um modo significativo, nos
últimos quatro anos foi a percepção de que os americanos têm do seu poder e da sua liderança. Ambos os
aspirantes à Casa Branca sabem que os Estados
Unidos perderam capacidade e influência nos
últimos anos. Vão ter de ajustar a sua estratégia
política a esta nova realidade. Serão mais
multilateralistas e menos unilateralistas,
falarão mais e ouvirão melhor os aliados, usarão mais a diplomacia do que
a força militar. As diferenças entre
eles serão mais de detalhe do que
de substância.
Em relação ao Iraque, podem
estar em desacordo quanto ao ano
da retirada, mas ambos vão querer
40 • 26 Outubro 2008 • Pública
sair vitoriosos. Podem não ter o mesmo plano para lidar
com o Irão, mas farão tudo para evitar que o regime iraniano adquira armas nucleares. Israel continuará a ser
o principal aliado no Médio Oriente. A China e a Rússia
serão os principais rivais estratégicos. A Aliança Atlântica
continuará a ser importante e a Austrália, o Japão e a
Índia serão os principais parceiros na Ásia. Todas as decisões a tomar visarão um único objectivo: a renovação da
liderança dos Estados Unidos. O próximo Presidente dos
Estados Unidos irá defender os interesses norte-americanos e não os “interesses do mundo”.
Podemos, contudo, perguntar: será o mundo mais
receptivo aos interesses norte-americanos do que foi
nos últimos oito anos? Durante as Presidências de Bush,
quase todo o mundo, de Moscovo a Pequim, de Caracas
a Teerão, atacou a “hegemonia americana” e defendeu
um “mundo multipolar”. Claramente, os “interesses do
mundo” não corresponderam aos interesses norte-americanos. E a verdade é que Bush foi, paradoxalmente, um
“óptimo” Presidente para os interesses de grande parte
do mundo. A China e a Rússia aumentaram o seu poder,
tornando o mundo menos hegemónico e mais multipolar,
o Irão expandiu a sua influência no Médio Oriente e até a
Venezuela se tornou numa potência regional que exporta
revoluções. Certamente que os líderes destes países estarão, mais uma vez, aborrecidos com a democracia americana. O ideal seria Bush continuar, durante muito tempo,
no poder.
Para os “multipolaristas”, a chegada de um Presidente
que consiga convencer que os interesses dos Estados
Unidos são os “interesses do mundo” será a pior das
situações. Pelas sondagens que se vão fazendo no “resto
do mundo” (esse grande “estado” democrata e anti-republicano), é seguro que Obama será o candidato ideal para
“americanizar” os “interesses do mundo”. Se Obama
ganhar no dia 4 de Novembro, por todo o mundo muitos vão dizer ou pensar: “Somos todos americanos.”
Obama responderá que entende bem os “interesses
do mundo”. Um dia, percebe-se que, afinal, Obama
é um “Presidente americano” e que, no mundo,
há muito menos “americanos” do que no dia 4 de
Novembro. Os “interesses do mundo” voltarão a ser
substituídos pelos interesses americanos. E a política voltará a ocupar o lugar dos desejos. Nessa altura é que se verá quem
é que apoia, verdadeiramente, o
Presidente Obama. a
Analista político e académico
Um mundo multipolar
Os EUA continuam a liderar o mundo em termos
militares, económicos e científicos, mas a União
Europeia,o Japão e os BRIC (Brasil, Rússia, Índia
e China) disputam a liderança em muitas áreas
Canadá
1.436
R
43.674
Londres, Leeds, Manc
Liverpool, Birmin
15,2
21 Portland, Seattle,
França
Vancouver
Ranking das mega-cidades do mundo (2007)
Toronto, Buffalo,
Rochester
14 San Francisco,
PIB em milhares de milhões de dólares
12
Silicon Valley
PIB per capita em dólares (2007)
8 Charlotte, Atlanta
Dallas, Austin 18
Em 2006
China
26.292
México
1.022
Canadá
7.533
Austrália
4.163
Rússia
19.641
103
Cleveland, Pittsburgh
9 Southern California
19
Houston,
Miami, Orlando,
New Orleans 15 Tampa
P
Luxembur
3 Chicago, Detroit
Gastos em defesa
(em milhares de milhões de dólares - 2007)
Patentes
53,6
Boston–Nova
2 Iorque–Washington
Lisboa 33
Estados Unidos
13.807
45.725
20 Cidade do México
547
Japão
217.364
Coreia
102.633
Brasil
1.313
6.937
EU
132.921
15,3
EUA
154.760
Aeroportos (tráfego total)
Milhões de passageiros/ano
Los
Angeles
62
Felicidade Interna Bruta
(Bem-estar)
(0) Muito infeliz
Chicago
76
Londres Frankfurt
54
68
22 Rio-S. Paulo
Muito feliz (10)
Dinamarca
8,2
Suíça
8,1
Áustria
28 Buenos Aires
Dallas
60
8,0
Madrid
52
Atlanta
89
Paris
60
Pequim
54
Tóquio
67
Islândia
7,8
Finlândia
7,7
Cinema - filmes produzidos por ano
Universidades
México
7,6
(Últimos dados disponíveis: 2005, 2006 ou 2007)
(as melhores 101 em 2008)
Holanda
7,5
Índia
EUA
7,4
UE
Alemanha
7,2
EUA
Reino Unido
7,1
Japão
Brasil
6,8
França
6,5
1091
921
521
China
Argentina
80
EUA
54
UE
Japão
407
Canadá
402
Suíça
29
6
4
3
Austrália
2
China
6,3
México
53
Israel
1
Japão
6,2
Brasil
51
Noruega
1
Rússia
1
Rússia
4,4
Austrália
22
FONTES: FMI; OCDE; CNPq; Airports Council International; World Database of Happiness; Observatoire européen de láudiovisuel; WIPO; Fundação Nobel; Academic Ranking of World Universities; Institute of Higher Education;
42 • 26 Outubro 2008 • Pública
Noruega
83.484
R. Unido
Alemanha
59,7
36,9
Amesterdão
Bruxelas, Antuérpia
Manchester,
Birmingham
6
4
Frankfurt, Stuttgart,
Mannheim
10
Paris 17
burgo
11
Rússia
1.289
União Europeia
14.753
38.861
24 Viena
7 Roma, Milão,
Itália
Espanha
33,1
14,6
China
3.280
Turquia
659
Turim
103.124 Barcelona, Lyon
3
35,4
9.074
25
22,6
Grande Tóquio
78.754
34.296
1
13
16
Xangai, Nanjing, 31
Hangzhou
58,3
Japão
4.381
24 Sapporo
Seoul-San
Pequim 34
2.483
Qatar
Telavive,
Amã, Beirute
Coreia
do Sul
969
35 Nova Deli, Lahore
5 Osaka, Nagoya
Fukuyama,
Kyushu
43,6
23 Hong Kong,
Shenzhen
Arábia Saudita
Índia
1.100
33,8
Banguecoque
40
951.557
Singapura
24,2
Investimento
em ID
Indonésia
432
38
Produção automóvel
Em milhões de unidades/ano (2007)
Mihões de PPP correntes em 2007
Japão
EUA
11,6
França
10,8
343.747,5
Brasil
3,0
UE
6,2
Canadá
8,9
2,6
Coreia do Sul
Alemanha
242.815,6
Austrália
908
China
Índia
2,3
3,0
EUA
43.163
México
4,1
2,1
Itália
Espanha
1,3
2,9
R. Unido
Rússia
Tailândia
1,75
1,7
1,3
15,1
Prémios Nobel
Japão
EUA
309
UE
434
138.782,1
China
cation; “ The rise of the mega region”, Richard Florida, Tim Gulden e Charlotta Mellander (Out. 2007); CIA - The Factbook; OICA
Pública • 26 Outubro 2008 • 43
China
4
23.838,9
Índia
8
Taiwan
16.552,9
África do Sul
9
Rússia
Japão
16
35.885,8
Canadá
17
Canadá
Rússia
22
86.758,2
Suíça
25
Coreia
Austrália
9
20 154,9
um mundo multipolar
A superpotência
tem de negociar
Texto José Vítor Malheiros
á é um lugar-comum dizer que o
novo Presidente dos Estados Unidos irá herdar a liderança da única superpotência planetária num
mundo que é, paradoxalmente,
cada vez mais multipolar. Como
se coadunam estes dois conceitos: “única superpotência” e “mundo multipolar”?
Durante décadas os Estados Unidos foram
líderes incontestados na economia e na tecnologia e líderes igualmente — mas contestados
— na capacidade militar e na influência geopolítica. Foi o tempo da guerra fria, quando o
mundo político se distribuía entre dois pólos
opostos e aceitava um equilíbrio de terror que
tinha como cúmulo o poder nuclear. A dissolução da União Soviética, o amadurecimento e
alargamento da União Europeia, o crescimento da China e das outras grandes economias
emergentes — o chamado grupo BRIC (Brasil,
Rússia, Índia e China) — deram origem a novos
pólos de poder que, se ainda não ultrapassaram os Estados Unidos, dão sinais de o ir fazer
em breve em muitos domínios, tais são as suas
taxas de crescimento. Para ter uma ideia desse
crescimento basta saber que, nos primeiros
seis anos desde que surgiu a expressão BRIC
(de 2001 a 2007), o mercado de acções do Brasil cresceu 369 por cento, o da Índia 499 por
cento, o da Rússia 630 por cento e o da China
201 por cento. Em 2050, segundo previsões
da Goldman Sachs, as seis maiores economias
do Mundo serão, por ordem, a China, os EUA,
a Índia, seguidos a grande distância do Japão,
Brasil e Rússia (o estudo da Goldman Sachs
considera as economias da União Europeia desagregadas por países e não em bloco). Resta
lembrar que, quando o PIB da China igualar o
dos EUA, o seu PIB per capita será um quarto
do dos americanos.
Como se situam actualmente os EUA neste
mundo que já chamamos “multipolar”? Na
maioria das áreas, mantendo uma liderança
clara: na economia, nas finanças, no poderio
militar, na educação superior, na investigação.
O que acontece é que os países que ocupam
os lugares seguintes não se encontram hoje
tão distantes, nalguns casos mostram taxas
44 • 26 Outubro 2008 • Pública
de crescimento muito superiores às do líder
e possuem um poder combinado superior ao
dos EUA. Num mundo onde a UE, a Rússia e a
China constituíam blocos irreconciliáveis isso
era menos relevante; num mundo cimentado
pela globalização do comércio e das comunicações o facto conta de outra forma. E a União
Europeia, só por si, globalmente considerada,
já aparece nos rankings à frente dos EUA em
domínios como o PIB ou o número de prémios Nobel.
O mundo multipolar de hoje é um mundo
onde os EUA ainda são líderes mas onde a
superpotência tem de dialogar, de negociar,
de cooperar. Onde está então a marca da superpotência? Antes de mais, no poder militar:
45% da despesa militar do mundo é feita por
Washington. E a despesa traduz-se numa eficácia que é várias ordens de grandeza superior
à dos seus concorrentes. A “projecção” dessa
força militar é incomparável com a de outros
países: os EUA gostam de referir que a superfície total de aterragem dos seus porta-aviões
é superior a 300.000 metros quadrados. O
resto do mundo reunido tem 60.000 metros
quadrados.
Um trabalho que chamou a atenção de forma clara para a multipolaridade do mundo
actual foi o famoso estudo das megacidades
ou mega-regiões realizado pelo urbanista ame-
Quem tiver dúvidas
não tem mais que ir
para o espaço e olhar
para a face nocturna
da Terra
ricano Richard Florida.
Usando a medição das zonas da terra que,
vistas do espaço, exibem uma luminosidade
contínua e avaliando o peso dessas regiões
através de factores como o seu produto, população, e indicadores de inovação tecnológica
e produção científica, Florida identificou 40
regiões que reúnem 18 por cento da população mundial mas que representam 66 por
cento da produção económica e 85 por cento
da inovação científica e tecnológica.
A primeira dessas regiões não está nos EUA:
é Tóquio. No top ten há 4 regiões americanas,
2 asiáticas ( japonesas) e 4 europeias (todas da
UE). No top 40 há 12 regiões norte-americanas (EUA e Canadá), 12 asiáticas (China, Índia,
Japão, Coreia, Taiwan, Singapura, Tailândia),
1 no Médio Oriente (Telavive), 12 europeias
(todas da UE), 3 latino-americanas (Brasil, Argentina, México).
O indicador de Richard Florida é interessante — apesar de ser incessantemente atacado
por razões metodológicas, políticas e outras
— porque, a par de dados duros, integra factores culturais como a tolerância, diversidade e a
inclusão social — factores que, afirma Florida,
promovem a criatividade. Mas é principalmente importante por ter mostrado de uma forma
graficamente clara algo que todos sabíamos
mas que era necessário provar: que existem
actualmente no mundo muitos pólos de criatividade e actividade económica fervilhante,
que possuem as condições objectivas e a massa
crítica necessárias para constituírem pólos de
atracção de direito próprio.
Fazer rankings é sempre uma tarefa arriscada. Há inúmeras formas de quantificar a
dimensão de uma empresa, por exemplo,
e mesmo as fontes mais idóneas contradizem-se com frequência. Mas o risco mais comum é o de utilizarmos indicadores feridos
de parcialidade, etnocêntricos, demasiado
ocidentais. As mega-regiões de Florida, identificadas antes de mais pela sua emissão luminosa, possuem pelo menos essa âncora na
realidade. Quem tiver dúvidas na existência
deste mundo multipolar, não tem mais que
ir para o espaço e olhar para a face nocturna
da Terra. a
opinião
O efeito Obama
Álvaro Vasconcelos
D
É tempo
de a União
Europeia
definir o
que espera
do novo
Presidente
dos
Estados
Unidos
os vários défices legados pela Administração Bush, o mais grave é a queda do poder de atracção
em relação a outros pontos do globo. Os Estados Unidos
passaram a ser olhados como uma nação arrogante, que
privilegia a força sobre o direito e despreza o consenso e,
talvez mais grave, como uma nação em guerra não com o
terror, mas com o Islão. Sondagem após sondagem, é esta
a imagem que se acentua desde 2003. Não mais a de campeã do multilateralismo, da democracia e da liberdade,
mas a do reino da arbitrariedade e da prepotência, desde
a teia de falsidades da guerra no Iraque, aos espaços de
não direito, como Guantánamo, Abu Ghraib ou a justificação da tortura. As violações dos direitos fundamentais
minaram a credibilidade dos Estados Unidos para promover a democratização.
Se o mundo inteiro votasse nas presidenciais americanas, Obama obteria, de acordo com sondagens
feitas em muitos países, uma vitória esmagadora. É tal a
desconfiança em relação à América, porém, que alguns
descrêem da possibilidade de triunfar a política de abertura e de procura de consensos que defende. Há também
forte cepticismo, entre os muçulmanos sobretudo, de que
Obama, sendo negro e tendo o nome que tem, tenha reais
hipóteses de ser eleito. O candidato democrata projecta
uma imagem em tudo oposta à de uma América arrogante, agressiva e militarista, e corporiza a tradição da
luta pelos direitos cívicos. Recorde-se a clamorosa recepção popular em Berlim, em completo contraste com as
visitas de Bush, em que foi preciso fechar bairros inteiros.
Se Obama for o Presidente eleito, como tudo leva
a crer, a onda de forte alívio e geral entusiasmo
abrirá uma enorme oportunidade para a
América, que reconquistará, quase instantaneamente, a imagem e a confiança perdida.
Chegado à Casa Branca, porém, encontrará,
intacta, a pesadíssima herança legada por
Bush: a economia de rastos, a finança arruinada, a dívida ameaçadora; duas guerras
acesas, no Iraque e no Afeganistão, e
a paz no Médio Oriente em estado
paraplégico. As esperanças postas em Obama e, com ele eleito,
na mudança vinda da América
são tão altas que é quase
impossível que se cumpram.
Obama tem em política
internacional uma atitude
que valoriza a diplomacia e o multilateralismo. São pois
de esperar mudanças de vulto no dossier do Irão de uma
participação americana de alto nível nas negociações.
A prometida retirada do Iraque é também importante
para diminuir as tensões na região e obrigar os políticos
iraquianos a procurar os compromissos internos necessários à reconciliação. No Iraque, como diz Obama, já não
há vitória possível porque a tragédia humana já teve lugar.
Mais problemática é a defesa de uma solução militar no
Afeganistão. A maioria dos especialistas e um número
crescente de políticos e responsáveis militares, inclusive
americanos, consideram que a solução definitiva do conflito tem de ser política. É preciso falar com os talibãs, e
envolver os países vizinhos, o Paquistão e o Irão, tirando
também partido da disponibilidade da Índia. Quanto à
questão palestina, Obama não tem sido muito claro e
chegou a defender a indivisibilidade de Jerusalém. Retórica de campanha, talvez, mas sobre a qual não é possível
construir a paz. Em muitos temas, como as crises humanitárias, a crise financeira ou o meio ambiente, Obama tem
posições próximas das europeias. Mas não noutras, como
seja a possibilidade de um muito maior envolvimento
europeu num esforço militar suplementar no Afeganistão.
O mundo que o novo presidente americano irá encontrar é bem diferente do que deixou Clinton. Nos anos ’90,
o mundo era ainda antes de tudo ocidental e a solução
das crises dependia do bom entendimento transatlântico.
Em menos de dez anos, tornou-se evidente que para
resolver os problemas do mundo e as crises regionais são
precisas novas potências como a China e a Índia e uma
Rússia mais afirmativa.
A estratégia de Clinton era a da hegemonia benigna;
a de Obama terá de ser a de assentar as estruturas de
uma governançao global, como tem preconizado a União
Europeia, capazes de envolver as outras potências
num esforço comum. A provável eleição de Obama
abre uma enorme oportunidade para concretizar
os objectivos internacionais da política europeia.
É tempo de a União Europeia definir o que espera
do novo Presidente dos Estados Unidos. Talvez
isso não seja indiferente ao rumo futuro da política
americana. a
Director do Instituto de Estudos de
Segurança da União Europeia
ADRIANO MIRANDA
expatriados
Eles votam
em Portugal
Se pudesse, a Europa votava nas eleições de 4 de Novembro. Eles são os únicos
que podem fazê-lo, do lado de cá: americanos expatriados. Quatro americanos
que vivem em Portugal mostram o boletim de voto. Maioria democrata, minoria
republicana. Mas, antes de mais, o que fazem em Portugal?
Texto Kathleen Gomes
Martin Earl
Porquê votar na
América quando
se devia votar em
Coimbra
Fato cinzento, camisa azul com quadrados
brancos. Mesmo sem a descrição prévia, feita
ao telefone, um americano sobressai sempre
numa estação de comboios de Coimbra. Falta
completar o retrato: alto, um tufo de cabelos
brancos sem corte, olhos azuis, óculos com
fita, casaco folgado. Martin Earl, 51 anos, não
corre o risco de ser confundido com um português.
É o único, dos americanos presentes nestas
páginas, que escolhe falar em português.
Chegou a Coimbra em 1986, vindo de Nova
Iorque, para dar aulas de inglês. “Dentro da
universidade falava inglês com os colegas e
46 • 26 Outubro 2008 • Pública
alunos. Nos primeiros tempos, ninguém queria
falar português comigo. Aprendi a língua em
casa sozinho, a ler jornais e a ver televisão,
nas lojas e nos restaurantes. Até hoje, tenho
amigos dessa altura que se recusam falar comigo em português.” Martin tem uma teoria:
“Os portugueses têm uma certa dificuldade
em acreditar que os estrangeiros podem falar
a língua deles. É um país pequeno, e estão mais
acostumados a ir lá fora e falar a língua dos
outros.” A primeira namorada portuguesa não
ajudou. “O pretexto era aprender a língua. Mas
o romance substituiu as lições e não aprendi
nada com ela.”
No entanto, Martin viria a casar com uma
portuguesa. O primeiro encontro foi aqui, no
Tropical, um café académico ainda mal refeito
da noite anterior. “A primeira pergunta que lhe
fiz foi: ‘Vamos falar em português ou inglês?’
Ela pensou dois segundos e respondeu ‘português’. Martin conta tudo numa divertida crónica intitulada Marrying a language (casar c
[Obama] é a pessoa
mais saudável, mais
viva. E, com Joe Biden,
criou uma espécie de
dream team
ADRIANO MIRANDA
Martin Earl,
tradutor, vive
em Coimbra
há 21 anos
com uma língua): sem dúvida que ela pensou
na vantagem linguística que teria sobre ele...
Martin e Luísa estão juntos há 12 anos.
“Eu penso em português. Quando estou nos
Estados Unidos e sou surpreendido por alguma
coisa, sai em português. O português quer sempre sair e tenho de reverter para inglês.”
Deixou a universidade há seis anos para se
tornar tradutor freelancer — traduz poesia, ensaio, filosofia; também fez a legendagem em
inglês dos filmes Juventude em Marcha, de Pedro Costa, e Aquele Querido Mês de Agosto, de
Miguel Gomes, antes do Festival de Cannes.
Além disso, é poeta. “Fernando Pessoa foi uma
influência enorme, mesmo antes de chegar cá.
Na minha primeira viagem à Europa, em 1979,
tinha comigo o primeiro livro traduzido nos
Estados Unidos do Fernando Pessoa. Quase
sabia os poemas de cor.”
Está na altura de pedir nacionalidade portuguesa, diz.
“Thomas Jefferson, que passou vários anos
como diplomata em Paris, tinha esta fórmula: depois de um ano fora, são precisos dois
anos para nos sentirmos confortáveis no nosso
próprio país; se estamos fora cinco anos, são
precisos dez; mas depois de dez anos fora é impossível regressar e sentirmo-nos em casa.”
Além do mais, quer votar em Portugal. “Sei
que sou das poucas pessoas fora da América que têm a possibilidade de votar [nestas
eleições]. Mas o meu voto é um bocadinho
abstracto. Votar em Coimbra teria mais peso
para mim.”
Quis esperar pelo último debate para votar,
apesar de o seu candidato estar decidido há
muito. “Segunda-feira [dia 20] vou votar em
casa. E depois vou aos Correios enviar o boletim de voto. É sempre o meu trauma: de cada
vez que entro nos Correios levo meia hora para chegar ao balcão.” Obamania à parte, vota
Obama. “É a pessoa mais saudável, mais fresca,
mais viva. E, com a escolha de Joe Biden, criou
uma espécie de dream team.”
Martin Earl considera que as duas administrações Bush inauguraram uma espécie de
novo paradigma na relação entre Presidente
e vice-presidente.
“Dick Cheney é o mais poderoso vice-presidente na História da América. Foi ele, juntamente com Wolfowitz, Rumsfeld e um bando
de conservadores que decidiram responder
ao 11 de Setembro daquela maneira. Acho que
com Obama vai ser da mesma maneira. Ele
simplesmente não tem experiência, é muito
jovem. Mais jovem do que eu. Ele sabia que
precisava de alguém como Biden, um perito
em relações externas, nos bastidores.”
O que parece fazer de Martin um caso raro é que, apesar de votar Barack Obama, não
embarca no fervor obamaníaco, nem deixa
de ter distância crítica. Nota que a atitude de
Obama relativamente ao Iraque, outrora tão
radical — “retirar, já” —, tem evoluído para a
percepção de que a guerra implica uma certa
obrigação para com o povo iraquiano. Se for
48 • 26 Outubro 2008 • Pública
CLÁUDIA ANDRADE
expatriados
eleito, Obama “vai aproximar-se muito mais da
política de Bush do que tentou demonstrar na
campanha”, antecipa Martin. “Do que o país
precisa agora é de uma figura como Obama.
Mas tenho receio porque os carismáticos não
têm os pés assentes no chão. Obama está a propor coisas completamente impossíveis.”
O pai de Martin às vezes inclina-se para os
republicanos, mas nestas eleições não votará
neles. “Ele ficou lívido com o facto de Bush ter
enviado as tropas mal equipadas para a linha
da frente no Iraque. Lívido, essa palavra existe
em português?!”
Um americano também sobressai a falar
português.
Martha de La Cal
Mário Soares
votes for Obama
Martha de La Cal não mandou vir T-shirts Obama da América. Pô-las a fazer, numa tipogra-
fia na Avenida Infante Santo, em Lisboa, com
o rosto do candidato democrata estampado.
Uma para ela, outra para Mário Soares. Tem
uma fotografia para prová-lo: Soares, ao lado
de Martha, segurando a T-shirt à frente do peito. “Ele é qualquer coisa. Estou sempre a darlhe T-shirts. Ele e a mulher são como família.
Votaria nele, se fosse portuguesa. Também
gostava do presidente Eanes. Gosto deles todos.” Martha também mandou fazer uma Tshirt para o angolano Bonga. “E tenho o meu
autocolante Barack Obama na parte de trás
do carro, não reparou?” Um no pára-choques
traseiro do Hyundai, outro à frente.
Martha chegou a Portugal em 1967 e é correspondente da revista Time desde 1972. Escreveu
sobre o julgamento das Três Marias, a Revolução, os judeus de Belmonte, as gravuras de
Foz Côa, as “mães de Bragança”, Maddie. Não
podia ser mais americana, mas com George
Bush ponderou renunciar a sua nacionalidade.
“Pensei tornar-me portuguesa. Ou espanhola.
Mas acabei por desistir. Estou desejosa de ver
Martha de La
Cal chegou a
Portugal em 1972
Eu já votei. Recebi o
meu boletim de voto
do Missuri, onde não
vivo desde os 19 anos
aquele filme, W. [filme de Oliver Stone sobre
Bush filho]. Já está nas salas?”
Antes de vir para Portugal, viveu em Espanha, e antes de Espanha vivera 15 anos em
Cuba — o primeiro marido, que conheceu na
universidade, era cubano. No final de 1960,
abandonaram a ilha por causa de Fidel Castro.
Aparentemente, Martha, licenciada em Psicologia Clínica, escreveu um artigo para o Times
of Havana em que descrevia as características
de um paranóico. As parecenças com Fidel
não eram pura coincidência. E não passaram
despercebidas ao próprio. Martha nunca mais
voltou a Cuba.
Já viveu mais tempo em Portugal do que em
qualquer outro lugar. Mas a conversa decorre
em inglês. “Si, eu falo português. Muito mal,
pero... Confundo espanhol com português.
Porque es similar. Semejante?”
Na sua casa, em Carnaxide, há quatro gatos
e uma cadela, Caixote, em minoria.
“Eu já votei. Recebi o meu boletim de voto
do Missuri, onde não vivo desde os 19 anos”,
ri-se. Mas a maior parte das vezes não se incomodou em votar nas eleições americanas.
Diz que o último Presidente que realmente a
entusiasmou — antes de aparecer Obama, claro
— foi Franklin D. Roosevelt, quando ainda andava na universidade. Não gostou de nenhum
outro, desde então? “Bem, talvez... O Clinton
não era mau.” Kennedy? “A história dele era
horrível. Toda a família dele, os Kennedys...
O avô materno, Honey Fitzgerald, era o dono
de Boston, um corrupto. O pai fez dinheiro a
contrabandear whisky... Era um milionário e
por isso pôde fazer uma propaganda tremenda
para que o filho fosse eleito.” A última vez que
votou? “Acho que foi no Carter.” Ri e é uma
criança travessa.
Maria Justina Wells, secretária da Democrats
Abroad em Portugal, o braço oficial do Partido
Democrata para americanos expatriados, confirma o fastio político de Martha de La Cal na
era pré-Obama. “Este ano, foi a primeira vez
que ela se inscreveu para poder votar nas Primárias. E eu conheço a Martha há anos. Nem
sequer sabia que ela era democrata, antes de
se inscrever.” Mas o que aconteceu com Martha
aconteceu com outros. A Democrats Abroad
em Portugal registou 45 novos eleitores democratas para votar nestas eleições.
E se Obama não ganhar?
“Não temos de deixar o país, já estamos fora.” Um KO de vivacidade.
“Antigamente havia uma canção nos Estados
Unidos chamada Pistol packin’ mama, que quer
dizer uma mãe armada até aos dentes. É o que
nós chamamos àquela mulher horrível, Sarah
Palin, pistol packin’ mama...”
Em Portugal, Martha avistou uns quantos
presidentes americanos. “Nixon esteve cá.
Não me parece que fosse muito brilhante.
Ele foi aos Açores encontrar-se com o Presidente Spínola. A fotografia do Spínola, com o
seu monóculo, tinha saído em tudo o que era
revista. Nunca mais me esqueço que estávamos no aeroporto, eu, um grupo de jornalistas
portugueses e alguns estrangeiros, e o Nixon
sai do avião e cumprimenta um general em
vez do Spínola. Ele não sabia! Terrível!” Risos. “O Reagan também esteve cá. Acho que
ele já tinha Alzheimer porque ao discursar no
Parlamento ele teve de ler o teleponto, que
falhou, e ele ficou ali, sem nada para dizer.
Tive pena dele.”
Martha tem visto os debates presidenciais,
que começam às duas da manhã, hora portuguesa. Antes de se deitar, pede à companhia
telefónica para lhe ligar a acordar, dez minutos
antes. “Assim, não perco o meu sono. Nunca
faz isso?” Esta madrugada, 16 de Outubro, é
o último debate. “Não sei se vou ver. Fico tão
danada com o McCain que tenho medo de atirar alguma coisa à televisão e parti-la”, ri-se.
“No caso do Bush, não aguento olhar para ele.
Ele aparece e eu desligo a televisão.” A menos
que seja um filme de Michael Moore. “Oh, adoro o Michael Moore. Você não? Ele diz coisas
terríveis de toda a gente que eu não gosto c
Pública • 26 Outubro 2008 • 49
Expatriados
[risos]. Ele é engraçado. Tenho todos os DVD
dele ali.”
Chris Thurlby
Ele votou Bush
e sobreviveu
Christopher Thurlby prepara-se para reabrir
um restaurante de luxo no Chiado, em Lisboa,
porque uma noite bebeu um copo de vinho a
mais. É um gracejo, mas a verdade é que ele
está aqui, nas entranhas desactivadas de um
estabelecimento que parece um clube privado
por dentro e tem uma fachada art nouveau.
Uma noite, ao jantar, o proprietário do edifício
contou-lhe que tinha um restaurante abandonado no rés-do-chão e Chris Thurlby viu ali
uma oportunidade de negócio. Planeia abrir
antes ou depois do Natal, com bar americano
50 • 26 Outubro 2008 • Pública
e cozinha portuguesa de qualidade. Será como
o Tavares Rico?, pergunta uma curiosa. Não
tão caro, diz Thurlby.
O negócio anterior deste americano de 71
anos não podia ser mais diferente. E foi o
que trouxe para Portugal, numa idade em
que outros pensam na reforma. “Tinha um
amigo russo que casou pela sexta vez e a sua
nova mulher queria estabelecer o primeiro
jornal de língua russa em Portugal. Ela nunca
tinha estado cá, mas tinha visto as estatísticas. Havia imensos falantes de russo aqui
[risos]. O meu amigo ligou-me: ‘Chris, isto é
lindo aqui. Temos falado com pessoas, devias
vir. Obviamente há coisas que podes fazer.’
E eu vim. O timing parecia perfeito. Temos
quatro filhos e o último tinha acabado de sair
de casa e a minha mulher disse: ‘Porque é
que não saímos de casa também e vamos ter
uma aventura?’ Viemos em Julho de 2002 e
Tenho críticas a fazer
[a Bush] mas não
correspondem
ao que é a crítica de
salão na Europa
CLÁUDIA ANDRADE
Chris Thurlby, 71
anos, vai abrir
um restaurante
no Chiado
apaixonámo-nos por este país. Montámos
uma série de cursos em português e russo,
para ensinar as mulheres dos imigrantes que
tinham vindo para cá trabalhar. Muitas delas
tinham um background académico considerável e qualificações que não eram transferíveis
para cá. Montámos um curso sobre cultura
empresarial: o que se passa num escritório,
como é que se atendem telefonemas, noções
de informática, etc.”
Em Portugal, ele e a mulher apaixonaramse pelas touradas. “Se for preciso, vamos até
ao Alentejo para ver uma tourada.” Portugal
é uma fiesta. “Para mim, essa é a essência de
Portugal porque é uma tradição antiga mas ao
mesmo tempo é uma coisa viva e nova e pobres
e ricos, toda a gente se senta com toda a gente.”
Quando os amigos vêm visitá-los, levam-nos a
almoçar a Ourém, vão a Tomar, Fátima... “Em
Fátima, mesmo os nossos amigos que não são
católicos interessam-se [pelo fenómeno]; normalmente adoptam uma atitude de respeito e
não de incredulidade.”
Thurlby foi-nos recomendado como o líder
da Republicans Abroad em Portugal, mas a
organização não está oficialmente estabelecida no país.
“Os republicanos tendem a ser discretos,
especialmente nos últimos quatro anos”, brinca.
Os tempos não têm sido de feição para Bush,
logo, não têm sido de feição para quem o elegeu. Thurlby votou nele das duas vezes.
“Existe a percepção de que não estamos a
fazer as coisas bem. Portanto, em vez de passar
o tempo todo a discutir... [risos] Mas digo-lhe
uma coisa: acho que esta oposição visceral ao
Bush pelos seus opositores americanos aqui
ultrapassa os limites nalguns casos. Tenho
razões pelas quais nunca votaria em Obama,
mas se ele ganhar irei reservá-las para mim.
A minha mãe, que era católica, costumava dizer: ‘Agora que só restamos nós, católicos, na
sala, falemos do Papa.’ Com Bush é a mesma
coisa: se formos só americanos, podemos falar à vontade. Quando oiço americanos que
vivem cá dizer que ele é o pior Presidente de
sempre... Todos sabemos o que acontece aos
‘piores presidentes’: às vezes acabam no top
15, anos mais tarde. Vou votar em John McCain.
Se ganhar o senador Obama, não vou dizer que
tudo o que ele diz é fantástico mas sobretudo
em círculos não-americanos teria cuidado com
as palavras. Era isso que eu queria dizer com o
exemplo dos católicos. Quando eles estão com
protestantes, o Papa é infalível. Mas quando
estão sozinhos...”
Portanto, Chris Thurlby nunca nos dirá se
tem críticas a apontar à presidência de George
W. Bush?
“Tenho críticas a fazer mas não correspondem ao que é a crítica de salão na Europa — a
opção pelas políticas erradas, o unilateralismo,
a guerra do Iraque... Acho que o Iraque, provavelmente, foi a melhor resposta ao 11 de Setembro e a um novo contexto mundial em que
pequenos terroristas podem infligir um dano
espectacular e levar a economia a uma paragem momentânea. Deve haver outra maneira
de resolver as coisas sem ser: ‘Não gostamos
que façam isso, vamos falar com as Nações
Unidas a ver se conseguimos umas resoluções
que possam impedir que isto aconteça outra
vez.’ Acho que o ponto mais fraco é ele não ser
um bom líder político. Porque um bom líder
político — e aponto Abraham Lincoln como
exemplo — conseguiria manter uma maioria
do país e daqueles que precisa, incluindo uma
maioria da imprensa, do lado dele. E Bush,
ou não prestou a atenção necessária ou não
soube como fazê-lo, ou não quis saber. E não
se pode ignorar isso.”
Previsões para 4 de Novembro?
“Bem, neste momento estou com um problema porque a minha equipa de basebal perdeu
ontem à noite”, brinca. “Vamos pôr as coisas
assim: se McCain e Palin ganharem, será uma
surpresa maior do que se Obama ganhar.”
Julie Deffense
Hillary para
Presidente,
Palin para quê?
Há, pelo menos, uma coisa que um português e uma americana em Portugal têm em
comum.
“O que eu não suporto aqui é a burocracia.
Levou-me seis ou sete anos para conseguir
o meu estatuto de residência permanente.
Dão-nos uma lista e dizem: ‘Isto é o que tem
de fazer para obter o cartão.’ Nós fazemos as
coisas todas, mas, quando voltamos, dizem:
‘Bom, se ler nas entrelinhas diz aqui que precisa disto...’ E nós: ‘Mas não me disse isso da
outra vez.’ E quando finalmente conseguimos
aquilo que faltava, as outras coisas expiraram
e são dos Estados Unidos e temos de repetir
o processo...”
Julie Deffense, 35 anos, é uma americana
em Portugal e foi por isso que, recentemente,
apareceu no New York Times: ela e o marido
conceberam e construíram uma casa na zona
de Cascais que, como ela diz, é muito americana por dentro e portuguesa por fora. Precisando: interior espaçoso, cozinha desafogada
com balcão central e muita arrumação, papel
de parede ornamental; exterior com pintura
cor-de-rosa, telha e pavimento em calçada. A
metáfora é tentadora: uma Xanadu que materializa o encontro das duas culturas presentes
na vida de Julie.
“Antes de fazermos obras, era uma típica
casa portuguesa, com um pouco de tudo: uma
parede tinha azulejos, outra tinha pedras encastradas, outra era lisa. O interior era bastante
escuro, frio e húmido. Era muito diferente do
que eu estava habituada. A cozinha ficava na
parte de trás da casa e tinha uma janela minúscula. Na América, a cozinha é o centro da
casa, a parte mais luminosa e aquela em que
se passa mais tempo.”
A nova cozinha, diz Julie, “é enorme, é uma
cozinha americana”, uma cópia exacta da que
os seus pais têm na Pensilvânia, com electrodomésticos importados dos Estados Unidos,
mas armários cem por centro portugueses,
feitos à mão em Colares. “Acho que o trabalho de pormenores neste país é incomparável.
Ainda têm todos estes artesãos à antiga que
trabalham a madeira ou a pedra... Nos Estados Unidos é tudo pré-fabricado ou custa uma
enormidade.”
Julie chegou a Portugal em 1998 para trabalhar três meses no departamento de web
design de uma empresa. “Quando estava na
universidade passei um semestre em Florença
a estudar arquitectura. Foi tão bom que achei
que um dia gostaria de voltar à Europa. Depois
do curso trabalhei como ilustradora téc- c
Pública • 26 Outubro 2008 • 51
CLÁUDIA ANDRADE
Expatriados
Julie Deffense
chegou por três
meses, mas
apaixonou-se
nica e depois como designer gráfica. Quando
me convidaram para vir para cá três meses,
pensei: ‘Óptimo! Portugal, Itália, fica tudo do
mesmo lado do oceano. É a minha chance de
voltar para lá.’ Estava farta do meu trabalho,
apesar de estar a fazer mais dinheiro do que
ganho aqui hoje.”
Quando os três meses chegaram ao fim, já
era demasiado tarde para voltar aos Estados
Unidos: um mês depois de ter chegado, Julie
conheceu o seu futuro marido, Jacques, que
nasceu em Portugal, mas é filho de uma irlandesa e de um belga. Decidiu ficar, mesmo sem
emprego. “Enviei 350 currículos, para tudo o
que pudesse ter qualquer relação com design
e fui arranjando trabalho graças a isso.” Trezentos e cinquenta currículos — não convém
subestimar a determinação americana. Pouco
tempo depois, estava a trabalhar como designer em regime de colaboração com a revista
de negócio imobiliário People & Business, escrita em inglês. Desde há dois anos, é directora
e proprietária da revista. “Quando cheguei a
Portugal, um amigo disse-me que eu nunca ia
ter uma carreira cá como teria nos Estados Unidos. Não sabia o que é que o comentário queria
dizer: é por ser mulher? é por ser estrangeira?
Pensei: ‘Vou provar que ele não tem razão.’
Quando surgiu a oportunidade de comprar a
revista, pensei: é a minha oportunidade. E já
lá vão dois anos.”
É no escritório da People & Business que
estamos, uma casa térrea nas imediações de
Cascais, num sábado de manhã. “Perguntei
ao meu marido se devia trazer o meu crachá
52 • 26 Outubro 2008 • Pública
A América está pronta
para uma mudança.
Mal posso esperar
para que a próxima
semana chegue ao fim
Clinton/Gore”, diz Julie, com um sorriso. “Fui
a Washington assistir aos dois discursos inaugurais de Clinton, em 1993 e 1997. O crachá é
do segundo.”
Julie é democrata e teria votado em Hillary
Clinton, se ela não tivesse perdido as Primárias
para Obama. Sentiu-se desapontada quando
Hillary ficou pelo caminho? “Um pouco. Eu
estava a torcer tanto por ela que não tinha feito
nenhum trabalho de casa sobre o Obama.” Dito
isso, considera que, nesta eleição, “tal como
nas últimas duas ou três, é evidente quem devia ganhar”.
“A América está pronta para uma mudança,
o mundo está pronto para uma mudança. Mal
posso esperar para que a próxima semana chegue ao fim.” Ansiosa? “O Obama tem uma clara
vantagem mas como as duas últimas eleições
não foram ganhas de forma justa, nada garante
que essa vantagem o vai ajudar. Se McCain for
eleito, Deus queira que nada lhe aconteça porque veja só quem ficaria à frente do país.” A governadora do Alasca. “Fico arrepiada quando
ela abre a boca. Parece uma pessoa simpática,
mas não tem o que é preciso para chefiar o país
no presente contexto mundial.”
Quem é mais americano, Obama ou Palin?
“Bem, Obama é o resultado de um melting
pot e toda a gente na América faz parte do melting pot, certo? Sarah Palin representa mais o
americano médio — como quando vemos o Jay
Leno, que entrevista pessoas na rua, e pergunta quem é o vice-presidente do país e cinco em
seis não sabem. Acho que Obama representa
uma melhor selecção do que um americano é
e pode ser.” a
!"!# "
(
(
!
,
!" "
'
"
-' " "! !
! " "!"$"( ") $+! "
! !* ! "!!"&%"
"! "! presidente
É o carácter,
estúpido!
Numa eleição em que a economia parece mais importante do que nunca,
o carácter dos candidatos pesa substancialmente nas contas dos eleitores.
Texto Miguel Gaspar
O
s EUA foram criados como uma
república em que o poder
emanava do povo e não da
graça divina, como acontecia
no modelo das monarquias
europeias, contra o qual a
nova nação nasceu em 1776. Mas pelo menos
um Presidente dos Estados Unidos, Woodrow
Wilson, acreditou um dia que corrigir a graça
divina estava ao alcance dos seus poderes.
Após a guerra mundial de 1914-1918, o Presidente democrata que envolvera os EUA no
conflito falava assim do projecto de uma nova
estratégia para a paz mundial, os 14 Pontos, que
ia apresentar aos aliados europeus: “Por que
é que Jesus Cristo não conseguiu convencer o
mundo a seguir os seus ensinamentos nestes
assuntos [da guerra e da paz]? Foi porque Ele
ensinou um ideal sem divisar os meios práticos
para os alcançar. É por isso que estou a propor
um esquema prático para levar por diante os
Seus objectivos.”
Woodrow Wilson falhou estrondosamente no
seu projecto de convencer os homens a aceitar
o esquema prático que não ocorrera a Cristo,
tanto na Europa como nos Estados Unidos — o
próprio Senado americano recusou-se a aceitar
a proposta do Presidente.
Esta história é contada por James David
Barber, num livro de 1972 intitulado The Presidential Character/Predicting Performance in
the White House (O Carácter dos Presidentes/
Antecipando a Performance na Casa Branca).
O autor, um professor de Ciência Política, falecido em 2004, tenta mostrar que todos os
presidentes encaixam em quatro categorias de
comportamento definidas. Há uma categoria
de excelência (os “activos positivos”, onde o
autor coloca Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman e John Kennedy) e uma categoria
“negra” (os “activos negativos”, em que cabem
Woodrow Wilson, Herbert Hoover, Lyndon Johnson e Richard Nixon).
O idealismo teimoso que permitiu a Woodrow Wilson imaginar que o Presidente dos
Estados Unidos tinha o poder de tornar realizáveis os ensinamentos de Cristo é paradoxal
num país onde, como em 1835 lembrava Alexis
de Tocqueville, nas páginas de A Democracia
na América, “o Governo não é um bem mas um
mal necessário”. Na visão original dos fundadores, como explica o historiador Hugh Brogan,
não havia sequer um consenso quanto à prevalência do poder federal sobre o poder dos Estados, quanto mais achar que o Presidente podia
assumir a dimensão imperial, na expressão de
Arthur Schlessinger Jr., antigo conselheiro de
John Kennedy. O cargo tornou-se tão especial
que passou a existir um hino presidencial, Hail
to the Chief, que é tocado em todas as aparições
públicas do Presidente.
O enorme poder que se foi concentrando na
Casa Branca também motivou Barber a criar um
modelo que permitisse precaver a escolha de
maus presidentes através da análise do tipo de
carácter a que pertencem — mais exactamente,
um modelo capaz de impedir que alguém como
Richard Nixon voltasse a ser eleito. Ele reflecte
também sobre o carácter singular da instituição
“O Presidente é o único
objecto disponível para
o sentimento nacionalreligioso-monárquico
que o americano possui”
presidencial americana e tenta explicar porque
ocupa ela um lugar tão importante no contexto político americano. “Não temos um rei. O
Presidente é o único objecto disponível para
o sentimento nacional-religioso-monárquico
que o americano possui. O Presidente ajuda as
pessoas a construir um sentido para a política.
É um homem sozinho que tenta fazer um trabalho — um quadro muito mais compreensível
[do que a política do congresso] para a massa
de pessoas que estão no mesmo barco.”
Os valores acima das políticas
Quanto pesam as questões de carácter? Karl
Rove, o estratega das campanhas de Bush, é
enfático: “Quando se trata de escolher um presidente, o povo americano quer saber mais sobre um candidato do que sobre posições políticas. Quer saber sobre o carácter, sobre os
valores que existem no seu coração”, escreveu
num texto no Wall Street Journal, onde lamentava que McCain fosse tão reservado sobre a
sua história pessoal, em particular quanto ao
período em que foi prisioneiro de guerra no
Vietname.
Jeremy Mayer, professor de Política Americana da George Mason University da Virgínia,
numa entrevista por e-mail, diz que a importância das questões relativas ao carácter dos
candidatos aumentou. “O carácter sempre interessou nas eleições presidenciais, mas tornou-se mais importante na era da televisão,
desde 1960. A investigação mostra de forma
consistente um declínio na importância dos
temas e um aumento da importância de características pessoais como a honestidade, a
simpatia e a questão de saber se o candidato
partilha os valores dos eleitores.”
Mayer sublinha ainda a existência de um estilo padrão: “Existe o desafio vago de parecer c
presidente
Lincoln, Wilson e Roosevelt — três presidentes-arquétipo quer para os republicanos quer para os democratas
‘presidenciável’. Isto mistura capacidade de liderança, dignidade, inteligência, temperamento e gravitas. Isto está fortemente relacionado
com o papel simbólico das imagens. Em 1988, [o
candidato democrata] Mike Dukakis prejudicou
as suas hipóteses só porque ficava ridículo de
capacete dentro de um tanque M-1.”
O carácter conta — mas e os problemas em
jogo? As chaves desta eleição são a economia
— como em 1932, três anos após o início da
Grande Depressão, quando o republicano Humphrey foi varrido pelo democrata Roosevelt — e
uma guerra impopular — como em 1952, quando o democrata Harry Truman foi batido pelo
republicano Dwight Eisenhower, por causa da
Guerra da Coreia. Será que desta vez o contexto e a substância são mais relevantes do que a
personalidade dos dois candidatos?
É preciso lembrar que estes estão longe de
ser figuras consensuais nos seus campos políticos. Obama teve de vencer os obstáculos para
se tornar no primeiro candidato negro à Casa
Branca, o maior dos quais foi a primeira mulher
a aspirar seriamente a essa candidatura, Hillary
Clinton. John McCain venceu uma nomeação à
qual não era favorito, por ter um perfil demasiado liberal para as bases do partido.
“Hollywood para os feios”
Mas não é surpreendente que a adesão dos
eleitores aos candidatos seja apenas relativa.
Apenas a história transforma os líderes políticos em ícones reverenciáveis. “Os americanos
vêem os políticos como um tipo de celebridades
que está algures entre um comentador da rádio
pública e uma actriz secundária de uma soap
opera”, dizia o escritor P. J. O’ Rourke num texto
de 2002, em que lembrava que “Washington é
Hollywood para os feios”.
O jogo das personalidades teve ainda outro
actor, George W. Bush. Sendo uma campanha
sem incumbente ou era um referendo a Barack Obama (o que os republicanos queriam) ou
era um referendo a George W. Bush: quando
McCain, no último debate, declarou ao adversário “eu não sou George Bush”, percebeu-se
que a crise transformara de vez a eleição num
referendo ao Presidente que está de saída.
O contexto em que decorre uma campanha
acaba por construir, como nota James Barber,
um jogo de expectativas ao qual cada candidato
tenta corresponder. Para ele, o importante é
compreender o carácter, a visão do mundo e
o estilo de cada candidato. Isto quer dizer uma
história pessoal, uma visão do mundo e um
estilo. Os programas eleitorais são uma aposta
no escuro, mas uma campanha pode revelar
a personalidade de quem se propõe governar.
O carácter não é uma condição suficiente para ganhar, mas é sem dúvida uma condição
necessária.
Nos EUA, isso traduz-se na partilha de valores
como a honestidade, o optimismo americano
ou a religião e revelar capacidade de liderança
política — o candidato que age é beneficiado
em relação ao que não age, defende Barber —,
a qual está intimamente associada ao papel de
comandante-chefe.
Valores estranhos para os europeus que de
um modo geral têm dificuldades em entender a política americana. Um problema que
já existia no tempo de Tocqueville: “Para um
estrangeiro, quase todas as querelas domésticas dos americanos parecem, à primeira vista,
incompreensíveis ou pueris, e não sabemos se
devemos apiedar-nos de um povo que se ocupa
seriamente de misérias que tais, ou invejar-lhe
a felicidade de poder ocupar-se delas.”
O americanismo e o optimismo são as cores
do sonho americano — e qualquer candidato
tem de os defender de forma convicta. “A incapacidade de abraçar a América afirmando God
Bless America ou em dizer que somos a melhor
nação sobre a Terra é perigosa. Os americanos
esperam que os seus líderes lhes digam que são
o povo mais livre do mundo, que intervém em
nome da justiça e da liberdade quando recorre
à força militar”, afirma Jeremy Mayer.
Numa análise às eleições presidenciais de
2004, o jornalista Jonathan Chait notava, na
Atlantic Monthly, que “o optimismo é um prérequisito para qualquer aspirante à Sala Oval
— quase uma questão de patriotismo”. Chait
citava um estudo da Universidade de Pensilvânia que mediu o “nível de optimismo” dos
discursos de aceitação de todos os candidatos
entre 1948 e 1984 e concluiu que só uma vez o
menos optimista ganhou — foi Richard Nixon,
em 1968. Candidatos zangados (como John McCain nos debates com Obama) não encaixam
nesta ideia de optimismo, que Chait considera
ser mais forte entre os republicanos, por remeter para a “Revolução Reagan”. Mas o optimismo também pode ser expresso através da
palavra “esperança”, dominante no discurso
de Franklin Delano Roosevelt em 1932, nota.
Precisamente uma das palavras-chave de que
Obama se apropriou nesta eleição.
Deus também vota
O optimismo e a esperança funcionam no quadro de uma religiosidade que é estrutural nos
Estados Unidos. Tocqueville via-a como uma
expressão da liberdade americana: “Não há
ódios religiosos [na América] porque a religião
é universalmente respeitada”, escrevia em 1835.
No século XXI, o extremismo dos evangélicos
O americanismo e o
optimismo são as cores
do sonho americano
— e qualquer candidato
tem de os defender
Reagan é o grande modelo republicano
transformou a religião num factor de divisão.
O cientista Richard Dawkins, um dos principais adversários dos criacionistas, sublinha que
“já foi suficientemente notado o paradoxo de
que, tendo sido fundados no secularismo, os
Estados Unidos são hoje o país mais religioso
da Cristandade. (...). É universalmente aceite
que admitir ser ateu é um suicídio político instantâneo para qualquer candidato”, escreveu
em The God Delusion.
Desde que lançou a sua candidatura, o senador do Illinois teve de enfrentar os problemas
colocados pelo factor racial — tal como Hillary
teve de lutar contra os de género — e foi obrigado a transformar o seu passado numa história verdadeiramente americana. Tarefa difícil
quando tinha pela frente na corrida presidencial um prisioneiro de guerra do Vietname — um
exemplo do heroísmo americano. As dúvidas
colocadas pela campanha republicana sobre
o carácter do adversário visavam explorar o
medo da mudança e, também, questionar a capacidade de liderança do candidato. E, durante as primárias democratas, a própria Hillary
Clinton pôs em causa a capacidade de Obama
para ser comandante-chefe.
Este papel colou-se ao cargo de Presidente
ao longo da História — originalmente, o inquilino da Casa Branca não usava sequer o título.
Isso aconteceu com Abraham Lincoln, durante
a Guerra Civil (1861-1865). E o papel do Presidente como comandante-chefe intensificou-se
a partir William McKinley (Presidente entre
1897 e 1901) e Theodore Roosevelt (1901-1908)
durante o primeiro período de expansão dos
EUA que o escritor Gore Vidal descreveu como
o momento em que “a república cedeu o lugar
ao Império”.
O heroísmo militar já fora decisivo para a
vitória de Andrew Jackson, um herói da guerra
de 1812 contra os ingleses, nas presidenciais de
1828. Mas numa era em que os media começaram a influenciar a política — foram os jornais
de William Hearst que empurraram os EUA para o conflito com Espanha em 1898 — Theodore
Roosevelt construiu um personagem a partir
do seu papel nos confrontos em Cuba: era o
Rough Rider [o nome do seu regimento] e só
tirava o chapéu para ser aclamado.
Em Empire, Vidal ficcionou a participação
do coronel Roosevelt numa das primeiras convenções modernas do Partido Republicano, em
1900: “Quem quer que tivesse ensaiado Roosevelt fora um mestre. Mais uma vez a banda
tocou There’ll be a Hot Time, que já se tornara o
hino da guerra hispano-americana. Erguendo
bem alto o chapéu de Rough Rider, aquele homem entroncado, baixo e míope correu pelo
corredor, desde o seu lugar sob a bandeira do
estado de Nova Iorque, e subiu a correr as escadas do palco. Mais uma vez a ovação atingiu
um fortíssimo, e Roosevelt pareceu ficar ainda mais volumoso, enquanto as aclamações
o enchiam como o ar quente a um balão: (...)
o chapéu estava suspenso da cabeça como os
louros da vitória.”
Foi seguindo este modelo que George W.
Bush se apresentou vestido de piloto de combate num porta-aviões para anunciar ao mundo a
“vitória no Iraque”, em Maio de 2003. John McCain, que lhe seja feita a mais elementar justiça,
não pertence a esta escola. Mas a sua simples
história chega para despertar os medos dos democratas naquilo a que o editor da Newsweek,
Fareed Zakaria, chama “a competição para ser
o tipo duro”, no livro The Post-American World:
“Apesar de os democratas serem mais sensíveis
hoje a este tipo de questões [relativas à defesa],
o partido permanece consumido pelo medo de
não ser visto como duro. Os seus candidatos
lutaram uns com os outros [durante as primárias] para mostrar que podiam ser tão machos
como o mais duro dos republicanos.”
Para Jeremy Mayer, este continua a ser um
ponto fraco de Obama: “É extremamente importante que um candidato seja visto como capaz de ser comandante-chefe. Desde a II Guerra
Mundial só foi eleito um Presidente que não
tivesse alguma experiência militar — Obama
poderá vir a ser o segundo. Ainda aparecem
pessoas na televisão a dizer que não estão confortáveis com Obama porque ele não sabe o
que é fazer o serviço militar. É uma das últimas
vantagens que McCain preserva.”
Mitos históricos
A História é a outra fonte para a construção de
um mito heróico em torno da presidência. Cada
candidato constrói-se em função de um arquétipo, que lhe permite definir o carácter histórico
da sua presidência. Uma história pessoal, um
discurso, uma ideia do passado da América — é
o momento em que a personalidade e a visão
política do candidato se transformam numa
narrativa.
“Penso que o arquétipo moderno mais comum, em particular para os republicanos, é
Ronald Reagan. Para além disso, democratas e
republicanos olham para Kennedy, os dois Ro-
osevelt ou mesmo Lincoln”, diz Joseph Mayer.
Reagan é elogiado por Obama, mas McCain falou sempre de si como “um soldado da revolução Reagan” e isso define-o politicamente como
um continuador. O impopular incumbente republicano foi sempre uma referência incómoda
para McCain e o duelo com Hillary levou a que
Obama não se alongasse de mais em elogios a
Bill Clinton, preferindo valorizar Reagan.
Mas foi através da invocação de Abraham Lincoln que Barack Obama conseguiu falar da sua
campanha como um acontecimento histórico,
um momento de redefinição da nação como foi
o mandato do primeiro Presidente republicano.
Reivindicando-se herdeiro do Presidente que
arriscou a unidade da federação para combater
a escravatura, Obama colocou em perspectiva
o facto de ser um candidato negro — e as questões dominantes desta campanha foram obviamente a raça e o género. A identificação com
Martin Luther King — Obama fez o seu discurso
de aceitação no dia em que passavam 40 anos
da morte de King — funcionou também como
um arquétipo espiritual.
Em Outubro de 1860, o poeta e editor da
Atlantic Monthly, James Rusell Lowell, descrevia a eleição que se avizinhava como ocorrendo
no contexto de “uma crise na nossa política
doméstica mais grave do que qualquer outra
desde que nos tornámos uma nação (...). Ouvir dizer que não devemos agitar a questão da
escravatura quando ela está desde sempre a
agitar-nos é como dizer a um homem com febre
que se parar de tremer ficará curado”. Para o
jornalista, a resposta era votar em Abraham
Lincoln: “Ele já provou a sua qualidade e a sua
integridade; a experiência política suficiente
dos negócios públicos é suficiente para fazer
dele um homem de Estado e não é suficiente
para fazer dele um político.”
O exemplo do senador do Illinois em 1858
serviu também para dizer ao senador do mesmo estado 150 anos depois que um candidato
inexperiente pode ser um grande Presidente. O
combate pela abolição da escravatura permite
não só enquadrar a legitimidade de um candidato negro, como sustentar o paralelo com
o discurso de mudança nas relações entre as
raças e nas guerras bipartidárias que, segundo o candidato, dividem a América como uma
guerra civil desde os anos 1970.
Posto isto, que tipo de Presidente poderão
vir a ser um ou outro dos candidatos? John
McCain assume-se como um continuador do
espírito de Reagan. Se vier a ser eleito, as dúvidas estão no estilo da sua presidência. Obama
defende a mudança. E a pergunta é se será um
Presidente reformador e transformador, como
Franklin Delano Roosevelt, eleito em tempo de
depressão económica, ou um regenerador como Jimmy Carter, Presidente numa era de crise
moral da América? Mas a história, claro, nunca
se repete. Sobretudo nesta “região feliz, o novo
mundo”, onde, dizia Tocqueville, “os vícios do
homem são quase tão úteis à sociedade como
as suas virtudes”. a
Barack Obama
Wife
d Barack Obama
tinha dois anos
quando os pais
se divorciaram. A
mãe, a antropóloga
americana Ann
Dunham (ao centro),
casou-se depois com
o indonésio Lolo
Soetoro (à esq.) e
todos foram viver
para Jacarta em
1967, onde nasceu a
sua irmã, Maya (ao
colo).
c Michelle Obama
conheceu Barack
quando os dois
eram os únicos afroamericanos na firma
de advocacia onde
trabalhavam. Ela
era a “chefe”. No
primeiro date foram
ver Do the Right
Thing, de Spike Lee.
Casaram-se em 1992
e têm duas filhas.
Havai Toot
d Aos 10 anos,
Barack Obama
deixou Jacarta e
foi viver com os
avós maternos em
Honolulu. A mãe
juntou-se a ele
em 1972, embora
tenha voltado à
Indonésia por
alguns períodos para
trabalho de campo
e preparar a tese
de doutoramento
em Antropologia.
Morreu de cancro
nos ovários em 1995.
58 • 26 Outubro 2008 • Pública
c Madelyn Payne
e Stanley Armour,
os avós maternos
de Barack Obama,
ainda hoje são
uma inspiração de
vida. Ela é a “toot”
(palavra usada no
Havai), que foi a
primeira mulher
vice-presidente de
um banco local.
Ele sobreviveu à
Grande Depressão e
serviu no exército de
Patton durante a II
Guerra Mundial.
REUTERS/OBAMA FOR AMERICA/HANDOUT
REUTERS/OBAMA FOR AMERICA/HANDOUT
c Barack Obama
Sr. conheceu Ann
Dunham quando
ambos frequentavam
a Universidade
do Havai. Após o
divórcio, regressou
ao Quénia, onde
serviu no governo de
Jomo Kenyatta. Só
viu o filho mais uma
vez, antes de morrer
num acidente de
carro em 1982.
REUTERS/OBAMA FOR AMERICA/HANDOUT
O pai
A mãe
REUTERS/OBAMA FOR AMERICA/HANDOUT
Mãe branca, pai queniano e padrasto indonésio,
Barack Obama entrará na História se for o primeiro
afro-americano eleito Presidente dos EUA.
REUTERS/OBAMA FOR AMERICA/HANDOUT
vida em imagens
AFP PHOTO/EMMANUEL DUNAND
c Na sua aldeia no
Quénia, chamamlhe Mama Sarah
e, embora os
contactos com o seu
neto candidato a
Presidente dos EUA
sejam raros, ela é
uma avó orgulhosa.
“Quando há um jogo
de futebol, olhamos
para os pés de quem
joga”, disse à BBC.
“No caso de Barack,
ele está determinado
e o resto será Deus a
determinar.”
c A intenção,
justificou a New
Yorker, na edição
de 21 de Julho,
intitulada Politics of
Fear, era satirizar
o modo como a
direita americana
atacava o candidato
democrata. Mas a
campanha de Barack
Hussein Obama
denunciou o cartoon
da capa da revista
como “ofensivo e de
mau gosto”.
Real
d Nativa de
Chicago, formada
em Direito em
Princeton e Harvard,
Michelle Obama tem
sido descrita nas
revistas como uma
“princesa africana”
que, com o seu 1,80
de altura, tem “um
porte real”. Cativou
pela inteligência e
simplicidade, mas
também franqueza
do discurso, quando
revelou à Vanity Fair
as “misérias” do
marido: “Ressona e
cheira um bocado
mal de manhã, ao
acordar.”
AFP PHOTO/CHRIS HONDROS
Cover
AFP PHOTO / ROBERTO SCHMIDT
Sarah
JASON REED/REUTERS
vida em imagens
John McCain
Costuma dizer que é um milagre estar vivo. A autobiografia que escreveu em 1999, Faith of My Fathers,
é um autêntico livro de aventuras.
BETTMANN/CORBIS
Sorte
Não!
d No dia 27 de
Outubro de 1967
o caça de John
Sydney McCain
foi atingido sobre
Hanói (Vietname do
Norte). O piloto da
marinha saltou de
pára-quedas e caiu
no meio da cidade
inimiga, no lago Truc
Bac, de onde foi
retirado com vida.
c Numa fila de
prisioneiros que
o Norte divulgou.
Recusou várias
vezes a libertação
(a ideia era derrubar
a moral dos outros
presos deixando sair
um ‘filho de papá’).
Foi brutalmente
espancado na
prisão, onde ficou
cinco anos e meio.
CORBIS SYGMA
Filho
d McCain foi
identificado: filho
do comandante
da frota dos EUA
no Pacífico (já o
avô fizera carreira
na Marinha), era
um prisioneiro
importante. Na
imagem está num
hospital, na verdade
foi torturado.
CORBIS SYGMA
Mudar
d A 2 de Maio de
1973 o mais antigo
prisioneiro de
guerra americano no
Vietname regressa
a casa e é recebido
por Nixon. Voltou
debilitado (nunca
mais conseguiu
levantar o braço
esquerdo) e decidiu
dedicar-se à política.
Representa o
Arizona no Senado
e ganhou fama de
maverick entre os
republicanos pela
sua independência.
ARQUIVO DA FAMÍLIA MCCAIN
AFP PHOTO / PAUL J. RICHARDS
Amor
c John e Cindy
têm quatro filhos.
Ele sobreviveu
a um cancro na
pele. Em 2000
perdeu a nomeação
para candidato à
presidência para
George W. Bush. Este
ano regressou e é o
candidato. Tem 72
anos e diz que a sua
vida é um milagre.
John casou com
Carol em 1965.
Adoptou os dois
filhos dela e o casal
teve Sidney. Viveram
pouco tempo
juntos. No regresso
apaixonou-se por
Cindy Hansley e
casou com ela. Com
separação de bens,
pois Cindy tem uma
fortuna colossal.
c
Voltou
filme
Julgamento
sumário para
George Bush
Oliver Stone não quis esperar pela avaliação da História. Decidiu julgar George
W. Bush enquanto ele está em funções. Não apenas para influenciar a votação
de Novembro, mas para encerrar rapidamente uma fase negra da América e do
mundo. Em crimes desta gravidade, o povo exige o julgamento sumário.
Texto Paulo Moura
62 • 26 Outubro 2008 • Pública
O
Presidente George W. Bush
gosta de palitar os dentes
com as unhas. E de o fazer
durante importantes reuniões
na Casa Branca, enquanto se
discutem assuntos decisivos
para a América e para o mundo, como a
invasão do Iraque. Também o faz nos primeiros
momentos românticos com Laura, com quem
viria a casar.
W. é desajeitado, grosseiro e estúpido todos
os dias. Desde a juventude, em que se distinguia pelas bebedeiras, o mau comportamento
na escola e as aventuras amorosas com maus
resultados. “Pai, ela diz que está grávida”, vinha W. choramingar para o gabinete de George
Bush Senior. “Eu resolvo o assunto”, acabava por dizer Bush, depois de passar ao filho
um raspanete. W. era o seu desespero e a sua
vergonha. Não fazia nada de que a família se
pudesse orgulhar. Só gostava de basebol, mas
nem basebol sabia jogar. O seu sonho era ser
treinador. Assim, não teria de trabalhar, pensava ele.
Este era um dos critérios que presidiam a todas as suas decisões, tanto na atribulada juventude, como enquanto empresário falhado, ou
na Presidência dos Estados Unidos: esforçar-se
o mínimo possível. Outro dos critérios era o
de agradar ao papá. Bush sempre preferiu o
filho mais velho, em cuja carreira empresarial
e política depositava grandes esperanças. W.
tinha ciúmes. O pai desprezava-o e ele queria desesperadamente agradar-lhe. Por isso,
converteu-se ao cristianismo, como newborn,
acabou por se meter também nos negócios,
e depois na política. Mas isso só exasperava
ainda mais Bush Senior. “Mantém-te fora disto”, aconselhava ele, sempre que W. fazia um
investimento, ou se candidatava a um cargo
público. Bush Senior tinha medo que W. fizesse
asneiras, e isso colocasse mal a família. O que
de facto acontecia. Os vários empreendimentos
de George W. Bush tinham algo sinistramente
em comum: eram um fracasso. Na adolescência, como na idade adulta. Quando chegou à
Presidência, as coisas não melhoraram. Pelo
contrário. W. tornou-se ainda mais cretino,
mimado, desastrado e bazófias. Rodeou-se de
conselheiros e funcionários, ou igualmente imbecis, ou mal-intencionados. O vice-presidente
Dick Cheney, um facínora diabolicamente manipulador, que tomava as decisões mas deixava
que W. acreditasse ser ele próprio a tomá-las;
Donald Rumsfeld, um criminoso vulgar, uma
carcaça de fel e mau carácter; Condoleezza
Rice, uma parola beata e lambe-botas, sem
cérebro nem vontade própria.
Os destinos da América e do mundo estiveram entregues a uma cambada de atrasados
mentais, movidos por interesses inconfessáveis ou incompreensíveis. É essa a imagem de
George W. Bush e a sua Administração que os
americanos podem ver nas salas de cinema
desde a semana passada. Uma imagem igual
à realidade, mas com um filtro de caricatu-
Fazer a biografia de
George W. Bush com
ele no poder é como
dizer-lhe algumas
verdades cara a cara
ra. No entanto, exposta em tempo real, de
forma a confundir-se com a verdade política
e histórica. O objectivo de Oliver Stone, o realizador de W, não pode ter sido outro. Ao
decidir que o filme se estreasse ainda durante
a vigência do mandato de George W. Bush, imprimiu-lhe um cunho documental. Um filme
feito com alguma distanciação histórica é livre
de apostar numa reinterpretação dos factos.
Dentro de cinco ou dez anos, uma biografia de
George W. Bush traduziria apenas a visão do
seu autor. Uma visão possível, mas diferida,
irremediavelmente apreendida como “ficção”.
Fazer a biografia de George W. Bush enquanto
estamos submetidos ao poder de George W.
Bush é como dizer-lhe algumas verdades cara
a cara. É como se lhe déssemos a oportunidade de nos desmentir, por palavras e actos. E,
por mais demagógico que seja o expediente,
funciona como instrumento de intervenção e
julgamento sumário.
Não é a primeira vez que se produzem filmes
sobre presidentes americanos em exercício.
Morte de Um Presidente, de Gabriel Range, conta, em 2006, a história de um atentado contra
George W. Bush. Mas foi produzido na Grã-Bretanha e não teve distribuição nos EUA. E tratava de um assassínio físico, não de carácter.
Já Wag the Dog (Manobras na Casa Branca)
era mais contundente. Realizado por Barry
Levinson em 1997, relatava as desventuras de
um Presidente envolvido num escândalo de
abuso sexual de uma rapariga que visitou a
Casa Branca. Para desviar as atenções, a Administração contratou um especialista em media
(interpretado por Robert de Niro) que inventou um rumor sobre uma crise com bombas
nucleares chinesas. O escândalo sexual passou
para segundo plano, mas por pouco tempo.
Foi preciso então contratar um produtor de
Hollywood (interpretado
por Dustin Hoffman),
que tratou de provocar
uma guerra. A vítima
foi a Albânia e o conflito armado, que existiu
na televisão, mas nunca
na realidade, salvou o Presidente. O filme foi
distribuído quando Bill Clinton era Presidente, e a história era, ao pormenor, a história
de Bill Clinton, que, para desviar as atenções
do escândalo sexual com a estagiária Monica
Lewinsky, lançou vários bombardeamentos
sobre países estrangeiros.
De facto, entre 1998 e 1999, Clinton ordenou um bombardeamento de três dias sobre
o Iraque (no momento em que a Câmara dos
Representantes debatia o impeachment do Presidente), lançou dois ataques de mísseis contra
alvos “terroristas” no Sudão e no Afeganistão
(três dias depois de Clinton ter admitido, na
televisão, que teve uma relação “inapropriada” com Lewinsky), liderou, durante 78 dias,
a operação de bombardeamento do Kosovo
(semanas depois de o Senado ter discutido o
impeachment).
Curioso é que tudo isto tenha acontecido
depois do filme. O argumento foi escrito, por
David Mamet e Hilary Henkin, com base no
romance American Hero, de Larry Beinhart,
muito antes de Clinton se ter encontrado com
Monica Lewinsky. Dir-se-á que a história era
tão verosímil que a realidade se encarregou
de a confirmar. O Presidente assumiu alegremente o papel que lhe fora prescrito, e o filme,
apesar de exacto, pode clamar inocência. Os
seus autores não tinham culpa que a caricatura tivesse sido copiada pelos seus alvos. Ainda que o filme nunca tivesse mencionado Bill
Clinton pelo nome e tivesse tornado claro que
o protagonista não era George Bush, uma vez
que fala da primeira guerra do Golfo como um
acontecimento do passado.
W não está antes nem depois dos factos. Sobrepõe-se-lhes. Finge ser um documentário.
Substitui-se ao jornalismo. Cola uma máscara
ao rosto de George W. Bush. Talvez a verdadeira, a máscara que o Presidente sempre usou
e que alguns poderiam ser tentados a retirarlhe. Hoje, já ninguém quer esperar para ver,
dar o benefício da dúvida ou confiar em quem
de direito. Já ninguém aceita ser manipulado.
Responde-se à manipulação com manipulação.
Faz-se justiça pelas próprias mãos. Oliver Stone
quer mostrar o Presidente como ele é, enquanto ele é. Uma parte da América e do mundo
estão com ele. Querem fazer o julgamento já,
antes que seja tarde. a
literatura pós-11 de Setembro
Silêncio —
e boom
O romance é uma arte lenta. Entre Nova Iorque e Londres, autores célebres
— DeLillo, Auster, McEwan, Amis — demoraram a recuperar do 11 de Setembro.
Entretanto houve um “boom”, incluindo aspirantes como Jonathan Foer e alguns
equívocos. É cedo para chegar longe. Mas decorem este nome, Joseph O’Neill.
Texto Alexandra Lucas Coelho
A
literatura pós-11 de Setembro
é certamente uma biblioteca
mundial. De forma implícita
ou em pormenores como fazer
uma mala, todos os livros hoje
serão pós-11 de Setembro. Mas
mesmo circunscrita a exemplos publicados
na América, explícitos e com impacto crítico,
essa biblioteca não se faz apenas com autores
americanos.
A era Bush é também a era Bush-Blair. A
“guerra contra o terror” de Bush tornou-se
assunto doméstico em qualquer esquina britânica. Os ingleses viveram um 7/7 e vivem
diariamente na iminência de um novo ataque.
Bush, encarnando uma era, tornou-se matéria íntima, visceral, de não-americanos, e em
nenhum outro lugar isso será tão visível como
em Londres.
Por isso, numa biblioteca rápida explicita64 • 26 Outubro 2008 • Pública
Antes dos romances
apareceram poemas,
crónicas, memórias,
contos ou BD
mente pós-11 de Setembro, tanto aparecem os
americanos Don DeLillo, Jonathan Safran Foer,
John Updike ou Paul Auster como o muito inglês
Ian McEwan e o não-é-possível-ser-mais-inglês
Martin Amis.
E aquele que, até agora, é provavelmente o
mais elogiado romance pós-11 de Setembro,
Netherland (2008), foi escrito por um irlandês
que cresceu na Holanda, estudou e trabalhou
em Inglaterra e vive em Nova Iorque, Joseph
O’Neill.
Não foram eles os primeiros a reflectir o 11
de Setembro na literatura. Antes dos romances apareceram poemas, crónicas, memórias,
contos como The Mutants, de Joyce Carol Oats
(uma mulher encurralada no seu apartamento da Baixa de Manhattan no 11 de Setembro)
ou a BD In The Shadow of No Towers, de Art
Spiegelman.
Se a literatura é sempre lenta, o romance c
In The Shadow
of No Towers,
de Art Spiegelman
literatura pós-11 de Setembro
é por natureza particularmente lento. Grandes
livros sobre o Vietname, o Holocausto, a Primeira ou Segunda Guerra Mundial demoraram
décadas a vir ao de cima, e ainda estão a caminho, como prova o recente e monumental
As Benevolentes, de Jonathan Littell, centrado
num nazi.
E tanto mais lento será o romance quanto
mais veloz é a informação. O romancista pós-11
de Setembro tem em mãos tudo o que os leitores do seu tempo viram e ouviram em directo, e
continua a ser multiplicado em milhares de formatos, uma matéria simultaneamente exausta
e permanente. Como conseguir torná-la nova
hoje e mantê-la intacta amanhã?
Nobel na era Bush
Foi pela mão de um inglês, Harold Pinter, que
a era Bush entrou no arquivo do Prémio Nobel
da Literatura. “Quantas pessoas é preciso matar para se ser classificado como criminoso de
guerra ou assassino em massa?”, Pinter, poeta
e dramaturgo, na sua muito política conferência Nobel, em 2005.
Foi um ano de boom para romances sobre
o 11 de Setembro.
Ian McEwan — que imediatamente depois do
11 de Setembro escrevera vários artigos sobre
o choque brutal com a realidade: de repente,
tudo o mais parecia fútil — publicou Sábado,
protagonizado por um neurocirurgião londrino que enfrenta penosamente o nada admirável novo mundo, das Torres Gémeas à Guerra
do Iraque.
2005 é também o ano do hit, Extremely Loud
and Incredibly Close, de Jonathan Safran Foer.
O protagonista deste romance é uma criança
de nove anos, filha de uma das vítimas do 11
de Setembro, e o livro está cheio de efeitos
especiais para reproduzir a atmosfera do tempo, aceleração e desaceleração, cacofonias e
zooms, através de páginas com uma só frase,
partes em branco, partes sobrepostas, fotografias, números, pixelagens.
Em começos de 2006, Jay McInerney — um
dos nomes da faixa americana sexo-drogas-ematerialismo, anos 80-90 — lançou The Good
Life, história de dois casais abalados pelo 11
de Setembro, cada um dos quais com um voluntário no Ground Zero. Mas o grande livro
do Outono seguinte é A Estrada do americano
Cormac McCarthy, um romance onde pai e filho enfrentam um universo pós-apocalíptico.
Muitos leitores terão projectado aí, mais do
que em livros explícitos sobre o 11 de Setembro, a vulnerabilidade que o ataque às Torres
infiltrou nas sociedades abastadas.
2006 é também o ano de Terrorista, de John
Updike, com um terrorista que os críticos em
geral ridicularizaram. Mishiko Kakutani, no
New York Times, falou dele como um robot,
uma coisa de cartoon em que é difícil acreditar.
De acordo com os críticos, se Updike não
teve unhas para fabricar um terrorista, Martin
Amis não teve unhas para fabricar “o” terroris66 • 26 Outubro 2008 • Pública
As Benevolentes
Jonathan Littell
escreveu um livro
monumental
centrado num
nazi. Editado em
Portugal pela Dom
Quixote.
Saturday
Um neurocirurgião
enfrenta
penosamente um
novo mundo, das
Torres Gémeas ao
Iraque. Escrito
por Ian McEwan
foi editado em
Portugal pela
Gradiva.
Terrorist
Os críticos
em geral
ridicularizaram o
terrorista de John
Updike.
The Second Plane
Colectânea de
artigos de Martin
Amis em que
a fertilidade
islâmica é um dos
alarmes centrais.
Netherland
O mais elogiado
romance pós 11
de Setembro foi
escrito por Joseph
O’Neil, um irlandês
que cresceu na
Holanda , estudou
em Inglaterra
e vive em Nova
Iorque.
ta suicida. No conto The Last Days of Mohammed Atta, também de 2006, o sempre-bombástico ninguém-escreve-como-eu Amis levou
pancada do New York Times ao Guardian, e em
ambos os lados do Atlântico foi notada a sua
obsessão pelo determinismo das hormonas:
como a frustração sexual de Atta contribuiu
para o maior ataque terrorista da história.
Este determinismo também atravessa The
Second Plane (2008), colectânea de artigos de
Amis pós-11 de Setembro, em que a fertilidade
islâmica é um dos alarmes centrais. Furiosamente inglês e ocidental, Amis põe-se de um
lado do mundo, o lado da razão. Do outro lado
ele vê a religião em geral, doença infantil dos
menos desenvolvidos, e no extremo desse lado
o islamismo político.
E o veterano?
Vários autores apanharam a América vanitas
pré-11 de Setembro. É o caso do nova-iorquinoantes britânico-antes indiano Salman Rushdie,
em livros como O Chão Que Ela Pisa e Fúria, e
é o caso, muito diferente, do americano Don
DeLillo, em Cosmopolis.
Mas DeLillo é, sobretudo, um veterano do
medo terrorista. Toda a sua obra tem uma dimensão pré ou pós-apocalíptica e em livros como Mao II mergulhou fundo. Imediatamente
a seguir ao 11 de Setembro, escreveu artigos
perturbantes e esperava-se tudo, o melhor, do
seu romance Falling Man, publicado em 2007.
Mas as críticas variaram entre “pretensioso”
e “grande desapontamento”. A implacável
Kakutani perguntou como é possível que da
mão de DeLillo saia um sobrevivente do 11 de
Setembro que passa o tempo em Las Vegas e a
enganar a mulher.
Até que em 2008 O’Neill publicou o seu Netherland: American dream, imigração, medo e
críquete. Tem “mais vida dentro que 10 bons
livros”, escreveu a mesma Kakutani, e a praise list é extensa. Consenso crítico, leitores entusiasmados. Esteve na corrida para o último
Booker e quando não passou à short list houve uma onda de indignação nos comentários
online.
Entretanto, o sempre-empenhado Paul Auster lançou este Outono Man in the Dark, austerianana história de um escritor que constrói
um mundo alternativo onde a eleição BushGore acabou em guerra civil e o 11 de Setembro
nunca aconteceu.
E Philip Roth? Indignation acaba de sair, as
críticas são boas, e tudo se passa na América —
mas há décadas, durante a guerra da Coreia.
Confusão pós-traumática
Lendo os críticos americanos e ingleses, a impressão geral é que o 11 de Setembro produziu
muitos equívocos, também literários. É cedo,
muito cedo, para chegar longe.
“Um dos maiores temas na escrita sobre os
ataques do 11 de Setembro é a tensão entre o
impulso de alcançar o que realmente aconteceu e a noção de que ‘a verdade’ dos ataques é
REUTERS/BRIAN SNYDER
Paul Auster
escreveu Man in
the Dark, onde um
escritor constrói
um mundo
alternativo
PEDRO CUNHA
Jonathan Littell
O seu livro tem
sido descrito como
“pós-colonial”,
mas transcede as
visões parciais
DR
Ian McEwan
Depois do 11 de
Setembro escreveu
artigos sobre o
choque brutal com
a realidade
MIGUEL SILVA/ARQUIVO
John Updike
O seu livro de
2006 não foi
bem recebido
impossível ou não pode ser alcançada”, resume
à Pública Ann Keniston, escritora americana
que, com Jeanne Follansbee Quin, organizou
a antologia de estudos Literature After 9/11, publicada este Verão.
“Romances, peças e poemas sobre os ataques
tendem a focar-se nos problemas da representação em si — as formas como o acontecimento
resiste a ser descrito ou alcançado de uma forma clara ou simples. Isto é, em alguns casos,
efeito de uma espécie de confusão pós-traumática. Outros casos resistem directamente às
narrativas de vitimização e vingança montadas
pela Administração Bush.”
Num ensaio publicado em 2007 no Guardian,
o escritor indiano Pankaj Mishra é severo com
boa parte da produção ocidental sobre o assunto, ou aquilo a que Don DeLillo chamou
— e Mishra concorda — “o coração narcísico do
Ocidente”. Começa por descrever a sensação
de perplexidade confessada por romancistas
como Jay McInerney ou McEwan (“Eu queria
que me falassem do mundo. Eu queria ser informado.”)
O 11 de Setembro trouxe o perigo para o
Ocidente, para a nossa rua, o nosso metro, a
nossa casa. Depois dos material boys and girls
dos anos 80, depois das dotcom dos anos 9000, de repente abriu-se “um lugar de perigo e
raiva” (DeLillo).
E, como escreveu o turco Orhan Pamuk, lembra Mishra, o mundo ocidental não tinha noção do “esmagador sentimento de humilhação
experienciado pela maior parte da população
mundial”. Um sentimento global, potencial
alimento do terrorismo global, perante o qual
as noções de DeLilllo de terrorismo individual
são “velhas”. Já não servem.
O que Mishra vê na ficção ocidental contemporânea é uma incapacidade. McInerney e Foer
não vão fundo, limitam-se a descrever a perda.
A prosa ou é sentimental ou tem uma “urgência
voyeurística”. No caso de Amis, enreda-se em
trocadilhos sobre as virgens e as uvas sultanas
no Corão (a questão de saber se a promessa das
virgens no paraíso é na verdade a promessa de
uvas, por má tradução).
Enquanto em relação à guerra dos seus tempos Thomas Mann ou Robert Musil fizeram
“uma complexa investigação das ideologias,
crenças, estruturas das suas sociedades”, compara Mishra, alguns dos romancistas ocidentais
contemporâneos “parecem ter visitado todos os
mesmos sites corânicos pseudo-académicos”,
tentando reduzir o que aconteceu “a raiva, inveja, frustração sexual e obstipação”.
Boas excepções segundo este indiano? Mohsin Hamid, Kiran Desai, David Mitchell, Jeffrey
Eugenides, por evocarem uma “nova incoerência existencial”. E Netherland, de O’Neill.
“Tem sido descrito como ‘pós-colonial’ e um
grande romance americano.’ Mas transcende
velhos confinamentos geográficos, políticos e
temporais ao retratar todas as estranhas mutações, visões parciais e perplexidades do nosso
mundo globalizado.” a
Pública • 26 Outubro 2008 • 67
E se Al Gore
tivesse ganho
as eleições?
Nunca teria havido guerra no Iraque. Nem Guantánamo, nem diferendo
entre a América e a Europa, nem talvez a crise financeira. Ou teria havido
uma guerra ainda mais violenta, com total apoio europeu? Qualquer dos
cenários é (in)verosímil como o que de facto aconteceu nos últimos oito anos.
Texto Paulo Moura
A
hipótese não é inverosímil. Al
Gore quase ganhou em 2000.
Teve mais votos do que o
candidato republicano, George
W. Bush, e, não fosse o que
alguns consideram um erro,
ou mesmo uma fraude na contagem dos votos
da Florida, teria assumido a Presidência. Sim, o
liberal, o conciliador, o progressista, o paladino
do ambientalismo Al Gore esteve a uma unha
negra de ser Presidente. Ele próprio gosta de
apresentar-se assim, nas suas conferências
sobre o aquecimento global: “Eu costumava
ser o próximo Presidente dos EUA.”
O Presidente foi George W. e o resto é conhecido: o ataque às Torres Gémeas, o bombardeamento do Afeganistão, a invasão e a guerra
interminável no Iraque, Guantánamo, e, por
fim, a crise financeira. Teria sido diferente com
Gore na Casa Branca?
Sem dúvida. “É virtualmente inconcebível
que ele tivesse seguido uma política externa
68 • 26 Outubro 2008 • Pública
agressiva e unilateral, mesmo na sequência
do 11 de Setembro”, responde Nigel Townson,
historiador britânico e especialista em História
Virtual. Townson, que escreveu História Virtual de Espanha e é um dos gurus da chamada
História Contrafactual, pensa que tudo teria
sido diferente se o homem mais poderoso do
mundo fosse Gore, e não Bush. “Como foi demonstrado por Thomas E. Ricks no livro Fiasco: The Americam Military Adventure in Iraq, a
Administração Bush não atacou o Iraque por
causa dos laços de Saddam Hussein com a AlQaeda ou as armas de destruição maciça, mas
porque já o tinham decidido antes. O apoio
britânico e espanhol ao empreendimento foi
um bónus, mas nunca foi essencial. Gore teria,
quase de certeza, rejeitado essa visão belicosa
e ‘preventiva’ e nunca teria concordado com
uma invasão que era tão obviamente mal fundamentada, injusta e mal planeada, em termos
de pós-guerra.”
Admitindo portanto que os atentados de 11 de
Setembro teriam ocorrido, independentemente
de quem ocupasse a Casa Branca, a reacção
de Gore nunca teria passado pelo Iraque, por
razões ideológicas, mas também intelectuais.
O Presidente democrata teria tido outro discernimento e os seus conselheiros teriam outra
qualidade.
A História Contrafactual nunca se atreve a
ir muito longe na especulação, a partir de um
acontecimento alternativo. Mas Nigel Townson
não tem dúvidas sobre o alcance da guerra do
Iraque no futuro dos EUA e do mundo. “A invasão do Iraque foi um dos acontecimentos internacionais mais desestabilizadores e destrutivos desde a Segunda Guerra Mundial. As suas
consequências vão perdurar durante séculos.
Neste caso particular, a análise contrafactual
mostra claramente a importância decisiva dos
indivíduos em certos momentos da História.”
Já quanto à invasão do Afeganistão, Townson
não tem tanta certeza. Talvez Al Gore o tivesse
feito. Nesse caso, “teria procurado um maior
AFP PHOTO/ALEX FUCHS
história virtual
AFP PHOTO/ALEX FUCHS
apoio internacional, tanto no campo diplomático como militar”. E depois, como se teria abstido de invadir o Iraque, poderia contar com
mais recursos e mais tropas para as operações
no Afeganistão, o que permitiria um fim mais
rápido para a guerra.
De qualquer forma, com Gore, nunca teria
existido Guantánamo, com as características
que lhe conhecemos. “É difícil de imaginar que
o Presidente Gore tivesse violado direitos políticos e humanos, na sequência do 11 de Setembro.” Bush, segundo Townson, tem um “manifesto desprezo pelas instituições internacionais
como a ONU. Gore respeita-as e preocupa-se
com os direitos humanos”. Por isso, “é muito
improvável que Gore tivesse criado centros de
tortura offshore, como Bush fez”.
Também na área do ambiente as coisas teriam sido diferentes. “É inconcebível que o Presidente Gore não tivesse feito mais pelo ambiente, como ter assinado o acordo de Quioto”, diz
o historiador. Na economia, “é menos provável
“É inconcebível que
[Gore] tivesse seguido
uma política externa
agressiva na sequência
do 11 de Setembro”
que Gore tivesse permitido a desregulação dos
mercados financeiros, como Bush permitiu.
Mas, nesse campo, talvez a diferença não tivesse sido muito grande”.
De facto, se pensarmos nas preocupações
ambientalistas de Gore, podemos imaginar que
ele teria usado o seu poder para tomar medidas
nessa área. Mas uma imaginação mais cínica
poderia acreditar que, se tivesse vencido as
eleições, Gore estaria demasiado ocupado com
a Presidência para se dedicar à sua cruzada
contra a emissão de gases de estufa e o aquecimento global. O tema nunca teria portanto tido
a repercussão mundial que teve e estaríamos
ainda pior do que estamos, nessa área.
Quanto à inevitabilidade da crise financeira,
nem todos os historiadores a quem pedimos
este exercício de História Virtual estão de acordo com Nigel Townson. José Manuel Medeiros
Ferreira, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, professor de História Contemporânea e
de Relações Internacionais, acredita que c
Pública • 26 Outubro 2008 • 69
história virtual
REUTERS/BRIAN SNYDER
Se Gore fosse Presidente, não teria tempo
para a cruzada antiaquecimento global
há uma relação de causalidade entre a guerra
do Iraque e a actual crise financeira. “Há uma
parte da crise que está relacionada com a falta
de confiança dos mercados, derivada da percepção de que a guerra é e continuará a ser
muito onerosa”, explicou Medeiros Ferreira
à Pública. “Porque o colapso do subprime não
explica tudo. Ainda não está analisada a importância da guerra do Iraque nesta crise.”
Não está avaliada, mas tende a ser subestimada, porque se fala mais dos aspectos militares,
políticos e humanos da guerra do que do seu
lado económico. “A guerra é também despesa.
É cara. Principalmente este tipo de conflitos,
como o do Iraque, que se arrastam sem fim à
vista. São guerras de usura.”
Se não tivesse havido a guerra do Iraque, não
teria surgido a actual crise, ou pelo menos não
teria surgido com esta gravidade. E Al Gore,
pensa Medeiros Ferreira, “nunca se teria lançado na aventura do Iraque”. Por várias razões.
A primeira é que “o Partido Democrata teria
tido uma hesitação fértil na escolha do principal inimigo dos EUA, entre o Irão e o Iraque.
Essa incapacidade de decidir, que é, por um
lado, negativa, teria, por outro lado, impedido os EUA de se lançaram numa guerra como
a do Iraque”.
Bush não hesitou na escolha do inimigo. “Os
democratas no poder são, tradicionalmente,
menos aventureiros.”
Outra razão é de ordem puramente regional.
“Al Gore não seria tão texano na sua decisão”,
diz Medeiros Ferreira. “Os interesses específicos de cada estado, dentro dos EUA, não são
70 • 26 Outubro 2008 • Pública
A invasão do Afeganistão (que
albergou Bin Laden) teria existido?
“Os democratas
no poder são,
tradicionalmente,
menos aventureiros”
na escolha do inimigo
devidamente levados em conta nas análises que
se fazem”. Os lobbies do Texas, leia-se os interesses da indústria petrolífera, foram decisivos
na opção iraquiana. “O Iraque é o resultado de
um lobby. Nós achamos sempre que há um pensamento estratégico nas decisões americanas.
Mas elas são tomadas, na maioria das vezes,
por razões empíricas.”
Se o Presidente não fosse texano, as decisões
americanas teriam sido outras, como teriam
sido outras se o Presidente fosse dono de uma
personalidade mais forte. “Al Gore seria mais
independente dos lobbies. Por isso, as suas
decisões teriam sido mais racionais. Com um
Presidente menos fraco, menos influenciável,
menos oco, a influência dos lobbies teria sido
mais reduzida.”
Por outro lado, ainda segundo Medeiros Ferreira, Gore, a julgar pelas promessas da sua
campanha eleitoral, teria sido mais isolacionista, mais virado para as questões internas
dos EUA, por exemplo, promovendo o federalismo. Tendo prosseguido essa política, “teria
evitado o sentimento anti-Washington que se
desenvolveu no país, e que agora Obama tão
bem tem aproveitado. Na minha opinião, aliás,
foi por isso que ele bateu Hillary Clinton. Por
se apresentar como um candidato exterior ao
sistema”.
No plano externo, o antiamericanismo também não teria crescido como cresceu, caso Gore fosse Presidente. “A imagem externa dos EUA
nunca tinha sido tão má, desde a guerra do
Vietname. Até 2001, tinham uma boa imagem
no mundo. Após o 11 de Setembro, houve uma
primeira fase, que incluiu o ataque ao Afeganistão, em que Bush se manteve dentro dos
limites.” Mas depois, com o Iraque, começou
o descalabro. Guantánamo foi o cúmulo. “Foi
uma dura machadada na imagem dos EUA. Al
Gore não o teria permitido. Ter-se-ia ficado pelo
Afeganistão, o que permitiria uma concentração de recursos nessa operação. Teria jogado
dentro das regras, promovido, na luta contra o
terrorismo, uma aliança multinacional alargada
à volta dos EUA.”
Uma aliança igual à que Bill Clinton conseguiu para a sua campanha contra a Sérvia? Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português
de Relações Internacionais, usa o exemplo de
Clinton para demonstrar que os democratas
são muito mais intervencionistas e unilaterais
do que os republicanos nos EUA. E este é um
primeiro argumento a sustentar a convicção de
que Al Gore teria também invadido o Iraque.
“O que Bush fez no Iraque foi apenas uma
réplica, mais moderada, do que Clinton fez no
Kosovo”, disse Carlos Gaspar à Pública. Com
uma diferença: Bush tentou tudo para obter
um aval do Conselho de Segurança da ONU.
Clinton, com o Kosovo, nem tentou.
REUTERS
AFP PHOTO /FILES/ US NAVY
Carlos Gaspar: com Gore, só
Guantánamo teria sido diferente
“Bush foi eleito pelas suas críticas aos excessos intervencionistas dos democratas, que
queriam impor os ‘valores democráticos’ americanos pelo mundo. Mas depois de eleito imitou Clinton.”
O aprendiz, no entanto, não chegou aos
calcanhares do mestre. A conselho de Tony
Blair, Bush foi pessoalmente ao Conselho de
Segurança, em Setembro de 2002, tentar obter
autorização para a invasão do Iraque. “Clinton,
no Kosovo, não fez isso. Sabia que a Rússia ia
vetar, mandou a ONU às urtigas.”
E este é o segundo argumento a favor da política iraquiana de Gore. É que um Presidente
democrata teria conseguido convencer alemães
e franceses a apoiarem-no no ataque ao Iraque
(como apoiaram Clinton no caso do Kosovo,
aliás, durante a crise na Bósnia, até o criticaram
por não ter feito nada).
Os líderes europeus não teriam tido capacidade de resistir a Gore, como tiveram com
Bush. Os argumentos do Presidente democrata
teriam sido irrebatíveis: “A ONU é um obstáculo
à democracia. O Conselho de Segurança é um
covil de ladrões, dominado por duas potências
autoritárias.”
E, ao conseguir “mobilizar as democracias”
para a guerra contra o Iraque, “teria deixado o
Conselho de Segurança do lado das tiranias”.
Em consequência, o Conselho de Segurança
e a ONU teriam ficado desacreditados, provavelmente para sempre. Uma “Aliança das
Democracias” talvez tivesse emergido como
instância internacional alternativa, mais eficaz
do que a NATO, que tem uma área de actuação
limitada.
Outra consequência: ao apoiar a intervenção
no Iraque, os países europeus teriam ajudado
com tropas. Quando as coisas começassem a
correr mal e surgissem os primeiros mortos
franceses e alemães, emergiria nas populações
uma reacção antiguerra ainda maior do que
a actual.
O sentimento antiamericano sempre existiu na Europa e não apenas com presidentes
republicanos, diz Carlos Gaspar. “Depois da
Segunda Guerra, em plena aplicação do Plano
Marshall, havia fortíssimas manifestações antiamericanas por toda a Europa. É a visão beata
da justiça universal, segundo
a qual os ricos e poderosos são maus e serão
punidos.” A ideia de
que os EUA estão em
decadência também
faz parte desse mito.
“Em 1994, Paul Kennedy escreveu um livro
intitulado Ascensão
e Queda das
Grandes Potências. Todo um capítulo era dedicado à queda do império americano. Já a queda da União Soviética quem é que a previu?
Ninguém.”
Para Carlos Gaspar, tudo o que Bush fez teria
sido feito por Gore com ainda mais convicção.
“A política de Bush no Iraque começou a ser
feita por Clinton no Kosovo”, lembra o investigador, para sustentar que, excepto em casos
excepcionais (que não o de Bush e muito menos o de Gore), as políticas são definidas pelas
instituições e não pelos indivíduos.
Só uma coisa poderia ter sido diferente:
Guantánamo. “Talvez não tivesse existido.
Apesar de tudo, há uma certa cultura liberal
entre os democratas que o poderia ter impedido.” Ou não. Talvez a Al Gore fosse reconhecida
autoridade moral para torturar os terroristas.
Todas as conjecturas são igualmente plausíveis e infundamentadas. Talvez tão inverosímeis como teria parecido a narração dos últimos oito anos de História real a alguém que
tivesse vivido no mundo virtual da Presidência
de Al Gore. “O quê?”, perguntaria um cidadão americano nas últimas semanas
do mandato de Gore. “George W.
teria invadido o Iraque em reacção a um atentado islamista
contra o World Trade Center?
Estes malucos da História
Virtual...” a
Al Gore
$!,(&)(0&*&*$'(&(*+$&%*!%%*$2!0/&!)'&%1,$&)*&#-!)*%*)(,".%&)+'&%*&,% !*+$
3
3
)$# * )* #"#%!'
$'!%"&#"#"
' #&
"""$"'##
( $("
%! ! "
") crónica a nuvem de calças
O fim do chicote
Rui Cardoso Martins
Tento
passar
por uma
pequena
queda de
palavras,
reais ou de
romance, e
descobrir
o núcleo
sujo da
escravatura
nos EUA
Há uma diferença física entre
as raças branca e negra que, para sempre, proibirá as
duas raças de viverem juntas em termos de igualdade
social e política” Quem disse isto? O presidente Abraham
Lincoln, e mais do que uma vez. O grande, corajoso,
honesto “Abe” que fez a guerra para acabar com a
escravatura, e acabou com ela. O Lincoln que fez contas
e disse que na “Terra da Liberdade” um sexto dos
habitantes eram escravos.
Isto é, propriedade de outra pessoa como um cão, um
móvel, uma garrafa.
A grande probabilidade de o “negro” Barack Obama
chegar, dentro de dias, à Casa Branca fez-me procurar
o velho caminho desta eleição. Para conhecer a gruta
secreta que existe atrás da queda de água, é preciso
atravessá-la. Temos de nos molhar. Tento passar por
uma pequena queda de palavras, reais ou de romance,
e descobrir o núcleo sujo da escravatura nos EUA. Os
efeitos devastadores que tinha nos escravos, mas também
nos donos. A acrobacia moral necessária para se ser
cristão — “os homens são todos iguais” — e esclavagista. A
maneira mais simples era negar humanidade aos negros.
Quando um escravo fugia era caçado com cães, como se
faz, por exemplo, aos coelhos. Ou com cães e cavalos,
como nas batidas à raposa.
A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe,
começa com a venda dum velho, Tomás, e duma criança
de cinco anos, separada da mãe para pagar uma dívida.
Foi publicado em 1852, nove anos antes da Guerra de
Secessão, e lido por donos de escravos (a abolição total
foi em 1865):
— “Eu não pretendia intrometer-me nos seus negócios,
senhor. Apenas pensei que poderia ser do seu interesse
alugar-nos o seu homem nas condições que lhe propus.
— Oh, eu sei muito bem o que pretende. Eu vi-o a piscarlhe o olho e a sussurrar no dia em que o trouxe da
fábrica. O senhor a mim não me engana. Estamos num
país livre, senhor. O homem é meu e eu faço dele o que
quiser. Tenho dito!”
Num país livre, faço o que quiser aos meus escravos.
N’As Aventuras de Hucleberry Finn (1884), de Mark Twain,
um rapaz desce o Mississípi numa jangada com Jim,
escravo foragido. Aprendemos que até os remorsos são
invenções sociais, nem sempre aconselháveis: “(...) de
todas as vezes lá se levantava a consciência a dizer: ‘Mas
tu sabias que ele era um fugitivo que pretendia alcançar a
liberdade; podias ter remado para terra e dado o alarme.’
Era assim mesmo — não havia meio de fugir àquilo.
Sentia-me sempre apanhado. A consciência dizia-me:
‘Que mal te fez a pobre Miss Watson para que tu vejas um
negro que lhe pertence fugir-te mesmo debaixo dos olhos
sem nunca dizeres uma única palavra? Que te fez essa
pobre velha para a tratares com tanta deslealdade? O
que ela fez foi tentar ensinar-te as lições, ensinar-te boas
maneiras, tentar fazer-te todo o bem que sabia. Aí está o
que ela te fez’.”
Huckleberry quase deseja estar morto. Escreve uma
carta a dizer onde está o escravo, mas não consegue
enviá-la. Pode denunciá-lo a caçadores de prémios, mas
cala-se. Huck sabe que vai para o Inferno, mas decide,
contra a lógica instalada desde pequeno na sua cabeça,
que prefere ir para o Inferno a trair o amigo negro. É das
coisas mais comoventes que li.
Thomas Jefferson, um dos “pais da Nação”, lamentou
o silêncio do céu no dia em que o primeiro negreiro
chegou carregado para as plantações do Sul, mas teve
escravos em Monticello. George Washington não usava
dentaduras de madeira, como se diz. Teve vários tipos de
dentes postiços. Os melhores que o primeiro Presidente
norte-americano usou eram mecanismos metálicos de
mola rústica, para abrir e fechar a boca. Ali, incrustados
como diamantes, estavam alguns dos melhores dentes
brancos dos seus escravos negros (só libertos depois da
sua morte). Washington comia o almoço com dentes
escravos. A citação inicial de Lincoln fui buscá-la a um
livro belo e angustiante: Os Dias do Chicote,
Escravos Recordam, organizado por James
Mellon. É uma história oral encomendada
pela Works Program Administration, na
Grande Depressão dos anos 30. Fizeram
milhares de entrevistas aos últimos
americanos que tinham sido escravos.
Disse Charlie Moses sobre o seu master
Rankin: “Oh Senhor! Posso contar muita
coisa sobre as coisas que ele nos fazia,
aos pobres pretos. Tratava-nos como
aos seus cães de caça. Às vezes não nos
tratava tão bem como tratava os cães.
Eu rezo a Deus que não me deixe vê-lo
quando eu morrer. Ele tinha o Diabo
no coração.”
Uma menina viu a mãe ser chicoteada
pelo capataz, até lhe deixar as
costas em sangue, quase morta. A
humilhação racista, o abuso sexual,
a morte por esgotamento e fome, ou
capricho, escravos morriam porque
aos donos lhes apetecia dar-lhes
um tiro na cabeça ou enforcá-los. O
açoite de tiras de couro cru era um
instrumento de trabalho, nos campos
de algodão.
Passou muito tempo ou passou
pouco tempo, desde esse tempo,
Presidente Obama? a
receita
O melhor
hambúrguer
de Lisboa
Ensinamos a fazer o melhor hambúrguer e
sugerimos um vinho para o acompanhar.
Texto Fernando Melo Fotografia Enric Vives-Rubio
74 • 26 Outubro 2008 • Pública
Receita do chefe
Nuno Diniz, da York
House, Rua das Janelas
Verdes, 32, Lisboa,
Tel. 21 396 2435
N
asceu no seio
da multidão
de alemães
que co-fundou
os Estados
Unidos da
América (EUA) e que é hoje o
principal paradigma da fast
food e do american way of life: o
hambúrguer. O nome diz tudo
em relação à sua proveniência,
significando “de Hamburgo”. A
sua origem remonta ao tempo
dos tártaros e trogloditas,
que entre o pêlo e as selas das
suas montadas colocavam o
bife, picando-o depois para se
conseguir mastigar; o sudado
ácido equídeo fazia todo o
trabalho culinário. Na vertente
americana, o bife de formato
redondo é adoptado na forma
de sanduíche, sem mais
complicações, para que se possa
comer à mão por pessoas de
todas as idades.
A marca McDonald’s,
indelevelmente associada à
brilhante carreira do hambúrguer
nos EUA e não só, dispensa
apresentações. Tão amada quão
odiada, representa hoje um
império global com embaixada
segura em todos os países. A sua
reputação não é a melhor, em
grande parte pelo preconceito,
mas o facto é que conseguiu a
proeza de proporcionar refeições
aceitáveis a muita gente em
situação de pré-indigência. Além
disso, juntamente com a CocaCola, representou em tempos
diferidos a entrada de muitos
povos na era moderna. Nem
Portugal escapa nesse crivo.
Fala-se muito de obesidade
infantil e juvenil, sendo sempre
apontado o dedo a esses dois
gigantes da indústria alimentar.
Nem sempre, contudo, isso
está certo. Ao mesmo tempo,
discutem-se os princípios
éticos da criação animal,
muito pressionada em preço
e tempo, levando a situações
criminosas e inaceitáveis,
condenadas pela comunidade
internacional. Curiosamente, é
a própria McDonald’s que tem
hoje a liderança nas exigências
que impõe à sua cadeia de
fornecedores. Mais ainda: face
à vulgarização e facilidade de
preparação de um hambúrguer,
pode ser bem mais perigoso
consumi-lo numa cervejaria
qualquer do que numa das lojas
que ostentam o grande “M” na
entrada. (Leitura aconselhada:
The ethics of what we eat; Why
our food choices matter, de Peter
Singer e Jim Mason, Ed. Rodale,
EUA, 2006.)
Ciente de todos estes factos e
querendo ir contra a corrente,
o chefe Nuno Diniz, da York
House, em Lisboa, pôs mãos à
obra para criar o que pudesse
ser “o melhor hambúrguer
de Portugal”. Cliente assíduo
e contínuo dos mercados de
produtos biológicos — destaque
para os do Príncipe Real aos
fins-de-semana —, achou que
tinha condições para oferecer
um grande hambúrguer
aos seus clientes. Grande
amante da vitela arouquesa
— como o entendemos!
—, criou este que aqui
fica como, pelo menos,
o melhor hambúrguer de
Lisboa. Propomos, para
acompanhar, uma outra
“provocação séria”: o
Gravato Palhete DOC
Beira Interior 2004,
produzido pela Quinta
dos Barreiros, na Meda
(€7 na York House),
servido a 14ºC. A sua
estrutura permitelhe cortar a proteína
animal, ao mesmo
tempo que a riqueza
aromática cria um
balanço interessante
com as ervas e a
complexidade do
molho. a
Bife
130g de vazia, 50g de alcatra e
10g de toucinho fresco
Sal e pimenta
Fritar em manteiga com um
ramo de tomilho e um dente
de alho.
Molho
1 chalota muito bem picada,
suada em manteiga durante 10
minutos
Juntar um dente de alho
esmagado com casca
Juntar uma pitada de orégãos
Juntar pimenta rosa partida
Juntar uma colher de sopa
de molho de pimento (ver
abaixo)
Juntar sumo de meio limão
Juntar uma colher de sopa
de natas e um pouco de salsa
muito bem picada
Ligar com manteiga fria e
rectificar os temperos
Retirar o alho e a casca
Molho de
pimento
Hidratar 2 ameixas secas
num cálice de Porto LBV
e numa colher de chá de
vinagre de vinho tinto.
Suar em azeite um pimento
vermelho previamente pelado
e sem sementes.
Juntar as ameixas e o seu
líquido, o sumo e raspa de
meio limão, meio talo de aipo
picado e caldo de frango.
Cozer em lume muito brando
durante 1 hora.
Temperar com sal, pimenta e
desfazer tudo no mixer.
Batatas
Cortar em rectângulos altos
de 2x7cm
Cozer em água com sal a 90ºC,
durante 50 minutos
Retirar e deixar arrefecer
completamente
Fritar a 125ºC durante 30
minutos
Retirar e arrefecer
completamente
Fritar a 185ºC
Temperar com flor de sal
Acabamento
Colocar por ordem alface,
meio bagel, o hambúrguer,
uma rodela de tomate
temperado com sal, o molho e
um ovo estrelado aparado em
círculo. Colocar três batatas
ao lado.
Com este prato
recomendamos
Gravato Palhete
DOC Beira Interior
2004, €7
Pública • 26 Outubro 2008 • 75
"76(",)('9/%(,-($0",-'-,+/#3'(,.)('-(/'!"-.%+7(-(-%(%76()+(+-. %('-"''-%-("&(%76(
/+"+(=-(-%"/+(,
15
ão a
i ç ur a
E d a D bad
o
p
Ca Lom cid
e
e aT
05
8.&)+"(+.)%%$(+-"&+ +(,'6()+&>",-8+"(+'"+5&"?
-(&(/" &()+(,,(+(+-"&+("+()+,'('-++(&(,.&" ()+(,,(+1*.%!3
()(+-.'""++&('#.'-(,,.,<%-"&,,(+-,
))"+(,)+(/'"'-,("'/:%.+(.&&<&"
8)(-(%(&",+/%7;,,-,))"+(,/6(2+(&*.()+(,,(+(+-"&+'+'-'(/(%+"$,-
/24+'-.&)+" (,(+ '"276(-+3"('-" .",%$(+-"&+(&(<%"(
.&()(+-.'"
<'" (%"('+ .& "76( %.0( (& ) .+ %(& (++ -"( +/ (.+(
00 • Mês XX 2008 • Pública
$/+(*.+-#"$+!$
!".-.+($,-3+$(!+'!"$+2&$!"-(&()(+)"',&$, (&(4%$ (
Raspador de gelo
McCain, $3 em
www.goptrunk.com
w.
alie
nshacks.com
Skate Obama, $65 em
www.zazzle.com
w
9e
5,9
s for Obama, $1
,
ama
e Ob n.com
n
i
a
o
cC
az
ic s M
. am
C om w w w
9 em
$7,9
m
lien
clo
seto
nline.com
Ursinho I love John
McCain, $19,95 em
www.cafepress.com
id
up
a in
, $4,9
9 em
Pendente
Hope, $10
www.sto
em
re.barac
kobama
.com
,99
, $15 m
a
m
co
Oba
rts.
es 4 eetshi
i
n
Bun instr
a
ec a
Can ww.m
w
em
McCain action
figure, $12,99 em
www.amazon.com
Obama action
figure, $10,95 em
www.amazon.com
Pública • 26 Outubro 2008 • 77
T-shirt Lovin McCain, $15,99 em
www.mccainbloguettestore.com
m
0e
, $6
Keeds Obama
a
T-shirt I love Sarah Palin, $26,99
em www.cafepress.com
e.
co
m
Máscaras
Sarah Palin ($35),
Obama ($19,99),
McCain ($20,75) em
www.amazon.com
.z
w
w
w
.c
re
to
s
.
www
T-sh
ir
em w t super
Ob
ww
.ima ama, $
21
gine
gate ,95
.com
a/
Mc
C
zz
l
Autocola
nte
Karl Ma
rx,
$4,33 em
www.b
umper
sticker
s.cafep
ress.co
m
Cuec
a
girls s fio den
tal P
for O
ree
ba
em w
ww. ma, $14, ty
cafe
9
pres 9
s.co
m
w
er
ato
A
m
ba
sO
ivo
Preservat
Pa
pe
em l hig
wi ién
ck ico
ed
M
co cCa
ols
i
tru n, $1
ff. 0,9
co
m 5
d
te
pe
Ta
Mala Marc
Jacobs O
bama, $75
www.sto
em
re.barac
kobama
.com
gastar
1
* 234
5678+
,-
-&./0.
!%(' !
"
!"$
#"
- !
#
*.
+*
*.
!
-
%"
#
,
%
*
! )
#
$#
#
*
& %$(
!$&
" ' $&
' ) '
"&' !$#
&
'
!#%
* +)
$&
),
!
'
-
-,
$!
-
!
!"
(!
#"
#! "
! ) "
&
*.
-
#
'
sexo
Mamilo americano
Nuno Nodin
N
Nos EUA,
o incidente
com o
negro seio
de Janet
Jackson
e que ficou
conhecido
como
Nipplegate
deu direito
a vários
processos
judiciais
o início de cada ano a nação mais
potente do mundo pára para ver a bola. Em Fevereiro,
no outro lado do Atlântico, ocorre o Super Bowl, equivalente da final da Taça dos Campeões, elevada à décima
potência e condimentada com folclore americano q.b.
Em 2004, mais do que os resultados do jogo, o motivo
de conversa nas semanas seguintes foi o que aconteceu
no intervalo. Durante o tradicional espectáculo na pausa
do jogo, num acto que tudo indica foi planeado, Justin
Timberlake puxou a camisola de Janet Jackson, expondo
o seu negro seio.
Se tal tivesse ocorrido em países como Inglaterra ou
França, o caso teria direito a muitas anedotas e alimentado a imprensa cor-de-rosa durante umas semanas.
Nos EUA, o incidente, que ficou conhecido como Nipplegate, deu direito a vários processos em tribunal e a
qualquer coisa como meio milhão de queixas de espectadores, culminando com um pedido de desculpas da
cantora, que continuou a defender ter-se tudo tratado
de um acidente.
Episódios como este não são novos nos EUA, não
ao nível do significado real do evento (insignificante ou
tão-só patético), mas na reacção desproporcionada que
provocam. A caça às bruxas de 1692 em Massachusetts,
bem como a caça aos comunistas da década de 1950 são
pequenos grandes exemplos de como banais circunstâncias se podem tornar em complexos fenómenos sociais e
mediáticos na sociedade americana. E tal ocorre, normalmente, à custa da racionalidade e também das liberdades
mais fundamentais dos cidadãos. No caso Nipplegate,
a liberdade de expressão foi, uma vez mais, coarctada.
Numa de muitas consequências, desde 2004 que a emissão dos Óscares e dos Grammys é feita com um atraso de
dez minutos em relação ao tempo real. Assim, se alguém
disser ou fizer algo que não deve, haverá sempre a possibilidade de aplicar a poderosa tesoura da censura.
Stanley Cohen, um sociólogo sul-africano, desenvolveu o conceito de “pânico moral”, muito apropriado
a esse tipo de situações. De acordo com o autor,
pânicos morais ocorrem quando muitas pessoas
reagem de forma desproporcionada a um evento, ou
indivíduo(s), considerados ameaçadores à ordem
social. Assim como o mamilo da Janet Jackson.
O mais bizarro (e motivo para desconfiar da natureza
acidental do evento) é que o mamilo da mana Jackson
nem sequer foi exposto, uma vez que estava estrategicamente coberto por uma peça de metal. Mas os pânicos
morais são assim, cegos em relação aos mamilos escondidos e prontos a encontrar bodes expiatórios que divergem a atenção de questões sociais de fundo. Se alguma
coisa podemos aprender com os EUA, neste caso por oposição, é a tentar ter uma atitude mais reflexiva e menos
histriónica a situações como o caso Casa
Pia. É que todos ficamos a perder
quando isso acontece. a
Pública • 26 Outubro 2008 • 79
manias
80 • 26 Outubro 2008 • Pública
AGES/AFP
IM
O/GETTY
os que não são emitidos em
Portugal, como o Saturday Night
Live em que Tina Fey satirizou
Palin) são um bom índice,
posições políticas à parte, para
perceber o apelo Palin. Esta
expressão em nada fica a dever
a outra: to pull a Palin (“dar uma
de Palin”, tradução livre), que
significa, segundo um cartoon da
New Yorker, juntar uma série de
coisas não relacionadas e usá-las
como resposta... errada.
Já lhe imitam os óculos,
vigiam-lhe os hábitos de caça
e conhecimentos de política
internacional, mas sobretudo
constrói-se o efeito Palin, da
Net aos jornais, passando pelo
olhar do mundo. O colunista
Ivor Tossell, do canadiano Globe
and Mail, aponta os motivos
pelos quais estas eleições
americanas são tão televisivas
(e cibervisivas ou panvisuais, o
que se quiser): “Tem um elenco
de personagens que se sentiriam
em casa numa sitcom — o orador
que pode mudar o mundo, a
autarca de uma pequena cidade
e de mentalidade tacanha e o
avôzinho.”
Se o primeiro é visado pela
cor de pele, alegada falta
de experiência governativa
e proximidade onomástica
[Hussein] com o mundo árabe,
e se o terceiro o é pela idade,
a senhora do meio é julgada
pela aparição repentina no
palco político, pelo sotaque,
pela suposta falta de opiniões e
conhecimentos. E pela hipótese,
jogando com a idade de McCain,
de que possa ascender à
presidência mais rápido do que
se pensava, o que levou criativos
publicitários a imaginar um
mundo com Palin As President.
Em suma, Palin vive numa Web
muito mais agressiva do que
Obama, embora a sua campanha
também não tenha passado
incólume aos ciberataques. Mas,
tendo em conta o panorama no
JEFF FUSC
T
odas as semanas
há palavras ou
expressões que
saltam do vazio
para o léxico
do quotidiano.
Desde o subprime a Joe The
Plumber ou os activos tóxicos,
de repente há um dia em que
à nossa volta, nos cafés ou no
local de trabalho, termos até aí
caídos para trás da nossa estante
mental de referências se tornam
“a” palavra da semana. Foi o que
aconteceu nos EUA com alguns
dos exemplos acima e com um
nome que, há dois meses, entrou
na verborreia americana.
O seu nome é Sarah Palin. “Até
agora, eu achava que o Palin
mais engraçado na Terra era
o Michael Palin”, diz o Monty
Python John Cleese entre risos
numa entrevista que pode
ser vista no YouTube. Uma,
aliás, de centenas de entradas
relacionadas com Palin, e uma
das mais partilhadas, mais
virais e comentadas da Web nas
últimas semanas. Juntamente
com uma outra, feita por
um videógrafo que decidiu
questionar republicanos sobre o
seu conhecimento de Obama e
Palin e sobre se Barack Obama é
ou não terrorista. Ambos estão
no top dos vídeos mais virais de
há uma semana, com milhões
de visualizações e centenas de
partilhas em blogues.
Apesar de ser candidata à vicepresidência e não a Presidente,
Palin concorre, na polémica,
directamente com Barack
Obama, porque Joe Biden, o seu
homólogo democrata, não é tão
escrutinado, apesar de uma gaffe
similar à de António Guterres
com o complexo PIB (“É fazer as
contas”) e de estar também nos
tops do YouTube e de ser alvo de
escárnio repetido no Daily Show
de Jon Stewart.
Programas como este, ou o Late
Night de Conan O’Brien (fora
JEFF FUSCO/GETTY IMAGES/AFP
Palin, Sarah Palin
www.youtube.com/
watch?v=jMyNk8J1c8g
www.youtube.
com/results?search_
query=sarah+palin&search_
type=&aq=f
www.ibelieveinadv.com/
commons/palinjustimagine.
jpg
YouTube, as entradas relativas a
Palin são em menor quantidade,
mas muito mais sobre o que
estrelas como Matt Damon têm
a dizer sobre ela, ou como lidou
com a entrevista a Katie Couric e
o que isso diz sobre ela. Já para
Obama, saltam à vista hinos e
tributos, desmistificações do
que dizem os republicanos sobre
ele, ultrapassado o problema
Jeremiah Wright. Resultado:
uma imagem mais positiva do
candidato democrata do que da
governadora do Alasca. Daqui a
uma semana e meia, saber-se-á
quem é o verdadeiro vencedor.
a Joana Amaral Cardoso
OE RAEDLE/GE
Nós no mundo
Ricardo Garcia
TTY IMAGES
JEFF FUSCO/GETTY IMAGES/AFP
AFP PHOTO/J
ONS/GE
MARK LY
TTY IMAG
T
ES/AFP
Porquê
Por que é que o Tio Sam é um
símbolo americano?
Há várias histórias sobre a origem do Uncle Sam,
mas a única validada pelo Governo americano
remonta à guerra de 1812, em que os soldados
de Nova Iorque associavam
em brincadeira o US dos
caixotes de mantimentos
ao seu fornecedor Samuel
Wilson, o “Uncle Sam”.
Em 1961, o Congresso
aprovou uma resolução que
reconhecia Samuel Wilson
(1766-1854), o tal fornecedor
de carne, como o responsável
pela expressão “Uncle Sam”
e como um homem de
reputação venerada e
um patriota. a Joana
Amaral Cardoso
O efeito
de um
boicote
individual
pode ser
nulo, mas
faz-nos
dormir
tranquilos
odos os que estimam o ambiente
aprenderam a odiar George W. Bush e, por tabela, os
Estados Unidos. Os últimos oito anos foram plenos de
matéria-prima para este sentimento. Bush abandonou o
Protocolo de Quioto, desconfiou dos cientistas, fraquejou
em leis ambientais, tentou extrair petróleo de santuários
naturais. A versão oficial, naturalmente, pinta o quadro
com cores opostas. Mas Bush não escapa de deixar o
posto de chefe do mundo com uma péssima reputação
ecológica.
Para os que prezam o planeta em paz e harmonia, a
administração Bush também não ficou bem na fotografia,
sobretudo pelos desastres cometidos à conta da luta
antiterrorismo.
O que fazer? Eu fiz um boicote. Prometi que não iria
aos Estados Unidos enquanto Bush estivesse na Casa
Branca. Além da motivação original, evitaria ainda
os constrangimentos cada vez mais acrescidos de
simplesmente entrar no país — com ou sem sapatos. É
certo que não surgiram oportunidades, mas mantive
a promessa. Agora, com Obama ou McCain, posso
revogá-la.
O efeito de um boicote individual pode ser nulo, mas
muitas vezes é um imperativo de consciência. Faz-nos
dormir tranquilos, mesmo que não mude em nada o
rumo dos acontecimentos.
Na sua versão colectiva, é uma faca de dois gumes. O
seu poder de pressão — esmagador, se a coisa for muito
bem feita — é passível de resultar tanto para o interesse
colectivo como exclusivamente para o privado. Em
meados dos anos 1990, uma campanha sugeria um
boicote mundial a uma empresa petrolífera, pelos males
ambientais e sociais que estaria a provocar na Nigéria.
Já em Portugal, não percebi o boicote às gasolineiras, há
uns meses, quando o preço dos combustíveis disparou.
Para obrigá-las a baixar os preços, os consumidores
estavam dispostos a não pôr gasolina nos seus
automóveis. Mas se podem passar bem com isso, então
por que não fazem boicotes todos os dias? O consumo
cairia, o preço do petróleo idem e uma parte importante
dos problemas ambientais do planeta ficava resolvida. a
Pública • 26 Outubro 2008 • 81
tarot da maya
NUNO SARAIVA
de 26 de Outubro a 1 Novembro
plano material está menos
favorecido, já que a tendência é
para não dar a devida atenção à
vida profissional. Na saúde está
protegido.
Leão
Aquário
21 de Janeiro a 19 de Fevereiro
X Roda da Fortuna
A Roda da Fortuna traz uma corrente de mudança;
poderá ter algumas mudanças de cariz positivo. No
plano afectivo boas evoluções. No plano material
poderá aceitar novas propostas; um desafio pode
surgir feito à sua medida. De momento não se mostre
ambicioso em questões económicas. Na saúde
tendência para resultados rápidos.
Carneiro
21 de Março a 20 Abril
II A PAPISA
A evolução dos acontecimentos
tende a ser pouco compatível
com os seus desejos. No plano
afectivo as relações tendem
a passar por dificuldades
em função de oscilações
comportamentais. No plano
material, apesar de pontuais,
podem surgir melhoras
profissionais. Na saúde semana
sem problemas.
Touro
21 de Abril a 21 de Maio
XII O DEPENDURADO
Algumas realidades poderão
revelar-se duras e os assuntos
tendem a desenrolar-se de uma
forma lenta. No plano afectivo
paute os seus comportamentos
por segurança. No plano
material algumas relações
podem estar pesadas. Na saúde
82 • 26 Outubro 2008 • Pública
tenha cuidado com consumo
excessivo de gorduras.
Gémeos
22 de Maio a 21 de Junho
XVI A TORRE
Alguns problemas serão criados
por terceiros e não por si e
podem pôr em causa muito dos
seus esforços. No plano afectivo
riscos de sofrer um choque.
No plano material a sua vida
está bastante influenciada pela
carta dominante. Na saúde deve
acautelar-se com tudo o que se
refere a deslocações.
Caranguejo
22 de Junho a 23 de Julho
I O MAGO
O Mago traz uma semana de
grandes impulsos e energia, mas
que devem ser bem geridos.
No plano afectivo semana
positiva, com tendência para
que tudo se harmonize. No
24 de Julho a 23 de Agosto
I O MAGO
A conjuntura, esta semana,
é positiva, e repleta de
diversidade; deve aproveitar
para fazer opções. No plano
afectivo momento muito
propício ao estabelecimento
de novos planos de vida. No
plano material semana muito
activa, mas não exagere no ritmo
de trabalho. Na saúde sentirá
energias ascendentes.
Virgem
24 de Agosto a 23 de Setembro
XXI O MUNDO
O Mundo leva-o a pensar mais
em si e menos nos outros,
mas não transgrida acordos
assumidos. No plano afectivo
não se preocupe muito,
pois tudo vai acontecer com
naturalidade. No plano material
divergências com colegas podem
comportar alguma adversidade.
Na saúde semana de pequenas
complicações.
Balança
24 Setembro a 22 de Outubro
V O PAPA
A influência da conjuntura
aumenta a sua serenidade.
No plano afectivo dê especial
atenção; este sector pode
trazer-lhe surpresas muito
agradáveis. No plano material
terá de ser objectivo e tomar
posições em função das análises
que efectuar. Na saúde não
tome medicamentos sem
aconselhamento médico.
Escorpião
23 de Outubro a 22 de Novembro
IX O EREMITA
Estará sob a influência de
uma conjuntura lenta em que
qualquer definição poderá
revelar-se mais demorada. No
plano afectivo, embora com
alguma lentidão, tudo tende
a evoluir de forma positiva.
No plano material terá de se
esforçar muito mais no trabalho.
Na saúde necessita de se
movimentar mais.
Sagitário
23 de Novembro a 21 de
Dezembro
XX O JULGAMENTO
Algumas notícias surpreendentes
poderão trazer modificações
importantes à sua vida. No plano
afectivo momento propício à
evolução. No plano material
vida sujeita a flutuações que
merecerão medidas adequadas
em cima dos acontecimentos.
Na saúde tendência a problemas
gastrointestinais.
Capricórnio
22 de Dezembro a 20 de Janeiro
XXII O LOUCO
O Louco envolve sérios riscos,
em particular no plano material.
No plano afectivo a semana será
de condução difícil. No plano
material tendência a muita
desorganização, próxima do
caos. Não conceda empréstimos
nem faça investimentos. Na
saúde dedique mais tempo ao
lazer.
Peixes
20 de Fevereiro a 20 Março
XXI O MUNDO
O Mundo coloca-o em posição
de controlar a evolução dos
acontecimentos e de sair
favorecido de toda e qualquer
ocorrência. No plano afectivo
alguns relacionamentos podem
acabar mal. No plano material
estará sujeito a avaliações de
mérito. Na saúde possíveis
problemas renais.
Download