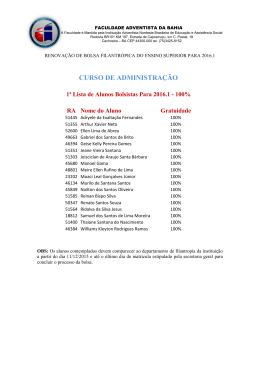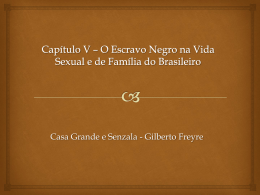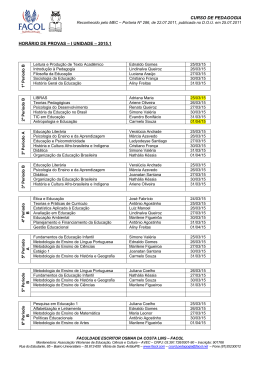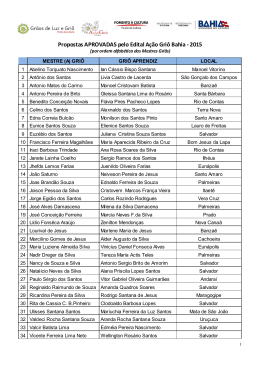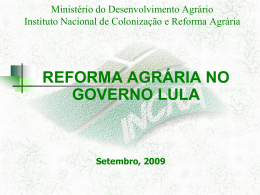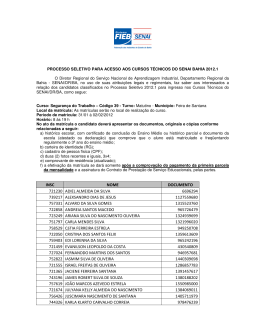Marilene Santos SUMÁRIO 1. OS CAMINHOS DA PESQUISA 09 1.1. Trajetórias e o tema da pesquisa 09 1.2. Etnomatemática, currículo e o objetivo do estudo 20 2. PARTE EMPÍRICA DA PESQUISA 26 2.1. A luta pela terra no nordeste sergipano 30 2.2. O assentamento Santana dos Frades 38 2.3. O assentamento Santaninha 44 2.4. 47 Procedimentos metodológicos 3. RESISTINDO A IMPOSIÇÕES: A REVOLTA DOS 4. QUEBRA-QUILOS 55 3.1. A Revolta dos Quebra-quilos 57 3.2. A definição do metro 64 ENTRE BRAÇAS, PALMOS E TAREFAS: PRÁTICAS SOCIAIS DE PRODUÇÃO 75 4.1. Tecendo Tarrafas 79 4.2. Tecendo Redes 88 4.3. Costurando Chapéus de Palha 94 4.4. Produzindo Vassouras 98 4.5. Construindo Canoas 100 4.6. Medindo a terra 103 5. DO TUCUM AO NÁILON PRONTO: ‘PELANDO’ O CURRÍCULO? 112 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 120 Marilene Santos 1. OS CAMINHOS DA PESQUISA 1.1 Trajetórias e o tema da pesquisa A instituição escolar brasileira tem se mostrado ineficiente em um dos seus objetivos fundamentais – a escolarização das pessoas, que inicia pela alfabetização. Esse primeiro momento, no qual crianças, jovens e adultos começam a se apropriar dos códigos exigidos pelo mundo contemporâneo, não tem sido priorizado pelas políticas públicas de educação. Isso se confirma quando analisamos o índice de analfabetismo existente no país, que, conforme dados do Censo Demográfico de 2000 (IBGE), alcança um percentual de 16%, correspondendo a 24 milhões de pessoas, aproximadamente, que afirmam não ter condições de escrever um bilhete ou anotar um recado. Segundo o referido censo, ao analisarmos a situação no Estado de Sergipe, verificamos que, de uma população de 1,6 milhão de habitantes, o percentual de pessoas na condição de analfabetismo é de 24%, o correspondente a 384.000 sergipanos. Na zona rural, os índices de analfabetismo são mais elevados que os da zona urbana. Segundo o Censo Demográfico, 29,8% da população adulta analfabeta está na zona rural, enquanto que, na zona urbana, essa taxa é de 10,3%. As condições de funcionamento e a formação dos professores são também mais precárias que as da zona urbana. As escolas rurais apresentam características físicas muito diferenciadas em termos de recursos disponíveis. Considerando o número de salas de aula como um indicador do tamanho da escola, nas escolas urbanas 75% daquelas que oferecem o ensino fundamental têm mais de cinco salas de aula. Para as escolas localizadas na zona rural, o perfil é diferente, 94% destas têm menos do que cinco salas de aula. Se tomarmos como referência a formação dos professores do ensino fundamental da zona rural, observamos que apenas 9% apresentam formação superior, enquanto que, na zona urbana, esse contingente representa 38% dos docentes (MEC/INEP, 2002).1 No caso dos assentamentos rurais do Estado de Sergipe a situação ainda é mais crítica, o único censo realizado nas áreas de Reforma Agrária apontou, em 1997, que 46,45% dos adultos eram analfabetos no sentido considerado pelo IBGE. É provável que o número de adultos nessas condições tenha aumentado proporcionalmente ao número de assentamentos de Reforma Agrária nos últimos anos. Por essa razão, está sendo desenvolvida uma pesquisa pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (INCRA) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para identificar a demanda e a oferta da educação básica nas áreas de Reforma Agrária, porém ainda não há nenhum resultado Entendendo que a educação é um dos elementos importantes no desenvolvimento de um país, principalmente naqueles com enormes disparidades sociais, como é o caso do Brasil, em que o perverso processo de globalização tem restringido cada vez mais o acesso a postos de trabalho e ao uso de novas 1 MEC. Referência para uma Política Nacional de Educação do Campo. Caderno de Subsídios. Brasília, DF, 2004. 2 Marilene Santos tecnologias, e considerando o papel central que as discussões atuais sobre currículo desempenham no âmbito da educação, a pesquisa no campo educacional, em particular no do currículo, é um instrumento que pode contribuir de modo relevante para compreendermos e criarmos condições suficientes para o enfrentamento dos problemas relacionados com a Educação. Por ser uma mulher atenta a questões sociais como essas acima mencionadas e por sentir-me comprometida com a necessidade da mudança social, optei por ser professora. Em 1994, quando cursava o 2o ano do Curso de Pedagogia, tomei conhecimento da existência de um projeto de Alfabetização de pessoas Jovens e Adultas, desenvolvido pelo Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, destinado à alfabetização de seus funcionários. Após conhecer o projeto, decidi trabalhar como voluntária, experiência esta que muito me marcou, pois, além de aguçar minhas inquietações, aumentou meu desejo não só de compreender melhor a problemática da Alfabetização de Jovens e Adultos, como também de envolverme em um trabalho que me possibilitasse a intervenção na tentativa de superação do analfabetismo. Devido à importância e aos resultados do referido projeto, o Movimento Sem Terra (MST) convidou a equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização (NEPA), que coordenava o projeto de alfabetização com os funcionários da Universidade, para elaborar um projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos a ser desenvolvido nos assentamentos de Reforma Agrária do Estado de Sergipe. Através do desenvolvimento desse projeto, vários questionamentos foram levantados, principalmente os trazidos pelos monitores e monitoras (alfabetizadores e alfabetizadoras dos assentamentos). Dentre eles, destacavam-se questões envolvendo unidades de medida presentes naquelas comunidades, que, por serem diferentes das unidades padrão, apresentavam obstáculos na sala de aula para os jovens que ensinavam no Projeto e que diziam não se sentirem suficientemente seguros em seu manejo. Depois, já como coordenadora pedagógica de uma das regiões em que o projeto estava sendo desenvolvido e como integrante dessa equipe pedagógica durante cinco anos consecutivos, entrei em contato, através dos cursos de capacitação, com as diferentes formas de organização de saberes matemáticos populares integrantes da cultura camponesa de alunos e alunas que freqüentavam o curso de Alfabetização de Jovens e Adultos, bem como de seus monitores e monitoras. Essas marcas da cultura camponesa já estavam presentes em minha prática docente na periferia da cidade de Aracaju (antes ainda de ingressar no curso de Pedagogia), em uma escola onde muitas das crianças eram oriundas do meio rural. Atuando em uma turma de crianças em processo de alfabetização fora da faixa etária idade/série, observei que, quando eram desafiadas matematicamente, elas faziam uso somente da oralidade em suas respostas. No decorrer do Curso de Pedagogia, comecei a dar-me conta de que havia um conflito entre as exigências da escola em relação aos cálculos escritos e à cultura marcadamente oral daquele grupo de crianças. Essas inquietações ficaram ainda mais fortes quando tive minha primeira experiência com alfabetização de pessoas jovens e adultas no projeto coordenado pelo NEPA. Ali comecei a observar a utilização de unidades de medida com base em experiências corporais, em objetos e seus significados culturais. Mesmo quando os trabalhadores e trabalhadoras dispunham de instrumentos associados ao sistema métrico padrão para medir os terrenos, não os utilizavam: insistiam em trabalhar com unidades de medida e 3 Marilene Santos instrumentos de sua cultura camponesa, de seu grupo cultural. Esse fato chamou-me a atenção na maioria dos assentamentos onde atuei. Comecei a perceber a existência de outros valores, de outros saberes que não os hegemônicos que levavam trabalhadores e trabalhadoras a pensar matematicamente e a organizar os espaços físicos de suas comunidades. Foi nesse período de minha formação profissional que, a partir das leituras de trabalhos da professora Gelsa Knijnik, tive as primeiras aproximações com a área da Etnomatemática. Segundo essa autora, a Etnomatemática “... está atenta para as conexões da Educação Matemática com o mundo social mais amplo no qual ela se insere” (2002a, p. 4). A ênfase dada pela Etnomatemática ao entendimento dos saberes populares como manifestações culturais de um grupo social, deslocando seu olhar de aspectos da Psicologia do Desenvolvimento, que muito influenciaram as discussões na Educação Matemática, dava-me elementos para outros modos de compreender as unidades de medida empregadas nos assentamentos onde atuava. Minha formação no curso de Pedagogia tinha sido apoiada teoricamente nas teorias da Psicologia do Desenvolvimento. O meu olhar, então, enxergava apenas as questões que tais teorizações me possibilitaram reconhecer. Nesse sentido, as primeiras leituras sobre Etnomatemática mobilizaram-me muito, mas não eram suficientes para que tivesse uma compreensão das questões que me desafiavam no trabalho nos assentamentos. As questões relacionadas à área da Educação Matemática desafiavam-me intensamente, porque, dentre outras atribuições na equipe de trabalho, eu era responsável, junto com a professora Sonia Meire, coordenadora geral do projeto, por pensar pedagogicamente estratégias e propostas para discutir, com monitores e monitoras, o planejamento didático da Matemática nos encontros de capacitação docente. Sempre fui uma professora interessada na Educação Matemática, provavelmente por não compreender por que esta era sempre considerada pela escola como a área “mais” importante e, ao mesmo tempo, a “mais difícil”. Por isso, mesmo que discutíssemos sobre as mais diversas áreas do conhecimento, mobilizava-me muito mais quando se tratava da Matemática. Desde o início de meu trabalho nos assentamentos de Reforma Agrária de Sergipe, as práticas sociais daquelas comunidades eram questões centrais trazidas para estudo por monitores e monitoras que atuavam diretamente nos assentamentos. Havia uma solicitação, por parte de alunos e alunas, de que essas práticas fossem estudadas, em especial, a prática de “medir a terra”. O grupo demonstrava interesse em ter acesso aos conhecimentos matemáticos, tanto àqueles da matemática escolar quanto aos que faziam parte de suas práticas cotidianas. Já naquela ocasião, a equipe de trabalho, juntamente com monitores, monitoras, alunos e alunas, avaliou que o acesso a esses conhecimentos dentro de seus contextos seria importante para que os adultos em processo de alfabetização adquirissem melhores condições para intervir, nas suas comunidades, em questões relativas, principalmente, ao planejamento, à execução e à comercialização da produção. 4 Marilene Santos A equipe pedagógica do projeto de Educação de Jovens e Adultos preocupava-se com o acesso aos conhecimentos da matemática acadêmica2 por parte de monitores, monitoras, alunos e alunas do curso, tomando o cuidado de não silenciar os saberes matemáticos populares próprios da cultura daqueles grupos camponeses. Esse posicionamento estava em concordância com as concepções educativas do Setor de Educação do MST, que, em sua trajetória, teve uma importante influência do pensamento de Paulo Freire (KNIJNIK, 1997,p.263 – 264). Uma questão que os monitores e as monitoras sempre apontavam era como poderiam “ensinar seus alunos a fazer conta de tarefa no caderno, pois, de cabeça, eles fazem todas”. As dificuldades dos monitores e das monitoras na condução do processo de alfabetização em conseqüência da sua pouca escolaridade (a maioria havia cursado somente o Ensino Fundamental) e a falta de estrutura dos assentamentos exigiam um intenso acompanhamento do trabalho pedagógico, o que impossibilitava, na maioria das vezes, um aprofundamento teórico das questões trazidas pelo grupo. Passados nove anos de meu primeiro trabalho nos assentamentos de Reforma Agrária, posso afirmar que ainda hoje os assentamentos de Sergipe têm a forte marca da oralidade. Quase nenhum material escrito circula naquelas comunidades, com exceção dos espaços onde são realizadas as reuniões coletivas, nos quais há cartazes, informativos e, usualmente, o Jornal Mural Sem Terra. A hegemonia da cultura oral ali presente, que se contrapõe à forte tradição escrita da escola, faz com que os alunos e as alunas que desejam prosseguir seus estudos em escolas das redes oficiais de ensino (municipal e estadual) acabem por não ter possibilidades de expressar suas visões de mundo, sua cultura e seus conhecimentos no currículo escolar. Mesmo reconhecendo a importância e a riqueza dos conhecimentos orais, bem como sua relevância cultural, a equipe e eu sentíamos muitas dificuldades em realizar um trabalho que rompesse com as fronteiras disciplinares, um trabalho que não colocasse o conhecimento em “gavetas” separadas, mas que possibilitasse um transitar entre os diversos campos de saber. Tais dificuldades intensificavam-se pela falta de um aprofundamento maior no campo da Matemática. Desde essa época, desejei iniciar uma investigação sobre as questões que me mobilizavam quando estava nos assentamentos. Já com a graduação concluída, sentia a necessidade de continuar estudando e pesquisando sobre tais questões, com as quais não conseguia lidar. Avaliava que somente através da pesquisa seria possível compreendê-las de modo mais abrangente e que isso poderia ser possível através da realização de um Mestrado. No entanto, essa opção implicaria ter uma estrutura financeira de que eu não dispunha, visto que o Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe tinha apenas duas linhas de pesquisa, nenhuma delas relacionada à área de currículo. Não podendo estudar “perto de casa”, precisava encontrar uma forma de deslocar-me para outra instituição fora do Estado, o que implicaria conseguir uma bolsa de estudos e recursos financeiros para manter a mim e aos que de mim dependem, pois os rendimentos que percebo como professora da rede pública estadual são insuficientes. 2 O termo “matemática acadêmica” está sendo compreendido aqui no sentido dado por Knijnik (1996, p. 102103). A autora faz uso desse termo para denominar o saber matemático produzido pelos matemáticos na academia. O termo “matemática popular” está sendo utilizado para denominar os saberes matemáticos produzidos pelos grupos sociais não-hegemônicos. 5 Marilene Santos O que antes parecia algo quase impossível acabou se concretizando. É da alegria dessa concretização que falo agora um pouco, enquanto escrevo esta dissertação. Digo alegria porque estou finalizando um projeto pessoal e profissional que pensava irrealizável. Quando já estava perdendo as esperanças de poder realizar o sonho de cursar um Mestrado, apareceu uma oportunidade de concretizar o que já considerava impossível: o concurso Programabolsa, em âmbito nacional, para seleção de bolsas de estudos para cursos de pós-graduação (Mestrado e Doutorado), patrocinado pela Fundação FORD,3 sob a coordenação, no Brasil, da Fundação Carlos Chagas. “Agarrei essa oportunidade com unhas e dentes”, como dizemos lá em Sergipe. Investi toda a energia nesse concurso, sabendo que disso “dependia” minha existência. Foi um processo seletivo muito difícil, doloroso até, como tudo na minha vida. A angústia provocada pela possibilidade de eliminação numa das etapas da seleção fez com que tivesse pesadelos diariamente, pois considerava “natural” que eu não fosse selecionada. Entre os muitos objetivos que ousei me propor, esse era o “mais impossível” – e a vida ensinoume desde muito cedo que, sendo mulher, negra e pobre, seria muito difícil sonhar e realizar sonhos. Mesmo atendendo a todos os critérios estabelecidos pelo Programabolsa e tendo apresentado o que achava ser um bom projeto, estava muito temerosa de não ser uma das 42 contempladas: perder sempre fez parte da minha luta cotidiana. Quando, finalmente, no resultado da seleção, vi que meu projeto havia sido aprovado e tomei conhecimento das condições que teria para realizar o Mestrado, senti-me muito privilegiada. Esse sentimento acompanhou-me durante toda a vigência da bolsa e duração da pesquisa, fator que aumenta minha responsabilidade para com o grupo pesquisado e para com a socialização de minha experiência acadêmica como mestranda. Falar dessa experiência nos seus múltiplos aspectos, e não só dos conhecimentos que adquiri e de meu desenvolvimento intelectual, é muito difícil para mim. Dizer dos sentimentos que mexem comigo, de minhas angústias e alegrias foi algo complicado em minha história. Hoje penso que essa “complicação” está ligada ao fato de eu sempre tentar evitar a “vitimização” como mulher negra e pobre, com todas as marcas que isso produziu e produz em mim. Também porque me servi de uma estratégia de silêncio para proteger-me das discriminações que poderia sofrer. Os estudos sobre as teorias contemporâneas do currículo e da Etnomatemática ajudaram-me a compreender isso, não somente em uma dimensão puramente intelectual. Aos poucos, a experiência de realizar o Mestrado foi me fortalecendo como pessoa, possibilitando que eu fosse adquirindo coragem de ir me expondo aos outros sem tanto temor. Escrever esta dissertação também é fruto dessa minha caminhada. Durante esses dois anos de estudo, muito aprendi, muitas de minhas “verdades” reformulei e algumas abandonei. As leituras que fiz foram fundamentais para, inclusive, compreender melhor os objetivos de um Curso de Mestrado. De início, estava demasiadamente centrada na preocupação de que minha investigação apontasse caminhos que de imediato pudessem ser seguidos pelas professoras dos assentamentos 3 A Fundação Ford, através de seu material de divulgação, afirma ser uma organização privada, criada nos Estados Unidos, para servir como fonte de apoio a pessoas e instituições inovadoras em todo o mundo, comprometidas com a consolidação da democracia, com a redução da pobreza e da injustiça social e com o desenvolvimento humano. 6 Marilene Santos pesquisados. Lembro-me muito bem da primeira reunião coletiva do grupo de orientandos e orientandas da professora Gelsa Knijnik, da qual participei, assim que iníciou o ano letivo de 2003. Ao discutirmos uma dissertação de Mestrado recém defendida, minha primeira pergunta ao grupo foi: Qual é a contribuição desta pesquisa para a sala de aula? Hoje, mesmo que mantenha a idéia de que é minha obrigação contribuir para os movimentos sociais do campo que me levaram a realizar estudos de pós-graduação, compreendi que uma pesquisa não precisa ser prescritiva para que traga tal contribuição. A discussão das idéias e a problematização de questões educacionais também são elementos importantes para atuar na prática pedagógica. Compreendi que meu trabalho de pesquisa, mesmo sem prescrever procedimentos para a sala de aula, tem sim uma responsabilidade social, pois, como afirma D’Ambrosio(2002) quando fala da dimensão política da Etnomatemática, a pesquisa está comprometida com a procura de possibilidades de acesso aos que se encontram à margem dos processos políticos, sociais e educativos. Entretanto, para isso, não é preciso ter “um caminho a apontar”, uma “receita” a sugerir. Assim, ao realizar a pesquisa que apresento nesta dissertação, sempre procurei não fazer julgamentos sobre as práticas sociais das famílias assentadas, para determinar se eram “boas ou más”, “certas ou erradas”. Tais práticas foram problematizadas e estudadas, com apoio das teorizações do campo etnomatemático e do currículo, numa perspectiva alinhada com o pós-modernismo, que, segundo Silva (2002, p. 114), “inclina-se para a incerteza e a dúvida, desconfiando profundamente da certeza e das afirmações categóricas”. Busquei compreender as práticas sociais, analisando um conjunto de relações presentes no cotidiano daqueles grupos. Estava interessada nos sentidos que eram produzidos e atribuídos a tais práticas por integrantes da cultura camponesa estudada. Se, quando iniciei a pesquisa, tinha a intenção de obter resultados que mostrassem a professoras e professores como escolarizar os saberes populares das famílias assentadas, tornando-os conteúdo curricular – mais especificamente, conteúdo da matemática escolar –, agora entendo que aquela intenção trazia consigo uma arrogância de quem, ao começar a ser pesquisadora, saberia e poderia indicar os caminhos “certos” para a sala de aula. Mesmo considerando que é legítima e democrática a inclusão, no currículo escolar, de outros saberes que não os hegemônicos e que as políticas educacionais devam estar atentas a questões como essa, agora assumo uma posição mais modesta. Não vou indicar caminhos para os outros, mas sei que minha ação pedagógica e política, daqui em diante, vai ser orientada nessa direção, pois sinto-me constituída também pelos estudos que realizei no campo da Etnomatemática e das teorias contemporâneas de currículo. Terei um outro olhar, assumirei posições diferentes do que assumi até então. Faz parte desse assumir outras posições a minha relação com a Matemática. Ao iniciar a pesquisa, mesmo que já me incomodasse com a exagerada importância dada na escola à área da Matemática, ainda compartilhava das narrativas que a consideravam como “universal”, “superior”, como a “única forma de pensar matematicamente o mundo” (KNIJNIK,1996a, p.255). Isso não era problematizado por mim antes das leituras no campo da Etnomatemática. Eu valorizava outros saberes que não os hegemônicos, mas acreditava que estes deveriam “servir” como “ponto de partida” para o acesso à matemática acadêmica (ibidem). Destacava, em minhas intervenções no Sindicato de professores do estado de Sergipe (SINTESE), onde 7 Marilene Santos atuava, no trabalho de sala de aula e nas discussões com colegas de trabalho, a importância da Matemática Acadêmica na vida das pessoas como forma de levá-las a vencer suas limitações e a ascender socialmente. A presença dos números na vida cotidiana, desde quando nascemos, como dia, hora, ano de nascimento, por exemplo, até o modo como somos identificados pelas instituições sociais, através de RG, CPF, tudo era utilizado por mim nas aulas de Matemática. Hoje vejo que essa posição fortalecia a grande narrativa que é a Matemática Acadêmica. Incorporar no currículo escolar outras formas de pensar e construir saberes matemáticos, para mim, era uma forma de respeitar as práticas sociais dos grupos, “trazer a realidade” dos alunos para a sala de aula para com isso mediar seu acesso ao “verdadeiro” conhecimento. A Matemática Acadêmica ocupava a posição “de rainha das ciências”, como escreve Knijnik (1996, p. 75), citando Walkedine quando esta, em sua obra The mastery of reason (1988), analisa o status que tem sido atribuído à Matemática Acadêmica nos últimos séculos. As leituras que fiz no campo da Etnomatemática mostraram-me a existência de várias matemáticas, ou seja, várias práticas matemáticas diferentes da Matemática Acadêmica, diversas formas de pensar e construir saberes matemáticos. Compreendi que, como diz Knijnik (1996, p. 74), “a Matemática acadêmica é uma das formas de etnomatemática”. O campo etnomatemático é muito recente no cenário epistemológico. É um campo que se constitui problematizando essa grande metanarrativa denominada Matemática Acadêmica. Ainda a esse respeito, Borba (apud KNIJNIK, 1996b, p. 74) diz que “(...)esta não é universal, à medida que não é independente da cultura. Em um certo sentido poderia ser considerada como “internacional”, pois é utilizada em muitas partes do mundo”. Ao problematizar essa concepção do conhecimento, a Etnomatemática põe sob suspeita a própria compreensão do que é considerado como conhecimento produzido pela humanidade. A Etnomatemática vai mostrar que o “conhecimento acumulado pela humanidade” (KNIJNIK, 2004a, p. 22) corresponde a uma parcela, muito pequena, do que a humanidade produziu e segue produzindo em termos de conhecimento. O leque de possibilidades de compreender a vida nos seus mais diversos aspectos e de perceber o mundo utilizando diferentes lentes que o estudo no campo da Etnomatemática e do currículo me proporcionaram foi grande. Como antes mencionei, aprendi, inclusive, muito sobre mim mesma, sobre como lidar com o que vivia nesse período de dois anos em que realizava o Curso de Mestrado. Por exemplo, sentime, pela primeira vez na vida, em uma situação privilegiada em relação aos meus colegas de pós-graduação por não ter de trabalhar enquanto estudava e por dispor de recursos para me sustentar. Esse sentimento começou a nascer antes de eu vir para o Rio Grande do Sul, a partir de minha “vitória” na seleção do Programabolsa. As condições oferecidas pelo Programabolsa possibilitavam-me escolher um Programa de Pósgraduação em qualquer parte do Brasil ou do exterior. Como afirmei anteriormente, minha opção epistemológica foi pelo campo da Etnomatemática e minha aproximação com esse campo deu-se através dos trabalhos da professora Gelsa Knijnik, que tem produzido sobre Etnomatemática, com pesquisas desenvolvidas com os movimentos sociais camponeses, especificamente com o Movimento Sem Terra. Esses 8 Marilene Santos fatores foram decisivos para minha opção pelo Programa de Pós-graduação em Educação da UNISINOS, no Rio Grande do Sul. Sair do nordeste para estudar, no sul, questões relacionadas à educação sergipana e especificamente à educação rural, representou para mim assumir responsabilidades com as pessoas que comigo compartilharam as inquietações que originaram esta dissertação. Representou também assumir o compromisso de socializar os resultados da pesquisa para que todos os interessados possam deles se apropriar. É esse comprometimento que me estimulou a enfrentar a saudade de familiares e amigos, as “chuvas de pedra” que me aterrorizavam tanto, a instabilidade do clima, o frio no Rio Grande do Sul. A problemática que me propus a estudar mostrou-se muito instigante para mim. Desde aquele período em que atuava no NEPA, nos encontros de capacitação (encontros de planejamento com os monitores e monitoras dos assentamentos), sentia-me desafiada a compreender como um grupo de pessoas poderia viver tão próximo e ao mesmo tempo tão longe do que naquele momento era para mim “a civilização”, a “modernidade”. Ao mesmo tempo em que me intrigava, ficava também fascinada, pois acreditava que unidades de medida tão antigas, como a vara e o celamim,4 eram “puras”,5 estando livres da “contaminação” e dos “vícios do mundo moderno”, como se isso fosse possível. Foram essas especificidades que me interessaram inicialmente. Foram elas que, por primeiro, deram sentido à etnomatemática que queria estudar. 1.2 Etnomatemática, currículo e o objetivo do estudo A Etnomatemática é uma área da Educação Matemática que tem como eixo a centralidade na cultura. As pesquisas etnomatemáticas desenvolvidas no Programa de Pós-graduação em Educação da UNISINOS buscam compreender as práticas sociais de diferentes grupos culturais e os saberes matemáticos nelas envolvidos, analisando suas vinculações com o currículo. Como afirma Knijnik (2004b), “a Etnomatemática examina a relação entre currículo e cultura na Educação Matemática”. Ainda em relação à centralidade da cultura para a Etnomatemática, D’Ambrosio (2002, p. 22) menciona fazeres do cotidiano que envolvem o pensar matemático para mostrar como a cultura está presente nesses fazeres. Diz o autor: O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo instante, os indivíduos estão comprando, classificando, quantificando, medindo, (...) e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura. As leituras da Etnomatemática ajudaram-me a compreender as práticas sociais dos assentamentos pesquisados, examinando saberes matemáticos ali presentes, sem glorificar ou folclorizar tais saberes. O olhar 4 Essas unidades de medida − vara e celamim − serão discutidas no Capítulo 4 da Dissertação. Ao escrever entre aspas o termo “puro”, quero significar que a própria pesquisa que realizei me mostrou que não há essa “pureza” “não-copiada” e “não-contaminada” que antes acreditava existir. 5 9 Marilene Santos através da lente da Etnomatemática possibilitou-me, como pesquisadora, considerar as práticas sociais dos assentados nos mais diversos aspectos, como a história, as relações com a natureza e com outros grupos, sem procurar apenas os números, as marcas que socialmente têm sido identificadas como marcas da Matemática. Para a Etnomatemática, é importante “analisar as culturas populares sob uma perspectiva de uma (relativa) autonomia, associando-as às condições sociais dos grupos estudados, sem esquecer que, quando comparadas sociologicamente com as culturas hegemônicas, elas se mostram desigualmente diferentes” (KNIJNIK, 2004a, p. 23). Daí a necessidade de, em minha pesquisa, historicizar o processo de implantação das unidades de medida padrão no Brasil. No século XIX, tal processo desencadeou tentativas de resistência, entre elas, a Revolta dos Quebra-quilos, que abordo no terceiro capítulo desta dissertação. Knijnik (ibidem, p. 22) destaca a importância desse historicizar quando afirma: “É neste sentido que é possível compreender a relevância dada ao pensamento etnomatemático no que se refere à recuperação das histórias presentes e passadas dos diferentes grupos culturais”. Outro aspecto da Etnomatemática que também se articula com a minha pesquisa é a problematização, na educação matemática, da dicotomia existente entre cultura erudita e cultura popular. Esse tipo de problematização tem sido feito pelo pensamento pós-moderno, que “rejeita distinções categóricas e absolutas como a que o modernismo faz entre ‘alta’ e ‘baixa’ cultura” (SILVA, 2002, p. 114). Para a Etnomatemática, a Matemática Acadêmica não é só considerada como saber matemático. Essa matemática produzida na academia é uma entre muitas etnomatemáticas, pois é produzida por um grupo social específico, “os matemáticos”. Mas, para a área da Etnomatemática, os saberes populares, os modos de organizar e produzir conhecimento dos grupos sociais que não estão na academia também são reconhecidos como matemática, mais precisamente, são etnomatemáticas. São conhecimentos diferentes, que utilizam lógicas e processos diversos da matemática acadêmica, mas são também conhecimentos matemáticos. Esse é um dos aspectos que, na minha opinião, situa a Etnomatemática em uma perspectiva pós-moderna. A própria concepção de cultura com que a Etnomatemática trabalha é pós-moderna, no sentido de que a entende não mais como algo fixo, imóvel e transferível como uma “bagagem”, mas como envolvendo processos nos quais se estabelecem disputas, lutas “em torno da construção e da imposição de significados sobre o mundo social” (SILVA, 2001, p. 14) . O conhecimento, por sua vez, também não será considerado como algo pronto a ser repassado às gerações futuras. Ele também é marcado pelos processos culturais, é resignificado, re-criado, re-produzido permanentemente através das práticas sociais, em todos os grupos, quaisquer que sejam eles. A ênfase nos processos de significação envolvidos tanto na concepção contemporânea de cultura quanto na de currículo faz com que os pensemos como relações sociais. Silva (2001, p. 21-22) chama a atenção para essa questão quando diz que, se o currículo e a cultura são práticas de significação, então são necessariamente relações sociais, pois as práticas de significação não ocorrem de modo isolado, “livres da cultura”, mas sim em uma rede de relações, que são sociais. Nessas relações, se estabelecem disputas, negociações que ficariam invisibilizadas se a cultura ou o currículo fossem vistos somente como “produto”. Mesmo que houvesse a tentativa de ver, por exemplo, o currículo somente como produto, sempre “os traços das disputas por predomínio cultural, das negociações em torno das representações dos diferentes grupos, das 10 Marilene Santos lutas entre, de um lado, saberes oficiais, dominantes e, de outro, saberes subordinados, relegados, desprezados” ficam inscritos no currículo (ibidem, p. 22), lembrando sempre que este é uma relação social. O autor mostra, a partir dessas considerações, que, “se as relações sociais no interior das quais se realizam as práticas de significação não são simplesmente relações sociais, elas são mais do que isso: são relações sociais de poder” (ibidem, p. 23). Nesse sentido, o poder não pode ser considerado como algo estranho às “práticas de significação que constituem o currículo”. Ao contrário, faz parte dessas práticas de maneira intrínseca. Nesse jogo, identidades sociais são construídas. Mais ainda, construídas na relação com a diferença. Como argumenta Silva(ibidem, p. 26) ao produzirmos a diferença, definimos nossa identidade, que seria como se disséssemos: “sou o que o outro não é; não sou o que o outro é”. O currículo, nessa perspectiva, está diretamente implicado no processo de constituição de identidades. Como afirma Silva: O currículo também produz e organiza identidades culturais de gênero, identidades raciais, sexuais... Dessa perspectiva, o currículo não pode ser visto simplesmente como um espaço de transmissão de conhecimentos. O currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz. (SILVA, 2001, p. 27). Como o autor, nesta dissertação, não estou compreendendo o currículo como um mero instrumento de transmissão do conhecimento e da cultura, mas, seguindo Moreira e Silva (1995, p. 28), entendo-o como “um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”. Esses posicionamentos levam-me a entender que a pesquisa etnomatemática não está interessada em compreender as práticas como congeladas, se é que se pode considerar uma prática social como tal, mas na dinamicidade, na ambigüidade, no hibridismo dos processos culturais dos grupos estudados. Foram essas ambigüidades, esses hibridismos que busquei compreender nos assentamentos onde pesquisei práticas sociais da produção. Ao falar de hibridismo, estou entendendo-o sob dois aspectos articulados. O primeiro é aquele mencionado por Hall (2003, p. 91), que o entende como “a fusão entre diferentes tradições culturais – [que] são uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura”. Aqui, hibridismo está sendo utilizado para dizer da “mistura” de culturas, da “não-pureza”. Mas há um segundo aspecto a ser considerado na expressão hibridismo. É o hibridismo dos próprios sujeitos, que faz com que, ao invés de serem pensados como tendo uma identidade fixa, estável, são compreendidos como constituídos por múltiplas identidades. Como escreve Hall (2003, p. 13): “Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”. Dussel (2002, p. 65), ao escrever sobre hibridismo, relaciona esses dois aspectos que mencionei: Uma das questões básicas que podem ser assinaladas nos usos contemporâneos do termo [hibridismo] é a ruptura com a idéia de pureza e de determinações unívocas. A hibridação não só se refere a combinações particulares de questões díspares, como nos recorda que não há formas (identitárias, materiais, tecnologias de governo, etc.) puras nem intrinsecamente coerentes, ainda que essa mescla não seja intencional. 11 Marilene Santos Apoiada nas teorizações que nesta seção brevemente apresentei e mobilizada pelas questões com que me defrontava em meu trabalho nos assentamentos do MST em Sergipe, foi surgindo a pesquisa que hoje constitui esta dissertação. A problemática que examino no trabalho não é nova. Estudos como os de Abreu (1988) tratam de unidades de medida populares, mas o referencial teórico com que trabalham é o da Psicologia Cognitiva. Além disso, o campo empírico de meu trabalho traz a singularidade cultural dos assentamentos de Reforma Agrária, especificamente no Estado de Sergipe, onde, até o momento, que seja de meu conhecimento, não existe nenhuma pesquisa nessa direção. Foram os balizamentos apresentados nesta introdução que me levaram a formular como objetivo da dissertação: • analisar, em dois assentamentos da Reforma Agrária de Sergipe, práticas sociais da produção daquela cultura camponesa e as unidades de medida nelas envolvidas. Para compreender tais práticas e as unidades de medida nelas envolvidas, desenvolvi a pesquisa que está apresentada neste trabalho, que está estruturado em cinco capítulos. O primeiro é esta introdução. Aqui relatei parte de minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica e a experiência vivida durante o processo seletivo do programabolsa, que criou as condições para que pudesse ingressar no Curso de Mestrado do programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS. Nesta introdução, apresentei também o campo teórico no qual me apoiei para conceber a parte empírica da pesquisa e analisá-la. No segundo capítulo, descrevo os assentamentos onde foi desenvolvida a parte empírica da pesquisa e falo da luta pela reforma agrária em Sergipe. Ainda nesse capítulo apresento os procedimentos metodológicos utilizados e o sentido que dei a eles no desenvolvimento da pesquisa de campo. No terceiro capítulo, discuto sobre a implantação do Sistema Métrico Francês no Brasil e o processo de resistência que tal imposição ocasionou, destacando a Revolta dos Quebra-quilos. Nesse capítulo, ainda descrevo parte da história da definição da medida do metro, que seria a unidade padrão do Sistema Métrico Francês e as tensões que ocorreram nesse processo. No quarto capítulo, descrevo e analiso práticas sociais da produção da cultura camponesa dos assentamentos de Santaninha e Santana dos Frades e as unidades de medida nelas envolvidas. Ao estudar tais práticas e unidades de medida, discuto dos sentidos atribuídos a elas pelos assentados e assentadas daquelas comunidades e suas formas de organização do trabalho. Foram seis as práticas sociais da produção que estudei: a de tecer tarrafas, a de tecer redes para pesca de arrasto, a de tecer chapéus de palha, a prática social de fazer vassouras de palha, a de construir canoas e a de medir terra. O quinto capítulo encerra a dissertação. Nele apresento algumas reflexões sobre minha experiência como pesquisadora iniciante e trago as falas das professoras dos assentamentos estudados, analisando sua relação com as questões discutidas nos demais capítulos da dissertação. 12 Marilene Santos 2. PARTE EMPÍRICA DA PESQUISA O presente capítulo tem como objetivo apresentar a parte empírica da pesquisa, descrevendo os assentamentos estudados e examinando os procedimentos metodológicos que me possibilitaram analisar as práticas sociais de produção utilizadas por trabalhadores e trabalhadoras dos assentamentos Santana dos Frades e Santaninha, situados no município de Pacatuba, no nordeste sergipano. O Estado de Sergipe está localizado na região nordeste do Brasil. É o menor Estado da Federação,6 possui uma extensa costa litorânea, mas não tem no turismo uma fonte relevante da economia. Sua base econômica constitui-se principalmente da agricultura. Sergipe é um importante produtor nacional de laranja, coco e cana-de-açúcar, contando também com uma grande produção de petróleo. Destaca-se, ainda, pela variedade de seu artesanato em barro e palha e pelos bordados, que são a base econômica de alguns municípios, como Cedro de São João, Propriá, Santana do São Francisco e Brejo Grande. Esses municípios estão localizados no nordeste do Estado, e é nessa região que se localiza o município de Pacatuba. Segundo Góes (2002), o município de Pacatuba recebeu esse nome em homenagem ao cacique Pacatuba, que comandava a região por volta de 1600, até Cristóvão de Barros, por ordem do governo da Bahia, invadir Sergipe, provocando “uma verdadeira matança” (ibidem, p. 175). Ainda segundo Góes, após a conquista da região por Cristóvão de Barros, as terras da então aldeia Pacatuba foram incorporadas à sesmaria de Pedro de Abreu Lima, e, “por volta de 1640, padres jesuítas começam a levantar uma capela no aldeamento”. Essa capela foi a primeira marca do conquistador europeu colocada na aldeia. Com a expulsão dos jesuítas em 1732, as terras de Pacatuba são entregues aos capuchinhos, e somente em 1810 estes concluem a construção da capela. As terras férteis para o plantio da cana-de-açúcar fizeram com que Pacatuba tivesse um crescimento rápido para a época, o que, no entanto, por conta dos interesses de autoridades políticas da região, não significou sua emancipação política. Apenas em 1953, Pacatuba passa à condição de cidade, e “o município livre e independente só foi instalado em 31 de janeiro de 1955 quando foi empossado o seu primeiro prefeito, Manoel Ricardo dos Santos, e também constituída sua câmara de vereadores” (ibidem, p. 176). Pacatuba possui uma área de 406,2 km2 para uma população de 11.535 habitantes. Desse total, cerca de 18% vivem na zona urbana do município e 82%, na zona rural. O município está localizado a 116 km da capital do estado, Aracaju(SEBRAE, 2004). A produção agrícola anual de Pacatuba está baseada nas lavouras de cana-de-açúcar, com uma produção de aproximadamente 210.100 toneladas; coco-da-baía, com 14.782 mil frutos; arroz, com 1.842 toneladas; e mandioca, com 6.600 toneladas aproximadamente.7 6 O estado de Sergipe tem uma área territorial de 21.994 km2, distribuídos em 75 municípios. Os dados apresentados referentes a Pacatuba e aos assentamentos de Santana dos Frades e Nossa Senhora Santana foram retirados do Projeto de Educação de Jovens e Adultos nos Assentamentos de Reforma Agrária do Estado de Sergipe (UFS – 1996). 7 Marilene Santos No município de Pacatuba, atualmente, há quatro assentamentos de reforma agrária: Santana dos Frades, Nossa Senhora Santana, Cruiri e Lagoa Nova ou Nossa Senhora do Carmo, todos eles vinculados ao MST. Esses assentamentos estão localizados em uma mesma região, são vizinhos uns dos outros. Lagoa Nova foi o mais recente a receber a posse da terra, após dez anos de luta, e é constituído basicamente por filhos dos assentados de Santana dos Frades. A aproximadamente três quilômetros da sede do município, ficam os assentamentos de Santana dos Frades e de Nossa Senhora Santana, conhecido popularmente pelo nome de Santaninha. Foi nestes dois assentamentos que desenvolvi a parte empírica da minha pesquisa. A opção por esses dois assentamentos deu-se por vários motivos. Em primeiro lugar, pelas histórias diferentes que os dois assentamentos têm na luta pela conquista da terra. Os trabalhadores e as trabalhadoras de Santana dos Frades vivenciaram um longo e penoso processo de conflito até conseguir a posse da área que atualmente é o assentamento. Os trabalhadores e as trabalhadoras de Santaninha foram assentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) sem que fosse preciso enfrentar nenhum tipo de pressão. Em segundo lugar, os dois assentamentos participaram desde o início do projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos, coordenado pela Universidade Federal de Sergipe, no qual trabalhei durante cinco anos. Tal situação possibilitava-me desfrutar de certa confiança entre as pessoas para poder circular nos assentamentos, ir as suas casas, conversar sobre suas vidas e seus problemas, uma vez que muitas delas conheciam o meu trabalho. Em terceiro lugar, acreditava que, tendo histórias diferentes em suas trajetórias na luta pela conquista da terra, poderiam ter também práticas sociais diferentes, especificamente as relacionadas à utilização das unidades de medida e aos jeitos de medir, mesmo com os assentamentos sendo tão próximos um do outro. Durante o desenvolvimento da pesquisa, identifiquei que havia muitas semelhanças, mas também muitas diferenças no modo de viver dos trabalhadores nos dois assentamentos. Quando, em alguns momentos, pensava que determinada prática social seria realizada identicamente nos dois assentamentos, percebia um detalhe, uma característica que as diferenciava. Mas, principalmente, observei que práticas semelhantes são significadas de forma diferente pelos dois grupos. Em Santaninha, as mulheres que tecem tarrafas consideravam essa atividade como trabalho. Uma delas, na entrevista que me concedeu, afirmou que “gostaria que viesse algum projeto para ajudar nós a produzir e nós mesmo vender. Porque esse é o nosso trabalho” (Rosângela, assentada em Santaninha). Em Santana dos Frades, a produção de tarrafas e de outros produtos era realizada nas horas vagas, no lazer. O sentido que as mulheres de Santaninha atribuíam para essa atividade era diferente do que lhe era atribuído em Santana dos Frades. Em Santaninha, as mulheres teciam tarrafas em grupos de quatro ou cinco em suas casas. Trabalhavam de segunda a sexta-feira, sendo cada dia numa casa diferente. Um dos grupos que entrevistei, no primeiro dia, estava na casa de Rosângela; no outro dia, estaria na casa de outra assentada, que faltou ao trabalho naquele dia porque havia ido até a sede do município levar o filho pequeno ao médico. As trabalhadoras explicaram-me que, quando alguém precisava faltar ao trabalho antes que o grupo tivesse trabalhado em sua casa, não ficava devendo nada ao grupo, apenas naquela semana sua tarrafa ficaria parada, pois não trabalhavam nela. Mas se, ao contrário, já tivesse tido o seu dia de trabalho em casa, deveria pagar um dia para as companheiras do grupo. A forma de pagamento era sempre negociada, variando de acordo com 14 Marilene Santos as condições de cada uma. Essa forma de organização possibilitava que, numa semana de cinco dias de trabalho, elas conseguissem trabalhar na casa de todas as pessoas do grupo e garantir uma produtividade equivalente a cinco dias para cada uma. O mesmo não ocorria em Santana dos Frades. Lá cada trabalhadora tecia sua própria tarrafa sozinha, com ajuda das pessoas da família ou, quando tinha condição, pagava outras mulheres do assentamento ou dos povoados vizinhos para trabalharem para ela. Diferentemente de Santaninha, em Santana dos Frades, não era comum trocar dia de trabalho com outras mulheres. Ainda em relação à organização do trabalho, outra diferença que percebi foi quanto às formas de trabalhar na lavoura. Em Santaninha, cada família trabalhava no seu lote, geralmente, os homens – pais e filhos. Quando havia muito trabalho e não conseguiam dar conta, levavam também as mulheres – esposas e filhas. Se, ainda assim, precisassem de mais auxílio, pagavam dias de trabalho para outras pessoas fora do círculo familiar. Em Santana dos Frades, era muito comum a troca de dia de trabalho na lavoura, principalmente nos períodos de plantio, mas também durante a colheita. Nesses casos, as trocas eram semanais. O grupo trabalhava uma semana em cada lote. Conforme afirmação de Zé da Praia, a gente trabalha muito trocando dia com os companheiros. Numa semana, junta algumas pessoas pra trabalhar na roça da Arnalda; na outra, vão trabalhar na minha. Como eu trabalhei cinco dias pra Arnalda, ela vai trabalhar essa mesma quantidade de dias pra mim e pra quem trabalhou na roça dela (Zé da Praia, assentado em Santana dos Frades). É necessário enfatizar também, enquanto diferença relevante entre os dois assentamentos, o fato de algumas práticas serem desenvolvidas com mais freqüência num deles e com menos freqüência no outro. Em Santana dos Frades, a confecção de chapéus de palha, vassouras e redes para pesca de arrasto estava mais presente do que em Santaninha, onde a confecção de tarrafas se dava com maior intensidade. Quanto à forma de medir a terra, os dois adotavam práticas e unidades de medida idênticas. Pude observar que, em Santana dos Frades, mesmo com muitos desentendimentos, as decisões que envolviam todo o grupo eram tomadas coletivamente. As pessoas apresentavam e discutiam suas propostas até a exaustão, mas nada era decidido individualmente. Uma grande quantidade de pessoas participava, não só estando presente fisicamente, como também defendendo ou não as propostas e os problemas em pauta. Já em Santaninha, eram proporcionados momentos em que se discutiam coletivamente os problemas e as propostas, mas havia menos vozes nas discussões – muitos estavam presentes, mas eram poucos os que propunham ou argumentavam favoravelmente ou não às propostas apresentadas. Lá parecia que as pessoas esperavam sempre que o outro, geralmente a liderança local, apresentasse uma solução. Na minha opinião, o grupo de assentados de Santaninha apresentava muitas características que me possibilitam afirmar que priorizavam mais o individual. Ainda que com algumas formas de organização do trabalho desenvolvidas coletivamente, quando se tratava de decisões que envolviam o grupo de modo mais geral, havia pouca participação de seus componentes nas decisões. 15 Marilene Santos No entanto, as diferenças nos modos de dar sentido às práticas sociais da produção que encontrei nos dois assentamentos estavam marcadas por algo que era comum às duas comunidades: sua vinculação ao Movimento Sem Terra. 2.1 A luta pela terra no nordeste sergipano A literatura consultada registra que a luta pela terra em Sergipe, especificamente na região nordeste do estado, ganhou expressividade a partir da década de 1970, com forte apoio da Comissão Pastoral da Terra – CPT e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG. De acordo com Sobral da Silva (2002), a CPT foi criada pela igreja católica na década de 1970, e seus integrantes atuavam na defesa de camponeses e índios. Em Sergipe, a atuação da CPT assessorando e, algumas vezes, assumindo a liderança das lutas junto aos trabalhadores foi fundamental em movimentos como “o dos índios xocós, o dos posseiros de Santana dos Frades (Pacatuba) e de Betume (Propriá)” (ibidem, p. 26). A CONTAG, criada no final do ano de 1963, constituiu-se também numa importante organização com a qual os trabalhadores do campo podiam contar na luta pela terra. Sua atuação fazia-se presente através dos sindicatos rurais, que, em Sergipe, segundo Sobral da Silva (ibidem, p. 31), contaram com o apoio do Movimento de Educação de Base (MEB) para sua expansão. Somente duas décadas depois é que surge o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra tem se constituído num dos movimentos sociais que, de modo mais contundente, têm lutado pela defesa da reforma agrária. O movimento tem alcançado, nos últimos anos, grande expressão social e política, haja vista o espaço que tem ocupado na mídia brasileira e o respeito que por ele expressam os trabalhadores do campo e também da cidade. A luta pela posse da terra é o principal objetivo do MST, que, para alcançar seu propósito, tem organizado diversas atividades e ações objetivando forçar o Estado a realizar a reforma agrária no Brasil. Segundo Navarro (2002, p. 202), O MST (...) tem sido capaz de bem definir a sua base social e motivá-la. (...) é um movimento com expressiva capacidade de mobilização, o impacto de suas ações sendo, no geral, de grande visibilidade pública. Tendo se tornado um ator social reconhecido e participativo das lutas sociais, (...) já conseguiu forçar o nascimento de milhares de novos assentamentos em todo o Brasil. Ainda que as ações desenvolvidas pelo MST sejam insuficientes perante a demanda por terra no campo, esse movimento social tem conseguido provocar ações efetivas de reforma agrária no país. Se, com as pressões realizadas (ocupação de terra e de prédios públicos, principalmente), tem sido assentada uma quantidade de famílias aquém da necessidade, sem tais pressões, um número ainda muito menor teria sido beneficiado. Assim, o MST tem se constituído, nas últimas décadas, na principal organização social de trabalhadores e trabalhadoras do campo, seja para conquistar a terra, passando pelo apoio técnico e orientação para financiamentos, seja para estabelecer as formas de produção, organização e ocupação dos espaços de 16 Marilene Santos assentamento. Quando Knijnik (1996b, p. 10) fala sobre o surgimento dos movimentos sociais no Brasil e sobre as lutas pela reforma agrária, diz que, “entre estes movimentos sociais, aquele que tem demonstrado uma maior força organizativa e política é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra”. Também Lopes e Santos (1999, p. 171), ao discutirem sobre o papel do MST no Estado de Sergipe, afirmam que, Embora presente nas lutas desde 1985, a sua importância como ator social em Sergipe se dá a partir das primeiras ocupações que organiza em 1987, e o reconhecimento de seu papel como o principal – senão o único – interlocutor credenciado dos sem-terra sergipanos só vem de fato se consolidar em 1990. É ele quem não apenas sustenta e procura dar maior visibilidade à luta pela terra no estado como busca estabelecer uma prática de alianças com setores progressistas e intelectuais, além de continuar a exercer pressões junto aos governos estadual e federal no sentido de viabilizar as demandas e reivindicações dos assentados e daqueles que ainda estão lutando por um pedaço de terra. O MST é constituído por um grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras rurais expulsos da terra, principalmente pelos grandes latifúndios, sendo substituídos nas lavouras pelas mais sofisticadas máquinas agrícolas. Outros são pequenos proprietários que se vêem forçados a abrir mão de suas terras pela pressão dos grandes latifúndios. Como afirma Navarro, Organizado nacionalmente desde meados dos anos 1980, o MST tem tido uma capacidade surpreendente de reinventar-se politicamente, (...) seus desafios também são proporcionalmente maiores, por ter como base social os “mais pobres entre os pobres do campo”, normalmente grupos sociais de ocupação episódica, sem moradia definida, sem acesso à escolaridade e, quase sempre, facilmente vítimas de manipulações políticas de toda ordem. As lutas pela terra que hoje estão sendo coordenadas pelo MST começam a existir no Brasil com o fim da escravatura, no final do século XIX. A grande fileira de trabalhadores rurais expropriados da terra começa a ser formada com os ex-escravos recém libertos e expulsos das fazendas e engenhos, com os índios e seus descendentes, também expulsos da terra, e com os imigrantes logo que chegavam ao Brasil provenientes das mais variadas partes do mundo. Segundo Fernandes (2000, p. 28), A maioria absoluta dos trabalhadores, ex-escravos e imigrantes começaram a formação da categoria, que na segunda metade do século XX seria conhecida como sem-terra. Lutaram pela terra, pelo desentranhamento da terra, numa luta que vem sendo realizada até hoje. Essas pessoas formaram o campesinato brasileiro, desenraizadas, obrigadas a migrar constantemente. O Movimento Sem Terra organiza-se no meio rural no início da década de 1980, tendo sua atuação se concentrado inicialmente nos estados da região sul do país. Essa década, segundo Navarro (2002), assinala o surgimento do MST, seguindo-se à grande violência rural que caracterizou o período anterior (1970). Ainda segundo esse autor, a violência do campo ocorrida nessa época pode ter sido ocasionada pelo intenso processo de modernização do trabalho rural, que promoveu a substituição do agricultor pelas máquinas. O MST passou por fases distintas em sua trajetória. Três delas merecem ser destacadas, segundo Knijnik (1996b) e Navarro (2002). A primeira vai do surgimento dos primeiros acampamentos até o primeiro 17 Marilene Santos congresso nacional, realizado em Curitiba em 1985. Mesmo tendo concentrado suas ações na região sul, esse congresso teve também a participação dos demais estados. Nessa fase, há uma forte influência de setores da igreja católica. Em geral, as ações deliberadas no congresso foram “ações de pressão com menor potencial de confrontação, optando freqüentemente pela negociação e tendo como interlocutor principal os governos estaduais” (NAVARRO, 2002, p. 202). Nessa primeira fase, que, de acordo com Navarro, termina em 1986, quando se inicia o primeiro governo civil após o regime militar, o MST tinha como lema principal o slogan: “Terra para quem nela trabalha”, que expressava o objetivo do movimento. A fase seguinte é marcada por uma nova forma de ação. O movimento passa a organizar ações de enfrentamento, tanto com o governo e a polícia quanto com os grandes proprietários de terra. Nesse período, há ainda uma mudança na condução geral do movimento, fazendo com que os representantes da igreja assumissem o lugar de auxiliares e não mais de comando do movimento, como era até então. Agora era necessário não apenas ter terra para trabalhar, mas “ocupar, resistir, produzir” (ibidem, p. 203). Muda o lema do MST, e aumenta a quantidade de acampamentos e assentamentos de trabalhadores rurais sem terra por quase todos os cantos do país. A partir de 1994, há um outro momento da história do movimento, quando o MST passou a estar muito presente nos grandes noticiários, fator que tem provocado, por um lado, a conquista de novos aliados na luta pela terra e, por outro, tem gerado antipatia, desprezo e desconfiança de parte da população. Para Fernandes (2000, p. 285), “esses camponeses sem-terra falam suas próprias linguagens, conquistando o respeito e a admiração de alguns e a aversão de outros”. Essas “próprias linguagens” com que dizem de sua cultura os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, principalmente os assentados de Pacatuba, em Sergipe, é o que me interessou estudar nesta dissertação, olhando especificamente para os saberes matemáticos camponeses. O que possibilitou o destaque dado pela mídia ao MST, segundo Navarro (2002, p. 206), foi o fato de o movimento ter conquistado o estado de São Paulo, fator que se deu principalmente por conta dos enfrentamentos entre trabalhadores e ruralistas no Pontal do Paranapanema. Houve também dois trágicos episódios que repercutiram em âmbito nacional e internacional, o de “Corumbiara em Rondônia (agosto de 1995) e, depois, o massacre de Eldorado dos Carajás no sul do estado do Pará, ocorrido em abril do ano seguinte” (ibidem, p. 206). Tais episódios foram determinantes para as pressões sociais que eram favoráveis à reforma agrária. Novamente o MST muda seu lema, agora objetivando inclusive contemplar aliados conquistados para a defesa da reforma agrária. No III Congresso Nacional, adota novo slogan: “Reforma agrária: uma luta de todos” (ibidem, p. 206). Atualmente, o MST está presente em todas as regiões brasileiras. Segundo Fernandes (2000, p. 247), “nessa trajetória (...) de formação e territorialização, o MST se ampliou e deixou de ser só um movimento social para tornar-se também uma organização social presente em vinte e três unidades da federação”. Tem uma estrutura organizacional que conta com um grupo de lideranças formando a coordenação do movimento no âmbito nacional e grupos nos estados, que formam as coordenações estaduais e locais (nos assentamentos e acampamentos). Segundo Knijnik (1996b, p. 12-13), “a reforma agrária em 18 Marilene Santos torno da qual o MST está mobilizado não se reduz a medidas isoladas para resolver problemas locais, conflitos pontuais”. Junto com a conquista pela terra, reivindica também outros direitos, que, no início de sua constituição, não faziam parte das reivindicações, como saúde, educação e política agrícola. A formação do MST em Sergipe ocorreu simultaneamente a de outros estados do nordeste. Logo depois do I Congresso Nacional do MST, em 1984, do qual participaram nove trabalhadores rurais do sertão sergipano, inicia-se o processo de formação do movimento no estado, mas, de acordo com Fernandes (2000, p. 104), em outubro de 1987, com a ocupação da “Fazenda Monte Santo”, no município de Gararu, é que o “MST sergipano nasce (...)”. Naquela época, a região nordeste de Sergipe enfrentava vários conflitos pela posse da terra, principalmente no município de Pacatuba. Lá há pouco havia sido travada a luta dos posseiros da fazenda Santana dos Frades – posteriormente assentamento Santana dos Frades – contra o fazendeiro que tentava expulsá-los da área. Os trabalhadores e trabalhadoras, naquele momento, contaram com o assessoramento da diocese de Propriá, através da Comissão Pastoral da Terra e dos sindicatos de trabalhadores rurais. O assentamento Santana dos Frades foi incorporado ao grupo de assentamentos vinculados ao MST após a imissão de posse, visto que, no período de luta desse grupo, o movimento ainda não havia se constituído no estado. As primeiras ações do MST em Sergipe aconteceram na região do sertão, inclusive onde também foi montada a primeira sede do movimento no estado. Apenas a partir do enfraquecimento e posterior extinção da Comissão Pastoral da Terra – CPT da diocese de Propriá, que, segundo Lopes & Santos (1999, p. 171), vai “de uma ação mais combativa e direta no apoio às lutas dos trabalhadores rurais a uma postura mais conciliadora” é que Santana dos Frades passa a se vincular ao MST. Em 1985, no município de Poço Redondo, aconteceu a ocupação da fazenda Barra da Onça. Nessa ocupação, além dos sindicatos e da Comissão Pastoral da Terra, houve também a participação de pessoas que faziam parte do grupo que estava gestando o movimento. Após essa participação do MST na Barra da Onça e sua primeira ocupação de terra no município de Gararu, seguiram-se muitas outras, que foram tornando o Movimento, em Sergipe, a maior referência para a grande maioria de trabalhadores e trabalhadoras rurais na luta pela conquista da terra. Esse reconhecimento do MST por camponeses e camponesas tem se efetivado porque, segundo Lopes e Santos (1999, p. 180), “(...) as lutas no campo sergipano têm sido conduzidas solitariamente pelo MST, pelo menos no que diz respeito às ocupações de terra e enfrentamento direto com os latifundiários e com o governo”. Os estudos realizados por Lopes (1999) e Sobral da Silva (2002) identificam que a autonomia e a liderança do MST, a partir de 1990, imprimiu um novo impulso à reforma agrária no estado de Sergipe, face a outros movimentos sociais. Outro fator que contribuiu muito para o MST ocupar o lugar que até então era da Comissão Pastoral da Terra foi, entre outros, a capacidade de reunir milhares de pessoas ao mesmo tempo, como na ocupação da fazenda Santana do Cruiri, no Município de Pacatuba. Segundo Fernandes (2000, p. 105), “na madrugada do domingo de carnaval de 1989, aproximadamente mil famílias, quase cinco mil pessoas, entraram na fazenda Santana do Cruiri”. A região de Pacatuba e Propriá foi a segunda na qual o MST começou a atuar em Sergipe. Ao longo dessas duas décadas, muitos outros assentamentos que não eram vinculados ao Movimento Sem Terra 19 Marilene Santos passaram a ser, visto que o movimento se tornou o principal interlocutor junto a camponeses e camponesas. Ainda é muito presente, nos assentamentos de Pacatuba, a vinculação entre trabalhadores e trabalhadoras com algumas instâncias da igreja Católica, que ainda permanece de forma tímida atuando na região. A efetiva atuação do MST em Sergipe tem acontecido também através de apoio à luta de outras categorias profissionais. Em muitos momentos, agricultores e agricultoras deixam o campo para irem à cidade e contribuir para fortalecer as lutas de trabalhadores e trabalhadoras urbanos. Em contrapartida, estes também têm, em varias ocasiões, ajudado a aumentar as fileiras de camponeses e camponesas sem terra em suas marchas pelas cidades. Em Aracaju, é freqüente a participação e o apoio de categorias de trabalhadores urbanos, como a do magistério, especificamente, nas atividades que o MST desenvolve na cidade, tais como as marchas e a ocupação de prédios públicos. Por sua vez, também em algumas atividades de luta do magistério ou da Central Única dos Trabalhadores, representantes do MST fazem-se presente, prestando seu apoio. Os assentamentos sergipanos dispõem somente da força de trabalho dos próprios agricultores e agricultoras para a lavoura. É praticamente inexistente, nos assentamentos, a presença de máquinas para facilitar o trabalho na terra. Quanto às condições de infra-estrutura, os relatórios técnicos do INCRA (2003, p. 23) apresentam dados sobre as condições em que os assentados e assentadas vivem nos projetos de assentamentos (PAS): Verifica-se, ainda, que 50% dos PAS não possuem abastecimento de água para o consumo doméstico e para o processo produtivo agropecuário, 52 % carecem de eletrificação. As unidades escolares estão ausentes em 58% dos PAS, enquanto 10% das antigas sedes das fazendas desapropriadas funcionam como unidades escolares, os postos de saúde ou qualquer unidade básica estão ausentes em 90% dos PAS e em 96,2% os postos telefônicos são inexistentes, as áreas de lazer funcionam nas casas sedes das antigas fazendas desapropriadas, nas unidades escolares e nas sedes das associações, quando estas existem. É comum a construção improvisada de galpões, que funcionam como espaços para as reuniões, salas de aulas e áreas de lazer. Aproximadamente 80% dos assentamentos produzem apenas para subsistência. É o caso dos dois assentamentos que pesquisei. Estudos recentes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos SócioEconômicos apontam, com base nos dados do IBGE,(DIEESE, 2004) uma renda no campo equivalente a “R$ 5,00 (cinco reais) a diária por pessoa” no período sazonal, caindo ainda mais nos outros períodos. A comercialização, nesses casos, se dá somente quando há excedente da produção. Em alguns assentamentos, foram desenvolvidas algumas experiências de trabalho coletivo. Segundo relato de alguns assentados, Santana dos Frades foi um dos que tentou “criar gado no coletivo e não deu certo”. Nenhuma das pessoas que falou sobre essa questão me explicou os motivos de não ter conseguido trabalhar coletivamente. Houve quem dissesse ter sido “porque dava muita confusão e briga entre os companheiros”. As experiências coletivas tiveram o objetivo de tornar os assentamentos mais produtivos como geradores de renda e a inseri-los no mercado. No entanto, como me foi relatado, a maioria dos grupos de trabalho coletivo teve muitos problemas de cunho interno e estrutural, o que os levou à dissolução em pouco tempo. 20 Marilene Santos Há também muitas áreas assentadas nas quais os trabalhadores e trabalhadoras não conseguem produzir sequer para a subsistência. Na região do sertão, principalmente no período de longa estiagem, muitas famílias relataram terem vivenciado momentos muito difíceis de privação, principalmente de alimentos. É comum na região a distribuição de cesta básica por parte dos governos para atender a uma quantidade muito grande de famílias que enfrentam tal situação durante a seca nordestina. O MST sergipano, a exemplo de outros estados, tem optado por também priorizar a discussão e orientação dos assentados para questões como educação e saúde. Nesse sentido, uma das ações primeiras quando há uma ocupação de terra é a formação desses coletivos. A preocupação com o alto índice de pessoas jovens e adultas sem escolarização nos assentamentos levou a coordenação estadual do MST a solicitar, em 1995, da Universidade Federal de Sergipe, um projeto de alfabetização para pessoas jovens e adultas a ser desenvolvido em todos os assentamentos do estado. O projeto, elaborado e executado em parceria do MST com a universidade, tornou-se referência para criação e implementação do Programa Nacional de Alfabetização na Reforma Agrária – PRONERA, que atualmente está presente em quase todos os estados do norte e nordeste do país. Foi a partir do desenvolvimento do projeto sergipano nos assentamentos, da convivência com os assentados, observando como resolvem seus problemas e lidam com os saberes matemáticos de sua cultura camponesa que tomei a decisão de realizar a parte empírica da pesquisa nos assentamentos Santana dos Frades e Santaninha, no município de Pacatuba. 2.2 O assentamento Santana dos Frades O assentamento Santana dos Frades possui uma área de 1.397 hectares, onde vivem e produzem noventa e três famílias. Uma parte da área – aquela correspondente ao coqueiral nativo – é de uso coletivo. Uma outra parte é dividida em lotes individuais, nos quais cada família possui uma residência e faz suas plantações. É nessa área que os assentados produzem a mandioca, o feijão, o milho e o amendoim, basicamente, que constituem, junto com a produção de coco do lote coletivo, a base econômica do assentamento. Segundo um dos assentados, atualmente, Santana dos Frades produz o suficiente apenas para a sobrevivência das famílias assentadas. A produção excedente é irrelevante em termos de produção agrícola para comercialização. Segundo Andinho, um dos agricultores que entrevistei, O assentamento produz cerca de 50 mil cocos por tiragem. São quatro tiragens anuais, uma em cada estação do ano. Essa é nossa produção coletiva. A mandioca, o feijão, o amendoim e o milho, a produção é por família. Cada família tira por ano entre 400 e 300 celamim de farinha de mandioca, cada celamim dá mais ou menos sete quilos, e quatro ou cinco sacos de feijão – sacos de 50 quilos. O amendoim é bem menos, nem todos plantam, e os que plantam tiram geralmente entre dez a 15 celamins. A terra aqui não é muito boa para o milho, então plantamos apenas para o próprio consumo. O que plantamos com intenção de vender é o feijão e a mandioca, que vendemos a farinha. 21 Marilene Santos Aliada à produção agrícola, Santana dos Frades produz também redes para pesca de arrasto, chapéu de palha, vassouras de palha e tarrafas. Esses produtos são denominados pelos assentados como “a produção artesanal”. Toda a produção artesanal é comercializada fora do assentamento, mas, como é uma quantidade muito pequena, não há dados sobre a produção anual da comunidade. Quando da realização da parte empírica da pesquisa, nas entrevistas que realizei, tomei conhecimento de que as famílias que se tornaram assentadas em Santana dos Frades sempre viveram nessa fazenda. Eram posseiros. Seus pais, avós e ancestrais mais longínquos sempre viveram na área correspondente à fazenda Santana dos Frades. Quando os padres a venderam, o novo dono começou todo um processo que objetivava retirar as pessoas de dentro da fazenda. Nesse meio tempo, alguns acordos de trabalho foram firmados entre o fazendeiro e os agricultores e agricultoras para que pudessem permanecer na fazenda. Por isso, essas pessoas tornaram-se arrendatários, pagando uma renda para ter o direito de morar e trabalhar nas terras. Depois, foi adotado o sistema de eito, que consistia em cada trabalhador ou trabalhadora dedicar um dia de trabalho por semana para a fazenda e com isso garantir sua permanência ali. No livro Começo de Mundo Novo, no qual Alves dos Santos (1990, p. 17) conta a história da luta de trabalhadores de Santana dos Frades através da literatura de cordel e músicas religiosas, essa situação está bem evidenciada: Em 1911, a fazenda entrou em negócio, Frei João de Araújo vendeu a terra para o Coronel Manoel Gonçalves por trinta mil réis (..) o coronel tomou conta. Nós ficamos nas unhas dele. Com ele começou a história do arrendamento. (...) depois o povo começou a deixar de pagar renda. Então veio a história do eito. Um dia todo para fazer o que a fazenda mandasse. As condições impostas a trabalhadores e trabalhadoras geralmente colocavam-nos em desvantagem, a ponto de serem forçados a pagar por qualquer prejuízo que a fazenda tivesse. Pagavam inclusive pelo gado que viesse a morrer na fazenda. Além de tudo, muitas vezes tinham suas roças destruídas pelo gado que o fazendeiro mandava soltar com esse fim. Alves dos Santos (ibidem, p. 25) relata que, quando os posseiros iam reclamar para um empregado da fazenda, escutavam dele que “nunca vi[ra] fazenda com gente. Tinha que tirar essa mundiça8 daqui e plantar capim”. Quando o fazendeiro mandou construir uma cerca ao redor das casas e roças para, em seguida, colocar o gado dentro dessa área cercada, trabalhadores e trabalhadoras organizaram um grupo de sete pessoas para ir até a capital do estado buscar alguma alternativa. Procuraram a justiça do trabalho e foram orientados a pedir ajuda ao bispo da diocese de Propriá. Os representantes seguiram as orientações dos funcionários da justiça do trabalho e procuraram o bispo D. José Brandão de Castro. A Comissão Pastoral da Terra, junto com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Sergipe, passou a assessorar os trabalhadores e trabalhadoras, que, a partir de então, ganharam mais força para impulsionar a luta. Esta foi se intensificando, com vários momentos de violência, pela posse da terra. 8 Segundo o autor (ALVES DOS SANTOS, 1990), O termo “mundiça” era utilizado no sentido de ralé, gentalha, gente inferior. 22 Marilene Santos Um dos assentados de Santana dos Frades – Curinha –, que, junto com mais seis trabalhadores, deu início ao processo de luta naquela ocasião falou sobre as condições que o forçaram a tomar tais iniciativas: Aqui chegava um homem com um rifle e dizia: “O serviço é em tal lugar pra você ir fazer”. Isso pra ganhar a diária que eles quisessem dar. E a diária que eles queriam dar, sabe qual era? Queria não, davam! Era o direito de sobrevivência na terra. Pra nós, que tinha nascido aqui. E quem fazia isso era um homem que a gente não conhecia, mandado de não sei quem. A gente nem conhecia o comandante, o vaqueiro que vinha falar pra gente ir trabalhar na fazenda pra eles e nem conhecia o dono, via falar que era um coronel Gonçalves. Meu pai se criou assim aqui. Foi por isso que eu tomei teimosia nessa luta daqui. Todo mundo dizia: “É o brabo, é o brabo, é o Curinha”. Porque eu falava. Eu com nove filhos, onde era que eu ia sobreviver com nove filhos, e os capangas plantando capim dentro de uma mandioca que eu tinha? Aí eu dei tudo. Olhe aí quem apanhou [Andinho]. Eu não apanhei porque eu conheço muito do mato. Ele, como é mimoso, não gostava de pegar numa espingarda pra conhecer do mato, não sabia se esconder, só andava na estrada, apanhou. E eu não apanhei porque não tava na hora, tava escondido. Porque quem mais eles procuravam era por Curinha. Queriam botar o olho em cima de mim, acho que pra me matar. Assim como Curinha, a grande maioria dos assentados e assentadas de Santana dos Frades descende da união entre negros e índios que viveram naquela região. Santos (1990, p. 15) refere-se a essa questão, citando o depoimento de um dos integrantes daquela comunidade: “Somos uma raça negra que pega o nome de índio. Nós somos caboclos. Tudo de uma cor só. Estando sem camisa dentro de uma lagoa, numa pescaria, olhando para um, olhou para todos”. Nessa fala, há uma espécie de supremacia da identidade étnica dos homens de Santana dos Frades sobre todas as demais identidades que os constituem, a ponto de que “olhando para um, olhou para todos”. As identidades femininas estão silenciadas, assim como as produzidas pela diferença de geração e sexualidade. Uma outra marca da cultura das mulheres e homens camponeses de Santana dos Frades está relacionada à fé. São muito religiosos, e o forte apoio da igreja católica na vida e na luta pela posse da terra possivelmente tem ligações com isso. Explicam quase tudo − tanto os problemas quanto as vitórias que conquistam − pela “vontade de Deus”. Uma senhora, enquanto ouvia a entrevista que eu realizava com uma de suas filhas, ao ouvi-la falar sobre os baixos preços de um dos produtos artesanais, disse: “Mas é assim mesmo minha filha, não cai uma folha do pé de pau sem que seja pela vontade de Deus. Um dia, as coisas melhoram, temos que confiar Nele”. A devoção era uma característica tão forte nas pessoas que os quatro assentamentos da região mantiveram nomes de santas, sendo dois com o nome da mesma santa, Santana. Curinha, o camponês de Santana dos Frades que tinha presente muito da história da luta pela terra na região, falou que o nome do assentamento foi mantido igual ao da fazenda, em homenagem à Nossa Senhora Santana, que era “a verdadeira dona da fazenda até os padres acabarem com toda a sua riqueza e vendê-la por algumas moedas para o fazendeiro que depois queria expulsar os trabalhadores e provocou o início da luta” . Sobre essa questão, Alves dos Santos (ibidem, p. 16) apresenta a narrativa de um assentado: 23 Marilene Santos A imagem da Santa ninguém sabe de que tempo vem. Meu pai contava, o avô dele contava, mas nunca se chega no tempo da Senhora Santana, nossa padroeira. Parece que ela foi minada aqui dentro mesmo, em forma de um encanto. Era uma Santa riquíssima. Quando os índios chegaram aqui ficaram com ela e zelavam da riqueza dela. Era tudo gente muito inocente. Não dava desfrute ao que era da Santa, antes produzia. Quando pensava que não, chegou o homem que vivia no quartel com uns outros homens que diziam que eram frades. Essa tropa manifestada em frades carmelitas era uma campanha de ladrão. Chegaram aqui e foram enganando os caboclos inocentes com umas reza no altar... Eles comeram a riqueza da Santa e o que sobrou deram cabo de tudo. Isso foi no tempo dos Afonsos... era essa a missão desses padres. Criaram e zelaram tudo para depois acabar vendendo a terra e o gado da Santa pó trinta moedas. E a Santa ficou sem nada. A Valença dos inocentes que sobreviviam com a santa foi que, na hora da venda, deixaram uma légua em quadro para a Santa e os moradores. E quem comprou essa terra foi um português brabo por nome de Manoel Gonçalves. Ele fez de tudo para apagar a doação da légua em quadro e não queria soltar a terra para nós. Foi preciso nós derramarmos o nosso sangue para hoje termos o direito que temos. Essa narrativa mostra como a igreja esteve presente na vida daquelas pessoas. A Santa tinha nascido na terra, antes da chegada dos representantes da igreja, mas, posteriormente, a mesma igreja que “dilapidou” a riqueza da Santa entra na luta com trabalhadores e trabalhadoras pela conquista da terra. Dona Arlinda, primeira professora do assentamento, falou, em uma das entrevistas, dessa influência entre os trabalhadores e trabalhadoras dizendo que: “Ah, minha filha, aqui teve uma guerra por causa dessa terra, e foi comandada pelo padre, foi ele que botou fogo no povo”. A assentada faz referência ao apoio que a diocese de Propriá, através do bispo D. José Brandão de Castro, deu à luta dos posseiros de Santana dos Frades. O conflito vivenciado pelos posseiros nesse assentamento tem sido considerado como um dos mais importantes na luta pela conquista da terra no estado nas últimas décadas. Para Lopes e Santos (1999, p. 177), Até 1985, apenas três acontecimentos ligados à luta pela terra podem ser considerados relevantes (...) O primeiro desses conflitos envolvia os índios xocó (...) os outros dois, disputas de terra entre antigos “meeiros” de arroz do Baixo São Francisco, expulsos pela Codevasf (...) e posseiros da Fazenda Santana dos Frades, que estavam na iminência de perder as terras que ocupavam havia anos em virtude da decisão da empresa Serigy-seragro, que se dizia dona da área, de contratar jagunços para expulsá-los. (...) Esses conflitos tiveram na diocese de Propriá e no Sindicato dos trabalhadores rurais de Pacatuba os principais agentes de mobilização e organização dos camponeses... Santana dos Frades foi o segundo assentamento do Estado de Sergipe a receber imissão de posse em 14 de abril de 1982. Os trabalhadores da antiga fazenda iniciaram a luta pela conquista da terra em 1978, quando foram ameaçados de expulsão da fazenda onde haviam nascido e se criado. Em vários depoimentos de mulheres e homens da comunidade, escutei que, do início da luta até a imissão de posse da terra, trabalhadores e trabalhadoras vivenciaram o confronto direto com a polícia e com os jagunços contratados pelo antigo proprietário do latifúndio. Muitos trabalhadores foram espancados, outros tiveram que se esconder na mata durante um período para não serem assassinados. O acesso ao assentamento dá-se por uma estrada de barro que interliga os outros assentamentos da região, outros povoados e a sede do município. A estrada corta Santana dos Frades ao meio, separando a área 24 Marilene Santos de lotes individuais da área coletiva, o coqueiral. As casas foram construídas em alvenaria, localizadas à beira da estrada, de frente para o coqueiral, percorrendo uma extensão de aproximadamente quatro quilômetros. A distância entre uma residência e outra varia de 50 a 70 varas aproximadamente; os limites entre elas se dão pelo tamanho reservado a cada lote, que, segundo Andinho, mede 21 tarefas. No final da área do assentamento, há uma praça, onde foi construída a capela da Senhora Santana, padroeira do assentamento. E é nessa mesma praça que as pessoas se reúnem para as festas, geralmente religiosas. Na praça acontece também uma feira semanal, que beneficia os quatros assentamentos e povoados vizinhos. Essa feira foi o resultado de uma conquista recente dos assentados, pois, até pouco tempo atrás, estes eram forçados a se deslocar até a sede do município para qualquer atividade de compra ou de venda de produtos. Quando lá estive, havia apenas dois estabelecimentos comerciais – uma bodega,9 com pouca variedade de produtos expostos para venda, e um distribuidor de gás de cozinha. A bodega fica quase todo o dia fechada. Sua maior atração é uma sinuca, que concentra, no final do dia, alguns jovens para jogar. A escola, com apenas duas salas de aula, ficava localizada também à beira da estrada, do mesmo lado das casas e no centro do assentamento. Pertencente à rede estadual de ensino, atendia às séries iniciais do Ensino Fundamental durante o dia. Desde o início do Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos, os assentados e assentadas já não podiam contar com a escola para o funcionamento das aulas, uma vez que ainda não havia luz elétrica. As aulas funcionavam em um galpão, onde eram guardadas as máquinas e onde também os assentados realizavam suas reuniões coletivas. Esse era o único espaço público onde havia energia elétrica. 2.3 O assentamento Santaninha O assentamento Nossa Senhora Santana, mais conhecido por Santaninha, foi constituído pelo INCRA para atender à demanda por terra dos trabalhadores e trabalhadoras que também viviam na fazenda desapropriada, mas que não haviam participado da luta pela posse da terra. Essas pessoas foram assentadas pelo INCRA numa outra parte da fazenda. O assentamento possui uma área de 187 hectares para 36 famílias assentadas. A imissão de posse foi expedida no dia 15 de dezembro de 1992. Santaninha tem como principal base econômica a produção de coco, mandioca e feijão. Assim como em Santana dos Frades, em Santaninha o milho produzido atende apenas ao consumo de cada família. Lá, toda a área foi dividida em lotes individuais. Nenhum dos assentados e assentadas entrevistados por mim fez referência a uma forma de trabalho coletivo quando se trata da agricultura, de lidar com a terra. Nesse sentido, a única parceria que me pareceu haver era entre os componentes de cada família, ou seja, quando havia muito trabalho na roça, todos os integrantes da família, dependendo do tamanho, até crianças, são convocados para trabalhar. No período de menos trabalho, somente o homem assume tal responsabilidade na 25 Marilene Santos lavoura. O mesmo não acontecia com o trabalho artesanal, que, em Santaninha, tem sido assumido pelas mulheres. Nessa área produtiva, principalmente na tecelagem de tarrafas, o trabalho era realizado sempre coletivamente. Em todos os momentos que observei as mulheres tecendo tarrafas em Santaninha, era sempre em grupo, fator que não ocorreu nas minhas observações nas roças. Em Santaninha, a participação nas mobilizações promovidas pelo MST geralmente era mais tímida que em Santana dos Frades. Provavelmente por terem histórias de lutas diferentes, muito menos pessoas participavam dessas atividades, contando geralmente com poucos representantes seus nas manifestações e marchas do movimento. Essa é uma das características que diferenciam os dois assentamentos. Já a religiosidade é uma marca muito forte nas pessoas de Santaninha, tal como acontece em Santana dos Frades. No assentamento Santaninha, havia também a produção de tarrafas, redes e chapéus de palha, sendo que as tarrafas lideram a produção artesanal. Algumas das assentadas que produzem tarrafas não são responsáveis pela comercialização de sua produção, ficando essa tarefa a cargo de terceiros, que financiam o material necessário para a confecção das mesmas e compram toda a produção. As assentadas recebem somente o pagamento referente ao trabalho artesanal. Nesse assentamento, tanto a produção agrícola quanto a artesanal não têm sido contabilizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras. Alguns argumentaram que, como sua produção destina-se apenas para o próprio consumo, não tem sentido a contabilização de despesas e receitas, lucros e prejuízos. O grupo não tinha essas informações quando estive lá. Supus que talvez a maneira como eles se organizam para a produção agrícola –individualmente – seja um fator que tem contribuído para isso, pois, como cada um é responsável pelo que produz e produz apenas para a subsistência, não precisavam prestar contas. Isso faz com que a quantificação se torne desnecessária para eles. Também em relação à história do assentamento, não encontrei nenhum material disponível para analisar, com exceção do termo de posse da terra. O grupo de pessoas assentadas em Santaninha compõe o segundo grupo de trabalhadores e trabalhadoras da antiga fazenda Santana dos Frades. Quando o primeiro grupo (hoje assentado em Santana dos Frades) iniciou o processo de luta pela posse da terra, esse segundo grupo optou por manter-se fiel ao fazendeiro e contrário aos companheiros de trabalho. Quando a terra foi conquistada, o grupo que era contrário àquela reivindicação voltou atrás, solicitando ser também incluído na área desapropriada. Tal situação gerou tensão entre os trabalhadores e trabalhadoras, e a proposta não foi aceita, forçando o INCRA a encontrar uma alternativa. Alves dos Santos (1990), já referido nesta dissertação, também faz referência a esse momento, que culminou com a formação de um outro assentamento para o segundo grupo de trabalhadores e trabalhadoras – o assentamento Santaninha. Nesse livro, o autor descreve a proposta que o INCRA enviou para que constasse no decreto de desapropriação que o presidente da República da época assinou. Um dos principais itens, o que determinava o tamanho da área a ser desapropriada, dizia que seriam 1.400 hectares, enquanto os trabalhadores lutavam por 2.500 hectares. Diante do que os funcionários do INCRA afirmaram, os trabalhadores concluíram que: 9 A palavra “bodega” refere-se aqui a uma pequena casa comercial, que, nos povoados e pequenos municípios 26 Marilene Santos A parte que foi desapropriada era insuficiente para as noventa e três famílias dos unidos. Mesmo assim o INCRA ia diminuir o lote de cada um, para beneficiar oitenta famílias que ficaram na área remanescente da Seragro. Quer dizer que o INCRA queria livrar a Seragro dos posseiros que sempre foram contra a nossa luta, colocando todos eles na nossa terra. Fomos assuntando as propostas do INCRA e vimos o seguinte: Foram 1.400 hectares desapropriados. Tirando 320 hectares de brejo, 580 hectares de mata, sobrava a parte sombreada pelo coqueiral e um pedacinho de terra para as roças. E por isso não aceitamos a proposta do INCRA de colocar mais gente aqui, não. Depois de tanta luta, uma proposta dessa tem até parença10 de chamar para briga (1990, p. 48-49). Santaninha está cercada por três assentamentos: Santana dos Frades, o primeiro da região, Nova Cruiri, que era parte de um grande latifúndio no estado, portanto, palco de muito conflito, e Lagoa Nova, que vivenciou um longo período – 10 anos mais ou menos – entre a ocupação e a desapropriação da área. Na região de Pacatuba, as famílias de Santaninha, conforme afirmei anteriormente, foram as únicas que não enfrentaram o processo de ocupação da terra. Não vivenciaram as pressões dos fazendeiros para desocupação da área, pois mantiveram-se, durante todo o tempo de conflito dos trabalhadores de Santana dos Frades, contrárias ao movimento. Inicialmente, não acreditaram na possibilidade de saírem vencedoras na luta contra o latifúndio. Somente quando a área foi desapropriada é que assumiram outra posição e passaram a reivindicar também o direito de serem assentadas. 2.4 Procedimentos metodológicos Para realizar a parte empírica da pesquisa, permaneci durante sete dias, no final de janeiro de 2004, no assentamento Santaninha e também sete dias, no começo de fevereiro do mesmo ano, em Santana dos Frades. Durante minha permanência nos assentamentos, ficava hospedada com as famílias, que me receberam muito bem, inclusive me acompanhando em algumas visitas quando se tratava de pessoas que não me conheciam. A convivência com assentados e assentadas foi fundamental para o meu trabalho, principalmente porque me possibilitou observar as práticas sociais acontecendo no cotidiano. Geralmente, quando eu chegava nas residências ou nas roças, já encontrava as pessoas no exercício das atividades que estava interessada em examinar. O início do trabalho foi muito conturbado, adiado por duas vezes por conta da dificuldade de chegar nos assentamentos. O mês de janeiro de 2004 foi marcado por uma drástica mudança climática na região nordeste. Esse mês, que geralmente é conhecido pelos dias ensolarados do verão, naquele ano começou com fortes chuvas ininterruptas, que se prolongaram por algumas semanas, provocando muita destruição. A frente fria que provocou as chuvas chegou primeiro no estado de Sergipe, depois atingindo os outros estados da região, geralmente é a única opção de compra existente durante a semana. 10 O termo parença é utilizado pelos assentados e assentadas no sentido de aparência, de parecer com algo, de ter o “jeito” de algo ou alguma coisa. 27 Marilene Santos da região nordeste do país. Essa situação fez atrasar em mais de uma semana o início de meu trabalho no campo, pois as estradas que dão acesso aos assentamentos apresentavam perigo de desmoronamento. Quando finalmente consegui chegar ao assentamento Santaninha, onde iniciei o trabalho empírico, fui obrigada a interromper as atividades no meio da tarde do primeiro dia porque as estradas estavam alagadas com a forte chuva que caía e eu não conseguia ir de uma casa para outra, pois havia se formado um lago no meio do assentamento. Nesse dia, enquanto ouvia as pessoas agradecerem a Deus por toda aquela chuva, sentia-me impotente e muito irritada. Afinal, detesto chuva e por causa dela estava imobilizada, não podia sair de casa para dar continuidade às entrevistas que havia iniciado já com atraso. Estava perdendo tempo, tinha perdido o controle da situação naquele momento. Retomei o trabalho somente no outro dia, quando a chuva cessou um pouco. Impressionou-me muito a amabilidade das pessoas e o prazer que demonstravam em colaborar comigo, colocando-se à minha disposição para o que fosse necessário. Algumas já me conheciam do período em que coordenava o projeto de alfabetização, outras sabiam do projeto, mas não conheciam “o povo da universidade”, pois essa era a forma como nos identificavam na época. Em algumas casas, tanto em Santaninha quanto em Santana dos Frades, ouvi de algumas pessoas a frase: “Pensei que não ia vir aqui na minha casa”, parecendo expressar com isso um desejo de participar, de conversar sobre o que, de antemão, já sabiam que eu pesquisava. Entrevistei, no assentamento de Santaninha, 14 pessoas, sendo 11 mulheres. Em Santana dos Frades, entrevistei 18 pessoas, sendo 12 mulheres. O número maior de mulheres com quem conversei deveuse ao fato de que, dentre as seis práticas sociais analisadas, quatro eram desenvolvidas pelas mulheres ou tinham uma maior participação delas. As entrevistas foram gravadas e transcritas, e, dessas transcrições, somente alguns fragmentos foram selecionados por mim para serem analisados nessa dissertação. Quando iniciei o trabalho de campo, tinha o olhar voltado para compreender questões específicas da medição de terra, ou seja, pretendia estudar as unidades de medida de terra utilizadas pelos assentados. Estava interessada apenas nas unidades relacionadas à medição da terra. Queria compreender o processo de construção e de utilização dessas unidades de medida dentro dos assentamentos e supunha que essa seria a única prática social que estudaria. No entanto, no período em que estive nos assentamentos, quando chegava numa residência, quase sempre encontrava as pessoas desenvolvendo alguma atividade relacionada a outras práticas sociais associadas à produção: estavam tecendo redes, tarrafas, tranças, construindo uma canoa ou medindo partes do lote que estava sendo preparado para o plantio. As pessoas estavam constantemente envolvidas em atividades ligadas à produção. Surpreendeu-me quando, ao entrevistar as pessoas sobre como mediam a terra, quase sempre escutava um complemento em seus argumentos. Havia explicações sobre como mediam outros artefatos de sua cultura, como redes, tarrafas, chapéus, vassouras. Eu as ouvia, deixava que falassem, mas estava sempre interessada nas unidades de medida de terra. Ao final de cada dia, geralmente à noite, quando ouvia as fitas com as narrativas das pessoas explicando como mediam, como aprenderam a medir, como faziam as transformações de suas unidades de medida para as do sistema padrão e, em alguns casos, como ensinavam os 28 Marilene Santos filhos a medir e por que continuavam utilizando tais unidades ainda hoje, dei-me conta de que tinha obtido muita informação também sobre outras práticas e outras unidades de medida utilizadas cotidianamente naqueles assentamentos. As narrativas estavam “contaminadas” de informações sobre um conjunto de práticas sociais nas quais uma variedade de unidades de medida se fazia presente. Fui percebendo, então, que não poderia mais continuar ignorando as outras práticas sociais da produção que eram tão relevantes naquela cultura camponesa. A partir daí, comecei a ouvir com mais atenção quando alguém explicava como fazia uma tarrafa, uma rede, um chapéu, uma vassoura, um tapete ou uma canoa e como utilizava para isso unidades de medida como a braça, o palmo, a polegada.11 Comecei a compreender que havia todo um conjunto de unidades de medida e não somente algumas unidades diferentes das utilizadas no sistema métrico padrão. Compreendi, ainda, que, quando se tratava de medir, aquele grupo tinha suas próprias unidades não apenas para a terra, mas para toda a sua produção, tanto agrícola quanto artesanal. Decidi, então, que não faria minha pesquisa estudando apenas as unidades de medida de terra, mas estudando outras unidades que integram a cultura daquelas comunidades e que diferem das unidades do sistema métrico. Enquanto tal sistema, segundo Alder (2003), utilizou como referência na definição de suas unidades de medida o tamanho da terra, as unidades de medida utilizadas pelas famílias de Santana dos Frades e de Santaninha têm como referência básica o corpo humano, as relações que envolvem mãos, braços e o corpo inteiro. Buscando compreender as práticas sociais da produção e as unidades de medida nelas envolvidas, fiz uso de procedimentos etnográficos, como a entrevista, a observação direta e participante e o diário de campo. A entrevista, enquanto procedimento relevante para minha pesquisa, não foi utilizada como uma simples técnica de coleta de dados. Ao fazer uso desse procedimento, não estava interessada em garantir a “pureza” das informações coletadas, desconsiderando a subjetividade das informações e minha interferência como pesquisadora. Não concebo a entrevista nessa perspectiva. Compreendo-a, seguindo Silveira (2002, p. 126), como um jogo no qual as pessoas envolvidas (entrevistados e entrevistadora) ocupam lugares diferentes, têm objetivos também diferenciados, mas todos exercem seu poder, ou seja, mesmo que, aparentemente, quem entrevista conduza as perguntas para seus objetivos de pesquisa, quem é entrevistado também determina o que vai ser dito sobre o que lhe foi perguntado: seleciona a sua fala a partir do que considera importante ser expresso, ser conhecido pela entrevistadora ou, ainda, o que ele ou ela (indivíduo entrevistado) acha que a entrevistadora quer ouvir. As questões levantadas por mim, como entrevistadora, também foram selecionadas a partir de significações e objetivos por mim atribuídos ao grupo ou à cultura pesquisada. A esse respeito, Silveira (ibidem, p.130) diz que As lógicas culturais embutidas nas perguntas dos entrevistadores e nas respostas dos entrevistados não têm nada de transcendente, de revelação íntima, de estabelecimento da “verdade”: elas estão embebidas nos discursos de seu tempo, da situação vivida, das verdades instituídas para os grupos sociais dos membros dos grupos. 11 No Capítulo 4, descrevo detalhadamente cada uma dessas unidades de medida. 29 Marilene Santos Nas entrevistas que realizei, tentei, como diz Silveira, ocupar o lugar de “provocador de outras verdades, outras histórias, outras lógicas” (ibidem, p. 134), compreendendo que não teria de meus entrevistados e entrevistadas “a verdade” e que, ao analisar suas falas, o faria ancorada em um conjunto de referências que me possibilitariam significá-las de determinada forma. É desse lugar que dou significado ao meu e aos seus mundos, as minhas e as suas coisas, as nossas culturas. Durante as entrevistas, aconteceram algumas situações nas quais, pela reação das pessoas, percebi que o meu lugar de pesquisadora, uma estranha ao grupo naquele momento, ficou bem evidenciado. O fato que mais me mobilizou aconteceu com uma assentada de Santana dos Frades que tece chapéus. Quando cheguei em sua casa, ela estava quase terminando uma trança de palha para chapéu, faltando apenas menos de uma braça12 para concluí-la. Apresentei-me e começamos a conversar sobre os chapéus que ela fazia, mas a conversa era quase um monólogo. Praticamente era eu que estava falando sozinha. Ela, muito reticente, respondia com monossílabos o que lhe perguntava e me olhava muito atentamente. Como ela havia me recebido muito bem e várias pessoas do assentamento recomendaram que a procurasse, pois muito teria a contribuir com o meu trabalho, já que era uma das pessoas que mais produzia chapéus no assentamento, não estava compreendendo o que acontecia. Comecei, então, a conversar sobre outras questões do assentamento. Também explicitei meu contentamento em realizar a pesquisa ali, onde por algum tempo acompanhei as turmas de alfabetização de pessoas jovens e adultas, e como eu estava aprendendo com as pessoas que entrevistava. Falei a ela que tinha muito a aprender e que precisava dela para fazer o meu estudo. Aos poucos, ela foi mudando, passou a me olhar de frente e quis saber se aquelas perguntas que eu fazia não iriam prejudicar sua vida. Diante da minha resposta afirmando que a pesquisa que estava realizando não a prejudicaria, ela passou a conversar comigo tranqüilamente sobre todo o processo de tecer chapéus de palha. Percebi, nesse momento, que, todo o tempo, ela controlava o que falava, pois acreditava que eu poderia estar interessada em me apropriar das informações sobre seu trabalho e assim prejudicá-la. No outro dia, quando estive novamente em sua casa, dessa vez para conversar com seu marido, ela voltou a fazer a mesma pergunta quando estava de saída e me despedia agradecendo pela contribuição deles. Ela disse: “se precisar de mais informação, pode voltar quando quiser. É pra ajudar, não é?” Essa pergunta, para mim, era a mesma do dia anterior: “não vai me prejudicar, não é?” O grande receio daquela senhora está ligado a sua desconfiança de que, ao falar para mim sobre seu trabalho, estivesse colocando em risco o restrito mercado de chapéus que tem mantido com tanta dificuldade. Naquele momento, enquanto não se sentia segura das minhas intenções, precisava tomar muito cuidado com o que falava. Destaco ainda a valiosa participação nesta pesquisa de dois assentados de Santana dos Frades: Curinha e Andinho. Logo nas primeiras conversas com alguns trabalhadores sobre a minha intenção de pesquisa, Curinha e Andinho foram citados como as pessoas que poderiam “me ajudar”. Segundo um assentado: “Se tem alguém que sabe falar da nossa luta e das coisas daqui é o Curinha”. Em outro 12 A braça é uma das unidades de medida utilizada nas práticas sociais nos assentamentos pesquisados que será objeto de análise no quarto capítulo da dissertação. 30 Marilene Santos momento, uma professora do assentamento Lagoa Nova,13 que se encontrava na casa de uma das minhas entrevistadas no momento da entrevista, disse que: “quem sabe tudo sobre isso aí é Seu Curinha e Seu Andinho. Se você quiser, eu lhe levo na casa deles”. Esses dois assentados são grandes lideranças no grupo, principalmente porque foram os primeiros a dar início ao processo de luta pela conquista da terra quando, segundo eles: “a maioria não acreditava que nós pudéssemos ser vitoriosos”. O respeito e a confiança dos assentados e assentadas aos dois companheiros não eram infundados. No período em que permaneci nos assentamentos, em várias oportunidades, recorri a Curinha e Andinho para esclarecer dúvidas, confirmar ou obter informações mais detalhadas sobre as práticas examinadas. A observação direta e participante foi também um recurso metodológico relevante no desenvolvimento da parte empírica da minha pesquisa. Fazer uso desse recurso possibilitou-me um maior envolvimento com o grupo, indispensável para minha compreensão de alguns aspectos das práticas sociais. Necessário se faz enfatizar que esse conhecimento “do outro”, de suas práticas culturais nunca acontece na sua totalidade, ou seja, conhecemos do outro o que ele nos permite conhecer. E do que conhecemos, elaboramos e re-significamos esse outro a partir do nosso olhar, da nossa cultura (SANTOS, 1997). É necessário também salientar que continuar no assentamento, mesmo quando não estava fazendo as entrevistas ou observando alguma prática da produção específica, simplesmente conversando com as pessoas, compartilhando dos momentos de descanso, das refeições, do bate-papo no final da tarde e à noite, horário em que ninguém estava mais trabalhando, fez com que percebesse muitos aspectos da cultura daqueles assentados e assentadas que, durante as entrevistas, não havia percebido nem observado. Nesses momentos, as pessoas estavam mais relaxadas e traziam detalhes de suas práticas de forma pitoresca, contando um “causo” engraçado relacionado a algum companheiro, verídico ou não, ou simplesmente conversando sobre seu trabalho. Nessas conversas, geralmente, quando falavam sobre suas práticas, utilizavam-se de detalhes muito diferentes daqueles que proporcionavam durante as entrevistas. Acrescentavam informações sobre o fazer cotidiano que não haviam falado no momento, até certo ponto formal, da entrevista. Foi assim que aprendi que é preciso colocar crescença14 na tarrafa; que, mesmo com chuva em janeiro, o milho só será plantado em março para poder ser colhido em junho, garantindo o milho verde para os festejos juninos; que algumas pessoas, diante da impossibilidade de compreender e/ou explicar determinados fatos ou acontecimentos, produzem histórias e explicações fantásticas.15 O diário de campo foi o instrumento no qual registrei meus sentimentos, minhas emoções e pensamentos da experiência vivida em cada um dos assentamentos. Nele registrei, como o fez Santos, “os movimentos, as leituras de tempo e de espaço que compreendi, as diferentes falas, enfim aquilo que lá vi, ouvi” (1997, p. 83). 13 O assentamento Lagoa Nova é conhecido por mais dois nomes: o nome oficial, que consta no termo de imissão de posse, Assentamento Nossa Senhora do Carmo, e o que recebeu por conta dos conflitos vivenciados durante o período de ocupação da área, Iraque. 14 Crescença é um procedimento utilizado na tecelagem da tarrafa que será detalhado no capítulo referente às práticas sociais da produção. 15 A palavra “fantástica” aqui está sendo utilizada para nomear a criatividade das pessoas em produzir explicações para seus problemas. 31 Marilene Santos Para além de aprender muito sobre como realizar uma pesquisa de campo, a experiência de estar nos assentamentos de Santaninha e Santana dos Frades foi muito marcante para mim do ponto de vista humano por seu ineditismo, porque ali pude reencontrar minhas próprias raízes, que pareciam esquecidas em mim no meu cotidiano na cidade. 32 Marilene Santos 3. RESISTINDO A IMPOSIÇÕES: A REVOLTA DOS QUEBRA-QUILOS Vivemos em um momento de muitas transformações que afetam quase todos os aspectos de nossas vidas. As transformações do mundo do trabalho abalam nossa tranqüilidade profissional e as expectativas para o futuro. As transformações políticas têm provocado um redemoinho permanente no nosso desejo de compartilhar um mundo diferente, um mundo no qual a vida seja encarada como o bem maior de cada ser humano para si e para os outros seres vivos. As transformações no mundo do conhecimento têm apontado dois caminhos quase antagônicos. De um lado, acenam com a possibilidade de não se estabelecerem limites ao conhecimento, ao saber, à ciência, quando nos prometem, por exemplo, o clone humano e não sabemos o que fazer com ele, se o queremos ou não. De outro lado, a mesma ciência tem se aperfeiçoado na destruição das espécies vivas, inclusive da espécie humana. Acompanhando esse cenário de mudanças e incertezas, um conjunto de políticas econômicas, culturais, sociais denominadas como neoliberais tentam afirmar-se como a “única” saída possível para o mundo. Tudo isso provoca alterações no nosso modo de pensar, de compreender, de compartilhar, de agir, de ser, de saber. No âmbito da Educação, essa política manifesta-se de diferentes formas. Uma delas está presente na organização do conhecimento proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, que têm sido utilizados como um importante veículo de homogeneização cultural. À medida que, segundo Knijnik (1996, p. 255), há uma sinalização no sentido de que a cultura local seja “valorizada”, tal “valorização” implica que os saberes locais sirvam como um ponto de partida para a aprendizagem. Somente ponto de partida, porque são “inferiores” aos conteúdos que se constituem no “patrimônio universal da humanidade”. Também a respeito da homogeneização cultural que pretendem as políticas neoliberais através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Moreira (1996, 13) afirma que (...) o currículo nacional, ao ser justificado como visando à construção e à preservação de uma cultura comum, tida como básica para o desenvolvimento de um sentimento de identidade nacional, tende a privilegiar [alguns] discursos e a excluir [outros], das salas de aula, os discursos e as vozes dos grupos sociais(...), vistos como não merecedores de serem ouvidos no espaço escolar. A implementação das políticas neoliberais na educação tem utilizado um conjunto de ações e justificativas como estratégias para sua consolidação. Nesse sentido, tem sido produzido um discurso de ineficiência da educação pública para justificar sua privatização, retirando assim a responsabilidade do estado com a educação e convocando a população a assumir tal responsabilidade. É muito forte, no discurso neoliberal, a defesa de um estado mínimo como forma de garantir os interesses de tais políticas. Segundo Silva (1994, p. 18), A estratégia liberal de retirar a educação institucionalizada da esfera pública e submetê-la às regras do mercado significa (...) mais controle e “governo” da vida Marilene Santos cotidiana na exata medida em que a transforma num objeto de consumo individual e não de discussão coletiva. (...) Outra das operações centrais do pensamento neoliberal (...) consiste em transformar questões políticas e sociais em questões técnicas. Outra característica da política neoliberal na educação tem sido responsabilizar a má administração pública pelo “fracasso” da educação. Afirma-se, segundo Silva (1994, p. 23), que, como um dos problemas da educação pública está relacionado à gestão, tal educação, ao ser submetida à competição do mercado, será mais eficiente, podendo “produzir um produto educacional de melhor qualidade”. Uma outra forma de interpretar a organização do conhecimento como produção cultural é defendida por Silva (2001). Ele descarta a visão de cultura como produto acabado, como algo fixo. Para esse autor, na compreensão de cultura e de currículo, é necessário que alguns aspectos sejam considerados. Um desses aspectos conforme referido anteriormente é o de que a cultura e o currículo são entendidos como práticas de significação porque é através da cultura que as pessoas dão sentido à vida, ao mundo social. A partir dessa compreensão de cultura e currículo, busquei encontrar elementos que me ajudassem a compreender as práticas sociais de produção na cultura camponesa dos assentamentos de Pacatuba – Sergipe, onde diferentes unidades de medida, distintas das utilizadas no sistema métrico padrão, se fazem presentes. Tal compreensão envolveu, também, historicizar os processos que conduziram à imposição do sistema métrico francês no Brasil, principalmente as lutas populares de resistência a tal imposição. Compreender esse processo histórico contribuiu para uma mais abrangente problematização da história presente do campo sergipano que realizei. 3.1 A Revolta dos Quebra-quilos No período em que o sistema métrico francês foi implementado no Brasil, por volta da segunda metade do século XIX, o nordeste brasileiro vivia uma crise econômica sem precedente, provocada pela queda no preço do açúcar e do algodão no mercado internacional. Nesse período, o açúcar e o algodão constituíam a base econômica da região. Essa crise, denominada por Augusto Millet (1876, p. 41) como a “crise da lavoura" e do comércio, trouxe à população da época profunda recessão, "que se manifesta na classe menos abastada pela escassez dos meios de ganhar dinheiro, e nos que se acham em relação mais direta com a produção, pela dupla crise da lavoura e do comércio”. Como afirma esse autor, com o fim da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a economia estadunidense recupera rapidamente seu espaço no mercado internacional. O algodão produzido pelos estadunidenses reduziu o preço e diminuiu a oferta do algodão brasileiro, impossibilitando os produtores algodoeiros do sertão nordestino de competirem com o algodão estadunidense. Concomitantemente, a modernização no fabrico do açúcar, tanto o de beterraba, produzido na Europa, quanto o da cana, das Antilhas, Java e Ilhas Maurício, dobrou o rendimento em relação aos engenhos brasileiros, que mantinham o 34 Marilene Santos antigo processo de fabricação, através de vaporização e cozimento. Isso também levou nosso açúcar a perder preço, aumentando o custo da produção e impossibilitando-o de disputar no mercado internacional. Nesse momento, os produtores nordestinos e trabalhadores do campo, de modo geral, esperavam contar com ajuda do império para enfrentar a crise, mas foram obrigados a pagar mais tributos. Em alguns casos, além do aumento na quantidade de impostos, houve aumento também no valor de alguns já existentes. Segundo Bonnet (1963), em todos os períodos na história da humanidade, em que há registro de revoltas populares, é usual apresentá-las como vinculadas à cobrança de impostos, ou seja, considerar a tributação como um desencadeador de revoltas. O autor menciona a manutenção do luxo imperial em Roma e o pagamento de tropas mercenárias na antigüidade, o imposto sobre o sal, papel timbrado e tabaco na França da Idade Média, a Revolução Americana nos Estados Unidos e a reação à cobrança do quinto do ouro no Brasil pelo Império Português para exemplificar como a cobrança de impostos tem provocado descontentamento e revolta entre os mais diversos povos. Ainda segundo Bonnet (1963, p. 14), “em todos os tempos, a questão do imposto retém um importante lugar na história (...) em muitos momentos da história, a cobrança de impostos foi a causa de revoltas e revoluções, provocando morte e muita violência por parte dos governos contra o povo, que explorado, rebelava-se”. Como pude aprender nos estudos que realizei sobre a Revolta dos Quebra-quilos com Souto Maior (1978), Millet (1876), Mota (1971) e Almeida (1957), entre outros, não foi diferente no nordeste brasileiro nos meados do século XIX. O governo imperial implantou, através da lei nº 1.157 de 26 de junho de 1862, o Sistema Métrico Francês em substituição ao sistema de pesos e medidas vigente na época. O texto da lei no 1.157 autorizava o governo a tomar as providências necessárias para uma substituição gradativa do então sistema de pesos e medidas pelo novo sistema métrico francês. Para consolidação do novo sistema, foi estabelecido na lei o período de dez anos a partir de sua publicação. Passados os dez anos, nenhuma providência havia sido tomada, mas o governo determinou que, a partir de julho de 1873, “as mercadorias oferecidas no mercado deveriam ser medidas ou pesadas de acordo com o novo sistema de pesos e medidas” (SOUTO MAIOR, 1978, p. 22). Seria punido com prisão ou multa quem desobedecesse e fizesse uso do antigo sistema. Essa determinação provocou muitas críticas contra o governo. A primeira foi um artigo do engenheiro Guilherme Schuch de Capanema, publicado no jornal A Reforma no início de 1873, em que escreve: O grande número de indivíduos que se serve hoje de pesos e medidas é obrigado a mudar de chofre os seus hábitos; a lei dava-lhes dez anos para se prepararem. Não o podiam fazer porém, sem que o governo cumprisse o que ela determinava, que era a expedição de regulamento e a distribuição de padrões. Houve prorrogação do prazo da lei, porque dentro dele nem mesmo os regulamentos foram expedidos. Chegará o termo desse novo prazo, e quem não tiver pesos e medidas de quilogramo, metro, litro, pagará multa e irá para a cadeia. Devia dizer-se ao consumidor onde encontrar-se essas medidas e pesos (ibidem, p. 22). Naquele período, década de 1870, as unidades de medida utilizadas no Brasil, segundo Souto Maior (ibidem), eram: 35 Marilene Santos Medidas lineares, a vara, o côvado e a jarda; as medidas de volume que eram onças, libras e arretéis, com as quais se quantificavam a carne-seca, o bacalhau e o açúcar. Os líquidos, anteriormente, mediam-se às canadas e aos quartilhos e os grãos e a farinha em celamins, quartas e alqueires.16 A substituição de tais medidas implicava uma mudança abrupta nas práticas sociais dos agricultores e comerciantes da época. O autor afirma, ainda, que a lei, ao prever multas e prisões, assumia “uma áurea de violência contra hábitos que vinham desde os tempos da colônia e que não eram, na época, simples determinações legais” (ibidem, p. 22). Concomitantemente, o Brasil enfrentava conflitos sociais internos de ordem econômica, religiosa e política que contribuíram para o agravamento da instabilidade social. A questão religiosa – crise entre o estado imperial e a igreja católica – foi um dos principais fatores internos responsáveis pelo processo de descontentamento da população em relação ao governo, que já contava com um saldo de medidas não simpáticas à população. A implantação do novo sistema de pesos e medidas – o Sistema Métrico Francês – foi, para os habitantes do interior nordestino, principalmente agricultores e pequenos comerciantes expropriados das condições de sobrevivência, o limite de sua tolerância com a exploração da carga tributária. Foi nesse contexto de crise econômica, alta taxação tributária e implementação do novo sistema de medidas que, no nordeste, particularmente no interior da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, surgiu a Revolta dos Quebra-quilos, uma revolta popular liderada pela população mais pobre do interior e de algumas cidades, com pouca ou nenhuma influência de lideranças políticas ou religiosas, ao contrário do que algumas autoridades da época afirmavam. Foi um movimento que não contou com representantes das classes dominantes; ao contrário, seu líderes, forjados no meio popular, permaneceram no anonimato. Para Augusto Millet, (1876, p. 30), a sedição Quebra-quilos não pode ser tida nem como pronunciamento político, nem como protesto religioso; pois os chefes, tanto de uma como de outra parcialidade, conhecem de sobra a impossibilidade de lutar contra o governo e não se querem comprometer sem proveito. A sedição dos Quebra-quilos tem raízes mais profundas; nasce do mal-estar das nossas populações do interior; mal-estar de que não se pode duvidar quem se acha em contato com elas, e prende-se pelos laços mais evidentes à tremenda crise pela qual está passando a nossa agricultura. O "Imposto do Chão", taxa cobrada aos feirantes para permitir a comercialização dos produtos nas feiras (um tostão por carga), foi mais um motivo para provocar revolta na população pobre do interior, que já era bastante sacrificada pela tributação imposta pelo governo diante da crise econômica que o país enfrentava. Outro fator que deve ser considerado para compreender a reação da população naquele momento é a lei do alistamento militar. Essa lei obrigava os homens a servirem no exército independentemente de sua vontade, fazendo com que as famílias ficassem sem mão-de-obra para a lavoura. Esses homens, geralmente chefes de família, eram obrigados a deixá-las à própria sorte para compor as fileiras do Exército. 16 Atualmente a vara mede 2.20cm, havendo algumas variações de acordo com a região. Segundo o site 36 Marilene Santos O historiador Horácio de Almeida, no livro Brejo de Areia (1958), desconsidera os fatores acima mencionados como responsáveis pela revolta dos Quebra-quilos, afirmando que o levante estaria somente relacionado à questão religiosa – a briga que houve na década de 1870 entre o governo imperial, a igreja católica e a maçonaria. Esse fator teria levado padres e vigários a insuflar a população contra o governo e ajudar a organizar a revolta. Essa compreensão, no entanto, tem sido contestada, pois os revoltosos não atacavam apenas os maçons. Na literatura que trata dessa questão, aparecem contra os maçons atos isolados, sem uma freqüência efetiva. O que é apontado como características dos Quebra-quilos são a destruição de pesos e medidas em feiras e mercados e de documentos dos arquivos públicos e Câmaras Municipais. É provável que, nas localidades onde os padres, nos seus sermões, colocavam para a população de forma mais enfática o conflito entre a igreja e o estado, tal posicionamento tenha sido mais um fator que contribuiu para a revolta da população contra o governo. Senão, como explicar que a maioria das cidades que registraram ação dos Quebra-quilos não teve o apoio do pároco local? Tal apoio seria lógico se se tratasse de um movimento liderado pela igreja. O que a literatura registra (SOUTO MAIOR, 1978; ALMEIDA, 1923), diferente de apoio massivo, foi uma reação ostensivamente contrária da maioria dos párocos à revolta dos Quebra-quilos. A revolta também não se configurou como uma organização partidária de oposição ao governo. Foi uma manifestação “espontânea”17 da população, revoltada com a situação então vivenciada. Souto Maior (1978, p. 31) menciona quais seriam suas principais causas: “os impostos, a nova lei do recrutamento que denominam de lei do captiveiro e também a dos pesos e medidas”. Os representantes do império diziam não admitir uma revolta que não fosse organizada por forças políticas contrárias ao império, e tudo foi feito para convencer a população de que os liberais e, mais especificamente, a igreja católica, através dos padres jesuítas, estavam pelo menos indiretamente envolvidos nos tumultos provocados pelos quebra-quilos. Esse argumento foi utilizado como motivo para expulsar os jesuítas da Província de Pernambuco. O que a literatura sobre o tema indica é que a população se colocava contra o governo por vários fatores que interferiam de forma prejudicial nas suas vidas diante da crise econômica que vitimava o país naquele momento. A substituição dos instrumentos de pesos e medidas poderia até ser vantajosa para o consumidor, como diz Almeida (1988, p. 138), mas era preciso pagar uma taxa pelo seu uso, fator que encarecia ainda mais os produtos. Essa despesa não existia antes da lei do novo sistema, era mais um acréscimo tributário então implantado. Para uma população vitima de um sistema tributário muito elevado, que enfrentava todo tipo de privação econômica diante da crise nacional, esse seria um motivo justo e suficiente para desencadear uma revolta. Assim, a implantação do novo sistema desagradou principalmente aos pequenos proprietários e comerciantes nordestinos, que, além de tudo, teriam uma despesa adicional, pois eram obrigados a pagar para usar as medidas nas feiras ou em qualquer transação comercial, sob pena de pagar multa, como previsto no texto da lei de implantação do novo sistema de medidas. www.medidasantigas.com, o côvado corresponde a 66 cm, a jarda a 91,44 cm e a onça equivale a 28,691 g. 17 A palavra “espontânea” está sendo utilizada aqui para referir-se à ausência de estratégias e planejamentos prévios por parte dos trabalhadores que executaram as ações da Revolta dos Quebra-quilos. 37 Marilene Santos A Revolta dos Quebra-quilos teve a participação de grupos sem prestígio social, como as mulheres e os negros. As mulheres estiveram presentes em vários momentos da revolta, principalmente nas cidades que foram mais atingidas pela Lei do Recrutamento Militar, sendo que o Rio Grande do Norte foi o estado onde as mulheres assumiram a coordenação de uma ação quebra-quilos. Na cidade de Mossoró, o “Motim das Mulheres” (SOUTO MAIOR, 1978, p. 180), como ficou conhecido, teve como liderança Ana Floriano, e a ação consistiu em arrancar e rasgar os editais e listas da Lei do Recrutamento Militar fixadas nas igrejas. Souto Maior (1978) refere que, para os negros escravos dos engenhos em luta pela conquista da liberdade, o movimento dos Quebra-quilos representou também uma esperança. O autor afirma que a história registra apenas um momento de efetiva participação dos negros, num episódio ocorrido nas proximidades de Campina Grande, num sítio de nome Timbaúba. Aproximadamente quarenta escravos armados cercaram as casas do sítio e obrigaram as pessoas que ali estavam a irem para Campina Grande para entregar-lhes o “livro da liberdade” (ibidem, p. 201). Lá chegando, constataram que o que fizeram havia sido inútil, pois não existia o tal “livro da liberdade”, nem as pessoas que haviam feito prisioneiras poderiam libertá-los. Apesar de a Revolta dos Quebra-quilos ter se constituído como um movimento organizado e executado pelas populações mais expropriadas economicamente, não incluiu entre suas reivindicações a luta dos escravos por liberdade, com exceção do episódio de Campina Grande acima relatado. Assim, não se pode relacionar a Revolta dos Quebra-quilos com a luta dos escravos na conquista de sua libertação. Souto Maior (ibidem, p. 201) busca justificar tal questão afirmando que “o Quebra-quilos não é uma revolta de escravos e, sim, de homens livres”. A Revolta dos Quebra-quilos não tem sido incluída nos livros didáticos de História do Brasil como um movimento social, como o foram a Balaiada, a Cabanada, a Guerra de Canudos. Entretanto, esse foi um movimento de grande relevância para a história de luta e resistência do povo nordestino, principalmente por sua abrangência e impacto social. Ademais, tem sido apontado como referência a movimentos surgidos posteriormente, como a própria Guerra de Canudos. Antonio Conselheiro, líder dessa “guerra”, coincidentemente, esteve em Pernambuco em 1874, ano que começou a revolta dos Quebra-quilos. Souto Maior (1978, p. 204) afirma, ao referir-se a Antonio Conselheiro: “Convivera, portanto, o chefe dos jagunços com os sertanejos que participaram do Quebra-quilos, e seria razoável admitir-se a influência destes no seu ideário de rebeldia”. A ação dos Quebra-quilos consistia em grupos de pessoas ocuparem as cidades, principalmente nos dias de feira, quando havia concentração de muita gente, e, com palavras de ordem, quebrarem ou inutilizarem os novos pesos e medidas, ainda rasgando e queimando os documentos das Câmaras Municipais e destruindo arquivos dos cartórios (lugares onde ficavam os documentos e leis sobre os impostos), conforme relato de um juiz de direito ao governador da província da Paraíba, transcrito por Souto Maior (ibidem, p. 101) no português da época, Diversas vilas e povoados da Província da Parahíba tem sido victimas de ataques do povo em massa, em número superior a mil indivíduos, segdo. O conceito mais veridico, os quais declarão arrogantemente que não mais se sugeitarão ao pagamento de quaesquer impostos legaes; assim como não consentirão que 38 Marilene Santos continue em execução o systema métrico, levando seo frenesi ao ponto de agredirem as collectorias, e as casas das Camaras Municipaes dilacerando seos archivos, escangalhando e incendiando suas mobilias; e exigindo dos commerciantes em seos estabelecimentos e nas feiras os pesos e medidas do novo padrão inutilizando tudo, e qdo. por ventura alguma vez, a força publica se tem apresentado, elles a tem repellido, sem duvida por ser ella insufficiente... O governo reprimiu violentamente a Revolta dos Quebra-quilos, enviou um arsenal para as províncias da Paraíba e de Pernambuco, equivalente ao que enviaria para um campo de batalha numa guerra, puniu culpados e inocentes. Segundo Souto Maior, humilhou, violentou e matou sertanejos que haviam sido apontados como participantes ou até simpatizantes da Revolta dos Quebra-quilos. Um exemplo da violência a que a polícia submeteu as pessoas que foram presas como Quebra-quilos foi o “colete de couro” criado pelo capitão Longuinho na Paraíba, como relata o autor (ibidem, p. 33 ): Pior e mais violenta do que a atuação dos quebra-quilos foi a repressão das forças comandadas pelo capitão Longuinho, hoje tristemente famoso pelos “colete de couro”, tortura que aplicou aos que lhe foram apontados ou denunciados como quebra-quilos. Amarrados os prisioneiros, eram, em seguida, metidos em grosseiros coletes de couro cru; ao ser molhado, o couro encolhia-se, comprimindo o tórax das vítimas, quase asfixiando-as. Toda essa repressão foi utilizada contra uma população que buscava ter condições de sobrevivência digna e preservar práticas culturais que faziam parte de suas vidas. Os trabalhadores rebelavam-se, antes de tudo, em favor de suas práticas culturais, rejeitando algo que as ameaçavam, que lhes era estranho, não fazia parte de sua cultura, era algo intruso que gerava desconfiança e desentendimento entre a população. O novo sistema de pesos e medidas vinha de longe, fazia parte da cultura de outros povos e foi imposto como padrão em um processo bastante tenso que envolveu resistências e rejeição. 3.2 A definição do metro A França do século XVIII, segundo Alder (2003), convivia com uma diversidade de unidades de medida muito grande, cada cidade tendo um sistema de medidas próprio. Em alguns casos, na mesma cidade, as comunidades tinham seus próprios sistemas de medidas. Essa situação provocava desentendimentos entre as pessoas nas suas relações comerciais; ao mesmo tempo, a variedade de medidas funcionava para a população como uma forma de controle das relações comerciais. Ter medidas próprias na comunidade ou na cidade impedia que pessoas estranhas a ela ali entrassem para comercializar, o que se constituía em uma forma de a população controlar o mercado e a economia. Na década de 1780, período no qual ocorreu a Revolução Francesa, o rei da época solicitou à Academia de Ciências de Paris um estudo que mostrasse se haveria vantagem num sistema de medidas único para a França. Foi criada, então, na Academia de Ciências, a comissão de Pesos e Medidas, composta por 39 Marilene Santos Jean-Charles de Borba, Antoine-Laurent Lavoisier, Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condocert, PierreSimon Laplace e Adrien-Marie Legendre, objetivando promover a reforma métrica da França. Algumas propostas foram apresentadas, mas todas tinham aspectos que causaram polêmica na Academia. Uma das primeiras propostas, defendidas por Lalande, propunha que as medidas de Paris fossem o padrão nacional para um sistema de medidas uniforme. A proposta mais convincente, defendida na Assembléia Nacional, foi a apresentada por Charles-Maurice de Talleyrand. Ele propunha que, “em vez de uma medida tirada da história ou do decreto dos reis, pediu que a legislatura tirasse sua medida fundamental da natureza, a herança comum da humanidade” (ALDER, 2003, p. 106). A proposta de Talleyrand apresentava basicamente duas características centrais: uso da natureza na definição da medida fundamental e interligação, num sistema integrado, de todas as unidades de medida – área, capacidade, comprimento, peso. A proposta foi aprovada, transformada em lei e acrescida de mais uma característica: “dividir em escala decimal todas as unidades métricas” (ibidem, p. 107). Talleyrand, estimulado por Condocert, vislumbrou a possibilidade de sua proposta vir a transformar-se num sistema de medidas utilizado internacionalmente. Para tanto, empenhou esforços numa negociação diplomática com estudiosos ingleses e estadunidenses para que participassem do projeto. O ponto de discordância entre as nações envolvidas era que, como a experiência seria desenvolvida através do pêndulo de segundo18 e este variava de acordo com a latitude, cada representante sugeria o seu país como local mais apropriado para a realização da experiência. Talleyrand conseguiu que a Assembléia Nacional aprovasse uma lei que contemplasse a todos. Mas, no ano seguinte, ao apresentar seu relatório, a Comissão de Pesos e Medidas voltou atrás e “exigiu que o padrão do pêndulo fosse abandonado completamente em lugar de um metro baseado em um décimo de milionésimo da distância entre o Pólo Norte e o Equador, como estabelecido por um levantamento do meridiano que ia de Dunquerque a Barcelona” (ibidem, p. 111). Seria agora o tamanho da terra que determinaria o metro. Para convencer a Assembléia Nacional dessa mudança, o presidente da comissão garantiu que o projeto seria concluído em um ano e elencou os critérios de escolha do meridiano a ser medido para comprovar que essa determinação do local da medição não havia sido tomada de forma arbitrária: Primeiro, o arco escolhido teria que atravessar pelo menos dez graus de latitude para permitir uma extrapolação válida para o arco total da terra. Segundo, o arco escolhido teria que cobrir o paralelo 45, o que, sendo a distância intermediária entre o pólo e o equador, minimizaria qualquer incerteza causada pela excentricidade da forma da terra. Terceiro, suas duas pontas terminais teriam que ficar ao nível do mar, o nível natural da figura da terra. E quarto, o meridiano teria que atravessar uma região já bem topografada para poder ser medido depressa (ibidem, p. 112). Mesmo com um orçamento muito elevado e argumentos contrários, tanto de legisladores quanto de alguns historiadores, a Assembléia Nacional aprovou em março de 1791 o projeto do “padrão meridiano”. 18 Segundo Alder (2003, p. 109), pêndulo de segundo é uma forma de medição baseada no comprimento de um pêndulo batendo por um segundo. Foi Galileu quem demonstrou pela primeira vez que, não sendo muito amplo o balanço, o tempo da batida de um pêndulo era determinado por seu comprimento. 40 Marilene Santos Essa decisão acabou com todas as chances de uma parceria internacional que vinha sendo negociada anteriormente. Ao tomar conhecimento de que seria o meridiano francês a base para o sistema métrico, os ingleses e os estadunidenses retiraram suas propostas de apoio, acusando os franceses de quererem impor um padrão universal a partir do seu território. Levando em conta a configuração atual, é interessante observar a posição anglo-saxã de então em rejeitar tal imposição cultural, em tempo no qual tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos tentam impor sua cultura, sua economia. Para proceder à medição do meridiano, foram organizadas duas equipes, uma coordenada por Pierre-Francisco-André Méchain, que rumou para o sul; a outra foi coordenada por Jean-Baptiste Joseph Delambre, que foi para o norte. Nesse período, na França, ocorria a Revolução Francesa, e incentivar a ciência constituía-se, para os revolucionários, uma forma de ruptura com a monarquia. Ainda segundo Alder, para os “sábios”, a oportunidade proporcionada pela revolução significou, além da transição para um novo mundo, a realização de antigos sonhos por eles alimentados, de “basear uma unidade natural de medida na circunferência da terra” (ibidem, p. 112). A revolução, responsável pelo empreendimento do projeto de medir o meridiano, foi responsável também pelas dificuldades e empecilhos que provocaram o retardamento na conclusão do projeto. Méchain e Delambre deveriam concluir a medição do meridiano em um ano. Mas o país transformou-se num campo de guerra com a revolução, e qualquer atividade não usual era considerada suspeita. Somente no primeiro ano de medição, Delambre foi detido e impedido várias vezes de realizar as medições até ser convidado pelo próprio governo revolucionário a abandonar o projeto três anos depois. Méchain, após ter sofrido grave acidente que atrasou seu trabalho, foi impedido de sair da Espanha, onde realizava uma parte da medição, e de mandar qualquer informação sobre seu trabalho para os colegas franceses. Esses fatores fizeram com que a medição do meridiano que daria a base para a elaboração do novo padrão de medidas, prevista para ser concluída em um ano, demorasse sete anos. Um ano após o início da expedição, o governo começou a pressionar a Academia de Ciências para que criasse um sistema métrico para o país, visto que vários órgãos governamentais estavam praticamente parados em alguns setores enquanto aguardavam o novo sistema para poder implementar ações importantes, como a construção do novo mapa da França, que seria base para tributar as terras. A Academia relutava em apresentar um sistema métrico, pois a expedição de medição do meridiano não havia sido concluída e os estudiosos temiam apresentar um sistema impreciso. Somente diante da ameaça de dissolução, a Academia apresentou uma proposta para o sistema métrico, conforme relatado por Alder (ibidem, p. 122): A 1º de agosto de 1793, (...) uma nova lei codificou o sistema métrico tal como hoje o conhecemos e deu ao povo francês um ano para se preparar para seu uso obrigatório (...) a lei estabelecia um metro “provisório” que os administradores do governo e as empresas comerciais poderiam usar enquanto aguardavam os resultados “definitivos” do levantamento do meridiano. Os franceses já tinham uma previsão do tamanho do meridiano, pois já o haviam medido anteriormente, mas não confiavam na precisão dos dados e, como dispunham dos instrumentos mais sofisticados e precisos da época, a expedição do padrão meridiano objetivava também confirmar ou não as 41 Marilene Santos informações sobre seu comprimento, visto que a precisão garantiria maior credibilidade aos objetivos franceses de universalização do seu sistema métrico. Jean-Charles de Borba, presidente da Academia e um dos maiores defensores dessa expedição, baseado na medição do meridiano realizada décadas atrás, fez uma projeção e calculou o “provável tamanho do metro”. Essa previsão terminou se constituindo no que hoje é conhecido como o metro padrão do sistema francês. Isso aconteceu por conta dos resultados obtidos através da expedição do meridiano. No entanto, a tentativa realizada durante sete anos de encontrar um “metro” que pudesse ser “incontestavelmente” preciso não se concretizou. Como relata Alder (2003), Méchain, um dos astrônomos responsáveis pela medição, efetuou um procedimento inadequado numa das estações de medição na Espanha. Esse procedimento provocou uma modificação no resultado final, fazendo com que o metro tivesse 0,325 milímetro menos. O peso desse “erro” acompanhou Méchain até seus últimos dias, interferindo inclusive na sua saúde mental. Angustiado com o erro que o perseguia, Méchain inicialmente recusou-se a entregar o material no qual havia feito todas as anotações referentes a sua parte na medição do meridiano. Temia que seu erro fosse descoberto pelos colegas da Academia. Mas, diante da pressão exercida pela Academia para que fosse apresentado o resultado da expedição na I Conferência Científica Internacional, que havia sido organizada pelos “sábios” franceses para esse fim, Méchain organizou e apresentou o resultado da medição do meridiano da parte sul de forma resumida, sem entregar os diários de campo. Foi muito aplaudido e homenageado por sua precisão, e todos os seus resultados apresentados foram aceitos. De posse dos resultados da expedição, os sábios puseram-se a compará-los e fazer cálculos para encontrar a definição do metro. Após semanas de trabalho, chegaram à conclusão de que a expedição meridiana havia descoberto que a superfície da terra não seguia um arco regular e mudava a cada segmento. Como diz Méchain em carta a amigos: “Nossas observações mostram que a curva da terra é quase circular de Dunquerque a Paris, mais elíptica de Paris a Evaux, mais elíptica ainda de Evaux a Carcassonne, depois volta à forma elíptica anterior de Carcassonne a Barcelona” (Alder, 2003, p. 290). Ou seja, ao contrário do que se acreditava até então, que a terra tinha a forma “esférica de uma laranja”, descobrira-se que ela tinha a forma de uma “abóbora encalombada”. Não tinham mais como garantir, diante da irregularidade do meridiano de Dunquerque a Barcelona, que outros meridianos também fossem regulares e estavam diante de uma situação que os obrigava a fazer uma difícil opção: utilizar para definição do metro definitivo a excentricidade da terra encontrada através dos resultados da expedição meridiana (de 1/150) ou manter a definição do metro provisório baseado na antiga excentricidade (de 1/334). Os conferencistas optaram pela antiga excentricidade, transformando-se, assim, o metro provisório em metro definitivo. Segundo Alder, essa opção fez com que a expedição meridiana, que havia durado sete anos, produzisse um metro menos preciso de acordo com o que se sabe atualmente sobre o tamanho da terra. A implantação do sistema métrico na França não aconteceu de forma tranqüila. Ao contrário, encontrou muita resistência por parte da população a substituição das antigas medidas pelo novo padrão métrico. Contrariamente à lei brasileira nº 1.157, que previa que o governo brasileiro proporcionasse à população os instrumentos necessários para a substituição do sistema de medidas (o que não ocorreu), o governo francês mandou confeccionar e distribuir, principalmente para os comerciantes, a medida equivalente 42 Marilene Santos ao metro e ao quilo. Promoveu também uma intensa campanha de divulgação do novo sistema, através de cartazes, folhetos explicativos, tabelas de conversão e palestras públicas, para que a população aprendesse a lidar com as novas medidas. Mesmo assim, o processo de implantação não foi tranqüilo, havendo rejeição da população ao novo padrão. Enquanto os consumidores preferiam as antigas medidas por sentirem-se mais seguros, os comerciantes aproveitavam para usar os novos padrões dizendo ser os antigos se isso lhes trouxesse vantagens. Um processo de resistência semelhante foi analisado por Knijnik (2003, p. 46) quando investigou, num bairro popular de Madrid, a introdução do “euro” como moeda oficial européia. A autora constatou que As tentativas estatais e privadas de preparar a população para a introdução da nova moeda podem ter reduzido as dificuldades, mas não foram suficientes para evitar que a introdução do euro fosse vivida pelas senhoras entrevistadas como “uma invasão”, como uma ação “forçada” num lugar antes ocupado pela peseta.19 Segundo Alder(2003), para os sábios, a esperança de consolidação do novo sistema métrico estava posta nas novas gerações. Nesse sentido, coube à escola um papel importante no processo de consolidação das novas medidas, uma vez que “eles [o governo francês] tornaram obrigatório o ensino do sistema métrico nas escolas da França, incluindo a École Normale, onde eram treinados os professores” (ibidem, p. 299). Também no Brasil, o novo sistema passou a ser incorporado na educação das crianças como conteúdo curricular nas escolas com o objetivo de consolidá-lo quando de sua implantação. O sistema de medidas francês faz parte do currículo brasileiro desde o primeiro ano de vida escolar das crianças, contemplando o que determinava a lei nº 1.157 de 26 de junho de 1862, que implantou tal sistema. A lei prevê que: “artigo 2º, inciso 2º - Durante este prazo as escolas de instrução primária, tanto públicas como particulares, compreenderão no ensino da aritmética a explicação do sistema métrico comparado com o sistema de pesos e medidas atualmente em uso” (SOUTO MAIOR, 1978, p. 21). Frente as dificuldades encontradas em 1840, uma nova legislação torna obrigatório o sistema métrico para toda a França e não apenas para Paris. A população demonstrava sua contrariedade promovendo motins, criando trovas20 populares e persistindo no uso das medidas antigas. Há registro da resistência do povo francês em aceitar o sistema métrico até 1920. Segundo Alder, ainda hoje: “Em burgos, nos armazéns, ainda se vende um livre (libra) de feijão. Isto, porém, não é mais uma variante local, mas simplesmente o nome popular para 500 gramas” (ibidem, p. 378). Lembro que minha mãe muitas vezes me mandava até a bodega para comprar meia libra de açúcar, eu pedia exatamente o que ela havia sugerido e era atendida pelo comerciante, ou seja, essa era uma unidade de medida conhecida e utilizada naquela comunidade. Em Brejo Grande, onde passei minha infância, não era 19 Constaté que las tentativas estatales y privadas de preparar la población para la introducción de la nueva moneda pueden haber reducido las dificultades, pero no fueron suficientes para evitar que la introducción del euro fuese vivido por las señoras entrevistadas como “una invasión”, como una “acción o efecto de entrar por fuerza en un lugar”, un lugar antes ocupado por la peseta. 20 A palavra “trova” é utilizada para denominar cantigas e poesias rimadas criadas pelos artistas populares. 43 Marilene Santos comum a utilização dos termos “quilo” ou “meio quilo”, pois os produtos já eram pesados por quilograma, mas as pessoas continuavam utilizando uma libra e meia libra quando se tratava do peso. A partir do meu ingresso na escola foi que conheci outra linguagem no que diz respeito às unidades de medida. Lá aprendi que meia libra de açúcar correspondia a 250g. Foram necessários dois séculos para que fosse plenamente efetivada a conversão do sistema métrico na França. Como escreve Alder (ibidem, p. 374), “a implementação em campo do sistema métrico foi feita de forma bem mais gradual, acompanhando lentas evoluções sociais na educação, na indústria, no comércio, no transporte, na burocracia estatal e nos interesses profissionais”. A França nação à qual o sistema métrico está estreitamente vinculado não foi a primeira a adotar tal sistema de forma definitiva. Antes dela, a partir de 1820, Holanda, Bélgica e Luxemburgo já haviam adotado compulsoriamente o sistema métrico. Atualmente, segundo Alder(2003), apenas os Estados Unidos, Libéria e Mianmar não utilizam o sistema métrico francês nas suas relações comerciais. Os outros países têm como sistema de medidas padrão para suas transações comerciais no âmbito internacional esse sistema. Da afirmação de Alder, se poderia pensar que, mesmo que na Inglaterra a libra seja muito utilizada, em suas relações comerciais, o país utiliza o sistema métrico. No Brasil, o governo adotou o sistema métrico através de uma legislação em 1862, e sua implementação passou a ser exigida a partir de 1873, provocando, como antes apontei, muita resistência da população, sendo a Revolta dos Quebra-quilos sua mais evidente expressão. Tal resistência, mesmo tendo sido violentamente reprimida, possibilitou que, no início do século XXI, portanto mais de um século depois, possamos encontrar práticas sociais camponesas em Sergipe em que as unidades de medida que eram utilizadas antes da implantação do atual sistema se fazem presentes. Mais de um século depois, convivem, numa mesma comunidade, os dois sistemas de unidades de medida no mesmo grupo social. Como enfatizo no quarto capítulo desta dissertação, as unidades de medida são artefatos culturais das práticas sociais camponesas utilizados para atender a necessidades da vida cotidiana. Ao longo da história da humanidade, isso também ocorreu. Segundo Gomes (1997), as medidas de área surgem na nossa história para resolver necessidades práticas, tais como a de medir espaços cultiváveis e demarcar propriedades e territórios. No exercício da prática de medição de terra, cada povo criou seus instrumentos de medida a partir de referenciais próprios. No Egito antigo, por exemplo, as terras banhadas pelo rio Nilo eram medidas regularmente, porque as cheias apagavam as demarcações. As pessoas responsáveis por fazer as demarcações eram chamadas de estiradores de corda (os mensuradores), pois usavam uma corda para isso. “O tamanho da corda era determinado por partes do corpo e equivalia a 100 cubits reais” (GOMES, 1997, p. 78). Para medir área, os egípcios utilizavam como instrumentos a corda, que era calculada através do antebraço do rei (cubits reais: equivalem à medida do antebraço), e a vara (rod), que era derivada da vareta utilizada para tocar o boi. O setat era a unidade utilizada para a medida de área e equivalia a 10.000 cubits quadrados. O khet, a unidade linear, equivalia a 100 cubits. Na Babilônia, os instrumentos utilizados para medir área eram a corda e o compasso. A geometria babilônica é considerada pelos historiadores como mais avançada em relação à dos 44 Marilene Santos egípcios. Citando Dilke, Gomes (1997, p. 104) diz que as principais medidas de área utilizadas pelo povo babilônico eram: 1 gar quadrado = 1 sar, aproximadamente 36m2 100 (expresso como 1,40) sar = 1 iku 1800 (expresso como 30,0) iku = 1 búr O sar era usado principalmente para medir área de casas, o iku e o búr para áreas de campo; existem outras medidas de área menos comuns. Na China, os instrumentos de medidas eram a corda, o compasso, o gnomo e o prumo. A contribuição dos chineses para a história da matemática tem provocado posições discordantes entre os historiadores da área, segundo Gomes (1997), pois os sistemas de medidas chineses desenvolveram-se de forma independente, ou seja, sem influência do ocidente. Na Índia, o pensamento geométrico desenvolveu-se motivado por questões religiosas. Os hindus também usavam a corda como instrumento de medida. As medidas de área na Índia funcionavam principalmente na construção de templos e altares de sacrifícios, construídos em variadas formas geométricas. A Grécia, considerada pelos historiadores como a sociedade que originou uma geometria pelo prazer do conhecimento e não por necessidades práticas, tem sua geometria reconhecida como ciência. As medidas utilizadas pelos gregos eram pé (paus), palesta (palmo), e daktyloi (largura dos dedos). Já em Roma, os instrumentos de medir mais usados eram groma (= gnomo na Grécia), compasso, esquadro e o foot-rules (pé romano de 29,27 cm). Como pode ser observado no acima exposto, um aspecto comum na história das medidas de área para alguns povos é a utilização da corda como instrumento de medir. Ela aparece no Egito, na Babilônia, na China e na Índia. Outro aspecto comum e que até se faz presente para o trabalhador do campo é a utilização do corpo como referencial para definição do comprimento da medida. No Egito, era o antebraço do rei que determinava o tamanho do “cubits real”; na Grécia, os pés, o palmo e a largura dos dedos eram referência na construção dos instrumentos de medida; em Roma, o pé também era uma forma de determinar uma medida de área. Apesar de o Brasil utilizar um sistema de unidades de medida reconhecido e aceito internacionalmente – o Sistema Métrico Francês –, há uma grande quantidade de trabalhadores e trabalhadoras do campo, principalmente no nordeste sergipano, que utilizam unidades de medida populares e constroem seus instrumentos de medir tomando como referência o próprio corpo. É o caso da vara, do palmo, da braça e da polegada, que trabalhadores e trabalhadoras dos assentamentos de reforma agrária no município de Pacatuba - Sergipe usam para plantar, colher, comprar e vender terra, produção agrícola e artesanal. Para cada uma dessas unidades, utiliza-se o corpo inteiro ou parte dele. Como busquei apresentar neste capítulo, o movimento dos quebra-quilos foi noticiado nos jornais da época durante todo o período dos levantes. Tanto os jornais da imprensa liberal quanto os da imprensa conservadora noticiavam as repercussões e ações provocadas pela revolta. Durante muito tempo após o último levante, o movimento fez parte da cultura camponesa como uma lembrança, através das trovas 45 Marilene Santos populares e inclusive dos rótulos de cigarros da época, que utilizaram cenas e personagens da Revolta Quebra-quilos e do governo nas ilustrações de suas marcas (MOTA, 1971). Essas breves considerações históricas mostram que, em diferentes períodos, os povos serviram-se de seus corpos como referência para construir unidades de medida utilizadas nas suas práticas sociais. Na pesquisa de campo realizada nesta dissertação, também fiz essa constatação. Portanto, vê-se que a imposição do sistema francês na década de 1870 trouxe consigo movimentos de resistência que ainda hoje podem ser observados no nordeste brasileiro, como minha pesquisa busca apontar. Mas, como afirma Oliveira (1997, p. 34) “uma repressão simbólica existe hoje quando é impedido que essas unidades de medida, disseminadas no meio rural, figurem nos cadernos das crianças, nos quadros das salas de aula, nos livros didáticos, nos currículos escolares”. Mas o movimento para silenciar a cultura popular não se realiza completamente, pois, nas práticas sociais camponesas, as unidades de medida, como a braça, a vara, o palmo e a polegada, seguem presentes. Interpretar a Revolta do Quebra-quilos como um movimento de resistência política e cultural poderá contribuir para explicar outras práticas e saberes populares de resistência ainda hoje presentes no nordeste sergipano e, em especial, para problematizar a relação dos saberes populares com o currículo escolar. 46 Marilene Santos 4. ENTRE BRAÇAS, PALMOS E TAREFAS: PRÁTICAS SOCIAIS DE PRODUÇÃO Essa coisa de medir vai de pai pra filho, de filho pra neto e dá certo... O canteiro, a gente baseia se quer duas varas, se quer uma ou do jeito da terra. Um canteiro é feito de acordo com o jeito que a terra é, se for uma terra nesguiada, a gente começa com três varas e termina com uma. Outros canteiros são medidos na perna, o espaço de uma perna pra outra. Já a trança a gente mede na braça, quatro braças e meia é uma trança e dá um chapéu. Tem gente que faz o chapéu todo, outras fazem somente a trança. Eu não faço mais, é tão barato que não vale a pena o trabalho. E ainda, quando chega o inverno, perde um monte de trança e de chapéu, que amarela tudo... Pra fazer a vara, a gente fica em pé, levanta o braço e marca dos pés ao dedo midinho. Nós compramos e vendemos assim, medindo com a vara. Compro mandioca direto assim.... Um quarto de mandioca dá 40 celamins de farinha e pode dar mais, dependendo da mandioca. A farinha é feita como a pessoa pedir, se quer grossa, a gente faz, se quer média, já sei, nem grossa nem fina... Outra coisa que é medida aqui é a tarrafa, é medida por palmo... já sabemos que doze carreiras dão um palmo, ou seja, doze voltas na tarrafa é um palmo. Mas, se for da malha pequena, a gente faz dezoito carreiras pra dar um palmo... Usamos sim o corpo pra construir as nossas medidas, até roupa pronta na feira. Uma calça, por exemplo, muita gente mede no pescoço a largura do cós pra saber se vai dá ou não na cintura. Agora, fita métrica e trena, quem usa são as costureiras e as pessoas que estão construindo casas. (Dona Laudilina, assentada em Santana dos Frades). Nessa narrativa, Dona Laudilina fala de algumas das principais práticas sociais que constituem o cotidiano no seu assentamento. Refere-se às práticas relacionadas à produção em que aparecem unidades de medida utilizadas em sua comunidade para determinar comprimentos e massa. Ao afirmar que somente as costureiras e as pessoas que constroem casas utilizam as unidades de medida do sistema padrão oficial, Dona Laudilina tenta mostrar que tais unidades não estão presentes nas práticas sociais da produção dos assentamentos. Para ela, essas práticas – costurar, construir casas –, mesmo sendo utilizadas por alguns camponeses, não “são do assentamento”, não pertencem ao conjunto de práticas sociais que ela considera como atividade do grupo, já que as unidades de medida utilizadas no assentamento são construídas a partir do corpo, e quase tudo que ali é medido utiliza essa referência, “até roupa pronta na feira”. A narrativa de Laudilina sobre os modos de medir aponta para a existência de um conjunto de relações que estão presentes nessas atividades cotidianas e que as tornam, na concepção de Certeau (2002, p. 37), práticas sociais, “maneiras de fazer cotidianas”. Para o autor, “essas práticas colocam em jogo uma ratio ‘popular’, uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar” (ibidem, p. 42). Neste capítulo, descrevo e analiso práticas sociais da produção que envolvem o uso de unidades de medida presentes na cultura dos assentamentos Santana dos Frades e Santaninha. A análise busca evidenciar os saberes ali produzidos e seus efeitos na constituição dos sujeitos, nas suas identidades. Ao olhar para tais práticas, estive interessada nas tensões muito mais do que nos consensos, estive atenta ao que escapa ao modelo, ao padrão, concentrando-me no que se mistura, no que atravessa fronteiras, provocando mudanças e transformações nas práticas sociais. Marilene Santos Como o universo de práticas com as quais me defrontei no trabalho de campo era muito extenso, cada uma envolvendo processos complexos e muitos detalhes, optei por analisar, neste estudo, seis dessas práticas: a prática de tecer tarrafas, a prática de tecer rede para pesca de arrasto, a prática de tecer chapéus de palha, a prática de fazer vassoura de palha, a prática de fazer canoa e a prática de medir a terra. A escolha deu-se devido à relevância que tais práticas exerciam na vida cotidiana das pessoas daqueles assentamentos. Durante o trabalho de campo, detive-me a observar longamente os trabalhadores e as trabalhadoras no exercício dessas práticas sociais e também entrevistei-os quanto aos sentidos e significados atribuídos a tais práticas. A prática social de tecer tarrafas era desenvolvida pelas mulheres nos dois assentamentos estudados. A tarrafa é uma espécie de rede feita com náilon utilizada na pesca individual. Tem o formato semelhante ao de uma árvore de natal, é estreita em cima e bastante rodada embaixo. Para que a tarrafa afunde quando lançada na água, os pescadores colocam pedaços de chumbo em toda a sua roda. Quando lançada na água, a tarrafa se abre como um guarda-chuva, fechando-se assim que pousa no leito do rio. A prática social de tecer rede para pesca de arrasto é semelhante à pratica descrita anteriormente, mas com algumas diferenças fundamentais. A pesca de arrasto é desenvolvida por duas ou mais pessoas, que esticam a rede em toda a sua extensão dentro do rio ou lagoa onde estiverem pescando. As pessoas dividem-se em duas canoas, segurando nas extremidades da rede lançada na água, e vão remando e arrastando a rede em direção à margem do rio. Os peixes que estiverem no espaço em que a rede passar ficam presos em suas malhas. Em outros momentos, a rede é esticada, permanecendo no local à espera dos peixes que serão capturados em suas malhas. Só então a rede é recolhida. As redes para esse tipo de pesca também são tecidas, majoritariamente, pelas mulheres e são feitas somente sob encomenda dos pescadores, que negociam diretamente com as tecelãs nos assentamentos. A prática de tecer e costurar chapéus de palha diferencia-se das anteriores por ser uma atividade desenvolvida apenas em determinadas épocas do ano, no período caracterizado como o que tem mais dias ensolarados, geralmente, primavera e verão. No outono e no inverno, quando há maior intensidade de chuvas, a atividade é interrompida, pois a umidade estraga as palhas utilizadas na tecelagem desses artefatos. O processo de produção do chapéu de palha − que não é realizado individualmente − é composto de várias etapas, começando com a retirada da palha e terminando com a venda do chapéu. A prática social de fazer vassouras assemelha-se à anterior por ser um processo também constituído de várias etapas. Outra semelhança entre as duas práticas está relacionada à matéria-prima. As vassouras são confeccionadas com o mesmo material utilizado na tecelagem dos chapéus, a palha do aricurizeiro.21 São as sobras, a parte mais dura da palha que não serve para fazer as tranças para os chapéus que as camponesas utilizam para confeccionar as vassouras. 21 O aricurizeiro é uma planta bastante conhecida naquela região de Sergipe. Da família das palmáceas (Cocos coronata), produz o aricuri, um tipo de coco comestível. O aricurizeiro é conhecido também como ouricuri, adicuri e dicuri (Fonte: dicionário Aurélio). 48 Marilene Santos A prática social de construir canoas é desenvolvida apenas no assentamento Santana dos Frades. Essa prática é restrita a poucas pessoas, geralmente homens, e controlada pela comunidade com o apoio de um regulamento interno elaborado por ela. A prática social de medir a terra é desenvolvida geralmente nos períodos de plantio e colheita da produção agrícola. A maioria dos que medem são homens, e há muita dificuldade entre eles na realização dos cálculos referentes à medição. Ao acompanhar a comunidade em suas práticas de produção, fui observando como as crianças eram introduzidas e ensinadas sobre elas. Elas aprendiam observando seus pais e demais pessoas do assentamento quando estas estavam exercendo determinada atividade. Os “métodos” de ensinar incluíam, além da observação, tentativas feitas pelas próprias crianças de realizar as práticas, ou seja, ao invés de somente observarem os adultos tecendo uma tarrafa, por exemplo, elas efetivamente tentavam também tecêlas. Em diversas oportunidades, pude observar crianças tentando tecer alguns dos produtos artesanais que são produzidos na comunidade. Em Santana dos Frades, quando em uma ocasião cheguei na casa da família que queria entrevistar, encontrei três crianças “brincando” de fazer rede. A menina filha da minha entrevistada tinha um cesto de brinquedo no colo com náilon e agulha de tecer rede. Enquanto ela “tecia”, as outras duas crianças observavam, esperando a sua vez de também tecer, já que havia apenas uma agulha e elas se revezavam entre si. Um processo de aprendizagem semelhante foi analisado por Duarte (2003, p. 42) quando da realização de sua pesquisa com trabalhadores da construção civil no Rio Grande do Sul. Segundo a autora, “a maioria deles ingressou nesta profissão ainda muito cedo (...) encaminhados geralmente pelo pai ou algum parente próximo”. A autora afirma que era comum a presença de filhos dos trabalhadores nos canteiros de obra, acompanhando e às vezes ajudando seus pais. Sobre um dos momentos de aprendizagem de crianças nos canteiros de obra presenciados pela autora, ela relata o seguinte: (...) nas obras, observei a presença dos filhos de seu Aristides, de seu Pedro, de seu Luís e de Valmir já aprendendo o oficio de pedreiro. Os mais jovens (...) Idnei e Ivonei, com idades de oito e treze anos (...) Por muitas vezes, Ivonei tentou assumir a tarefa de “misturar a massa” sozinho, mas foi impedido pelo servente, que lhe permitia somente encher os baldes com água. Porém quando o servente se descuidava, ele enchia a pá de areia e jogava na betoneira, participando do processo de preparação da massa que seria usada para o concreto de uma laje. A autora continua relatando as tentativas da criança para fazer funcionar a betoneira até ter êxito, quando passa a ocupar outro status no grupo de pedreiros, o de quem ultrapassou uma importante barreira e conquistou outro lugar no mundo adulto. Nas seções seguintes, descrevo as seis práticas que estudei, analisando, em cada uma delas, questões que, no trabalho de campo, me chamaram a atenção. 4.1 Tecendo tarrafas 49 Marilene Santos Eu faço tarrafa de quinze e de doze palmos. Tem gente que faz de até vinte palmos. Os tamanhos diferentes é somente por conta do lugar onde a pessoa vai pescar. Se gosta de pescar em lugares rasos, usa as tarrafa menores, mas, se pesca em lugares mais fundos, precisa de uma tarrafa grande... Eu demoro até um mês pra fazer uma tarrafa dessas aqui, uma saueira. Agora, se tiver com outras pessoas trabalhando junto, em cinco dias, tá pronta (...). Pra medir tarrafa, eu meço no palmo e na trena também, se precisar, mas eu já sei que um palmo tem vinte centímetros (Josina, assentada em Santana dos Frades). Nessa narrativa, evidenciam-se o caráter dinâmico e criativo da cultura e a inexistência de um modelo único a ser seguido para cada tarrafa confeccionada. Ao ampliar o leque de possibilidades no fazer as tarrafas, as assentadas garantem o ir e vir entre o que é e o que não é, apontando que não existe um jeito, um método de exercer a prática de tecer tarrafas: existem jeitos, métodos e possibilidades múltiplas. Quando dona Josina afirma que tece tarrafas de diferentes formas, fazendo uso de metodologias diversas, dependendo de como a situação exige, reforça a compreensão de cultura como um campo de significação em permanente recriação, e não pronto e acabado. Dona Josina afirma que tece as tarrafas tanto para pescar no raso quanto no fundo, utiliza tanto o palmo quanto o metro, contrapondo-se, nesse caso, a outras narrativas que ouvi em diversas oportunidades, que afirmavam “não entrar” no assentamento unidades de medida do sistema padrão. Na perspectiva dos Estudos Culturais, “a cultura é um jogo de poder” (SILVA, 2002, p. 134). Nesse jogo, os sujeitos estão todo o tempo re-significando suas práticas. Criar diversas possibilidades para a tecelagem das tarrafas evidencia o caráter transformador, ambíguo e criativo dessa prática social. Mesmo sendo essa uma prática que sempre se repete, no sentido de que ocorre sempre naquela comunidade, essa repetição não se dá de forma mecânica, fixa, ela está constantemente sendo re-significada, incluindo e abandonando aspectos e relações, produzindo outros sentidos na vida das pessoas. Como escutei das camponesas envolvidas na prática de tecer tarrafas, estas eram confeccionadas principalmente de dois comprimentos. Ao explicarem sobre os “tamanhos das redes”, na própria explicação, já diziam sobre a equivalência das medidas com o sistema padrão: “São de 18 palmos, que são três metros e sessenta [centímetros], e de 15 palmos, que são três metros”. O palmo é uma das unidades de medida utilizadas naquela cultura camponesa em suas práticas sociais, sendo a tecelagem de tarrafas uma delas. Como aprendi com as mulheres que observei e entrevistei, o comprimento do palmo é determinado a partir da distância da ponta do dedo polegar até a ponta do dedo mínimo. Portanto, a parte do corpo utilizada como referência para a constituição dessa unidade de medida é a mão. As tarrafas eram classificadas pelas pessoas que as teciam, de acordo com o tipo do peixe que capturam. As mais conhecidas e tecidas na comunidade são as tarrafas de pilombeta (peixes pequenos que têm geralmente um palmo de comprimento e um dedo de largura), tarrafas de camarão e tarrafas saueira, para peixes maiores que a pilombeta. Essa classificação era necessária, segundo as asssentadas de Santaninha, porque cada uma delas tinha uma malha diferente e o tempo de trabalho dedicado para sua confecção e os preços também eram diferenciados. As tarrafas de camarão eram as que exigiam maior dedicação, pois 50 Marilene Santos possuíam uma malha muito pequena, que demandava mais tempo para ser concluída. Devido a isso, somente algumas pessoas aceitavam fazê-la. O processo de tecer uma tarrafa exigia o trabalho de alguns dias de muitas pessoas. No assentamento Santaninha, as assentadas que teciam as tarrafas adotavam um sistema de trabalho compartilhado. Elas relataram que trocavam dias de trabalho umas com as outras. Organizavam grupos de trabalho com quatro ou cinco mulheres. A cada dia, o grupo se reunia na casa de uma delas para trabalhar na mesma tarrafa, geralmente a tarrafa da dona da casa onde estavam trabalhando naquele dia. Disseram-me que começavam sempre quatro ou cinco tarrafas ao mesmo tempo, ou melhor, na mesma semana, dependendo da quantidade de pessoas que faziam parte do grupo. Diariamente, o trabalho era desenvolvido na casa de uma componente do grupo. No final de três semanas, aproximadamente, havia uma produção de quatro ou cinco tarrafas. Isso não aconteceria, segundo as assentadas, se o trabalho não fosse dividido e se cada uma tecesse sozinha a sua própria tarrafa. Tecida por uma pessoa apenas, segundo elas, demorava mais de um mês para ficar pronta, e, no sistema de trabalho compartilhado, as mulheres terminavam uma e iniciavam outra peça dentro do mesmo mês. Ou seja, a organização do trabalho coletivo desenvolvido pelas tecelãs de tarrafas em Santaninha contribuía para que houvesse um considerável aumento em sua produção mensal. Em Santana dos Frades, observei que a organização para o trabalho de tecer tarrafas ocorria de forma diferente. Geralmente, era organizado por família, mas sem a divisão do trabalho: cada uma tecia sua própria tarrafa. Numa das entrevistas que realizei com uma das mulheres envolvidas nessa atividade, pude observar duas tarrafas sendo tecidas na mesma casa por pessoas diferentes. Uma era tecida pela minha entrevistada, que trabalhou na tarrafa durante todo o tempo em que conversava comigo. A outra, era tecida por uma de suas filhas, que, após alguns minutos do início de nossa entrevista, interrompeu o trabalho. As tarrafas estavam ainda na fase inicial – uma media três palmos na ocasião e era uma “tarrafa para pegar camarão”, a outra, “uma saueira”, media aproximadamente um palmo e meio. Tanto a produção de Santaninha quanto a de Santana dos Frades era vendida para uma mesma pessoa, que as comercializava em Aracaju. Como acima mostrei, é interessante observar que, mesmo atendendo às mesmas exigências de produção, cada assentamento se organizava de forma diferente. Enquanto em Santaninha existia uma organização coletiva para o trabalho de tecer tarrafas, em Santana dos Frades essa organização era individual. Pude constatar também que, provavelmente, por conta dessa forma de organização do trabalho, a produção mensal em Santana dos Frades era inferior à de Santaninha. Muitas mulheres relataram que, em algumas oportunidades, não conseguiam entregar nem uma peça pronta no final de um mês. Essa constatação fortalece a afirmação que fiz anteriormente de que o trabalho coletivo era um fator determinante no aumento da produção de tarrafas. O tempo utilizado para tecer uma tarrafa foi uma grande surpresa para mim, que cheguei lá acreditando que deveria ser um trabalho muito fácil e rápido. Pensava que demoraria no máximo um dia desde o começo ao término de uma peça e, como as pessoas se reuniam para isso, deveriam ter uma grande produção no final de cada mês. Acompanhando, durante todos os dias em que permaneci nos assentamentos, o lento crescimento de cada tarrafa que estava sendo tecida, compreendi, no entanto, que o sistema de trabalho compartilhado que as mulheres de Santaninha utilizavam era o que garantia algum lucro na produção de 51 Marilene Santos tarrafas no final de cada mês, pois, além de as tarrafas demandarem muito trabalho, eram vendidas por preços muito baixos. Em Santana dos Frades, onde o trabalho era desenvolvido individualmente, ao final de um mês de trabalho, algumas mulheres nada tinham a receber, pois não haviam concluído nenhuma peça naquele mês. Solange, filha de uma assentada em Santaninha e tecelã de tarrafas, em sua narrativa, abordou a questão dizendo que Essa tarrafa de 200 reais que falam por aí, a gente nunca fez, é uma tarrafa da malha bem pequenininha. Dessas, parece que um palmo é 20 carreiras, tem que fazer com uma agulha bem fininha. Essa tarrafa sempre existiu, agora, aqui em Santaninha, ninguém nunca fez. Aqui a gente vende nosso trabalho. A pessoa traz o náilon, a gente faz a tarrafa e recebemos um valor por isso. Se fosse pra gente mesmo fazer e vender seria melhor, só que, na casa de pesca, o pessoal só aceita entrega dessa pessoa que compra o nosso trabalho. Minha irmã foi lá perguntar, mas a mulher que atendeu disse que só compra dela mesmo, da moça que compra nossas tarrafas. Segundo ela, porque já está acostumada com ela. Pra nós, seria bem melhor vender nós mesmas, porque a gente sabe que ela entrega uma tarrafa dessas aqui de 18 palmos por 100 [reais] e ela só paga 40 [reais] pra gente. Ela sai ganhando muito mais, ganha 60% e, na de 15 palmos, ganha 30%, e é três semanas de trabalho que a gente gasta pra fazer. Isso porque trocamos dias, um dia trabalha na minha tarrafa, no outro vai trabalhar na dela, no outro na dela e aí vai. Se fosse todos os dias na mesma tarrafa, demorava menos, mas não é. Se trabalhar cinco pessoas na mesma tarrafa todo dia, termina em pouco tempo, agora, senão, por exemplo, trabalha hoje nessa, amanhã fica, daí porque não termina rápido. E nem sempre recebemos no mesmo dia que entregamos. Estamos esperando um projeto do movimento [MST] pra que possamos fazer as tarrafas e vender a gente mesmo. Esse projeto desde novembro que era pra ter saído, mas até agora nada. Porque, nesse caso, a gente podia fazer uma tarrafa por um preço maior que 40 [reais] (Solange, filha de uma assentada em Santaninha). Na comercialização das tarrafas, a presença do atravessador, além de reduzir drasticamente o lucro das assentadas, produziu outras relações de trabalho. Uma prática da produção que sempre foi desenvolvida integralmente pelo grupo passou, a partir de um incremento tecnológico − o náilon industrializado −, a ter somente uma etapa, ficando sob a responsabilidade das assentadas unicamente o ato de tecer. Essa condição de participar apenas de uma parte do processo produtivo alinha-se ao que Hall denomina como “deslocamentos das culturas do cotidiano” (1997, p. 22) quando de sua análise sobre o que chama de revolução cultural, a qual ocasiona “transformações no modo de vida das pessoas comuns”(ibidem, p.21), produzindo efeitos em todos os aspectos da vida local e cotidiana, inclusive alterando relações de trabalho, produção e comercialização. Em todas as entrevistas que realizei, solicitava das pessoas entrevistadas que descrevessem o processo do início ao fim da produção de uma tarrafa. Uma de minhas entrevistadas deu-me o seguinte depoimento: 52 Marilene Santos Pra começar uma tarrafa de dezoito palmos, se coloca vinte e oito malhas, tece umas três ou quatro carreiras e põe treze crescença22 a intervalos de duas em duas malhas. Tece duas malhas e põe uma crescença, depois mais duas e uma crescença até completar as treze crescenças, então pára. Quando a tarrafa estiver com uns dois ou três palmos, a gente fecha, já que, no começo, ela é feita aberta. As crescenças devem ser colocadas uma embaixo da outra, pois, se não fizer assim, não dá certo, fica tudo torto. A crescença é colocada na largura pra dar roda na tarrafa. Se não colocar, não tem roda, e, se colocar demais, fica muito rodada. A crescença é colocada do início da tarrafa até um certo ponto, ou melhor, até quando a tarrafa está com dois metros. Depois é pano morto e não acrescenta mais (Rosângela, ex-aluna do projeto de alfabetização de jovens e adultos e filha de assentada em Santaninha). Quando analisava a fala de Rosângela, percebia que ela utiliza tanto a unidade de medida da cultura camponesa − o palmo – como também a unidade do sistema padrão – o metro. Mesmo tendo a primeira como unidade básica na tecelagem da tarrafa, em alguns momentos, ela recorria ao metro para determinar quando iría encerrar a crescença. Isso ocorria, provavelmente, porque ambas as unidades de medida já fazem parte, já estão incluídas nas práticas sociais daquela comunidade. Houve, nesse caso, provavelmente um rompimento de fronteiras, uma mistura de culturas. Apesar de, em diversos momentos, alguns camponeses e camponesas afirmarem que as unidades do sistema métrico não se faziam presentes no assentamento, em várias ocasiões, pude perceber que eram estabelecidas comparações entre as unidades padrão populares e as unidades padrão do sistema métrico. Observei isso acontecer, principalmente, quando se tratava dos produtos artesanais que eram produzidos sob encomenda para serem vendidos fora dos assentamentos. Isso mostra o não-isolamento cultural e também a interferência do mercado como provocador de mudanças na cultura dos grupos sociais. Portanto, a necessidade de continuar com seus produtos no mercado pode ter contribuído para a inclusão de “novas” unidades de medida, no caso, das unidades do sistema métrico padrão. A “mistura” de unidades de medida numa mesma prática social, em particular, naquelas em que estão envolvidos saberes matemáticos, reforça um dos argumentos da Etnomatemática quando afirma que a Matemática Acadêmica é somente uma das formas de produção do conhecimento matemático. Outros grupos sociais, outras culturas que não a acadêmica também organizam e produzem conhecimentos matemáticos. Discutir essa questão é um dos objetivos da Etnomatemática, que, segundo D’Ambrosio (1998, p. 7), “é um programa que visa explicar os processos de geração, organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais”. Interessa para o campo etnomatemático trazer para o centro das discussões, através das práticas sociais dos grupos não-hegemônicos, os saberes por eles produzidos, e, nesse sentido, um dos desafios no campo etnomatemático tem sido discutir a política do conhecimento. Na discussão de Knijnik (2001, p. 19), essa política é muito importante porque, muitas vezes, nela está ausente os saberes populares que são silenciados, principalmente nos currículos escolares. A autora defende que a necessidade de uma interlocução entre os saberes populares e os científicos, bem como a análise e a problematização das relações de poder existentes entre eles. Nessa política os estudos sobre currículo na Educação Matemática, não pode ignorar as “conexões entre cultura, ciência e conhecimento” (ibidem.). 22 Crescença é o termo utilizado na comunidade para expressar o acréscimo de malhas em cada volta tecida 53 Marilene Santos Penso ser necessário ressaltar, ainda em relação à narrativa de Rosângela, que, durante o período em que permaneci nos assentamentos, não presenciei em nenhum momento a utilização do metro na produção das tarrafas. A vinculação dos palmos ao metro era mencionada nas narrativas das assentadas, mas, em minhas observações, constatei que, quando precisavam medir a tarrafa no processo de sua confecção,23 usavam o palmo. Isso leva-me a pensar que o principal referencial na utilização das unidades de medida continua sendo o palmo. Como antes mencionei, o mercado constitui-se também num fator que atua no desencadeamento de mudanças na produção do assentamento. Mesmo essas sendo práticas sociais que têm sobrevivido ao longo do tempo, elas estão sempre se refazendo, rompendo fronteiras do estabelecido. Esses atravessamentos fronteiriços provocam disputas e tensões, dando novos sentidos a tais práticas sociais. Essas práticas são transmitidas de mãe para filha através da observação, segundo afirmação das mulheres, mas nem todas aprendem os diferentes tipos de rede: Nós aprendemos desde pequenas a fazer as tarrafas, todo mundo na comunidade faz. As crianças vão observando as pessoas fazerem e aprendem. Se você tem uma filha e, na sua casa, todos fazem [tarrafa], lógico que sua filha vai aprender também. Até porque é a única coisa que tem pra fazer. Bem, tem chapéu também. Só que nem todo mundo gosta ou sabe fazer chapéu, tem pessoas que não gostam ou não sabem e outras não. Como tem também pessoas que sabem e pessoas que não sabem fazer tarrafa. Tem gente que sabe fazer rede e não sabe fazer tarrafa. É que elas não são feitas do mesmo jeito, as redes não precisam de crescença, são diferentes. A rede faz sempre igual do início até o fim. Ela é quadrada,24 e não redonda como a tarrafa. Aqui tem muita gente que sabe fazer rede e não sabe fazer tarrafa e vice-versa, gente que sabe fazer tarrafa e rede, mas não costura um chapéu. Depende muito da pessoa (Andréa, filha de assentada em Santaninha). A narrativa de Andréa mostra que há nesse aprender uma multiplicidade – esse não é um processo fechado, predeterminado. Inicialmente, ela afirma que “todo mundo na comunidade faz [tarrafas]”, mas, a seguir, essa afirmação é relativizada, pois diz que nem todas as meninas do grupo acabam se envolvendo com o tecer das tarrafas, optando por produzir outras redes, chapéus ou vassouras. Como enfatiza Andréa, essas práticas têm sido assumidas pelas mulheres. Os homens consertam as suas próprias tarrafas quando estas estragam, mas não têm se responsabilizado pela prática de tecê-las. Apesar de ter escutado de algumas mulheres que os homens também “podem fazer [tarrafas]”, elas falavam de forma que parecia irônica, como sendo isso algo possível, mas não comum ou mesmo “indicado” para um homem. Um assentado em Santaninha, quando manifestei meu desejo de entrevistar as mulheres sobre as práticas que envolvem as das tarrafas, o que garante aumento no rodado. 23 Durante os dias em que estive observando as mulheres tecer tarrafas, percebi que, a intervalos longos e médios, era preciso medir a tarrafa para saber, por exemplo, se já era possível fechá-la, se já podia parar de colocar crescença ou se havia completado o tamanho de 18 ou 15 palmos. 24 As redes referidas pela assentada são retangulares, e não quadradas, como ela afirma. O termo “retangular” geralmente não é utilizado nessa região. 54 Marilene Santos variadas unidades de medida, foi enfático em afirmar que “as mulheres não sabem medir, elas não vão pra roça”. No entanto, no período em que estive nos assentamentos, não foi isso que observei. Muitas mulheres concediam-me entrevistas justamente após sua chegada da roça ou da casa de 25 farinha. Algumas eram titulares do lote onde vivam, outras ajudavam o marido, mas todas com quem conversei afirmaram que sabiam medir e faziam uso em seu cotidiano de alguma unidade de medida. O sentido que dei a essas falas é que os homens não estão autorizados a tecer tarrafas, mas alguns desobedecem, como também as mulheres não estão autorizadas a medir, mas algumas o fazem. No entanto, como os estudos sobre gênero têm discutido, ao produzir-se todo um conjunto de normatizações visando à delimitação de papéis e lugares a serem assumidos segundo o gênero, são criadas, ao mesmo tempo, brechas para que essas normas sejam postas sob suspeita e, muitas vezes, violadas. Enfim, a norma que serve para delimitar padrões traz também consigo a possibilidade de ações contrárias. A idéia de que haja práticas cotidianas definidas para cada gênero não tem nada de “natural”, elas são culturalmente fabricadas. Louro (1998, p. 63) mostra como nós, educadoras e educadores, precisamos ficar atentos a essas práticas rotineiras para desnaturalizá-las. A autora escreve que o processo de “fabricação” dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível. Antes de tentar percebê-lo pela leitura das leis ou dos decretos que instalam e regulam as instituições ou percebê-lo nos solenes discursos das autoridades (embora todas essas instâncias também façam sentido), nosso olhar deve se voltar especialmente para as práticas cotidianas em que se envolvem todos os sujeitos. São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como “natural”. 4.2 Tecendo redes A gente faz rede pra pesca de arrasto por braça, e o tamanho das malhas são medidos nos dedos. Então tem malha de dois, três e quatro dedos. Nem todas as braças são iguais, já que cada um tem um tamanho de braço diferente do outro, mas a gente compensa aumentando um pouco a braça ou diminuindo, se o braço for grande. Eu, por exemplo, tenho braço pequeno, então peço sempre pra minha mãe medir as redes pra mim ou então aumento a minha braça, sempre dá certo (Arnalda, assentada em Santana dos Frades). A produção de redes para pesca de arrasto constitui uma parte relevante da produção nos assentamentos Santana dos Frades e Santaninha. Assim como a produção de tarrafas, a de redes também tem sido assumida pelas mulheres. Quase todas as assentadas que tecem rede afirmaram que o fazem de acordo com “o gosto do freguês”. Como disseram, às vezes, os pescadores pedem que elas façam a rede usando a trena. Então, as malhas são de cinco ou seis centímetros de largura. Outras vezes, eles trazem as medidas “pelos dedos”. Nesse caso, a largura da malha é medida por quantidade de dedos, podendo ser de quatro, três 25 Uma casa geralmente de taipa (parede de barro) onde se processa a mandioca para a produção da farinha. 55 Marilene Santos ou dois. Quando os pescadores solicitam que a rede seja tecida assim, a unidade de medida utilizada para determinar o comprimento da rede é a braça. Se, por outro lado, a encomenda feita solicita uma malha com largura dada em centímetros, as mulheres afirmaram que utilizam a fita métrica para medir o comprimento da rede tecida. Nos assentamentos que estudei, a unidade braça26 é determinada pela distância entre as pontas dos dedos médios de uma pessoa com os braços abertos. Essa medida para a braça aparentemente não tem relação com a medida de comprimento utilizada em algumas regiões brasileiras onde uma braça equivale a 2,20 metros. Segundo Knijnik (2000, p. 23), alguns trabalhadores de assentamentos no Rio Grande do Sul, para determinar a extensão de terra para plantar arroz, utilizam a braça que corresponde a 2,20 metros. Já a braça empregada pelos assentados de Santana dos Frades e Santaninha, diferentemente da vara, não tem equivalência com o sistema métrico padrão. Na tentativa de explicar a unidade de medida braça, Maria Madalena, uma das assentadas de Santaninha que a utiliza em seu trabalho, disse o seguinte: “Uma braça é o tamanho que vai de uma ponta a outra dos braços abertos como Cristo. A braça de homem é maior, se tiver um braço grande não abre totalmente”. Na fala da assentada, é possível perceber que há uma coerência no tamanho da braça, que obedece a um certo padrão, obtido com o diminuir ou aumentar um pouco de acordo com o tamanho do braço. O que não há, nesse caso, é uma exatidão, uma equivalência com as medidas do sistema métrico padrão. A braça é um artefato cultural que integra as práticas sociais das duas comunidades que estudei. Traduzir o comprimento da braça no sistema métrico padrão talvez seja algo que não tivesse muita importância ali, porque havia uma variação (mesmo que pequena) no tamanho aceito naquela cultura camponesa. Nesse sentido, a não-tradução ou mera transformação da braça em metro e centímetro pode ser pensada como algo intraduzível. Burbules (2003, p. 180-181) fala sobre essa questão: “(...) há diferenças intraduzíveis, ou onde a tradução não implica somente a inclusão de X na língua de Y, mas uma redefinição fundamental tanto de X quanto de Y”. Seguindo ao autor, posso pensar que não fazia sentido para aqueles camponeses e camponesas traduzir exatamente a braça no sistema métrico padrão, pois tal tentativa estaria reduzindo aquela atividade repleta de sentidos para o grupo apenas a um resultado numérico. Pelo que pude apreender de minhas observações e entrevistas realizadas, os modos de aquelas comunidades lidarem com a braça era bastante diferente do que discute Knijnik (2000), quando, apoiada em Hall, problematizou a questão da tradução no trabalho que desenvolveu junto a agricultores de assentamentos no Rio Grande do Sul, plantadores de arroz. Lá, como nos assentamentos por mim pesquisados, havia trabalhadores que faziam uso, em suas plantações, da braça. Mas, diferente do que constatei no nordeste sergipano, havia também outras unidades de medida de superfície (quadra e colônia) envolvidas na prática da plantação do arroz da comunidade formada por camponeses vindos de regiões muito distantes uma das outras. Como mostra a autora, naquele assentamento, diferentes unidades de medida populares estavam em confronto e em permanente tensão, e isso levou-a a problematizar a questão da tradução. Nos assentamentos 56 Marilene Santos sergipanos, a situação pareceu-me diferente. Não havia tal tensão. No entanto, eu, como professora, com as marcas da matemática acadêmica (que se recontextualiza na sala de aula como matemática escolar), é que, em vários momentos das entrevistas, me flagrei insistindo em obter dos agricultores e agricultoras uma equivalência da braça ou da vara no sistema métrico padrão. Por mais que estivesse atenta para evitar as comparações, muitas e muitas vezes dei-me conta de que estava sendo “o sujeito da compreensão” referido por Larrosa e Skliar (2001, p. 18 e 19), que (...) se crê capaz de mediar qualquer diferença: entre as línguas, entre os indivíduos, entre culturas (...) é o tradutor etnocêntrico: não o que nega a diferença, mas aquele que se apropria da diferença, traduzindo-a à sua própria linguagem. Knijnik (2004a, p. 23-24) também posiciona-se sobre essa questão quando discute o olhar de pesquisadores e pesquisadoras sobre as práticas populares. Afirma que medimos a distância que separa essas práticas das nossas, isto é, da matemática (...) e, em função disto, consideramos que certas matemáticas estão mais ou menos avançadas ou julgamos que em certo lugar podemos encontrar “rastros”, “embriões”ou intuições de certas operações ou conceitos matemáticos. As práticas matemáticas dos outros ficam assim legitimadas – ou deslegitimadas – em função de sua maior ou menor parecença com a matemática que aprendemos nas instituições acadêmicas. Quando eu tentava extrair uma equivalência entre as unidades de medida populares e o sistema métrico padrão e meus entrevistados e entrevistadas buscavam, de algum modo, dar-me respostas, as relações de poder entre pesquisadora e pesquisados e pesquisadas ficava clara. Parecia que se sentiam na obrigação de me responder, e alguns deram respostas que me fizeram supor que inventavam equivalências somente para me satisfazer, chegando inclusive a afirmar que uma vara tinha cinco metros. Meus entrevistados e minhas entrevistadas respondiam o que acreditavam que eu queria ouvir. E era importante que mostrassem que sabiam as respostas, pois, além de se tratar de questões relacionadas as suas vidas, eu era uma professora e eles “precisavam” mostrar que eram bons na matemática. Se eu, uma professora da cidade, fazia tais perguntas, estas mereciam respostas – mesmo que fosse qualquer uma. Para a confecção das redes, as mulheres utilizavam o mesmo tipo de náilon da tarrafa. Uma rede era feita com toda a quantidade de náilon do carretel ou novelo, podendo medir de 40 a 60 braças, de acordo com a largura da malha e a espessura do náilon. Se fosse uma rede para capturar peixes pequenos e médios, era usado o náilon com espessura de 20 milímetros e a rede ficava com 60 braças. Mas, se fosse para peixes grandes, como a xira, por exemplo, então o náilon utilizado era o de 30 ou 35 milímetros. Nesse caso, a rede só teria 40 braças, pois a malha é maior e o náilon, mais grosso. 26 A unidade de medida braça era utilizada nos assentamentos onde pesquisei também para medir rede para pesca de arrasto e trança de chapéu de palha. 57 Marilene Santos Quando questionadas sobre como aprenderam a fazer rede, as mulheres disseram que aprenderam com suas mães e que suas filhas também estavam aprendendo ou já tinham aprendido com elas. Afirmavam que, para aprender, bastava ficar olhando como a mãe ou outras pessoas do assentamento fazem e que quase todos da comunidade dominavam esse saber. A exceção era apenas para as pessoas que não eram dos assentamentos e que passaram a morar lá fazia pouco tempo, geralmente suas noras. O processo de transmissão pela observação é muito comum quando o saber a ser aprendido está relacionado a alguma atividade prática. Um assentado explicou como, em sua família, funcionava o aprendizado das práticas: Eu aprendi a medir as tarefas de terra vendo meu pai medir. O meu pai aprendeu com o meu avô, que aprendeu com o meu bisavô. Eu já ensinei aos meus filhos, e eles já estão ensinando aos meus netos (Curinha, assentado em Santana dos Frades). A narrativa de Curinha converge com o que Iturra (1992, p. 134 e 135) afirma quando se refere à questão do saber e do aprendizado no meio rural. Diz o autor: O camponês é a pessoa que aprende na prática do trabalho a maneira de entender o universo que o cerca. Desde o início de sua vida, as pessoas vão observando as atividades que seu grupo doméstico e seus vizinhos realizam, e já em seus jogos [suas brincadeiras] executam a mímica [imitam a] da realidade que, eventualmente, enfrentarão quando forem adultos.27 Como antes mencionei, ao citar o estudo de Duarte (2003), isso não ocorre só no meio rural. Ouvir as assentadas narrarem os “métodos” que utilizavam para transmissão de seus conhecimentos fez-me recordar momentos de aprendizagem que vivi na infância, quando, ao lado de meu pai, observava atentamente como ele consertava sua tarrafa. Não cheguei a aprender completamente a fazê-la, pois, na cidade onde morávamos, não havia a tecelagem da rede e o conserto era esporádico. Além disso, eu tinha outros interesses, era apaixonada pela escola, e aquela atividade era para mim, naquele momento, incompatível com escolarização. Penso que, de certa forma, queria “escapulir” daquelas atividades, mas lembro que, em alguns momentos, tentei imitar meu pai no conserto das tarrafas. Foram momentos de vida que, enquanto as assentadas narravam sobre como aprendiam e ensinavam tecer redes, me invadiram. Como acontecia com elas, também meu aprendizado em fazer tarrafas teve as marcas da observação. No trabalho de campo, constatei que algumas práticas, ao longo do tempo, têm sofrido alterações mais intensas, como a produção de redes e tarrafas. Segundo as mulheres, durante muito tempo, o fio utilizado na confecção desses artefatos era retirado da vegetação nativa dos assentamentos e passava por um longo processo de transformação antes de estar pronto para ser tecido. Atualmente, o náilon é comprado pronto, nem sempre pelas assentadas, visto que muitas delas,conforme referi anteriormente, somente vendem seu trabalho 27 El campesino es la persona que aprende, en la práctica del trabajo, la manera de entender el universo que lo circunda. Desde el comienzo de su ciclo de vida, las personas van observando la actividad que su grupo doméstico y sus vecinos realizan, y ya em sus juegos ejecutam la mímica de la realidad con que, eventualmente, se enfrentará cuando sea adulto. 58 Marilene Santos de tecelãs, ou seja, recebem o náilon e a determinação de um tipo de rede a ser tecida. Entregam a rede pronta e são remuneradas por isso. Dona Josina narra como era esse processo há algum tempo atrás: Antigamente não fazíamos com náilon, e sim com tucum [planta nativa da região] retirado da mata. O tucum é uma planta que parece com aricurizeiro, só que suas palhas são largas. Essas palhas eram retiradas com muito cuidado por causa dos espinhos, depois raspava para retirar uma linha de dentro da palha [o tucum]. Aí então, fiava, cochava,28 novelava pra depois tecer as tarrafas e as redes. Com o passar do tempo, apareceu o náilon, um coisa boa, pois já vem pronto pra tecer, e os fios de tucum perderam sua função. Agora é tanto tucum pelo mato, que a gente tem dó de ver os bichinhos sem ter mais nenhum valor. Agora com o náilon é só encher a agulha e tecer, não fia nem cocha mais (Dona Josina, assentada em Santana dos Frades). De acordo com a narrativa de Dona Josina, na substituição do tucum pelo náilon, há perdas, mas também ganhos. A mudança do material utilizado nas práticas de tecer redes e tarrafas, aliada à redução de tempo gasto na produção do fio, ao aumento no custo do produto final e à redução no número de pessoas que exercem tais práticas, provocou profundas transformações nas práticas de tecer redes e tarrafas, pois atingiu diretamente tanto o modo de produção quanto a comercialização de tais produtos. Houve um processo radical de mudanças na produção de redes, ocasionado principalmente pela substituição da matéria-prima utilizada – antes, o fio de tucum; agora, o náilon. O náilon é mais resistente, fator que garante maior durabilidade às redes; já está pronto para ser tecido, eliminando uma grande parte do trabalho, que era a produção do fio. Sua introdução no modo de produzir redes, que poderia ter se constituído como mais uma opção, com a qual as assentadas poderiam contar para oferecer a seus clientes, passou a ser a única alternativa, forçando o grupo a estabelecer novas relações de trabalho para a produção e a comercialização dos produtos. A substituição do fio de tucum pelo náilon industrializado, portanto, modificou as relações de trabalho e o processo produtivo relacionado a essas duas práticas, dando outros sentidos a elas. As práticas de tecer redes e tarrafas, que antes consistiam em produzir os fios, tecer as redes e vendê-las, atualmente consistem somente em tecer as redes. Como as assentadas não conseguem comprar o náilon, perdem a freguesia, pois os pescadores não aceitam mais as redes tecidas com tucum. Essa situação ocasionou a entrada de um terceiro sujeito nesse processo, o atravessador, que compra o náilon, negocia com as assentadas o valor que será pago por cada rede por elas tecida e vende as redes para os pescadores ou comerciantes pelo dobro do valor pago ao trabalho das assentadas. Desencadeou também um processo de empobrecimento das assentadas, já que antes elas conseguiam produzir e vender sua produção de redes e tarrafas e atualmente não têm condições de produzi-las por sua própria conta, dependendo, assim, dos atravessadores para continuar exercendo tais praticas. 28 Nos assentamentos estudados, o termo “cochar” era utilizado pelas camponesas para nomear o processo de transformação da linha do tucum em fio para tecer as redes e tarrafas. Para cochar, elas enrolavam a linha de tucum nos dedos e cochavam para dar forma ao fio. 59 Marilene Santos Todas essas mudanças provocaram um reordenamento no exercício das práticas sociais de tecer redes e tarrafas, dando novos sentidos a elas. 4.3 Costurando chapéus de palha Os nossos chapéus são feitos de trança de palha de aricurizeiro. Pra saber quando a trança dá um chapéu, medimos quatro braças e meia. Não são todas as palhas que servem para fazer chapéus, tem que ser a palha do olho. Colocamos pra secar, tiramos o talo e aí pode fazer a trança (Rosalia, assentada em Santana dos Frades). O chapéu de palha de aricurizeiro é um artefato que também compõe a produção artesanal dos assentamentos pesquisados. Os chapéus, além de não serem economicamente rentáveis, exigem bastante cuidado de quem os produz, já que qualquer umidade pode provocar perda total da produção. Em Santaninha e Santana dos Frades, as pessoas afirmaram que continuam produzindo chapéus porque dispõem de toda matéria-prima no próprio assentamento, não precisam comprar material, tal como fazem com as redes e as tarrafas. As mulheres que tecem chapéus dizem que têm que tomar cuidado para que, ao chegar o inverno, não fiquem com muita trança ou com chapéus prontos em casa, pois nesse período eles ficam amarelados e ninguém os compra. Na pesquisa de campo, pude observar que a prática da produção dos chapéus começa com a retirada da palha verde do aricurizeiro. Essas palhas são postas para secar ao sol e somente depois de secas são feitas as tranças. Quando as tranças ficam prontas, os chapéus são montados e costurados. Como me informou Maria Madalena, do assentamento Santaninha, e Dona Maria, do assentamento Santana dos Frades, a produção de um chapéu para uma pessoa adulta necessita de uma trança de quatro braças e meia e, para uma criança, geralmente a trança com três braças é suficiente. Como nos assentamentos a braça não é pensada em referência ao sistema métrico, havendo variação das medidas − conforme mencionei antes, ao referir-me à braça utilizada para medir as redes para pesca de arrasto –, o palmo e a polegada também não são referenciados pelo sistema métrico. As mulheres regulam o comprimento da trança fechando o braço ou acrescentando uma polegada ou mais para ter o tamanho da braça adequado para o chapéu. Para garantir que os chapéus não fiquem folgados ou apertados, as mulheres fazem um molde de madeira no formato de uma cabeça que comporta as quatro braças e meia de trança. Sobre essa questão, Laura, assentada em Santaninha, diz: As tranças pra chapéus, também medimos por braça. É difícil, porque os chapéus têm que ter o mesmo tamanho, e as braças podem ser diferentes, né? Por isso que tem o molde da cabeça, senão, ia ter muito tamanho de chapéus. Diferente das redes, que, se a pessoa que fez tiver os braços grandes, quem comprar sai ganhando”. 60 Marilene Santos Nessa fala, Laura mostra que não há um único tamanho da braça, ela pode ser maior ou menor, o tamanho do braço da pessoa que mediu é que vai determinar a medida, mas não há um tamanho exato, definido. Isso não significa que pode ser de qualquer tamanho. Há um intervalo de comprimento considerado adequado. Em algumas práticas, isso não é problema, e sim “solução”, já que o cliente sai ganhando no tamanho da rede, por exemplo. Em outras situações, a inexatidão no tamanho da braça é resolvida com alternativas para garantir a qualidade e a padronização dos chapéus. As tranças são costuradas com o mesmo tipo de palha utilizado para tecê-las. Há somente um detalhe em relação à tecelagem e à costura do chapéu, pois, ao contrário da trança, que precisa de palha seca para ser tecida, para a costura é necessário que as palhas estejam verdes. As palhas verdes, segundo as assentadas, não quebram com facilidade quando costuram, enquanto as secas, além de quebrarem bastante, enrolam muito, provocando nós nas tranças, o que dificulta o processo de costura e montagem dos chapéus. Uma pessoa que dedique um dia de trabalho na produção de chapéus chega no final da jornada com uma produção de dois ou três chapéus completos. Se, no entanto, organizar o processo produtivo em etapas, ou seja, primeiro tecer bastante e somente posteriormente montar e costurar, consegue, segundo as assentadas, uma produção bem maior. As mulheres de Santaninha e Santana dos Frades, geralmente, preferem primeiro tecer as tranças até dispor de uma boa quantidade. Tecem durante vários dias e depois montam e costuram os chapéus. O processo completo da produção de chapéus consiste em tecer a trança, e costurá-lo. Antes de costurar o chapéu, é necessário ainda “pelar” as tranças, ou seja, colocá-las ao sol e, quando estiverem bastante quentes, ir puxando as pontas que se formam por conta das emendas de palhas durante a tecelagem. O calor do sol na palha seca faz com que elas se desprendam com facilidade. Como pude constatar quando realizava o trabalho de campo, a produção dos chapéus acontecia, muitas vezes, somente nas horas vagas ou intervalos entre as outras atividades cotidianas, após o almoço e no final da tarde, exceção apenas para as famílias em que as mulheres não iam trabalhar na roça e podiam dedicar mais tempo para essa atividade. A organização familiar para produção de chapéus destina às mulheres essa prática, mas encontrei alguns homens que também participavam da produção, tecendo trança ou costurando chapéus. Na maioria das entrevistas que realizei com as pessoas que tecem chapéus, assim como ocorreu nas demais práticas, encontrei crianças observando suas mães tecerem as tranças. Algumas que já haviam aprendido quiseram mostrar sua habilidade para mim. Numa das primeiras entrevistas que realizei com mulheres em Santana dos Frades, enquanto entrevistava a mulher, havia algumas crianças ao redor. Num certo momento, uma menina de aproximadamente uns dez anos que estava atenta a nossa conversa pegou uma trança inacabada e, olhando para mim, começou a tecer, dizendo: “Eu também sei fazer trança, quer ver?” Aquela menina parecia estar muito orgulhosa de sua aprendizagem. Duarte (2003) também constatou algo semelhante junto aos filhos dos pedreiros nos canteiros de obra quando aqueles passavam a dominar o ofício de seus pais. Considerei esse como mais um momento em que a minha presença produzia efeitos nas pessoas, interferindo em suas vidas. Tentei estar sempre atenta a essas situações para perceber quando determinadas 61 Marilene Santos respostas de meus entrevistados e entrevistadas, assim como antes já referi, eram predominantemente uma estratégia para me satisfazer. Mesmo sendo a produção de chapéus a prática menos lucrativa economicamente, muitas pessoas, tanto em Santana dos Frades quanto em Santaninha, a exercem. Talvez porque, diferente da tarrafa e da rede, que exigem a compra ou recebimento do náilon, para os chapéus, o assentamento dispõe de todo o material necessário ali mesmo. Outro aspecto da produção na prática social de tecer chapéus nos assentamentos pesquisados diz respeito ao modo como ocorria a divisão do trabalho. Havia grupos de famílias que teciam as tranças e as vendiam para outros grupos, também do assentamento, que ficavam, então, responsáveis pela costura e venda dos chapéus prontos. De acordo com o período – o melhor preço é sempre no verão –, cada chapéu é vendido por, no máximo, cinqüenta centavos de real ali dentro do assentamento. Algumas pessoas vendiam nas feiras da região – onde, segundo disseram, conseguiam preço maior −, e outras vendiam direto para os comerciantes. Para a comercialização dos chapéus, não havia a interferência do “atravessador”, mas não deixa de haver uma terceirização do processo produtivo quando algumas mulheres somente tecem e vendem as tranças, enquanto outras costuram e vendem os chapéus. Havia, nesse caso, uma divisão social do trabalho no interior do próprio grupo. Na comercialização interna, no processo de compra e venda de trança, não há um valor predeterminado, como com o preço dos chapéus e das tarrafas. Cada compra era negociada no momento de sua efetivação; por isso, as assentadas diziam não saber quanto custava uma trança de chapéu. 4.4 Produzindo vassouras Além de fazer chapéu, eu também tiro talo pra fazer vassoura. É um trabalho de doido, a gente entra nesses matos pra tirar os talos e vende muito barato para as pessoas que fazem as vassouras. Pra você ver, uma mão cheia dá uma vassoura. Agora até conseguir uma mão de talo é muita palha que a gente corta e muito tempo dentro da mata. Nem vale a pena (Arnalda de Santana, assentada em Santana dos Frades). As vassouras de palha de aricurizeiro fazem parte também da produção artesanal do assentamento Santana dos Frades. Em Santaninha, as pessoas que faziam chapéus vendiam os talos para as mulheres de Santana dos Frades que faziam as vassouras. Essa também era uma prática na qual havia a divisão social do trabalho. As assentadas que relataram sobre essa atividade afirmaram que faziam apenas uma parte da produção de vassouras. Umas tiravam os talos, montavam os molhos e punham para secar, enquanto outras montavam as vassouras e as vendiam. Explicaram que dividiram esse processo porque era muito trabalhoso e pouco lucrativo; então, aproveitavam que precisavam tirar palha para os chapéus e tiravam os talos também. Para a produção de vassouras, a referência era a mão. Eram utilizadas duas unidades de medida, o palmo e a polegada. O palmo, como referido anteriormente, consiste na distância entre a ponta do dedo 62 Marilene Santos mínimo à ponta do polegar, medida com a mão aberta. A polegada é uma medida que tem o tamanho determinado pela distância entre a ponta do dedo polegar até a ponta do dedo indicador, quando ambos estão afastados o máximo possível. Essa unidade de medida, a exemplo da braça e do palmo, conforme já referi anteriormente, também não era utilizada tendo uma equivalência no sistema métrico padrão. O comprimento das vassouras era, geralmente, de sete palmos de cabo e um palmo e uma polegada de palha. A palha era retirada do mato ainda verde e colocada ao sol para secar. Em seguida, era preciso ripar tirar o talo e fazer os molhos. O molho de palha seca é amarrado no cabo e preso por uma trança. Segundo relataram algumas assentadas, a trança que prende as palhas no cabo da vassoura deve ser muito bem feita para que a palha segure bem firme no cabo. As assentadas que produziam as vassouras geralmente compravam o serviço de algumas jovens do assentamento, que se responsabilizavam pela colheita e secagem das palhas, ou, como antes referi, das pessoas que tecem chapéus. Josina, assentada em Santana dos Frades, explicou como aprendeu a fazer vassouras e como consegue o material necessário a sua produção: Foi a minha sobrinha que me ensinou a fazer vassoura. Aí fiz algumas, as pessoas gostaram, começaram a encomendar, então, dei continuidade e até hoje tô aqui fazendo minhas vassouras (...). Vendo bem, tanto aqui no assentamento como no povoado vizinho (...) Agora tenho que comprar tudo, não agüento mais ir pra mata (...). Tem umas meninas que me vendem os molhos a treze centavos. Elas mesmas são quem tiram as palhas, ripam os talos, secam e fazem os molhos. Já compro pronto. Na narrativa da assentada, é possível perceber uma relação de trabalho baseada na compra de serviços ou na divisão social do trabalho como constituidora do exercício dessa prática social. Essa forma de estrutura nas relações de trabalho está presente em várias práticas sociais que observei, tanto em Santaninha quanto em Santana dos Frades. A maneira como as trabalhadoras se organizavam para o trabalho – dividindo as etapas do processo produtivo – não está relacionada somente à questão da matéria-prima, pois, tanto para os chapéus quanto para as vassouras, as assentadas dispõem de toda matéria-prima no assentamento. A mim, parece que essa forma de trabalho coletivo é uma das características do grupo para a organização da produção e que, mesmo que não fosse necessário, do ponto de vista estrito, para desenvolver seu trabalho, haveria tendência de organizar a atividade de modo compartilhado. As vassouras produzidas em Santana dos Frades eram comercializadas no assentamento e nos povoados e municípios vizinhos. Cada vassoura era vendida por dois reais. Esse valor tornava-as bastante lucrativas, já que a despesa, em alguns casos, era somente de treze centavos, acrescidos da mão-de-obra de quem as produzia. As unidades de medida utilizadas nos assentamentos de Santaninha e Santana dos Frades têm o corpo como referência principal integrando a cultura daquele grupo. São constituídas e constituem as práticas sociais em que operam. É através da cultura que as pessoas significam, dão sentido às unidades utilizadas no seu cotidiano. Essa significação não ocorre de forma isolada e particular nos indivíduos, mas por meio de sistemas e estruturas de relações de e entre grupos, criando, assim, suas marcas, suas redes de significação. 63 Marilene Santos 4. 5 Construindo canoas Não é bom uma pessoa começar e outra terminar a canoa porque pode sair um lado diferente do outro. Aí a canoa afunda. Agora, no nosso caso, que eu aprendi com meu pai e meu filho já aprendeu comigo, o trabalho que um começar, o outro pode terminar sem medo. Nós reconhecemos uma canoa feita por nós em qualquer lugar (Andinho, assentado em Santana dos Frades). No assentamento Santana dos Frades, havia também a prática social de fazer canoa, na qual os assentados também utilizavam a observação como forma de transmissão de saber aos demais membros do grupo. Fazer canoa era uma atividade que geralmente envolvia duas pessoas, mas que poderia eventualmente ser efetuada por apenas uma. É uma prática que requer muita atenção e cuidado, pois, como Andinho afirma nessa narrativa, os dois lados têm que ser iguais sob pena de a canoa afundar quando posta na água. Em Santana dos Frades, somente algumas pessoas autorizavam-se a construir uma canoa. A restrição a essa atividade ocorria por vários motivos segundo os assentados. Em primeiro lugar, porque essa era uma prática que os assentados controlavam com muita rigidez por conta do regimento do assentamento, que tinha como um dos principais princípios preservar o meio ambiente e evitar o desmatamento. Essa é uma preocupação da direção estadual do MST que tem sido discutida com todos os grupos de assentados do estado de Sergipe. A coordenação tem orientado os trabalhadores, tanto durante as ocupações na fase de acampamento quanto por ocasião da imissão da posse da terra, quando a área passa à condição de assentamento, para o respeito e preservação do meio ambiente. Como em Santana dos Frades os trabalhadores tinham, dentro dos limites do assentamento, uma parte de mata, foi necessário criar um instrumento que regulasse o uso dessa área, e algumas restrições foram adotadas. Sobre essa questão, Andinho diz o seguinte: “nós só podemos fazer canoas pras pessoas do próprio assentamento. Não podemos pegar madeira e fazer canoa pra vender, tem que ser consumida aqui dentro... Isso é lei aqui na comunidade pra não desmatar”. Em segundo lugar, como essa é uma prática muito difícil, eles não a confiam para qualquer pessoa. Somente quem tem muita experiência está autorizado a executar tal prática. Como são poucas as canoas construídas e tem a observação como principal forma de transmissão, observei ser esta uma prática exercida raramente no grupo. Ademais, para não correr o risco de perda de madeira, os assentados não aceitam que a canoa seja feita por pessoas diferentes, como Andinho mencionou quando disse que não é bom um começar e outro terminar de fazer a canoa. Escutei no assentamento alguns trabalhadores afirmarem que, se isso ocorre, “não dá certo, a canoa fica torta”. Dona Laudilina explicou: As canoas são feitas pelos homens, tem que ter muito cuidado quando vai fazer. Não pode uma banda29 ficar maior do que a outra... tem que ser tudo igual, a largura de uma banda tem que ser igual à outra. E outra coisa, o mesmo 29 Banda era um termo utilizado pelos camponeses para denominar cada lado da canoa. Elas são feitas com duas metades, cada metade é uma banda. 64 Marilene Santos homem que fez uma banda tem que fazer a outra, senão não dá certo, o cara vai terminar se afogando se não souber nadar (Dona Laudilina, assentada em Santana dos Frades). Na construção das canoas, os assentados disseram usar o palmo como unidade de medida. Segundo eles, os tamanhos das canoas variam de acordo com a quantidade de pessoas que ela suporta. Eles constroem de todos os tamanhos, da menor, para duas pessoas apenas, até as maiores, nas quais podem viajar até dez pessoas. As mais solicitadas pelos assentados são as que suportam até três pessoas, utilizadas principalmente para pescar. Andinho explica sobre as medidas necessárias para os dois tipos de canoa mais utilizados no assentamento: Eu aqui faço canoa até pra dez pessoas, mas aqui a maioria do povo só precisa das de duas ou três pessoas. Pra duas pessoas, a canoa tem que ter mais ou menos um palmo e meio de boca (largura), menos de um palmo, só que quase um palmo de altura, com 18 palmos de comprimento. E pra três pessoas, como essa aqui, a gente bota 20 palmos de comprimento, um palmo de altura e dois de boca. Desse jeito nosso é mais fácil de medir com palmo, com vara do que com metro. Acho que deve continuar assim porque já vem dos nossos antepassados, sempre medimos assim e dá certo. Agora se for construir uma casa, por exemplo, pode usar essa medição de metro. Agora se vai medir uma roça, aí a gente usa aquela que é necessária, a vara. Com a vara, a gente já mede direto e com o metro tem que ir riscando, marcando. Em cada atividade, a gente usa a medida que é necessária. Tem também polêmica quanto à pessoa que fez a vara. Se as pessoas desconfiam da precisão no seu tamanho, aí pode recorrer ao metro para tirar a dúvida (Andinho, assentado em Santana dos Frades). As canoas produzidas no assentamento Santana dos Frades duram até vinte anos. Essa durabilidade, segundo Andinho, ocorre porque a madeira utilizada é o carvalho, que dura muito tempo. Ao defender a continuidade do uso de suas unidades de medida, Andinho apresentou três argumentos. Disse ser esse de fácil utilização; ser um sistema muito antigo, que dá certo para resolver suas necessidades de medir; e, por último, mostrou que há algumas exceções em que eles aceitam utilizar outro sistema, principalmente se as suas unidades de medida gerarem polêmica entre as pessoas do grupo. Novamente, ficou evidente que, mesmo preservando suas práticas culturais, havia abertura para outras experiências culturais, que, inclusive, em alguns momentos, se misturavam, provocando certo hibridismo. Ao lidar com a interferência de outras culturas, os assentados e assentadas acabam por introduzir mudanças na sua própria prática cultural, re-significando-a. Eles mantêm práticas sociais que já eram exercidas por antepassados, mas não com o olhar somente no passado, como algo estático, imutável, fixo. 4.6 Medindo a terra É assim: pra plantar uma tarefa de coqueiros, a gente mede 25 por 25 varas; um quarto mede 12 por 12(...). Pra medir a farinha, usamos uma medida de dez litros, mas essa medida não equivale a dez quilos, dá apenas sete ou oito quilos, 65 Marilene Santos no máximo, dependendo da farinha. Essa medida é o celamim... Pra plantar os coqueiros, dentro de uma tarefa, só cabem 25 pés, e a distância entre um e outro é de 4 varas. Pra fazer as cercas, a distância de uma estaca pra outra, a gente faz no olho, mas, de um arame pra outro, medimos um palmo e uma polegada. A cerca fica na altura dos peitos de um homem, mais ou menos um metro e meio. Todas as pessoas daqui sabem medir dessa forma (Zé da Praia, assentado em Santana dos Frades). Em minha permanência nas comunidades do nordeste sergipano, pude constatar que a prática social denominada pelos assentados como “medir terra”30 era desenvolvida freqüentemente, mas apenas por alguns assentados, sendo chamada por alguns deles de “cubar a terra”. Essa expressão foi mencionada também por Knijnik (1996, p. 39) quando analisou a prática social de cubação da terra utilizada por agricultores vinculados ao MST gaúcho. Nos dois métodos populares analisados, constata-se que “os métodos populares de cubação da terra se constituíam em aproximações das áreas das superfícies que precisavam medir”. Nessa prática social, diferente das outras vinculadas à produção artesanal, em que as mulheres atuavam majoritariamente, aqui quase todos os que mediam eram homens. Do universo pesquisado, encontrei apenas uma assentada que media terra quando necessário. As outras mulheres que participaram desta pesquisa afirmaram recorrer aos homens quando o assunto era a medição de terra. Para cubar a terra, os assentados utilizavam a tarefa como unidade de área, uma tarefa equivalendo a 25 varas quadradas31 (muitas vezes chamada, nos assentamentos que estudei, de 100 varas). João Francisco, assentado em Santaninha, disse: A medição de uma tarefa é 25 varas num quadro, aí é uma tarefa. Essa é a tarefa certa, 25 varas em cada aceiro32. Mas nem toda terra é quadrada. Às vezes, a terra tem 20 varas de boca – largura – e 30 varas em cada aceiro – comprimento. Aí também tem uma tarefa, contanto que dê 100 varas no total. Para medir a terra, isto é, calcular sua área, o instrumento utilizado nas comunidades era a vara. Medir a terra era necessário quando os assentados precisavam contratar os serviços de terceiros para limpá-la antes do plantio e para a colheita de seus produtos. A referência para o comprimento da vara é o corpo por inteiro. Curinha e Andinho, assentados em Santana dos Frades, explicaram-me o processo de construção do instrumento vara em uma ocasião em que estive conversando com ambos. Andinho – Aqui a gente mede terra por vara. Como eu já disse, a vara é medida pelo tamanho de um homem médio e dá 2,20 m. 30 Quando se referiam à prática de “medir terra”, falavam de um procedimento para calcular a área de um “pedaço de terra”. 31 Uma vara quadrada (expressão que, no trabalho de campo, não ouvi) corresponde à área de um quadrado de lado equivalente a uma vara: 2,20m. Sua equivalência no sistema métrico é de 44,44 m2. Assim, 25 varas quadradas equivalem a 1.111 m2. 32 O termo aceiro era utilizado pelos agricultores para denominar os limites (lados) da área de terra a ser medida 66 Marilene Santos Curinha – Sou eu [que sou um homem médio]. Fico aqui em pé com o braço levantado [aponta para o dedo médio] e ainda boto três dedos, marco aqui na ponta desse dedo e acrescento mais três dedos. Faço pra qualquer um medir e dá esse tamanho que ele tá dizendo aí. Sem metro, sem nada. Eu vou cortar esse pau aí e quero de tantos metros, então corto uma varinha fina, aí boto no dedo grande, estico aqui [do dedão do pé até um pouco abaixo da cintura] e tenho um metro. Pode pegar um metro desses da praça pra ver que dá certinho. Nós temos essas idéias aqui no interior [no meio rural]. Esse diálogo mostrou-me que, quando esses dois assentados falavam da construção da vara, não conseguiam mais separar a referência cultural de seu grupo (o tamanho de um homem com o braço levantado acrescido de três dedos) da referência padronizada do sistema métrico oficial, isto é, sua equivalência a 2,20m, uma equivalência que tiveram que incorporar quando da posse da terra. Para medir terra, os camponeses afirmaram que a vara e a tarefa eram as únicas medidas que utilizavam nos assentamentos. Relataram também que foram forçados a padronizar a vara para 2,20m à medida que as unidades do sistema métrico oficial lhes foram impostas, principalmente quando conquistaram a posse da terra e precisaram dividi-la em lotes iguais entre as famílias. Para determinar o tamanho da área a ser assentada, como também o tamanho do lote que cabe a cada família, o INCRA utiliza o hectare – medida do sistema métrico oficial que corresponde a 10.000 m2 ou à área de um quadrado de lado equivalente a 100 m. Segundo relataram, os assentados não compreendiam essa linguagem – a do sistema métrico oficial −, e assim criou-se um grande problema para eles, porque tinham a terra, mas não sabiam quanto caberia para cada família. Essa situação forçou tanto o INCRA, através de seus técnicos, quanto os próprios assentados a promoverem uma “tradução” do hectare em tarefas, para que as pessoas compreendessem como havia sido distribuída a área assentada. Atualmente, falar da construção do instrumento de medir, a vara, para os assentados implica, portanto, fazer uso de dois referenciais: o corpo humano e o metro. A equivalência da vara a 2,20 m nem sempre esteve presente nos assentamentos que pesquisei. Como escutei numa das famílias visitadas, ela tinha tamanhos variados, umas eram maiores, outras menores, não havendo um tamanho determinado. No entanto, a variação situava-se dentro de um intervalo razoável. Manoel Paixão, do assentamento Santaninha, contou-me sobre as mudanças pelas quais a vara passou nos últimos tempos: Nos tempos mais pra trás, antigamente, o povo era tolo, não tinha tanta gente esperta, então não tinha problema se o tamanho da vara fosse variado. Só que, de uns tempos pra cá, depois dos estudos, dizem que uma vara certa tem que ter dois metros e vinte. Agora são todas iguais... Então, eu comecei a fazer as varas que todo mundo faz, já com dois metros e vinte. Na fala de Manoel, fica evidente como há um processo de disputa, de tensão presente nas práticas culturais desse grupo. Esse depoimento mostra que não há um congelamento nas práticas sociais. Mesmo que tais práticas estejam sobrevivendo geração a geração, elas não são as mesmas sempre e estão em constante processo de reinvenção. 67 Marilene Santos Mesmo reconhecendo que seria um problema ter atualmente varas com tamanhos diferentes, Manoel parece resignado. Mostra que foi “vencido” e que hoje tem que fazer como os outros fazem. O assentado conformou-se com a padronização da vara e aponta “os estudos” como causa de tal padronização. Nas muitas oportunidades em que ouvi os assentados se referirem à construção da vara, pergunteilhes sobre como poderiam ter certeza que as varas tinham um único tamanho se mais de uma pessoa utilizava seu corpo como referência e cada um tinha tamanho diferente – como poderiam garantir que as varas fossem do mesmo tamanho? Eles disseram que, algumas vezes, havia desconfiança entre as pessoas que utilizavam a vara e em relação a quem a fazia. Segundo afirmaram, já havia ocorrido casos em que um assentado solicitava que um companheiro fizesse uma vara para ele, mas, depois de pronta, a vara não era utilizada porque a pessoa desconfiava que esta era menor que o tamanho determinado. Para não se indispor com o companheiro, guardava a vara e, quando precisava utilizá-la, pedia uma emprestada de outra pessoa. Também havia situações em que, conforme afirmaram, recorriam ao metro para conferir se a vara em questão tinha o tamanho determinado. Lenaldo, assentado em Santana dos Frades, disse que ele e alguns companheiros preferiam não arriscar e, quando precisavam de uma vara, encomendavam sempre de uma pessoa que sabiam ter o tamanho “certo” para fazê-la. Disse ele: “Aqui, às vezes, dá confusão o tamanho da vara, dá desconfiança por causa do tamanho do cara que fez. Eu e outros, pra não arranjar problema com os companheiros, a gente costuma pedir pro povo dos Teixeira pra fazer, porque ele tem tamanho. Ainda sobre a padronização do tamanho da vara, Curinha, assentado em Santana dos Frades, disse: Esse jeito de medir já vem de muito tempo atrás, dos meus bisavôs. Foi a justiça que revelou esse tipo de vara. Antigamente, as varas eram desmarcadas, podia ser do tamanho que a gente quisesse, porque a terra era aí a garner.33 Depois que a terra passou a ser limitada, tudo mudou, esse dado já é da justiça. Foi do tempo de meu pai pra cá que começou precisar caminhar pra justiça pra comprar um pedaço de terra. Aí o tamanho da vara passou a ser limitado ao que é hoje [2,20m]. O pessoal chamava: “Vamos comprar um pedaço da terra de seu fulano”. Aí outro dizia: “Rapaz, não tenho dinheiro pra comprar, não”. E vai chegar o dia em que a terra será forra”34 Nesse tempo, era terra aí a garner, era outro modelo. Agora sabemos sim que tem outro jeito de medir. É litro, metro, quilo (...) Tem lugar que, pra medir litro, chama cuia. Aqui a gente manga35 das pessoas que saem daqui por um tempo e depois chega falando diferente. Acho que a gente mantém essa forma de medir aqui por não confiar nesse outro, por causa da sabedoria. Porque nós temos a conta da nossa vara, mas temos também a nossa espinha pra dá apuração da nossa vara.36 Tem gente por aí, que vem de fora, como esses usineiros, que têm a vara deles, mas escraviza quem vai trabalhar. Porque ele não dá a volta no espinhaço, ele dobra a vara e bota em cima do dedo grande do pé. Quando bota no pé, a pessoa pensa que ele vai medir direito, mas quando empurra a vara pra frente, puxa novamente pra 33 A expressão “a garner” é utilizada na região no sentido de abundância e fartura. O sentido dado pelo grupo à expressão “terra forra” é o de terra livre para todos que vivem nela. Usam a palavra “forra” referindo-se a “alforria”. 35 A expressão “mangar” é utilizada pelo grupo para expressar zombaria, ironia. 36 O assentado refere-se ao modo que considera honesto de medir um comprimento. Ele diz que o “certo” é medir dobrando o corpo para apoiar a vara no chão sem empurrá-la. Segundo Curinha, quando empurram a vara para frente, aumentam de modo desonesto o comprimento que está sendo medido. Isso geralmente é feito pelos usineiros, no início do dia, quando medem a área a ser trabalhada. Se a área trabalhada é medida no final do dia, eles puxam a vara para trás, diminuindo sua extensão. 34 68 Marilene Santos trás porque não dá a volta no espinhaço. Porque a vara deve ser medida aqui no pé. Tem que tirar a sandália pra prender a vara dentro dos dedos. Nessa narrativa, o assentado fala o que considera como a forma “adequada” de usar a vara no processo de medir a terra. Afirma que há diferenças na forma de medir, fator que gera tensão, desconfiança e revolta em alguns. Recorda que é recente essa exigência de padronização, que veio junto com a necessidade de comprar terra, já que, antes, seus antepassados (os índios) eram os donos da terra. É importante enfatizar a esse respeito que essa geração de trabalhadores e trabalhadoras, que conquistaram aquela área de terra após um longo processo de luta, são os posseiros que sempre viveram ali. São descendentes dos índios e escravos que habitaram aquela região por muito tempo. Os assentados utilizavam-se do método mais simples para fazer os cálculos referentes à área de terra medida. Somavam as medidas lineares dos quatro aceiros, buscando encontrar o total de 100 varas. Segundo eles, para encontrar esse valor, os aceiros podiam ter diferença nos tamanhos, mas preferiam sempre que a terra fosse quadrada (com 25 varas em cada aceiro). Andinho e Curinha explicaram como utilizavam esse método: Andinho – Você quer saber como é que a gente mede terra aqui, não é? Porque por aí as pessoas medem com metro. Mas a diferença aqui é que a gente não vai pegar num metro pra medir uma terra. Uma vara aqui é a medida dum homem e tem o valor de 2,20 m, como eu disse. Um quarto são uma tarefa dividida em 4 partes. Juntando as quatro partes, dá uma tarefa (Andinho). Curinha – Agora junta 7 quadros desses [cada um de uma tarefa], que vai dar um hectare. Andinho – Bem, ele tem que medir de um jeito que dê 100 varas. Se não der na largura, tem que dar na altura; se não der na altura, tem que dar na largura. Se só tiver 3 aceiros? Aí, o que vai acontecer?100 dividido por 3 vai dar 33 e uns quebradinhos, não é? Então, o cabra vai ter que botar em cada cabeça dessas 33 varas e uns quebrados.. Curinha – Mas é difícil ter uma terra nesse ponto. A terra que a gente vai medir, se não der condição de uma tarefa, não mede. De onde vai tirar uma terra para aquela tarefa? Só tira meia tarefa, aí é um caso que não tem jeito. Nessa narrativa, os dois assentados tentam explicar o método que utilizam na medição, mas conseguem apenas falar sobre o procedimento para garantir que a área tenha 100 varas no comprimento no total da soma dos quatro aceiros. Nas diversas oportunidades em que solicitei de meus entrevistados um detalhamento do método que utilizavam para medir área, recebi respostas insuficientes para que eu os compreendesse. Afirmaram que era difícil fazer essas contas e que não eram todos que sabiam fazê-las. Somente um assentado deu uma resposta que me pareceu mais clara sobre o método de medição. Ele diz que: “a gente mede a largura da boca [largura da área], soma as duas e divide. Mede a extensão e soma e divide, depois faz uma [largura] vez outra [extensão]” (Lenaldo, assentado em Santana dos Frades). O método utilizado pelo assentado é semelhante ao que alguns trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul utilizam para cubar a terra, conforme foi analisado por Knijnik (1996, p. 35-36). O “método do Adão” consiste em somar dois aceiros da terra e dividir por dois, somar os outros dois e também dividir por dois e em seguida multiplicar um resultado pelo outro, obtendo o resultado da cubação. Já no “método do Jorge”, 69 Marilene Santos são somados os quatro aceiros da terra, divididos por quatro e finalmente o resultado é multiplicado por ele mesmo, para então ser obtido o valor da área. Os assentados fizeram referência ainda à unidade “um quarto de tarefa”, utilizada, segundo eles, para facilitar as negociações, principalmente quando precisavam pagar pelos serviços de alguém ou vender alguma produção ainda na roça. Não era sempre que eles precisavam pagar para limpar uma tarefa de terra antes do plantio ou tinham uma tarefa de mandioca para vender. Geralmente, a necessidade de compra dos serviços ou venda da área plantada era inferior a 25 varas quadradas. Para atender a essas necessidades, criaram unidades menores que a tarefa. Uma prática muito comum nos assentamentos, utilizando a vara como medida, era a venda de parte da produção agrícola antes da colheita. Um produto que era bastante negociado ainda na roça, antes de ser colhido, era a mandioca. Para efetuar esse tipo de negociação, utilizavam-se a vara e a tarefa como medidas básicas. Sobre esse tipo de negócio, Dona Laudilina, a senhora assentada de Santana dos Frades a quem já me referi antes, deu o seguinte depoimento: Eu trabalho em minhas roças, planto minha mandioca, mas também compro mandioca dos outros. Funciona mais ou menos assim: alguém vem e diz que tem uma mandioca pra eu comprar. Vou lá, meço um quarto ou meia tarefa. A gente chega a um acordo que seja bom pra nós dois, pois eu tenho que pagar pra arrancar a mandioca e pra usar o motor. Não tenho casa de farinha. Tudo isso é incluído, senão não vale a pena comprar. Aí mede tantas varas, a mandioca que tem ali dentro eu compro. Aí arranco, levo pra casa de farinha, faço a farinha e pronto. Muita gente aqui já entende essas medidas de metro, hectare, mas, na hora de medir, eles usam as antigas medidas mesmo, porque, se for fazer um negócio comigo, por exemplo, eu não vou me conformar, aí vai dar confusão. Nós compramos e vendemos assim. Quando Dona Laudilina menciona a existência de uma outra forma de medição, diferente da que ela conhece e em que confia, faz-me ver que manter o “seu” jeito de medir não se dá tranqüilamente, sem contestação, sem conflitos. Pelo contrário, sua fala mostra que constantemente os assentados e assentadas estão se questionando sobre suas medidas, pois não estão isolados do mundo, convivem com situações em que somente são aceitas as medidas padronizadas, e manter uma forma diferente de medir muitas vezes pode se constituir em problemas. Ao mesmo tempo, são essas as medidas que a grande maioria conhece, com elas sabe lidar e nelas confia. Fixar a vara em 2,20m foi necessário para uniformizar o tamanho da medida. Essa uniformização garantiu, de certa forma, que houvesse a equivalência da área dos lotes medida pelo INCRA em hectares com a área expressa pela unidade tarefa. Outra unidade de medida relacionada à prática social de medir terra é o celamim, uma unidade utilizada para medir os principais produtos agrícolas, como a farinha de mandioca, o feijão, o milho e o amendoim. Essa medida é uma caixa quadrada de madeira que, geralmente, tem 9 cm de largura e 8 cm de altura. Segundo relataram alguns assentados, o celamim também passou por mudanças que ainda podem ser percebidas na atualidade. Um assentado deu o seguinte depoimento: “o celamim é usado pra medir feijão ou farinha. Antigamente o celamim era de 12 litros, hoje é de 10 e até de 8 litros. O litro também mudou, nunca dá um quilo, é sempre menos. Pra você ver, o celamim de 8 litros não dá 8 quilos, é sempre sete e meio mais 70 Marilene Santos ou menos. (Manoel Paixão, assentado em Santaninha). Ainda sobre a variação do celamim, outra assentada afirma algo semelhante. Diz ela: “Um quarto de mandioca vai dar uns 40 celamins de farinha. O celamim tem vários tamanhos, pode ter 9, 10 ou 11 litros. A medida maior é a melhor” (Dona Maria, assentada em Santaninha). Como aprendi nos assentamentos pesquisados, os principais produtos medidos no celamim têm a seguinte equivalência em relação ao sistema métrico padrão. Cada celamim de farinha e de amendoim pesa 5kg, e um celamim de feijão ou de milho equivale a 7kg. Quanto ao uso do celamim pelos assentados, Andinho dá o seguinte depoimento: “...a história do quilo na farinha foi uma confusão pra aceitar, e muita gente não obedece. Toda farinha aqui tem que passar pela medida do celamim. Nem que, quando sair daqui, seja pesada, mas a gente já sabe quantos celamins saiu e quantos quilos tem cada um”. O celamim é um exemplo de uma das unidades de medida que sobreviveram ao sistema métrico, conforme afirma Souto Maior ( 1978, p. 22), no período da implantação do Sistema Métrico Francês no Brasil, que culminou com a revolta dos Quebra-quilos, “os grãos e a farinha eram medidos em celamins”. A existência dessas medidas remete-nos ao período anterior à implantação do sistema métrico padrão. Nesse período, no Brasil, havia uma variedade muito grande de medidas, e algumas delas ainda continuam sendo utilizadas nos assentamentos Santana dos Frades e Santaninha. 71 Marilene Santos 5. DO TUCUM AO NÁILON PRONTO: “PELANDO” O CURRÍCULO? Esta dissertação foi elaborada com o propósito de compreender práticas sociais de produção e as unidades de medida nelas envolvidas. Ao escrever este último capítulo, apresento algumas considerações finais relativas ao tema de estudo e a minha experiência de pesquisadora iniciante. Mesmo sendo a parte final da dissertação, minhas reflexões não têm a pretensão de ser conclusivas, definitivas, tampouco fechadas. Elas são provisórias e mostram somente o resultado nunca conclusivo do que aprendi nesses dois anos de curso de Mestrado. Esses anos de estudo oportunizaram-me entrar em contato com uma literatura que, além de servirme como lentes teóricas para conceber e analisar a pesquisa que desenvolvi, me ajudou a construir outros jeitos de olhar para o mundo e para mim mesma. Hoje dou-me conta de que, quando cheguei ao sul, possivelmente devido a minha própria trajetória de líder sindical, eu era uma pessoa que se sentia na “obrigação” de convencer os outros de suas idéias, uma permanente militante no convencimento de suas crenças e seus projetos de mudança social. Agora, mesmo não tendo abandonado minhas posições políticas e meu inconformismo com a injustiça social, aceito com maior tranqüilidade que nem todas as pessoas precisam compartilhar de minhas idéias. Sinto que meus estudos sobre cultura, identidade e diferença estão me constituindo como uma mulher que olha para si e para os outros lidando melhor com a diferença. Para mim, foi muito difícil estudar essas teorias que eu via, no início, como indo de encontro a tudo o que antes tinha aprendido. Principalmente, apropriar-me dos conceitos foi algo que me exigiu um grande esforço, pois precisei reformular quase tudo que antes havia construído como certezas. Depois, fui me dando conta de que aquelas certezas não estavam tão firmes assim, que a própria idéia de certeza era problemática. Quanto mais estudava sobre Etnomatemática e as teorias contemporâneas do currículo, mais encontrava, nessas áreas do conhecimento, elementos teóricos que davam sustentação a questões que antes eu percebia de uma maneira intuitiva, sem uma sustentação teórica. Como pesquisadora iniciante, procurei imprimir um rigor metodológico ao trabalho, de forma a proporcionar-me, de forma produtiva, uma interação tanto com os sujeitos envolvidos na pesquisa quanto com as informações coletadas. Compartilhar com as mulheres e os homens daqueles assentamentos dos sentidos e significados que davam as suas vidas, em especial, as suas práticas sociais, foi fundamental para que eu pudesse ter mais segurança para analisar tais práticas. Muitas vezes, senti-me insegura por estar dizendo do “outro”, temerosa de estar olhando para essa “outra” cultura com as marcas da cultura acadêmica que atualmente estão mais fortes em mim. Busquei não deixar que essas marcas me levassem a comparações e hierarquizações entre culturas tão diferentes, com a sobreposição da acadêmica sobre a “outra”. Estar nos assentamentos levou-me a ocupar um “duplo” lugar. Por um lado, eu era a pesquisadora que estava ali interessada em estudá-los, em compreender suas práticas sociais ligadas à produção. Por outro lado, minhas raízes camponesas faziam com que me identificasse com seus modos de vida, e minha trajetória de luta de mulher negra e pobre também fazia com que me identificasse com suas histórias de luta pela sobrevivência. Marilene Santos Esses dois lugares não estavam fixos e separados. Via-me, o tempo todo, ocupando um e outro, às vezes os dois ao mesmo tempo. Passei por momentos de estranhamento, pois eu não era parte daquelas comunidades, mas era como se fosse algo “estranho, mas conhecido”. A empatia que tive com as famílias possivelmente estava ligada a isso. Tive um imenso prazer em estar “no campo”, desejando prolongar ao máximo aquela minha experiência de pesquisadora. O estudo realizado mostrou-me que as unidades de medida que integram a cultura camponesa, como a braça, o palmo, a polegada, o celamim e a vara, somente “entravam” na escola de forma muito indireta e eventualmente. Apenas nas aulas de artes, as alunas e os alunos eram convidados a apresentar o artesanato da sua comunidade. A partir das narrativas que escutei e do que observei, esse tem sido o único espaço no qual a escola de cada um daqueles assentamentos tem permitido que os saberes das práticas sociais das famílias assentadas se façam presentes. Como explicou uma aluna de Santaninha: A escola só trabalha com esse tipo de assunto na disciplina Artes, porque aí cada um leva sua arte pra mostrar. Um exemplo, se, na aula de arte, eu levar tarrafa pra mostrar, não é somente mostrar, tenho que levar, tecer e explicar pra todos como é que faz. Aqui em Santana nós fazemos chapéus, tarrafas e redes. Em Fazenda Nova, não, eles só fazem tarrafa. Então, o que pra nós é comum pra eles é novidade. Somente dessa forma essas coisas entram na escola, as coisas de matemática, não (Rosângela, estudante). Assim, a escola que observei nos assentamentos era uma escola que não se articula à vida camponesa, é uma escola que está nos assentamentos, mas com as fortes marcas do urbano. Não havia, ao menos aparentemente, nada que pudesse ser identificado como marcas de uma educação planejada e organizada para as especificidades daquele meio rural. Knijnik (2001b, p. 142) tem problematizado essa questão, dizendo que “a escola do meio rural, assim, é uma escola que, estando lá, está fora dali”. E continua a autora: “São milhões de crianças que, na escola, vêem seu mundo sempre ocultado, seja através do que consta nos livros didáticos, seja através dos conteúdos que são trabalhados na sala de aula, conteúdos da cidade”. Essa idéia apresentada por Knijnik está também presente na narrativa da professora Arlinda, quando afirma que os trabalhadores dali sempre “mediram tarrafa por palmos, rede de pescar e trança de chapéu por braças e terra por vara, mas as medidas que eram ensinadas na escola eram as medidas do sistema padrão, o metro, o centímetro, o hectare”. Essas constatações são corroboradas pela professora Inês quando afirma que “eu só trabalho com as medidas do sistema padrão. As medidas de tarefa não entram no meu trabalho”. De acordo com Knijnik (ibidem, p. 143): Ao tratarmos esta particular Matemática [acadêmica] como a única possível de existir, a única legítima de estar presente na escola, estamos silenciando vozes que, ao longo da história, têm ficado sistematicamente silenciadas. Tais silêncios produzem pessoas muito particulares, contribuem para construir sucessos ou fracassos escolares e também fracassos e sucessos de vida. 73 Marilene Santos Pude constatar, por ocasião da pesquisa de campo, que, nos dois assentamentos, havia um descompasso muito grande entre a vida escolar das crianças e jovens assentados e a vida camponesa “fora” da escola. Os saberes presentes nas práticas sociais que eram criados e recriados pelas pessoas da comunidade pareciam não ser do conhecimento dos responsáveis pela escola. As narrativas da professora Inês e da professora Arlinda mostram como esses saberes estão ali silenciados. Dizem elas: Eu só trabalho com as medidas do sistema padrão, as medidas de tarefa não entram no meu trabalho. Acho que é porque sempre trabalhei com primeira e segunda série. Mas não sei se as professoras da terceira e da quarta ensinam essas medidas, acho que não. Também não ensino essas outras medidas, como o celamim. Eu mesma não conheço essas medidas, nem sei fazer essas contas. Os meus alunos nunca me questionaram para que ensinasse alguma coisa sobre essas medidas. E, se fosse questionada, não saberia ensinar nada, pois nem quanto mede uma vara ou uma tarrafa, eu não sei. Talvez se essas medidas fossem ensinadas na escola, seria mais facilitado o aprendizado dos alunos, inclusive para que pudessem ensinar aos pais. Acho que nunca me preocupei em saber sobre esse assunto porque trabalho com crianças pequenas. Eu voltei a estudar recentemente, estou fazendo a graduação em Pedagogia. É tudo muito difícil, e os conteúdos de Matemática são os piores, eu não gosto de Matemática (Inês, assentada e professora em Santana dos Frades). As pessoas daqui sempre mediram tarrafa por palmos, rede de pescar e trança de chapéu por braças e terra por vara. Somente alguns homens podem fazer uma vara, pois não devem ser nem muito altos nem muito baixos. Na escola, nunca entrou essas medidas. Todos eles já sabem, aprendem vendo os adultos medir. As medidas que eram ensinadas na escola eram as medidas do sistema padrão, o metro, o centímetro, o hectare. Agora, as medidas de capacidade eram ensinadas pela forma que eles vendiam: litro, uma garrafa e meia, meio litro, garrafa, meia garrafa e um quarto de garrafa. Os costumes das pessoas do interior são diferentes dos das pessoas da cidade, por isso que até hoje eles usam essas medidas diferentes. Mudou pouca coisa ao longo do tempo. Essa parte do povoado era uma lagoa onde as crianças pegavam caboge [um tipo de peixe], agora é a praça onde as pessoas fazem as festas do povoado. As pessoas daqui sempre vão usar essas medidas, pois muita coisa mudou em relação à moradia, mas, em relação ao trabalho, nada mudou. Outra medida, a légua, é usada para medir distâncias de um lugar para outro. Uma légua tem seis quilômetros. Não é muito falada pelo povo porque é pouco usada, apenas para as grande distâncias (Arlinda, primeira professora dos dois assentamentos). As falas das professoras fazem-me pensar sobre o lugar que a escola tem ocupado nos assentamentos Santaninha e Santana dos Frades e sobre o quanto a cultura camponesa, no âmbito da educação matemática, está ali ausente. Em pesquisa realizada com alunos trabalhadores da indústria do calçado no interior do Rio Grande do Sul, Giongo (2001, p. 73) também constatou que havia um distanciamento entre a escola e o “mundo de fora da escola”. Segundo a autora, Este mundo de fora da escola era discutido, entre os estudantes, nas mais variadas ocasiões: na hora do intervalo das aulas, no bar da esquina, entre sussurros durante as atividades escolares, mas não se constituíam em um aporte pedagógico utilizado na sala de aula. Havia, por parte dos alunos, até mesmo um 74 Marilene Santos ceticismo em relação às possibilidades de o “mundo da escola” compreender o “mundo do calçado”. Mas, diferentemente do que Giongo escreve, ao ouvir a atual professora de Santana dos Frades e a que primeiro atuou na região, vê-se que “o ceticismo em relação às possibilidades de o ‘mundo da escola’ compreender”, nas práticas sociais da produção, as unidades de medida nelas envolvidas era explicitado pelas professoras. Ouvi da diretora da única escola municipal de Santaninha, que também é uma assentada, depoimento nessa mesma direção. Disse ela: Eu sou diretora agora, mas era professora. Como diretora, ganho o mesmo salário das professoras. As medidas que o povo usa aí pra medir as coisas, eu nunca ensinei quando estava na sala de aula. E também nunca vi as professoras falarem dessas medidas. Eu vejo elas ensinando as medidas de metro, de quilo e litro, que são assuntos da escola, não é?Eu acho que elas não sabem ensinar essas medidas. Eu também não sei (Julita, assentada e diretora de escola em Santaninha). O setor de educação do MST tem tentado, ao longo de sua história, construir uma educação identificada com seus princípios, que atenda às necessidades das crianças, jovens e adultos dos acampamentos e assentamentos. Essa tem se constituído numa tarefa de difícil implementação por conta, talvez, do amplo universo de pessoas que tal proposta pretende atingir e também por pretender romper com as marcas da escola “tradicional”, imprimindo outras marcas nos processos educativos. Mesmo que atualmente o MST conte com algumas experiências que apontam nessa direção “do novo”, esse tem sido um processo de difícil realização. Knijnik (1997, p. 269) aborda essa questão quando discute sobre as contribuições do MST para a educação popular. Segundo a autora, muitos são os entraves que dificultam a implementação dessa proposta de educação. Para ela, O processo é lento, percorrido com avanços e recuos, frente às dificuldades encontradas quanto à formação dos professores, condições materiais das escolas e resistências encontradas na comunidade escolar (...) Isto poderia ser bastante problemático se não fosse objeto de atenção das lideranças do movimento (...). A (pré)ocupação com esta defasagem [entre o proposto e o implementado] tem sido analisada permanentemente pelas(os) integrantes do MST. As professoras dos assentamentos de Santaninha e de Santana dos Frades eram assentadas, mas não tinham uma grande participação nas atividades organizadas pelo MST. Enquanto realizava a pesquisa de campo, o Setor de Educação da região tinha pouca influência nas escolas e os materiais didáticos produzidos pelo movimento não estavam disponíveis ali. Havia, no entanto, uma preocupação grande na comunidade com a qualidade do que estava sendo ensinado na escola, evidenciando o que Knijnik mostrou sobre a (pré)ocupação dos próprios integrantes do MST com a defasagem entre a proposta e sua implementação. As dificuldades enfrentadas pelo MST em lidar com a instituição escolar, principalmente com as que, como observei em Santaninha e Santana dos Frades, não estabelecem vinculações mais estreitas entre a cultura camponesa e o processo educativo formal, têm sido motivo de constante preocupação para os responsáveis pela educação do movimento. Caldart (2000a, p. 242) diz que “escola e Movimento têm, de fato, 75 Marilene Santos lógicas contraditórias entre si. Talvez por isto, em tantos lugares, mesmo aqueles onde estão os sem terra, Movimento e escola nem se tocam”. Nesses lugares, conforme pude observar nos assentamentos que estudei, muitas das questões que atualmente o movimento já discute, como as de gênero, ainda não têm repercussão na escola. O que observei é que o currículo escolar praticado naquelas comunidades tende a uma homogeneização cultural. Pareceu-me distante o momento em que as escolas de Santaninha e Santana dos Frades terão um currículo com as marcas da diferença, um currículo que, de acordo com Corazza (2002, p. 107 e 109), assimila as experiências de professores e professoras, de mães, pais e alunos, de funcionários de escolas, de sindicatos e movimentos sociais, (...) ignora as divisões e classificações de saberes, baseadas em níveis de escolarização ou séries, ciclos ou faixa etárias, áreas de estudo ou disciplinas convencionais. Compreendendo-se como pós-disciplinar, ele seleciona seus saberes com base no único critério de serem produtivos para analisar problemas sociais e políticos, representações de identidades e de autoridade, fatores econômicos e morais, diversas definições do Eu e as micro-histórias subjugadas. A diretora da escola de Santaninha, ao afirmar que nem ela nem as outras professoras sabiam ensinar as unidades de medida diferentes das do sistema métrico oficial, parecia que não estava desconsiderando a importância disso, que não havia “má” vontade em aprender sobre o tema, tampouco uma intencionalidade em não incluir no currículo outros saberes que não os usualmente ensinados. A falta de condições materiais e a impossibilidade de uma formação docente qualificada as impedia de discutir essas questões e fazer tentativas de mudança curricular. A formação docente também tem sido objeto de preocupação do Setor de Educação do MST. Essa questão conquista maior visibilidade no movimento, segundo Caldart e Schwaab (1991), a partir de 1988. A partir de então, o movimento tem, através de parcerias com universidades, secretarias de educação e outras instituições, organizado e/ou participado da organização de cursos de formação docente em alguns dos estados onde está estruturado. As professoras dos assentamentos de Santaninha e Santana do Frades, em suas narrativas, diziam não saber como organizar uma escola que, conforme afirmam Caldart e Schwaab (1991, p. 102), “metida na organização de um grupo social específico (...) [pudesse] assumir características singulares e dar respostas às questões próprias desse grupo”. Compreendi que, nas narrativas das professoras, havia um pedido de ajuda no sentido de que pudessem ser criadas condições que possibilitassem pensar uma escola nos parâmetros da escola do campo proposta por Caldart (2000b, p. 66). Segundo a autora: Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito. A pesquisa que realizei mostrou-me que as práticas sociais da produção e as unidades de medida nelas envolvidas fazem parte “da história, do trabalho, da cultura” dos camponeses dos assentamentos de 76 Marilene Santos Santaninha e Santana dos Frades. Possivelmente, ter tais práticas e unidades de medida representadas no currículo escolar, como as teorizações contemporâneas do currículo e a Etnomatemática têm mostrado, pode ajudar “a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade”. 77 Marilene Santos REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABREU, Guida Maria Correia Pinto. O Uso da Matemática na Agricultura: o caso dos produtores de canade-açúcar. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 1988. Orientadores: David Willian Carraher e Ana Lúcia Dias Schlieman, 209p. ALDER, Ken. A medida de todas as coisas: a odisséia de sete anos e o erro encoberto que transformaram o mundo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 492p. ALMEIDA, Horácio de. Brejo de areia: memórias de um município. Rio de Janeiro: MEC, 1957. 301p. ALMEIDA. José Américo de. A Paraíba e seus problemas. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1923. 728p. ALVES DOS SANTOS, Fábio. Começo de Mundo Novo: Sofrimento, luta e vitória dos posseiros de Santana dos Frades ( Sergipe). Vozes, Petrópolis – RJ, 1990. 61p. ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro, v. 61, 2001. AZEVEDO, Sonia Meire Santos (Coord.). Projeto de Educação de Jovens e Adultos nos Assentamentos de Reforma Agrária do Estado de Sergipe – Módulo I. São Cristóvão, SE: Universidade Federal de Sergipe, 1996. 51p. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência; tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 1999. 334p. BENJAMIN, César, CALDART,Roseli Salete. Projeto Popular e Escolas do campo. Brasília. Articulação Nacional por Uma Educação Básica do Campo, 2000. Coleção por uma Educação Básica do Campo, n. 3. 95p. BONNET, Gabriel. Guerrilhas e revoluções da Antigüidade aos nossos dias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963. 268p. BURBULES, Nicholas C. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. Uma Gramática da Diferença: algumas formas de repensar a diferença e a diversidade como tópicos educacionais. IN: GARCIA, Regina Leite e MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa (orgs). Currículo na Contemporaneidade: incertezas e desafios. Cortez, São Paulo, 2003. p. 159 – 188. CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. A presença do autor e a pós-modernidade em antropologia. Novos Estudos CEBRAP, n. 21, p. 133-157, jul. 1998. CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Vozes, Petrópolis – RJ, 2000a. 276 p. ________ A Escola do Campo em Movimento. IN: BENJAMIM, César e CALDART, Roseli Salete. Projeto Popular e escolas do Campo: por uma escola básica do campo. Brasília, DF, 2000b, p. 41 – 87. (Coleção Por uma Educação Básica do campo, n. 3). ________ e SCHWAAB, Bernadete. A Educação das Crianças nos Acampamentos e Assentamentos. In GORGEN, Frei Sérgio Antônio e STÉDILE, João Pedro. Assentamentos: A Resposta Econômica da Reforma Agrária. Vozes, Petrópolis – RJ, 1991.p. 85 – 114. CARNEIRO, Edison. Ladinos e criolos. Estudos sobre o negro no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964. 240p. CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 8 ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 2002. 346p. ________ e GIARD, Luce, MAYOL, Pierre. A Invenção do Cotidiano 2. Morar, Cozinhar. Petrópolis, Vozes, RJ, 2003. 372p. CORAZZA, Sandra. O Que Quer um Currículo? Pesquisas pós-críticas em Educação. Petrópolis, 2 Ed. Vozes, 2001. p.150. _________. Diferença pura de um pós-currículo. IN: LOPES, Alice Casimiro, MACEDO, Elizabeth (org.) Currículo: debates contemporâneos. São Paulo. Cortez, 2002. p. 103 – 114, 237p. COSTA, Marisa Vorraber (Org.) Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa em educação. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 164p. D’AMBROSIO, Ubiratam. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 110p. ______________________. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. 5. ed. São Paulo: Ática, 1998. 88p. DIEESE. 2004. <http> www.dieese.org.br. Acesso em 11 nov. 2004. DUARTE, Claudia Galvam. Etnomatemática, Currículo e Práticas Sociais do “Mundo da Construção Civil”. São Leopoldo, RS, 2003. 126 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Humanas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Marilene Santos DUSSEL, Inês. O currículo híbrido: domesticação ou pluralização das diferenças? IN: LOPES, Alice Casimiro, MACEDO, Elizabeth (org.) Currículo: debates contemporâneos. São Paulo. Cortez, 2002. p. 55 – 77. FERNANDES, Bernardo Mançano. Contribuição ao Estudo do Campesinato Brasileiro Formação e Territorialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST 1979 - 1999. São Paulo, SP, 1999. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. GIONGO, Ieda Maria. Educação e Produção do Calçado em Tempos de Globalização: um estudo Etnomatemático. São Leopoldo, RS, 2001. 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Humanas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. GÓES, Cristian. História dos municípios: um jeito fascinante de conhecer Sergipe. Aracaju, SE: Edição Histórica, Cinform Municípios, 2002. 272p. GOMES, Ana Lúcia Assunção Aragão. A dinâmica do pensamento geométrico: aprendendo a enxergar meias verdades e a construir novos significados. Natal, RN, 1997. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. GRANDO, Neiva Ignês. A diversidade de modelos matemáticos. Boletim de Educação Matemática, Passo Fundo, v. 3, n. 4, p. 16-28, 1992. HALMENSCHLAGER, Vera Lucia da Silva. Etnomatemática: uma experiência educacional. São Paulo: Selo Negro, 2001. 164p. HALL, Stuart. Tradução Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. A Identidade Cultural na PósModernidade. DP&A, Rio de Janeiro, RJ, 2003. 102p. _______ A Centralidade da Cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. In: Educação e Realidade, jul/dez. 1997, p. 15 a 46. INCRA. Relatório Técnico. Superintendência Regional, SR 23. Aracaju – SE, 2003. INEP. 2004. <http> www.inep.gov.br/imprensa/enviarnoticias/enviar.asp. Acesso em 02 dez. 2004. INGLES DÚVIDAS. 2004. <http> www.inglesduvidas.com.br/pesosemedidas.asp. Acesso em 17 nov. 2004. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Censo Demográfico 2000. 190 p. ITURRA, Raúl. Letrados y Campesinos: el metodo experimental en antropología economica. In: GUZMAN, Eduardo Sevilla e MOLINA, Manuel Gonzalez de. Ecologia, Campesinato e História. La Piqueta, Madrid, 1992. KNIJNIK, Gelsa, WANDERER, Fernanda, OLIVEIRA, Cláudio José de. (orgs.) Etnomatemática: Currículo e formação de professores. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2004a. 446p. ______________. Etnomatemática: aportes Teóricos e Metodológicos. Belo Horizonte, MG. Palestra proferida na UFMG em dezembro de 2004b. _____________. La “invasión Del extranjero”: de la peseta al euro y los retos para la Educación Matemática. IN: UNO: Revista de Didáctica de las Matemáticas. Barcelona, 2003, v. 8 n. 31, p. 41 – 53. _____________ A perspectiva teórico-Metodológica da Pesquisa Etnomatemática: apontamentos sobre o tema. In: VI EBRAPEM – ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2002, Campinas, SP. Anais... Campinas, SP: Graf. PE, 2002a. p. 3-6. ______________ (Coord.). Projeto de Pesquisa Cultura e Matemática Oral: implicações curriculares para e Educação de Jovens e Adultos do Campo. São Leopoldo: Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISINOS, 2002b. Projeto em andamento. _______________. Currículo, Etnomatemática e Educação Popular: um estudo em um assentamento do Movimento Sem Terra. IN:Reflexão e ação. Revista do Departamento de Educação – UNISC, v. 10, n. 1, p.47-64, jan./jun. 2002c. ______________ Educação Matemática e Política do Conhecimento. IN: Boletim de Educação Matemática – BOLEMA. UNESP – Rio Claro, n. 16, 2001a. p. 18 – 28. ______________. Educação rural: nos silêncios do currículo. IN: SCHMIDT, Sarai(org) A Educação em Tempos de Globalização. DP&A, Rio de Janeiro, 2001. p. 141 – 143, 144p. ______________. Etnomatemática na luta pela terra: “uma educação que mexe com as tripas das pessoas”. In: FOSSA, A. (Org.). Facetas do diamante: ensaios sobre educação matemática e historia da matemática. Rio Claro: Sociedade Brasileira de Historia da Matemática, 2000. p.11-29. ______________ A Contribuição do MST para a Educação Popular: o novo na luta pela terra. IN: STÉDILE, João Pedro (org.). A Reforma Agrária e a Luta do MST. Petrópolis, RJ. Vozes, 1997. p. 263 – 270. _______________. Análise da Proposta dos PCN. IN: Educação & Realidade n. 21, Jan/Jun, 1996a. p. 253 – 259 79 Marilene Santos ______________. Exclusão e resistência: educação matemática e legitimidade cultural. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996b. 139p. LARROSA, Jorge, SKLIAR, Carlos (orgs.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. Autêntica, Belo Horizonte, MG, 2001, 302 p. LOPES, Eliano Sérgio Azevedo, SANTOS, Marlene Alves dos, SILVA, Patrícia Santos, MARTINS, Tereza Cristina Santos. Um Olhar sobre os Assentamentos Rurais do Estado de Sergipe. IN: MEDEIROS, Leonilde Servolo de, LEITE,Sérgio (orgs.). A Formação dos Assentamentos Rurais no Brasil: processos sociais e políticas públicas. Porto Alegre/ Rio de Janeiro. Ed. Universidade/ufrgs/cpda, 1999. p. 161 – 196. LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 179p. MILET, Henrique Augusto. Os quebra kilos e a crise da lavoura. Recife: Global, 1876. 136p. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Referência para uma Política Nacional de Educação do Campo. Caderno de Subsidio. Brasília, DF, 2004. MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Questão. IN: Educação & Realidade n. 21, Jan/Jun, 1996. p. 9 – 22. ______________, SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo, cultura e sociedade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 154p. MOTA, Mauro. História em rótulos de cigarros. 2. ed. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1971.131p. OLIVEIRA, Cláudio José de. Matemática Escolar e Práticas Sociais no Cotidiano da Vila Fátima: um estudo Etnomatemático. São Leopoldo, RS, 1998. 125 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. OLIVEIRA, Helena Dória Lucas de. Educação rural e etnomatemática. Porto Alegre, RS, 1997. 45 f. Monografia (Especialização) – Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. PEREIRA, Nilo. Conflitos entre a Igreja e o Estado no Brasil. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1970. 332p. NAVARRO, Zander. “Mobilização sem Emancipação”- as lutas sociais dos sem-terra no Brasil. In: SANTOS, Boaventura Sousa. (org.) Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Civilização Brasileira. p. 189 - 232. RIBEIRO, José Pedro Machado, DOMITE, Maria do Carmo Santos, FERREIRA, Rogério (orgs.). Etnomatemática: papel, valor e significado. São Paulo, Zouk, 2004. 287 p. SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. A entrevista na pesquisa em educação – uma arena de significados. IN: COSTA, Marisa Vorraber (Org.). VEIGA-NETO, Alfredo. Caminhos investigativos II: outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p.119 - 141. SANTOS, Luís Henrique Sacchi dos. “Um preto mais clarinho...” ou dos discursos que se dobram nos corpos produzindo o que somos. In: Educação & Realidade, n.22, jul/dez., 1997. p. 81-115. SEBRAE. 2004. Disponível em: <http> www.sebrae.gov.br. Acesso em 10 out. 2004. SILVA, Tomaz Tadeu. A “nova”direita e as transformações na pedagogia da política e na política da pedagogia IN: GENTILI, Pablo e SILVA, Tomaz Tadeu da (org.) Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. Vozes, Petrópolis, RJ, 1994. p. 9 - 29 SILVA, Tomaz Tadeu da. O currículo como fetiche. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 117p. _____________________. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 154p. SOBRAL DA SILVA, Maria Neide. Contando Nossa História: camponeses sergipanos e a luta pela terra. São Cristóvão, SE. UFS/PROEX/DED/NEPA/CEAD. 2002. 100P. SOUTO MAIOR, Armando. Quebra-quilos: lutas sociais no outono do império. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. 213p. VEIGA-NETO, Alfredo J. Michel Foucault e Educação: há algo de novo sob o sol? IN: VEIGA-NETO, Alfredo J. (org.) Crítica Pós-Estruturalista e Educação. Porto Alegre, RS, Sulina, 1995. p. 9 – 56 WANDERER, Fernanda. Cultura e arte dos azulejos portugueses: um estudo etnomatemático. In: III CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2003. Anais. São Leopoldo: UNISINOS, 2003. p.11. ___________________. Produtos da Mídia na Educação Matemática de Jovens e Adultos: Um Estudo Etnomatemática. Reflexão e ação. Revista do Departamento de Educação – UNISC, v. 10, n. 1, p. 21-38, jan./jun. 2002. 80
Baixar