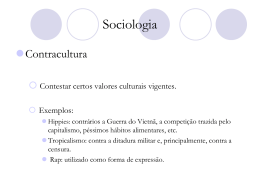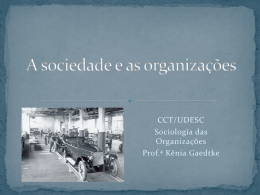Sumário LAURA CAVALCANTE PADILHA Da construção identitária a uma trama de diferenças – Um olhar sobre as literaturas de língua portuguesa 3 A partir de um olhar sobre produções literárias afro-luso-brasileiras, o artigo discute a expansão da língua portuguesa e a trama de diferenças que abriga. O lusismo e a lusofonia são abordados como construções simbólicas e identitárias em que se revelam os processos linguísticos e artístico-verbais de identificação e diferenciação entre os diversos falantes da língua portuguesa. Maria Ioannis Baganha Política de imigração: A regulação dos fluxos 29 O artigo analisa as políticas reguladoras da imigração desenvolvidas pelos governos portugueses desde a entrada do país na Comunidade Europeia. Defende que a política de regulação dos fluxos nunca atingiu os seus objectivos, tendo o sistema de regulação falhado sucessivamente, obrigando a períodos de legalização extraordinária. PAULO HENRIQUE MARTINS A sociologia de Marcel Mauss: Dádiva, simbolismo e associação 45 O artigo discute a contribuição sociológica de Marcel Mauss, centrando-se na sua sistematização da teoria da dádiva, que vem sendo resgatada para interpretar os fundamentos da solidariedade e da aliança nas sociedades contemporâneas. Argumenta que uma das contribuições centrais de Mauss foi demonstrar que o valor das coisas não pode ser superior ao valor da relação e que o simbolismo é fundamental para a vida social. Maria Alice Nunes Costa Fazer o bem compensa? Uma reflexão sobre a responsabilidade social empresarial 67 Aborda-se a responsabilidade social empresarial, que a partir dos anos 1990 se foi desenvolvendo no Brasil como uma nova modalidade de gestão das empresas e da sua relação com a comunidade. Discute-se o modo como a responsabilidade social empresarial se articula com o papel do Estado e da comunidade na produção e regulação do bem-estar social, assim como as implicações políticas dessa forma de solidariedade social. | Sumário Jacob Carlos Lima 91 Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho: As experiências com cooperativas de trabalho no Nordeste brasileiro Analisa-se a nova industrialização do Nordeste brasileiro, resultante de políticas de atracção de indústrias de uso de trabalho intensivo e caracterizada pela indução de organização de cooperativas de trabalhadores para externalizar a produção e reduzir os custos com a mão-de-obra. Reflecte-se sobre as implicações desse modelo de industrialização, à luz da reestruturação económica e das mudanças políticas de carácter neoliberal do Estado brasileiro. João Carlos Graça Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? 111 Situada algures entre a economia e a sociologia, a sociologia económica tem tido um estatuto teórico instável e um reconhecimento académico limitado. O artigo discute esse estatuto, abordando em especial a chamada Nova Sociologia Económica e questionando a sua coerência e viabilidade intrínsecas. Entrevista com Henry A. Giroux Qual o papel da pedagogia crítica nos estudos de língua e de cultura? 131 Manuela Guilherme Recensões 145 Espaço Virtual 151 Resumés/Abstracts 153 Colaboram neste número 157 Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 3-28 LAURA CAVALCANTE PADILHA Da construção identitária a uma trama de diferenças – Um olhar sobre as literaturas de língua portuguesa A partir de um olhar sobre produções literárias afro-luso-brasileiras, discute-se, neste ensaio, a questão da língua portuguesa, a sua expansão e a trama de diferenças que abriga. Para cumprir este objectivo mais abrangente, abordam-se duas construções simbólicas que acabam por se suplementarem quando, partindo do domínio linguístico, se fazem constructos mais amplos. Em primeiro lugar, é focalizada a questão do lusismo, lido como uma construção identitária que, no espaço da criação artístico-verbal portuguesa, se projecta, de princípio, de modo eufórico, para depois se problematizar, até se tornar, muitas vezes, disfórico. Em seguida, é discutida a lusofonia, percebida, com Eduardo Lourenço, como uma “mitologia” que só encontra sentido se se tomarem em conta, de um lado, as identificações existentes entre os vários falantes intercontinentais da língua e, de outro, as diversidades pelas quais esses mesmos falantes se distinguem profundamente. 1. Breves recortes iniciais Pensar a questão da cartografia identitária portuguesa implica considerar um trajeto que vai de sua construção imaginária à sua expansão para além dos limites e contrafortes geográficos e culturais europeus. A produção literária em língua portuguesa flagra essa trajetória, tanto do ponto de vista de sua afirmação, pode-se dizer, “luminosa”, quanto em seu aspecto problemático e, por fim, em seu embate com as diferenças etno-culturais dos povos não-europeus cujas matrizes simbólicas a colonialidade (Mignolo, 2003) tentou elidir. A língua portuguesa foi – e continua sendo – o elemento cultural que se fez um dos principais alicerces, seja da construção identitária erigida no espaço europeu, seja da sedimentação do que podemos considerar a trama de diferenças que por ela se teceu e tece nos países colonizados onde se fez ou o idioma nacional, ou a língua oficial. Por esse trajeto imaginário, sedimentado pelo corpo ético, histórico e cultural da lusitanidade, chega-se a dois constructos simbólicos, ou seja: ao lusismo, pensado como algo que extrapola o domínio lingüístico, para se fazer um modo de afirmação do próprio no espaço europeu, e à lusofonia, surgida como conseqüência da expansão da língua e da cultura fora da territorialidade européia, quando língua e cultura se disseminaram entre | Laura Cavalcante Padilha povos de origens diversas na América, África e mesmo parte da Ásia e da Oceania. A língua portuguesa ganha, nesse processo expansivo, outros sujeitos que “a falam, nela se falando”, como postula Eduardo Lourenço (2001: 123), tornando-se, por isso mesmo, um dos fios principais na tecelagem da nova trama etno‑cultural assim surgida. O mar, já feito “português”, tanto pelo dado histórico concreto, quanto pela via imaginativa representada, em um primeiro momento, pela eficácia estética da epopéia camoniana, faz-se a rota principal desse trajeto identitário em expansão pelo qual, mais que a língua, todo um imaginário se disseminou. Lusismo e lusofonia se interseccionam, sendo a segunda o ponto de chegada do primeiro. Por seu turno, as literaturas produzidas em língua portuguesa acabam por se tornar, elas também, um instrumento cultural disseminador. Por elas se encenam, no caso da européia, os diversos momentos eufóricos e disfóricos do lusismo e, nas outras, os sérios embates travados pelas culturas que se confrontaram no processo de subjugação de povos e terras desconhecidos, sempre de acordo com os ditames do projeto político-econômico da expansão ultramarina. O lusismo e a lusofonia acabam por se fazer operadores de leitura importantes para os pesquisadores que elegem tais literaturas como seu campo de investigação. Pensá-los em uma espécie de contraponto, pelo qual se evidenciam os embates que o espaço cultural erigido em língua portuguesa acaba por edificar, é de grande valia para os estudos dessas mesmas literaturas. Isso diz respeito tanto à produzida na Europa, também ela cheia de perplexidades, confrontos e rasuras, quanto às manifestações artísticas dos dominados que, de princípio, foram excluídos do universo letrado. Tais operadores ganham ainda maior peso teórico-crítico no atual momento em que os estudos literários e os culturais acabam por encontrar-se em um lugar intervalar criado pela porosidade de suas fronteiras, antes bastante rígidas. Surgem, já agora, novas negociações de sentido na área dos estudos literários contemporâneos, como uma conseqüência previsível do seu diálogo com os culturais. Essa nova postura metodológica tenta contribuir para o rompimento da política de silêncio que sempre se abateu sobre aquilo que era visto como “não-canônico” e, por isso mesmo, posto à margem do que a cultura literária hegemônica consagrava e ainda consagra. As produções em língua portuguesa, sobretudo as não-européias, foram excluídas, sumariamente, do “cânone ocidental”, conforme já bastante discutido e contraposto pelos “ressentidos”, como os classifica Harold Bloom, aliás, um dos que se empenham em fixar a esse mesmo cânone (1995). Vale fazer um prévio esclarecimento, já agora, sobre meu próprio lugar de enunciação, o Brasil, lugar que sustenta meu discurso pessoal e acadêmico Da construção identitária a uma trama de diferenças | e, em certa medida, condiciona minha leitura – passe a pessoalidade aqui assumida – sobre as questões a seguir postas. Além disso, meu interesse investigativo são as Literaturas Africanas de/em Língua Portuguesa, com especial ênfase para as produzidas em Angola e Moçambique. Tal rede de pertencimentos e escolhas faz surgir a espécie de encruzilhada de saberes e de ordem cultural onde me movo e que me leva a trilhar vários e suplementares caminhos. Estes, embora diversos, têm um ponto de convergência: a língua portuguesa, tela que borda e reforça minha própria experiência subjetiva, histórica, política e, de modo especial, meu imaginário leitor, este, aliás, o móvel das reflexões que a seguir se farão. O propósito deste ensaio é claro: trazer à tona o movimento do lusismo, tal como a série literária portuguesa o cartografou, e problematizar a questão, para muitos pacífica, da lusofonia. Este constructo é sustentado pelo que Lourenço, de modo pertinente, classifica de “mitologia lusófona” (2001: 178), idéia que dará o necessário suporte às reflexões aqui postas. O ponto de partida, ou o primeiro movimento do texto, como já dito, será uma leitura analítica do lusismo, tal como se encena nas malhas ficcionais portuguesas, quando, então, se tentará nelas surpreender uma espécie de encadeamento histórico, simbólico e cultural que vai da criação e reforço do conceito, em certo sentido eufóricos, à problematização posterior até hoje existente. Em seguida, abordar-se-á a questão da lusofonia, percebida na força de sua diferença, mais do que em qualquer pressuposição de unidade e/ou hegemonia. 2. Lusismo: construção, reforço e reconfigurações A palavra lusismo, no âmbito lingüístico, significa, recorrendo a Antenor Nascentes, “vocábulo, expressão, construção, próprios do português falado em Portugal” (1972, 4: 1015-b). Tal significação, com variantes meramente formais, aparece registrada, ainda e por exemplo, na edição brasileira do dicionário de Caldas Aulete, coordenada pelo mesmo Nascentes (1958), reaparecendo no de Antônio Houaiss (2001) e ainda nos de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1988 e 1999). Ao lado dessa primeira acepção, registra-se uma outra pela qual o vocábulo é apresentado como sinônimo de lusitanidade, ou seja, segundo Antônio Houaiss, como: “caráter ou qualidade peculiar, individualizadora, do que ou de quem é português” (2001: 1792-c). O lusismo é pensado, portanto, como uma construção identitária e, aqui, será o sentido a ser privilegiado. Como se sabe, toda e qualquer identidade – mesmo se levarmos em conta o fato de não haver nenhum pressuposto de imutabilidade, fixidez ou essência a compor o sentido do conceito, aqui remetendo a Stuart Hall (2003: | Laura Cavalcante Padilha 10-3) – pressupõe um sentimento de pertença, quase sempre originado quando há um confronto ou, pelo menos, uma negociação simbólica entre um eu e um outro ou, para usar a expressão todoroviana, entre “nós e os outros” (Todorov, 1989). Assim, para construir-se como diferença, no espaço ibérico, Portugal, de início, defrontou o outro, castelhano, desde a criação, por Afonso Henriques, da primeira dinastia (a afonsina). Para fazer-se dono das terras, já alargadas pelo pai, Henrique de Borgonha, o filho lutou, contra a mãe e o padrasto, pela posse do território. Nasce, desse enfrentamento matricida, o que podemos chamar, com Lourenço (1988), de origem traumática do estado português, traumatismo que assinalaria desde sempre a “comunidade imaginada” (Anderson, 1989) que chamamos Portugal. Nos textos do primeiro cronista medieval português, Fernão Lopes, aparecem as bases da construção do lusismo, tal como o século XVI, com a epopéia camoniana, consagrará. Basta que se leia, por exemplo, na Crônica de Dom João (1ª ed.: 1644), o episódio referente ao chamado “Cerco de Lisboa”, para que se dimensione, sobretudo pela força atribuída ao povo sitiado na cidade, a natureza do confronto entre portugueses e castelhanos. De sua parte, o segundo cronista, Gomes Eanes de Zurara, ressalta, na Crônica da Tomada de Ceuta (1ª ed.: 1644), a condição espacial portuguesa, mostrando o território como terra espremida entre a Espanha e o mar, ao dizer: “ca nós de uma parte nos cerca o mar e da outra temos muro no reino de Castela” (1992: 52). Esse território assim “cercado”, apenas com duas fronteiras, ganha uma outra dimensão histórica, simbólica e mesmo geográfica, ao alargar sua espacialidade européia quando se apropria, pelo processo colonizatório, de parte da América, da África, da Ásia e da Oceania. A obra que resgata o momento de expansão e grandeza, pela qual o mundo até então conhecido ganha outra configuração, globalizando-se, é, sem sombra de dúvida, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões (1572). Não por acaso a epopéia moderna, erigida em língua portuguesa no quinhentos, se faz a grande pedra de sustentação do imaginário português, ou sua grande referência, como bem observa Lourenço (1988: 151). O momento de inequívoca grandeza salta da história para a ficção, ao tecer-se, como já afirmado, pela eficácia estética da letra camoniana. O futuro se abre para Portugal, de forma luminosa, na escrita poética, às vésperas de fechar-se, abruptamente, com a morte do rei D. Sebastião e a perda da hegemonia política de Portugal para a Espanha (1580-1640). A grandeza projetada, portanto, pela via da ficcionalidade, como que assinala a própria história nacional posterior, conforme se sabe. “Todos os caminhos portugueses levam a Camões” e à sua epopéia, aqui pensando Da construção identitária a uma trama de diferenças | com José Saramago (1984: 180-81). O texto parece para tudo servir e por ele se reforçam ideologias e contra-ideologias, segundo bem demonstra o diálogo proposto pelo mesmo Saramago, no texto teatral Que farei com este livro? (1979). Este diálogo é encenado por Diogo do Couto, Camões e Damião de Góis, sujeitos históricos emblemáticos, e se dá no instante tenso em que o épico, no tecido ficcional da peça, lutava pela publicação de seu livro, encontrando fechadas as portas de quem pudesse ajudá-lo: LUÍS DE CAMÕES: Porém, o livro não será diferente do que é. DAMIÃO DE GÓIS: A diferença estará nos olhos que o lerem. E a parte que ficar vencedora fará que seja o livro lido com os olhos que mais lhe convierem. DIOGO DO COUTO: E a parte vencida, que fará? DAMIÃO DE GÓIS: Ficará esperando a sua vez de ler e fazer ler doutra maneira. (Saramago, 1998: 55) A tessitura identitária européia e o seu reforço textual, por essa infinita possibilidade de leituras, transformam a epopéia camoniana em promessa de qualquer futuro e oferecem o sentido para cada presente vivido desde então, mesmo quando se põe em xeque a ideologia que sustenta a obra. Forja-se, por ela, um passado aurático de que o imaginário nacional português sempre se pôde e pode valer, disseminando-o desta ou daquela maneira, daí Lourenço afirmar ser a obra “a referência unânime do que pode chamar-se, com toda a ambigüidade, o ‘espírito nacional’” (1988: 151). O texto épico de Camões constrói o lugar de força do lusismo, portanto, ultrapassando o contingenciamento de tempos e espaços, principalmente porque, na obra, fica bastante claro um contraponto suplementar no que se refere à construção da face identitária. Explicando melhor: o português é mostrado, em Os Lusíadas, diacronicamente, como um povo que se defrontou, em termos europeus, com seu outro peninsular ibérico, o povo castelhano, para ter bem delineado seu perfil em diferença. Tal perfil tem, nas línguas faladas em ambos os lados da fronteira, um de seus traços mais fortes. No tempo da viagem do Gama, transformado em tempo sincrônico pela presentificação narrativa – não nos esqueçamos ser ele também um dos narradores do “passado” português –, aparecem outros outros, fora do espaço peninsular e europeu, outros que acabam por intensificar ainda mais os traços da cartografia identitária lusitana. O sul, onde está Portugal e que o define na espacialidade européia, busca, no mais ao sul do sul, espaços nos quais os “barões assinalados” vão viver, aqui citando Fernando Gil, “a surpresa constantemente provocada por um absolutamente novo, tão aterrador quanto deslumbrante” (1998: 37, grifado pelo autor). | Laura Cavalcante Padilha Desfilam, pelo poema camoniano, assim, vários outros – mouros, africanos, indianos – que reforçam, na sua trama imagística, a identidade lusitana, pela confrontação, já agora, com distintos sujeitos histórico-culturais que se lhe opõem como diferença. Abrem-se os portais do processo colonizatório pelo qual tais outros são obrigados a trocar suas máscaras identitárias, em nome da fé e do império, entrecruzando-se “universos socioculturais radicalmente diversos e mesmo incompatíveis”, como analisa Antonio Cornejo Polar (2000: 77), ao enfocar o processo colonizatório da Hispano-América. No caso português, este é o momento em que a lusofonia bate as suas primeiras estacas no solo cultural e começa a construir seu futuro. Por isso mesmo, o texto camoniano será na parte seguinte reconvocado. O lugar de grandeza se problematiza, já a partir do século XVII, quando, de acordo com Boaventura de Sousa Santos, Portugal se transforma em “um país semiperiférico no sistema capitalista moderno” (2001: 23). A grandeza erigida pela história do quinhentos e ampliada pela voz de Camões entra em crise, então, para apequenar-se cada vez mais, daí em diante, ganhando, no século XIX, uma dimensão traumática inquestionável. Tal século vê ruir toda a imaginária construção eufórica da identidade portuguesa. Em sua histórica condição de país imperial europeu, Portugal vai viver, no oitocentos, uma dura experiência marcada por sucessivas perdas que levarão ao que Margarida Calafate Ribeiro nomeará de “ressaca de um século de traumas”. E continua a ensaísta: Fragilizado, atingido no âmago da sua consciência imperial, Portugal encontrava-se com a sua pequena e marginal posição europeia, sem um novo espaço que compensasse, aos seus olhos e aos dos outros, o seu efectivo pouco peso na “Balança da Europa”, em que Garrett tinha, real e simbolicamente, pesado Portugal. (Ribeiro, 2004: 55) Dois ficcionistas, em especial, dão corpo a essa paginação em branco resultante do apagamento do que já era, então, apenas imaginária grandeza. São eles: Almeida Garrett e Eça de Queiroz. Dentre as obras de ambos, duas se destacam como mais significativas para as presentes reflexões, a saber e respectivamente: Viagens na minha terra (1846) e A ilustre Casa de Ramires (1897 e 1900). Por elas se propõe uma nova forma de ler Portugal e a sua cartografia identitária, nesse momento histórico de crise simbólica e institucional declarada. As Viagens de Garrett propõem o caminho do Tejo, ao invés da partida pela estrada do mar camoniano, naquela busca de um “porto sempre por Da construção identitária a uma trama de diferenças | achar”, como se ouvirá na voz futura de Pessoa (1974: 79). O leitor é convidado, pelo romancista, a adentrar a terra para, nela, descobrir os mitos soterrados e entender o sentido da força do povo como agente transformador da história. Para realizar seu intento, Garrett retoma a perspectiva de Fernão Lopes, sobretudo na cena na qual, quase ao fim do romance, o narrador resolve deixar Santarém, o último porto fluvial de sua viagem terra a dentro. No capítulo, ele analisa, a partir da visão do túmulo degradado do rei D. Fernando, um dos que Lopes consagrara em crônica, a degradação do próprio Portugal. Afirma, depois de indagar onde estariam os túmulos de Camões e o de Duarte Pacheco, este, aliás, sempre mais esquecido que o outro: Mais dez anos de barões e de regime da matéria, e infalivelmente nos foge deste corpo agonizante de Portugal o derradeiro suspiro do espírito. Creio isto firmemente. Mas espero melhor todavia, porque o povo, o povo, está são [...]. Nós, que somos a prosa vil da nação, nós não entendemos a poesia do povo. (Garrett, 1946: 375) É interessante o fato de que a palavra soprada nas Viagens continua a ser a de Camões, assim como o motor às avessas da grandeza é buscado nas malhas da epopéia quinhentista, em um jogo de atração/repulsão, como mostra o capítulo VI. Nele, o narrador afirma ainda crer em Camões, sentir “na leitura dos Lusíadas” um “sentimento íntimo do belo” (grifado na obra), embora não possa usufruir “gozos no presente, em que o amor da pátria” talvez não passe de “fantasmagoria”, a pôr em causa as “esperanças de futuro” (Garrett, 1946: 47-8). A busca da passada grandeza, a mover a viagem garrettiana na linha mais das crônicas medievais do que na da epopéia renascentista, é anunciada, no primeiro capítulo, de modo positivo, alegre e, em certa medida, eufórico. Isto se desvanece ao final, mas o resgatar da beleza da terra e de seus mitos e histórias soterrados se cumpre, embora o desalentado balanço final. No início, com a ironia de sempre, o narrador faz a sua “proposição”, falando da ambição de sua “pena” que “quer assunto mais largo” e anunciando a sua “viagem”, colocada no presente e, não, nas memórias passadas, embora a memória gloriosa contida na terra se enalteça. Diz então: “Vou nada a menos que a Santarém”. Indica, a seguir, seu propósito de “fazer crônica” sobre tudo que visse e ouvisse naquela cidade do Ribatejo por ele considerada “a mais histórica e monumental das nossas vilas” (ibid.: 3-4). O resultado dessa viagem em direção ao reconhecimento histórico e identitário, 10 | Laura Cavalcante Padilha em última análise, é zangadamente melancólico, como se sabe, fechando-se em forma de ruína, metaforizada pela da própria cidade de Santarém, embora, conforme já se viu, o povo se enaltecesse: Decididamente vou-me embora, não posso estar aqui, não quero ver isto. Não é horror que me faz, é náusea, é asco, é zanga. Malditas sejam as mãos que te profanaram, Santarém... que te desonraram, Portugal... que te envileceram e degradaram, nação que tudo perdeste, até os padrões de tua história!... Eheu, eheu, Portugal! (Garrett, 1946: 374) Por seu turno, cinqüenta e tais anos depois, também Eça de Queiroz resolve encenar viagens, em A ilustre Casa. A primeira, imaginária com relação à história encaixante, surge em forma de uma reescrita do passado pela personagem principal, Gonçalo Mendes Ramires. Tal reescrita resulta na novela A torre de Dom Ramires, na origem um poema romântico de um tio de Gonçalo. Ela reduplica, às avessas, o tempo presente da narrativa, suplementando-o. O passado retorna, pela obra da personagem, fantasmaticamente embrulhado e embrulhando-se no presente da narrativa. Assim, mesmo que tome a forma pessoalizada de uma história de família, esta é necessária para – como diz o amigo e editor da novela, José Castanheiro, ao incitar Gonçalo a escrever sobre seus antepassados – “ressuscitar estes varões [...] a alma façanhuda, o querer sublime que nada verga”. Camões, novamente, se representa, e o desejo de Castanheiro é, através da via da ficção, retomar a grandeza perdida, sacudindo “Pela consciência que renova de termos sido tão grandes, [...] este chocho consentimento nosso em permanecermos pequenos!” (1947a: 19). O sucesso editorial da novela, quando de sua publicação, mostra a realização do desejo de “atroar Portugal” (ibid.: 18), alimentando-se o presente com a grandeza passada, muito embora o seu autor, Gonçalo Ramires, repudie aquele passado ao final de sua escritura, quando, comovido com a morte cruel e desumana de Lopo de Baião, o Bastardo, desabafa: “esse suplício do Bastardo lhe deixara uma aversão por aquele remoto mundo Afonsino, tão bestial, tão desumano!” (ibid.: 377). Por outro lado, há uma segunda viagem em A ilustre Casa, no plano diegético, ou seja, a de Gonçalo para a África, no paquete Portugal, em outra ironia corrosiva do autor. Dela Gonçalo retorna, depois de decorridos quatro anos, já transformado pela aventura africana colonial do dezenove. Por esta aventura, a exemplo do que propusera o romance As minas do rei Salomão de Rider Haggard, romance, aliás, traduzido ou apenas revisado Da construção identitária a uma trama de diferenças | 11 por Eça – não o sabemos – e publicado, em português, em 1891, Gonçalo enriquece, voltando, como informa a carta da prima Maria Mendonça: “Ótimo! Até mais bonito e, sobretudo, mais homem. A África nem de leve lhe tostou a pele. Sempre a mesma brancura.” (ibid.: 409). O maior dos pesadelos do ocidente branco-europeu foi assim evitado: Gonçalo, em sua vivência moçambicana, não tivera a pele escurecida, nem se “cafrealizara”. O texto de Eça mostra, neste momento, a força do racismo intrínseco de que nos fala Kwame Anthony Appiah (1997) pelo qual o sujeito histórico branco-ocidental considera ser a sua raça a hegemônica, em detrimento das outras, sempre vistas como inferiores e, portanto, passíveis de subjugação, conforme Os Lusíadas, aliás, nos apresentam. De outra parte, com os olhos de hoje, se pode problematizar o enriquecimento súbito de Gonçalo que, com o dinheiro colhido na árvore africana das patacas, transforma, física e economicamente, sua territorialidade metropolitana. Mostra-se, assim, no jogo do imaginário, que a África ainda valia a pena e que o sonho da personagem com “um prado de África, debaixo de coqueiros sussurrantes, entre o apimentado aroma de radiosas flores, que brotavam através de pedregulhos de ouro” (ibid.: 59) se pudera realizar. Nesse sentido, vale a pena remeter ao ensaio de Alberto Costa e Silva em que o historiador brasileiro coloca em xeque a possibilidade de enriquecimento lícito da personagem em tão pouco tempo, dizendo: “E se o fidalgo da Torre enricou em tão minguado tempo, terá sido por muita sorte, abuso e manha, ou porque oprimiu as aldeias que existiam em seu prazo e delas retirou tudo o que lhe podiam dar e um pouco mais.” (Silva, 2000: 13). Se nos recordamos ser Gonçalo identificado com Portugal, pelo Gouveia, por seu “todo [...], a fraqueza, a doçura, a bondade” (Queiroz, 1947a: 418) e, sobretudo, pela sua revigoração física e simbólica, esse enriquecimento se pode ler como a possibilidade de renovação da metrópole européia colonial. Antonio Candido vê, nessa revigoração de Gonçalo, “o revigoramento da consciência nacional que animou tantos intelectuais portugueses no fim do século XIX e é exemplificado pelas biografias patrióticas do último Oliveira Martins” (2000: 21). O texto, com sua ironia corrosiva e por seu jogo de ambigüidades, em meu modo pessoal de lê-lo, deixa isso em suspenso, como um caminho de interpretação apenas possível. Percebo, em tal retorno, pura e tão somente, mais uma ponta farpada da ironia eciana, resultado palpável de seu próprio desencanto. No século XX, a Mensagem de Pessoa tenta, pela via do messianismo, reconvocar a grandeza passada, apostando na força da territorialidade simbólica, mais do que na da física. Fecha o poema, por isso mesmo, depois de 12 | Laura Cavalcante Padilha ter cantado a construção do seu “mar português”, com o verso: “É a Hora!”, a que segue a expressão latina: “Valete, Fratres” (1974: 89). A partir da Revolução de 25 de abril de 1974, e com a independência das colônias africanas, dando aqui um necessário salto, o processo de autognose português vai conhecer, na ficção principalmente, o seu mergulho mais fundo. É difícil escolher, no conjunto das vozes que mostram o estilhaçamento do que podemos chamar de lusismo eufórico, aquelas mais representativas da busca do estabelecimento de novas negociações de sentido histórico-culturais que ainda pudessem dar sustentação à demanda de presente de sujeitos nacionais cindidos e em clara crise identitária. Não por acaso, se Gonçalo Ramires parte para a África no “paquete Portugal”, o narrador de Partes de África, de Helder Macedo (1991), vai dela retornar, aos doze anos, chegando a Lisboa em outro paquete, chamado, ao contrário do primeiro, Colonial. Em tal viagem de volta nos diz o sujeito narrativo ter passado pelos seguintes locais: “Cabo, Moçâmedes, Lobito, Luanda, São Tomé, Madeira”. Adiante, mostra, como resultado da mudança territorial, o fato de sentir “um indefinido sentimento de injustiça que confusamente receava poder vir a corresponder a um novo modo de estar no mundo” (1991: 13). Esse “novo modo de estar no mundo” é uma das marcas dos sujeitos que desfilam em obras de José Saramago, do próprio Helder Macedo, de Lobo Antunes, de João de Melo e de tantos outros que, como este último, se propõem a fazer uma espécie qualquer de Autópsia de um mar de ruínas (1984). Para realizar esse intento, ora se aponta, como em Garrett, a viagem para dentro da terra, consoante o que se dá na obra de Saramago, seja com Levantado do chão (1979), seja com Memorial do convento (1982); ora se indica o trânsito pós-imperial e o exílio como a única resposta possível para o estilhaçamento de um sujeito que não mais se identifica com o sentido da hegemonia do Império. É este o caso de Partes de África e mesmo de Pedro e Paula do mesmo Helder Macedo (1998), para além do romance que será aqui tomado como espécie de paradigma possível da problematização do lusismo, em um tempo de pós-fascismo salazarista e perda do império colonial. Trata-se do romance O esplendor de Portugal de Lobo Antunes (1997), título que é clara referência ao hino português cuja letra é de autoria de Henrique Lopes de Mendonça. Não por acaso parte do hino é usada como epígrafe, o que já configura um procedimento retórico mais do que simbólico e sintomático. Cito o início epigráfico: Heróis do mar, nobre povo, Nação valente e imortal levantai hoje de novo o esplendor de Portugal! (Antunes, 1999: 5) Da construção identitária a uma trama de diferenças | 13 O romance esfacela, em todos os sentidos, o mote proposto, ao encenar, ao invés do esplendor, a decadência absoluta do sonho imperial ultramarino. Isto é conseguido, ora com as ações narrativas a desenrolarem-se na ex‑colônia, Angola, já transformada, no presente enunciativo, em uma nação independente, ora com a mudança espacial da focalização para Portugal para onde os três últimos descendentes de uma família colonial branca angolana se transferem no pós-independência, quando do rebentamento da guerra civil naquela nação africana. A solidão, a doença, a loucura, o exílio, o real alucinado marcam ambos os espaços, fazendo do “esplendor”, um mar de ruínas cuja “autópsia” é realizada de modo angustiante e surpreendente. Abdicando de qualquer forma de linearidade, o texto, para mostrar a fragmentação da História nacional projetada metonimicamente na de sujeitos sem lugar de uma família, vai-se estruturando a partir de fragmentos datados e que se organizam em três partes, consoante, respectivamente, o ponto de vista dos três irmãos dessa família colonial, exilados em uma terra, não mais sua, Portugal, e com a qual não se identificam – Carlos (filho bastardo do pai e mestiço); Rui (filho esquizofrênico de um adultério da mãe) e Clarisse (filha legítima do casal). Perpassando as partes, a fala da mãe, Izilda, a partir de Angola, mais exatamente, do interior desse país. Tal fala tem como motor o jogo da memória que cobre os vários tempos do viver da personagem, desde a infância rural, e sempre na região do Cassanje. Ao contrário da letra do hino nacional, Izilda, branca descendente de colonos portugueses, não é uma “aurora forte”, mas um ser imerso em uma noite escura sem saída. Por outro lado, seus “beijos de mãe” não guardam ou sustentam os filhos “contra as injúrias da sorte”. Muito antes pelo contrário. Pela configuração imagística desta personagem, o hino perde o sentido patriótico e vira pelo avesso. Como Izilda, por outro lado, não sai de sua territorialidade angolana, ou de sua “pátria”, não retornando, ela obriga o leitor a mergulhar em um lugar sempre elidido na perspectiva da colonialidade, esta, desde o início, sustentada pelo próprio lusismo hegemônico que, desse modo cartografado, se reconfigura em forma de perda, como se fora o negativo de um filme. A morte de Izilda, metralhada pelas tropas governistas angolanas – e não pela UNITA – no natal de 1995, que é a data da costura do mosaico textual, mostra o seu não-lugar de pertença, sua exclusão também de Angola, o seu nenhum lugar, enfim. Por outro lado, a ceia não realizada na qual os irmãos se reuniriam – na metrópole européia que é Lisboa e no sonho tardio de Carlos de revê-los – desfaz qualquer hipótese de reatamento de laços afeti- 14 | Laura Cavalcante Padilha vos, com cada um dos três a emergir em sua solidão irreversível que nega igualmente a hipótese de qualquer renascimento ao qual a idéia de natal pudesse remeter. Como bem analisa Maria Alzira Seixo, “É, de facto, a questão da ‘agency’ no plano pós-colonial, que está aqui em questão, e que se segue, nesta obra, à verificação da estranheza e da perturbação das identidades” (2002: 353). Essa “perturbação das identidades” nos oferece uma das chaves de leitura de O esplendor de Portugal e de outras ficções portuguesas contemporâneas pelas quais o lusismo se reconfigura e parte em busca de novos sentidos, escondidos ainda nas margens de um futuro por vir. Talvez Saramago tenha intuído uma solução possível com sua Jangada de pedra (1986), mostrando “a península” como “uma criança que viajando se formou e agora se revolve no mar para nascer, como se estivesse no interior de um útero aquático” (1986: 319). A nova possibilidade de renascimento aponta, aqui, para a reconfiguração do lusismo, sustentando a própria idéia da lusofonia como um lugar simbólico a ser edificado, uma vez que a jangada ancora – em uma também simbólica coordenada geográfica – entre a África e a América. 3. Lusofonia: simbolizações e a trama de diferenças Tanto quanto o lusismo, já o disse, a lusofonia constitui, de princípio, um fato lingüístico. Também como aquele, ela passa, em uma instância mais abrangente, a significar um gesto político de afirmação da força simbólico‑cultural lusitana, assim como se dá com relação à francofonia, à anglofonia, etc., construções cujo ponto de partida é dado pela hegemonia das nações colonizadoras e pela língua igualmente hegemônica expandida pela ação colonizatória. A pesquisa realizada, com competência, por Ana Isabel Madeira, no âmbito da rede Prestige, traça “o percurso de emergência da categoria lusofonia” (Madeira, 2003: 6), começando por mostrar o registro tardio do termo no âmbito dos dicionários, o que revela a entrada, igualmente tardia, do constructo na área dos estudos portugueses. Também se pode verificar essa ocorrência, quando se constata que, nos dicionários brasileiros, o termo só aparece no organizado por Antônio Houaiss. Aí se lê: “1. conjunto daqueles que falam o português como língua materna ou não. 1.1. o conjunto de países que têm o português como língua oficial ou dominante” (2001: 1793-a). Também na versão eletrônica do de Aurélio (1999) se apresenta o seguinte registro: “Adoção da língua portuguesa como língua de cultura ou língua franca por quem não a tem como vernácula; tal ocorre, Da construção identitária a uma trama de diferenças | 15 por exemplo, em vários países de colonização portuguesa”. Este dicionarista apresenta, ainda, uma segunda acepção: “Comunidade formada por povos que habitualmente falam português”. Fica bastante claro, pela leitura das acepções, ser a lusofonia pensada sempre em jogo opositivo pelo qual a língua portuguesa se mostra como: “materna ou não”; “oficial ou dominante” ou, ainda, “de cultura ou franca”. Ou seja: há sempre uma diferença a assinalar-se no uso da língua e na relação de pertença por esse uso estabelecida. Reforça-se, já por aí, de novo voltando a Madeira, “a noção de lusofonia como uma unidade de funcionamento no discurso [...] como um traço no encadeamento das narrativas que articulam a história dos povos que utilizam a língua portuguesa” (Madeira, 2003: 13). O “traço” apontado por Madeira fica por demais evidente, no verbete de Houaiss, quando este explicita, entre colchetes, tal “encadeamento de narrativas”: [A lusofonia abrange, além de Portugal, os países de colonização portuguesa, a saber: Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe; abrange ainda as variedades faladas por parte da população de Goa, Damão e Macau na Ásia, e ainda a variedade do Timor na Oceania] (Houaiss, 2001: 1793-a) No âmbito das reflexões aqui propostas, o espaço abordado será o dos países africanos no passado colonizados por Portugal, cuja literatura como já explicitado, se constitui meu principal campo de investigação. De outra parte, será convocada também a literatura brasileira, pois, na comunidade onde todos nós, falantes do português, nos inserimos, há uma série de identificações a nos unirem, ao lado de profundas diversidades a nos distinguirem. Entende-se que o segmento referente ao lusismo cobriu a literatura portuguesa; por isso mesmo, ela não será aqui objeto de análise. No entanto, não é possível pensar a lusofonia sem um retorno a Os Lusíadas, quando a literatura em português é a meta do olhar. A natureza do encontro entre os próprios, portugueses, e os outros, no caso específico da epopéia quinhentista, que aqui interessa, os africanos, se evidencia em várias passagens. Nesse jogo representativo, ora o encontro se faz mais palatável, quando há possibilidade de comunicação lingüística, ora se transforma em muralha fortificada, quando a “gente”, sempre “estranha” não domina nenhum código reconhecível. Há uma questão, levantada pelo pensamento dos navegantes, logo no início da viagem – canto I, 42 –, que acaba por abrir as cortinas da primeira cena protocolar de apresentação 16 | Laura Cavalcante Padilha entre sujeitos europeus e habitantes de uma pequena ilha entrevista pelo Gama. Eis a pergunta, que grifo: “– Que gente será esta (em si deziam)/Que costumes, que lei, que rei teriam?” (1972, I, 42: 71). A questão, deste modo posta, se faz o grande mote dos encontros posteriores com outras formações identitárias. Continuando a mesma cena anterior, assim se apresentam os lusos: “– Os portugueses somos do Occidente,/Imos buscando as terras do Oriente.” (ibid., 50: 71). A isto, os outros, perguntados, retrucam em árabe, descodificável para alguns, como o texto esclarecerá por várias vezes: – Somos, um das ilhas lhe tornou, Estrangeiros na terra, lei e nação; Que os próprios são aqueles que criou A natura, sem lei e sem razão. (ibid., 53, 1 a 4: 75) Os negros africanos, donos da ilha já invadida que adiante saberemos chamar-se Moçambique, são excluídos da cena e vistos como seres criados pela natureza, “sem lei e sem razão”. Instala-se, no plano da representação, o vazio do sujeito que tem a pertença da terra. Só no canto V, portanto muito mais adiante na armadura da espacialidade textual, e pela fala do Gama, fica o leitor informado da existência de um encontro anterior – o primeiro na montagem em flash-back, com os negros, sintetizados metonimicamente pela figura de um deles, descrito como – um “estranho [...] de pele preta” (ibid., V, 27, 6: 296). Tal “estranho”, na estrofe subse qüente, será caracterizado como “selvagem mais que o bruto Polifemo” (ibid., 28, 4: 296). Nesse momento narrativo, a muralha lingüística toma vulto e a resultante é a incomunicabilidade entre os dois grupos etno-culturais que, pela primeira vez, se defrontam. Diz o Vasco: “Nem ele entende a nós, nem nós a ele,” (ibid., 28, 3: 296). Não há, assim, diálogo, nem apresentação protocolar, pois não existe prévio conhecimento dos códigos de um povo e do outro, o que leva a uma impossibilidade absoluta de convívio lingüístico. Inevitavelmente a tudo isso se seguirá um primeiro enfrentamento físico, com setas, de um lado, e armas de fogo, de outro. Os mundos culturais se excluem e confrontam, justamente pela inexistência de porosas fronteiras lingüísticas nas quais se entrecruzassem. Abrem-se, já agora, as cortinas do drama colonizatório, ao mesmo tempo em que, repito, a lusofonia começa a fazer-se futuro e a língua do dominador se impõe como a hegemônica, porque é a única que faz sentido nesse mundo “estranho” onde aporta, marcado pela “selvageria”. Da construção identitária a uma trama de diferenças | 17 É preciso esclarecer, neste ponto, que nós, os ex-colonizados, falamos o português que nos chegou como legado do outro europeu, e com as variantes que resultaram da formação cultural de cada um de nossos países, cartografados por linhas e limites geográficos impostos pelo poder colonial hegemônico. É nesse português que nos falamos e construímos, em alguns locais, parte de nossas identidades nacionais. Enfatizando a força dessas diversidades lingüísticas que nos distinguem, José de Alencar, escritor romântico que buscou construir, como poucos, os caminhos de uma nacionalidade literária brasileira em diferença, inquire, retoricamente, no prefácio do romance Sonhos d´ouro (1872): “O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a nêspera?” (1953: 88). Todos sabemos que o verbo “chupar” significa o mesmo que “sorver”, mas há entre ambos os significantes e seus respectivos significados uma distância atlântica a separar o gesto e o “sabor” das duas ações, para além da diversidade das frutas “chupadas” ou “sorvidas”. Por outro lado, há de se considerar ter sido a língua portuguesa duramente imposta pela dominação européia, como nos revelam, por exemplo, as rígidas normas do estatuto pelo qual se sustentava o processo de assimilação em África. A assimilação, é bom não esquecer, era a única forma de o negro ter acesso a uma gama de direitos pelos quais ele podia ascender a uma condição apenas mediana de cidadania. Alfredo Margarido resume, em percuciente análise, o sentido dessa imposição, ao dizer que o instrumento de dominação lingüística visava a repelir o Outro, e mais particularmente os grupos que a proto-antropologia europeia classificava entre os selvagens: os sem território, sem governo, sem religião, africanos e índios americanos. O que não quer dizer que os asiáticos escapassem inteiramente a esta condenação. Diz-me que língua falas e como a falas, e dir-te-ei quem não és, tal poderia ser o aforismo central associado às práticas linguísticas portuguesas. (2000: 66-7) Partindo dessa idéia de dominação lingüística a que se liga o deliberado apagamento de representações simbólicas autóctones, sempre pela força impositiva das européias, é que se precisa pensar a lusofonia, incluindo-a no âmbito da “sociologia das ausências”. Tal sociologia, consoante o que postulam Arriscado Nunes e Boaventura de Sousa Santos, deve ser entendida como “um recurso [...] capaz de identificar os silêncios e as ignorâncias que definem as incompletudes das culturas, das experi- 18 | Laura Cavalcante Padilha ências e dos saberes” (2003: 26). É nesse espaço onde se estabelece o silêncio sobre aquilo que não se conhece e nem se deseja conhecer que se move a lusofonia. Por isso mesmo, ela se deve pensar como um gesto político que sustenta todo um constructo simbólico pelo qual, com freqüência, se tenta apagar a trama das diferenças que, não obstante isso, insistem em projetar-se nas malhas, no caso literárias, tecidas pelo imaginário de produtores oriundos das nações, no passado, colonizadas por Portugal. Como bem enfatiza Cornejo Polar, em relação às literaturas latino-americanas, postulado facilmente extensível às africanas, tais produções se fazem um campo aberto à insalvável heterogeneidade de vozes e letras plurais e dissidentes, aos muitos tempos de uma história mais assombrosa e densa que a linear, às várias, matizadas e confusas consciências que as cruzam e lhe[s] conferem atordoante consistência. (2000: 84) Voltando à questão lingüística, há de se considerar um pressuposto básico quando se pensa a comunidade dos sete países onde o português se apresenta como língua materna, de cultura, oficial ou dominante. Trata-se do fato de existir, no espaço de projeção intercontinental dessa língua, uma diferença fundante entre o que se passa no Brasil e em Portugal, de um lado, e o que acontece, de outro, no espaço histórico-social das cinco nações africanas. O português é aí, tão somente, uma das línguas existentes e, não, a que confere uma “unidade” – passe o termo – nacional. Não há como deixar, por isso mesmo, de lado a questão do plurilingüismo, quando se trabalha com as literaturas das cinco nações, para além, é claro, de toda a diversidade de sua dimensão cultural, alargada, ainda mais, por tal polifonia lingüística. Inocência Mata, a esse propósito, esclarece: [N]o caso das literaturas africanas, diferentemente de suas congêneres portuguesa e brasileira, é preciso não esquecer que essa literatura [em língua portuguesa] constitui parte – uma parte significativa é verdade – dos sistemas literários dos países africanos de língua portuguesa, que incluem também produções em línguas africanas, crioulas ou autóctones. (2004: 350) Essa constatação é importante, quando se pensa a questão da lusofonia no âmbito da África de língua oficial portuguesa. Não apenas as línguas nacionais são faladas, em algumas regiões, às vezes mais que a européia, mas também, em tais países, já se produzem obras literárias, embora ainda poucas, naquelas línguas. Para além disso, estas, com muita freqüência, se Da construção identitária a uma trama de diferenças | 19 confrontam com o português dentro de uma mesma produção artístico-verbal, conforme comprovam os versos da guineense Odete da Costa Semedo: Irans de Bissau de Klikir a Bissau bedju de N´ala e de Rênu de Ntula e de Kuntum de Ôkuri e de Bandim [...] As sete djorson de Bissau estarão presentes as almas das katanderas estarão presentes (2003: 83-4) Em uma de suas crônicas, a poetisa e historiadora Ana Paula Tavares, angolana, enfatiza o entrecruzamento e a suplementação lingüística no âmbito de sua cultura, afirmando, em “Língua materna”: Sempre observei com gosto a alquimia generosa da língua portuguesa engrossando ao canto umbumdo, sorrindo com o humor quimbumdo ou incorporando as palavras de azedar o leite, próprias da língua nyaneka. O contrário também é válido e funciona para todo o universo das línguas bantu e não só faladas nos territórios, onde hoje se fala também a língua portuguesa. (1998: 13) Vale, neste ponto, resgatar, no caso do Brasil, a célebre “Carta pràs icamiabas”, um dos capítulos de Macunaíma de Mário de Andrade (1928), onde a paródia antropofágica do uso da língua se apresenta sem disfarces. Tal se dá, na carta, desde o fato inicial de Macunaíma mostrar o desconhecimento dos paulistas sobre o que seriam as “icamiabas”, outro modo de dizer “Amazonas”, segundo a personagem, na “voz espúria” (1978: 59) e pretensamente erudita erigida na cidade de São Paulo, local onde a carta se escreve. O trecho abaixo, aberto por uma retomada camoniana às avessas, mostra como a questão do uso da língua portuguesa, no projeto modernista brasileiro, visa reforçar o nacional, pelo que retoma, dando-lhe outro sentido, o projeto de Alencar: Nem cinco sóis eram passados que de vós nos partíramos, quando [...] Por uma bela noite dos idos de maio do ano translato, perdíamos a muiraquitã; que outrem grafara muraquitã e, alguns doutos, ciosos de etimologias esdrúxulas, ortografam muyrakitan 20 | Laura Cavalcante Padilha e até mesmo muraquéitã, não sorriais! [...] este vocábulo, tão familiar às vossas trompas de Eustáquio, é quase desconhecido por aqui. (Andrade, 1978: 59) Evidencia-se, no tracejado irônico da carta, a existência, em São Paulo, metonímica representação das cidades brasileiras nas quais a força da colonização mais se solidificou, de duas “línguas”: a oral (“um linguajar bárbaro e multifário”) e a escrita: “mui próxima da vergiliana [...] meigo idioma, que, com impecável galhardia, se intitula: língua de Camões!” (ibid.: 107). O projeto modernista brasileiro tenta erigir um outro lugar de fala que servirá como uma espécie de nova possibilidade de modelização para as nações africanas, quando de seu empenho de desassimilação dos europeus modelos vigentes. Um exemplo pode ser buscado na poesia de Manuel Bandeira em que a fala do povo, os pregões populares, os cantos, o ritmo novo, etc. inseminam o corpo poético, conferindo uma certa “brasilidade” aos contornos deste corpo, como pode bem demonstrar a primeira estrofe de “Berimbau”: Os aguapés dos aguaçais Nos igapós dos Japurás Bolem, bolem, bolem. Chama o saci: – Si si si si! – Ui ui ui ui ui! Uiva a iara Nos aguaçais dos igapós Dos Japurás e dos Purus. (1977: 196) Por isso mesmo, alguns poetas africanos, como os angolanos Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz, por exemplo, se vão identificar com esse novo ritmo da poesia do Brasil, tal como o põe Bandeira, criando, por sua vez, diversificados caminhos e modulações rítmicas próprios de uma fala poética em diferença, conforme evidencia – para ficar só com uma produção de um dos poetas – “Castigo pro comboio malandro” de António Jacinto, em seu diálogo explícito com “Trem de ferro” de Bandeira. Leiam-se os fragmentos seguintes: Bandeira: Café com pão Café com pão Café com pão Virge Maria que foi isso maquinista? [...] Da construção identitária a uma trama de diferenças | 21 Ai seu foguista Bota fogo Na fornalha Que eu preciso Muita força Muita força Muita força (Bandeira, 1977: 236-37) Jacinto: Esse comboio malandro passa passa sempre com a força dele ué ué ué hii hii hii te-quem-tem te-quem-tem te-quem-tem O comboio malandro passa (Jacinto, 1985: 23) Os projetos literários nacionais africanos usam, por outro lado, da própria língua portuguesa como uma forma de enfrentamento do dominador, buscando romper a rigidez normativa e apresentando distintas soluções verbais para com elas estruturar as bases de uma produção artística em diferença. Se phoné, em grego, significa som, o que se percebe é essa mudança intrínseca, em princípio, na base sonora da língua, procedimento que não se restringe, cada vez mais, apenas a esse nível fônico, mas o ultrapassa, para atingir o corpo sintático e morfológico da língua. É o que mostra, por exemplo, a leitura da ficção do também angolano José Luandino Vieira. Como ilustração desse procedimento estético, resgata-se um trecho do romance João Vêncio: os seus amores (1979), do autor, obra em que de novo se apresenta outro herói problemático, como Macunaíma, e sua fala em diferença com relação às normas européias: Eu não gosto as gentes – camundongos dum raio! O governo devia de fazer sanzalas longe para irem morar estas alimárias. A cidade ficava só a beleza vaziada, casas e árvores, tudo mais quanto. Ninguém que vinha-lhe estragar com suas catingas. (1987: 81) Cria-se, assim, fora do centro onde se erige a lusofonia, em suas margens, mais exatamente, uma rede de cumplicidades como demonstra, ainda para exemplificar, a importância que teve a leitura da ficção de Jorge Amado no processo de formação literária de autores africanos. Tal se deu justamente 22 | Laura Cavalcante Padilha pelo fato de Amado cenarizar, de um lado, os modos de vida autojustificativos do segmento populacional dos negros da Bahia e, de outro, por optar pela encenação de uma estética da privação pela qual os excluídos ganham vez e voz, mostrando-se, com essa voz, uma fala em diferença: Ninguém tinha reparado a chegada de Jubiabá. O macumbeiro falou: – Mas ele morreu de morte feia... Os homens baixaram a cabeça, bem sabiam que eles não podiam com Jubiabá que era pai-de-santo. [...] Disse em nagô então e quando Jubiabá falava nagô os negros ficavam trêmulos: – Ôjú ànun fó ti iká, li ôkú. (1983: 33-4) As entrevistas realizadas por Michel Laban com escritores angolanos e moçambicanos, dentre outros (Laban, 1991, 1998), deixam muito evidente a importância da leitura da obra do autor baiano, para além de outras, é claro, como a dos neo‑realistas portugueses, na formação dos leitores que se farão os futuros escritores desses países. A moçambicana Noémia de Sousa evidencia tal importância ao entrevistador, quando responde por que teria escrito o “Poema a Jorge Amado”. Diz ela: “Isto é por causa dos livros do Jorge Amado: há um livro [...] acho que é S. Jorge dos Ilhéus que diz: ‘Vem minha morena sentar-te no cais’ [...] ou é Jubiabá? E eu fiquei muito impressionada com Jorge Amado” (Laban, 1998, 1: 307). Torna-se, por tudo isso, muito claro, para o leitor das produções africanas do fim dos anos quarenta do século passado, em diante, o desejo dos autores de solaparem a autoridade do outro colonizador, histórica e literariamente, transportando a letra artística para sua própria territorialidade simbólica. Com tal gesto, tentam vencer o poder autoritário europeu, confrontando-o diretamente. Fazem dessa letra que, como indica Polar, foi “inicialmente signo enigmático do Poder” um “território por preservar ou conquistar, quase como um segmento da política e da econo mia de apropriações, expropriações e reapropriações, que tensionam e cortam toda a vida colonial” (2000: 83). A língua é um dos elementos alicerçadores dessa “economia”, cuja resultante é um processo de realocação do imaginário. José Craveirinha, em “Hino à minha terra”, espécie de resposta à impossibilidade de nomeação da diferença por parte dos navegantes lusíadas, tal como cantados na epopéia do quinhentos, renomeia o seu universo histórico-cultural moçambicano. Seu “hino”, ao contrário do português descons- Da construção identitária a uma trama de diferenças | 23 truído por Lobo Antunes, se fundamenta no orgulho e na positividade. Ele é aberto por uma epígrafe que funciona como uma espécie de proposta pela qual se lança uma adivinha, tão ao gosto africano: O sangue dos nomes é o sangue dos homens Suga-o também se és capaz tu que não o amas E o poeta continua depois deste mote/adivinha: Amanhece sobre as cidades do futuro E uma saudade cresce no nome das coisas e digo Metengobalame e Macomia e é Metengobalame a cálida palavra que os negros inventaram e não outra coisa Macomia [...] Oh as belas terras do meu Áfrico País [...] e todos os nomes que amo belos na língua ronga macua, suaíli, changana xítsua e bitonga (1980: 21-2) Esse sangue dos nomes africanos, que lustra tantas outras línguas e culturas do continente, em sua diversidade etno-cultural fundante, mostra a força cosmogônica da palavra africana, sempre um mais além de si mesma. Por ela se ligam o visível e o não visível; os vivos e os mortos; o passado e o futuro, como ensinam Makhily Gassama; Alassane Ndaw; Honorat Aguessy; Kwame Anthony Appiah; Ruy Duarte de Carvalho; Tidjani Serpos e tantos outros estudiosos africanos pertencentes a várias áreas do saber. Essa construção cosmogônica outra, articuladora de também outras simbolizações pelas quais se podem problematizar as fonias de base européia, nos permite pensar, sem qualquer essencialismo – sempre forma de apagamento, mais do que de reforço, na perspectiva de Edward Said (1995), aqui acatada – em uma africafonia, intratável, porque irredutível a si mesma. Basta lermos, por exemplo, Wole Soyinka; Nadine Gordimer; Amadou Hampâté Bâ; Amós Tutuola; Luandino Vieira; Ungulani Ba Ka Khosa; Boaventura Cardoso; Paulina Chiziane; Abdulai Sila; Mia Couto; Pepetela; Alda 24 | Laura Cavalcante Padilha Espírito Santo e tantas outras “vozes escritas”, para entendermos os sentidos cobertos por essa africafonia. No Brasil, por exemplo, ela se faz presença em um número expressivo de obras de escritores afro-descendentes empenhados em representar um lugar sempre elidido pelo cânone literário. Esse traço outro de permanência, fora dos padrões simbólicos europeus, espalha-se em um amplo constelado literário. Duas obras poéticas dos brasileiros Edimilson de Almeida Pereira e Antônio Risério, respectivamente: O livro de falas ou Kalunbungu (1987) e Oriki Orixá (1996), servem como um exemplo mais que pertinente, da força simbólica deste constelado, cujos astros são outras línguas, outras culturas, outros saberes, enfim. Cita-se – Pereira, em poema, com cortes: “Kauô Kabiecile!” “Venham ver o Rei descer sobre a terra!”, eis a saudação de Xangô [...] foi outrora o quarto monarca da cidade de Oyo [...] FESTA Vem-me de velhas idades a oficina dos raios. [...] Sofri no amor dos anjos, mas coroei pedra e raio. Velhas palavras são rainhas e homens esquecidos, a decifração das máscaras. (1987: 13) – Risério, em uma de suas traduções recriadoras de um oriki iorubano, também de Xangô, de que cito o início: ORIKI DE XANGÔ 2 Xangô oluaxó fera faiscante olho de orobô Bochecha de obi Fogo pela boca, dono de Kossô, Orixá que assusta. Castiga quem não te respeita Xangô da roupa rubra, dono da casa da riqueza. Boca de fogo, felino na caça. (1996: 133) Ruy Duarte de Carvalho, por sua vez, esclarece, com pertinência, a força das matrizes simbólicas africanas traduzidas nos textos produzidos, no caso presente, em língua portuguesa. Mostrando a entrada, nessa língua, de outras formas de representação que não se reportam às matrizes branco-ocidentais, mas as ultrapassam, criando outra rede de conhecimentos e de pertenças Da construção identitária a uma trama de diferenças | 25 culturais, diz o autor angolano sobre um procedimento artístico específico de sua obra, porém que se pode estender a várias outras, tal como acontece com a de Edimilson Pereira e a de Antônio Risério: Se é verdade que ao traduzir e adaptar, para a minha língua, fontes da expressão oral africana, eu lhes transferi a marca da minha própria linguagem poética, também é sem dúvida verdade que, ao fazê-lo, eu estaria introduzindo as marcas de um imaginário OUTRO na própria língua portuguesa. (Carvalho, 1995: 75) A obra deste mesmo autor, Ondula savana branca (1982), como as de Pereira e Risério, são uma prova concreta desse esforço de tradução para o espaço, considerado como da lusofonia, de alguma outra coisa que, mesmo sendo escrita em português, vai muito além de uma “sonoridade” simbólica de matriz luso-européia, como mostra o longo poema “Peul”, desta obra, cujo fecho é aqui citado: Toma, por fim, as jujubas guardadas na matriz do mundo. Só as alcança quem chegou aqui. Estás na fronteira do saber dos homens. Daqui para a frente é divina a ciência ao teu dispor. Foroforondou agora cuidará de ti. (ibid., 1982: 65) O constructo africafonia se nos oferece, por todas essas disseminações simbólicas, como um significante capaz de cobrir, no caso do continente, não uma, mas todas as línguas nele faladas e, por extensão, as suas culturas de base polimorfa que as literaturas transculturalmente acabam sempre por recuperar, em uma espécie de remapeamento artístico dos mais instigantes no espaço dos estudos literários e culturais afro-luso-brasileiros. Pensando nessa africafonia e no Brasil, como meu próprio local de enunciação, é que me permito levantar as seguintes questões, à guisa de conclusão: seremos mesmo todos lusófonos, transitando por lugares lusófonos; pensando, amando, crendo, vivendo, criando, e outros gerúndios que quisermos acrescentar, lusofonamente? Ou somos todos, os ex-cêntricos, viajantes em uma língua que se arriscou a lançar suas âncoras em outros e distantes portos, possuindo-nos e nos contendo sempre como identidades em diferença? Para responder a tais indagações, é necessário reiterar o fato histórico-cultural de que, pelo uso comum de nossa língua, se cria um fecundo espaço de mútuas possibilidades de entendimento no qual igualmente proliferam 26 | Laura Cavalcante Padilha muitas cumplicidades e inúmeras histórias entrelaçadas. Contudo, faz-se também necessário, para que o entendimento, as cumplicidades e as histórias se consolidem mais e mais, que se construa um outro modo de ler e ver a trama das diferenças, para que elas, igualmente, se possam ler e ver sem elisões ou apagamentos impostos por qualquer hegemonia de ordem histórica, simbólica e, sobretudo, político-cultural. Só assim o lusismo cumprirá a sua promessa de futuro e a lusofonia ganhará novos e instigantes sentidos. Referências Bibliográficas Aguessy, Honorat (1980), “Visões e percepções tradicionais”, in Alpha Sow et al., Introdução à cultura africana. Trad. Emanuel L. Godinho, Geminiano C. Franco e Ana M. Leite. Lisboa: Edições 70. Alencar, José (1953), Sonhos d’ouro. Rio de Janeiro: José Olympio. Amado, Jorge (1983), Jubiabá. Rio de Janeiro: Record. Anderson, Benedict (1989), Nação e consciência nacional. Trad. Lólio L. de Oliveira. São Paulo: Ática. Andrade, Mário de (1978), Macunaíma: O herói sem nenhum caráter. São Paulo: Martins; Belo Horizonte: Itatiaia. Antunes, António Lobo (1999), O esplendor de Portugal. Rio de Janeiro: Rocco. Appiah, Kwame Anthony (1997), Na casa de meu pai: A África na filosofia da cultura. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto. Aulete, Caldas (1958) Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. 5 vols. Org. Antenor Nascentes. Rio de Janeiro: Delta. Bandeira, Manuel (1977), Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. Bloom, Harold (1995), O cânone ocidental: Os livros e a escola do tempo. Trad. Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva. Camões, Luís Vaz de (1972), Os Lusíadas. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura. Candido, Antonio (2000), “Ironia e latência”, in Beatriz Berrini (org.), A ilustre Casa de Ramires / Cem anos. São Paulo: EDUC, 17-26. Carvalho, Ruy Duarte de (1982), Ondula, savana branca. Expressão oral africana: versões, derivações, reconversões. Lisboa: Sá da Costa. Carvalho, Ruy Duarte de (1995), “Tradições orais, experiência poética e dados de existência”, in Laura Padilha (org.), Repensando a africanidade: ANAIS do I Encontro de Professores de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Niterói: Imprensa Universitária da Universidade Federal Fluminense, 69-76. Carvalho, Ruy Duarte de (2000), Vou lá visitar pastores: Exploração espistolar de um percurso angolano em território cuvale (1992-1997). Rio de Janeiro: Gryphus. Craveirinha, José (1980), Xigubo. Lisboa: Edições 70. Da construção identitária a uma trama de diferenças | 27 Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda (1988), Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda (1999), Dicionário Aurélio Eletrônico. Século XXI. Rio de Janeiro: Lexicon Informática/Nova Fronteira (CD-ROM). Garrett, Almeida (1946), Viagens na minha terra. Porto: Livraria Tavares Martins. Gassama, Makhily (1978), Kuma: Interrogation sur la littérature nègre de langue française. Dakar-Abidjan: Les Nouvelles Éditions Africaines. Gil, Fernando; Macedo, Helder (1998), Viagens do olhar. Porto: Campo das Letras. Hall, Stuart (2003), A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomás T. da Silva e Guacira L. Louro. Rio de Janeiro: DP&A. Houaiss, Antonio (2001), Dicionário HOUAISS da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. Jacinto, António (1985), Poemas. Luanda: Instituto Nacional do Livro e do Disco. Laban, Michel (1991), ANGOLA: Encontro com escritores. 2 vols. Porto: Fundação Eng. António de Almeida. Laban, Michel (1998), MOÇAMBIQUE: Encontro com escritores. 3 vols. Porto: Fundação Eng. António de Almeida. Lopes, Fernão (1997), A crônica de Dom João. In As Crônicas de Fernão Lopes: Selecionadas e transpostas em português moderno. Org. António José Saraiva. Lisboa: Gradiva, 145-354. Lourenço, Eduardo (1988), O labirinto da saudade: Psicanálise mítica do destino português. Lisboa: Publicações Dom Quixote. Lourenço, Eduardo (2001), A nau de Ícaro e Imagem e miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das Letras. Macedo, Helder (1991), Partes de África. Lisboa: Presença. Macedo, Helder (1998), Pedro e Paula. Lisboa: Presença. Madeira, Ana Isabel (2003), Sons e silêncios da lusofonia: Uma reflexão sobre os espaçostempos da língua portuguesa. Lisboa: EDUCA. Margarido, Alfredo (2000), A lusofonia e os lusófonos: Novos mitos portugueses. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas. Mata, Inocência (2004), “A invenção do espaço lusófono”, in HOMO VIATOR – Estudos em homenagem a Fernando Cristóvão. Lisboa: Colibri, 345-355. Melo, João de (1984), Autópsia de um mar de ruínas. Lisboa: Assírio e Alvim. Mignolo, Walter (2003), Histórias locais / Projetos globais: Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Trad. Solange Ribeiro de Oliveira. Belo Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ndaw, Alassane (1983), La pensée africaine: Recherches sur les fondements de la pensée négro-africaine. Dakar: Les Nouvelles Éditions Africaines. Nascentes, Antenor (1972), Dicionário ilustrado da língua portuguesa. 6 vols. Rio de Janeiro: Bloch / Academia Brasileira de Letras. 28 | Laura Cavalcante Padilha Pereira, Edimilson de Almeida (1987), O livro de falas ou kalunbungo: Achados da emoção inicial. Juiz de Fora: Edição do Autor. Pessoa, Fernando (1974), Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar. Polar, Antonio Cornejo (2000), O condor voa: Literatura e cultura latino‑americanas. Org. Mario J. Valdés. Trad. Ilka V. de Carvalho. Belo Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais. Queiroz, Eça de (1947a), A ilustre Casa de Ramires. Porto: Lello & Irmãos. Queiroz, Eça de (1947b), Minas de Salomão. Porto: Lello & Irmãos. Ribeiro, Margarida Calafate (2004), Uma história de regressos: Império, guerra colonial e pós-imperialismo. Porto: Afrontamento. Risério, Antônio (1996), Oriki Orixá. São Paulo: Perspectivas. Said, Edward (1995), Cultura e imperialismo Trad. Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras. Santos, Boaventura de Sousa (2001), “Entre Próspero e Caliban: Colonialismo, pós-colonia lismo e inter-identidade”, in Maria Irene Ramalho; António Sousa Ribeiro (orgs.), Entre ser e estar: Raízes, percursos e discursos da identidade. Porto: Afrontamento, 13-85. Santos, Boaventura de Sousa; Nunes, Arriscado (2003), “Introdução: Para ampliar o cânone do reconhecimento e da igualdade”, in B. de Sousa Santos (org.), Reconhecer para libertar: Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 25-68. Saramago, José (1982), Levantado do chão. São Paulo: DIFEL. Saramago, José (1983), Memorial do convento. São Paulo: DIFEL Saramago, José (1984), O ano da morte de Ricardo Reis. Lisboa: Caminho. Saramago, José (1986), A jangada de pedra. Lisboa: Caminho. Saramago, José (1998), Que farei com este livro? São Paulo: Companhia das Letras. Seixo, Maria Alzira (2002), Os romances de António Lobo Antunes. Lisboa: Dom Quixote. Semedo, Odete Costa (2003), No fundo do canto. Viana do Castelo: Câmara Muni cipal. Silva, Alberto da Costa e (2000), “Gonçalo Mendes Ramires, prazeiro na Zambézia”, in Beatriz Berrini (org.), A ilustre Casa de Ramires/Cem anos. São Paulo: EDUC, 9-15. Serpos, Noureini Tidjani (1987), Aspects de la critique africaine. Paris: SILEX. Tavares, Ana Paula (1998), O sangue da buganvília: Crônicas. Praia-Mindelo: Centro Cultural Português. Todorov, Tzvetan (1989), Nous et les autres: La refléxion française sur la diversité humaine. Paris: Seuil. Vieira, José Luandino (1987), João Vêncio: os seus amores. Lisboa: Edições 70. Zurara, Gomes Eanes (1992), Crónica da Tomada de Ceuta. Org. Reis Brasil. Mem Martins: Publicações Europa-América. Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 29-44 Maria Ioannis Baganha Política de imigração: A regulação dos fluxos O presente artigo tem como principal objectivo analisar como é que os vários governos, desde a entrada de Portugal na Comunidade Europeia até hoje, regularam a imigração e quais os objectivos que se propuseram atingir com essa regulação. O trabalho baseia-se essencialmente na análise de dois acervos documentais, a saber: documentos legais que enquadram a entrada em território nacional de imigrantes não comunitários, bem como os diplomas legais que estabeleceram períodos de regularização extraordinária de estrangeiros ilegais; e intervenções governamentais na Assembleia da República aquando da apresentação de pedidos de autorização legislativa relativos à entrada em território nacional de estrangeiros não comunitários ou ao lançamento de campanhas de regularização de estrangeiros em situação de ilegalidade. Com base na análise da documentação referida, a autora defende que a política de regulação dos fluxos nunca atingiu os seus objectivos, tendo o sistema de regulação falhado sucessivamente, obrigando a períodos de legalização extraordinária. 1. Introdução A dispersão generalizada de informação sobre as diferenças de oportunidades, quer a nível económico, quer no acesso a um conjunto de bens e serviços que asseguram diferentes níveis de bem-estar, e a existência de redes globais de tráfico e de transporte de imigrantes fizeram e continuarão a fazer crescer drasticamente a pressão migratória dos países pobres para os países ricos. Dado o enorme diferencial de bem-estar entre os indivíduos a viver em países com diferentes níveis de desenvolvimento (a raiz de todas as migrações económicas), a livre entrada nos países desenvolvidos induziria fluxos ilimitados, levando a um afundamento no sentido da igualização mundial e, também, a uma queda violenta nos níveis de emprego e consumo desses mesmos países (Zolberg, 1989). Não admira, assim, que a esmagadora maioria das forças políticas não defenda políticas migratórias de porta aberta. De facto, os Estados, no exercício dos seus direitos de soberania, definem políticas migratórias, mais ou menos restritivas, ao estabelecerem e controlarem quem pode entrar e permanecer no seu território e, subsequente- 30 | Maria Ioannis Baganha mente, pertencer ao todo nacional. No exercício destes direitos, os Estados promulgam e implementam legislação que visa regulamentar os seguintes aspectos da relação cidadão estrangeiro/Estado nacional: entrada, permanência, aquisição de nacionalidade e expulsão do território nacional. E porque assim é, qualquer política migratória tem que começar por resolver duas questões de natureza totalmente diversa, uma vez que uma é de ordem quantitativa, isto é, quantos imigrantes deve o país receber, e a outra é de carácter qualitativo, ou seja, qual deve ser o perfil dessas pessoas. Como afirma G. Borjas (1996), a política a ser implementada depende da forma como se tentar resolver estas duas questões, ou seja, depende do bem-estar que se pretende promover – o dos nacionais, o dos imigrantes, o do resto do mundo, ou uma das possíveis combinações destes três. Assim sendo, a estruturação de uma política migratória nacional passa antes de mais pela resposta que for dada à seguinte pergunta: como deverá Portugal regular os fluxos migratórios de entrada? 1 – de acordo com a pressão migratória existente, isto é, de acordo com a oferta e preocupações predominantemente humanitárias? 2 – deverá privilegiar uma vertente geoestratégica, mantendo a discriminação positiva em relação aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e ao Brasil? 3 – deverá regular as novas correntes de acordo com a procura, isto é, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho nacional? Só sendo capaz de responder politicamente a esta questão será possível elaborar e vir a implementar uma política migratória consistente, uma vez que a regulação da permanência dos imigrantes em território nacional e a determinação dos mecanismos que irão permitir e facilitar a integração e a pertença à sociedade portuguesa estão necessariamente dependentes do número e do tipo de imigrantes que forem autorizados a entrar. O presente artigo tem como principal objectivo analisar como foi sendo respondida esta pergunta, desde a entrada de Portugal na Comunidade Europeia em 1986 até aos nossos dias. Mais concretamente, pretende-se analisar como é que os vários governos regularam a imigração e quais os objectivos que se propuseram atingir com essa regulação. A forma como foi regulada a imigração em Portugal encontra-se explanada nos documentos legais que enquadram a entrada em território nacional de imigrantes não comunitários, bem como nos diplomas legais que estabeleceram períodos de regularização extraordinária de estrangeiros ilegais. Mais do que nestes documentos, os objectivos a atingir com esta regulação encontram-se explicitados nas várias intervenções governamen- Política de imigração: A regulação dos fluxos | 31 tais na Assembleia da República aquando da apresentação de pedidos de autorização legislativa relativos à entrada em território nacional de estrangeiros não comunitários ou ao lançamento de campanhas de regularização de estrangeiros em situação de ilegalidade. São pois estes dois acervos documentais que servem essencialmente de base à reflexão que se segue. 2. Antecedentes históricos O fim do império colonial português provocou o retorno a Portugal de aproximadamente 500 mil nacionais, dos quais se estima que 59% tinham nascido na metrópole. Os restantes 41% incluíam os seus descendentes, bem como pessoas de naturalidade e ancestralidade africana de nacionalidade portuguesa (Pires et al., 1984). Este último grupo de retornados veio, naturalmente, aumentar o número de portugueses de descendência africana residentes em território nacional. O Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de Julho, ao retirar a nacionalidade portuguesa a uma parte substancial destes portugueses, criou retroactivamente uma comunidade estrangeira, “imigrante”, de ancestralidade africana, que vai subsequentemente crescer devido a um processo de reunificação familiar. Assim, a presença em 1981 de 27 mil nacionais dos PALOP, que representavam 43% da população estrangeira legalmente residente em território nacional, podia ser essencialmente atribuída ao retorno involuntário à “Metrópole do Império”, no momento em que o mesmo se fragmentava em Estados soberanos, e à perda de nacionalidade portuguesa imposta pelo Decreto-Lei n.º 308-A/75. Sob o impacto da entrada de Portugal na Comunidade Europeia, em 1986, nomeadamente dos investimentos na construção de infra-estruturas que desde então se começaram a verificar, as oportunidades de trabalho indiferenciado vão crescer acentuadamente no mercado de trabalho nacional. Estas novas oportunidades veiculadas pelas redes de carácter informal, que uniam estas comunidades de ancestralidade africana às suas comunidades de origem, vão atrair ao mercado de trabalho nacional um número crescente de familiares e conterrâneos que tinham permanecido, após a independência, nos seus próprios países. E porque o mecanismo de entrada legal mais expedito e eficaz era o recurso aos vistos de curta duração (turismo, motivos de saúde, acompanhar doentes, estudo, etc.), vai, com este tipo de visto, radicar-se em território nacional e, sobretudo, na Área Metropolitana de Lisboa, um número crescente de imigrantes dos PALOP sem autorizações de residência. Ou seja, formou-se uma bolsa de clandestinos, que desde meados dos anos oitenta 32 | Maria Ioannis Baganha cresceu ininterruptamente e cuja presença era tanto do conhecimento público como das autoridades competentes. Apesar desse conhecimento, não houve, até aos inícios dos anos noventa, por parte do poder central qualquer iniciativa legislativa para regular o fluxo migratório ou a presença crescente de imigrantes ilegais em território nacional. Esta inacção não nos deve surpreender, pois, como afirmou Hammar (1992: 256), quando os fluxos não são vistos como uma ameaça basta uma “não política”. 3. A fase da Imigração Zero A entrada de Portugal na Comunidade Europeia e a adesão ao Acordo de Schengen obrigou a um novo enquadramento jurídico das migrações para Portugal. Aproveitando a ocasião, o então ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, subscreveu os seguintes objectivos para a política migratória de regulação dos fluxos: lançamento de um processo de Regulação Extraordinária, que incluía medidas de discriminação positiva em relação aos nacionais de países de língua oficial portuguesa (Decreto-Lei n.º 212/92 de 12 de Outubro) e subsequente implementação de legislação restritiva à entrada de imigrantes económicos (Decreto-Lei n.º 59/93, de 3 de Março). Como foi então afirmado pelo ministro da Administração Interna, o objectivo político era “limitar, de forma criteriosa e prudente, a fixação de novos imigrantes”. Este limite era tendencialmente de zero, como mais tarde o Ministro veio a clarificar: “não receber mais imigrantes sem integrar as comunidades que já existem no país” (citação de Dias Loureiro, no Público, 13 de Novembro de 1993). Assim, a primeira regulação explícita dos fluxos migratórios após a entrada de Portugal na Comunidade Europeia tinha como objectivo uma política de “imigração zero”, tão restritiva e selectiva nas entradas que, na prática, estancasse o fluxo migratório (excepto para efeitos de reunificação familiar) e impedisse a fixação de ilegais em território nacional. Apesar da retórica e do novo enquadramento legal, nada de substancial foi alterado na concessão de vistos de curta duração e os imigrantes, particularmente dos PALOP, continuaram a entrar e a fixar-se ilegalmente como haviam feito no decurso da década de oitenta, só que agora em maior número, como reconhecem os Relatórios de Segurança Interna deste período. Vejam-se por exemplo os artigos sobre este tema publicados no Público de 17 de Julho de 1990 e no Diário de Notícias de 15 de Outubro de 1991. Intervenção do ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, na Assembleia da República, in Diário da Assembleia da República, 27 de Março de 1992: 1367. Política de imigração: A regulação dos fluxos | 33 4. A fase dos interesses geoestratégicos e das considerações humanitárias Criou-se uma nova bolsa de ilegais e, passados quatro anos, a Assembleia da República aprovou por unanimidade um novo processo de Regularização Extraordinária, desta vez legitimado politicamente pela necessidade de legalizar os imigrantes que não tinham sido abrangidos pela anterior Regularização de 1992/93 ou que, entretanto, se tinham tornado ilegais (Lei n.º 17/96, de 24 de Maio). O governo defendeu este novo processo de regularização baseado em três pressupostos: promover a futura cooperação e amizade com os países africanos de expressão portuguesa e com o Brasil; colocar um ponto final no processo de exclusão dos imigrantes irregulares relativamente ao modelo social europeu (nomeadamente a protecção social e laboral); e garantir menores níveis de risco para os portugueses ameaçados pelo crescimento da marginalização e da exclusão provocadas pela imigração clandestina. Dada a abertura e envolvimento da sociedade civil no processo de Regularização de 1996, em que foram recebidos 35 mil processos, dos quais mais de 90% deram lugar à emissão de um título de residência, tudo indica que o número de ilegais deverá ter decrescido drasticamente, pelo menos imediatamente após a Regularização Extraordinária de 1996. Convém contudo notar que a entrada em vigor, em Março de 1995, da Convenção de Aplicação de Schengen fez cessar a exigência de consulta prévia obrigatória para a concessão de visto aos nacionais da Rússia, Ucrânia, Roménia e outros países do Leste Europeu, o que, conjugado com a liberdade de circulação no Espaço Schengen, potenciou a vinda para o nosso país de migrantes provenientes dessa região. A revisão, em 1998, da Lei de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros do Território Nacional (Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto), ao alargar o âmbito dos mecanismos de regularização de imigrantes ilegais, tornou Portugal um país mais atractivo para as redes de tráfico de mão-de-obra. Refiro-me muito especialmente ao artigo 88.º, que estabelece: “Em casos excepcionais de reconhecido interesse nacional ou por razões humanitárias, o Ministro da Administração Interna pode conceder a autorização de residência a cidadãos estrangeiros que não preencham os requisitos exigidos no presente diploma”. O que é interessante notar é que, sob o impacto conjugado da adesão de Portugal à Convenção de Schengen e da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 244/98, a imigração ilegal em Portugal começa a sofrer algumas mudan Intervenção do ministro da Administração Interna, Alberto Costa, in Diário da Assembeia da República, 29 de Março, 1996: 1685-1687. 34 | Maria Ioannis Baganha ças estruturais particularmente relevantes. Estas mudanças estão associadas à deslocação das principais zonas emissoras ou distribuidoras dos países de língua oficial portuguesa para os países do Leste europeu, região a partir da qual, desde os inícios dos anos noventa, se estruturam as principais redes de tráfico de mão-de-obra activas na União Europeia (EU). Em suma, a regulação dos fluxos nesta segunda fase tinha como objectivo não obstacularizar os interesses geoestratégicos de Portugal, o mesmo é dizer manter a liberalidade de concessão de vistos de curta duração a migrantes originários dos PALOP e do Brasil. Tinha ainda como objectivo incluir no enquadramento legal um mecanismo de regularização excepcional de imigrantes ilegais, com base em intuitos humanitários, que permitiria esvaziar eventuais bolsas de imigrantes ilegais provenientes de países lusófonos que, entretanto, se viessem a formar. Novamente o quadro regulador estava em dissonância com a realidade. Legislava-se para o tipo de fluxos que tinham entrado no país até meados dos anos 90, quando de facto Portugal, com a sua adesão ao Espaço Schengen, se tornara particularmente atractivo para fluxos de novas origens. O legislador parece não se ter apercebido de que a entrada de Portugal no Espaço Schengen abria as portas do país aos titulares de vistos de curta duração emitidos por um qualquer país do Espaço Schengen. Esta perda de controlo de um dos mais importantes mecanismos de regulação dos fluxos teve como consequência a formação de uma nova bolsa de ilegais, desta vez provenientes de países com os quais Portugal não tinha quaisquer vínculos históricos ou ligações económicas, os países do Leste Europeu. 5. A fase da supremacia do mercado Nas vésperas da promulgação do Decreto Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, estavam pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 41.401 pedidos de autorização de residência ao abrigo do referido artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 244/98, ou seja, sabia-se estarem a residir ilegalmente no país pelo menos 41 401 pessoas, das quais uma parte significativa era oriunda do Leste Europeu. Foi para promover a legalização destes imigrantes e para responder às fortes pressões dos lobies da construção civil e obras públicas e da indústria do turismo que se promulgou o Decreto-Lei n.º 4/2001 ao abrigo do qual se regularizou a permanência em território nacional de 184 000 imigrantes entre 2001 e 2003. Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 4/2001, o quadro migratório em Portugal vai ser substancialmente alterado, particularmente no que concerne a regulação dos fluxos e a integração dos imigrantes. Antes de mais, Política de imigração: A regulação dos fluxos | 35 porque, ao contrário das anteriores regularizações extraordinárias de 1992/93 e 1996, que foram amnistias gerais, isto é, destinaram‑se a legalizar todos os imigrantes entrados no país até determinada data, o Decreto-Lei n.º 4/2001 só permitiu a legalização de trabalhadores imigrantes detentores de um contrato de trabalho previamente registado no Ministério do Trabalho. Verifica-se assim uma drástica mudança na política migratória nacional, uma vez que enquanto nos anos 90 se reconhecia que a ineficácia dos mecanismos de regulação dos fluxos migratórios levava à criação de bolsas de ilegais constituídas essencialmente por imigrantes provenientes dos PALOP, cujo projecto migratório era de longo prazo e a quem portanto se tornava necessário permitir a inclusão no tecido social português para evitar maiores fracturas sociais num futuro próximo, em 2001 o que se fez foi validar a posteriori o funcionamento do mercado, reconhecendo tacitamente a total inoperância dos mecanismos de regulação existentes. Mais, valida-se a posteriori o funcionamento do mercado, parecendo o legislador tomar como garantido que as necessidades de mão-de-obra desse mesmo mercado eram conjunturais e não estruturais e que portanto a legalização não necessitava de ser vista como um primeiro passo num processo de integração, mas apenas como um recurso temporário à falta de mão-de-obra existente. Assim, concedem-se apenas autorizações de permanência válidas por um ano, renováveis até um máximo de cinco anos. Ao entrar no espaço Schengen, Portugal tinha deixado de ser atractivo essencialmente para as suas ex-colónias e tinha passado a integrar o sistema migratório europeu, em que uma das principais pressões migratórias vem do Leste Europeu. A esta nova situação, o poder político respondia com amnistias parciais, apenas destinadas a trabalhadores que pudessem provar a existência de vínculos laborais, e com a concessão de autorizações de permanência temporárias. Pareciam justas as críticas do executivo PSD/CDS ao anterior governo, quando afirmava no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro: “o fluxo de imigração ilegal não só não diminuiu como, por força desta legislação flexível, aumentou de forma acentuada, tornando-se cada vez mais visível a precariedade do acolhimento e integração destes imigrantes”. Parecia também um objectivo politicamente correcto justapor à primazia do mercado na política migratória “políticas de carácter humanista ao nível de acolhimento e de integração dos imigrantes que residem no nosso país”. Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 34/2003. 36 | Maria Ioannis Baganha Mudou-se de governo, mudou-se aparentemente de política. Desta feita, à anterior primazia do mercado, do Decreto-Lei n.º 4/2001 do governo PS, corresponderia agora uma orientação integracionista dos imigrantes a residir no país e de “combate firme à imigração ilegal”, do governo de coligação PSD/CDS. E, em nome da “integração efectiva dos imigrantes”, o novo quadro legal revoga o regime das autorizações de permanência, estabelece um limite máximo de entradas de imigrantes económicos e exige para a concessão do reagrupamento familiar “uma real ligação do requerente ao País”. Pela primeira vez definia-se qual era o volume máximo de entradas que o país pretendia receber e flexibilizavam-se os mecanismos de concessão de vistos de trabalho, para melhor atingir esse objectivo. Estas medidas de regulação dos fluxos saldaram-se por um enorme fracasso, como recentemente reconheceu o Director do SEF, Manuel Jarmela Palos, ao afirmar: “A quota era de 8500 pessoas e até agora só cento e pouco beneficiaram dela. Neste aspecto é um falhanço rotundo das políticas.” De facto, é um falhanço, porque os imigrantes continuaram a entrar preferencialmente com vistos de curta duração e a fixar‑se ilegalmente no país. Quando este quadro legislativo entrou em vigor era possível argumentar que a nova linha orientadora, reiterada no discurso político de primazia à integração dos imigrantes e de combate à imigração ilegal, justificava o pendor mais restricionista da nova legislação no tocante à regulação das entradas. Mas, pouco mais de um ano passado sobre a promulgação do Decreto-Lei n.º 34/2003, começou a tornar-se evidente que o discurso político e a prática política estavam mais uma vez em dissonância. De facto, com a publicação do Decreto Regulamentar n.º 6/2004 de 26 de Abril, o que se fez foi novamente introduzir mecanismos de regularização extraor dinários. Desta feita, e ao abrigo do Artigo 71º do referido decreto, foi aberto um período de registo, para posterior regularização, de 45 dias, para os trabalhadores imigrantes entrados até 12 de Março de 2003 que tivessem sido contribuintes, pelo menos 90 dias, para a Segurança Social e para a Administração Fiscal. Ou seja, longe de estancar a imigração ilegal e o comércio ilícito dos contratos de trabalho, o que o Decreto Regulamentar n.º 6/2004 veio fazer foi mais uma vez reconhecer a inoperância dos mecanismos de regulação dos fluxos e a primazia do mercado. Intervenção do ministro da Administração Interna, Figueiredo Lopes, in Diário da Assembleia da República, 29 de Junho de 2002: 1007-1009. Inicialmente, definiu-se um tecto máximo de 6500 entradas, subsequentemente alargado para 8500. Entrevista do director do SEF ao Público de 29 de Agosto de 2005. Política de imigração: A regulação dos fluxos | 37 Assim, ao abrigo do Acordo Luso-Brasileiro de 2003 e do artigo 71.º do Decreto Regulamentar n.º 6/2004, inscreveram-se para regularizar a sua permanência no país mais de 80 000 imigrantes em situação ilegal. Mais concretamente, a situação era a seguinte em Outubro de 2004. Inscrições para regularizar a permanência (Outubro de 2004) Acordo Luso-Brasileiro Artigo 71.o do D.R. n.o 6/2004 29.522 imigrantes 53.196 imigrantes Total 82.718 imigrantes Fonte: Documentos não publicados do SEF Destes 53 196 registos, apenas 19 676 são de imigrantes provenientes de países lusófonos, ou seja, 37%, o que significa que Portugal está cada vez mais inserido no sistema migratório europeu. A lista das principais nacionalidades dos imigrantes que se registaram ao abrigo do Art. 71º do Decreto Regulamentar n.º 6/2004 demonstra isso mesmo. Registos para Regularização de Permanência – Principais Nacionalidades Nacionalidades Registos Angola 5.672 Brasil 6.727 Cabo Verde 3.570 Bulgária 1.120 China 1.834 Guiné 1.153 Guiné-Bissau 2.585 Índia 1.589 Marrocos 2.585 Moldávia 2.380 Paquistão 1.426 Roménia 5.106 Rússia 890 S. Tomé e Príncipe 1.122 Senegal 2.756 Ucrânia 8.328 Fonte: Documentos não publicados do SEF O facto de a maioria dos imigrantes ilegais vir de países cada vez mais longínquos e sem qualquer vínculo a Portugal parece ainda não ter sido reconhecido pelas elites políticas portuguesas, que continuam a subscrever políticas de regulação dos fluxos como se a imigração fosse, como nos anos oitenta e noventa, essencialmente proveniente de países lusófonos. 38 | Maria Ioannis Baganha Em suma, esta última fase da política de regulação dos fluxos salda-se, mais uma vez, por um rotundo fracasso e pela constituição de uma nova bolsa de ilegais. 6. A falência dos mecanismos de regulação dos fluxos Como acabámos de ver, a política de regulação dos fluxos nunca atingiu os objectivos que se propôs. Sem dúvida que a melhor prova disto é o facto de pelo menos 59% da população estrangeira com um título válido de residência, até 31 de Dezembro de 2003, ter obtido o referido título através de uma das regularizações extraordinárias. Ou seja, a política de regulação dos fluxos foi, independentemente do discurso político, desde o seu início até hoje, uma política reactiva, que reconheceu sucessivamente a falência dos mecanismos de regulação que implementou e se vê, por isso mesmo, na contingência de lançar amnistias gerais ou parciais para esvaziar as bolsas de imigrantes ilegais que se vão sucessivamente formando. A pergunta que naturalmente se põe é se poderia ter sido de outro modo. Para alguns autores não podia. Há uma linha de pensamento, que se tornou dominante nos anos noventa, que defende a existência de uma crise política no controlo dos fluxos. Para estes autores, essa crise evidencia-se pela enorme discrepância entre os objectivos das políticas de regulação dos fluxos e os seus resultados. A discrepância entre objectivos e resultados é atribuída pelos proponentes desta corrente à confluência das forças de mercado com as forças dos direitos consignados no quadro jurídico das democracias liberais (Cornelius et al., 1994: 10). Esta posição foi subscrita para o caso português por João Peixoto, ao afirmar que “a intervenção do Estado sofre constrangimentos crescentes, em larga medida devido às dinâmicas do mercado” (Peixoto, 2002: 483). O resultado desses constrangimentos crescentes é um Estado relativamente fraco na regulação dos fluxos e um mercado relativamente forte na determinação desses mesmos fluxos (ibid.: 495). Esta linha de pensamento tem vários problemas. O mais relevante para a presente discussão é de natureza conceptual, uma vez que não distingue, na análise da acção estatal, a dimensão do acesso ao território da dimensão A estimativa de 59% advém dos seguintes dados: nas regularizações de 1992/3 a 2001/2003 registaram-se 257.903 imigrantes, o número de residentes legais em 2003 era de 433.886 pessoas. Sabemos ter havido alguma duplicação de registos entre as regularizações de 1992/3 e 1996, mas esse efeito é parcial ou mais provavelmente totalmente eliminado pelo facto de não termos tido em conta na nossa estimativa as concessões de autorização de residência ao abrigo do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 244/98. Política de imigração: A regulação dos fluxos | 39 da fixação no território. Ora, as burocracias, os mecanismos e as técnicas de controlo destas duas dimensões são totalmente diferentes. Na dimensão fixação no território tendo a concordar com João Peixoto em que a acção estatal se encontra coarctada pelas dinâmicas do mercado, muito particularmente pelas dinâmicas do mercado informal e pela falta de mecanismos de controlo. No que respeita à dimensão acesso ao território entendo, na linha de John Torpey (2000), que até 1995 Portugal tinha as burocracias, os mecanismos de controlo, bem como o monopólio das técnicas de remoto controlo para uma efectiva regulação dos fluxos. De facto, até à entrada em vigor da Convenção de Aplicação de Schengen, em Março de 1995, Portugal ainda não se encontrava inserido no sistema migratório europeu e era essencialmente atractivo para os imigrantes provenientes dos PALOP, pelo que nessa altura a regulação dos fluxos e o combate à imigração ilegal podiam ter sido essencialmente feitos pela política de concessão de vistos de curta duração. Lembremos que Portugal tinha até então o monopólio da sua concessão e se não foi criterioso e parcimonioso no seu uso foi porque não o quis ser. A meu ver não o quis ser, porque o discurso político dominante não era de facto o da “imigração zero” do Ministro da Administração Interna, Dias Loureiro; o discurso dominante e transversal às várias forças políticas era, como salientou recentemente Fernando Luís Machado, o “de um Portugal humanista e universalista” que toma uma tonalidade lusotropicalista e a que se junta o discurso do “Portugal país de emigração que pode e deve reagir melhor do que os outros à imigração” (Machado, 2005: 112). Com este entendimento, não admira que a entrada de alguns milhares de imigrantes provenientes dos PALOP com vistos de curta duração não fosse vista como um problema político ou social que necessitasse de mecanismos de regulação especiais. Promulgava-se legislação para regular os fluxos para a harmonizar com a Europa, não para mudar o status quo. Desde 1995, Portugal perdeu o monopólio da concessão de vistos de curta duração. Insensível a este facto e às suas implicações, o legislador legislou em 1996 e novamente em 1998, sob pressão das Associações de Imigrantes, da Igreja Católica e do Partido Socialista, para facilitar e promover a integração dos imigrantes residentes no país independentemente do seu estatuto legal, esquecendo-se aparentemente de legislar para regular os fluxos e para combater a imigração ilegal. Ver discurso do ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, à Assembleia da República, sobre política de imigração, em que toda a tónica do discurso é posta nos desequilíbrios demográficos mundiais e na harmonização com a Europa e não na realidade migratória nacional (in Diário da Assembleia da República de 27 de Março de 1992: 1364-1367). 40 | Maria Ioannis Baganha Esqueceu-se de regular os fluxos e de combater a imigração ilegal, a meu ver, porque o boom da construção civil e obras públicas que o país viveu de 1996 a 2003 e as necessidades de mão-de-obra da industria do turismo assim o exigiam. E, de facto, o mercado de trabalho absorvia, ainda que na econo mia informal e de forma precária, a esmagadora maioria dos que entravam com vistos de curta duração e posteriormente se fixavam. Em 2003, com o país em recessão económica, estabelece-se, pela primeira vez, uma quota máxima de entradas e afirma-se uma profunda determinação de combate à imigração ilegal. Parecia o início de uma política de regulação dos fluxos, mas não o foi porque os mecanismos de preenchimento da quota se mostraram totalmente inoperacionais e porque, em vez de se combater a imigração ilegal, se deu mais uma vez primazia às necessidades do mercado e desta vez também às necessidades dos cofres do Estado. 7. Para uma política de regulação dos fluxos Qualquer política de regulação dos fluxos tem que ter em conta os condicionalismos que o nosso passado histórico, os nossos interesses geoestratégicos e a nossa posição no sistema mundo nos impõem. Sem ter em conta estes condicionalismos é impossível delinear uma política coerente e eficaz. No momento presente, os principais condicionalismos a ter em conta são: 1. A perda de monopólio da concessão de vistos de curta duração, a que já me referi. Esta perda tem como principal consequência que a regulação dos fluxos não possa ser pensada essencialmente a priori, isto é, por mecanismos de triagem e de controlo na origem; tem que ser pensada e executada em conjugação com mecanismos a posteriori, isto é, por mecanismos de regulação em Portugal. 2. Não sendo politicamente aceitável evitá-la, nem tão pouco possível, dadas as garantias legais que o direito à reunificação familiar tem vindo progressivamente a ganhar, quer no enquadramento jurídico da UE, quer no enquadramento jurídico nacional, a política migratória deverá assumir que a corrente migratória dos PALOP para Portugal se manterá pelo menos nos níveis verificados na última década. Este condicionalismo implica que, ab initio, sejam pensados mecanismos promotores de integração e de futura pertença à sociedade portuguesa por parte desta população, cuja fixação vem auto-sustentar a população de ancestralidade africana a residir em território nacional. Esta corrente migratória, devido à sua especificidade (migração pós-colonial; em cadeia; baseada em redes migratórias informais; de fraquíssimas qualificações profissionais e integrada em grupos/comunidades em que uma percentagem significativa é de nacionalidade portuguesa), aumenta substancialmente os riscos de criação e desenvolvimento de uma Política de imigração: A regulação dos fluxos | 41 etno‑classe situada na base da estrutura social portuguesa, que evidencia sintomas de vir a desenvolver nas segundas e terceiras gerações culturas adversariais. 3. Continua a ser politicamente incentivada a emigração de brasileiros para Portugal. A assinatura do Acordo de Cooperação Portugal/Brasil de 2001 e o Acordo Luso-Brasileiro de 2003, apenas vêm confirmar a discriminação positiva de que este fluxo tem sido e continua a ser alvo. O enquadramento jurídico desta corrente migratória é, não apenas específico, mas, como afirmei, altamente privilegiado, o que por si mesmo é um condicionalismo inultrapassável na elaboração de uma política migratória. 4. Decorre dos instrumentos internacionais sobre refugiados e populações com necessidades de protecção temporárias, de que Portugal é subscritor, e que na sua essência já se encontram vertidos no ordenamento jurídico nacional, um quarto condicionalismo. A protecção por razões humanitárias que Portugal tem concedido é numericamente pouco significativa e dada a nossa posição geográfica e o nível de bem-estar nacional comparado com os dos nossos parceiros da UE não são de prever grandes alterações no volume deste tipo de fluxo. Acresce, contudo, que outros factores devem aqui ser tidos em consideração, como, por exemplo, o facto de a Espanha estar a ser procurada por imigrantes marroquinos, magrebinos e de outras procedências em África. O facto de a costa sul de Portugal ser muito mais inacessível que a costa espanhola, tanto em termos de distância como em termos das características de navegação, tem provavelmente evitado que esses imigrantes tentem a entrada no nosso país. Contudo, a crescente dificuldade de entrar e permanecer ilegalmente em Espanha criará, com certeza, incentivos quer ao aparecimento de tentativas isoladas de travessia quer ao desenvolvimento de um mercado de tráfico de migrantes, mercado esse que já existe em Marrocos. Embora se possa argumentar que o nosso país serviria apenas de ponto de passagem para a Espanha e, portanto, que estes contingentes não tentariam a sua fixação em território nacional, convém considerar a hipótese de, ao abrigo das cláusulas existentes no ordenamento jurídico português de protecção humanitária, uma parte deste fluxo vir a permanecer em Portugal. De facto, a sua não consideração pode criar o risco de aparecimento de mais um factor de fricção nas relações triangulares: Portugal, Espanha e Marrocos. 5. O quinto e último condicionalismo decorre do actual contexto migratório. É imperativo para um Estado democrático garantir de direito e de facto os direitos económicos e sociais dos estrangeiros que residem e trabalham no país, o mesmo é dizer ser capaz de desmantelar as redes de tráfico e de extorsão que se encontram a operar no território nacional, bem 42 | Maria Ioannis Baganha como regular o mercado de trabalho, particularmente no que concerne à formalidade das relações laborais. Ou seja, é necessário devolver ao imigrante os direitos económicos e sociais de cidadania que a Constituição portuguesa lhe confere para que possa livremente vender a sua força de trabalho no mercado formal que melhor a remunera, permitindo-lhe ser o principal actor e decisor do seu próprio projecto migratório. Conhecemos razoavelmente os condicionalismos que terão de ser tidos em conta na elaboração de uma política migratória de regulação dos fluxos, contudo o mesmo não se verifica com os objectivos a que essa política deverá obedecer. E isto porque quer a definição dos objectivos a atingir, quer a sua hierarquização, são sobretudo função da percepção e vontade dos decisores políticos. Sobre este tema, e no actual contexto, existem duas perguntas extremas que só são passíveis de resposta política e que podem ser formuladas da seguinte forma: – pretende o governo adoptar uma política migratória pró-activa, que tenha como objectivo aumentar significativamente o capital humano existente, alterando com a sua intervenção a fraquíssima estrutura de recursos humanos que tipifica a sociedade portuguesa? – ou pretende o governo adoptar uma política migratória que tenha como primordial objectivo diminuir significativamente os custos laborais e satisfazer a pressão de sectores económicos pouco competitivos, maximizando os lucros económicos de curto prazo e diferindo os custos sociais de médio e longo prazo deste tipo de política? Como os objectivos que subjazem à formulação das perguntas que acabo de enunciar não são mutuamente exclusivos, é de esperar que a definição política de objectivos que venha a ser adoptada tente simultaneamente promover o capital humano existente e satisfazer as necessidades conjunturais do mercado de trabalho. É efectivamente a prossecução simultânea destes dois objectivos que, no presente momento, deveria nortear a definição da política migratória de regulação dos fluxos. Primeiro porque, a médio prazo, será esta política que maximizará os benefícios económicos dos vários actores e agentes directa e indirectamente envolvidos; segundo porque a prossecução, em simultâneo, destes objectivos permitirá gerar excedentes significativos para os cofres do Estado, parte dos quais poderão e deverão ser usados para minimizar os custos sociais de médio e longo prazo. É no entanto neces- Política de imigração: A regulação dos fluxos | 43 sário enfatizar que os benefícios decorrentes da adopção dos objectivos enunciados são proporcionais ao grau de formalidade que o governo for capaz de impor às relações laborais dos imigrantes no mercado de trabalho nacional. Ou seja, quanto maior for a incorporação dos imigrantes na economia formal, tanto maiores serão os benefícios decorrentes da sua presença em território nacional e tanto menores serão as probabilidades de eles serem explorados. A definição de uma política migratória que privilegie uma componente pró‑activa significativa tem, contudo, que basear-se necessariamente em informação pertinente e rigorosa, que fundamente a decisão política e minimize a respectiva margem de erro, nomeadamente na definição do perfil do/da imigrante cuja vinda se quer promover e do volume do fluxo migratório que se permitirá entrar. Ou seja, requer liderança política, quer para garantir a coordenação e articulação eficaz entre os vários agentes institucionais que necessariamente terão de estar envolvidos na sua implementação, quer para combater o mercado de trabalho informal e o funcionamento das redes de tráfico e de colocação de mão-de-obra. Referências Bibliográficas Borjas, George (1996), “The New Economics of Immigration”, The Atlantic Monthly, Novembro, 72-80. Cornelius, Wayne; Martin, Philip; Hollifield, James (orgs.) (1994), Controlling Immigration. A Global Perspective. Stanford: Stanford University Press. Director do SEF (2005), Entrevista do Director do SEF, Manuel Jarmela Palos, ao Público de 29 de Agosto. Hammar, Thomas (1992), “Laws and Policies Regulating Population Movements: A European Perspective”, in Mary Kritz; Lin Lim; Hanic Zlotnik (orgs.), International Migration Systems. A Global Approach. Oxford: Clarendon Press, 245-262 Ministro da Administração Interna (1992), Intervenção do Ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, na Assembleia da República, in Diário da Assembleia da República de 27 de Março, 1364-1367 Ministro da Administração Interna (1996), Intervenção do Ministro da Administração Interna, Alberto Costa, na Assembleia da República, in Diário da Assembleia da República de 29 de Março, 1685-1687. Ministro da Administração Interna (2002), Intervenção do Ministro da Administração Interna, Figueiredo Lopes, na Assembleia da República, in Diário da Assembleia da República de 29 de Junho, 1007-1009. Machado, Fernando Luís (2005), “Des étrangers moins étrangers que d’autres? La régulation politico-institutionnelle de l’immigration au Portugal”, in Évelyne Ritaine 44 | Maria Ioannis Baganha (org.), L’Europe du Sud face à l’immigration. Politique de l’Étranger. Paris: Presses Universitaires de France, 109-146. Nunes, Luis Pedro (1990), “Radiografia do estrangeiro fixado em Portugal”, Público, 17 de Julho. Peixoto, João (2002), “Strong Market, Weak State: The Case of Recent Foreign Immigration in Portugal”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(3), 483-497. Pires, Rui Pena et al. (1984), Os retornados. Um estudo sociográfico. Lisboa: IED. S/A (1991), “CGTP lança alerta sobre situação de trabalhadores clandestinos”, Diário de Notícias, 15 de Outubro. Torpey, John (2000), “States and the Regulation of Migration in the Twentieth‑Century North Atlantic World”, in Peter Andreas; Timothy Snyder (orgs.), The Wall around the West. State Borders and Immigration Controls in North America and Europe. New York: Rowman & Littlefield Publs., Inc., 31-54. Zolberg, Aristide (1989), “The New Waves: Migration Theory for a Changing World”, International Migration Review, XXIII(3), 403-429. Legislação citada Ano 1975 1992 1993 1996 1998 2001 2003 2004 Diploma Dec.-Lei n.o 308-A/75, de 24 de Julho Dec.-Lei n.o 212/92, de 12 de Outubro Dec.-Lei n.o 59/93, de 3 de Março Lei n.o 17/96, de 24 de Maio Dec.-Lei n.o 244/98, de 8 de Agosto Dec.-Lei n.o 4/2001, de 10 de Janeiro Dec.-Lei n.o 34/2003, de 25 de Fevereiro Decreto Regulamentar n.o 6/2004, de 26 de Abril Tema Nacionalidade Regularização Extraordinária de Estrangeiros Entrada, Permanência e Expulsão Regularização Extraordinária de Estrangeiros Entrada, Permanência e Expulsão Entrada, Permanência e Expulsão Entrada, Permanência e Expulsão Regulamenta o Dec.-Lei n.o 34/2003 Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 45-66 PAULO HENRIQUE MARTINS A sociologia de Marcel Mauss: Dádiva, simbolismo e associação Marcel Mauss é mais conhecido como antropólogo e etnólogo. Muitos ficam surpreendidos ao saber que ele também tem uma relevante contribuição sociológica, que é comprovada tanto por ter sido um dos principais animadores, juntamente com Durkheim, da revista Année Sociologique, como por ter sido o principal sistematizador da teoria da dádiva, que vem sendo resgatada como um modelo interpretativo de grande actualidade para se pensar os fundamentos da solidariedade e da aliança nas sociedades contemporâneas. Um das contribuições centrais de Mauss para a sociologia foi demonstrar que o valor das coisas não pode ser superior ao valor da relação e que o simbolismo é fundamental para a vida social. Ele chegou a esta compreensão a partir da constatação de que as modalidades de trocas nas sociedades arcaicas não são apenas coisas do passado, tendo importância fundamental para se compreender a sociedade moderna. No Brasil, Marcel Mauss é, sobretudo, conhecido como antropólogo e etnólogo. Muitos ficam surpresos ao saber que ele também tem uma relevante contribuição sociológica, que pode ser sintetizada em dois tópicos: Mauss foi um dos principais animadores, juntamente com Durkheim, da Revista Année Sociologique; em segundo lugar, ele aparece como o principal sistematizador da teoria da dádiva, que vem sendo resgatada como um modelo interpretativo de grande atualidade para se pensar os fundamentos da solidariedade e da aliança nas sociedades contemporâneas. Esta é a posição defendida, entre outros autores, por Alain Caillé, fundador e editor da Revue du M.A.U.S.S. (Movimento Anti‑Utilitarista nas Ciências Sociais) e um dos principais difusores do pensamento maussiano na atualidade. A teoria de Mauss, diz, “fornece as linhas mestras não apenas de um paradigma sociológico entre outros, mas do único paradigma propriamente sociológico que se possa conceber e defender” (Caillé, 1998a: 11). Ele sustenta esta afirmativa baseado na riqueza de possibilidades teóricas presentes na obra de Mauss em particular no seu Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. Todavia, mesmo em outros trabalhos classificados, em geral, como de feição etnológica, vemos que a preocupação 46 | Paulo Henrique Martins de Mauss com o fato social está sempre presente. É o caso, por exemplo, do trabalho Esboço de uma teoria geral da magia que escreveu com Henri Hubert. Na primeira frase da conclusão deste texto Mauss afirma que “a magia é um fenômeno social”. Resta-nos mostrar, complementa, “seu lugar entre outros fenômenos religiosos...” (Mauss, 2005: 174). A sociologia de Marcel Mauss Um das contribuições centrais de Mauss para a sociologia foi demonstrar que o valor das coisas não pode ser superior ao valor da relação e que o simbolismo é fundamental para a vida social. Ele chegou a esta compreensão a partir da análise das modalidades de trocas nas sociedades arcaicas e da verificação do fato de que essas modalidades não são apenas coisas do passado. Isto é, Mauss entendeu que a lógica mercantil moderna não substitui as antigas formas de constituição dos vínculos e alianças entre os seres humanos e constatou que tais formas continuam presentes nas sociedades modernas. Semelhantes modalidades de trocas aparecem, para ele, como um fato social total que se revela a partir de duas compreensões do total: totalidade no sentido de que a sociedade inclui todos os fenômenos humanos de natureza econômica, cultural, política, religiosa, entre outros, sem haver nenhuma hierarquia prévia que justifique uma economia natural que precederia os demais fenômenos sociais. Totalidade, também, no sentido de que a natureza desses bens produzidos pelos membros das comunidades não é apenas material, mas também e sobretudo simbólica. Para Mauss tudo é relevante no surgimento de uma obrigação moral coletiva envolvendo o conjunto de membros da sociedade, obrigação que pressupõe aspectos tão diversos como a troca de mercadorias, de um lado, ou um mero sorriso, de outro. Ao ressaltar a complexidade das motivações e modalidades de interações que envolvem – por diversos caminhos – os indivíduos e os grupos, Mauss teria rompido com a postura defensiva e ambígua que vive tradicionalmente a sociologia com relação à idéia do homo economicus. Ou seja, ao elaborar os traços gerais da teoria da dádiva (a tríplice obrigação do dar, receber e retribuir), que é o ponto central de sua contribuição teórica, Mauss avançou, lembra Caillé, as bases de um pensamento sociológico que deixa de se constituir numa crítica anti‑utilitarista difusa e defensiva, presente em autores como Weber, Durkheim e Parsons (Caillé, 2002), para aparecer como uma crítica ativa e orientada para revelar a complexidade dos sistemas de troca e de constituição de alianças. Esta chamada inicial sobre o caráter sociológico da obra de Mauss não visa alimentar um debate intelectocêntrico no qual a sociologia buscaria desvalorizar a contribuição de Mauss para a antropologia. Pelo contrário, A sociologia de Marcel Mauss | 47 cremos que a contribuição de Mauss para a fundação da antropologia estrutural é inegável, como é igualmente óbvio que Lévi-Strauss, certamente o mais famoso discípulo de Mauss, soube explorar com muita originalidade a importância das trocas simbólicas na organização da cultura. Mas é decisivo se diferenciar o sentido que ganha o termo antropologia a partir de Lévi-Strauss e aquele dominante na época de Mauss. Aqui, a palavra antropologia tinha um significado mais amplo e englobante, sendo definida como a Ciência do Homem. Nesta perspectiva, Mauss – ao esclarecer o lugar da sociologia na antropologia no artigo Relações reais e práticas entre a psicolo gia e a sociologia, apresentado em 1924, à mesma época do célebre Ensaio sobre a dádiva – afirma que “a sociologia é, como a psicologia humana, uma parte daquela parte da biologia que é a antropologia, isto é, o conjunto das ciências que consideram o homem como ser vivo, consciente e sociável”. E complementa: “pretendo ser apenas historiador ou antropólogo e, eventualmente, psicólogo, para dizer mais precisamente o que se deve entender pelo seguinte: que a sociologia é exclusivamente antropológica” (Mauss, 2003: 319). Ou seja, não há em Mauss, nesse período, preocupação com a disputa de poderes que vai ocorrer no interior do campo científico com o aprofundamento das divisões disciplinares ao longo do desenvolvimento das ciências sociais, no século XX (Levine, 1997). Ao contrário, a preocupação com a sociologia em Mauss aparece como necessidade de destacar, dentro da disciplina mãe, a antropologia, um espaço particular para os estudos sobre a sociedade moderna, que ele propõe seja a sociologia. Por conseguinte, longe do interesse de se criar uma celeuma superficial sobre a pretensa “filiação disciplinar verdadeira” do autor, cremos que o resgate de Mauss sociólogo não apenas faz juz à sua contribuição pessoal para os estudos sociológicos contemporâneos, como traz luz para se compreender a importância e a atualidade da escola francesa de sociologia. Por um lado, a relação de Mauss com a sociologia é orgânica. Não apenas ele acompanhou de perto e sofreu influência da produção intelectual de Durkheim, de quem era sobrinho e auxiliar, como ambos pensaram e escreveram em conjunto sobre assuntos sociológicos os mais diversos. Do mesmo modo, com o falecimento do tio, em 1917, Mauss assumiu diretamente a revista Année Sociologique, tomando para si, igualmente, a tarefa de resgatar e divulgar as contribuições dos autores desaparecidos na Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, a sociologia de Mauss se abre em três frentes: a) no resgate das idéias associacionistas que foram muito importantes nos inícios do século XX e que passam novamente a ser fundamentais para se pensar a sociedade civil complexa da contemporaneidade (Chanial, 2001); b) na crítica ao utilitarismo, esta filosofia moral que tem como um dos formula- 48 | Paulo Henrique Martins dores Jeremy Bentham e que propõe um individualismo fundado no cálculo interesseiro dos prazeres e dos sofrimentos (Nodier, 1995); c) na crítica ao estruturalismo, o que coloca a teoria da dádiva (que será melhor discutida adiante) como um argumento importante para um pensamento pós-estruturalista que resgate o lugar da experiência e da incerteza estrutural do fato social. Nesse sentido, Caillé esclarece que, ao reconhecermos que o dom possui regras próprias, temos que reconhecer que ele é estruturado. “Mas enquanto fato social total por excelência, mais precisamente enquanto operador de totalizações sociais ele é irredutível às funções e estruturas instituídas na medida em que é ele que desenha o meio no qual funções e estruturas se desenvolvem e ganham sentido” (Caillé, 1998b: 126). Na perspectiva de uma sociologia prática, foi ele, esclarecem-nos Caillé e Graeber (2002: 21-22), quem se destacou efetivamente como um socialista revolucionário importante e foi essa experiência que o levou a entender o valor da associação para a sociedade moderna. Ainda estudante, colaborou regularmente com a imprensa de esquerda e durante grande parte de sua vida participou ativamente do movimento cooperativista. O socialismo de Mauss não era marxista, inscrevendo-se preferencialmente na linhagem de Robert Owen ou Pierre-Joseph Proudhon. Nesta perspectiva, rejeitava a crença comum aos comunistas e social-democratas de que a sociedade deve ser transformada, primeiramente, pela ação estatal. Em sua opinião, o papel do Estado consistiria preferencialmente em fornecer o enquadramento legal a um socialismo que deveria emergir da base através da criação de instituições alternativas. Podemos dizer que o debate atual sobre redes sociais como instituições alternativas pode ser visto como um desdobramento das idéias associacionistas (Martins, 2004a). Apesar da originalidade de seu pensamento, tendo a concluir que a elaboração da teoria da dádiva não surgiu apenas de um momento de genialidade de Mauss, mas tem a ver com os desdobramentos do pensamento durkheimiano da última fase, mais precisamente com os últimos esforços de Durkheim de incluir o tema do indivíduo na sua teoria das representações coletivas. Este esforço é demonstrado nas séries de lições sobre o pragmatismo que Durkheim ministrou na Sorbonne, entre dezembro de 1913 e maio de 1914 (Durkheim, 2005), poucos anos antes de sua morte, ocorrida em 1917. Mauss, que teve papel fundamental no resgate do curso mediante apelo feito aos alunos de Durkheim para que lhe passassem as notas respectivas, classificou este momento como a “coroação da obra filosófica de Durkheim”. Penso que neste curso está, de fato, a chave que explica a sistematização da dádiva por Mauss. Pois se, por um lado, esta é concebida como um sistema geral de obrigações coletivas (reforçando a A sociologia de Marcel Mauss | 49 tese de Durkheim a respeito da sociedade como fato moral), por outro Mauss faz questão de adentrar o universo da experiência direta dos membros da sociedade, o que lhe permite introduzir um elemento de incerteza estrutural na regra tripartida do dar‑receber‑retribuir, escapando da hiper-presença de uma obrigação coletiva que deveria se impor tiranicamente sobre a liberdade individual. A escola francesa, ao introduzir pioneiramente uma crítica consistente ao pensamento utilitarista e mercantilista pelas mãos de Durkheim e Mauss, há mais de um século, constitui, certamente, uma das principais fontes de inspiração teórica para se pensar, hoje, o surgimento de uma sociedade civil mundial, regionalmente diferenciada, que se expande fora dos domínios próprios do Estado e do mercado e valoriza novas perspectivas para compreensão da sociedade a partir dos movimentos da base. No meu entender, a teoria da dádiva tem papel central nesta crítica na medida em que conecta duas perspectivas aparentemente inconciliáveis: de um lado, a idéia durkheimiana da existência de crenças coletivas que aparecem como uma obrigação moral supra-individual, o que leva a se valorizar o todo mais que as partes; esta idéia está presente em Mauss no momento em que ele sustenta a idéia de sociedade como um fato social total e a dádiva como uma regra moral que se impõe à coletividade; de outro lado, ele escapa à tirania deste pensamento de totalidade ao observar que a experiência direta e inter‑individual reorganiza o sentido e a direção do bem circulante, refazendo as estruturas e funções estabelecidas. Nesse caso, temos que admitir que as partes, isto é, os membros da sociedade possuem características peculiares que escapam à obrigação moral coletiva. Ao definir a sociedade como um “fato social total”, Mauss compreendeu que a vida social é essencialmente um sistema de prestações e contra‑prestações que obriga a todos os membros da comunidade. Mas entendeu, também, que essa obrigação não é absoluta na medida em que, na experiência concreta das práticas sociais, os membros da coletividade têm uma certa liberdade para entrar ou sair do sistema de obrigações – mesmo que isto possa significar a passagem da paz para a guerra. Uma leitura atenta do Ensaio sobre a dádiva demonstra isso: que há uma incerteza estrutural no sistema de circulação de dádivas entre os homens, o que os leva a passarem permanentemente da paz para a guerra e vice-versa. A respeito da virulenta crítica de Durkheim sobre os perigos da hegemonia de uma lógica mercantilista e utilitarista liberada de mecanismos de regulamentação é importante a leitura do segundo prefácio deste autor no seu Da divisão do trabalho social (Durkheim, 1999). 50 | Paulo Henrique Martins Mauss se situa, também, entre os autores que contribuíram decisivamente, no século XX, para valorizar a leitura sociológica da associação, ao avançar a perspectiva de um espaço de interação baseado no risco e na liberdade dos indivíduos se relacionarem, mesmo sabendo-se que essa relações não acontecem em total liberdade, mas dentro de certos parâmetros morais definidos coletivamente. Esta valorização sociológica do princípio da associação é um requisito central para se pensar as bases de um novo paradigma nas ciências sociais que supere o que Godbout e Caillé definem como os dois paradigmas que foram centrais na modernidade ocidental: o do interesse que funda a lógica utilitarista mercantil e o da obrigação que inspirou a lógica burocrático-autoritária no século XX. A leitura associacionista sugerida pela teoria da dádiva é decisiva para situar a sociedade civil não como um “terceiro setor” complementar aos dois outros setores – o Estado e o mercado – mas como uma experiência histórica particular, regida por mecanismos de organização e de regulação peculiares (que apenas se tornam evidentes quando são realçados os processos de pertencimento e de reconhecimento interpessoais presentes nas instituições primárias da vida social). Na verdade, caso fosse necessário reduzir a presente discussão a uma classificação por “setores”, os teóricos anti‑utilitaristas da escola francesa sustentariam a hipótese de que o primeiro setor foi constituído, desde sempre, pelas práticas associacionistas e comunitaristas inspiradas na dádiva (Mauss, 2003), sendo os outros dois setores – o Estado e o mercado –, vistos como secundários do ponto de vista histórico e social. Alguns autores (Chanial, 2001; Laville, 2001) vêm buscando demonstrar que as experiências de democracia e de organização coletiva do trabalho, como as cooperativas e as associações de ajuda mútua, teriam surgido inicialmente graças à dinâmica comunitarista e associacionista local, entre os séculos XVII e XVIII. Eles propõem que essas experiências básicas para o entendimento da democracia primária teriam sido sufocadas pelos dois grandes paradigmas modernos, o da obrigação (Estado) e o do interesse (mercado). Nesta perspectiva, a crítica maussiana da modernidade demonstra proximidades importantes com a leitura anti‑utilitarista de Boaventura de Sousa Santos quando este autor afirma que o princípio da comunidade foi, nos últimos duzentos anos, o mais negligenciado. E tanto assim foi que acabou por ser quase totalmente absorvido pelos princípios do Estado e do mercado. Mas também, por isso, é o princípio menos obstruído por determinações e, portanto, o mais bem colocado para instaurar uma dialética positiva com o pilar da emancipação. (Santos, 2000: 75) A sociologia de Marcel Mauss | 51 O uso do termo “comunidade” neste artigo deve ser visto, logo, não no sentido fundamentalista da idéia de comunidade que tanto assusta os teóricos da diferença, como lembra François Dubet (2003: 69), mas como expressão desta lógica associacionista que foi reprimida pela economia de mercado e pelo Estado moderno, ao longo dos últimos dois séculos, mas que sobreviveu nos interstícios da vida local. Na perspectiva da escola francesa, esta idéia de “bem comum” não constitui necessariamente a defesa de identidades coletivas contra os direitos à liberdade individual, mas o convite para se entender que a vida associativa pode, inclusive, constituir um elemento diferencial importante para se pensar uma moral do indivíduo que seja compatível com a sobrevivência do coletivo democrático, como o avançou precocemente Durkheim com sua idéia de individualismo moral (Durkheim, 1999). Ressalte-se que tal preocupação teórica de reforçar a presença de uma esfera própria das práticas associativas e democráticas – que, aqui, para facilitar a discussão denominamos de comunidade –, era também partilhada por alguns pragmatistas norte-americanos importantes como John Dewey (2000: 48). Para este autor, pensar a associação como a condição mesma da associação humana significava pensar a comunidade como individuação e como modalidade de crítica ao Estado e ao mercado em favor da democracia. A crítica anti‑utilitarista inspirada na tradição de Mauss visa denunciar o equívoco de toda tentativa de limitar as motivações humanas apenas à moral do interesse e do egoísmo e de privilegiar a economia de mercado como instância privilegiada na produção do bem-estar social. Mais recen Não há, aqui, interesse de fazer um defesa do comunitarismo contra o liberalismo, como vem sendo proposto por alguns comunitaristas norte-americanos contemporâneos (Taylor, 1994; Sandel, 1996), mas de realçar a legitimidade histórica da perspectiva da emancipação no atual contexto de crise de paradigmas, como o fazem, por exemplo, os maussianos e Boaventura Santos. Existem afinidades teóricas importantes entre o pensamento anti-utilitarista de John Dewey e aquele de Marcel Mauss, embora pertençam a escolas diferentes. Mauss entendia ser impossível se pensar o socialismo sem o mercado. Em parte, a elaboração da teoria da dádiva foi uma reação à tentativa inútil dos bolcheviques de eliminar o livre comércio e, por conseguinte, a importância de se pensar o mercado a partir de um olhar histórico e etnográfico, lembram Caillé e Graeber (2002: 22); por sua vez, Dewey, entendia que o critério moral da vida em associação é o crescimento da individualidade e por isso há uma relação direta do comunitarismo deweiano com a democracia, o que leva Chanial a sustentar que “o pluralismo e o associacionismo de Dewey pressupõem uma relação crítica ao Estado o que o conduz a defender um republicanismo e um socialismo originais” (Chanial, 2001: 243). Enfim, ambos os autores pensam que a defesa do associacionismo passa necessariamente por uma redefinição necessária de instituições centrais da modernidade – um, o mercado, outro, o Estado – com a vida associativa. Não se trata nem de submeter a vida associativa ao Estado e ao mercado – como propõem os neoliberais – nem de submeter essas instituições à vida associativa, mas de redefinir seus lugares e a qualidade das interações, sabendo-se que se trata de instituições com pressupostos sociológicos e antropológicos diferenciados, como tentaremos demonstrar com apoio na teoria da dádiva. 52 | Paulo Henrique Martins temente esta produção intelectual vem adquirindo um caráter abertamente propositivo, revelado pelo resgate do associacionismo como alternativa para a crise dos grandes paradigmas da modernidade. Adiante iremos aprofundar este esforço de vincular a relação entre a teoria da dádiva e o movimento associacionista por dois caminhos. Primeiramente, demonstra que a teoria da dádiva representa um argumento sociológico poderoso para se fazer a crítica dos dois grandes paradigmas da modernidade, o Estado e o mercado. Ao servir como recurso relevante para essa crítica, a dádiva termina aparecendo como fonte de inspiração para um novo paradigma que valorize a sociedade como fato total. O segundo caminho é justamente o de tentar expor para o público as características gerais do M.A.U.S.S. (Movimento Anti‑Utilitarista nas Ciências Sociais), destacando como este movimento atualiza a contribuição sociológica da dádiva. A dádiva como uma teoria universalizante A dádiva de que fala Mauss não se confunde com a tradução que o senso comum faz do termo. No Brasil, por exemplo, ela é, sobretudo, identificada com as idéias católicas de caridade e de benção. Embora caridade e benção correspondam a certo tipo de dádiva, é importante desde logo assinalar que para Mauss o termo tem uma significação mais ampla. Para ele, a dádiva é uma lógica organizativa do social que tem caráter universalizante e que não pode ser reduzida a aspectos particulares como aqueles religiosos ou econômicos. As traduções feitas por diferentes culturas produzem, de fato, desvios semânticos que levam, por exemplo, pensando o caso brasileiro, a uma redução do dom a um fenômeno religioso. Isso dificulta a compreensão da sociologia de Mauss, mas esta dificuldade não pode ser vista como uma restrição linguística insuperável. A teoria da dádiva foi sistematizada por Mauss num ensaio clássico intitulado Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas, publicado inicialmente no ano de 1924, e que se encontra reproduzido numa coletânea organizada por Georges Gurvitch intitulada Sociologia e antropologia (Mauss, 2003). Neste ensaio, apoiando-se nas colaborações de etnólogos e antropólogos, ele procurou demonstrar que os fenômenos do Estado A respeito da relação entre dom e associação, existem alguns textos maussianos que são referências fundamentais, a saber: Godbout e Caillé, 1998; Caillé, 2000; Chanial, 2001; e um número especial da Revue du MAUSS intitulado “Une seule solution, l’association? Socio‑économie du fait associatif” (nº 11, 1998). Neste artigo, como o leitor perceberá, recorreremos principalmente às reflexões de Alain Caillé, um dos fundadores do movimento e secretário-geral da Revue du MAUSS, para tentarmos analisar os desdobramentos do paradigma da dádiva para o pensamento de “fronteiras”, por razões que ficarão claras ao longo da exposição. A sociologia de Marcel Mauss | 53 e do mercado não são universais. Não há, segundo ele, evidências da presença dos mesmos nas sociedades tradicionais, mas, apenas, em sociedades mais complexas como as modernas. Porém, em todas as sociedades já existentes na história humana – independentemente de nos referirmos àquelas tradicionais ou modernas –, é possível observar, diz ele, a presença constante de um sistema de reciprocidades de caráter interpessoal. Este sistema, que se expande ou se retrai a partir de uma tríplice obrigação coletiva de doação, de recebimento e devolução de bens simbólicos e materiais, é conhecido como dom ou dádiva (Mauss, 2003). A obrigação do dom aparece necessariamente como um fenômeno total, atravessando a totalidade da vida social na medida em que tudo aquilo que participa da vida humana, sejam bens materiais ou simples gestos, tem relevância para a produção da sociedade, lembra Bruno Karsenti ao explicar o alcance conceptual da dádiva (Karsenti,1994). Ao definir a dádiva a partir da universalidade de uma tripla obrigação de dar, receber e retribuir, que seria anterior aos interesses contratuais e às obrigações legais, ele afirma uma hipótese muito ambiciosa, que permite colocar sob novas perspectivas o debate teórico moderno e as implicações disciplinares em torno do social. Semelhante hipótese é coerente com o próprio programa da escola sociológica francesa, sublinha Caillé, pois “trata-se de nada menos do que pôr termo à hegemonia do economicismo sobre nossos espíritos e retraduzir muitas das questões oriundas da tradição filosófica num questionamento passível de um esclarecimento empírico pertinente” (Caillé, 1998b: 13). A compreensão da dádiva como o sistema de trocas básico da vida social permite romper com o modelo dicotômico típico da modernidade, pelo qual a sociedade ou seria fruto de uma ação planificadora do Estado ou do movimento fluente do mercado. O entendimento do sentido sociológico da dádiva quebra esta dicotomia para introduzir a idéia da ação social como «inter-ação», como movimento circular acionado pela força do bem (simbólico ou material) dado, recebido e retribuído, o qual interfere diretamente tanto na distribuição dos lugares dos membros do grupo social como nas modalidades de reconhecimento, inclusão e prestígio. Por ser a lógica arcaica constitutiva do vínculo social, a dádiva integra potencialmente em si as possibilidades do mercado (retenção do bem doado) e do Estado (possibilidades de redistribuição das riquezas coletivas). É importante, porém, registrar que o reconhecimento da dádiva como um sistema de obrigações paradoxais, considerado como básico para a criação do vínculo social, não significa que estamos automaticamente vinculando o dom e a democracia. Existem dádivas e dádivas. Para sermos rigorosos, 54 | Paulo Henrique Martins do ponto de vista histórico percebemos que os sistemas de dádivas predominantes (dádiva agonística, dádiva sacrificial, dádiva amical, dádiva caritativa, dádiva clientelista) não fundam experiências democráticas mas hierárquicas e verticalizadas. Por outro lado, se o sistema da dádiva não tem, tradicionalmente, compromisso com a invenção da democracia (e com os valores da liberdade individual e da igualdade), ele está, em geral, associado à perspectiva da justiça social (que termina subtendendo ideais de igualdade coletiva). Se tal afirmação sobre a dádiva é válida para explicar o funcionamento das sociedades tradicionais, ela continua sendo válida para pensarmos a organização das instituições modernas como a família e a escola (que têm papeis centrais na socialização do indivíduo moderno mas não são espaços naturalmente democráticos). Na verdade, a associação da democracia com a dádiva apenas surge com valor histórico evidente, no meu entender, com o movimento feminista, que contribuiu para materializar a dádiva-partilha, sistema de troca horizontal entre indivíduos situados em mesmo plano de poder. Neste sentido, pode-se falar de uma teoria democratizante da dádiva própria da modernidade. No sistema da dádiva nem a obrigação sugerida pela idéia de totalidade pré-existe aos indivíduos, nem aquela de livre interesse subjacente à idéia de indivíduo pré-existe à de sociedade. Na perspectiva da dádiva, sociedade e indivíduo são modos de manifestação do fato total, são possibilidades fenomenais que se engendram incessantemente por meio de um continuum de interrelações motivadas pela circulação do “espírito da coisa dada”, essas interdependências desdobrando-se entre os planos micro, macro e meso‑ -social. Diferentemente do sistema bipartido do mercado, que funciona pela equivalência (dar-pagar), na dádiva (dar-receber-retribuir), o bem devolvido nunca tem valor igual àquele do bem inicialmente recebido. Aqui, o valor importante não é o quantitativo mas o qualitativo, e o que funda a devolução não é a equivalência mas a assimetria. Um presente ou uma hospitalidade nunca se paga em moeda de mesmo valor, tampouco é retornada necessariamente no mesmo instante da ação (senão corre-se o risco de a ação ser Esta afirmação é de nossa responsabilidade pois ela não é consensual entre os maussianos. Existe uma corrente que tende a identificar a dádiva com a democracia (primária), outra, diferentemente, entende existir a possibilidade teórica (e sobretudo histórica, a nosso ver) de que a dádiva não se reduza à democracia. De certo modo, esta confusão foi estabelecida pelos principais teóricos atuais da dádiva, Alain Caillé e Jacques Godbout, ao enfatizarem a dádiva‑partilha, dádiva entre iguais (esta, sim, abertamente próxima do espírito democrático), negligenciando outras formas de dádiva, como aquelas horizontais, como a dádiva patrimonial, que nada tem a ver com o espírito democrático. Para os formuladores de um pensamento de “fronteira” esta discussão é fundamental visto a presença forte de sistemas de dádiva não democráticos nas sociedades do Sul e que são fundamentais para a existência dos sistemas familiares e políticos de bases patriarcais ou paternalistas. A sociologia de Marcel Mauss | 55 interpretada como uma equivalência que levaria à ruptura da interação). Mas esse presente ou hospitalidade pode ser retribuído num outro momento mediante uma gentileza ou favor, fazendo circular a roda das práticas sociais e das experiências de vida entre os envolvidos. Mauss e a sociedade como fato simbólico Diferentemente de Durkheim, que ficou prisioneiro de uma preocupação cientificista de objetivação da realidade social, Mauss compreendeu que a sociedade é primeiramente instituída por uma dimensão simbólica, e que existe uma estreita ligação entre o simbolismo e a obrigação de dar, receber e retribuir em todas as sociedades, independentemente de as mesmas serem modernas ou tradicionais. Nele, esclarece Camile Tarot, “o simbolismo não constitui um território balizado mas uma terra de exploração; trata-se de um continente a descobrir e a rememorar, algumas vezes uma terra a exumar, como o dom” (Tarot, 1998: 25). Por conseguinte, um dos seus principais méritos foi superar as dicotomias insustentáveis da teoria de Durkheim – aquelas entre o sagrado e o profano, entre o indivíduo e a sociedade, entre o normal e o patológico –, para propor a hipótese de que a sociedade é um fenômeno total, embora esteja aberta de modo ambivalente às suas diferenças individuais. A sociologia de Mauss, ao dar ênfase à idéia de uma totalidade que não é mera representação objetivista (como se verifica em Durkheim) mas simbólica, desfaz esses dogmas dualistas e separatistas. Sendo a sociedade um todo integrado por significações circulantes (gestos, risos, palavras, presentes, sacrifícios, etc.), a análise sociológica da realidade social deve não apenas considerar os múltiplos signos/símbolos que articulam os atores e as instituições sociais em uma única e mesma rede, mas, para isso, a análise crítica deve estar aberta a uma compreensão complexa da experiência. Tal perspectiva de uma totalidade que é ambivalente implica dizer que a criação do vínculo social ocorre no interior das práticas sociais, “desde seu meio, horizontalmente, em função Para se compreender a idéia de sociedade como totalidade na obra de Mauss, é conveniente se introduzir a idéia de paradoxo, isto é, de que as motivações humanas são necessariamente paradoxais. E esta associação entre totalidade e paradoxo é, por sua vez, central para avançarmos na sistematização teórica das redes sociais como o procuramos demonstrar num texto intitulado “As redes sociais, a dádiva e o paradoxo sociológico” (Martins, 2004a). Bruno Karsenti esclarece sobre a obra maussiana o seguinte: “O que permite a noção de símbolo é a necessidade de ultrapassar a confrontação de realidades hipostasiadas ultrajadamente pelas ciências sociais: não existe nessa concepção nem indivíduo nem sociedade, mas somente um sistema de signos que, mediatizando as relações que cada um mantém com cada um, constrói num mesmo movimento a socialização dos indivíduos e a unificação dos mesmos num grupo” (Karsenti, 1994: 87). 56 | Paulo Henrique Martins do conjunto de inter-relações que ligam os indivíduos e os transformam em atores propriamente sociais” (Caillé, 2000: 19). Como todo pensamento, aquele maussiano tem suas próprias regras. Trata-se de um sistema social genuíno, lembra Jacques Godbout (1992: 23), com especificidades que o diferenciam de outros sistemas existentes na sociedade. No caso em questão, é importante lembrar, trata-se de observar prioritariamente no cotidiano não os atores e as estruturas, mas o que circula entre os atores a favor do vínculo social, a saber: os bens materiais e simbólicos de que a sociedade dispõe para se reproduzir por meio dos atores que a formam. A dádiva está presente em todas as partes e não diz respeito apenas a momentos isolados e descontínuos da realidade. O que circula tem vários nomes: chama-se dinheiro, carro, móveis, roupas, mas também sorrisos, gentilezas, palavras, hospitalidades, presentes, serviços gratuitos, dentre muitos outros. Para Mauss, aquilo que circula influi decisivamente sobre como se formam os atores e como se definem seus lugares em sociedade. No seu texto sobre Relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia, o autor após afirmar taxativamente que os fenômenos sociológicos são fenômenos da vida – na medida em que há apenas sociedade “entre seres vivos” – sustenta que, diferentemente dos demais animais, o humano se caracteriza pela presença da vontade, da pressão da consciência de uns sobre outros, das comunicações de idéias, da linguagem, das artes plásticas e estéticas, dos agrupamentos e religiões, em uma palavra, complementa, das “instituições que são o traço da nossa vida em comum” (Mauss, 2003: 319-320). Ou seja, com esta afirmação Mauss rompe com uma concepção positivista de sociedade que privilegia um recorte empirista e materialista da realidade social para incluir as dimensões gestuais, afetivas e ritualísticas. Certamente esta dimensão mais ampla e complexa da sociedade levou alguns a negarem injustamente o Mauss sociólogo, o mesmo tendo acontecido com um outro intelectual cujo valor sociológico foi apenas resgatado recentemente, como é o caso de Georg Simmel, autor de Filosofia do amor (2001), que também tem uma relevância destacada no alargamento da compreensão da sociedade como fenômeno ao mesmo tempo material e simbólico. Desdobrando a descoberta de Mauss, Alain Caillé (2002) sublinha haver uma tendência da sociedade moderna a provocar uma separação crescente de dois registros de sociabilidades. O primeiro registro é o das sociabilidades primárias, no qual as relações entre as pessoas são mais importantes que os papéis funcionais por elas desenvolvidos na sociedade. Trata-se, por exemplo, do registro da família, dos parentes, dos amigos e dos vizinhos. Nesse plano interpessoal de sociabilidades, a lógica da dádiva tende a se impor claramente sobre as demais lógicas. Diz o ditado popular: “não se empresta dinheiro a A sociologia de Marcel Mauss | 57 amigos, para não se ganhar um inimigo”, ou então, “quem casa pelo dinheiro pela infelicidade padece”. No registro das sociabilidades secundárias, ao contrário, como são exemplos aquelas do mercado, do Estado e da ciência, a funcionalidade das práticas sociais vale mais que as personalidades e subjetividades dos atores presentes. Assim, a opinião pública tende a reprovar os políticos que se apropriam para fins privados dos recursos públicos, e os administradores se esforçam por criar regras objetivas que impeçam o excesso de informalidade nas relações de trabalho. Importa registrar que embora o sistema da dádiva seja mais nítido no plano das relações interpessoais – nas redes de famílias, amigos e vizinhos – tal sistema tende, igualmente, a se fazer presente em todos os planos da vida social, mesmo naquele das sociabilidades secundárias, isto é, no plano das relações funcionais – nos aparelhos políticos, econômicos e científicos – mediante uma expectativa de reciprocidade, de confiança implícita a respeito da continuidade da relação que é alimentada subjetivamente pelas pessoas envolvidas. Assim, nenhuma administração governamental, por exemplo, pode funcionar adequadamente caso não exista o espírito do serviço público, isto é, caso o funcionário “não vista a camisa da instituição”, dando um pouco mais de si do que seria contratualmente previsto. Do mesmo modo, não existe uma pátria sem patriotas dispostos a dar a vida pela sua sobrevivência ou, então, não há possibilidade da existência de um partido político doutrinariamente consistente sem possuir filiados convictos que acreditem na ideologia e nas crenças compartilhadas pelos membros. Nesta mesma perspectiva, deve-se registrar que sem o valor-confiança nutrido reciprocamente entre produtores e consumidores (os produtores precisam acreditar que os consumidores não vão conspirar no momento do comércio e vice-versa) as trocas mercantis entram em colapso. Pois o valor-confiança não pode nascer de contratos jurídicos e formais por mais elaborados que esses sejam, mas apenas da confiabilidade da relação interpessoal, da expectativa mútua das partes envolvidas de que o parceiro da troca mercantil devolva não a traição, mas a amizade e a solidariedade. O valor-confiança constitui um atributo que apenas se desenvolve primariamente no nível das relações da dádiva, no dar ao outro gratuitamente um crédito de honra, no acreditar que ao se dar esse crédito a alguém ele será retribuído com algo que faça circular adequadamente a confiança inicialmente depositada. Anthony Giddens (1991), ao tentar sistematizar uma teoria sociológica que dê conta da ação direta, a “estruturação”, é levado inevitavelmente a reconhecer a importância da confiança para a ação social. 58 | Paulo Henrique Martins Quando prevalece a desconfiança e o medo da traição, o mercado se desorganiza, como se verifica constantemente com as bolsas de valores. Por conseguinte, considerando o conjunto dos planos de sociabilidades, o primário e o secundário, é fundamental observarmos como o sistema da dádiva tende a influir sobre a construção das práticas que dão suporte ao funcionamento das instituições sociais, sendo a confiança um dos primeiros bens simbólicos a circular a favor da validação da relação social. Sem ela, nem o mercado, nem o Estado, nem a política, nem a religião, nem a ciência funcionam. Contra esta visão economicista e reducionista da sociedade que é proposta pelos modelos neoliberais, nascem reações teóricas e mobilizações relevantes para mostrar que a lógica mercantil tem um caráter depredador acentuado quando não se encontra sob regulamentação política e administrativa sancionada pela coletividade, para provar que o objetivo do mercado não é gerar o social, mas, ao contrário, produzir lucros, mesmo que isto signifique o fim dos empregos e... do social (Godbout e Caillé, 1998). Por outro lado, o social somente surge, esclarecem esses autores, sob condições particulares de doação, confiança e solidariedade que não são explicáveis, nem pela ótica do interesse individual, nem da burocracia estatal, mas por aquela do paradoxo do dom. O resgate do Mauss sociólogo deve ser visto, assim, não mais como um modismo passageiro nas ciências sociais, mas como um trunfo para se avançar na sistematização de novas teorias sociais pensadas a partir da experiên cia direta dos atores e grupos sociais. A sua contribuição deve ser entendida como um dos esforços mais promissores – ao lado de outras tentativas importantes empreendidas nos inícios do século XX por autores como o sociólogo Georg Simmel e os pragmatistas norte-americanos – de superação do malogro histórico da sociologia clássica de realizar a crítica do pensamento utilitarista e econômico hegemônico, que insiste em reduzir a sociedade a um jogo de cálculos, estratégias e espertezas. Ora, foi contestando tal idéia de que toda sociedade humana pode ser explicada pelo registro do contrato e do interesse utilitário que Mauss conseguiu transcender a sociologia dominante, para resgatar os fundamentos universalizáveis e não‑econô micos do vínculo social. O M.A.U.S.S. – Movimento Anti‑Utilitarista nas Ciências Sociais O resgate da obra sociológica de Mauss tem ocorrido em vários lugares. A tentativa mais consequente de relançamento de sua teoria como um movimento é, sem dúvida, aquela representada pelos trabalhos do M.A.U.S.S. (Movimento Anti‑Utilitarista nas Ciências Sociais) fundado em 1981, na A sociologia de Marcel Mauss | 59 França. Se Lévi-Strauss explorou a contribuição de Mauss na perspectiva antropológica, ainda nos anos cinquenta, para explicar a lógica dos sistemas simbólicos nas sociedades primitivas, o valor sociológico de sua obra apenas aparece com clareza com a fundação deste movimento na década de oitenta. O termo M.A.U.S.S. tem propositadamente dois sentidos: um deles, homenagear Marcel Mauss, destacando seu lugar no panteão sociológico; o outro, divulgar o caráter anti‑utilitarista da teoria da dádiva e o potencial da mesma para uma crítica sociológica consistente à doutrina neoliberal, crítica que busca demonstrar ser um equívoco a ambição do pensamento utilitarista e econômico de colocar o mercado como variável central na construção da vida social. A criação na Europa, nos inícios dos anos oitenta, de um movimento cultural e intelectual de caráter renovador como o M.A.U.S.S. não constitui, porém, um fato isolado, mas expressa as novas idéias que prosperaram nas ciências sociais sobretudo a partir da crise do estruturalismo, o que se tornou evidente nos fins dos anos setenta. Os intelectuais anti‑utilitaristas fazem parte desse importante processo de renovação das ciências sociais cuja trajetória na França foi documentada com muita competência pelo historiador François Dosse num livro intitulado L’Empire du sens: L’humanisation des sciences humaines (1997). Trata-se, explica Dosse, da emergência de uma geração marcada por Maio de 68 e que apresenta duas características importantes: de um lado, ela afasta-se do abstracionismo estruturalista e se volta para uma compreensão privilegiada da ação dotada de sentido, reabilitando “a intencionalidade e as justificativas dos atores através de determinações recíprocas do fazer e do dizer” (Dosse, 1997: 12). De outra parte, na invenção deste novo paradigma interpretativo que prioriza a apreensão das formas concretas de ação, observar-se-ia algo inédito: novas alianças no interior do pensamento humanista que valorizariam uma maior aproximação com o pensamento anglo-saxão, em particular com a filosofia analítica inglesa e com o interacionismo simbólico norte-americano. A crítica maussiana é complexa, sendo amplamente divulgada nessas duas últimas décadas mediante seminários, cursos e publicações não somente na França, mas, também, em países como Suíça, Itália, Espanha, Canadá e Brasil. Como veículos de divulgação destacam-se, nessas duas décadas, primeiramente o Bulletin du MAUSS e, a partir dos fins dos anos oitenta, a Revue du MAUSS. Apenas a título de apresentação, podemos situar sinteticamente alguns pontos importantes desta crítica: a) A sociedade moderna não é regida por uma única lógica, mas por uma pluralidade de lógicas; nesta perspectiva pode-se avançar que enquanto o mercado é regido por um sistema de trocas equivalentes (dar-pagar), o Estado conhece um outro 60 | Paulo Henrique Martins sistema de reciprocidades (receber-devolver), enquanto a sociedade civil é regida por um sistema de trocas não equivalentes: o dar-receber-retribuir; b) A lógica mercantil não é supérflua, como foi pensado por certos setores da esquerda no século XX desejosos de romper com o capitalismo mercantil. O mercado tem importância central para a existência da ordem moderna e para a liberdade individual. A crítica ao mesmo não passa pela sua eliminação mas pela sua regulamentação, assunto que foi discutido acertadamente por Durkheim; c) Também é um erro imaginar que a lógica mercantil possa substituir tanto o Estado como as práticas comunitárias e associativas respectivamente na proteção social (Estado) e na invenção do social (associação); ao contrário, para objetivar o lucro e manter taxas crescentes de retorno, o mercado necessita destruir o social. Por isso ele precisa ser regulamentado pela coletividade; d) A invenção do social apenas ocorre a partir da solidariedade entre os indivíduos, isto é, a partir do risco de se tomar uma iniciativa espontânea de doação sem garantias de retorno e, igualmente, do risco de se aceitar espontaneamente algo de alguém; esta iniciativa sempre incerta e paradoxal de doação, recebimento e devolução é conhecida como a aposta no dom, aposta na qual o valor da relação em si é tido como mais relevante que o valor das coisas ou dos usos; e) Mas para que esse sistema tradicional de trocas interpessoais que funciona adequadamente no plano das sociabilidades primárias (família, vizinhança, amigos, companheiros de empreitadas sociais como mutirões, etc.) não apareça como sistemas de reciprocidades verticais não simétricos (o sistema clientelista, por exemplo), faz-se necessário inventar uma ordem supra-individual e legal que seja obedecida pelos participantes. Neste sentido, o político aparece como instituição histórica fundamental para que se possa pensar a idéia da democracia solidária. Mas não se deve apressadamente reduzir o político ao Estado burocratizado, formato que prevaleceu até recentemente como padrão de organização do aparelho estatal moderno. Uma outra forma de fazer a política talvez possa concretizar a utopia de um outro Estado que Philippe Chanial (2004) prefere designar de “Estado solidário”, que se apoiaria sobre experiências locais de participação e deliberação direta das comunidades envolvidas. As possibilidades de uso da teoria da dádiva para explicar o funcionamento do Estado são objeto de polêmica entre os maussianos. Alguns recusam estas possibilidades e desejam restringir a discussão sobre a dádiva para explicar o fato associativo. Outros entendem haver esta relação, como o faz Chanial com a idéia do “Estado solidário” ou Alain Caillé (1992) e Ahmet Insel (1992) com a idéia de política e renda mínima assegurada pelo Estado. Pessoalmente, concordamos com esta segunda posição, o que nos levou a escrever um artigo sobre o assunto intitulado “Etat, don et revenu de citoyenneté” (Martins, 2004b). A sociologia de Marcel Mauss | 61 Nos anos oitenta, a crítica do M.A.U.S.S. ganhou a forma de um anti‑utilitarismo negativo, centrando-se os trabalhos na crítica às tentativas, por eles consideradas equivocadas, de redução da ordem social à ordem econô mica e contratual. Na verdade, tal reação defensiva contra o utilitarismo nos anos oitenta não é uma novidade proposta pelos intelectuais que animam o debate maussiano. Essa reação está na origem do pensamento de Augusto Comte, estando igualmente presente em todas as grandes tradições sociológicas como aquelas de Weber, Simmel e Parsons (Caillé, 1989). Porém, como anti‑utilitarismo negativo, a originalidade dos trabalhos recentes da escola francesa de sociologia é dada pelos esforços de definição de um campo comum, reunindo todas as sociologias contra a ameaça de generalização do utilitarismo econômico como atividade teórica e prática predatória e geradora de desigualdades e exclusões crescentes. A partir dos anos noventa, porém, os trabalhos maussianos avançam no sentido de passar de um anti‑utilitarismo negativo para um positivo, indo além de uma crítica defensiva para proposições de ação intelectual. Nessa segunda fase, pode-se falar do surgimento das condições concretas para emancipação de um paradigma da dádiva nas ciências sociais, um pensamento complexo da prática que se conecte, de um lado, com as exigências sugeridas por Wright Mills (1992) para a imaginação sociológica, que é aquela de uma sociologia conectada com o saber cotidiano; de outro, com a complexidade das abordagens fenomenológicas e hermenêuticas, conforme proposto por Boaventura Santos (1995),10 que privilegiem o valor da experiência e do dialógico na organização da realidade social. Enfim, dedicarei a última parte deste texto para propor que o debate maussiano dos últimos vinte anos vem avançando na proposição de um paradigma da associação que me parece muito pertinente para se avançar nos estudos das mudanças sociais na contemporaneidade. Elementos de um paradigma da associação A tentativa de demonstrar que o social tem regras próprias e paradoxais não redutíveis às dimensões estatal e mercantil parece-nos uma das contribuições cruciais dessa escola anti‑utilitarista para o pensamento crítico em sociedades pós-coloniais como a brasileira. A perspectiva do “paradigma A oportunidade de divulgação nos países de língua portuguesa do debate contemporâneo concernente ao sistema social da dádiva já seria justificada – independentemente de outros méritos como o da reconhecida qualidade dos artigos divulgados pela Revue du M.A.U.S.S –, pelo fato de esse grupo de intelectuais ser pioneiro ao lançar, desde inícios dos anos oitenta, uma crítica sistemática e articulada do utilitarismo econômico, num momento em que a humanidade não vislumbrava ainda, claramente, os sinais de um poderoso pensamento neoliberal, que viria a tornar-se hegemônico nos anos seguintes. 10 62 | Paulo Henrique Martins do dom” é de que as regras de fundação de uma sociedade são essencialmente ambivalentes e interdisciplinares. Assim, existem regras próprias à economia, à política e ao social, mas a sociedade apenas resulta do modo ambivalente como essas diferentes lógicas – irredutíveis entre si – participam na montagem do jogo social, tendo, porém, a dádiva como um sistema primeiro e anterior aos demais (o que faz dela o ponto de referência de um “paradigma da dádiva”). A sociedade funda-se, sobretudo, na ambivalência da reciprocidade: existe o interesse mas também o desinteresse, o contrato e o vínculo espontâneo, o pago e o gratuito. Pelo interesse utilitarista, dizem os maussianos, funda-se uma empresa comercial, mas não o vínculo social. E, no sentido contrário, pelo desinteresse espontâneo se fazem amigos, casamentos, etc., mas não a economia de mercado ou o Estado. A dádiva pode também ser lida como um anti-paradigma pois visa restituir sem finalidade pré-fixada os sentidos do simbolismo, da aliança, da associação e do político (Caillé, 2000: 21). Um (anti)paradigma que, contra as representações individualistas e holistas, busca legitimar novas significações da sociedade a partir de movimentos de ordens, desordens e contextualizações inevitáveis mas sempre fugidios e imprevisíveis (daí este caráter de incerteza constitutiva do ponto de vista teórico). Trata-se um pensamento que se inspira no movimento da vida e que se apoia numa pluralidade de lógicas, inclusive aquelas do interesse (mercado) e da obrigação (Estado), mas que prioriza, na constituição do vínculo social, não uma ou outra lógica mas todas simultaneamente, gerando um movimento paradoxal e incerto de interesse e desinteresse, de liberdade e de obrigação centrado no valor da relação. Por isso Godbout afirma que, para além dos valores de uso e de troca daquilo que circula, a dádiva parece veicular um terceiro tipo de valor que se poderia chamar valor do vínculo, que exprime a intensidade da relação entre os parceiros do dom (Godbout, 1996: 174). O dom ou a dádiva é, por natureza, uma regra sistêmica ambivalente, que permite ultrapassar a antítese entre o eu e o outro, entre a obrigação e a liberdade, entre o mágico e o técnico. Na dádiva participam a obrigação e o interesse, mas também a espontaneidade, a liberdade, a amizade, a criatividade. A sociedade, nessa perspectiva relacional, é um fenômeno social total, porque ela se faz primeiramente pela circulação de dádivas (presentes, serviços, hospitalidades, doações e, também, desejos, memórias, sonhos e intenções), considerados símbolos básicos na constituição dos vínculos sociais. A observação sobre o que circula implica, então, a necessidade de fixação das modalidades de um pensamento do concreto que dê conta da dinâmica de transformação das redes sociais (que constituem o modo próprio de circulação do dom) e das diferenças dessas redes no tempo A sociologia de Marcel Mauss | 63 e no espaço. Certamente, a importância de um pensamento como esse cresce à medida que os dois outros paradigmas das ciências sociais (o da obrigação racional-burocrática e o da liberdade mercantil) esgotam suas perspectivas emancipatórias. O paradigma da dádiva – ao pôr em evidência o fato de que a ação social obedece a uma pluralidade de lógicas de ação não redutíveis umas às outras –, ajuda a explicar por que a transição societal e epistemológica atual (Santos, 2000) não pode ser apreendida por interpretações sociológicas unilaterais, como, por exemplo, aquelas que enfatizam unicamente a racionalidade dos atores individuais ou as regras burocráticas impessoais. Contra o utilitarismo econômico que reduz a relação social a um sistema de equivalências contratuais utilitárias e binárias (dar e pagar), representado pelo mercado, e contra o racionalismo burocrático, que reduz a relação social a um sistema de trocas regulamentadas que reduz a relação social a um sistema hierárquico vertical (devolver-receber), representado pelo Estado, o paradigma da dádiva impõe o princípio da pluralidade de lógicas instituintes da interação social. Aparece, igualmente, como um sistema de práticas sociais ambivalentes que está sempre presente na experiência concreta de constituição dos vínculos sociais.11 Em suma, dizem os maussianos, por uma questão de justiça o paradigma do dom deve ser visto como um paradigma primeiro ou primordial, já que os dois outros paradigmas usuais – o individualista, que privilegia o interesse dos produtores de bens e serviços, e o holista, que valoriza a regra burocrática impessoal e regulamentar – são apenas momentos do ciclo geral do dom, do simbolismo e da política em ato.12 Por que um debate teórico tão importante como este conduzido pelo M.A.U.S.S, que resgata a dádiva como figura sociológica central para a realização de uma crítica profunda ao utilitarismo em geral, e ao neoliberalismo, em particular, por que tal debate tem permanecido praticamente desconhecido do público das ciências sociais nas sociedades do Sul até momentos recentes, apesar de este movimento já ter mais de vinte anos de existência? Provavelmente, não existe uma resposta simples para esta questão. As dificuldades de tradução das novas idéias, tanto podem refletir um certo Aliás, já nas conclusões do Ensaios sobre o dom, Mauss esboçou a crítica ao utilitarismo mercantil ao propor ser a regra utilitarista secundária para a constituição da sociedade. 12 “Mercado, de uma parte, Estado, de outra, individualismo e holismo, logo, são apenas inteligíveis se considerados como formas especializadas e autonomizadas de uma realidade mais vasta e englobante, essa do fato social total de que o dom constitui a expressão por excelência” (Caillé, 2000: 22). 11 64 | Paulo Henrique Martins conservadorismo utilitarista compreensível por parte dos promotores culturais e editoriais (não arriscar lançamentos sem algum retorno assegurado em termos de vendas) como um eventual desconhecimento das mudanças em curso nas ciências sociais na França, fora do domínio simbolizado pelos “grandes pensadores”. Poderíamos, igualmente, arriscar uma outra hipótese: a das dificuldades das ciências sociais, nas áreas de fronteira como o Brasil, para se desembaraçarem do peso excessivo de uma tradição teórica cara à nossa história intelectual, a saber, a excessiva valorização do papel do Estado como organizador da nação. Esta valorização, que expressa uma certa mitificação do Estado modernizador (particularmente evidente para a legitimação dos modelos desenvolvimentistas da segunda metade do século XX), teria inibido uma discussão teórica de mais fôlego a respeito das mudanças conhecidas recentemente pela sociedade civil e das especificidades dessas mudanças nos planos nacionais e locais. Por outro lado, o fracasso do Estado desenvolvimentista, nos anos oitenta, não teria estimulado imediatamente o interesse pela teorização da sociedade civil por duas razões: uma delas, a emergência do pensamento neoliberal e do mito da globalização econômica; por outro lado, as dificuldades dos movimentos sociais, em particular as ONG (Organizações Não-Governamentais), de quebrarem o vínculo edípico tradicional com o Estado, sempre visto como o organizador da nação na sociedades pós-coloniais (no bom e no mau sentido da palavra). Um dos principais prejuízos deste imaginário desenvolvimentista centrado, primeiramente, no papel do Estado, e, posteriormente, no do mercado, nas sociedades do Sul, foi de inibir reflexões mais apropriadas relativas às transformações complexas da sociedade civil, nas duas últimas décadas, refletindo tanto os rumos da mundialização, em geral, como dos novos processos sociais nacionais e regionais. Neste sentido, a difusão das idéias maussianas é da maior atualidade para que se possa compreender, de um lado, que o neoliberalismo possui um caráter predador e excludente nato, de outro, que a invenção de um novo paradigma da associação não pode resultar de um progresso racional, econômico e técnico qualquer, mas de solidariedades e alianças concretas efetivadas pelos indivíduos através de suas vivências coletivas nas redes de pertencimento nas quais são reconhe cidos como cidadãos e sobretudo como seres humanos. Referências Bibliográficas Caillé, Alain (1989), Critique de la raison utilitaire. Paris: La Découverte. Caillé, Alain (1992), “Fondements symboliques du revenu de citoyenneté”, La Revue du M.A.U.S.S., nº 15-16. A sociologia de Marcel Mauss | 65 Caillé, Alain (1998a), “Nem holismo, nem individualismo metodológicos: Marcel Mauss e o paradigma da dádiva”, Revista Brasileira de Ciências Sociais. Caillé, Alain (1998b), “Don et symbolisme”, La Revue du MAUSS semestrielle: Plus réel que le reel, le symbolisme, nº 12. Caillé, Alain (2000), Anthropologie du don: le tiers paradigme. Paris: Desclée de Brouwer (trad. portuguesa, Antropologia do dom: o terceiro paradigma. Petrópolis: Vozes, 2002). Caillé, Alain (2002), “Dádiva e associação”, in Paulo Henrique Martins (org.), A dádiva entre os modernos: discussão sobre os fundamentos e as regras do social. Petrópolis: Vozes. Caillé, Alain; Graeber, D. (2002), “Introdução”, in Paulo Henrique Martins (org.), A dádiva entre os modernos: discussão sobre os fundamentos e as regras do social. Petrópolis: Vozes. Castel, Robert (1995), Les métamorphoses de la question sociale. Paris: Gallimard. Chanial, Philippe (2001), Justice, don et association: la délicate essence de la démocratie. Paris: La Découverte/MAUSS. Chanial, Philippe (2004), “Todos os direitos por todos e para todos: Cidadania, solidariedade social e sociedade civil em um mundo globalizado”, in P. H. Martins; B. Nunes (orgs.), A nova ordem social: perspectivas da solidariedade contemporânea. Brasília: Editora Paralelo 15. Dewey, John (2000), Liberalism and Social Action. New York: Prometheus Books. Dosse, François (1997), L’Empire du sens: L’humanisation des sciences humaines. Paris: La Découverte. Dubet, François (2003), As desigualdades multiplicadas. Ijuí: Editora Unijuí. Durkheim, Emile (1999), Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes. Giddens, Anthony (1991), As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP. Godbout, Jacques (1996), “Les bonnes raisons de donner”, La revue du MAUSS semestrielle: l’obligation de donner. La découverte sociologique capitale de Marcel Mauss, nº 8. Godbout, Jacques (2000), Le don, la dette et l’identité: homo donator vs. homo economicus. Paris: La Découverte. Godbout, Jacques; Caillé, Alain (1998), O espírito da dádiva. Rio de Janeiro: FGV. Insel, Ahmet (1992), “L’aide au temps partiel comme complément du revenue de citoyenneté”, La Revue du M.A.U.S.S., nº 15-16. Laville, Jean-Louis (2001), “Economia solidária, a perspectiva européia”, Sociedade e Estado: Revista de Sociologia da UNB, 16(1-2). Levine, D. (1997), Visões da tradição sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Karsenti, Bruno (1994), Marcel Mauss. Le fait social total. Paris: PUF. Martins, Paulo Henrique (2004a), “As redes sociais, a dádiva e o paradoxo sociológico”, in P. H. Martins; B. Fontes (orgs.), Redes sociais e saúde: novas possibilidades teóricas. Recife: Editora Universitária da UFPE. 66 | Paulo Henrique Martins Martins, Paulo Henrique (2004b), “Etat, don et revenu de citoyenneté”, Revue du MAUSS: de la reconnnaissance. Don, identité et estime de soi, nº 23. Medeiros, Alzira; Martins, Paulo Henrique (2003), Economia popular e solidária: desafios teóricos e práticos. Recife: Editora Bagaço. Mauss, Marcel (2003), Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify. Mauss, Marcel; Hubert, Henri (2005), Sobre o sacrifício. São Paulo: Cosac & Naify. Mills, C. Wright (1992), “The Sociological Imagination and the Promise of Sociology”, in Anthony Giddens (org.), Human Societies: An Introductory Reader in Sociology. Cambridge/Oxford: Polity Press. Nodier, L. M. (1995), “Définition de l’utilitarisme”, Revue du MAUSS semestrielle: Qu’est-ce que l’utilitarisme. Une énigme dans l’histoire des idées, nº 6. Rosanvallon, Pierre (1981), La crise de l’Etat providence. Paris: Seuil. Sandel, Michael J. (1996), Democracy’s Discontent. America in Search of a Public Philosophy. Cambridge: Harvard UP. Santos, Boaventura de Sousa (1995), Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal. Santos, Boaventura de Sousa (2000), A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortêz Editora. Simmel, Georg (2001), Filosofia do amor. São Paulo: Martins Fontes. Tarot, Camile (1998), “Marcel Mauss et l’invention du symbolique”, La Revue du MAUSS semestrielle: Plus réel que le réel, le symbolisme, nº 12. Taylor, Charles (1994), La malaise de la modernité. Paris: Cerf. Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 67-89 Maria Alice Nunes Costa Fazer o bem compensa? Uma reflexão sobre a responsabilidade social empresarial Este artigo apresenta uma visão panorâmica da actual gestão de negócios, denominada de responsabilidade social empresarial, desenvolvida a partir dos anos 1990. Nesse contexto, busca-se compreender as implicações políticas desta forma de solidariedade social, em que agentes económicos intervêm no espaço público, a partir da promoção de políticas de bem-estar social para comunidades de baixa renda. Nesse sentido, a intenção é reflectir sobre a responsabilidade social empresarial, não de maneira isolada, mas a partir de uma expressão que se desenvolve de maneira dinâmica, em interface com o Estado e a comunidade, na governação da regulação social contemporânea. Apresentação Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a solidariedade empresarial, discutindo a forma como, a partir dos anos 90 do século passado, alguns empresários vêm se mobilizando para implantar projetos sociais para comunidades de baixa renda. De acordo com a fórmula clássica, a função do setor privado é realizar sua vocação natural: gerar dividendos para investidores e acionistas, contribuir para o crescimento econômico, criar empregos e fornecer bens e serviços ao mercado. E não há nada de errado nisso, desde que, na consecução de suas atividades, as empresas cumpram com as exigências legais de pagamento de impostos e benefícios trabalhistas, evitem práticas de corrupção e suborno, mantenham auditoria transparente e responsável de seus lucros. Contudo, além de suas atividades naturais de obtenção de lucro, as empresas têm sido impelidas a fazer mais, a demonstrar que são socialmente responsáveis. Hoje, elas ultrapassam os muros das fábricas e precisam mos Este artigo se refere aos resultados parciais da pesquisa de doutoramento realizada pela autora, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), sobre o investimento social privado na saúde, no Brasil contemporâneo. A pesquisa incide nas políticas sociais de saúde implementadas através de financiamento de empresas privadas auto-intituladas como socialmente responsáveis. Aqui, o objetivo é apresentar o quadro conceitual e hipóteses de um trabalho empírico em andamento. 68 | Maria Alice Nunes Costa trar o seu compromisso com um desenvolvimento baseado em padrões internacionais de sustentabilidade social e ambiental. Desde os anos 90, vem aumentando o número de empresas que demonstram interesse de expandir sua contribuição social além do que era tradicionalmente habitual. Trata-se de renúncias voluntárias motivadas por uma nova cultura empresarial ou por reconversão de capital para o investimento social privado, em busca de melhoria de imagem e obtenção de capital reputacional. Algumas empresas brasileiras passaram a criar fundações e institutos, na busca por uma nova natureza que transcenda sua orientação para o lucro, passando a adotar a idéia da responsabilidade social e/ou do investimento social privado (ISP). Esta última forma de contribuição social tem se dado, na maioria dos casos, através de redes sociais para a implantação e desenvolvimento de programas e projetos sociais entre governos, organizações não-governamentais, igrejas, etc. São investimentos feitos em iniciativas sociais para beneficiários externos às empresas. A idéia do ISP refere-se à reconversão de uma percentagem do faturamento bruto da empresa em investimento em iniciativas sociais dirigidas a terceiros. Estas novas formas de contribuição social das empresas têm se dado, de forma geral, em três áreas distintas: a) apoio a programas de governo; b) difusão de melhores práticas (best practices); c) provisão de serviços. A despeito do seu significado político ou da real mudança social produzida, a solidariedade empresarial tem se mostrado como uma nova fórmula organizacional para a produção do bem comum, em especial na área da assistência social. O investimento social privado parece ser uma diferente face da capacidade organizativa das empresas, que surge como alternativa à crise do sistema de solidariedade universal compulsória, desenvolvida e financiada pelo Estado. Mesmo que as ações de responsabilidade social empresarial ainda sejam incipientes e realizadas através de iniciativas pontuais, têm-se mostrado determinantes no processo de mobilização da responsabilidade das empresas para com a sociedade, ao lado das ações sociais comunitárias promovidas por organizações não-governamentais. 1. Uma visão panorâmica da Responsabilidade Social Empresarial O envolvimento de empresários com questões sociais não é tão recente quanto pensamos. A diferença atual está na dimensão de escala e no desenvolvimento das práticas sociais desenvolvidas pelos empresários, que tem ultrapassado os limites da empresa e assumido grandes proporções, principalmente a partir dos anos 90. Fazer o bem compensa? | 69 Ações coletivas de caridade por parte do Estado e da burguesia já eram utilizadas no século XVIII e XIX (De Swaan, 1992), face à exigência de desativar potenciais antagonismos decorrentes da pobreza, na medida em que a miséria era interpretada em termos de “anti-sociabilidade”. Ou seja, a intervenção social empresarial expressava-se através da caridade de empresários beneméritos, como forma de governar a miséria (Beghin, 2003). No início do século XX, experimentava-se a transição da economia agrícola para a industrial. Com a crescente evolução tecnológica e a aplicação da ciência na organização do trabalho ocorreram mudanças no processo produtivo. A ideologia econômica predominante era o liberalismo e a visão clássica da responsabilidade social empresarial incorporava esses princípios, influenciando a forma de atuação social das empresas e definindo as principais responsabilidades da companhia em relação aos agentes sociais. Como argumentou Galbraith (1982), nesse período o mercado era formado por empresários em regime de concorrência perfeita. O patrimônio da companhia se confundia com o patrimônio do dono e a maximização dos lucros era o objetivo maior e expressava a vontade dos acionistas, sendo essa a principal contribuição social da empresa. Nos Estados Unidos ocorreu um episódio emblemático quanto à responsabilidade social das empresas: o julgamento na justiça americana do caso Dodge versus Ford. Henry Ford, presidente e acionista majoritário, decidiu, em 1916, não distribuir parte dos dividendos esperados, revertendo-os para a realização de objetivos sociais, como aumento de salários e aplicação em um fundo de reserva para a redução esperada de receitas devido ao corte nos preços de carros. Ford agiu contrariando interesses de um grupo de acionistas, como John e Horace Dodge. A Suprema Corte de Michigan se posicionou a favor dos Dodge, justificando que a corporação existe para o benefício de seus acionistas e que diretores corporativos têm livre arbítrio apenas quanto aos meios para se alcançar tal fim, não podendo usar os lucros para outros fins (Ashley et al., 2000). Desse modo, a prática de ações sociais pelas empresas não era estimulada, sendo até condenada. A responsabilidade social empresarial limitava-se apenas ao ato filantrópico, isto é, uma ação de natureza assistencialista, caridosa e predominantemente temporária, de caráter pessoal, representada por doações de empresários ou, por exemplo, pela criação de fundações americanas, como a Rockfeller (criada em 1913), a Guggenheim (em 1922) e a Ford (em 1936). A etimologia do termo filantropia significa “amor ao homem ou à humanidade, pressupondo uma ação altruísta e desprendida”, relacionado à caridade, uma virtude cristã. 70 | Maria Alice Nunes Costa Com os efeitos da Grande Depressão, a noção de que a corporação deve responder apenas aos acionistas sofreu ataques. No contexto americano, a temática da responsabilidade se impôs às empresas para controlar política e socialmente seu poder, na medida em que, no decorrer dos anos 30, as grandes corporações detinham um enorme poder, até mesmo o poder de interferir nacionalmente na esfera política (Cappellin, 2004: 105). É nesse contexto que se enquadra o pensamento econômico de J. M. Keynes e sua crítica aos agentes econômicos, expostos em carta de 1936: […] Quando a breve recuperação começar, Wall Steet e os banqueiros provavelmente dirão que ela veio por si mesma e teria vindo mais depressa se o governo não houvesse interferido. Eles usarão esse argumento como desculpa para um retorno à completa anarquia. Mas o argumento é falso. A recuperação é, em grande medida, um resultado do que a administração fez, e novas ações governamentais são desejáveis para manter as instrumentalidades que demonstram seu valor. (Keynes, 2002: 20) Com o keynesianismo e sua política de intervenção do Estado na econo mia, houve uma redução gradual das incertezas no mercado, o que gerou condições para as empresas investirem em tecnologia, acumularem capital e consolidarem o modelo de produção em massa. Além disso, a transição do modelo de produção resultou em mudanças nos valores da sociedade. Contudo, foi somente a partir dos anos 40, em parte da Europa, que se registou o apoio empresarial explícito e significativo – parte dos empresários do setor industrial – à necessidade das corporações atuarem com responsabilidade em relação aos seus funcionários e contribuírem de forma efetiva para o bem-estar da sociedade: Vinte anos mais tarde, em 1942, a idéia aparecia num manifesto subscrito por 120 industriais ingleses, onde afirmavam sem rodeios: ‘A responsabilidade dos que dirigem a indústria é manter um equilíbrio justo entre os vários interesses do público como consumidor, dos funcionários e operários como empregados e dos acionistas como investidores. Além disso, dar a maior contribuição possível ao bem-estar da nação como um todo’. (Duarte e Dias, 1986: 187) Nos EUA, a filantropia empresarial, enraizada pelo legado puritano, possi bilitou a conversão de recursos privados em fundos comuns para promover interesses coletivos para atender aos menos favorecidos. Como exemplo, em 1944 foram aplicados 129.900 milhões de dólares em práticas filantrópicas, o que representava, aproximadamente, 2% do produto nacional bruto Fazer o bem compensa? | 71 (Hunter, 1999: 44). Com as pressões da sociedade e do Estado, a ação filantrópica passou a ser promovida pela própria empresa, simbolizando o início da incorporação da temática social na gestão empresarial. Porém, até a década de 1950, a responsabilidade social empresarial assume dimensão estritamente econômica e é entendida como a capacidade empresarial de geração de lucros, criação de empregos, pagamento de impostos e cumprimento das obrigações legais. Essa era a representação clássica da idéia de responsabilidade social empresarial. Depois da segunda Guerra Mundial, o entendimento dos empresários em relação aos problemas sociais decorrentes começou a se modificar. Nos EUA, diversas decisões dos tribunais foram favoráveis às ações filantrópicas das corporações. E em 1953 a justiça americana posicionou-se favoravelmente à doação de recursos para a Universidade de Princeton, contrariamente aos interesses de um grupo de acionistas. A justiça determinou, então, que as corporações podiam buscar o desenvolvimento social, estabelecendo em lei a filantropia corporativa (Ashley et al., 2000). Quanto à nova percepção do empresário em relação à questão social, devemos recordar o próprio pacto social entre os agentes econômicos e o Estado na provisão de bens comuns. O fortalecimento do Estado (o Estado-Providência) fundou-se na aceitação da lógica do lucro pelos trabalhadores e na concorrência dos empresários com as políticas redistributivas, criando condições para o consenso mínimo. No estudo sobre a emergência de políticas nacionais de bem-estar na Europa, De Swaan viu a percepção das elites econômicas sobre os problemas sociais como uma dimensão explicativa central. Na sua perspectiva, somente quando as elites econômicas viram vantagens na coletivização de soluções para os problemas sociais é que o poder público se tornou agente natural na provisão de “bens de cidadania” como educação, saúde e previdência. Ou seja, “tanto para os grandes empresários como para os trabalhadores, a segurança social se converteu cada vez mais numa questão de custos e controles e, finalmente, num tema de negociação” (De Swaan, 1992: 254). No Brasil, os empresários brasileiros redigiram duas cartas à Nação em 1945 (Carta Econômica de Teresópolis e Carta da Paz Social), divulgadas pela Confederação Nacional da Indústria e do Comércio, em que afirmavam a idéia de harmonia e cooperação entre capital e trabalho, no momento crucial para a definição do papel que deveriam desempenhar as classes produtoras na nova ordem que se anunciava. Além disso, temiam a influên cia dos comunistas sobre os trabalhadores industriais, em face da insatisfação operária com as condições de trabalho e com os salários recebidos (Delgado, 2001). 72 | Maria Alice Nunes Costa Os empresários brasileiros estavam dispostos a aceitar aumentar suas contribuições para o Estado, com o intuito de ampliar sua ação social. Contudo, esse consenso era relativo. Conforme Barbara Weinstein assinala: O que os industriais propunham não era um Estado do Bem-Estar Social do tipo que estava sendo criado em países capitalistas mais desenvolvidos, mas antes uma espécie de capitalismo de bem-estar: a atuação direta do capital no fornecimento de produtos mais baratos e serviços sociais para combater a ‘pobreza’ [...]. (Weinstein, 2000: 162) Apesar das assimetrias no sistema-mundo, surge algo que pode ser chamado de “consciência social” de todos os membros de uma coletividade nacional vinculados a um substrato de responsabilidade que ia além da ação individual, até alcançar, a partir do reforço das iniciativas de políticos e administradores reformistas encarregados da burocracia estatal, uma orientação para uma política nacional, em que o Estado central proviria à segurança e proteção dos bens coletivos. É a partir desse consenso que se passa a exigir que o Estado se ocupe, com fundos públicos, a dar proteção aos necessitados em geral (De Swaan, 1992: 18-19). Portanto, o Estado-Providência sacrificou capitalistas individuais – que deixaram de ter alguns lucros que tinham antes – em favor, no entanto, de um melhor funcionamento da sociedade. O que, no seu conjunto, acabou por fortalecer o próprio capitalismo. Com o movimento cultural dos anos 1960, as primeiras gerações do pós-guerra passaram a criticar o modelo de sociedade criada pelo crescimento econômico dos anos 50 e passaram a imaginar a construção de alternativas comunitárias. A idéia era criar uma sociedade fraterna, criativa e comunitária. Nos EUA e parte da Europa, uma parcela da sociedade iniciou uma cobrança efetiva por um comportamento socialmente responsável no âmbito empresarial. O repúdio à Guerra do Vietname (1964-1973) deu início a um movimento de boicote à aquisição dos produtos e das ações na bolsa de valores daquelas empresas que, de alguma forma, estavam ligadas ao conflito bélico na Ásia. Diversas instituições passaram a exigir uma postura ética e um novo tipo de ação empresarial em relação às questões sociais e ambientais. A partir de meados dos anos 70, as incertezas passam a dar conta do cenário internacional. A crise do petróleo, aliada a um novo sistema mundial de cunho competitivo, expresso pelo processo de globalização econômica, à retração do Estado e à emergência da sociedade civil na luta pelos direitos humanos e sociais vai impulsionar uma reestruturação no Fazer o bem compensa? | 73 mundo empresarial. Nessa crise, o contrato social entre empresários e o Estado é abalado. A crise econômica e social nos anos 80 passa a ser captada, interpretada e direcionada contra o Estado, gerando um abalo na confiança em relação à sua operacionalidade. Constata-se que a crise fiscal do Estado acabou tendo impacto sobre a sua credibilidade pública, enfraquecendo a percepção de sua finalidade diante da ineficiente administração dos problemas. Contudo, a crítica ao papel do Estado, corrente nos anos 1980, passou a ser reconceitualizada. Neste período, ocorreu a intensificação dos problemas sociais, com a retomada do liberalismo econômico, o que resultou no surgimento de grande número de organizações não-governamentais movidas pela idéia de solidariedade social. Neste debate, em meados dos anos 1990, surge a proposta de uma nova forma de governação do Estado, em que ele passe a atuar em conjunto com a sociedade civil, o mercado e as empresas na solução dos problemas sociais. Diversos trabalhos acadêmicos são dirigidos neste sentido. Como afirmou Offe (2000), as antigas opções de desenho institucional que garantam a coesão social estão obsoletas. Para o autor, a provisão da ordem e da estabilidade não podem mais ser baseadas em soluções monísticas, referentes a um dos padrões delimitados pelo Estado, pelo mercado ou pela comunidade. Nesse sentido, o trabalho conjunto dessas três esferas torna-se indispensável, desde que realizado a partir de uma sintonia fina e processual, crítica e flexível entre os três componentes, criando uma fonte de energia para fazer a democracia funcionar. Refletindo sobre o desempenho das atividades sociais pelas empresas, Alvin Toffler escreve: Os novos valores pós-econômicos são também evidentes na crescente insistência pública de que as corporações se preocupem também com o desempenho social e não apenas com o econômico, assim como nas tentativas iniciais de criar medidas quantitativas de desempenho social. O movimento dos consumidores e a reivindicação de minorias éticas e subculturais por representação nos conselhos de administração das corporações também estão ligados à idéia de que as corporações não devem mais se empenhar em um único propósito (o econômico), mas sim em se tornarem organizações de ‘múltiplos objetivos’, ajustando-se ao meio social e ecológico. (Toffler, 1995: 123) Nesse sentido, na década de 90 passamos a observar o fortalecimento da idéia de responsabilidade social empresarial frente aos desafios da globalização, do acirramento da concorrência internacional, da crise do 74 | Maria Alice Nunes Costa Estado e da mobilização da sociedade. Atento a esse processo, em 1996, o Presidente norte-americano Bill Clinton promoveu uma conferência reunindo empresários, líderes trabalhistas e estudantes para discutir, disseminar e incentivar práticas de empresas socialmente responsáveis (Ashley et al., 2000). Os movimentos sociais, em especial os ambientalistas, conquistaram uma posição de destaque nesta nova configuração empresarial. Muitas empresas de grande porte, inclusive as responsáveis pela emissão de poluentes, passaram a incluir em sua agenda a questão ecológica. Considera-se uma empresa ambientalmente responsável aquela que age para a manutenção e melhoria das condições ambientais, minimizando ações próprias potencialmente agressivas ao meio ambiente e disseminando em outras empresas as práticas e conhecimentos adquiridos neste sentido. Nessa trajetória, passa a ser delineado um novo modelo de responsabilidade social empresarial diferenciado da filantropia, na medida em que compartilha projetos comunitários com todas as partes interessadas da empresa (acionistas, clientes, concorrentes, fornecedores e funcionários) e da sociedade (comunidades, governo, etc.). Enquanto a filantropia se limitava à doação de recursos à comunidade e estava relacionada à caridade, limitada por doações efetuadas por empresários ou por fundações criadas por eles, a atual responsabilidade social empresarial promove processos de avaliação e monitorização do investimento social privado na comunidade e na empresa. A responsabilidade social amplia-se em relação à filantropia na medida em que passa a fazer parte da gestão operacional, com planejamento definido e departamentos específicos dentro da empresa para desenvolver os projetos, implementá-los e controlar os resultados. Nesse sentido, possui indicadores de avaliação para verificar o nível de envolvimento em questões sociais, tais como o Balanço Social ou as certificações de responsabilidade social, para informar a sociedade sobre o seu comportamento socialmente responsável. Assim, nos anos 90, as empresas passam a desenvolver um laboratório de idéias sobre a responsabilidade social empresarial interna e externa. Contudo, como explicam Cheibub e Locke (2002), não faz sentido denominar de responsabilidade social empresarial o cumprimento da lei: Da mesma forma, não podemos chamar de responsabilidade social as ações, programas, benefícios, etc. que foram adotados pelas empresas como resultado de negociação trabalhista (acordo, convenção, etc.). Neste caso, estamos diante de uma questão de poder, barganha política, e não de responsabilidade social. (ibid.: 280) Fazer o bem compensa? | 75 Ou seja, a responsabilidade social empresarial contém em seu cerne a idéia de ir “além da lei”. Voltada ao público interno de uma empresa, a responsabilidade social empresarial pressupõe um modelo de gestão participativa e de reconhecimento dos empregados, no intuito de motivá-los a um desempenho ótimo que aumente a produtividade corporativa. Envolve, por exemplo, o projeto de qualidade de vida; a busca de condições favoráveis no ambiente de trabalho; o fornecimento de cesta básica de alimentos; a criação de condições de segurança; planos de saúde; plano de cargos e salários; qualificação profissional; etc. Além disso, a responsabilidade social das empresas tem aparecido através de programas de voluntariado, nos quais participam seus empregados, fornecedores e demais parceiros. Quanto ao foco externo, a responsabilidade social empresarial destina-se a programas e projetos comunitários que a empresa desenvolve por sua iniciativa, ou aquelas desenvolvidas através de parcerias com o governo, com ONGs e com a população organizada de comunidades de baixa renda. Esta modalidade é fortalecida no final dos anos 90 e adquire, também, o sentido de investimento social privado, que para fundações internacionais e agências de cooperação não se refere à operação de projetos próprios ou investimento direto nas comunidades do entorno da empresa. A instituição, no Brasil, que tem trabalhado sobre esta distinção é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que define o investimento social privado como: A doação voluntária de fundos privados de maneira planejada e sistemática para projetos sociais de interesse público. […] Diferentemente de caridade, que vem acompanhada da noção de prover assistência, investidores privados estão preocupados com os resultados obtidos, as mudanças geradas e a participação das comunidades na execução dos projetos. (GIFE, 2001) Portanto, por mais paradoxal que seja, diante da expansão de seu poderio e complexidade, o mercado passou a ter que enfrentar desafios éticos para as dimensões econômica, ambiental e social dos negócios, necessitando se articular constantemente com governos e com comunidades. Assim, inicia-se a ampliação normativa da responsabilidade social empresarial como uma matriz orientadora estratégica das empresas no mercado altamente competitivo. A organização não-governamental americana CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) e a SAI (Social Accountability International), fundadas em 1997 com o propósito de criar códigos de condutas para as empresas, elaboraram em 1998 o padrão Social Accountability 76 | Maria Alice Nunes Costa 8000 (SA 8000). A SAI reúne stakeholders estratégicos para desenvolver normas voluntárias baseadas no consenso, acredita organizações qualificadas para verificar o cumprimento de tais normas e promove a compreensão e a implementação das mesmas em escala mundial. Este padrão de sistema de verificação, que consiste nos mesmos critérios da ISO 9000, estabelece estratégias para garantir a qualidade nos negócios, baseando-se em normas dos direitos humanos internacionais, nos acordos de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas resoluções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como em toda legislação do país onde se encontra a empresa auditada. Em Janeiro de 2003, já haviam sido certificadas empresas em 30 países dos cinco continentes, representando 22 setores de atividades. Algumas empresas têm adotado códigos de ética que abrangem condutas de empregados, relações com a comunidade e o ambiente, fornecedores e prestadores de serviços, atividade política e tecnologia. Essas empresas passaram a ter duas metas dentro de suas estruturas éticas: obter vantagem competitiva e alcançar legitimidade empresarial. A legitimidade empresarial provém de metas, de propósitos e de métodos que sejam consistentes com os da sociedade. Assim, as organizações devem ser sensíveis às expectativas e aos valores da sociedade. Existem dois grandes códigos de conduta que as empresas internacionais, os governos e os sindicatos tem se comprometido a respaldar: a Declaração Tripartida da OIT e as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais. A Declaração Tripartida de princípios da OIT sobre as empresas multinacionais e a política social é composta por 58 cláusulas e foi adotada pelo Conselho de Administração da OIT em novembro de 1977. É um conjunto de recomendações relativas às práticas laborais básicas, fundadas nos princípios da OIT que abarcam questões sociais como emprego, capacitação, condições de trabalho e de vida e relações laborais. Em 2000, o Conselho Ministerial da OCDE adotou consideráveis revisões nas Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, aprovadas inicialmente em 1976. Essas revisões dizem respeito aos princípios e direitos dos trabalhadores enumerados pela Declaração da OIT, além da referência quanto às responsabilidades das empresas multinacionais com relação aos subcontratos e fornecedores e o respeito aos direitos humanos em geral. Especialmente importante foi a decisão de ampliar oficialmente a cobertura das Diretrizes para incluir nelas os operativos mundiais de multinacionais com sede em países que subscreveram esse documento (30 membros da OCDE mais Argentina, Brasil e Chile) (CIOLS, 2001). Ver www.cepaa.org. Fazer o bem compensa? | 77 No âmbito das Nações Unidas, foi lançado o Pacto Global pelo Secretário Geral, Kofi Annan, no Fórum Mundial Econômico de Davos, em 1999 e em Julho de 2000, em Nova Iorque. É um código de conduta, de adesão voluntária, para empresas e organizações, cujo objetivo é o de formar uma “aliança global” em torno da defesa de direitos e princípios reconhecidos internacionalmente e ratificada pela maioria dos governos. É uma iniciativa internacional, emoldurada no esforço conjunto de empresas, de agências das Nações Unidas e de agentes da sociedade civil e laboral. O código abarca nove princípios em três áreas: direitos humanos, direitos laborais e defesa do ambiente. No âmbito da União Européia, foi elaborado um documento sobre os caminhos para promover um quadro europeu para a responsabilidade social empresarial, que está contido no Livro Verde da Comissão Européia de 18 de julho de 2001. A definição de responsabilidade social empresarial é definida logo na parte introdutória: A responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. [...] Esta responsabilidade manifesta-se em relação aos trabalhadores e, mais genericamente, em relação a todas as partes interessadas afetadas pela empresa e que, por seu turno, podem influenciar os seus resultados. (Comissão das Comunidades Européias, 2001, parágrafo 8) Realizou-se em Portugal, em 2002, um amplo Seminário Nacional sobre Responsabilidade Social das Empresas, com a presença de empresários, governo e comunidade acadêmica, com o objetivo de refletir sobre uma proposta de responsabilidade social das empresas da seção portuguesa do Centro Europeu das Empresas com Participação Pública e Empresas de Interesse Econômico Geral (CEEP) e do Conselho Econômico e Social da União Européia (CES, 2003). A grande preocupação de Portugal, neste seminário, concentrava-se em entender as diretrizes da União Européia e de que forma poderiam ser adotadas tendo em vista a fraca industrialização de Portugal, associada com o nível social e de cumprimento das normas, aquém dos países europeus mais ricos. Entendeu-se aí que a adoção de responsabilidade social empresarial, apesar das pressões internacionais para a padronização, requer uma interpretação interna das conjunturas econômicas, sociais e políticas do país. No âmbito da América Latina, muitas organizações empresariais voltadas para a responsabilidade social estão ligadas através de uma rede de relações com a organização empresarial americana BSR (Business Social Responsa- 78 | Maria Alice Nunes Costa bility). Esta rede foi criada a partir de um encontro em Miami, Social Venture Network, em 1997, com o intuito de estabelecer um modelo de responsabilidade social empresarial para ser seguido na América Latina. Temos como exemplo o Instituto Ethos no Brasil, criado em 1998, a Acción Empresarial no Chile (1999), Fundemas em El Salvador (2000). Incluem-se ainda aqui organizações mais antigas, como a Mexican Center for Philanthropy e a Peru 2021, criada em 1994, além de outras organizações similares que estão ativas na Argentina, na Colômbia e Panamá. Essas organizações têm implementado uma ampla rede com ONGs locais e internacionais, agências governamentais, organizações multilaterais, universidades, centros de pesquisa, fundações filantrópicas americanas, através de uma agenda de conferências nacionais e internacionais sobre práticas de responsabilidade social empresarial na América Latina. No Brasil, de acordo com informações do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 2001), as 500 maiores empresas do país aplicaram cerca de US$500 milhões em projetos sociais no final dos anos 90. Esta pesquisa realizada pelo IPEA em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e a Comunidade Solidária de 1998 a 2001, revelou que cerca de 1.400 empresas injetaram um volume de R$3,5 bilhões em atividades sociais na região sudeste do país. O valor correspondeu a 30% dos investimentos estimados pelo governo para os estados da região Sudeste no mesmo ano, sem incluir os gastos da previdência social, e chegou a 1% do PIB do Sudeste. No Nordeste o investimento equivale a 4% e no Sul a 7% (IPEA, 2001). A mesma pesquisa apontou para o fato de que cresce entre as empresas o entendimento de que uma política de desenvolvimento social exige a participação empresarial em atividades sociais, desde pequenas doações eventuais a pessoas ou instituições até grandes projetos mais estruturados. Essa pesquisa mostra que o setor privado já pode ser considerado o grande interlocutor das políticas públicas do país no tocante às ações sociais. Das cinco regiões pesquisadas pelo IPEA, a que possuiu mais empresas investindo em projetos sociais é a Sudeste. Nesta região, 67% disseram realizar algum tipo de ação junto à comunidade, desde atividades eventuais até projetos de âmbito nacional – extensivos ou não aos empregados das empresas e seus familiares. Em seguida vêm o Nordeste (55%), Centro-Oeste (50%), Norte (49%) e Sul (46%). Resta ressaltar que o investimento da região Sudeste está atrelado ao seu processo de industrialização. Esta região é o dínamo industrial de todo o país e nela se concentra mais da metade da produção do país, sendo liderada pelo estado de São Paulo. Suas principais concentrações estão associadas às aglomerações metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Fazer o bem compensa? | 79 Em suma, no quadro atual de mudanças, a idéia de responsabilidade social empresarial surge e se fundamenta em uma nova percepção da gestão dos negócios, atuando como interlocutora perante o Estado e comunidades para a promoção do bem-estar social. De acordo com essa lógica, a gestão das empresas tem estimulado a criação de fundações e institutos empresariais que funcionam como o braço social das empresas, ao contrário das criadas anteriormente, que estavam vinculadas a filantropia pessoal de empresários. 2. O debate: fazer o bem compensa? O tema da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) está em moda, tanto no ambiente empresarial quanto no mundo acadêmico e nos media, e, por esta razão, mover-se nele é entrarmos em campo movediço e de batalha, na medida em que ele carrega tensões e, portanto, está longe de ser consensual. Alguns trabalhos mostram uma multiplicidade de definições e práticas empresariais que, muitas vezes, são contraditórias, incongruentes e divergentes. Além de não haver homogeneidade no pensamento empresarial sobre o que seja RSE, este movimento, dirigido pelas empresas, está impregnado de retóricas, discursos e ideologias. E, por estar em pleno curso e em ebulição, dificulta-nos a nos empreendermos por um caminho que ultrapasse essa dimensão. Desta maneira, a maioria dos trabalhos passa a interpretar o atual movimento da RSE por dois pólos opostos: aqueles que reproduzem e defendem as suas iniciativas, em seu papel de redenção de empresa-cidadã; e outros, que apontam esses esforços como um simples simulacro da idéia de benevolência, por distrair a atenção dos genuínos problemas da ética nos negócios e dos problemas sociais que acarretam as populações mais pobres. Visto isso, não pretendemos afirmar que uma ou outra apenas esteja correta. Ambas são pertinentes em contexto de ampla complexidade frente aos inúmeros problemas sociais. Contudo, é por entender que não há homogeneidade na idéia de responsabilidade social empresarial, que precisamos compreendê-la dentro do contexto da atual das relações sociais e de governação entre o Estado, as empresas e a comunidade em interface com o contexto das mudanças econômicas, políticas e sociais que emergem. Sendo assim, mais do que julgar, nosso objetivo é o de refletir que as práticas de responsabilidade social empresarial e, em particular, de investimento social privado, envolvem uma nova forma de coesão social expressa em situação específica. Isso requer um processo de tradução das experiências possíveis e disponíveis, que incluem realidades que ultrapassam a dicoto mia do bom/mau e nas quais se confrontam e dialogam diferentes processos, 80 | Maria Alice Nunes Costa práticas e experiências em movimento. Nelas encontramos racionalidades híbridas, que contêm a idéia de reciprocidade e solidariedade e até mesmo da maximização dos interesses egoístas. Não tem sido tarefa fácil para as empresas categorizar ou quantificar os benefícios quando adotam ações de responsabilidade social. No entanto, as gestões se debatem sobre quais seriam os resultados organizacionais se tais ações não fossem desencadeadas. Neste cálculo está em jogo sua contribuição para manter o equilíbrio social, minimizando os conflitos sociais, e sua reputação política perante o Estado e a sociedade. Prevenir os riscos de poluição, de reputação ou sociais pode tornar-se mais rentável que o dever de pagar pelas suas conseqüências; contudo, isto é avaliado pelas empresas dentro do cenário da complexidade política e tecnológica. Esses fatores podem ser uma alavanca para a adoção da política de gestão em responsabilidade social empresarial. A maioria dos empresários que trabalha com a gestão da responsabilidade social empresarial afirma que ela deve ser trabalhada no domínio da estratégia da empresas. Não deve ser confundida com a caridade, mas sim entendida como algo fundamental à consolidação da empresa. Há que considerar a possibi lidade de perda de ganho social em relação à prática de empresários perdulários e imprudentes que geram desperdícios, desemprego ou poluição ambiental. Porter e Kramer (2002) acreditam que a utilização da responsabilidade social das empresas permite o alinhamento dos objetivos sociais e econômicos e incrementa o potencial de desenvolvimento da empresa a longo prazo. Além disso, atuando sobre o contexto, a empresa obtém mais rendimento, mas também alavanca as suas capacidades e os seus relacionamentos no apoio a causas sociais. Como afirmam os autores: Não há nenhuma contradição entre melhorar o contexto competitivo e denotar um sério empenho no melhoramento da sociedade. De fato [...], quanto mais a filantropia empresarial se direciona para seu contexto competitivo, mais volumoso é o contributo da empresa para a sociedade. (ibid.: 68) Do outro lado, há aqueles que devotam à responsabilidade social empresarial veemente oposição, tanto no sentido econômico, como no sentido político mais amplo. No sentido econômico, a referência obrigatória é Milton Friedman, que afirmou em Capitalismo e Liberdade (1985) que a essência da própria responsabilidade social das empresas consiste fundamentalmente na maximização de seus objetivos produtivos, dentro dos ditames da lei. Caso as empresas pretendam ir além, elas estarão sendo irresponsáveis, pois desperdiçarão recursos sociais produtivos. Fazer o bem compensa? | 81 No campo do debate econômico mais recente, contrário à responsabilidade social empresarial, destaca-se David Henderson (2001), que já foi o principal economista da OCDE. Com seu livro Misguided Virtue: False Notions of Corporate Social Responsability colocou uma crítica severa em relação à responsabilidade social empresarial, argumentando que, embora os “doutrinadores” da RSE pretendam que ela confira ao capitalismo uma “face humana” e proporcione às empresas o seu desenvolvimento sustentável, os efeitos podem ser contraproducentes. A tese de Herderson contesta mesmo os trabalhos e os princípios propalados por diversas instituições que fomentam a idéia da RSE. Para Henderson, a RSE assenta numa perspectiva errada e a sua adoção generalizada reduzirá a prosperidade e prejudicará a economia de mercado (ibid.: 18). Sua preocupação está em que o mercado dos países pobres assuma custos adicionais exigidos por padrões internacionais, o que acabará limitando, ainda mais, sua concorrência e piorando o desempenho global da economia como um todo. O autor defende que as atividades empresariais não estão dispensadas do exercício de juízos morais. Contudo, é incumbência do Estado e dos governos, e não das empresas e dos gestores, decidir o que é do interesse público e quais as medidas a tomar para que a busca, pelas empresas, da maximização do lucro contribua para servi-lo. No âmbito do debate sobre os riscos políticos da intervenção social das empresas no espaço público, Cheibub e Locke (2002), ao analisar diferentes modelos de responsabilidade social empresarial, afirmam que o principal problema é que seus argumentos assumem que todos os outros atores sociais ganham com a adoção de responsabilidade social. Desta maneira, não há a consideração da dimensão política na promoção do bem público. Assim, os autores questionam a maneira pela qual as empresas estariam sendo mais responsáveis: provendo diretamente bem-estar ou fortalecendo o Estado para que ele garanta a universalidade dessa provisão? Os autores acreditam que há um risco político dessas ações sociais estarem sendo promovidas pelo setor privado, pois podem distorcer o conceito de direitos universais derivados da cidadania, por privilegiar certas necessidades em detrimento de outras e pelo aumento do poder das empresas no controle dos bens coletivos. Ou seja, as ações sociais empresariais podem ser do real interesse maximizador das empresas e dos empresários, mas podem também solapar o bem público. Em outro trabalho, Paoli (2003), ao avaliar as ações sociais empresariais como uma possibilidade de conter em seu cerne um potencial contra-hegemônico ao modelo neoliberal, conclui que, na verdade, por mais inovador, 82 | Maria Alice Nunes Costa competente e envolvido do apelo de ativismo social por uma nova forma de solidariedade, esse fenômeno mostra a face mais conservadora da solidariedade privada: retira da arena política e pública os conflitos distributivos e a demanda coletiva por cidadania e igualdade. Para a autora, o centro da reflexão em torno da ação empresarial é a disputa por uma “nova forma de regulação social que aceite, ou recuse, legitimar-se por via da deliberação ampliada sobre a interdependência dos bens públicos e privados” (ibid: 380). Ela afirma que essas ações sociais adaptam-se com vantagens às formas do lucro empresarial, preconizando a iniciativa individual e privada contra a ineficiência burocrática do Estado e a politização dos conflitos sociais. Desta forma, as empresas afirmam sua disponibilidade civil em contribuir, no âmbito privado e mercantil, para a redefinição do modo de operar as políticas públicas que se dirigem à integração social e profissional de parcelas da população. Tais ações domesticam o alcance político próprio da noção de bens públicos à eficiência dos procedimentos privados de gestão, intervindo de modo pulverizado ao abrigo das preferências privadas de financiamento. As ações filantrópicas empresariais rompem com a medida pública ampliada entre necessidades e direitos e, portanto, não criam seu outro pólo: o cidadão participativo que vá além de um beneficiário passivo. Enfim, diversos autores apontam que as ações de responsabilidade social empresarial nada mais são do que um artifício para usar a questão social como campanha publicitária para encobrir as causas geradoras da real problemática, dentro da matriz neoliberal. Um golpe duro ao princípio de universalidade dos bens públicos e à condição do direito de cidadania. Ou seja, a intervenção social empresarial não é universalizante. Constata-se que estas críticas provêm de um importante raciocínio crítico, porém tautológico, na medida em que circula apenas na crítica ao movimento empresarial, esquecendo-se de que a responsabilidade social empresarial articula-se com a atuação do Estado, dos governos e das comunidades. Empresários entrevistados para a pesquisa “A Responsabilidade Social das Empresas no Brasil” (Cappellin et al., 2000) apontaram que suas associações estabelecem uma clara distinção entre responsabilidade pública e privada. Mesmo concordando com a idéia de que a elevação dos níveis de escolaridade e a boa saúde dos cidadãos sejam fatores estratégicos para o desenvolvimento das empresas, esperam que a promoção da educação e da saúde seja responsabilidade do Estado e que ele cumpra com sua obrigação. As empresas se tornam promotoras de iniciativas na área social somente quando tais ações podem resultar em externalidades positivas ou em vantagens comparativas para as próprias empresas. Fazer o bem compensa? | 83 Portanto, dois fatos incitam outros questionamentos acerca das críticas colocadas. O primeiro fato é que nem todas as empresas realizam a denominada responsabilidade social empresarial e, aquelas que o fazem, muitas vezes engajam-se em projetos em parcerias com o Estado. As próprias empresas colocam a necessidade de se articularem com o Estado, provavelmente, para legitimar suas ações sociais ou em face do reconhecimento de seu próprio limite. Desta forma, o papel do Estado não é dispensável na maioria dessas ações. O segundo fato refere-se à crítica de que o poder econômico das empresas possa gerar poder social e minar a autonomia e a força integrativa dos atores sociais. Entendo que a própria disputa política e ideológica pela promoção do bem público, entre empresas e o Estado, é intermediada pelos beneficiários desses bens – os cidadãos, as comunidades. Apesar dos seus limites, não acredito na subserviência ou na passividade do papel dos cidadãos no contexto atual. Portanto, aqui o objetivo é refletir sobre em que medida o investimento em ações sociais do empresariado, configurado através de redes sociais entre o Estado e a sociedade civil organizada, influencia a arena política e pública na demanda pelos direitos de cidadania. Será que podemos entender que quando esses três atores sociais atuam conjuntamente no espaço público na promoção do bem-estar social estamos observando a emergência uma nova forma de coesão social? 3. A responsabilidade social empresarial na governação do espaço público Conforme Isabel Guerra afirma, assistimos hoje à construção de “novas políticas públicas” produzidas através de uma determinada racionalidade e leitura da realidade social de um conjunto diversificado de atores sociais: por um lado, pela lógica do Estado e, por outro lado, pelos atores em situação de exclusão (Guerra, 2000: 52). Porém, a partir do movimento social empresarial, devemos incluir também os agentes econômicos na lógica dessas “novas políticas públicas”. As empresas têm ultrapassado os limites do privado e avançado no espaço público para construir políticas sociais, em conjunto com governos e movimentos sociais populares. Mesmo que sejam produzidas por um ambiente restrito de empresários, essas políticas têm assumido fortes conexões de negociação da ação coletiva. Nesse sentido, acrescentar os agentes econômicos a essas “novas políticas públicas” é mais um elemento preocupante na dicotomia inclusão/manipulação. 84 | Maria Alice Nunes Costa Portanto, podemos entender que, na modernidade contemporânea, e de acordo com Isabel Guerra: [...] as políticas públicas são o resultado de processos de negociação em contextos de poder desiguais, funcionando como mecanismos de regulação social e de governação [...], não são factores de dominação ou de emancipação, já que contêm simultaneamente tendências hegemônicas e contra-hegemónicas, não sendo estádios de desenvolvimento, mas dimensões inerentes às formas de constituição da vida social. (ibid.: 53) Desta forma, nossa atenção deve ser redobrada, já que novos dilemas e desafios são colocados para a produção de políticas sociais, nas quais múltiplas subjetividades coletivas aparecem como responsáveis pela solidariedade social, antes confinada no Estado. Hoje, observamos que a triangulação da regulação social – entre Estado, mercado e comunidade – se modificou. No âmbito da solidariedade da comunidade, a sociedade-providência se formalizou e ultrapassou os limites do espaço doméstico para alcançar o espaço público. O espaço vazio deixado pelo Estado (ou o seu acentuado recuo) fez com que a sociedade-providência avançasse no espaço público, criando linhas paralelas que se entrecruzam com o Estado-Providência a partir de projetos para o bem-estar coletivo, como observamos na emergência de organizações não-governamentais ou associações de solidariedade social (Santos, 1995). E pelo lado das empresas, elas aproveitaram as fissuras deste espaço e passaram a se interconectar com o Estado-Providência e com essa sociedade-providência, mais formal, discutindo e promovendo seus próprios paradigmas do que seja a questão social, através do investimento social privado. Esta interconexão de ações sociais tem hoje, no Brasil, sido incentivada pelo próprio Estado. Há que ressaltar que algumas empresas ainda resistem em envolver-se com entidades governamentais na produção de políticas de bem-estar e elaboram autonomamente seus projetos. Contudo, diversos organismos internacionais e agências de fomento econômico têm, no momento, atuado na direção de sensibilizar as empresas a atuar em parceria com governos e comunidade, até mesmo como exigência de contrapartida para financiamento. Os benefícios do investimento social privado, para as empresas, não é controlado ou mensurado com exatidão. O que existe é uma expectativa empresarial que essas iniciativas se convertam em rentabilidade. As perspectivas empresariais quanto à RSE não são conhecidas antecipadamente, devido ao próprio contexto de incertezas. É na prática e na relação entre Fazer o bem compensa? | 85 atores envolvidos, no seio da empresas e no seu ambiente de atuação, com suas contradições e arbitragens, que as ações são determinadas, evoluem ou não, pois os conflitos fazem parte na dinâmica do tecido social. Portanto, é uma escolha política significativa que deve ser analisada dentro de um enquadramento contextual, em que a regulação social atual está envolvida por uma configuração pluralista, polifórmica, policêntrica, portanto, de complexidade. Não basta isolar o fenômeno da responsabilidade social empresarial e tratá-lo como estratégia maléfica à dimensão política emancipatória. Cabe antes reconhecer que sua ação está relacionada aos vínculos com outras institucionalidades da coordenação social, na medida em que ela se desenvolve em interface com o Estado e com a comunidade na dinâmica da regulação social. Desta maneira, acredito que as iniciativas sociais empresariais devam ser incorporadas em outro espaço da regulação social. Um outro espaço que atue em simetria com os princípios e valores do Estado-Providência (legitimidade, cidadania e provisão do bem comum) e com os da sociedade-providência (reciprocidade e identidade). Desta forma, defino este outro espaço da regulação social, criado pela expansão da responsabilidade social empresarial, como empresa-providência. Em princípio, poderíamos acreditar que as ações sociais realizadas pelas empresas seriam nada mais do que ações de uma sociedade-providência que se tornou mais formal, complexa e abstrata. Contudo, a prestação da solidariedade da sociedade-providência, conforme Boaventura de Sousa Santos (1995), não está sujeita a um cálculo econômico, mas é feita nas possibilidades econômicas da teoria da dádiva. Mesmo que as empresas estejam orientadas pelos valores de solidariedade, reciprocidade e cooperação ao promover políticas sociais, suas ações não são regidas pelo valor da dádiva, como explícito na sociedade-providência, onde o ato de doar vai muito além de qualquer perspectiva utilitarista ou de exclusivismo econômico sobre as trocas sociais. A doação empresarial, apesar de não ser orientada exclusivamente pela maximização do lucro, não pode afetar ou colocar em risco a lucratividade das empresas. Usar o termo empresa-providência pode ter alguns inconvenientes. O primeiro é associar às empresas a providência. O termo providência aliado às empresas pode nos causar um certo desconforto, no sentido em que ele carrega em sua semântica uma idéia religiosa da suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Nesse sentido, usar o termo providência é assumirmos – inconscientemente – que as medidas serão determinadas 86 | Maria Alice Nunes Costa ou inspiradas pela Providência Divina e terá um acontecimento feliz. Isso é ainda mais claro nos países de origem católica, onde Estado e Igreja estiveram por muito tempo associados. Na medida em que nos afastamos da idéia maniqueísta do significado de providência, passamos a adotar o termo no sentido de: tomar providência à cerca de; atender às necessidades; dar ou tomar providências; acudir, atender. Assim, os contextos históricos e sociais têm nos mostrado o papel do Estado-Providência e da sociedade-providência na provisão do bem-estar. Contudo, o sentido dado por cada um ao termo providência é seletivo e seu movimento em prover é resultado de diferentes motivações e racionalidades. A empresa-providência emerge e interpela a regulação social com uma racionalidade híbrida e intersubjetiva, em que valores de rentalidade/eficiência estão embricados com os de solidariedade social. Desta forma, a política social será entendida como atividade privada, não-obrigatória. Mesmo que suas motivações se entrecruzem com o bem-estar da sociedade, o impulso do movimento social empresarial é o de estabelecer o equilíbrio social, contrabalançar, reparar o dano, indenizar e recompensar a sociedade. Para Hodgson (1994), a empresa não existe apenas num mar de relações de mercado; ela existe também numa rede vital de laços contratuais estabelecidos que são, em parte, criados por ela mesma. Nesse sentido, a confiança e a cooperação são valores importantes na eficiência da empresa. A empresa é, portanto, um locus em que as relações humanas estão em constante desenvolvimento, como instituição social. Isto não quer dizer que para o autor, as empresas capitalistas sejam instituições de beneficiência e filantropia. O que ele afirma é que alguns elementos extra-contratuais, como a lealdade e a confiança (mesmo que pequena) são essenciais ao funcionamento da empresa, pois criam uma relativa estabilidade interna para conviver em ambiente de incerteza e riscos inquantificáveis, que seriam evitados na volatilidade do mercado. Mesmo concordando que as empresas não são mercado, não podemos perder de vista que elas são a principal instituição do mercado. E que o seu crescimento explosivo influenciou a capacidade de regulação nacional da economia e os mecanismos de regulação dos conflitos entre capital e trabalho, invadindo o princípio do Estado e da comunidade e tendendo a dominálos de forma profunda (Santos, 1999: 89). Em última instância, podemos entender que a empresa-providência faz parte do “novo espírito do capitalismo” (Boltanski e Chiapello, 2000), na medida em que busca argumentos orientados ao bem comum, incorporando pontos de apoio moral e de dispositivos de justiça no sentido de contribuir para justificar a ordem estabelecida e mantê-la, legitimando os modos de Fazer o bem compensa? | 87 ação que são coerentes ao capitalismo. Contudo, é no embate entre forças políticas emancipatórias no enfrentamento da ordem estabelecida que poderemos vislumbrar a transformação social. 4. À guisa de conclusão No atual cenário da regulação social, importa compreendermos a relação social produzida na rede de relações entre empresa-providência, Estado-providência e sociedade-providência, na provisão da solidariedade com o bem comum. O uso semântico do termo empresa-providência, em analogia aos outros dois, coloca em jogo a tentativa das empresas de deslocar a relação cliente-consumidor (própria das empresas) para o espaço de cidadania, gerando uma outra relação: a de consumidor-cidadão. Este conceito de empresa-providência, aqui definido, é o espaço onde se realiza uma atuação política e pragmática (individual e/ou coletiva de empresas) de reconversão de parte do investimento do capital privado em serviços de interesse público e de desenvolvimento social para trabalhadores e comunidades, através de doação, filantropia, parceria de capital, práticas de boa conduta e de responsabilidade social empresarial. Resta ressaltar que essas ações devem estar alinhadas com os objetivos estratégicos das empresas, de seus acionistas e do crescimento sustentado do mercado. A atuação da empresa-providência tem se dado através de redes sociais e da relação entre o Estado, governos e a comunidade. É desta maneira que avança nas esferas cultural, social, política e das subjetividades coletivas. Captura e absorve tanto os princípios de solidariedade do Estado quanto da comunidade e cria um novo espaço para regular o bem comum. Acredito que, desta forma, alguns conflitos sociais podem ser absorvidos pelo universo empresarial através da provisão das demandas sociais e, consequentemente, poder-se-á criar uma outra forma de solidariedade societária: controlada e domesticada. Contudo, diante do risco político do investimento social privado enfraquecer o espaço público na luta pelos direitos de cidadania, este só poderá ser enfrentado no palco de discussões entre o Estado – que controla, fiscaliza e protege o bem público –, a comunidade organizada e as empresas. As opções das lideranças políticas nacionais e suas coalizões são aspectos decisivos na definição das políticas sociais a serem implementadas. Ignorar o peso dessas conduções implica isentar os governantes de turno da sua responsabilidade pelas decisões tomadas e pelos seus resultados. Desta forma, o investimento social privado só terá malefícios enquanto houver um Estado e um governo paralítico e uma comunidade alheia aos negócios públicos. 88 | Maria Alice Nunes Costa Referências Bibliográficas Ashley, Patrícia Almeida et al. (2000), Responsabilidade social corporativa e cidadania empresarial: uma análise conceitual comparativa. São Paulo: Anais do 24º Encontro Nacional da ANPAD. Beghin, Nathalie (2003), A filantropia empresarial: nem caridade, nem direito. Brasília : Departamento de Serviço Social – Universidade de Brasília, Dissertação de Mestrado. Boltanski, Luc; Chiapello, Eve (2002), El nuevo esprito del capitalismo. Madrid: Akai. Cappellin, Paola (2004), “A igualdade das oportunidades nas relações de trabalho: a ética de reparação antecede o dever de responsabilidade”, in Ana Alice Costa et al. (orgs), Reconfiguração das relações de gênero no trabalho. São Paulo: CUT. Cappelin, Paola et al. (2000), “As organizações empresariais e a responsabilidade das empresas”, in A. Kirschner; E. Gomes; P. Cappellin (orgs.), Empresa, empresários e globalização. Rio de Janeiro: FAPERJ e Relume Dumará. CES – Conselho Económico e Social (2003), Seminário: a responsabilidade social das empresas. Lisboa: Centro de Documentação e Informação do Conselho Económico e Social, Série Estudos e Documentos. Cheibub, Zairo B.; Locke, Richard M. (2002), “Valores ou interesses? Reflexões sobre a responsabilidade social das empresas”, in A. Kirschner; E. Gomes; P. Cappellin (orgs.), Empresa, empresários e globalização. Rio de Janeiro: FAPERJ e Relume Dumará. CIOLS – Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres (2001), Una guía sindical sobre la mundializacíon (versão electrónica: http://www.icftu.org/pubs/ globalisation). Comissão das Comunidades Européias (2001), Livro Verde da Comissão Europeia: promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas. Bruxelas: CCE. De Swaan, Abram (1992), A cargo del Estado. Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, S.A. Delgado, Ignácio Godinho (2001), “Empresariado e política social no Brasil”, in A. Kirschner; E. Gomes, Empresa, empresários e sociedade. Rio de Janeiro: Sette Letras. Duarte, Gleuso Damasceno; Dias, José Maria (1986), Responsabilidade social: a empresa hoje. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. Friedman, Milton (1985), Capitalismo e liberdade. São Paulo: Nova Cultura. Galbraith, John Kenneth (1982), O novo estado industrial. São Paulo: Abril Cultural. GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (2001), Investimento social privado. Perfil e catálogo dos associados. São Paulo: GIFE. Guerra, Isabel (2002), “Cidadania, exclusões e solidariedades. Parodoxo e sentidos das ‘novas políticas sociais’”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 63. Henderson, David (2001), Misguided Virtue: False Notions of Corporate Social Responsibility. London: Institute of Economic Affairs. Fazer o bem compensa? | 89 Hodgson, Geoffrey M. (1994), Economia e instituições: manifesto por uma economia institucionalista moderna. Oeiras: Celta Editora. Hunter, James Davison (1999), “La guerra cultural americana”, in P. Berger (org.), Los límites de la cohesión social. Conflitos y mediación en las sociedades pluralistas. Barcelona: Galaxia Gutemberg e Círculo de Lectores. IPEA (2001), A iniciativa privada e o espírito público – um retrato da ação social das empresas. Relatório de pesquisa. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Keynes, John Maynard (2002), “Força própria”, Jornal Valor Económico, Cadernos Eu & Comunidade, Rio de Janeiro, 14 nov. Offe, Claus (2000), “A atual transição da história e algumas opções básicas para as instituições da sociedade”, in L. C. Bresser Pereira et al. (org.), Sociedade e Estado em transformação. São Paulo e Brasília: ENAP, UNESP e Imprensa Oficial. Paoli, M. Célia (2003), “Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da cidadania no Brasil”, in Boaventura de Sousa Santos (org.), Democratizar a democracia – os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira. Porter, M. E.; Kramer, M. R. (2002), “The Competitive Advantage of Corporate Philanthopy”, Harvard Business Review, december, 56-68. Santos, Boaventura de Sousa (1995), “Sociedade-providência ou autoritarismo social”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 42, i-vii. Santos, Boaventura de Sousa (1999), Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Ed.Cortez. Toffler, Alvin (1995), A empresa flexível. Rio de Janeiro: Record. Weinstein, Bárbara (2000), (Re)formação da classe trabalhadora no Brasil, 1920-1964. São Paulo: Cortez. Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 91-110 Jacob Carlos Lima Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho: As experiências com cooperativas de trabalho no Nordeste brasileiro Este artigo analisa a nova industrialização do Nordeste brasileiro, resultante de políticas de atracção industrial a partir dos anos 90 e caracterizada por incentivos fiscais a indústrias de uso de trabalho intensivo, como calçados e confecções, e pela indução de organização de cooperativas de trabalhadores para externalizar a produção e reduzir os custos com a mão-de-obra. Esse processo foi mais significativo no estado do Ceará. As cooperativas foram instaladas no interior do estado, com oferta abundante e barata de mão-de-obra sem outras opções de emprego e com inexistência de actividade sindical. Esse processo ocorreu num contexto de reestruturação económica e mudanças políticas de carácter neoliberal do Estado brasileiro, marcado pela abertura do mercado interno às exportações, a desnacionalização de sectores produtivos, a relocalização industrial e a modernização tecnológica. Este artigo pretende analisar a nova industrialização do Nordeste brasileiro, resultante de políticas de atração industrial a partir dos anos 90, caracterizada por incentivos fiscais a indústrias de uso de trabalho intensivo, como calçados e confecções, e a indução de organização de cooperativas de trabalhadores para terceirizar a produção e reduzir custos com a força de trabalho. Deter‑nos‑emos no estudo do estado do Ceará, onde esse processo foi mais significativo. As cooperativas foram instaladas no interior do estado, na região semi-árida, com oferta abundante de força de trabalho, sem outras opções de emprego e inexistência de atividade sindical. Esse processo deu-se num contexto de reestruturação econômica e mudanças políticas de caráter neoliberal do Estado brasileiro, marcado pela abertura do mercado interno às exportações. A busca por redução de custos significou eliminação ou desnacionalização de setores produtivos, relocalização industrial e A pesquisa de campo foi realizada entre 1997 e 2000 e entre 2002 e 2004, com visitas a cooperativas, observação do processo produtivo, entrevistas e questionários com dirigentes, trabalhadores e sindicalistas. Teve apoio financeiro da FINEP e CNPq. 92 | Jacob Carlos Lima modernização tecnológica em busca de competitividade internacional. Para os trabalhadores, a redução de custos significou ataques sistemáticos à regulamentação do mercado de trabalho e a utilização de formas alternativas de utilização da força de trabalho fora das relações salariais, alterando o significado de formas de organização do trabalho que, originalmente, pressu punham a autonomia, participação e posse coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores. 1. Os novos espaços produtivos A busca da redução de custos pelas empresas torna a mobilidade espacial um fenômeno global. Áreas antes marginais do processo produtivo, agora são “incluídas” no fluxo de uma economia internacionalizada. Áreas de industrialização antiga, com mão-de-obra treinada e organizada, são abandonadas por áreas que, mesmo sem possuir essas condições, permitem o barateamento do custo do trabalho. Ocorre, então, a ressignificação dos lugares. Segundo Dupas (1999), dentro do período conhecido como acumulação fordista, mais especificamente no final dos anos 60 e começo dos anos 70, houve uma expansão de indústrias multinacionais em direção à periferia do sistema capitalista, em busca de “lugares” que oferecessem possibilidades de expansão rentáveis de investimento, em contraposição à “rigidez” das relações de trabalho nos países centrais e à força do movimento sindical do período. Esse processo impulsionou a industrialização por substituição de importações em países da América Latina e Sudeste Asiático, fazendo surgir um operariado “moderno” nesses países, com grande capacidade de mobilização. Com o aprofundamento da internacionalização da economia, fracionam-se as cadeias produtivas com a formação de redes empresariais e o surgimento de empresas virtuais, que criam produtos fabricados, em partes ou em sua totalidade, em empresas menores distribuídas pelo mundo. Ao mesmo tempo em que se desconcentram os espaços produtivos, concentram-se cada vez mais os núcleos de decisões nas chamadas cidades globais (Sassen, 1998) dos países desenvolvidos, que se articulam com cidades globais situadas nos países emergentes. Nessas cidades situam-se os recursos e a mão-de-obra qualificada. Nos demais espaços, distribui-se a produção com trabalho intensivo e mão-de-obra desqualificada, incorporando novos territórios à economia globalizada. A ressignificação do território e sua produção, resultado dos sistemas informacionais, dar-se-ia pela composição de malhas, nós e redes coordenados por empresas. No novo desenho, o Estado e as fronteiras nacionais estariam perdendo o papel em sua determinação. Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 93 Dispersão e concentração das atividades produtivas marcam a nova divisão internacional do trabalho, mesmo considerando que o crescimento das indústrias de informações e a consequente transmissão automática de dados dão a impressão de que o “lugar” não tem importância. O gerenciamento e controle das operações exigem, segundo Sassen (1998: 16), lugares centrais onde é desenvolvido o trabalho globalizado, o qual necessita de vasta infraestrutura física, com a hiperconcentração de determinados meios, tais como telecomunicações, serviços especializados variados exigidos pelas tecnologias de informação, e para o controle e manutenção de uma rede global de fábricas e operações ligadas a serviços e mercados. Nas últimas décadas do século XX, com o aumento da mobilidade do capital em termos transnacionais, originaram-se novas articulações entre diferentes áreas geográficas, assim como novos papéis a serem desempenhados por esses “lugares”. Entre os tipos mais conhecidos de localização para essa produção internacional, estariam os centros bancários off shore e as zonas de processamento de exportações, que assumem configurações distintas conforme o país em que se inserem. Para Sassen (1998), as cidades permanecem como lugares destinados a certas atividades e funções. Atuam como elos de uma rede, onde o controle econômico e da propriedade situa-se em cidades “globais” que funcionam como pólos de comando da economia mundial, mercados das novas indústrias e lugares de produção das inovações e de concentração de mão-de-obra: de trabalhadores altamente qualificados, a prestadores de serviços dos mais diversos e em relações de trabalho diferenciadas. A criação de redes controladas pela eletrônica, telemática, enfim, pelas novas tecnologias informacionais, reordena os espaços geográficos (realidade material pré-existente), territorializando ou desterritorializando as sociedades pelas práticas sociais. Na periferia desse processo, situam-se cidades e territórios incorporados à produção global, que se tornam estratégicos a partir do barateamento da produção, propiciada por: legislações favoráveis aos investimentos, isenções de impostos, mão-de-obra abundante, barata e desorganizada, com processos produtivos tradicionais, trabalho intensivo e baixa incorporação de tecnologia. A informatização do controle permite às empresas matrizes acesso aos dados das empresas terceiras espalhadas pelo mundo. São espaços reapropriados funcionalmente, espaços dominados que perdem sentido, em termos de significação comunitária. Para Santos (1999), o território incorpora sistemas naturais, sua base técnica e práticas sociais; assim, não haveria uma desterritorialização, mas uma revitalização do território a partir da mundialização da economia. As 94 | Jacob Carlos Lima novas técnicas multiplicariam a produtividade a partir de lugares, e por suas distintas capacidades de oferecer uma produtividade maior ou menor, produtividade esta que deixa de ser atributo de uma empresa, mas que se constitui atributo de lugares. Ao escolher cidades e regiões de um determinado país, as empresas exigem infra‑estrutura adequada a seus investimentos, assim como condições políticas adequadas. São zonas de processamento de exportações, em países periféricos, onde as fábricas são implantadas para processar ou montar componentes trazidos de países centrais e reexportadas para esses mesmos países. São fábricas ou maquiladoras, situadas em diversos países que alteram sua legislação para aceitar esse tipo de atividade em seu território. É também a partir dessas condições que os “lugares” disputam a atração de novos investimentos como forma de serem incluídos nos fluxos da economia global. Segundo Arbix e Rodrigues-Pose (1999), a abertura econômica dos países em desenvolvimento, em tese, traria efeitos positivos na direção de uma maior igualdade inter-regional. Isso pela demanda de trabalho não-qualificado, embora alfabetizado, resultante de economias de exportação, o que acarretaria uma redução das disparidades regionais nos países, considerando a capacidade de cidades ou regiões na formulação de estratégias de competição territoriais exitosas. Todavia, a questão é polêmica, uma vez que a competição pode neutralizar efeitos positivos de uma maior integração econômica. A partir da abertura econômica brasileira e da formação do Mercosul, o país recebeu uma quantidade de investimentos estrangeiros diretos nunca vistos, entre os quais se destaca a implantação de grandes montadoras de automóveis e de empresas que compõem essa rede produtiva. Desencadeia-se, a partir daí, uma disputa territorial por esses investimentos entre os estados da federação, que será conhecida como “guerra fiscal”. Para Santos (1999), a produtividade e competitividade empresarial transcendem as estruturas internas corporativas e passam a ser atributo dos lugares, que agregam valor aos investimentos. Com isso, a “guerra fiscal” refletiria uma guerra global entre “lugares”. No Brasil do final dos anos 80, a reestruturação produtiva reduziu radicalmente os empregos com novas tecnologias e formas de gestão, privatização de empresas estatais, deslocamento espacial de indústrias em busca de redução de custos e maior competitividade internacional. Alterou-se a configuração espacial da produção industrial no país com a incorporação de áreas antes marginais a esse processo, que adquiriram nova significação. É nesse contexto que o Nordeste do país se inseriu na “guerra fiscal”. Não em busca de grandes montadoras de automóveis, mas na atração de setores de mão-de-obra intensiva como o setor do vestuário, conforme veremos a seguir. Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 95 2. Guerra fiscal e relocalização industrial O setor do vestuário, que engloba confecções e calçados, caracteriza-se pela heterogeneidade e diversidade de seus processos produtivos ditados pela sazonalidade da demanda (Abreu, 1986). Apesar das inovações tecnológicas, normalmente restritas a grandes unidades produtivas, a costura propriamente dita constitui-se em um “gargalo” de produção, exigindo a utilização de grandes contingentes de força de trabalho em razão da multiplicidade de tarefas requisitadas conforme a peça realizada. Com isso, as grandes unidades fabris trabalham com produtos estandardizados, ficando as peças mais diversificadas e que exigem maior detalhamento com pequenas e médias unidades fabris, ou com uma infinidade de ateliês domiciliares, que possibilitam a flexibilidade produtiva exigida pelo mercado e pelas variações da moda. Essas unidades menores podem ou não trabalhar de forma terceirizada e, no seu conjunto, respondem pelo maior contingente de trabalhadores empregados. A relação imediata máquina de costura-operador ainda é predominante no processo produtivo, o que torna o trabalho intensivo uma característica do setor, apesar do avanço das inovações tecnológicas. A subcontratação de trabalhadores domiciliares que realizam tarefas específicas por encomendas é tradicional nesse ramo produtivo, e a novidade, se assim pode ser considerada, estaria na mobilidade espacial das grandes indústrias em busca de menores custos para atender a um mercado cada vez mais globalizado, assim como na utilização de formas de terceirização, até então pouco usuais. A produção do vestuário é uma das mais globalizadas indústrias, estando presente, de forma simultânea, em mais de 40 países, do sudeste da Ásia à América Latina, Caribe e Europa, capitaneadas pelas TNC – Transnational Corporations, empresas globais que, através de tecnologias informacionais, coordenam a fabricação de produtos em múltiplos locais simultaneamente. Utilizando tecnologias simples, baseadas na relação trabalhador-máquina de costura, são indústrias caracterizadas pela utilização de trabalho intensivo. Sua expansão por países de regiões não industrializadas ou de industrialização recente, resulta na proletarização de trabalhadores engajados originalmente na agricultura ou em atividades não capitalistas, que passam a ser incorporados como força de trabalho industrial. São trabalhadores, mulheres em sua maioria, que passam a constituir uma primeira geração – em grande medida – de trabalhadores de formas assalariadas distintas, sendo vulneráveis às condições de extrema exploração do trabalho (Bonacich et al., 1994). O caráter assumido por essas indústrias reflete uma forma global de guerra fiscal e de arranjos legais que criam distintos formatos de organização 96 | Jacob Carlos Lima e gestão da produção. Uma delas são as fábricas maquiladoras. Surgidas inicialmente no México, trabalham com produção em massa, lotes padronizados e exigências de produção simples. Montam peças básicas de roupas como jeans, roupas íntimas, uniformes industriais, etc. Utilizam insumos norte-americanos e maquinaria norte-americana e montam peças que são exportadas para o mercado norte-americano. Situam-se na fronteira com os EUA e utilizam basicamente o baixo custo da mão-de-obra local. O percentual de insumos mexicanos é mínimo. Essas maquiladoras se espalham pela América Central e Caribe, através de empresas asiáticas que se instalam no país aproveitando as cotas de exportação para os EUA. Beneficiam não só do baixo custo da mão-de-obra e ausência de qualquer regulação do mercado de trabalho desses países, mas também da repressão da atividade sindical. No México, como na América Central e no Caribe, representam percentual significativo da mão-de-obra utilizada no setor industrial, setor este que, entretanto, não possui qualquer caráter multiplicador. Situadas em Zonas Especiais de Processamento de Exportações (ZPE), beneficiam de incentivos fiscais e utilizam o território apenas como base de montagem de produtos, raramente agregando qualquer valor local a eles, ou transferindo qualquer tipo de tecnologia. No Brasil, por ter um mercado de trabalho “formalmente” regulado, embora com grande flexibilidade no que se refere à demissão de pessoal, além da pouca observância efetiva da legislação do trabalho, as ZPE nunca saíram do papel. Nos anos 70, criou-se a única zona franca do país: Manaus, no interior da região amazônica. Uma zona franca peculiar voltada para a montagem de produtos e exportação para o mercado interno. A chamada “era Collor”, nos anos 90, marcou a entrada do país nos tempos neoliberais da economia globalizada. O parque industrial brasileiro passou por um processo de reestruturação para se adaptar às exigências impostas pelo processo de globalização dos mercados. A busca da competitividade, através da modernização tecnológica, qualidade, redução de custos, implicou redução significativa do emprego industrial, desnacionalização de setores, encerramento de unidades fabris e desconcentração espacial da produção. A busca de menores custos – leia-se mão-de-obra barata e pouco organizada – tem se refletido no aumento da mobilidade espacial das empresas para outras regiões do país. A saturação e degradação de áreas urbanas como São Paulo e o grande ABC tem levado, já há algum tempo, à transfe Segundo Gereffi (1997), antes do NAFTA as empresas maquiladoras não tinham nenhuma relação com produtores de têxteis ou cadeias varejistas mexicanas. Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 97 rência de unidades fabris para o interior do estado e mesmo para outros estados, atraídas por melhor infra-estrutura, baixo custo dessa infra-estrutura, incentivos fiscais de prefeituras, proximidade de mão-de-obra escolarizada e qualificada, baixa atividade sindical, entre outras vantagens. Esse movimento de desconcentração industrial, entretanto, não é recente. Segundo L. Guimarães Neto (1995), o processo inicia-se a partir da segunda metade da década de 70 por meio da transferência de capitais privados e estatais das regiões mais industrializadas do país para as mais “atrasadas”. Esse período, que o autor denomina de “integração produtiva”, substitui o anterior de “articulação comercial” existente entre as várias regiões do país, então com a presença dos grandes grupos econômicos em praticamente todas as regiões do país. A “articulação comercial” caracterizou o período dos grandes projetos da área da SUDAM e da SUDENE, que implicou a implantação de numerosas unidades fabris nas regiões abrangidas por essas instituições de planejamento, e o crescimento, por exemplo, do Nordeste em taxas superiores à média nacional entre 1970-1995 (SUDENE, 1997). A crise do Estado brasileiro e suas políticas de proteção industrial, seu esgotamento fiscal nos anos 80 com a sucessão de crises econômicas e altas taxas de inflação, num contexto internacional de eliminação de barreiras nacionais à circulação de mercadorias, levou ao abandono das políticas centralizadas de planejamento econômico, industrial, ou até, podemos dizer, de qualquer planejamento. Nesse contexto, cada estado da federação (uns mais do que outros) passou a disputar investimentos industriais com as vantagens locacionais de seu território frente a um mercado globalizado. Na “guerra fiscal” desencadeada entre os diversos estados da federação, os incentivos incluem a renúncia fiscal, o fornecimento de infra-estrutura, preços subsidiados (como tarifas de água e energia elétrica) à montagem da fábrica e mesmo o pagamento de salários dos trabalhadores por determinado tempo. Esse processo, se, num primeiro momento, vai dinamizar a desconcentração industrial com prejuízo de áreas industriais tradicionais, como a região metropolitana de São Paulo – saturada em termos de população e infra‑estrutura nos anos 90, com o aprofundamento da abertura econômica –, vai atingir outras áreas que irão assistir o encerramento de unidades fabris, como o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, com a guerra fiscal assumindo um perfil mais setorizado. O novo impulso industrializante no Nordeste, nos anos 90, respondeu à lógica de incorporação de territórios numa economia global e a essa disputa por novos investimentos. Sem cacife em termos de infra‑estrutura, capital, além da distância dos mercados consumidores, a guerra fiscal empreendida pelos estados nordestinos dirigiu-se para os setores de trabalho intensivo 98 | Jacob Carlos Lima situadas no Sul-Sudeste do país, afetados com a liberação de importações: têxteis, calçados, confecções, alimentos. A mão-de-obra abundante, pouco escolarizada e sem grande tradição industrial, nunca foi obstáculo à instalação de novas indústrias na região. Deve-se ressaltar que, a partir dos anos 70, o Estado investiu numa rede de universidades federais, que tem garantido mão-de-obra qualificada e mesmo criado núcleos de alta tecnologia. A importação de mão-de-obra qualificada nos projetos dos anos 70 deu lugar a técnicos da própria região, ficando, todavia cargos de supervisão, de uma forma geral, com funcionários transferidos das matrizes do centro-sul do país, ou do exterior. No final dos anos 80, com o esgotamento da política de industrialização regional, caracterizada pela formação de distritos industriais próximos às capitais dos estados e operacionalizada pela SUDENE, os vários estados nordestinos passaram a desenvolver políticas próprias de atração de novos investimentos. Essas políticas têm resultado na instalação de novas fábricas em busca de redução de custos e maior competitividade internacional, beneficiadas por generosos incentivos fiscais dos governos locais. A renúncia fiscal é justificada pela dinamização econômica provocada pela chegada de novas fábricas e pelo número de empregos diretos e indiretos que acarretam, não significando, na versão oficial, perda de arrecadação ou prejuízos. Ao contrário, haveria aumento com a maior circulação monetária e o crescimento da massa salarial. Haveria, então, junção dos interesses empresariais de barateamento de custos com os interesses governamentais voltados ao desenvolvimento socio-econômico. Numa região maioritariamente situada no semi-árido, que exige grandes investimentos de infra‑estrutura e boa vontade política na resolução de suas mazelas econômicas e sociais, a indústria é vista como solução de curto prazo e menores custos. Dessa forma, os governos dos estados passam a oferecer incentivos fiscais, constroem-se ou reformam-se rodovias, portos e aeroportos, para garantir as condições básicas da produção industrial. O Estado continua garantindo as condições de acumulação e reprodução do capital, agora de forma descentralizada. Eliminam-se as tentativas de planejamento, consideradas obsoletas, assim como as políticas voltadas à reprodução da força de trabalho que caracterizavam o período anterior. As cidades receptoras das novas indústrias continuam sem sanea mento básico, sem habitação e demais condições básicas necessárias à qualidade de vida. Mas postos de trabalho são criados e uma circulação monetária praticamente inexistente em cidades perdidas nos sertões produz novos consumidores, integrando-os, pelo menos temporariamente, no mercado globalizado. Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 99 A possibilidade de abaixamento dos custos com mão-de-obra em níveis considerados imbatíveis, como os “chineses”, foi percebida como a oportunidade de recuperação da competitividade internacional nos setores que perderam mercados, com a entrada de produtos importados a baixo custo: calçados e confecções. Dentro do “novo” modelo implementado, foram privilegiados os setores industriais caracterizados por trabalho intensivo. E, para baixar mais ainda o custo da mão-de-obra, foi elaborado um modelo arrojado, que aliava a interiorização industrial com a instalação de unidades em áreas de economia de subsistência, com uma forma “inovadora” de organização do trabalho: as cooperativas de trabalhadores. As cooperativas foram constituídas como qualquer outra empresa capitalista. A diferença estaria no controle formal dos meios de produção pelos trabalhadores e em sua gestão do trabalho. Como foram organizadas para funcionarem terceirizadas, funcionavam de fato como setores de empresas. 3. A atração de investimentos industriais na década de 90 O Ceará foi o estado do Nordeste que desenvolveu uma política mais agressiva de atração de investimentos industriais nos anos 90, dentro da chamada “guerra fiscal” que vigorou até 2002. O Estado passou a investir nos setores industriais afetados diretamente pela concorrência internacional provocada pela abertura econômica iniciada no governo Collor: confecções, calçados, metalurgia e eletroeletrônicos. Enviados do governo procuraram empresas do sul-sudeste do país, oferecendo uma série de vantagens para se transferirem para o Ceará: infra‑estrutura, prédios, isenção fiscal, mão-de-obra abundante, treinamento e qualificação de trabalhadores, baixa organização sindical desses trabalhadores e a possibilidade de terceirização da produção em cooperativas. O mecanismo utilizado pelo estado era o FDI – Fundo de Desenvolvimento Industrial, com recursos da arrecadação tributária do estado. Com esse mecanismo, os investidores recebiam um financiamento, após quitação mensal do imposto devido, que chegava a 75% do valor pago para fábricas localizadas fora da Região Metropolitana de Fortaleza. Esse empréstimo previa ainda um abatimento até 75% do valor devido e até 15 anos para pagar, representando um subsídio de 56%. Além disso, as empresas recebiam incentivos para a importação de máquinas e equipamentos por meio do não pagamento do Imposto de Circulação sobre Mercadorias sobre essas importações. Quanto maior a distância da capital, maior a quantidade de incentivos oferecidos. Para empresas situadas na Região Metropolitana de Fortaleza esse valor caía para 40-45% em média. 100 | Jacob Carlos Lima A atração de indústrias foi pensada para evitar a excessiva concentração do modelo anterior (embora a Região Metropolitana de Fortaleza continue sendo a mais beneficiada), assim como foram estudados os setores para os quais o estado teria um atrativo diferencial. Começou-se a analisar setor por setor industrial, criando-se uma ação estratégica objetivando a atração de cadeias produtivas selecionadas. O setor têxtil estava bem modernizado tecnologicamente, existindo no estado um pólo de fiação; o setor de confecções estava consolidado, apontando para a vocação “natural” do estado. Entretanto, o fio ia para o sul-sudeste do país ou para o exterior, transformava-se em tecido plano ou malha, retornando para ser confeccionado no Ceará, havendo claramente a possibilidade de atrair toda cadeia produtiva têxtil para o estado. Uma das primeiras tarefas foi, então, a atração de indústrias âncoras do setor têxtil, que funcionariam como chamariz: novas indústrias viriam pela presença de empresas importantes do setor. Outro setor visado foi o de calçados, grande absorvedor de mão-de-obra e passando por dificuldades no sul-sudeste do país. A equipe de governo contava com técnicos com experiência no exterior e conhecimento dos problemas decorrentes da dificuldade de automação de fases da produção e a necessidade de contar com mão-de-obra barata para garantir competitividade. A idéia presente na atração de novas indústrias, diferentemente do que ocorria no período anterior, estava na captação, não apenas de fábricas isoladas, mas da cadeia produtiva do setor, com a formação de clusters em regiões do estado. Em termos espaciais, o conceito de pólo foi substituído pelo de interiorização industrial e de formação de distritos industriais de menores dimensões através de incentivos fiscais. Assim foram criados raios de 50, 100, 150, 200 Km em torno de Fortaleza, ao longo das estradas, para a implantação de infra-estrutura industrial. Começa-se com a industrialização de Horizonte, Pacajus na região metropolitana de Fortaleza, até chegar às áreas industrializáveis do Cariri, no sul do estado, e Sobral, no noroeste. A agressiva política de captação de recursos e investimentos voltados para a interiorização da industrialização levou em consideração as poucas possibilidades de atividades agrícolas e pecuárias no semi-árido, que compõe a quase totalidade do território cearense. A indústria se constituiria na possibilidade, juntamente com o turismo, de desenvolvimento econômico O setor têxtil e de confecções foi um dos mais beneficiados com investimentos industriais no estado ainda no período da SUDENE. No final da década de 80 o Ceará já se destacava como pólo têxtil e de confecções. Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 101 do estado, que, progressivamente, tornou-se líder em termos do montante de investimentos na região, transformando suas históricas desvantagens econômicas, espaciais e populacionais em vantagens no novo contexto da globalização dos mercados. 4. Incentivos fiscais e redução de custos com a mão-de-obra: as cooperativas de trabalho Da mesma forma que as novas diretrizes do processo industrializante estadual resultaram dos estudos da equipe governamental dos diversos setores, e das possibilidades de atraí-los para o estado dentro da perspectiva de um mercado globalizado, a terceirização em cooperativas de trabalho teve a mesma matriz. A idéia de desconcentração da indústria teve como fundamento o novo contexto da produção industrial: a redução do tamanho da fábrica, o enxugamento da empresa com setores da produção terceirizados e as possibilidades de dinamismo econômico de pequenos distritos industriais. Para a equipe governamental, a matriz fiscal tributária e a parafernália de taxas, alvará, impostos existentes e a legislação trabalhista se constituíam em elementos inibidores da produção, por aumentar os custos da mão-de-obra. Com as dificuldades inerentes à mudança da legislação federal, o estado poderia induzir formas de terceirização que barateassem custos e se tornassem um elemento a mais no “mix” de incentivos para atrair novas indústrias. Nesse quadro, recuperou-se a idéia de cooperativa, mais precisamente de cooperativa de trabalho, uma novidade na região. Apesar do fracasso histórico das cooperativas agropecuárias locais, implementadas com o aval da SUDENE, principalmente na década de 70 (Rios, 1979), considerou-se a possibilidade de criar grupos associativos autônomos para o trabalho urbano industrial em áreas sem nenhuma tradição industrial e, menos ainda, associativa. A idéia nova estaria na indução da terceirização, através de uma política de governo, segundo a qual o Estado treinaria os trabalhadores e a empresa parceira proveria os dois elos que faltavam nas atividades produtivas de pequeno porte: a tecnologia – o aperfeiçoamento dos produtos e processos – e o acesso ao mercado. Isso evitaria repetir resultados de programas de geração de renda, nos quais criavam-se pequenas unidades de produção desvinculadas das necessidades dos mercados. Como antecedente, o governo cearense tinha implantado instrumentos que favoreciam o suprimento desses elos: os palácios da microempresa e as feiras de negócios, que procuravam facilitar o acesso da micro-empresa aos mercados mais modernos e o feed-back desses mercados – o aperfeiçoamento dos produtos e dos 102 | Jacob Carlos Lima processos. A partir dessa experiência, surgiu o desenvolvimento do modelo associativo induzido, em que a empresa parceira repassaria tecnologia e estabeleceria o elo do mercado. Dessa forma, a cooperativa seria fruto do esforço governamental de favorecer as atividades de pequeno e médio porte. A tendência de as empresas explorarem ao máximo o trabalho nas cooperativas, seria contrabalançada pela atuação do Estado como mediador e fiscalizador do processo. As cooperativas de trabalho, dessa forma, integravam a estratégia governamental para reforçar e favorecer um fator que já era favorável na atração de empresas para o Ceará: a mão-de-obra barata. Soma-se a esse fator a possibilidade de terceirizar partes do processo ou o processo todo em coope rativas, eliminando custos com obrigações trabalhistas. Mesmo que isso tenha ferido a concepção de cooperativa vinculada à livre organização dos trabalhadores, o modelo possibilitaria atrair empresas que, de outra forma, possivelmente não iriam para o estado e para cidades do interior, se tivessem que enfrentar custos com obrigações trabalhistas. O caráter polêmico da proposta, assumido pelo governo estadual, estava na flexibilização de fato da legislação trabalhista, de forma pouco ortodoxa, através de um artifício – o trabalho associado. Esse artifício, todavia, foi visto, pelo menos inicialmente, em suas consequências positivas – a geração de empregos e renda, a desconcentração da atividade industrial, sendo assim favorável aos trabalhadores, desconsiderando uma legislação trabalhista considerada arcaica frente às necessidades do mundo da produção e do trabalho. Para o governo cearense, a implantação de cooperativas era um processo lento que exigia mudanças culturais, principalmente em se tratando de trabalhadores sem qualquer qualificação ou experiência de trabalhado associado. Dessa forma, sua implantação pressupunha uma atuação estatal vista como “moderna” ao largo de políticas paternalistas voltadas à população carente. A proposta era fornecer as condições para que os trabalhadores adquirissem plena autonomia. O Estado não daria dinheiro a fundo perdido para as cooperativas. Estas não possuíam capital inicial, nem capacidade tecnológica, muito menos equipamentos ou instalações. Partindo desses dados, o Estado construiu galpões que eram cedidos para as cooperativas, mas permaneciam como sua propriedade e arrumava a parceria para as cooperativas. As empresas “parceiras” forneciam a matéria prima (no geral, couro cortado), às vezes equipamentos, e as cooperativas geralmente faziam o acabamento de produtos (montagem de sapatos) com contrato por tempo determinado. Cabia ainda ao estado arregimentar mão-de-obra sem qualificação e treiná-la, oferecendo uma bolsa-treinamento. A proposta da política estatal era acompanhar as cooperativas, oferecendo a assistência técnica Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 103 necessária, investindo na formação cooperativista e criando uma “cultura” de trabalho autônomo, numa população sem nenhum contato anterior com trabalho assalariado. Além da explicação do fundamento da cooperativa induzida – porque formada por trabalhadores sem capital monetário e cultural – a cooperativa se justificaria enquanto proposta de formação de mini-distritos na zona rural, no semi-árido nordestino, que exigiriam investimentos em infra‑estru tura, como tratamento de afluentes, energia, etc., e seria uma forma eficaz de acabar com a pobreza. Com a terceirização em cooperativas, cidades que, de outra forma, não atrairiam indústrias, passariam a sediar centros de distribuição das empresas que terceirizariam a produção criando pequenos núcleos de industrialização. Dessa forma, a atuação estatal como indutor do processo estaria justificada, pragmaticamente, a partir da perspectiva do desenvolvimento potencial que acarreta, desconcentrando espacialmente a atividade industrial, mantendo a população nas cidades, evitando que migrassem para a capital. Alguns grupos empresariais do setor calçadista instalaram unidades industriais no interior do estado e na região metropolitana de Fortaleza, beneficiando dos incentivos fiscais, mas utilizando trabalho assalariado em suas unidades industriais. Outras empresas instalaram no estado apenas centros de distribuição trabalhando com produção totalmente terceirizada em cooperativas. A implantação de unidades montadoras sobre a forma de cooperativa não envolveu a utilização de insumos locais nem objetivava o consumo local, apenas a mão-de-obra local. Mesmo assim, produziram signi ficativos impactos locais. 5. As cooperativas de calçados Como resultado das políticas estaduais de atração da cadeia produtiva couro‑calçadista, a partir de 1995-1996 começaram a instalar-se as cooperativas de calçados, com a abertura de filiais de indústrias do sul do país no interior do estado. Entre elas, destacam-se as instaladas nos municípios de Itapajé, Canindé, Santa Quitéria, Itapipoca, Crateús, Queixeramobim, Iguatu, municípios situados no sertão central do Ceará, com uma economia voltada a agricultura de subsistência e criação de pequenos animais, com produção comercial de castanha de caju e algodão de sequeiro. As indústrias calçadistas que se instalaram terceirizando a produção em cooperativas concentraram a produção em grandes unidades fabris, utilizando entre 300 a 3.000 trabalhadores cada. As empresas mantinham nas cidades um galpão próprio, onde funcionavam o almoxarifado, o depósito e o escritório, ao lado dos prédios das cooperativas. 104 | Jacob Carlos Lima Todas as empresas mantinham funcionários próprios, responsáveis pela supervisão e controle de qualidade. Os demais eram associados. Eram os “gaúchos” (trabalhadores oriundos do sul do país), que passaram a compor o cenário dessas cidades, mais acostumadas a expulsar sua população do que a receber migrantes. Efetivamente, esses funcionários dirigiam as cooperativas. Os presidentes e as diretorias eleitas pelas cooperativas possuíam um papel formal de intermediação entre os cooperativados e os funcionários da empresa. Seus conhecimentos de cooperativismo não diferiam muito daquele dos demais trabalhadores. Ficavam, todavia, com o trabalho “sujo” – a aplicação das regras disciplinares no trabalho: controle de presença, atrasos, faltas, exclusões, etc. Embora sem um Centro de Treinamento específico, o governo do estado pagava uma bolsa mensal (equivalente a um salário mínimo) pelo período de dois meses para o treinamento dos trabalhadores. Posteriormente, esse treinamento passou a ser realizado sob responsabilidade das próprias cooperativas, supervisionadas pelas fábricas. O recrutamento de trabalhadores passava pelo escritório das empresas, que encaminhavam os trabalhadores para as cooperativas. Os sapatos, sandálias e tênis, de grifes internacionais, eram exportados para o mercado norte-americano e europeu, através de empresas holdings. As empresas exportadoras, por sua vez, também supervisionavam a produção das cooperativas através de visitas eventuais. As máquinas utilizadas eram das fábricas, cedidas em comodato para as cooperativas, e tinham de 10 a 30 anos de uso. O controle da produção era todo informatizado e controlado pelas fábricas do Rio Grande do Sul, que estabeleciam as metas de produção e supervisionavam, com seus funcionários, as fases da produção, o total produzido, a qualidade, a matéria-prima necessária, a exportação. A matéria‑prima vinha do Sul-Sudeste do país, ou mesmo do exterior (quando o câmbio estava favorável). Nas cidades em que atuavam, eram as maiores empregadoras, com grande impacto no comércio local, através do crescimento do consumo pela inclusão de uma significativa parcela dos trabalhadores na economia monetária, antes praticamente inexistente. Em termos urbanos, algumas cidades tiveram seus melhores bairros ocupados pelos funcionários das empresas que supervisionavam as cooperativas e passaram a demandar melhores serviços, constituindo-se numa classe média local. A vinda desses funcionários para cidades cearenses não se deu sem conflitos. Para gerir – indiretamente – as cooperativas e para supervisioná-las, operários qualificados e semi-qualificados foram transferidos para essas cidades, com maiores salários, criando uma aristocracia operária, branca, Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 105 loira e com direitos. Eram trabalhadores assalariados das empresas em contraposição aos trabalhadores das cooperativas, em tese, donos do negócio. Aos estereótipos tradicionais somou-se a diferenciação funcional: os gaúchos mandavam e tinham direitos sociais observados, embora não fossem os donos do capital, apenas seus prepostos. No trabalho existia uma hierarquia dentro da cooperativa. Os gaúchos eram técnicos e trabalhadores qualificados. Em algumas, a bata azul, verde ou amarela estabelecia a hierarquia entre funcionários supervisores e os cooperados. Gaúchos ou nativos, funcionários e mesmo alguns presidentes de coope rativas agiam como gerentes de uma empresa comum, fazendo questão de demarcar sua situação diferenciada. Mesmo quando cooperativados e ganhando bem acima da média dos trabalhadores, se percebiam como assalariados da empresa e, para ela, prestavam lealdade. O caráter polêmico das cooperativas resultou, no Ceará, em campanha promovida pela imprensa local, em 1997, com apoio de sindicatos e da Pastoral Operária da Igreja Católica, contra as cooperativas, na instalação de comissões de inquérito na assembléia legislativa e na instauração de processos na justiça do trabalho. As denúncias recebidas pelos sindicatos acerca das condições de trabalho nas cooperativas serviram como documen tação às comissões de inquérito referidas. O sindicato dos sapateiros de Fortaleza (capital do estado) organizou carreatas em algumas cidades do interior, denunciando o que chamaram de “cooperfraude”, resultando em conflitos com autoridades locais e proibições, por parte das empresas, de os trabalhadores cooperados se manifestarem. As carreatas, contudo, não chegaram a mobilizar trabalhadores das cooperativas que, embora concordassem com as reivindicações de direitos trabalhistas defendidos pelo sindicado, temiam por seus postos de trabalho, caso as empresas fossem embora e as cooperativas fechassem. Entretanto, denúncias crescentes sobre as condições de trabalho – grandes galpões com ventilação precária, problemas sanitários, falta de equipamentos de segurança, autoritarismo dos “empregados” das fábricas, exclusões arbitrárias de associados – levaram a uma maior fiscalização da delegacia e procuradoria do trabalho. Como resultado dessa fiscalização, houve situações de reversão de coope rativas de produção para empresa regular com trabalho assalariado, a adequação de cooperativas irregulares e o encerramento de outras. O governo cearense parou de incentivar a instalação de novas cooperativas. O ônus político começou a ficar muito pesado, já que o próprio Estado estava sendo acusado de desrespeitar a legislação. 106 | Jacob Carlos Lima Em 2004, após dez anos de implantação do modelo de cooperativas para terceirização industrial, apenas duas grandes empresas mantinham cooperativas no estado. Isto menos por questões de ordem trabalhista do que de ordem fiscal. O fim dos incentivos fiscais e o não cumprimento pelo governo do estado de devoluções previstas no Fundo de Desenvolvimento Industrial fizeram com que parte das empresas encerrassem ou transferissem a produção para outros estados ou regiões do país. Para os trabalhadores, as cooperativas significaram, na maioria dos casos, o primeiro “emprego” institucionalizado com ganhos regulares, a proletarização efetiva de um contingente de trabalhadores de origem rural ou mesmo urbana sem ocupação anterior definida. A reação sindical, aos poucos, foi arrefecendo e, nos municípios, as diversas correntes políticas passaram a defendê-las como forma de manutenção de empregos. Da mesma forma, os trabalhadores não se sensibilizaram com o discurso sindical combativo dos primeiros tempos. A não ser quando as empresas começavam a suspender encomendas, comprometendo o funciona mento das cooperativas e os ganhos dos trabalhadores. Em situações de encerramento e crise, os trabalhadores entravam na justiça reivindicando direitos. Em outras situações, as reclamações mantinham-se no cotidiano do trabalho. Com a multiplicação de cooperativas em outras regiões do país, mudou a atuação dos sindicatos com relação a elas, assumindo em algumas situações a sua própria organização, mas procurando garantir maior controle dos trabalhadores mesmo em situação de terceirização e desenvolvendo políticas de esclarecimento e educação cooperativa. A posição dos sindicatos vincula-se à discussão das centrais sindicais sobre cooperativismo e economia solidária, com posições distintas e atuação diferenciada nas diferentes regiões do país e municípios. No Ceará, a posição oficial do sindicato da capital do estado foi de combate às chamadas falsas cooperativas, pouco atuando junto aos trabalhadores cooperativados no sentido de uma educação cooperativista. O embate era e continua sendo pelo assalariamento. 6. O trabalho e o local Mesmo com as diferenças entre os estados na guerra fiscal, pode-se dizer da existência de situações comuns que apontam para um “modelo” na atração de investimentos industriais, que teve no Ceará a política mais elaborada: a) renúncia fiscal; b) infra‑estrutura industrial com fornecimento de galpões, energia elétrica, rodovias, modernização de portos e aeroportos; c) seleção de setores industriais de utilização de trabalho intensivo; d) financiamento do treinamento de trabalhadores; e) utilização de cooperativas de trabalho como artifício para redução de custos com a mão-de-obra. Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 107 Esse “modelo” é aproximativo. Outros estados tentaram, sem sucesso, atrair empresas com organização de cooperativas. Quanto aos demais incentivos, o resultado parece ter sido positivo. Junto com o Ceará, a Paraíba e a Bahia tornaram-se grandes produtores de sapatos, depois do Rio Grande do Sul e São Paulo nos anos 90. A análise do modelo cearense de instalação de cooperativas possibilita perceber o grau de detalhamento a que chegou a política de atração industrial do estado através de incentivos à instalação de unidades fabris em cidades sem outra atividade econômica significativa; a tentativa de envolvimento da comunidade local na proposta e de várias instâncias governamentais e não governamentais; a profissionalização da mão-de-obra vinculada a projetos específicos; a manutenção dos trabalhadores em seus lugares de origem evitando a migração para as “inchadas” capitais regionais com todas as suas conseqüências sociais. Todavia, ao lado das boas intenções, características negativas permearam a proposta, ao envolver um dos parceiros – os trabalhadores – de forma desigual. Enquanto as vantagens para as empresas e municipalidades estariam na redução de custos de produção, na instalação de unidades industriais em municípios e maior arrecadação tributária – nem tanto diretamente, dados os incentivos, mas indiretamente, pelo aumento do consumo – para os trabalhadores restou a lógica do “isso é melhor que nada”. Ou seja, a renúncia aos direitos sociais básicos que caracterizam o trabalho assalariado, sem a contrapartida efetiva da propriedade ou da gestão coletiva da cooperativa. E uma relação de desconfiança inicial, o que tornou os trabalhadores um parceiro reticente. Concretamente, as cooperativas constituíram-se nos únicos empreendimentos industriais em algumas cidades do interior da região, mesmo que utilizando do local apenas a mão-de-obra. Instaladas em cidades de 10.000 a 60.000 habitantes, criaram de 300 a 3.000 empregos diretos e tiveram um impacto considerável na economia desses municípios, cujas atividades se limitavam à agricultura de subsistência. Não existem, ainda, indicadores sociais que apontem as mudanças resultantes desses empreendimentos. Entretanto, o trabalhador passou a consumir no mercado local bens materiais e simbólicos a que antes não tinha acesso. Uma segunda consideração permite entender a atuação contraditória do Estado, seja como executor das leis, seja como o primeiro a desconsiderar essas mesmas leis. No Ceará, como em outros estados da região, e no país como um todo, o discurso do novo é o discurso da modernidade representada pela flexibilização das relações de trabalho, o que justificaria a utilização de artifícios para escapar da legislação e valorizar mudanças nas formas de uti- 108 | Jacob Carlos Lima lização da mão-de-obra. Esse discurso foi repetido pelos media, que destacaram que os ganhos do trabalhador flexível seriam maiores que os do trabalhador assalariado, além de mais barato para a empresa. Enfim, o trabalhador utilizaria melhor seu dinheiro do que o Estado regulador. Assim como seria o responsável por sua empregabilidade. O discurso governamental fundamenta-se no atribuído obsoletismo da CLT frente às mudanças na produção e a necessidade de se eliminarem os entraves burocráticos que só dificultariam o acesso ao emprego. Tudo em nome da competitividade internacional. Parte-se do princípio de que os países avançados flexibilizaram suas relações de trabalho e que o Brasil estaria atrasado nesse processo. Desconsidera-se que a flexibilização nos países centrais é diferenciada, mantendo ainda forte a presença sindical nas determinações do contrato de trabalho. No Brasil, ao contrário, desde 1966 podemos falar de relações flexibilizadas. Quando o regime militar eliminou a indenização por tempo de serviço e a substituiu pelo FGTS, extinguiu-se qualquer limite às demissões, estando flexibilizadas as contratações e demissões. Argumenta-se, contudo, que seu custo é alto pela incorporação de obrigações sociais, logo essas deveriam ser eliminadas. No caso das cooperativas, sua organização evidencia a utilização deste formato como artifício para descaracterizar o trabalho assalariado. Ao se instalarem em áreas socialmente problemáticas, onde a precariedade das condições de vida e de trabalho constitui-se em norma e não em exceção, aparecem em grande medida como “solução possível” à miséria circundante, à migração para as grandes cidades, enfim, como uma política social num contexto de busca da competitividade internacional, abaixamento de custos pelas empresas e grande mobilidade espacial. E nesse encontro que novos “lugares” são apropriados pelo capital e surgem “novos proletários” sem direitos, sem salários e com poucas perspectivas. Uma terceira consideração diz respeito ao caráter contraditório dessas cooperativas “pragmáticas”, sem autonomia do trabalho, com um trabalhador coletivo “autônomo” que quer ser assalariado. A organização de coope rativas em lugares sem tradição organizativa dos trabalhadores não significou que estes não reivindicassem seus direitos a partir do momento em que se constituíram como atores coletivos. A identificação empresa/cooperativa tirou desta qualquer forma de autonomia e o trabalhador não se reconheceu enquanto participante, mas como logrado em seus direitos. Tal como o trabalhador de uma fábrica comum reage à organização do trabalho, sobre a qual pretensamente decide, para reivindicar direitos. Falsas cooperativas, portanto? Trabalho assalariado disfarçado? Ou coope rativas pragmáticas? Legalmente, parte das cooperativas estava dentro do que Novos espaços produtivos e novas-velhas formas de organização do trabalho | 109 rege a legislação do setor e recebia apoio da Organização Estadual de Coope rativas que ressaltava a necessidade de modernizar o cooperativismo, inseri-lo no mercado, trabalhar gerencialmente. A Organização das Cooperativas Brasileiras e as Organizações Estaduais de Cooperativas difundem os princípios cooperativistas e têm tido atuação controversa no debate acerca das cooperativas de trabalho e de sua utilização para mascarar situações de assalariamento. No geral, colaboraram na organização de cooperativas no Nordeste e em outras regiões do país, com cursos de cooperativismo que pouco acrescentaram aos trabalhadores. Por outro lado, defendem-se afirmando não possuírem poder de fiscalização sobre as cooperativas, o que as exime de co-responsabilidades em algumas cooperativas consideradas fraudulentas. O discurso é o da viabilidade da cooperativa no mercado, estando pouco vinculadas a propostas políticas de autonomia dos trabalhadores, o que pode ser atribuído, entre outros fatores, à maior experiência das OCE na organização de cooperativas de créditos e de produtores rurais e o crescimento relativamente recente das cooperativas de produção e trabalho no país. Ao caráter visto como fraudulento presente nesse formato de cooperativas de produção, podem acrescentar-se problemas organizacionais inerentes às cooperativas de trabalho em geral, organizadas por ou para trabalhadores com pouca qualificação, sem nenhuma cultura organizativa anterior e que são recrutados por programas de desenvolvimento, de geração de renda ou políticas de atração de investimentos, que apresentam o que o “lugar” tem de diferencial: a mão-de-obra barata e desorganizada. O caráter “voluntário” da participação do trabalhador inexiste, refletindo a ausência de opções no mercado de trabalho local. Com isso, dificuldades inerentes a cooperativas – como por exemplo conciliar propriedade coletiva, num meio social marcado pelo individualismo e pela propriedade privada, maior intensidade do trabalho e responsabilidade pela gestão, envolvimento no trabalho – assumem maior dimensão quando não resulta de um processo organizativo voluntário ou ideologicamente fundamentado. Debates recentes sobre Economia Solidária e Terceiro Setor colocam a pequena produção e o trabalho associado em cooperativas como alternativas frente à redução do emprego e a crescente informalidade do trabalho, embora estes reconheçam seus limites, quando passam a trabalhar como subcontratadas para grandes empresas (Singer, 1998). Todavia, para que isso não ocorresse as cooperativas deveriam ser autônomas, sem uma vinculação direta com o grande capital, o que é um problema se pensarmos em sua sustentabilidade no mercado. Numa situação de desemprego estrutural e de fracasso de experiências socialistas, recoloca-se o trabalho em cooperativas como possível saída, o 110 | Jacob Carlos Lima que, aliás, vem sendo tentado historicamente desde o surgimento da grande indústria, e em situações de depressão econômica. A novidade, agora é a recuperação do trabalho associado como possibilidade de mercado e sua integração funcional com empresas e cadeias produtivas. Um caminho difícil, uma possibilidade de ocupação e acesso a renda, mas distante de qualquer autonomia. Referências Bibliográficas Abreu, Alice Rangel de Paiva (1986), O avesso da moda: trabalho a domicílio na indústria de confecção. São Paulo: HUCITEC. Arbix, Glauco; Rodrigues-Pose, Andrés (1999), “Estratégias do desperdício: a guerra entre estados e municípios por novos investimentos e as incertezas do desenvolvimento”, São Paulo, II International Workshop “Subnational Economic Governance” (mimeo). Bonacich, Edna et al. (1994), Global Production. The Apparel Industry in the Pacific Rim. Philadelphia: Temple UP. Dupas, Gilberto (1999), Economia global e exclusão social. São Paulo: Paz e Terra. Gereffi, Gary (1997), “Competitividade e redes na cadeia produtiva do vestuário na América do Norte”, Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho, 3(6). Neto, Leonardo Guimarães (1995), “Dinâmica recente das economias regionais brasileiras”, São Paulo em Perspectiva, 9(3). Rios, Gilvando Sá Leitão (1979), Cooperativas agrícolas no nordeste brasileiro e mudança social. João Pessoa: Editora Universitária. Santos, Milton (1999), “Guerra dos lugares”, Folha de São Paulo, 8 de agosto, p. 3. Sassen, Saskia (1998), As cidades na economia mundial. São Paulo: Studio Nobel. Singer, Paul (1998), Globalização e desemprego: diagnósticos e alternativas. São Paulo: Contexto. SUDENE (1997), Boletim Conjuntural Nordeste do Brasil. Recife, novembro. Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 111-129 João Carlos Graça Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? Situada algures entre a economia e a sociologia, a sociologia económica tem tido um estatuto teórico instável e um reconhecimento académico limitado. Mais recentemente, o projecto da chamada Nova Sociologia Económica, para além da diversidade de empreen dimentos acolhidos, tem vindo a ser definido com base em postulados que rejeitam quer o modelo do “agente racional”, quer o determinismo cultural que celebrizou a sociologia parsoniana, optando-se por postulados metodológicos de “terceira via”, nos quais predomina uma racionalidade balizada por molduras culturais. Haverá razões para questionar a coerência e a viabilidade intrínsecas daquilo que a NSE representa? Poderá ela própria ser considerada não tanto do ponto de vista da consistência do seu projecto teórico, mas sobretudo como um assunto de redes small world académicas? 1. Introdução: o projecto e as suas dificuldades Não é decerto injusto dizer que, no panorama da teoria social das últimas décadas, o surgimento da chamada “nova sociologia económica” (NSE), associado sobretudo aos nomes de Mark Granovetter e de Richard Swedberg, é um facto de primordial relevância e significado. Apoiada por um lado na tradição propriamente parsoniana, quanto ao que não será despicienda a presença tutelar de Neil Smelser como co-editor com Swedberg do famoso Handbook (1994a, 2005a) que pretendeu assinalar o estado da arte e em certa medida definir o cânone da novel matéria, a NSE em todo o caso demarcou-se da estrita tradição da “grande teoria” quer pela diversidade de abordagens que reconheceu e pretendeu englobar, quer sobretudo pela irreverência com que proclamou encarar o diálogo com a ciência económica oficial. Ao contrário da mera divisão de tarefas com escrupuloso respeito pelas competências dos oficiais de diferente ofício, como Parsons ensinara, a NSE atreveu-se a contestar, embora de forma limitada, alguns dos pressupostos e dos métodos da economia académica. Mas, ao mesmo tempo, apressou-se a balizar o âmbito do seu próprio empreendimento de contestação, tendendo uma e outra vez a regressar à tradicional alegação auto-legitimadora da existência de diversos pontos de vista ou ângulos de análise, o seu próprio sendo apenas mais um outro, a justapor, mais do que a contrapor, ao da economics. 112 | João Carlos Graça Esta limitada contestação, menos pela sua audácia do que pela sua timidez, não deixa de sugerir umas quantas ambiguidades e de suscitar um certo número de problemas. Situada algures, em posição instável e imprecisa, entre a economia e a sociologia, tal como de resto já acontecera até certo ponto com a sua antecedente “velha”, existirá algo mais na NSE do que a ideia, decerto sensata mas também assumidamente doutrinária e simultaneamente algo vaga, dum “justo meio” ou duma “terceira via” entre a conduta utilitária do “agente racional” da mainstream economics (ou da colemaniana “teoria das escolhas racionais”, RCT, que é o seu correlato sociológico) e o determinismo cultural do parsonismo? E, a existir realmente algo de substancial – além da óbvia tendência para mimetizar a tradição sociológica principal em matéria de apropriação selectiva das referências do passado canónico desta última (Aspers 1999, 2001) –, em que é que os postulados metodológicos da NSE se distinguem dos temas habituais das conversas sociológicas acerca da “reflexividade” e da “agência”? Teremos boas razões para questionar a coerência e a viabilidade intrínsecas do núcleo mesmo daquilo que a NSE representa? Em face da preocupação e do interesse evidenciados por vários dos cultores deste saber relativamente ao tema das redes sociais, deverá a NSE ser ela própria ironicamente considerada não tanto do ponto de vista da consistência (talvez inexistente) do seu projecto teórico, mas sobretudo como um assunto de redes small-world de âmbito académico? Poderá o seu “quem é quem” ser definido, com um grão de sal mas não sem verdade, como um grupo de notáveis universitários cujo path-length relativamente a Richard Swedberg não ultrapassa dois? Mas não poderemos também, independentemente da maior ou menor coerência ou rigor das nomenclaturas, reter do projecto da NSE sobretudo o sempre meritório, e por isso sempre jovem, projecto de unificação dos saberes relativos ao que habitualmente se designa por ciências humanas? 2. Algo da história dos problemas... Ao longo dos tempos, definiu-se por vezes a sociologia económica como sector da economics (ou da economia política), ramo deste saber mais preocupado com os aspectos não estrita ou directamente económicos de realidades todavia no fundamental merecedoras de tratamento por parte da ciência económica. Quanto a isto, a sociologia económica aparece em toda uma tradição, sobretudo de economistas, como disciplina de algum modo afim daquilo a que por vezes se designa por economia “aplicada” – saber algo aproximativo e toscamente indutivo, a ser distinguido das alturas e dos rigores dedutivos da economia dita “pura” –, ou “social” – matéria preo- Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 113 cupada com as realidades da distribuição das riquezas, e por isso tangente às teorias da justiça, pelo que afastando-se necessariamente da sobriedade “positiva” dos modelos da sua congénere “pura”, cujo objecto por excelência seriam os factos da produção (Zafirovski, 1999: 2-9; ver também Ingham, 1996; Velthuis, 1999). Nestas oscilações entre o “puro” e o “aplicado”, o “positivo” e o “norma tivo”, entre a “elegância formal” dos modelos matemáticos e as “mãos sujas” que o tratamento dos factos costuma acarretar, quase sempre a tradição da mainstream economics reconheceu, de bom ou mau grado, que há mais do que mera economia até mesmo nos mais simples dos simples factos económicos, e que a riqueza e a complexidade da realidade é maior do que a mais ousada das teorias pode atrever-se a sonhar. Mas quase sempre ela se apressou também a remeter esses aspectos adicionais, ou para um futuro mais ou menos distante em que o refinamento das suas próprias teorias permitiria enfim o relevar de um certo número de hipóteses simplificadoras – e com ele um tratamento mais englobante e compreensivo da irritante irregularidade e aparente arbitrariedade da multidão dos factos –, ou para uma ciência residual, um saber das sobras, cujo objecto seria o irracional, o instintivo, o lado intrinsecamente não modelizável da conduta humana, qualquer que fosse a valoração desse “algo mais” por parte do investigador. E assim se chega, por exemplo, à sui generis sociologia paretiana, pensada como ciência visando o tratamento lógico do pretenso “não-lógico” – ou pelo menos a uma certa variante dessa tal sociologia paretiana. A esta condição de ciência residual ou das sobras, configurando um estatuto académico tendencialmente periférico e mesmo algo duvidoso, de certo modo “afim da alquimia” (Camic, 1991: xxxviii; Velthuis, 1999: 8; Zafirovski, 1999: 2, 10), corresponde quase em eco uma outra concepção, de raiz comteana mas podendo também ela encontrar-se na obra de vários economistas ilustres, segundo a qual, sendo a sociologia a ciência dos factos sociais sem qualquer outra qualificação, a economics não seria mais do que uma província da ciência-mãe sociológica. A sociologia económica, nesta outra versão, seria a própria economia política – pelo menos, claro, desde que ela deixasse de ser um mero saber “em si” e se assumisse como saber “para si”. Isto é, repete-se... como sociologia de um tipo particular. Quanto ao facto de Pareto ter pretendido identificar factos de tipos distintos, lógicos e não-lógicos, atribuindo-os a diversas ciências, ou apenas aspectos distintos dos mesmos factos, uns lógicos, outros não-lógicos, ver Aspers, 2001; Dalziel e Higgins, 2002. O mesmo vale também para a oscilação entre a ideia duma sociologia enciclopédica, abrangendo a ciência económica, e uma outra de âmbito mais limitado, fazendo-a ocupar-se apenas do residual. 114 | João Carlos Graça Esse tipo particular corresponde a uma classificação cujo fundamento é, notemo-lo, substantivista: o económico é aqui uma “zona” ou um “departamento” diferenciado do social, correspondente, segundo alguns comteanos amantes das analogias biológicas, aos “fenómenos de vitalidade ou de nutrição”. Era assim que o considerava, por exemplo, o positivista português Manuel Emídio Garcia, quando defrontava o problema da possível divisão da sociologia em disciplinas parcelares ocupando-se do económico, do político, etc. (Garcia, 1882: 9 ss.). Embora submetida a crítica pelos seus continuadores, esta concepção continuou sem dúvida a influenciar a forma como, nas décadas subsequentes, a economia política foi entre nós leccionada na única instância universitária que então a acolhia, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Uma geração mais novo, Afonso Costa, em 1896, prolongava aliás as linhas divisórias referidas por Garcia à sociologia à discussão também das divisões internas do próprio direito (apud Laranjo, 1907: 13). E a problemática continuou em maior ou menor grau a ser glosada também por autores que a reportaram à economia política, à sua matéria e seus métodos, bem como à questão das suas relações com a sociologia. É o caso de José Frederico Laranjo, que mais ou menos expli citamente defronta o problema a propósito quer da economia política (1997: 5-12), quer do direito político e constitucional (1907: 9-13, 18), e de José Ferreira Marnoco e Sousa, que na Ciência Económica de 1910 se refere taxativamente à questão da chamada “economia social” e das relações economia-sociologia, considerando então insatisfatórias as ideias de René Worms, e de forma bem reveladora: A primeira interpretação que apareceu foi a de que a economia social é a síntese da economia política e da sociologia. Esta concepção deixa muito a desejar, porquanto a sociologia é o todo de que a economia é a parte, e não se pode compreender de modo algum uma síntese de um todo e de uma das suas partes. (Sousa, 1997: 20) Em todas estas investigações, acrescente-se, os académicos coimbrões do último tournant de siècle apropriam-se, criticando-as e reformulando-as, de ideias originárias de autores tão díspares como René Worms, Guillaume de Greef, Émile Levasseur e Charles Gide, entre vários outros. Mas é sabido que nem todas as atitudes relativas à partilha de territórios foram de raiz substantivista. Não foi essa, na realidade, a via magna da discussão, pelo menos se atentarmos naquela que veio a ser a principal tradição sociológica novecentista. De facto, procurando reconciliar-se com a economia mainstream, e renegando por isso o seu próprio passado “institucionalista”, Talcott Parsons, por exemplo, julgou ter encontrado para a Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 115 sociologia (em geral, note-se, que não apenas económica) um espaço próprio, remetendo-a ao tratamento das finalidades da acção humana, ao passo que à ciência económica seria deixado ocupar-se dos meios da mesma acção. Enquanto saber dos ultimate ends ou dos ultimate values, registe-se, não corresponde à sociologia uma “zona” objectivamente identificável. É tudo uma questão de perspectiva (Parsons, 1934: 523 ss.; Camic, 1991: li, lvii ss.; Velthuis, 1999: 1-2; Zafirovski, 1999: 14). O tordesilhismo desta partilha, porém, e apesar da estatura académica dos proponentes directos ou indirectos – Talcott Parsons pela sociologia, secundando, corrigindo e completando opiniões de Lionel Robbins pela economics –, não resolveu todos os problemas, nem acalmou todas as consciências. Numa outra famosa partilha de territórios, celebrada em data poste rior, o próprio Parsons viria aliás a acordar com Alfred Kroeber uma distribuição deixando entregue à antropologia o “sistema cultural”, enquanto, no âmbito do famoso esquema AGIL, a sociologia se ocuparia do social (à psicologia e à biologia cabendo, é claro, os restantes dois sistemas). Este outro acordo de cavalheiros, entretanto, subsume por completo a economia no social, chegando mesmo Parsons a identificar para ela um “conjunto estrutural concreto” e um determinado imperativo funcional, a adaptação. Talvez mais significativo ainda: a divisão de tarefas a que então se procede com a antropologia é norteada por uma preocupação não disfarçada de identificar “nichos” académicos, competências institucionalmente reconhecidas para os vários grupos profissionais (Parsons e Kroeber, 1958). Mas nem tudo é manifestação directa e declarada dum objectivo de reconhecimento académico. Segundo por esta altura se esclarece, se antes se assumira para as duas disciplinas académicas grupos de variáveis distintos (cada uma delas respeitando e considerando como realidade paramétrica o assunto da outra), agora postula-se a existência de um grupo diferenciado de variáveis apenas para a ciência económica, sendo deixada à sociologia a inteireza do terreno do social e dos respectivos “ângulos de vista”: relativamente a tudo o teorizado pelo economista, tem agora o sociólogo o direito e mesmo o dever de sobrepor depois a sua própria meta-teorização. Ao Por esquema AGIL entendem-se os quatro imperativos funcionais que Parsons identifica em todos os sistemas, os quais corresponderiam à adaptação, à prossecução de objectivos (goal attainment), à integração e à estabilidade normativa (latency, pattern maintenance). Segundo o sociólogo norte-americano, no âmbito do “sistema geral da acção”, ao sistema cultural corresponderia o imperativo funcional da estabilidade normativa (L), ao social o da integração (I), ao da personalidade o da prossecução de objectivos (G), ao biológico o da adaptação (A). Considerado enquanto totalidade, o sistema social poderia por sua vez ser subdividido em “conjuntos estruturais concretos” respeitantes grosso modo à religião, ao direito, à política e à economia, correspondendo a cada um destes conjuntos um dos imperativos funcionais referidos, e pela mesma ordem. 116 | João Carlos Graça sociólogo parsoniano, pelo menos o desta fase tardia, nada do social é alheio. Tal como se explica, não deveria já pensar-se em termos de diferentes grupos de variáveis cometidos às diversas disciplinas académicas, como antes se recomendara, mas apenas de específicos aspectos da realidade que a economics, e só ela, deve tratar como paramétricos, enquanto a sociologia deve reportar as suas próprias variáveis fundamentais a toda a realidade social, independentemente do particular aspecto ou perspectiva com que trabalhemos. Todos eles, pois, são assunto sociológico (Parsons e Smelser, 1956: 5-6; Dalziel e Higgins, 2002: 14-15). Como parece relativamente óbvio, nem o acordo prévio é aqui respeitado no seu espírito, dado o económico aparecer explicitamente absorvido pelo “social” em sentido amplo, nem finalmente o princípio mesmo das divisões disciplinares é observado, dado tratar-se, também neste caso, de identificar um “económico” enquanto esfera distinta, à qual é mesmo cometida uma certa função, ou grupo de funções. Das partilhas fundadas na perspectiva regressa-se por conseguinte, pelo menos no que aos “conjuntos estruturais concretos” se refere, às partilhas de base substantivista. O “imperialismo sociológico” parsoniano, entretanto, nunca deixou de ser fundamentalmente ilusório: é a importância relativa, nas décadas subse quentes, da economia e da sociologia académicas, que impõe a conclusão. O próprio Parsons, aliás, sempre que o diálogo com a economia o aconselhou, tratou de regressar a uma prudência diplomática que é habitualmente sinal de inferioridade estratégica. Na já mencionada obra famosa sobre sociologia económica, escrita em co-autoria com Neil Smelser, a sua atitude sistemática mantém afinidades fundamentais com a das suas próprias primícias, sendo a de alguém que alega identificar “verdades parciais”, enunciadas independentemente pelos principais economistas de então (Keynes, Schumpeter, Hicks, Kaldor), esforçando-se entretanto por sobrepor a tais verdades parciais uma alegada metavisão sociológica que, para além de operar meramente na sequência do fluxo dos eventos que diz interpretar, é ainda tão estratosfericamente rarefeita e obscura que acaba por deixar quase toda a gente indiferente... quando não pura e simplesmente incapaz de prosseguir na leitura. De facto, em relação a tudo ou quase tudo o que a economia académica vinha concebendo e problematizando, da teoria dos ciclos às razões da inelasticidade dos salários teorizadas por Keynes, passando pelo “empre Aparentemente, Parsons adoptara esta atitude “abrangente” a partir do seu próprio reencontro com as ideias de Marshall, dado que a explana pela primeira vez nas Marshallian Lectures proferidas em Cambridge em Novembro de 1953, mas apenas redescobertas por Swedberg em 1991 (Dalziel e Higgins, 2002: 14). Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 117 sarialismo” à la Schumpeter ou mesmo às razões da diferença consagrada entre bens e serviços (muito mais subtis, garante-se, do que à primeira vista poderíamos pensar), a atitude de Parsons e Smelser corresponde ao que pode ser designado por busca da concórdia sublime, ou pelo menos superior: cada economista tem razão à sua maneira e sob um ângulo limitado, que Parsons e Smelser se encarregam de consagrar como legítimo na condição de poderem eles próprios reconduzi-lo ao âmbito do famoso esquema AGIL... Trata-se, claro, de sabedoria post festum em estado quase puro, dado que os autores se limitam de facto a seguir os acontecimentos consagrando-os como cruciais depois de se saber há muito que o são, abstendo-se obviamente (e sabiamente) de previsões que teriam a grave inconve niência de poderem ser desmentidas – e, como se tudo isso não bastasse, envolvendo ainda as suas especulações numa série de referências pouco claras, de jogos de ambiguidade, de inclinações para a auto-remissão que parecem destinados a garantir que o leitor desiste da própria leitura antes de se atrever nos terrenos da crítica. Quanto a este aspecto de rarefacção e obscuridade, registemo-lo, a “grande teoria” tem inegáveis pontos de contacto com a tristemente famosa inclinação “autista” da ciência económica académica – mas no contexto duma inegável desvantagem (comparativa e absoluta) para si própria. É que, se aquela pode pelo menos invocar, para protecção da sua autoridade aca démica, o peso incontornável das fórmulas e dos criptogramas matemáticos, o refúgio do parsonismo tende a não mais do que singelamente literário. Pelo lado da autoridade das matemáticas se passa também a uma outra pretensão imperialista, mas de sinal oposto: a que, no período posterior ao da hegemonia parsoniana, e via “teoria das escolhas racionais” (RCT), pretendeu transportar o “agente racional” da economics para o centro de toda a problemática sociológica (Boudon, 1977, 1979; Coleman, 1990, 1994). Talvez em parte a explicação para o empreendimento que a RCT representou resida na insatisfação mais ou menos generalizada que, pela década de 1970, o parsonismo provocara numa boa parte dos meios académicos. Talvez também a própria atitude prática prevalecente de Parsons – isto é, a oscilação entre o sublinhar das diferenças e a ênfase na pretensa vantagem da manutenção das fronteiras entre os campos disciplinares, de um lado, e a sugestão da metavisão sociológica englobante como mera sabedoria post festum, do outro – tenha propiciado uma experiência alternativa que, pelo menos, parece ter o mérito que os objectivos de unificação e coerência lógica dos diversos corpos académicos sem dúvida transportam consigo. Em boa verdade, entretanto, se já mesmo na análise económica em sentido estrito o peso das hipóteses simplificadoras (independência das funções- 118 | João Carlos Graça -utilidade dos agentes, informação perfeita, etc.) sobrecarrega o núcleo dos raciocínios com toda uma série de as if que apontam para a suprema irrelevância ou “autismo” do esforço intelectual (cf. Hodgson, 1994), aproximando os modelos económicos duma espécie de versão moderna do “jogo das contas de vidro” (em que ao alegado rigor teórico dos raciocínios se acrescenta a completa arbitrariedade dos resultados em termos práticos), tudo isso é, claro, muitíssimo mais verdadeiro ainda quando se pretende generalizar tal quadro de análise ao conjunto da existência humana. 3. ... e do seu núcleo analítico E deste modo, também por dégoût com estas pretensões imperiais, se regressa à sociologia económica, ou à ideia da sua importância. Na que é talvez a obra crucial do ponto de vista do relançamento académico desta disciplina, Neil Smelser e Richard Swedberg arriscam-se a defini-la como o estudo dos factos económicos da perspectiva e no âmbito do quadro de referência sociológico. Aliás, é esse mesmo o título dado à introdução do Handbook na primeira edição, de 1994: The Sociological Perspective on the Economy (Smelser e Swedberg, 1994b: 3). E, já no corpo do texto, continua-se: trata-se, segundo se pretende esclarecer, da “perspectiva sociológica aplicada aos fenómenos económicos”; ou ainda, e em versão mais elaborada, da “aplicação dos quadros de referência, variáveis e modelos explicativos da sociologia a esse complexo de actividades relativo à produção, distribuição, circulação e consumo de bens e serviços escassos” (ibid.: 3). Trata-se, porém, duma definição tão bela na sua simplicidade quanto imprecisa no seu significado. Em primeiro lugar, que quer dizer a expressão “fenómenos económicos”? Se se percorrer a definição de economia em manuais seja de economics seja de sociologia, facilmente se tropeçará com definições circulares, ambivalências e pior... Mas há mais: a definição de Smelser-Swedberg parece indicar um regresso à atitude substantivista característica do período pré-parsoniano. É verdade que a sociologia económica se distingue da economics por uma questão de perspectiva, mas isso não obsta, repare-se, a que se suponha a existência da economia como algo que está lá, objectivamente, um pouco à maneira dos referidos “factos de nutrição” de certos comteanos. Ora, convirá agora recordá-lo, foi antes de mais contra esta concepção do económico como um “departamento” distinto da realidade social, supostamente o relativo ao business, que Parsons (1934: 530) se manifestou com veemência nos seus escritos da década de 1930. Por outro lado, que significam em boa verdade expressões como “quadro de referência sociológico” ou “perspectiva sociológica”? Pretender-se-á com isso regressar à ideia parsoniana do estudo dos ultimate ends? Os Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 119 autores não empreendem esse esclarecimento, limitando-se a referir, apoiados em trabalhos anteriores de Smelser, […] as perspectivas sociológicas da interacção pessoal, grupos, estruturas sociais (instituições) e controlos sociais (entre os quais são centrais os valores, as normas e as sanções). Em face de desenvolvimentos recentes, deveríamos acrescentar que as perspectivas das redes sociais, do género e dos contextos culturais também se tornaram centrais na sociologia económica [...]. Para além disso, a dimensão internacional da vida económica tem assumido maior saliência entre os praticantes desta disciplina, à medida que aquela dimensão tem penetrado as economias reais do mundo contemporâneo. (Smelser e Swedberg, 1994b: 3) A edição de 2005, esclareça-se, mantém esta definição. A qual é, como se notará, uma definição que, partindo de fórmulas genéricas muitíssimo evasivas, opta entretanto prudentemente pelo método do arrolamento em regime de lista aberta: é sociologia económica, bem, aquilo que se revelar conveniente ir reconhecendo como tal, à medida que o tempo e as coisas forem avançando... Estas dificuldades, todavia, parecem vir de trás, limitando-se os editores do Handbook a acolhê-las e suavizá-las tanto quanto possível – e a admissão duma larga pluralidade de abordagens, independentemente das razões práticas que a ela tenham levado, dificilmente poderá deixar de ser reconhecida como algo meritório em si mesmo –, sem todavia serem capazes de as resolver. É a este respeito digno de menção pelo menos o facto de que, partindo-se da concepção “departamentalizada” do social dos comteanos da última viragem de século, substituindo-se essa pela ideia do jovem Parsons da existência de grupos de variáveis diversos segundo a disciplina académica, passando-se depois pela noção do Parsons tardio de uma sociologia interessada em tudo, sobreposta (interpretando-a e transcendendo-a) a uma economics confinada a um grupo limitado de aspectos, pareça enfim regressar-se agora a uma tímida afirmação da existência duma pluralidade de perspectivas diversas, cada uma delas correspondendo a uma disciplina académica diferente (isto é, no fundamental a ideia do Parsons da década de 1930). Essa afirmação de pluralidade é corrigida entretanto quer pela ideia da existência dum “sector” distintamente económico do social (a ideia dos comteanos), quer pela noção adicional de que a perspectiva sociológica pode, nalguns casos, levar à correcção, ler aperfeiçoamento, da teorização produzida pela economia académica. Não parece, entretanto, ser necessária uma particular inclinação para o hindsight para suspeitar, para além destas alegações algo frouxas e oscilantes, 120 | João Carlos Graça de certo modo subjacente a elas, de uma preocupação de legitimação institucional – assunto menos de estrita racionalidade, se se quiser, do que de sociologia da ciência na plenitude desta última expressão, em todo o caso no sentido em que Charles Camic a entendia quando a referiu à luta pelo reconhecimento académico empreendida pelo jovem Parsons e à lógica da escolha de predecessores (menos com base na adequação de conteúdos do que na preocupação de “colagem” ao prestígio reconhecido) que obviamente presidiu à sua conduta por estes anos (Camic, 1987, 1992). Essa suspeita sai claramente reforçada quando se observa que em muita desta literatura divulgadora se trata afincadamente do típico compor do retrato de família em que, a partir de legados teóricos imensamente diversos e mesmo largamente opostos (Durkheim versus Weber; Marx contra Pareto...), se pretende inventar uma suposta coerência do métier sociológico no seu conjunto. A ser assim, deve registar-se, o problema está evidentemente longe de ser monopólio da variante económica da sociologia, sem embargo das questões suscitadas pelos antepassados ilustres que esta tende obviamente a eleger como seus apenas (dos quais Karl Polanyi é talvez o mais famoso), acrescentando-os ao panteão geral. Mas nem por isso é menos dela também. Entretanto, decerto porque a necessidade de auto-legitimação com carácter lógico ou aparência disso é incontornável, mas também porque quase sempre el camino se hace al andar, diversos contributos posteriores para a definição da NSE têm indiscutivelmente vindo a confluir no seguinte feixe de problemáticas: existe ou não uma unidade de contributos teóricos anteriores susceptível de apontar para uma tradição canónica e um património comum da sociologia económica? É esta uma província da sociologia? Em que consistem, nesse caso, a “perspectiva” ou o “quadro de referência” sociológicos, e como é que, dessa tal perspectiva, se delimita o económico? Ou é antes a sociologia económica uma região, e não a mais nobre, da econo mics? Ou trata-se, numa terceira variante, duma zona de intersecção ou sobreposição das duas disciplinas académicas, uma no man’s land que é por isso também uma everyman’s land? Ou ainda, em quarta versão, estaremos perante uma espécie de arqui-disciplina correspondente à reunião (e não à intersecção) de economia e sociologia? E, nesse caso, poderá ela responder Quanto à construção de listas de ilustres na sociologia económica, cf. Smelser e Sweberg, 1994b e 2005b; Aspers, 1999 e 2001. Quanto à sociologia em geral, vejam-se as habituais galerias de predecessores egrégios, forçados – a bem ou a mal – ao consenso, à maneira de Aron, 1991; Bourdieu, Passeron e Chamboredon, 1998; Giddens, 1976 e 1998. Veja-se também, como verdadeiramente emblemática, a justificação de Jeffrey Alexander, 1988, para a insistência na importância do “panteão sociológico”. Quanto a esforços análogos, mas mais limitados, no caso da história do pensamento económico, ver ainda Rosner, 2000. Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 121 à objecção de que tais projectos megalómanos estão habitualmente votados ao fracasso? (Zafirowski, 1999: 6 ss.). Mas os problemas, apesar de já bastante diversificados, não se esgotam nestas interrogações. Como já foi referido, segundo alguns a “nova” sociologia económica distinguir-se-ia da “velha” precisamente por uma atitude de desrespeito e irreverência para com a economia académica, pretendendo abordar o próprio núcleo das problemáticas económicas em ruptura aberta com os pressupostos da mainstream economics, em vez de sabiamente dar a César o que é de César, como a tradição parsoniana aprendera a fazer e recomendara à posteridade (Granovetter, 1987, 1990). Os agentes agem em ambientes “puros”? Não, estão intensamente inseridos em redes sociais (ibid., 1985). Consideram o dinheiro como um simples meio abstracto e impessoal de pagamentos? Não, marcam-no em obediência a determinações afectivas e de acordo com tradições culturais específicas (Zelizer, 1989). As empresas procedem de acordo com critérios estritamente económicos? Não, frequentemente agem de acordo com objectivos políticos (Fligstein, 1996). E poderíamos decerto continuar. Mas também podemos e devemos perguntar-nos: obedece tudo isto a um programa de investigações claro? Existe algo mais na NSE do que a sensata, mas algo vaga, noção doutrinária duma “terceira via” entre a RCT e o determinismo cultural parsoniano (Marques, 2003)? E, caso exista, em que é que podemos distinguir esse algo do contributo daquilo que habitualmente se designa por “economia institucio nalista”, sobretudo na sua versão “velha” que Geoffrey Hodgson (1994) trouxe de volta à ribalta – evolução, conflito, causalidades circulares cumulativas, equilíbrios pontuados, exaptações, fenómenos QWERTY, path-dependencies –, para já não falar na famosa econologia, empreendimento conjunto que o mesmo Hodgson (1996-2004) também propôs? Mas está longe de existir consenso quanto a esta suposta diferença entre “nova” e “velha” sociologia económica. Contra ela, e em defesa duma fundamental continuidade, veja-se Zafirovski, 1999: 9 ss. É bem provável que a diferença faça sentido sobretudo quando reportada a um meio académico em que o ascendente parsoniano foi maior. Em casos em que os recursos intelectuais prevalecentes foram outros, e o confronto com a mainstream economics geralmente mais vivo e mais assumido, o sentido da pretensa novidade tende compreensivelmente a esfumar-se. Ficam breves esclarecimentos quanto a algum do jargão “evolucionário” utilizado. Equilíbrios pontuados: referem-se à existência duma multiplicidade de “picos adaptativos”, de tal modo que a passagem de um para o outro se torna muito problemática, ainda que o último represente uma indiscutível vantagem adaptativa relativamente ao primeiro. Exaptações: os materiais espontaneamente produzidos pela evolução, embora originariamente de acordo com princípios adaptativos, podem ser continuamente reciclados para novas funções, de tal forma que uma realidade concreta não pode ser estudada referindo-a apenas à sua eventual funcionalidade, mas aos acidentes históricos concretos que a tornaram possível. Fenómenos QWERTY: uma realidade gerada em certo contexto, e que nele se torna funcional, pode persistir muito para além da sobrevivência dos factores ambientais que na origem determinaram a sua funcionalidade. Exemplo clássico é o teclado 122 | João Carlos Graça Deve também, a este respeito, fazer-se pelo menos uma referência à “economia das convenções”, com cujos mestres os praticantes institucionais da sociologia económica têm recentemente procurado estabelecer um diálogo, que todavia ainda não foi aprofundado e está longe de poder ser considerado particularmente promissor (Swedberg, 2003; Jagd, 2004; Thévenot, 2004). Outros empreendimentos de “síntese”, ou de “fronteira”, têm virtualmente sido ignorados. A grande excepção, apesar da exclusão de Hodgson da lista de autores na versão mais recente do Handbook, é talvez o institucionalismo económico, relativamente ao qual deve pelo menos reter-se a observação de Olav Velthuis (1999: 6-7), quando registou que a maior parte dos adeptos deste último são recrutados nas academias europeias, enquanto a NSE, para além das inevitáveis diferenças de formas mentais acarretadas pela sua distinta tradição, observa igualmente o traço interessante da pronunciada hegemonia norte-americana na galeria de autoridades reconhecidas, sendo que o meio universitário da economics nos EUA continua ainda hoje em dia marcadamente hostil a tudo o que mesmo vagamente sugira institucionalismo. Talvez por isso mesmo, entretanto – o que é aceitável para a mainstream economics vindo duma disciplina diversa torna-se insuportável se teorizado por dissidentes seus –, não se tenha observado a aproximação ou mesmo convergência das duas correntes que Velthuis considerava não só enfim possível, como sobretudo desejável... Tudo isto, como é evidente, torna forçoso levantar a suspeita: tratar-se-á sobretudo, no caso da NSE, de um facto académico susceptível de ser reconduzido à irracionalidade dos caprichos intelectuais? Pior ainda: será o próprio recalcamento/negação da tradição institucionalista a abrir para a NSE, pelo menos em certos meios, um Lebensraum académico que ela aproveita em benefício próprio sem reconhecimento das suas dívidas teóricas fundamentais? Ou então, e em versão mais benigna da mesma provocação: em face da preocupação reconhecida da NSE com o estudo das redes sociais, deveríamos sobretudo suspeitar nesse caso duma auto-ironia colectiva involuntária? Isto é: serão sobretudo os conhecimentos pessoais de Richard Swedberg, o seu super-abundante capital social, a suportar a rede internacional de académicos que mantém acesa a chama duma aparência da máquinas de escrever, cujas primeiras letras são q-w-e-r-t-y, e que era mais funcional que os restantes dada uma determinada tecnologia de produção das máquinas. Path-dependencies: literalmente, dependência do caminho ou da trajectória. Diz-se em geral dos aspectos, sobretudo atinentes à limitação das opções reais defrontadas pelos agentes, destacados pelas teorizações valorizadoras da importância da história concreta no estudo duma qualquer realidade. Econologia: neologismo cunhado por Geoffrey Hodgson, reportando-se a um corpo (in)disciplinar a promover, o qual comportaria elementos teóricos e metodológicos importados quer da economia quer da sociologia. Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 123 de saber e de coerência que não o são de facto? O afã posto no conhecimento das lógicas das redes sociais deverá, em suma, ser considerado como o espontâneo nosce te ipsum da NSE? 4. Observações inconclusivas Abandonando o plano da provocação, parece entretanto bastante razoável reconhecer-se a importância da existência de várias tradições académicas, dos seus rituais colectivos, dos seus cerimoniais e das suas formas específicas de preservação da memória grupal como condição absolutamente necessária à continuidade de qualquer corpo disciplinar. O que é verdade para a sociologia económica é-o também, e talvez em grau ainda superior, para a sociologia tout court, para a economia e para as várias outras ciências sociais, para já não levar demasiado longe a pretensão deste modesto inquérito. Tomemos o caso da economics. Em boa verdade, que quer hoje dizer “economista”? Trabalhando no quadro duma pretensão declarada de unificação das ciências humanas, Samuel Bowles e Herbert Gintis, do justamente famoso Santa Fe Institute, e para mencionar dois nomes algo distantes da ortodoxia mais fechada, julgaram poder identificar o fundamento dos problemas de teoria social, quase a “pedra filosofal” do estudo das sociedades humanas, numa pretensa “reciprocidade forte” que, se por um lado interpelaria directa e assumidamente a noção económica vulgar de independência das funções-utilidade, obrigando assim à reformulação do quadro analítico da economia mainstream, por outro lado implicaria também, diz-se, o abandono dos actores hiper-socializados da sociologia tradicional – e isso em nome do facto de que “a facilidade com que os diversos valores são interiorizados depende da natureza humana [...], e o ritmo com que os valores são adquiridos e abandonados depende da sua contribuição para a aptidão e o bem-estar” (Gintis, 2003: 21). Nesta ou em variedades semelhantes, este óbvio spencerismo e este inegável utilitarismo, aliás não menos vulgares apesar de saídos da pena dum doctor subtilissimus, parecem em todo o caso tender a constituir-se em tentações omnipresentes nas tentativas de unificação das ciências humanas operando com sede na economics. A inclinação para concepções sub-socializadas das condutas, e daí também para a alegada identificação demasiado apressada de pretensos universais de conduta fundados na “natureza humana”, é algo que uma mente treinada na profissão de economista tende a transportar consigo e a transformar em contrabando intelectual, talvez precisamente, e não sem algum ironia, porque o nível de interiorização das normas culturais de conduta é aqui tão profundo que torna difícil a tomada de consciência clara das mesmas... E, todavia, bastava a Gintis ter ao menos 124 | João Carlos Graça levado em linha de conta a ideia neo-darwiniana de co-evolução, isto é, a noção de que as diferentes espécies vão interagindo e moldando o próprio meio em relação ao qual faz sentido discutir a própria fitness, para tropeçar no que é talvez a objecção mais central à sua linha de argumentação: não há, de facto, uma natureza humana inalterável relativamente à qual faça sentido discutir noções tais como a “contribuição para a aptidão e o bem-estar”. Quer o aspecto propriamente da “aptidão”, quer ainda mais o do “bem-estar”, são susceptíveis duma redefinição indefinidamente incremental; e essa é obviamente, e primordialmente, assunto da cultura. A inquietação é, entretanto, sem dúvida a marca dominante no empreen dimento da célebre dupla de Santa Fé, talvez por isso mesmo particularmente vocacionada para a ideia de unidade das ciências humanas. Oiçamo-los agora num outro contexto, e atentemos na legitimação que, quase in extremis, eles encontram para a profissão de economista: [...] as fronteiras disciplinares entre a economia e as outras ciências comportamentais [...] parecem agora mais impedir do que promover o conhecimento. [...] O leitor pode perguntar-se porque é que não fazemos as malas e nos tornamos sociólogos. A resposta, pensamos, está no facto de que os pontos fortes distintivos da economia – explicar preços e quantidades, bem como explorar as formas complexas e frequentemente inesperadas como acções não coordenadas geram resultados finais agregados e dinâmicas por vezes não antecipadas –, não é menos relevante hoje do que quando foi iniciado pelos economistas clássicos há dois séculos. (Bowles e Gintis, 2000: 20) Quando se ouve tantas vezes falar em sociologia de efeitos perversos e ordem social, ou de ordem social como resultado de efeitos não desejados e não antecipados, pode parecer estranho que dois economistas mastermind considerem esse tipo de assuntos precisamente a diferença específica – ou a reserva senhorial – da sua profissão. Todavia, por alguma misteriosa razão, não resulta surpreendente que os vícios identificados sejam aqui reportados a uma variedade muito singular de economics e apenas ela, a economia walrasiana, e que o pretenso núcleo analítico da disciplina seja assim cuida dosamente salvo das águas. Qual é esse núcleo? Isso, entretanto, já parece tender a transformar-se em algo mais próximo de um mistério insondável, a ponto de as declarações de outro modo pungentes de outro economista mastermind – a economia política é “o corpo de teoria que se propõe explicar os fenómenos económicos” e “O que quer que tenha mudado, um elemento de continuidade que percorre a economia política de Montchrétien e antes até à de Stiglitz Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 125 e depois é a sua inescapável dependência de um qualquer tipo de teoria” (Waterman, 2002: 1) – já nos poderem parecer perfeitamente normais, dadas as circunstâncias... Se indagarmos, entre outros assuntos, também acerca das inclinações da mainstream economics em matéria de implicações políticas, fácil se tornará verificar a enorme disparidade de posições existente nas formas como a estória da disciplina é contada: é ver, à laia de exemplo, o caso de Vilfredo Pareto, que no ensaio referido de Waterman aparece referido como apa drinhador de ideias de economia planificada: “socialismo paretiano” (ibid.: 8-9). E tudo isso, é claro, contraposto ao louvado carácter “orgânico” das concepções hayekianas, ao culto da sabedoria espontânea das nações que se depreende dos raciocínios económicos do austríaco. O que nos reservará ainda o futuro da história da história do pensamento económico, em matéria de loopings intelectuais e outras acrobacias? Mas será só na economia académica que reina a confusão? Deixemos de considerar os outros e, seguindo o antigo mandamento filosófico, atentemos também nós na história da própria sociologia. Quem liga ainda hoje alguma importância à ideia durkheimiana de uma ciência – decerto abrangente também do económico, mas a distinguir cuidadosamente pelo menos do psicológico e do biológico – de factos ditos exteriores, coercivos e repetitivos (não exteriores e coercivos porque repetitivos, mas repetitivos porque exteriores e coercivos)? Ou, para além do lado trivial de tais noções, à definição weberiana de um empreendimento sistemático de compreensão e tipificação de acções dotadas de significados e reciprocamente orientadas, bem como das ordens delas resultantes? E isto, claro, para já nem falar do projecto paretiano de um pretenso conhecimento lógico do lado não-lógico da natureza humana... E quem se preocupará verdadeiramente com a forma como empresas tão díspares podem ser concebidas de forma tal, e com tão grande dose de boa vontade e generosidade interpretativa, que são feitas compatíveis entre si? Ou como outros ainda, segundo as circunstâncias e as conveniências mais ou menos mutáveis, podem ser incorporados ou excluídos do panteão, apagados da fotografia de grupo ou nela redesenhados, e de formas em que a espontaneidade e a ligeireza se mesclam de forma perturbadora com a consciência e a premeditação... Quanto à forma como o problema particular representado pelo caso de Werner Sombart foi “processado” pela tradição sociológica de novecentos, veja-se Grundmann e Stehr, 2001. Acerca das questões que para a tradição de construção parsoniana representam, entre outros, Simmel e os institucionalistas norte-americanos, cf. Camic, 1987, 1989, 1991 e 1992. 126 | João Carlos Graça Que se salva disto tudo? Antes de mais, parece-me, a apologia duma mente aberta e duma atitude alerta para as formas como as histórias das várias disciplinas académicas têm sido (re)escritas ao longo dos tempos – ou pelo menos o desejo disso; uma consciência clara, evidentemente, da importância de factores outros que não as estritas regras do jogo lógico na determinação do que têm sido o sucesso e o insucesso académicos; uma convicção, do mesmo modo, de que nesta matéria a história ainda não acabou nem está escrita de antemão; também uma adesão, decerto, a projectos unificadores, desde que a verdadeira complexidade das problemáticas seja salvaguardada – de facto, e não apenas nominalmente – e que o transporte das ideias seja feito às claras, de forma declarada, e não contrabandeado; a noção, enfim, de que as fronteiras disciplinares ou os pedigrees das ideias são menos importantes do que a fecundidade analítica das mesmas. E talvez, bem vistas as coisas, já não seja pouco. É claro que, pelo menos em parte, a viabilidade do projecto da NSE pode também ser referida à própria inclinação pela transdisciplinaridade, para não dizer mesmo indisciplinaridade, acarretada ou sugerida por uma certa des-diferenciação social, neste caso académica, que já foi considerada uma das características da pós-modernidade (Anderson, 2005). Mas o assunto está porventura longe de poder ser reconduzido ao culto do transiente que anda habitualmente associado às teorias da referida pós-modernidade. Talvez a NSE, independentemente das suas limitações e inibições, seja ao fim e ao cabo um projecto a acarinhar antes de mais por estar em aberto, por nada ou quase nada excluir à partida, por expressar, enfim, aquela possibilidade de “síntese” enriquecedora de patrimónios meméticos diversos, que é talvez a primeira condição de vitalidade. Note-se que, como já foi observado (Hodgson, 1997), se no plano das realidades biológicas as convergências só são possíveis ao nível dos fenótipos, dado que em matéria de genótipos se impõe a lógica indefinidamente diversificadora e afastadora que é a da própria “árvore da vida”, já com as realidades culturais, e dada a fundamental indistinção entre genótipo e fenótipo na transmissão memética, as fusões efectivas tornam-se possíveis, sendo pois a imagem da evolução menos a árvore – partindo da unidade e conduzindo ao afastamento irreversível – do que o labirinto – em que afastamentos e reaproximações são, uns e outros, indefinidamente possíveis, mas não necessários. E que disciplina estará melhor vocacionada para a evolução no (e pelo) labirinto do que aquela que, precisamente, fez da análise das redes sociais um dos seus temas principais, se não mesmo o tema por excelência? Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 127 Referências Bibliográficas Alexander, Jeffrey C. (1988), “The Centrality of the Classics”, in Anthony Giddens; Jonathan Turner (Orgs.) (1988), Social Theory Today. London: Polity Press. Anderson, Perry (2005), As origens da pós-modernidade. Lisboa: Edições 70. Aron, Raymond (1991), As etapas do pensamento sociológico. Lisboa: Círculo de Leitores. Aspers, Patrik (1999), “The Economic Sociology of Alfred Marshall: An Overview”, American Journal of Economics and Sociology, Outubro, http://www.findarticles. com/p/articles/mi_m0254/is_4_58/ai_58496753/print. Aspers, Patrik (2001), “Crossing the Boundary of Economics and Sociology: The Case of Vilfredo Pareto”, American Journal of Economics and Sociology, Abril, http://www. findarticles.com/p/articles/mi_m0254/is_2_60/ai_75451916/print. Boudon, Raymond (1977), Effets pervers et ordre sociale. Paris: P.U.F. Boudon, Raymond (1979), La logique du social. Introduction à l’analyse sociologique. Paris: Hachette. Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude; Chamboredon, Jean-Claude (1998), Le métier de sociologue – préalables épistémologiques. Paris: École de Hautes Études en Sciences Sociales. Bowles, Samuel; Gintis, Herbert (2000), “Walrasian Economics in Retrospect” (Department of Economics, University of Massachusetts, 01003, for publication in the Quarterly Journal of Economics; versão electrónica: http://www.santafe.edu/files/ gems/developments/marshall.pdf. Camic, Charles (1987), “The Making of a Method: A Historical Reinterpretation of the Early Parsons”, American Sociological Review, 52(4), 421-439. Camic, Charles (1989), “Structure After 50 Years: The Anatomy of a Charter”, The American Journal of Sociology, 95(1), 38-107. Camic, Charles (1991), “Introduction: Talcott Parsons Before The Structure of Social Action”, in Talcott Parsons, The Early Essays, Edited and with an Introduction by Charles Camic. Chicago and London: The University of Chicago Press, ix-xix. Camic, Charles (1992), “Reputation and Predecessor Selection: Parsons and the Institutionalists”, American Sociological Review, 57(4), 421-445. Coleman, James (1990), Foundations of Social Theory. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. Coleman, James (1994), “A Rational Choice Perspective on Economic Sociology”, in Neil J. Smelser; Richard Swedberg (Orgs.), 166-180. Dalziel, Paul; Higgins, Jane (2002), Pareto, Parsons and the Boundary Between Economics and Sociology. Working-paper, http://nzae.org.nz/files/%2365-DALZIEL-HIGGINS. PDF. Fligstein, Neil (1996), “Markets as Politics: a Political-Cultural Approach to Market Institutions”, American Sociological Review, 61(4), 656-673. 128 | João Carlos Graça Garcia, Manuel Emídio (1882), “Divisão interna da sociologia”, O Instituto, Vol. XXX, 9 ss. Giddens, Anthony (1976), Capitalismo e moderna teoria social. Lisboa: Editorial Presença. Giddens, Anthony (1998), Política, sociologia e teoria social – confrontos com o pensamento social clássico e contemporâneo. Oeiras: Celta Editora. Gintis, Herbert (2003), Towards a Unity of the Human Behavioral Sciences. Santa Fe Institute Working Paper #02-03-015, http://www-unix.oit.umass.edu/%7Egintis/ unity_abst.html. Granovetter, Mark (1985), “Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, 91(3), 481-510. Granovetter, Mark (1987), “On Economic Sociology: an Interview with Mark Granovetter”, Research Reports from the Department of Sociology, Uppsala University, 1, 1-26. Granovetter, Mark (1990), “The Old and the New Economic Sociology: a History and an Agenda”, in Roger Friedland; A. F. Robertson (Orgs.), Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society. New York: Aldine de Gruyter, 89-112. Grundmann, Reiner; Stehr, Nico (2001), “Why Is Werner Sombart Not Part of the Core of Classical Sociology?”, Journal of Classical Sociology, 1(2), 257-287. Hodgson, Geoffrey M. (1994), “The Return of Intitutional Economics”, in Neil J. Smelser; Richard Swedberg (Orgs.), 58-76. Hodgson, Geoffrey M. (1996-2004), “Economic Sociology – Or Econology?”, in Economic Sociology Editorial Series, http://www.gsm.uci.edu/econsoc/essays.html e http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/topics/econsoc.html e http://www2.fmg.uva.nl/ sociosite/topics/econsoc.html. Hodgson, Geoffrey M. (1997), Economia e evolução – o regresso da vida à teoria económica. Oeiras: Celta Editora. Ingham, Geoffrey (1996), “Some Recent Changes in the Relationship Between Economics and Sociology”, Cambridge Journal of Economics, 20, 243-275. Jagd, Soren (2004), “Laurent Thévenot and the French Convention School: A Short Introduction”, Economic Sociology European Electronic Newsletter, 5(3), 2-9 (versão electrónica: http://econsoc.mpifg.de/archive/esjune04.pdf. Laranjo, José Frederico (1907), Princípios de direito político e direito constitucional português. Coimbra: Imprensa da Universidade. Laranjo, José Frederico (1997), Princípios de economia política – 1891. Lisboa: Banco de Portugal (introdução e direcção de edição de Carlos Bastien). Marques, Rafael (2003), “Introdução, os Trilhos da Nova Sociologia Económica”, in João Peixoto; Rafael Marques (Orgs.), A nova sociologia económica. Oeiras: Celta Editora, 1-67. Parsons, Talcott (1934), “Some reflections on ‘The Nature and Significance of Economics’ ”, The Quarterly Journal of Economics, 48(3), 511-545. Afinal, o que é mesmo a Nova Sociologia Económica? | 129 Parsons, Talcott; Kroeber, Alfred (1958), “The Profession: Reports and Opinions”, American Sociological Review, 23(5), 582-590. Parsons, Talcott; Smelser, Neil J. (1956), Economy and Society, a Study in the Integration of Economic and Social Theory. London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul. Rosner, Peter (2000), “In Defence of a Traditional Canon: a Comparison of Ricardo and Rau”, in Michalis Psalidopoulos (Org.) (2000), The Canon in the History of Economics. London and New York: Routledge. Smelser, Neil J.; Swedberg, Richard (Orgs.) (1994a), The Handbook of Economic Sociology. Princeton, New Jersey: Russell Sage Foundation. Smelser, Neil J.; Swedberg, Richard (1994b), “The Sociological Perspective on the Economy”, in idem (Orgs.), 3-26. Smelser, Neil J.; Swedberg, Richard (Orgs.) (2005a), The Handbook of Economic Sociology. Princeton, New Jersey: Russell Sage Foundation. Smelser, Neil J.; Swedberg, Richard (2005b), “Introducing Economic Sociology”, in idem (Orgs.), 3-25. Sousa, José Ferreira Marnoco e (1997), Ciência económica – 1910. Lisboa: Banco de Portugal (introdução e direcção de edição de Maria de Fátima da Silva Brandão). Swedberg, Richard (2003), “Economic Sociology Meets the Economics of Conventions”, Colloque Conventions et Institutions: Approfondissements Théoriques et Contributs au Débat Politique, http://forum.u-paris10.fr/cd/fr/seminaires/coll_convention/programme.asp. Thévenot, Laurent (2004), “The French Convention School and the Coordination of Economic Action, Laurent Thévenot Interviewed by Soren Jagd at the EHESS Paris”, Economic Sociology European Electronic Newsletter, 5(3), 10-16 (versão electrónica: http://econsoc.mpifg.de/archive/esjune04.pdf. Velthuis, Olav (1999), “The Changing Relationship Between Economic Sociology and Institutional Economics: from Talcott Parsons to Mark Granovetter”, American Journal of Economics and Sociology, Outubro, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0254/is_4_58/ai_58496752/print. Waterman, A. M. C. (2002), “«New Political Economics» Then and Now: Economic Theory and the Mutation of Political Doctrine (Historical Perspectives)”, American Journal of Economics and Sociology, Janeiro, http://www.findarticles.com/p/articles/ mi_m0254/is_1_61/ai_84426592/print. Zafirovski, Milan (1999), “Economic Sociology in Retrospect: In Search of its Identity Within Economics and Sociology”, American Journal of Economics and Sociology, Outubro, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0254/is_4_58/ai_58496751/ print. Zelizer, Viviana A. (1989), “The Social Meaning of Money: «Special Moneys»”, American Journal of Sociology, 98(2), 342-377. Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 131-143 Qual o papel da pedagogia crítica nos estudos de língua e de cultura? Entrevista com Henry A. Giroux1 Manuela Guilherme Henry Giroux posicionou-se como figura destacada na teoria da educação radical no final dos anos oitenta. Não só retomou as propostas para uma educação cívica dos principais teóricos da educação do século XX, nomeadamente Dewey, Freire e outros como os reconstrucionistas Counts, Rugg e Brameld, mas também expandiu as teorias desses autores avançando com a ideia de uma “pedagogia de fronteira”. A sua proposta pode ser entendida como a aplicação de uma perspectiva cosmopolita pós-colonial à noção norte-americana de educação cívica democrática. Giroux elabora uma visão para a educação que corresponde aos desafios que se apresentam, no início deste século XXI, às sociedades ocidentais e que decorrem das profundas mudanças demográficas e políticas pelas quais elas estão a passar na actualidade. Quanto mais tempo levar aos políticos da educação para assumir com seriedade as suas recomendações, mais tempo e possibilidades estaremos a perder e a negligenciar. De facto, os educadores, em todos os níveis do sistema educativo e por todo o mundo, sentem uma desmotivação crescente, e mesmo frustração, porque se vêem ultimamente forçados a recuar em vez de avançar, no sentido de criarem desafios para si próprios, quer na sua condição de profissionais, quer de cidadãos, a fim de corresponderem às necessidades das nossas sociedades em rápida mudança. Giroux tem incitado os educadores e os académicos a reagir a estas forças paralisantes e a serem críticos, criativos e esperançosos em relação ao potencial que, tanto eles como os seus estudantes, podem oferecer, a fim de contrariar as tendências políticas conservadoras que têm imposto uma definição de excelência em educação que significa mais uma submissão às pressões de mercado do que excelência educativa nos termos de uma produção intelectual inovadora. Giroux incita, ao mesmo tempo, à análise crítica e ao reconhecimento de possibilidades na educação e advoga tanto a independência como a responsabilidade para professores e estudantes, isto é, clama por dignidade e respeito para com as instituições de educação, professores e estudantes. Giroux reafirmou corajosamente a natureza política do trabalho diário dos investigadores em educação e dos próprios educadores. Para além disto, Giroux teorizou eloquentemente uma pedagogia dos Estudos Culturais baseada no que fora Esta entrevista foi publicada originalmente em inglês, na revista Language and Intercultural Communication, 6(2). Agradecemos aos responsáveis por esta revista a autorização concedida para a publicação da versão portuguesa. 1 132 | Entrevista com Henry A. Giroux proposto pelo próprio teórico da educação, Raymond Williams. De facto, a área dos Estudos Culturais tem sido problematizada, e é em si própria problemática, embora muito rica e prometedora, dado que tem fracturado fronteiras entre disciplinas. No entanto, precisamente por esta razão, exige uma teorização completa que descreva os seus objectivos bem como os fundamentos do seu conteúdo epistemológico e dos seus procedimentos. Giroux deu, neste campo, importantes contributos para descrever estes processos ao rastrear as relações entre língua, texto e sociedade, as novas tecnologias e as estruturas de poder que lhes subjazem. Esta foi a sua resposta quer aos críticos dos Estudos Culturais, quer aos académicos que neles se têm refugiado para seguir uma moda ou para encontrar uma saída das suas disciplinas tradicionais agora em descrédito. Indicou ainda novos caminhos, que não se limitam a recuperar a nova área, politicamente empenhada e cientificamente fundamentada, dos Estudos Culturais, iniciada por Raymond Williams e Stuart Hall, mas oferecem uma a análise das implicações das novas tecnologias no intercâmbio e na recriação de conhecimento novo por entre as novas teias de poder. Justifica‑se, portanto, mencionar o sucesso de Giroux na identificação de novos modos de representação e de aprendizagem. Giroux iniciou, de facto, uma nova escola de pensamento e, com a sua voz afirmativa, vibrante e empenhada, instigou à acção tanto os teóricos como os práticos da educação. Ao advogar uma pedagogia da responsabilidade, assumiu a responsabilidade pelo seu próprio papel social e político de académico. Concentrou a sua atenção na redefinição e no reforço da noção de “público” em relação ao conhecimento, à educação e à vida cívica, sobretudo incorporando conceitos tais como “tempo e espaço públicos”. Enquanto muitos teóricos da educação se concentraram na influência da sociedade no contexto educativo, Giroux, embora pondo criticamente a nu as forças políticas e econó micas que ameaçam a independência e a criatividade na escola e na academia, é mais ousado e chama, de forma clara, a nossa atenção para o potencial transformador da escola e da academia no contexto mais amplo da sociedade, recuperando, assim, a natu reza política da actividade pedagógica. Por fim, embora focalize o seu discurso nos aspectos gerais da educação, na educação para a cidadania e nos estudos culturais, Giroux oferece, através das suas propostas para a teoria e a prática educativas, aos teóricos e práticos da língua e da comunicação intercultural os fundamentos para a renovação das suas visões e das suas práticas. Entrevista com Henry A. Giroux | 133 Todo o seu trabalho demonstra uma preocupação profunda e consistente com a vida cívica num mundo globalizado. Como é que define uma forma mais globalizada do exercício da cidadania? A cidadania evoca uma noção do social na qual os indivíduos têm deveres e responsabilidades uns para com os outros. Uma noção globalizada de cidadania expande o conceito de contrato social para além das fronteiras do estado-nação, evocando uma noção mais ampla de democracia na qual o global se torna o espaço onde se exercita a coragem cívica, a responsabilidade social, a política e a compaixão pelo destino dos outros. É evidente que, por exemplo, a obrigação dos cidadãos para com o meio ambiente não pode ser vista meramente como um problema nacional. Ao mesmo tempo, uma noção globalizada de cidadania acentua as questões de responsabilidade e de interdependência, definindo a cidadania não apenas como a emanação política de direitos, mas também como um repto de natureza ética tendo em vista diminuir a distância entre a promessa e a realidade de uma democracia global. É também importante reconhecer que a ideia de cidadania não pode ser separada dos espaços nos quais a cidadania se fomenta e se desenvolve. Isto sugere que qualquer luta por uma noção significativa e globalizada de cidadania, que encoraje o debate e a responsabilidade social, deve fomentar e desenvolver as esferas públicas, tais como escolas, os meios de comunicação social e outras instituições nas quais se possam desenvolver pedagogias críticas cívicas. A noção de cidadania global sugere que a política deve confrontar-se com o poder que actualmente se afastou do controlo local e do controlo do Estado. Devem desenvolver-se novas estruturas políticas, instituições globais e movimentos sociais que possam alcançar e controlar os movimentos de um poder não controlado, em particular do poder económico. Uma cidadania efectiva, no sentido global, significa capacitar as pessoas para terem uma palavra na elaboração das leis internacionais que governam o comércio, o meio ambiente, o trabalho, a justiça criminal, a protecção social, etc. A cidadania, enquanto essência da política, deve ajustar-se às novas formações sociais, que as actuais instituições sociais e políticas do Estado-nação não estão em condições de influenciar, limitar ou controlar. Quais são as capacidades específicas que este novo cidadão cosmopolita deve desenvolver? Os cidadãos de uma democracia global devem estar conscientes da natureza interactiva de todos os aspectos da vida cultural, espiritual e física. Isto significa ter um entendimento profundo da natureza relacional das dependências globais, quer falemos da ecosfera ou dos circuitos do capital. Em segundo lugar, os cidadãos devem ter uma cultura multifacetada, de um modo que não só lhes dê acesso às novas tecnologias da informação e dos media, mas também lhes permita ser transgressores de fronteiras preparados para se empenharem, aprenderem, interpretarem e serem tolerantes e responsáveis relativamente a tudo o que envolve diferença e alteridade. Isto sugere que se reclamem os valores da importância mútua, da dignidade e da responsabilidade ética como centrais a qualquer noção viável de cidadania. Está aqui em causa o reconhecimento de que existe uma certa virtude cívica e valor ético no aumento da nossa exposição à diferença e à alteridade. Os cidadãos devem cultivar lealdades que se estendam para além do Estado-nação, para além da distinção teó- 134 | Entrevista com Henry A. Giroux rica entre amigo e inimigo mediada exclusivamente pelas fronteiras nacionais. A cidadania, como uma forma de aquisição de poder, implica claramente a aquisição de capacidades que nos permitam examinar criticamente a história e ressuscitar as memórias perigosas através das quais o conhecimento expande as possibilidades de autoconhecimento e de actuação crítica e social. Nem só o conhecimento indígena nos confere poder. Os indivíduos devem também estabelecer alguma distância relativamente ao conhecimento do seu berço, das suas origens e da especificidade do seu lugar. Isto implica apropriar-se daqueles conhecimentos que emergem da dispersão, das viagens, das transgressões de fronteiras, da diáspora e através das comunicações globais. Uma noção cosmopolita da sociedade deve reconhecer a importância da divergência e de uma cultura de questionamento para qualquer conceito de democracia. A esfera pública global deve ser um espaço onde a autoridade possa ser questionada, o poder responsabilizado e a divergência vista como positiva. Há um autoritarismo crescente em muitas partes do globo, especialmente nos Estados Unidos. Para nos confrontarmos com esta ameaça à democracia por todo o mundo, é essencial que os educadores, pais, jovens, trabalhadores e outros impeçam que a democracia degenere em formas de nacionalismo patrioteiro. Isto significa que os educadores, e os outros, terão de revigorar a democracia assumindo que um projecto peda gógico que dê prioridade ao debate, à deliberação, à divergência, ao diálogo e ao espaço público deve ser central a qualquer noção viável de cidadania global. De igual modo, se a cidadania for global, deve desenvolver-se um sentido de humanismo radical que compreenda a justiça social e ambiental fora das fronteiras nacionais. O sofrimento humano não se extingue nas fronteiras do Estado-nação. Na minha perspectiva, uma das suas propostas mais inspiradoras é a exigência de um papel mais dignificante e empenhado do educador em todos os níveis do sistema educativo. Confirma que este é um dos principais objectivos da sua escrita? Sempre argumentei que os professores devem ser tratados como um recurso público crítico, essencial não só para uma experiência educativa afirmativa dos estudantes mas também para a formação de uma sociedade democrática. No plano institucional, isto significa dar aos professores a oportunidade de exercer o poder sobre as suas próprias condições de trabalho. Não podemos separar a actividade docente das condições económicas e políticas que enquadram a sua condição profissional, isto é, o seu trabalho académico. Isto signi fica que deveriam ter tanto o tempo como o poder de instituir as condições estruturais que lhes permitam produzir o currículo, colaborar com os encarregados de educação, realizar investigação e trabalhar com as comunidades. Para além disto, a dimensão dos edifícios escolares deve ser limitada de modo a permitir aos professores e outros construir, manter e animar o sentimento de uma sociedade democrática para eles e para os seus estudantes. Falamos não só da questão do número de alunos por turma, mas também do modo como o espaço pode ser organizado institucionalmente como uma parte de um projecto político compatível com a formação de sociedades vivas e democráticas. Em segundo lugar, deveria dar-se aos professores a liberdade de desenhar os currículos escolares, de empreender investigação partilhada com outros professores e com outros fora da escola e ainda de ter um papel central na governação da escola Entrevista com Henry A. Giroux | 135 e do seu próprio trabalho. A autoridade pedagógica dos professores não pode separar-se das questões de poder e de gover nação. Os educadores devem ser consi derados como intelectuais públicos que estabelecem a ligação entre as ideias críticas, as tradições, as disciplinas e os valores da esfera pública no seu dia-a-dia. Mas, ao mesmo tempo, os educadores devem assu- mir a responsabilidade de ligar o seu trabalho às questões sociais mais amplas, interrogando-se sobre o que significa capacitar os seus alunos para escrever textos políticos, para ser perseverantes perante a derrota, para analisar os problemas sociais e para aprender a utilizar os instrumentos da democracia e a marcar a diferença como agente social. Também propõe uma interacção evidente entre teoria e prática, que os nossos sistemas académicos e as nossas sociedades têm procurado separar. Poderia explicar as vantagens de as articular para efeitos de uma educação para a cidadania democrática? A educação para a cidadania deve levar a sério a ligação entre teoria e prática, reflexão e acção. Acontece, muitas vezes, a teoria na academia deslizar para uma forma de teorismo na qual se torna um fim em si própria, e é relegada para os cumes de uma existência secreta, ou se torna muito afectada e supremamente etérea, oferecendo o caminho mais rápido para a proeminência académica. Mas a teoria não é necessariamente um luxo relacionado com a fantasia do poder intelectual. Pelo contrário, a teoria é um recurso que nos permite definir e responder a problemas à medida que vão emergindo em contextos específicos. O seu poder transformador reside na possibilidade de gerar formas de acção e não na sua capacidade de resolver problemas. A sua natureza política decorre da sua capacidade de fazer imaginar um mundo diferente e de fazer agir de modo diferente e este é o seu principal contributo para qualquer noção viável de educação para a cidadania. O que está aqui em causa não é se a teoria é relevante, uma questão de resposta tão óbvia como a pergunta sobre se o pensamento crítico é importante, mas quais devem ser as responsabilidades públicas e políticas da teoria, em particular na teorização de uma política global para o século XXI. A teoria não é apenas contemplação ou o caminho para o estrelato académico, pelo contrário, trata sobretudo da intervenção no mundo, do desenvolvimento de ideias para o espaço mundano da vida pública, do aprofundamento da responsabilidade social e da participação colectiva no mundo. Se a aprendizagem é uma parte fundamental da transformação social, a teoria é um instrumento essencial para o estudo de toda a gama de práticas diárias que circulam através das diversas formações sociais e para a descoberta de melhores formas de conhecimento e modos de intervenção para contrapor aos desafios de um autoritarismo crescente ou de um pessimismo fabricado. Tem sido frequentemente acusado de apresentar a educação como um meio de instilar propaganda ideológica nos estudantes e tem rejeitado estas acusações propondo uma pedagogia crítica. De que modo, na sua opinião, se promove um espírito livre através da pedagogia crítica? Parece-me que, longe de instilar propaganda nos estudantes, uma pedagogia crítica parte da noção de que o conheci- mento e o poder devem estar sempre sujeitos a debate, ser responsabilizados e estar empenhados criticamente. Está no âmago 136 | Entrevista com Henry A. Giroux da própria definição de pedagogia crítica a vontade colectiva de reformar as escolas e de desenvolver modos de prática pedagógica em que professores e alunos se tornem agentes críticos que questionem activamente e negociem a relação entre teoria e prática, entre a análise crítica e o senso comum e entre a aprendizagem e a transformação social. Isto não é propriamente uma receita propagandística. Penso que a pedagogia crítica é muitas vezes considerada perigosa porque se constrói sobre um projecto que atinge a essência do que é a educação e porque se enquadra numa série de perguntas importantes mas normalmente ignoradas, tais como: “Porque é que nós [educadores] fazemos o que fazemos do modo como o fazemos”? “Que interesses serve a escolaridade”? “Como devemos perceber e relacionarmo-nos com os diversos contextos nos quais a educação acontece”? No entanto, a pedagogia crítica não se interessa apenas em oferecer aos estudantes novas formas de pensar criticamente e de agir com autoridade na sala de aula, também trata de preparar professores e alunos com as necessárias competências e conhecimentos que lhes permitam questionar crenças e mitos de raízes profundas que legitimam as mais arcaicas e discriminatórias práticas sociais que, por sua vez, estruturam todos os aspectos da sociedade, e ainda de os responsabilizar para a sua intervenção no mundo. Em outras palavras, a pedagogia crítica forja a crítica e a acção tanto através da linguagem do cepticismo como da possibilidade. A importância dos departamentos de humanidades tem sido posta em causa nas universidades de todo o mundo pela gestão universitária, pelo mercado de trabalho e pela sociedade em geral. Na sua opinião, como podem estes departamentos encarar o desafio não só da sobrevivência como também de contrariar a “crise da cultura”, que cita a partir de Raymond Williams, e ainda de reclamar a relevância da sua função? Nos últimos anos, tenho estado a trabalhar numa série de projectos que tratam de vários aspectos interrelacionados: o papel essencial da cultura, em particular da cultura de massas entendida como o espaço principal onde a pedagogia e a aprendizagem acontecem, especialmente no que diz respeito aos jovens; o papel que os académicos e os trabalhadores da cultura podem assumir como intelectuais do espaço público conscientes da força constituinte que a cultura tem na formação da memória pública, da consciência moral e da actividade política; o significado da universidade, em especial das humanidades, enquanto esfera pública essencial para a manutenção de uma democracia viva e dinâmica, apesar do assalto das forças da empresarialização, e da centralidade da juventude como um registo ético para ava- liar a natureza da mudança do contrato social desde os anos oitenta e das suas implicações para um discurso mais amplo sobre a esperança e o futuro. As humanidades têm sido tradicionalmente tanto um refúgio como um instrumento para reflectir sobre estes assuntos, embora em condições históricas com poucas semelhanças com o presente. Isto torna-se particularmente evidente à medida que as condições de produção de conhecimento, da identidade nacional e da cidadania se têm transformado, numa ordem mundial pós-11 de Setembro marcada por uma rápida globalização e pela expansão das novas tecnologias electrónicas, pela consolidação dos media globais, pela desindustrialização, a desregulação e o emagrecimento empresarial globais, pela privatização de bens e serviços públicos e pela introdução da Entrevista com Henry A. Giroux | 137 lógica de mercado em todos os aspectos da vida social. A “crise” das humanidades reflecte a crise na sociedade mais ampla acerca do significado e da viabilidade das instituições que se definem a si próprias mais como um bem público do que privado. A vocacionalização em curso do ensino superior, a transformação do currículo em mercadoria, o papel crescente da universidade na segurança nacional e a transformação dos estudantes em consumidores têm enfraquecido a capacidade das humanidades de oferecer aos estudantes o conhecimento e as competências de que necessitam para aprender como se governa e como se desenvolvem as capacidades necessárias para a deliberação, a argumentação lógica e a acção social. A incursão da cultura empresarial e militar na vida universitária põe em causa a responsabilidade da universidade de conferir aos estudantes uma educação que lhes permita reconhecer o sonho e a promessa de uma democracia substantiva. Embora tenhamos de reconhecer que as humanidades têm de concorrer com os desenvolvimentos nas ciências, os novos media, a tecnologia e outros campos do desenvolvimento científico e do conhecimento, a sua primeira responsabilidade é tratar estes assuntos, não apenas de forma pragmática tendo em conta as ideias e as competências a adquirir, mas também como espaços de intervenção política e ética profundamente ligados à missão de preparar estudantes que consigam imaginar um futuro democrático para todas as pessoas. Por outro lado, esta época de crise, medo e insegurança tem revigorado o debate sobre o papel que as humanidades e a universidade podem cumprir na criação de uma cultura pública plural essencial para animar os preceitos básicos de uma vida pública democrática. As questões da história, das relações globais, das preocupações éticas, a criatividade e do desenvolvi- mento de novas literacias e modos de comunicação deveriam ser centrais à educação nas humanidades e à discussão que lhes é inerente, mas, ao mesmo tempo, estas discussões têm, na maior parte das vezes, descuidado assuntos fundamentais, tais como a linguagem da educação cívica enquanto elemento do discurso mais amplo da actividade política e da cidadania crítica numa sociedade globalizada. Mais parti cularmente, um melhor entendimento das razões pelas quais as humanidades têm evitado o desafio dos discursos críticos capazes de interrogar os modos como a sociedade se representa si própria (por exemplo, a discrepância implícita na representação do apogeu da democracia no preciso momento do seu esvaziamento) e de saber como e porquê os indivíduos não conseguem assumir criticamente essas representações, é fundamental para perceber se os educadores devem intervir nas relações sociais opressoras que tão frequentemente eles próprios legitimam. Tendo em conta estes contextos, os educadores das humanidades devem fazer novos tipos de perguntas começando por: como é que os educadores reagem às questões de valor no que diz respeito à “utilidade” das humanidades e ao conjunto dos objectivos pelos quais se devem orientar? Quais os conhecimentos de maior valor? O que signi fica reivindicar autoridade num mundo onde as fronteiras estão a alterar-se constantemente? Qual o papel das humanidades num mundo em que a “produção imaterial” de conhecimento se tem tornado no tipo mais importante de capital? Como pode a pedagogia ser entendida como uma prática moral e política e não uma estratégia técnica ao serviço da cultura empresarial? E que relação deveriam as humanidades ter com os jovens de modo a que estes desenvolvam capacidade de acção, particularmente no que diz respeito às suas obrigações de cidadania crítica e de vida pública 138 | Entrevista com Henry A. Giroux numa paisagem global e cultural radicalmente diferente? À medida que a cidadania se vai privatizando e os jovens são cada vez mais formados para se tornarem sujeitos consumidores e não sujeitos sociais críticos, torna-se mais imperioso que os educadores que trabalham nas humanidades repensem o espaço do social e desenvolvam uma lin- guagem crítica na qual as noções de bem público, as questões públicas e a vida pública se tornem centrais e prevaleçam sobre a linguagem de mercado despolitizante e privatizante. No centro desta questão, a meu ver, está o papel que o ensino superior deveria cumprir na sua função de esfera pública democrática. Tem questionado a percepção tradicional do “intelectual”. Como é que esta noção se aplica ao mundo contemporâneo? Sempre acreditei que a noção do “intelectual” reside numa variedade importante de registos sociais, culturais e políticos. Ao contrário da ideia de que os intelectuais são um grupo especializado de peritos, eu tenho argumentado que cada um de nós é um intelectual na medida em que temos a capacidade de pensar, de gerar ideias, de ser autocríticos e de articular conhecimentos (de onde quer que surjam) com formas de autodesenvolvimento e de desenvolvimento social. Ao mesmo tempo, aqueles intelectuais que podem ter o luxo de definir a sua função social através da produção de ideias intelectuais têm uma responsabilidade acrescida de examinar o modo como o poder permeia as instituições, os indivíduos, as formações sociais e o dia-a-dia de modo a permitir ou a anular os valores, identidades e relações democráticas. Para ser mais concreto, acredito que a obrigação mais importante que os intelectuais têm para com o conhecimento é precisamente a de reconhecer a sua articulação com o poder não como uma relação de complementaridade, mas de oposição. Em minha opinião, os intelectuais, quer dentro, quer fora da academia, devem estabelecer a ligação das ideias com o mundo e integrar as suas capacidades e conhecimentos numa luta mais ampla pela justiça, ideias e valores democráticos. Os intelectuais têm a responsabilidade não só de fazer prevalecer a verdade no mundo e lutar contra a injustiça onde quer que ela esteja, mas também de organizar as paixões colectivas no sentido de impedir o sofrimento humano, o genocídio e as formas diversas de não-liberdade ligadas à dominação e à exploração. Os intelectuais têm ainda a responsabilidade de analisar os modos como a língua, a informação e o sentido se arti culam para organizar, legitimar e fazer circular valores, para estruturar a realidade e para oferecer noções específicas de acção e de identidade. Este último desafio requer dos intelectuais públicos um novo tipo de cultura e de entendimento crítico em relação à emergência dos novos media e tecno logias electrónicas e ao novo e poderoso papel que eles têm como instrumentos de uma pedagogia pública. A reflexão crítica é uma dimensão essencial da justiça e é fundamental para a educação cívica, e é precisamente através da manutenção da justiça e da democracia vivas no domínio público que os intelectuais exprimem a sua responsabilidade para com o mundo global. Actualmente, a noção de intelectual, tal como Pierre Bourdieu nos recorda, tornou-se sinónimo de relações públicas, apologista adulador e falante de palavra fácil nos media. Os educadores, na sua qualidade de intelectuais públicos, necessitam de um novo vocabulário que estabeleça a ligação entre esperança, cidadania social e educação nos termos de uma democracia substantiva. O que estou a Entrevista com Henry A. Giroux | 139 sugerir é que os educadores precisam de um vocabulário novo que exprima não só a nossa leitura crítica, mas também o nosso empenho em movimentos de transformação social. Eu também acredito que não basta evocar a relação entre teoria e prática, crítica e actividade social. Qualquer tentativa de dar vida nova a uma política democrática substantiva deve considerar tanto o modo como as pessoas aprendem a ser activas politicamente quanto o tipo de trabalho pedagógico que é necessário empreender em diversos tipos de espaços públicos de modo a permitir às pessoas usarem todos os seus recursos intelectuais tanto para realizar uma crítica profunda das instituições existentes como para lutar pelo cumprimento da promessa de uma democracia radical global. Enquanto intelectuais no espaço público, os educadores e outros trabalhadores culturais devem entender as razões pelas quais os instrumentos que usámos no passado estão desadequados no presente, não correspondendo, portanto, aos problemas que os Estados Unidos, e outras partes do globo, enfrentam actualmente. Para ser mais concreto, enfrentamos o desafio da incapacidade dos discursos críticos actuais de fazerem a ponte entre o modo como a sociedade se representa a si própria e o modo como e porquê os indivíduos se não reconhecem nessas representações nem as assumem criticamente a fim de intervir nas relações sociais opressivas que elas frequentemente legitimam. Se combinar os papéis mutuamente interdependentes do cidadão crítico e activo, o trabalho intelectual pode, no seu melhor, levar ao exercício da coragem cívica como prática política, uma prática que se inicia quando a vida de cada um deixa de ser considerada um dado adquirido. Esta atitude não só faz com que o trabalho intelectual exija a responsabilização do poder dominante, mas também torna concreta a possibilidade de transformar a esperança e a política num espaço ético e num acto público que confronta o fluxo da experiência diária e o peso do sofrimento social com a força do indivíduo e da resistência colectiva e o projecto inacabado da transformação social democrática. O caminho para o autoritarismo começa quando as sociedades deixam de se interrogar e, quando esse interrogar cessa, isso acontece porque os intelectuais ou se tornaram cúmplices com esse silêncio ou o produziram activamente. É evidente que os intelectuais críticos têm a responsabilidade de se opor a este silêncio surdo perante um barbarismo global emergente, como é demonstrado pelo número crescente de fundamentalismos económicos, políticos e religiosos. Uma das suas afirmações mais radicais é que todo o acto educativo é político e que cada acto político deveria ser pedagógico. Do mesmo modo que o seu trabalho cruza diferentes áreas disciplinares, também tenta ligar diversas instituições nas quais a pedagogia se desenrola: a educação, a política e os media, para referir apenas alguns. Quais são as suas razões para estas incursões e os riscos que daí advêm? Nas últimas décadas, tentei reavivar as visões penetrantes de teóricos como António Gramsci, Raymond Williams, Edward Said e outros que defenderam que a força pedagógica da cultura, no sentido mais amplo, se tem tornado num dos espaços políticos mais importantes na luta por ideias, valores e capacidade de acção. A educação permanente é um elemento fundamental do processo de criação daquelas identidades e valores que integram a narrativa do que constitui a política. No passado, a educação limitava-se à instrução, mas tem-se tornado óbvio que 140 | Entrevista com Henry A. Giroux a maior parte da educação que acontece actualmente, e que é tão vital para a democracia, tem lugar num espaço mais amplo que inclui a cultura do ecrã, a cultura de massas, a Internet e todos os velhos e novos media. Tenho chamado a atenção para estes novos espaços de educação, a que eu chamo o reino da pedagogia pública, que considero essenciais a qual- quer noção de política porque são espaços nos quais as pessoas, as mais das vezes, aprendem, desaprendem ou onde simplesmente não encontram o conhecimento que os prepare para serem sujeitos activos e críticos, capazes de não apenas interpretar a sociedade e o mundo em que vivem mas também de vestir o manto da governação. Tem dedicado grande parte do seu trabalho mais recente ao que considera um tratamento injusto da juventude nas sociedades contemporâneas, quer pelas instituições públicas, quer pelas privadas (por exemplo, o governo, o sistema educativo, a imprensa e a sociedade em general). Que papel podem os educadores, em particular, desenvolver para contrariar esta tendência? Bem, a primeira coisa que devem fazer é reconhecer as obrigações dos adultos para com os jovens se, de facto, vamos levar a sério não só o contrato social mas também a própria possibilidade de um futuro democrático. A segunda coisa que deve ser feita, é tentar perceber estas forças, especialmente o neoliberalismo, o neoconservadorismo, o militarismo e o fundamentalismo religioso, que vêem os jovens como coisas ou como algo terrivelmente descartável, especialmente os jovens pobres e os jovens de cor, e tentar perceber ainda como estas forças podem ser contrariadas em cada instituição por meio de políticas que encaram a juventude verdadeiramente como um investimento social e não como uma ameaça, um recurso para o exército ou uma coisa. Como vê a introdução de uma nova área académica interdisciplinar que pretende desenvolver competências interculturais, isto é, aumentar a capacidade dos alunos para comunicarem e interagirem eficazmente por entre as culturas, tanto no âmbito nacional como internacional? Como podem os educadores implementar esta área interdisciplinar e intercultural no âmbito de uma pedagogia crítica? Será que este projecto corresponde à sua sugestão de criação de uma “nova linguagem que exprima uma solidariedade global”? Penso que esta questão das competências interculturais deve ser compreendida no âmbito de uma noção mais ampla de literacia ligada tanto à aquisição de capacidade de acção como ao reconhecimento de que as questões da diferença estão inevitavelmente ligadas a questões de respeito, tolerância, diálogo, bem como à nossa responsabilidade para com os outros. A literacia multicultural, enquanto intervenção discursiva, é um passo essencial, não só para uma noção mais ampla de auto-representação, mas também para uma noção mais global de intervenção democrática. A literacia, neste sentido, é, não só plural e abrangente, mas também o espaço no qual se tornam possíveis novas práticas dialógicas e relações sociais. A literacia, tal como a uso aqui, constrói uma espécie de ponte necessária à democracia e, ao mesmo tempo, oferece formas de tradução que desafiam as estratégias de senso comum e de dominação. Ao mesmo tempo, as competências interculturais devem ser relacionadas com as dinâmicas centrais do poder de modo a assumir as diferenças e exclusões e o seu processo de Entrevista com Henry A. Giroux | 141 formação como parte de uma narrativa histórica constituída por luta e negociação. Desta forma, estas competências geram mais do que interpretação e tomada de consciên cia; actuam também como modos de inter- pretação crítica nos quais o diálogo e a interpretação estão intrinsecamente ligados a modos de intervenção, nos quais as diferenças culturais são vistas como um recurso e não como uma ameaça à democracia. O estilo da sua escrita é muito forte e idiossincrático e tem sido objecto tanto de crítica como de elogio. Alguns dos seus leitores consideram-no demasiado obscuro e impregnado de ideologia, enquanto outros o consideram vibrante, estimulante e muito inspirador. Eu pertenço a estes últimos e gostaria de lhe perguntar até que ponto o desenho da sua escrita é propositado e que propósitos serve. Na última década, tenho tentado tornar a minha escrita mais acessível a um público mais amplo ainda que sem comprometer o seu rigor teórico. Isto parece causar muitos problemas àqueles académicos cujo discurso é bastante impenetrável, altamente especializado e ligado a definições estreitas de carreirismo. Os académicos, em especial os da esquerda nos Estados Unidos, são, na sua maior parte, muito maus escritores, um problema que resulta menos de falta de capacidade de escrita do que de uma noção misteriosa de profissionalismo. Muitos deles vivem no “mundo da teoria” e, em geral, dirigem‑se a públicos muito especializados. Por um lado, muito do seu trabalho é tributário de um tipo de ironia ou de engenho pós-modernos ou é tão pedante que é destituído de qualquer paixão ou integridade políticas. Por outro lado, o nível estabelecido nos Estados Unidos, em matéria de clareza e de estilo, é tão baixo que se torna sempre difícil atingir um público mais amplo se afrontamos os níveis convencionais de estilo e de linguagem, tal como faço no meu trabalho. Claro que as queixas acerca do meu trabalho não se resumem a questões de estilo, mas respeitam também ao facto de eu conferir nele um lugar central ao elemento político e isto de um modo que torna o projecto que lhe está subjacente muito óbvio. A reacção contra a escrita empenhada, se não contra a actividade política empenhada, é tão forte nas nossas universidades, nos media e em outros espaços estatuídos da pedagogia pública, que afirmar a importância da actividade política, como sendo um aspecto fundamental da nossa vida diária e da nossa aprendizagem representa um combate incrivelmente difícil, mas que é absolutamente necessário travar. Tem sido muito crítico em relação às condições que o mundo contemporâneo oferece aos jovens, nomeadamente mais vigilância nas escolas, a chamada excelência na educação traduzida em avaliação mais normalizada, uma cultura comercializada, etc. Não tenho dúvidas de que está muito consciente de que é muito difícil para os educadores críticos, enquanto indivíduos profissionais sobrecarregados com as exigências do governo, da gestão escolar, dos estudantes e encarregados de educação, contrariar estas por si sós. A sua obra tem, sem dúvida, inspirado e apoiado os esforços desses educadores. Gostaria de lhes dirigir alguma mensagem especial? Sim, estes são tempos muito difíceis, mas o que está em jogo é muito importante e, se damos valor à democracia e temos qual- quer esperança que seja no futuro, devemos continuar a lutar para entrelaçar educação e democracia, aprendizagem e 142 | Entrevista com Henry A. Giroux transformação social, excelência e equidade. A única alternativa é a descrença ou a cumplicidade e nenhum educador merece isso. Também penso que é importante reconhecer que estas lutas se travam em todo o mundo e que, portanto, não estamos sozinhos, nem o deveríamos estar, a travar estas lutas cruciais que vão determinar o destino da democracia global no século XXI. Que justificação encontra para o crescente interesse dos professores de língua/cultura estrangeiras pela sua obra, apesar da tradicional falta de interesse desses professores pelas teorias críticas da escolaridade e da pedagogia? Claro que temos de reconhecer que, historicamente, houve bastantes professores de línguas/culturas estrangeiras que estabeleceram a ligação entre língua e pedagogia crítica, particularmente os participantes da TESOL. Penso que muito desse trabalho foi produzido antes de tempo e só agora existem as condições que permitem aos educadores reconhecer a importância dele no actual contexto global educativo/pedagógico/discursivo. À medida que se vai tornando claro que não se pode separar as questões do uso da língua das questões do diálogo, da comunicação, da cultura e do poder, os assuntos da política e da pedagogia tornam-se cruciais para quem entende a pedagogia como uma questão política e as políticas da língua como sendo questões de profunda reflexão pedagógica. Durante vários anos, argumentei que a língua, sendo tanto objecto como sujeito de mestria, interpretação e empenho, é o espaço no qual as pessoas negociam os elementos mais fundamentais das suas identidades, as relações entre eles e os outros e a sua relação com o resto do mundo. Também fui claro ao afirmar que é difícil, se tivermos isto em conta, tratar a língua como se fosse apenas uma questão de técnica. Torna-se evidente que a sua importância reside no reconhecimento de que se trata de uma prática moral e política profundamente relacionada tanto com os assuntos de actuação crítica como com o combate infindável para expandir e aprofundar a própria democracia. As questões de língua e cultura são essenciais para o modo como a natureza de cada um se constrói e a forma como cada um actua na sua qualidade de intelectual. A língua é, portanto, o fundamento cultural e material em função do qual os educadores tentam definir o significado e o objectivo da pedagogia na formação e aquisição de formas particulares de actuação individual e social. Esta é uma questão a que me tenho referido desde há trinta anos, mas também uma questão que tenho tomado como parte de uma preocupação mais ampla com o que significa tornar a pedagogia mais política no âmbito da sua tarefa de expandir os valores, relações, identidades e esferas públicas democráticos. É aqui que me parece que o meu trabalho reflecte a actual conjuntura histórica. Aprender uma língua estrangeira é um empreendimento essencialmente humanístico, e não uma tarefa afecta às elites ou estritamente metodológica, e a força da sua importância deve decorrer da relevância da sua função afirmativa, emancipadora e democrática. O meu trabalho trata a língua como um modo de aprendizagem e de dissensão que é igualmente fundamental para configurar e traduzir as fronteiras entre o público e o privado e para lidar com as questões da política, do poder, da consciência pública e da coragem cívica. Mais do que nunca, a língua precisa de ser revitalizada como parte de uma pedagogia pública que exalta a imaginação, expande a autonomia do individuo e aprofunda uma noção possível Entrevista com Henry A. Giroux | 143 da actividade política. A língua é parte do que Edward Said chamou uma política da mundialidade, intrinsecamente ligada às questões da história, do poder e a uma cultura da interrogação e da luta democrática. A pedagogia crítica, no meu trabalho, tem sempre levado a sério estas últimas e pode ser que este trabalho esteja agora a ser redescoberto e usado pelos professores de língua/cultura estrangeiras. Penso que muitos estão desejosos de um discurso que ligue a crítica à esperança, o conhecimento à paixão e a pedagogia à justiça. Gostaria de acreditar que o meu trabalho pode oferecer‑lhes alguma esperança neste tempo de escuridão. Henry Giroux mudou-se para o Canadá em 2004 e detém actualmente a cátedra da Rede Global de Televisão dos Estudos de Comunicação na Universidade de MacMaster. Embora os pais fossem originários do Canadá, Giroux nasceu e viveu sempre nos Estados Unidos. Começou a sua carreira na educação como professor de história no ensino secundário e prosseguiu um percurso académico brilhante pelo qual é reconhecido internacionalmente. Giroux é membro de vários conselhos editoriais de revistas nacionais e internacionais importantes nas áreas da Educação e dos Estudos Culturais e muitas das suas obras foram premiadas pela Associação Americana de Estudos da Educação por serem consideradas as obras mais significativas nos anos da sua publicação. A extensa lista das suas publicações inclui vários livros, capítulos de livros, artigos em revistas destacadas focando diferentes aspectos ligados à Educação e aos Estudos Culturais (ver www.henryagiroux.com). De salientar em especial, em 1988, Teachers as Intellectuals, New York: Bergin and Garvey; em 1992, Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education, New York: Routledge; em 1997, Channel Surfing: Race Talk and the Destruction of Today’s Youth, London: MacMillan; em 2001, com K. Myrsiades, Public Spaces, Private Lives: Democracy beyond 9/11, Lanham: Rowman & Littlefield; em 2003, Beyond the Corporate University: Culture and Pedagogy in the New Millenium, Lanham: Rowman & Littlefield; em 2004, com S. Searls-Giroux, Take Back Higher Education: Race, Youth and the Crisis of Democracy in the Post Civil Rigts Era, New York: Palgrave MacMillan. Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 145-149 Recensões Munck, Ronaldo (org.) (2004), Labour and Globalisation: Results and Prospects. Liverpool: Liverpool University Press, 254 pp. Quem pretender ter uma visão detalhada dos problemas com que o mundo do trabalho se confronta no contexto da globalização económica, poderá encontrar em Labour and Globalisation: Results And Prospects muitas respostas e pistas de análise. Trata-se de uma obra organizada por um dos mais reputados cientistas sociais deste tema e que vem complementar outras obras igualmente de referência do mesmo autor: Labour Worldwide In The Era Of Globalisation, Londres, MacMillan Press, 1999 (co-organizada com Peter Waterman); ou Globalisation And Labour, Londres, Zed Books, 2002, são apenas dois exemplos. Um rápido olhar sobre o notável elenco de colaboradores deste livro é, só por si, motivo de interesse e garante de qualidade. Ainda que partindo de pontos de vista e realidades sociais distintos, os vários artigos deste livro têm em comum o facto de perspectivarem as respostas à globalização encetadas pelas organizações do “trabalho”, os desafios de afirmação de uma transnacionalização da acção laboral, assim como as limitações a essa afirmação. Como é salientado por Ronaldo Munck na introdução (p. 14), o trabalho enquanto movimento social, ao estabelecer um controlo social e democrático sobre a globalização, tem um papel económico, político e cultural crucial a desempenhar, razão pela qual será ainda prematuro afirmar (como o faz Manuel Castells) que “movimento operário está historicamente superado” (p. 1). Daí que seja importante, segundo Munck, proceder a uma desconstrução do(s) discurso(s) da globalização e analisar as respostas do movimento operário. Ainda assim, mesmo que a globalização desafie o movimento sindical a reforçar-se transnacionalmente (confederal, sectorial ou regionalmente), Munck não deixa igualmente de apontar algumas limitações à transnacionalização laboral/sindical. Uma limitação prende-se com a escassez de tentativas de teorização e definição de uma agenda de investigação sobre a transnacionalização do sindicalismo. A proposta de uma extensão da teoria da segmentação do trabalho à escala internacional, no sentido da criação de um “mercado de trabalho singular” assente numa estandardização de condições de emprego é uma possibilidade a ter em conta, desde logo se se atentar na criação de laços entre trabalhadores da mesma empresa multinacional em diferentes países. No entanto, se se pensar também que os trabalhadores da Volkswagen da Alemanha e os trabalhadores da Volkswagen do Brasil não partilham um “mercado de trabalho singular”, pois estão inseridos respectivamente em mercados de trabalho alemães e brasileiros com características sociais, económicas, políticas e culturais muito diferentes, essa pretensão de um mercado de trabalho singular cai por terra. Uma outra limitação prende-se com o facto de muitas análises do transnacionalismo laboral assentarem em oposições binárias – nacional/internacional; local/global; base/topo – consideradas pouco desafiantes ou mesmo redutoras teórica e empiricamente (pp. 10-11). Em termos formais, o livro está estruturado em três partes. A primeira parte dedica-se às dimensões globais da actividade laboral. 146 | Recensões A segunda parte versa sobre as dimensões espaciais em que ocorre o confronto do trabalho com a globalização. A terceira parte, por fim, centra-se nalgumas dimensões sociais chave do reportório global da acção laboral/sindical. Nos quatro artigos da primeira parte, o denominador comum são os apelos globais à participação laboral, podendo no entanto aqui o leitor “escolher” entre o que me parecem ser quatro planos de análise distintos: o plano dos conceitos; dos actores; dos debates; e dos veículos de luta. Os conceitos são-nos trazidos por Richard Hyman (capítulo 1). Como compatibilizar “segurança” com “flexibilidade” no emprego, como podem os sindicatos defender a “democracia” no emprego se não forem também suficientemente democráticos, ou ainda como repensar a “comunidade” nas situações em que o local de trabalho deixou de ser fonte de socialização, são apenas algumas interrogações que aqueles conceitos sugerem. Quanto aos actores sindicais internacionais, o destaque dado por Rebecca Gumbrell-McCormick (capítulo 2) vai para a história da Confederação Internacional dos Sindicatos Livres (CISL), seus objectivos e posicionamento perante questões como a “cláusula social” ou a adopção de códigos de conduta por parte das empresas multinacionais. A autora acaba por antecipar o plano dos debates, plano este que Robert O’Brien (capítulo 3) aprofunda tendo por base os padrões internacionais de trabalho. No quadro actual da globalização – que para o autor constitui uma “nova fase do imperialismo” (p. 54) –, a divisão entre o Norte e o Sul repercute-se igualmente na forma dual como as organizações sindicais se posicionam perante o debate sobre a cláusula social no contexto da Organização Mundial do Comércio. Por fim, Eric Lee (capítulo 4) fala-nos de um dos veículos que porventura melhor permite acalentar esperanças de renovação do movimento sindical. Com efeito, a Internet conduz-nos pelos caminhos de uma rede de trabalho global (global labournet) mediada por computador na direcção de uma “Nova Internacional Operária”, para Lee a “primeira organização de trabalhadores verdadeiramente global” (p. 71). Ainda assim, apesar de optimista, o autor é também realista e por isso não esquece os obstáculos à criação de uma rede laboral verdadeiramente global, sendo o maior deles a inexistência de software de tradução automática para a língua dos interessados num determinado assunto susceptível de partilha transnacional. Na segunda parte do livro – relativo aos loci em que ocorre o confronto do trabalho com a globalização –, dois artigos (de autoria de Jane Wills e James Goodman) tomam a empresa multinacional como referência principal e outros dois (de autoria de Roger Southall e Andries Bezuidenhout, capítulo 7, e de John French, capítulo 8) fornecem contributos sócio-históricos sobre o papel do trabalho no quadro do NAFTA e sobre o activismo dos sindicatos sul-africanos na luta contra o apartheid. Os dois primeiros artigos são aqueles que, a meu ver, por estarem mais orientados para o futuro, melhor dão conta do “terreno de luta” preferencial de combate à globalização, i.e., as empresas multinacionais. Por um lado, Jane Wills (capítulo 5) procura mostrar como a experiência dos Conselhos de Empresa Europeus (CEE) poderá contribuir para os sindicatos se libertarem de uma herança histórica muito marcada pelo peso das organizações nacionais, pela negociação no local de trabalho e pelo apego a comportamentos burocráticos (p. 86). Ao estudar uma das primeiras empresas multinacionais do Reino Unido a constituir um CEE (em 1995), a autora não se furta (e a meu ver bem) a relatar alguns sinais de cepticismo laboral que atravessam esta experiência. Ainda assim, Recensões | 147 a autora realça que as redes criadas em redor dos CEE poderão constituir a base de uma “activa solidariedade internacional” (p. 90) e, quiçá, contribuir mesmo para mobilizar comunidades inteiras, associações de consumidores, grupos de activistas de direitos humanos, etc., chamando a atenção para questões como o encerramento de empresas, o trabalho infantil, o desrespeito dos padrões de trabalho, etc., e configurando, assim, um movimento social mais amplo (p. 100). Por outro lado, o contributo de James Goodmman (capítulo 6) centra-se na campanha contra aquela que é considera a maior empresa multinacional de mineração do mundo, a Rio Tinto. Ainda que o autor parta de uma perspectiva australiana, as práticas anti-sindicais da Rio Tinto nasceram mesmo na África do Sul, tratando-se da “primeira campanha sindical verdadeiramente global tendo por alvo uma empresa multinacional” (p. 106). Além disso, embora seja sobretudo realçado o papel da Federação Sindical Internacional da Química, Energia e Mineração contra a Rio Tinto, o autor não deixa igualmente de referir o envolvimento, desde o início, de organizações ambientalistas, povos indígenas e organizações de direitos humanos, num esforço conjunto de denunciar e debelar os abusos da multinacional. Afinal, o que estão em causa conjuntamente são “lutas pela redistribuição, lutas pelos meios de reprodução e lutas pelas sobrevivência” (p. 111). Finalmente, na terceira parte do livro é também possível agrupar artigos. Os dois primeiros (da autoria de Linda Shaw, capítulo 9, e de Michael Lavalette e Steve Cunningham, capítulo 10) discutem respectivamente o tema dos códigos de conduta e do trabalho infantil e adoptam uma visão “para além dos sindicatos”. Os restantes dois artigos analisam condições de luta concretas das organizações de trabalhadores (dos trabalhadores das docas de Liverpool, capítulo 11, da autoria de Jane Kennedy e Michael Lavalette, assim como dos sindicatos da aviação civil internacional, capítulo 12). Sem prejuízo da excelência de todos os artigos, destacaria, todavia, a contribuição de Paul Blyton, Miguel Martínez Lúcio, John McGurk e Peter Turnbull (capítulo 12). Centrando-se num sector com características eminentemente globais (indústria da aviação civil internacional), este artigo retrata particularmente bem os impactos da globalização sobre a actividade laboral e as respostas dadas pelas organizações sindicais, indo assim ao encontro do objecto central de análise da obra. Os autores partem de um estudo internacional por eles próprios realizado, realçando os impactos negativos para os trabalhadores resultantes de uma reestruturação global do sector. A intensidade do ritmo de trabalho, a segurança no emprego, a satisfação com o emprego, as relações capital-trabalho, o número de horas de trabalho, a saúde e segurança, são, entre outros, alguns dos itens analisados nos quais foi possível constatar tais impactos (pp. 232-236). A partir daqui, os autores (socorrendo-se da proposta de Harvie Ramsay) reflectem sobre aquelas que podem ser consideradas as bases para uma efectiva acção sindical internacional: a filiação sindical internacional; o reforço da sindicalização; a concessão de maior autoridade às federações sindicais; um maior reconhecimento externo por parte de empregadores, governos ou agências internacionais do papel dos actores sindicais à escala internacional (pp. 238-241). É discutível a arrumação dos artigos em três secções, pois fica a ideia de que tal arrumação visou garantir uma distribuição equitativa dos textos. Embora este pareça ser um problema de “forma”, julgo, no entanto, que interfere (ainda que sem o prejudicar) com o “conteúdo” da obra, sobretudo se atentarmos na classificação 148 | Recensões da última dimensão de análise (a dimensão social). Na verdade, não fica propriamente claro (ou pelo menos o leitor não parece ser suficientemente elucidado) o que faz com que o reportório global da acção laboral seja “social” ou, pelo menos, um “social” diferente do que igualmente subjaz às dimensões global e espacial: não haverá, afinal, afinidades entre o debate sobre os padrões internacionais de trabalho (capítulos 3 e, com menor relevo, 2) e o debate sobre os códigos de conduta e o trabalho infantil (capítulos 9 e 10)? E os CEE, por outro lado, não poderão ser vistos como instrumento de reivindicação social que, apesar de originário do Espaço Económico Europeu, têm vindo a estimular a criação de instituições do mesmo tipo à escala internacional? Assim sendo, assumir intertextualidade entre as 3 dimensões em análise é a melhor forma de olhar globalmente para esta obra. Apesar de os vários artigos de Labour and Globalisation depositarem um voto de confiança nos sindicatos, considero que há um tema que acaba por ser abordado (mesmo que temerariamente) por um número considerável de artigos e que, a meu ver, agrega simultaneamente as dimensões global, espacial e social. Refiro-me à necessidade de o movimento sindical se ter de configurar como novo movimento social. Esta é, de resto, uma questão cada vez mais recorrente nos discursos dos académicos, mas que também vai sendo crescentemente escutada aos próprios sindicalistas. Trata-se de uma questão chave, chamando a atenção para a necessidade de os sindicatos furarem o “cerco organizacional” (que muitas vezes é também um cerco ideológico) que delimita as suas actividades. Não estamos diante de questão fácil, como bem assinala Jane Wills, pois mudar culturas sindicais de modo a transformar os sindicatos em “movimentos sociais” é um processo “muito lento e penoso” (p. 88), tanto mais que os sindicatos foram historicamente, como reforça Linda Shaw, os representantes exclusivos dos interesses do trabalho, sendo o movimento operário sinónimo de movimento sindical (p. 174). Faz por isso todo o sentido a interrogação/ indignação que nos é trazida por Denis MacShane no prefácio da obra (p. ix): se o novo proletariado é hoje composto maioritariamente por imigrantes, onde estão os líderes sindicais provenientes de comunidade étnicas minoritárias? Esta é, seguramente, uma das questões em aberto a que o livro não dá resposta, afinal porque o próprio movimento sindical ainda não lhe soube também dar resposta. Outra questão em aberto (a que este livro não dá resposta, pois a sua ocorrência é posterior à data da publicação do livro) é a que se prende com o projecto de constituição de uma nova confederação sindical internacional, resultante da resolução aprovada no XVIII Congresso Mundial da CISL (Dezembro de 2004). Baseado num “juntar de forças” entre as organizações da CISL e da Confederação Mundial do Trabalho, será esse esforço organizacional (cuja concretização se prevê para o final de 2006) sinónimo de um esforço democratizador no seio do movimento sindical internacional, capaz de criar uma verdadeira “frente comum” contra a globalização? E o que sucederá, por exemplo, com a Confederação Europeia de Sindicatos? Não estando filiada na CISL, estará efectivamente disposta a fazer parte da “Nova Internacional Operária” ou, pelo contrário, entenderá preferível conservar a sua autonomia e excepcionalidade europeias? Em síntese, estamos perante uma obra de inegável interesse não só teórico, mas também empírico, de “terreno”, bem testemunhado pela exposição dos principais debates, polémicas, problemáticas que atravessam o mercado de trabalho e as Recensões | 149 organizações de trabalhadores. A sua riqueza não residirá propriamente na novidade que propõe – pois a discussão da relação entre globalização e trabalho não é aqui inaugurada, apesar de as análises sobre a mesma só na última década terem vindo a ganhar maior destaque (no contexto editorial português, por exemplo, o volume organizado por Boaventura de Sousa Santos, Trabalhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operário, Porto, Afrontamento, 2004, parece constituir mesmo um “exemplar único”) –, mas sim pela actualidade que nela se projecta. Hermes Augusto Costa Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 151 Espaço Virtual Título da página electrónica: International Visual Sociology Association Endereço: http://www.visualsociology.org A International Visual Sociology Association (IVSA) tem por principal objectivo a difusão de um domínio da Sociologia pouco conhecido e praticado entre nós: o estudo visual da sociedade, da cultura e das relações sociais. A Sociologia Visual toma a imagem (fotografia, vídeo, etc.) como objecto de reflexão e, simultanea- mente, como fonte para a reflexão sociológica. Nesta página é possível aceder a uma série de artigos devotados a esta temática e a uma galeria com projectos realizados à luz desta abordagem, pelo que o site constitui uma excelente introdução à Sociologia Visual. Título da página electrónica: Multitudes Web Endereço: http://multitudes.samizdat.net/ Página de uma revista política, cultural e artística votada à análise de todas as formas de dominação e dos movimentos sociais visando a emancipação social. Além da Revue Multitudes, disponível online, encontram-se igualmente na página análises da actualidade, um espaço de debate, complementos à revista com diversas contribuições internacionais e um arquivo onde é possível aceder às revistas Futur Antérieur e Alice, Revue Critique du Temps. A revista Multitudes integra a rede Eurozine. Título da página electrónica: Liens-socio – le portail français des sciences sociales Endereço: http://www.liens-socio.org/ Principal portal francófono de ciências sociais, encontram-se nesta página mais de 1500 sites classificados em 14 categorias: motores de busca, portais de ciências sociais, autores, textos, bases de dados, métodos, instituições, revistas/imprensa, etc. Em cada uma destas categorias, as ligações são classificadas em diferentes sub-categorias e cada ligação é acompanhada de uma breve descrição. É possível ao utilizador registar-se e receber mensalmente uma síntese completa da actualidade (livros, conferências, etc.) e das principais actualizações dos conteúdos da página. Tal pode facilitar a consulta da página que, devido à profusão de informação que disponibiliza, se pode revelar algo confusa. Pedro Araújo Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 153-156 Résumés Abstracts Laura Cavalcante Padilha De la construction identitaire à une trame de différences – un regard sur les littératures de langue portugaise Laura Cavalcante Padilha From identity construction to a web of differences – a glance at literatures in Portuguese Maria Ioannis Baganha Politique d’immigration: la régulation des flux Maria Ioannis Baganha Immigration policy: The regulation of fluxes A partir d’un regard sur les productions littéraires afro-luso-brésiliennes, nous aborderons dans cet essai la question de la langue portugaise, son expansion et la trame de différences qui la marque. Pour atteindre cet objectif très global, deux constructions symboliques seront examinées; elles s’avèrent complémentaires et très amples à partir du domaine linguistique. En un premier lieu, la question du lusisme est mise en relief; il est lu comme une construction qui, dans l’espace de la création artistique et verbale portugaise, se projette d’abord d’une manière euphorique, pour ensuite se problématiser jusqu’à devenir bien des fois dysphorique. En second lieu, nous discuterons la lusophonie, comprise, après Eduardo Lourenço, comme une «mythologie» qui n’acquiert de sens que si, d’une part, la considération des identifications existantes entre les divers sujets parlants intercontinentaux de la langue est assurée et, de l’autre, que si les diversités par lesquelles ces sujets parlants se distinguent profondément sont prises en compte. L’article présent a pour principal objectif d’analyser comment les divers gouvernements, depuis l’entrée du Portugal dans la communauté européenne jusqu’aujourd’hui, ont régulé l’immigration et quels ont été les objectifs qu’ils se sont donnés à partir de cette régulation. La recherche se fonde essentiellement sur Starting from an overview of Afro-Luso-Brazilian literary productions, this essay discusses the question of the Portuguese language, its expansion and the web of differences that it encompasses. In order to achieve this broader goal, the author addresses two symbolic constructions which end up supplementing each other when, starting from the linguistic field, one makes ampler constructs. First, the essay focuses on the question of lusismo, understood as an identity construction which, within the space of Portuguese verbalartistic creation, projects itself at first in a euphoric mode, and then is problematized, often becoming dysphoric. The essay then discusses lusophony, understood, following Eduardo Lourenço, as a “mythology” which is only meaningful if one takes into account the existing identifications between the various intercontinental speakers of the language, on the one hand, and the differences which profoundly distinguish them, on the other. The main goal of this article is to analyze the ways in which the various governments since Portugal’s accession to the European Community have regulated immigration, and the objectives they proposed to achieve. The work is essentially based on the analysis of two sets of documents, namely, legal documents that frame the 154 | Résumés/Abstracts l’analyse de deux séries de documents, à savoir, d’une part, les documents législatifs qui déterminent l’entrée des immigrés non communautaires sur le territoire national, ainsi que les décrets de loi qui établissent les périodes de régularisation extraordinaire des étrangers clandestins; et de l’autre, les interventions gouvernementales à l’Assemblée de la République au sujet des propositions de l’autorisation légale relative à l’entrée des étrangers non communautaires sur le territoire national ou bien dans le lancement des campagnes de régularisation des étrangers en situation irrégulière. En s’appuyant sur l’analyse de la documentation en question, l’auteur de cet article défend que la politique de la régulation des flux d’immigration n’a jamais atteint ses objectifs, une fois que le système de régulation a constamment échoué, le gouvernement se voyant obligé de recourir aux périodes de légalisation extraordinaire. entrance of non-Community migrants into national territory, as well as legal documents that establish special periods for the registration of illegal foreigners; and governmental interventions in Parliament related to the presentation of requests for legal authorization of the entrance of non-Community foreigners into the country and the launching of campaigns for the legalization of illegal foreigners. Based on an analysis of these documents, the author argues that policies for the regulation of fluxes have never achieved their aims, and that the regulation system has met with successive failures, leading to the need to set up special periods for legalization. Paulo Henrique Martins La sociologie de Marcel Mauss: don, symbolisme et association Paulo Henrique Martins Marcel Mauss’s sociology: Gift, symbolism and association Marcel Mauss est connu plutôt comme anthropologue et ethnologue. Plus d’un chercheur a pourtant été surpris de constater la part remarquable qu’il a apportée à la sociologie; sa sociologie s’est affirmée par le fait qu’il a été l’un des principaux animateurs, à côté de Durkheim, de la revue Année Sociologique, en même temps qu’il a systématisé plus que tout autre la théorie du don qui vient d’être réhabilitée comme un modèle interprétatif d’une grande actualité quand il s’agit de penser les fondements de la solidarité et du lien social dans les sociétés contemporaines. L’une des contributions centrales de Mauss à la sociologie a consisté à démontrer que la valeur des choses ne peut pas être supérieure à la valeur de la relation et que le symbolisme est fondamental pour la vie Marcel Mauss is better know as an anthropologist and ethnologist. Many are surprised to learn that he has also given a relevant contribution to sociology, having been one of the major figures, along with Durkheim, behind the journal Année Sociologique, as well as the major systematizer of the theory of the gift. This theory is being recovered as an interpretative model that has great relevance for reflecting on the foundations of solidarity and alliance in contemporary societies. One of Mauss’s central contributions to sociology was to demonstrate that the value of things cannot exceed the value of the relationship, and that symbolism is fundamental for social life. He came to this view through the realization that the modes of exchange in archaic societies are not just things of Résumés/Abstracts | 155 sociale. Marcel Mauss est arrivé à cette compréhension à partir du moment où il a constaté que les modalités d’échanges dans les sociétés archaïques n’appartiennent pas seulement au passé, mais qu’elles ont une importance fondamentale pour comprendre la société moderne. the past, but have a fundamental importance for the understanding of modern society. Maria Alice Nunes Costa Faire du bien est-il compensateur? Une réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises Maria Alice Nunes Costa Does doing good bring rewards? An essay on corporate social responsibility Jacob Carlos Lima Nouveaux espaces productifs et nouvelles-vieilles formes de l’organisation du travail: les expériences dans les coopératives au Nord-Est du Brésil Jacob Carlos Lima New production spaces and old-new forms of labor organization: The experiments with worker cooperatives in the Brazilian Northeast Cet article présente une vision panoramique de la gestion actuelle des activités des entreprises, désignée comme «responsabilité sociale des entreprises» et développée à partir des années 1990. Dans ce contexte, nous cherchons à comprendre les implications politiques de cette forme de solidarité sociale, dans laquelle les agents économiques interviennent dans l’espace public, à partir de la promotion de politiques de bien-être social pour les communautés à basse revenue. Dans ce sens, l’intention est de réfléchir sur la responsabilité sociale des entreprises, non de manière isolée, mais à partir d’une expression qui se développe d’une manière dynamique, face à l’Etat et à la communauté, dans la gestion de la régulation sociale contemporaine. L’article présent analyse la nouvelle industrialisation du Nord-Est brésilien, conséquence des politiques d’attraction industrielle à partir des années 90 et caractérisée par des stimulations fiscales des industries qui utilisent le travail intensif, comme le secteur des chaussures et des confections; elle est le résultat de l’organisation des coopératives de travailleurs ayant pour This article presents an overview of current business management, or corporate social responsibility, developed since the 1990s. The author seeks to understand the political implications of this form of social solidarity in which economic agents intervene in the public space, promoting social welfare policies for low-income communities. The aim is to reflect on corporate social responsibility, not in an isolated manner, but taking into account a dynamic that involves an interface with the State and the community in the governance of contemporary social regulation. This article analyzes the new industrialization of the Brazilian Northeast, resulting from policies of industrial attraction from the 1990s, and characterized by fiscal incentives to labor-intensive industries, such as footwear and clothing, and by inducing the organization of worker cooperatives to outsource production and reduce labor costs. This process was more 156 | Résumés/Abstracts objectif d’externaliser la production et de réduire les coûts grâce à la main-d’œuvre. Ce processus a été plus significatif dans l’Etat de Ceará. Les coopératives ont été installées à l’intérieur de l’Etat, disposant d’une main-d’œuvre abondante et bon marché, n’ayant d’autres choix d’emploi, dans l’inexistence de l’activité syndicale. Ce processus a eu lieu dans un contexte de restructuration économique et de changements politiques de caractère néo-libéral de l’Etat brésilien, marqué par l’ouverture du marché interne aux exportations, à la dénationalisation de certains secteurs productifs, à la relocalisation industrielle et à la modernisation technologique. significant in the state of Ceará. Cooperatives were set up in the interior of the state, where there was an abundant and cheap supply of labor, no other employment options, and non-existent union activity. This process took place in a context of economic restructuring and neoliberal political changes in the Brazilian State, marked by the opening of the internal market to exports, the denationalization of production sectors, industrial relocation and technological modernization. João Carlos Graça Qu’est-ce qu’est finalement la nouvelle sociologie économique? João Carlos Graça When one comes down to it, what is the New Economic Sociology? Située quelque par entre l’économie et la sociologie, la sociologie économique a connu un statut théorique instable et une reconnaissance académique limitée. Plus récemment, le projet connu sous le nom de la nouvelle sociologie économique, outre la diversité des contributions accueillies, est paru défini sur la base des postulats rejetant soit le modèle de l’ “agent rationnel”, soit le déterminisme culturel qui a mis en avant la sociologie parsonienne; des postulats méthodologiques de “troisième voie”, dans lesquels prédomine une rationalité balisée par des modèles culturels, ont été adoptés. Cependant, y a-t-il des raisons pour questionner la cohérence et la fiabilité intrinsèques de ce que la NSE représente? Peut-elle être ellemême considérée non tant du point de vue de la consistance de son projet thécnique, mais surtout comme une affaire de réseaux de small world académiques? Placed somewhere between economics and sociology, economic sociology has enjoyed an unstable theoretical status and a restricted academic recognition. More recently, the project of the so-called New Economic Sociology (NES), beyond the diversity of contributions it has received, has been defined on the basis of postulates that reject both the model of the “rational agent” and the cultural determinism that made Parsonian sociology famous, the option being methodological postulates of a “third way” in which a culturally-framed rationality predominates. Are there reasons to question the intrinsic coherence and viability of that which the NES represents? Can it be considered not so much from the point of view of the reliability of its own theoretical project, but primarily as an issue of academic “small world” networks? Revista Crítica de Ciências Sociais, 73, Dezembro 2005: 157-158 Colaboram neste número Hermes Augusto Costa [email protected] Professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador permanente do Centro de Estudos Sociais, pertencendo ao Núcleo de Estudos do Trabalho e Sindicalismo. Selecção de publicações recentes: “Portuguese trade unionism vis-à-vis the European Works Councils” (South European Society and Politics, 9 (2), 2004); “Sindicalismo e política internacional: o caso da CUT” (Lua Nova, 64, 2005); “A política internacional da CGTP e da CUT: etapas, temas e desafios” (Revista Crítica de Ciências Sociais, 71, 2005); co-organizador do livro Mudanças no trabalho e ação sindical: Brasil e Portugal no contexto da transnacionalização (São Paulo, Cortez, 2005). Jacob Carlos Lima [email protected] Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado no Massachusets Institute of Technology. Professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos; Professor colaborador na Universidade Federal da Paraíba; Pesquisador do CNPq. É autor do livro As artimanhas da flexibilização: o trabalho terceirizado em cooperativas de produção (S. Paulo, Terceira Margem, 2002) e de diversos artigos sobre as temáticas do trabalho associado, atípico e da informalidade. João Carlos Graça [email protected] Doutorado em Economia/História do Pensamento Económico; Professor Auxi- liar do ISEG/UTL (departamento de Ciências Sociais, secção de Sociologia); membro fundador do SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, ISEG/UTL. Entre as publicações mais recentes, destacam-se “Terceiras vias, Escolas inter médias e Escola portuguesa no pensamento económico português da segunda metade de Oitocentos: um questionamento” (Ler História, 44, 2003) e “Martins e Eça: leituras transtextuais, teorias da história e teoria económica” (Ler História, 49, 2005). Laura Cavalcante Padilha [email protected] Doutorada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Professora Adjunta IV da Universidade Federal Fluminense, na área de Literaturas de Língua Portuguesa, em particular Literaturas Africanas. Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras, vice‑presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, directora da Faculdade de Letras da Universidade Federal Fluminense, dirigiu a Editora da Universidade Federal Fluminense e hoje é representante da sua área no CNPq. Para além de inúmeros artigos é autora de Entre voz e letra – a ancestralidade na literatura angolana (1995), que recebeu o Prémio Mário de Andrade da Biblioteca Nacional como o melhor ensaio do ano. Publicações recentes: com Inocência Mata (orgs.), A Mulher em África: Vozes de uma margem sempre presente (Niterói: EDUFF, 2005); Novos pactos, outras ficções: Ensaios sobre literaturas afro-luso-brasileiras (2001), que conta também com uma edição portuguesa. 158 | Colaboram neste número Manuela Guilherme [email protected] Investigadora no Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, onde coordena dois projectos europeus sobre Educação Intercultural (www.ces.uc.pt/ icopromo; www.ces.uc.pt/interact). É autora da obra Critical Citizens for an Intercultural World: Foreign Language Education as Cultural Politics (Clevedon: Multilingual Matters, 2002), onde trabalha as teorias de Giroux. Co-organizou Critical Pedagogy: Political Approaches to Language and Intercultural Communication (Clevedon: Multilingual Matters, 2004) que inclui o capítulo “Betraying the Intellectual Tradition: Public Intellectuals and the Crisis of Youth”, da autoria de Giroux. Maria Alice Nunes Costa [email protected] Cientista política, doutoranda em Planejamento Urbano e Regional, professora da Universidade Estácio de Sá e do Centro Universitário Unicarioca (Rio de Janeiro, Brasil). Tem contribuído para a elaboração e avaliação de políticas públicas no âmbito governamental e em estudos sobre capital social e acção social do empresariado brasileiro. Entre as publicações mais recentes, destacam-se: Samba e solidariedade: capital social e parcerias nas políticas sociais da Mangueira (Rio de Janeiro, Ed. Fábrica de Livros/SENAI, 2002); “Mudanças no mundo empresarial: a responsabilidade social empresarial” (Oficina do CES, n.º 230, Maio de 2005); “Sinergia e capital social na construção de políticas sociais” (Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n.º 1, 2003). Maria Ioannis Baganha [email protected] Professora associada da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora permanente do Centro de Estudos Sociais, onde coordena o Núcleo de Estudos de Migrações. Publicações recentes: New Waves: Migration From Eastern to Southern Europe (org. com Lucinda Fonseca; Lisboa: Luso-American Foundation, 2004); “The Political Economy of Migration in an Integrating Europe: an Introduction” (with Han Entzinger, IMIS‑Beitrage, 25, 2004, pp. 7-19. Paulo Henrique Martins [email protected] Sociólogo, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-Brasil), pesquisador do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-Brasil) e colaborador da Revue du MAUSS (Mouvement AntiUtilitariste dans les Sciences Sociales). Tem contribuído para a divulgação dos estudos sobre a dádiva no Brasil mediante cursos, palestras e escritos. Publicações recentes: A dádiva entre os modernos: discussão sobre os fundamentos e as regras do social (org., Petrópolis, Vozes, 2002); Contra a desumanização da medicina: crítica sociológica das práticas médicas modernas (Petrópolis, Vozes, 2003). Pedro Araújo [email protected] Licenciado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Bolseiro de investigação do Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, onde integra os Núcleos de Estudos do Trabalho e Sindicalismo e de Cidadania e Políticas Sociais. Oficinas do CES N.º 242, Dezembro de 2005 Paula Duarte Lopes, International Environmental Regimes: Environmental Protection as a Means of State Making? N.º 241, Dezembro de 2005 Pedro Góis, José Carlos Marques, Catarina Oliveira, Dévoilement des liens transnationaux des migrants chinois au Portugal N.º 240, Novembro de 2005 Catarina Frade, The Fable of the Grasshopper and the Ant: A Research Project on Over‑indebtedness and Unemployment in Portugal N.º 239, Novembro de 2005 Ana Cristina Santos, Heteroqueers contra a heteronormatividade: Notas para uma teoria queer inclusiva N.º 238, Outubro de 2005 Elísio Estanque, Classes, precariedade e ressentimento: mudanças no mundo laboral e novas desigualdades sociais N.º 237, Outubro de 2005 Bruno Sena Martins, A angústia da transgressão corporal: A deficiência assim pensada N.º 236, Setembro 2005 Teresa Tavares, Atlantic Entanglements: Narratives of Self and Other at the Turn of the 20th Century N.º 235, Setembro de 2005 Sílvia Portugal, “Quem tem amigos tem saúde”: O papel das redes sociais no acesso aos cuidados de saúde N.º 234, Julho de 2005 Luciana Rosa Marques, Percursos da democracia na gestão da escola pública: a política educacional do Cabo de Santo Agostinho N.º 233, Julho de 2005 Virgílio Augusto Almeida, Realidade e ficção no ciberespaço N.º 232, Junho de 2005 Ana Pais, Teatro em Portugal: o desafio da periferia N.º 231, Junho de 2005 Maria Paula G. Meneses, Traditional Authorities in Mozambique: Between Legitimisation and Legitimacy N.º 230, Maio de 2005 Maria Alice Costa Nunes, Mudanças no mundo empresarial: a responsabilidade social empresarial N.º 229, Maio de 2005 Rui Namorado, Cooperativismo — um horizonte possível N.º 228, Maio de 2005 Bruno Sena Martins, Políticas sociais na deficiência: exclusões perpetuadas N.º 227, Maio de 2005 José Reis, Globalização e inovação: Uma discussão sobre as densidades urbanas N.º 226, Abril de 2005 José Reis, Uma epistemologia do território N.º 225, Abril de 2005 Pedro Hespanha, The Activation Trend in the Portuguese Social Policy. An Open Process? N.º 224, Março de 2005 José Reis, Governação e territórios na Europa: Hipóteses sobre um sub‑fede ralismo europeu N.º 223, Março de 2005 Sílvia Ferreira, O que tem de especial o empreendedor social? O perfil de emprego do empresário social em Portugal Disponíveis em: http://www.ces.fe.uc.pt/publicacoes/oficina/oficina.php Notas aos autores I. Indicações gerais 1. A Revista Crítica de Ciências Sociais publica textos originais que possam contribuir para enriquecer a investigação científica transdisciplinar da realidade social, nacional e internacional, para promover de modo aprofundado a reflexão e a discussão sobre os instrumentos dessa mesma investigação e para fornecer informações e orientações a quantos, de um modo ou de outro, se encontram ligados ao ensino e investigação no âmbito das ciências sociais e das humanidades. 2. O Conselho de Redacção reserva‑se o direito de publicar ou não os trabalhos recebidos, comprometendo‑se a informar os autores, num prazo razoável, da decisão a que tenha chegado. Esta decisão será sempre apoiada em pareceres solicitados. O Conselho de Redacção espera a compreensão dos autores de textos não aceites para o facto de não lhe ser possível envolver‑se em trocas de correspondência a respeito dos mesmos. Os textos publicados são da responsabilidade dos respectivos autores. O Conselho de Redacção pode sugerir aos autores a revisão dos trabalhos. Uma vez assente o texto definitivo, não serão permitidas quaisquer modificações. 3. Os autores terão direito a três exemplares do número da revista em que o seu texto tenha sido publicado, bem como a uma cópia em PDF da formatação final desse texto. II. Recomendações aos autores 1. Todos os originais serão apresentados na versão definitiva, que não deve exceder 50 000 caracteres com espaços (incluindo notas e referências bibliográficas). 2. Os autores deverão fazer acompanhar o seu texto de uma breve nota biográfica (máximo 500 caracteres). 3. Os artigos serão sempre acompanhados por um resumo em português, que não deve exceder 900 caracteres. No resumo deve figurar o título do artigo, bem como um conjunto de palavras‑chave, em número não superior a 5. 4. Os trabalhos, de preferência formatados em Word, deverão ser enviados por correio electrónico para [email protected]. Os textos deverão ser apresentados em forma corrida, sem espaços extra entre pará grafos, sem cabeçalhos nem qualquer formatação especial. III. Preparação do texto 1. Todas as citações de autores estrangeiros deverão, salvo casos especiais que justifiquem citar‑se também o original, ser apresentadas apenas em tradução. Deverá ser enviado em anexo o texto original de todas as citações cuja tradução seja da responsabilidade do autor do artigo. 2. As citações pouco extensas (2-3 linhas) devem ser incorporadas no texto, entre aspas. 3. As citações mais longas serão recolhidas, ficando impressas em corpo inferior ao do texto, sem aspas. 4. A epígrafe, se a houver, deve ser de extensão reduzida. 5. As interpolações serão identificadas por meio de parênteses rectos [ ]. 6. As omissões serão assinaladas por reticências dentro de parênteses rectos [...]. 7. O título das publicações referidas será apresentado em itálico, tratando‑se de livros, ou será colocado entre aspas, no caso de artigos. 8. As notas deverão vir em pé de página, com a numeração seguida. 9. O algarismo que remete para a nota deverá ser colocado no espaço superior ao da linha respectiva, depois do sinal de pontuação. Exemplo: “como facilmente pode ser comprovado.3” 10. Nas remissões de umas para outras páginas do artigo, usar‑se‑ão as expressões latinas consagradas (cf. supra, cf. Infra), que virão sempre em itálico e por extenso. IV. Referências bibliográficas 1. As referências bibliográficas serão sempre feitas no corpo do texto, na forma abreviada da indicação, entre parênteses curvos, do último apelido do autor, data de publicação e, se for caso disso, número de página (a seguir a dois pontos). Se se tratar de uma citação indirecta, essas indicações serão precedidas da palavra apud. Exemplos: Um só autor: (Sá, 1991: 7 ss.). Dois autores: (Sampaio e Gameiro, 1985). Três ou mais autores: (Silva et al., 1989). Citação indirecta: (apud Ferreira, 1992: 217). 2. Será incluída no final, com o título “Referências Bibliográficas”, a lista completa, por ordem alfabética de apelidos de autores, das obras que tenham sido referidas ao longo do texto (e apenas destas). Tratando‑se de dois autores, os nomes serão separados por ponto e vírgula. Tratando‑se de três ou mais autores, deve indicar‑se apenas o primeiro, seguido da abreviatura et al. O(s) nome(s) próprio(s) dos autores não devem nunca ser abreviados (ex.: Wallerstein, Immanuel, e não Wallerstein, I.). Se se tratar de uma tradução, deve incluir‑se o nome do tradutor. Para além do local de publicação, deverá sempre indicar-se também a editora. Nas referências a artigos em revistas ou a capítulos de colectâneas deve indicar‑se sempre as páginas ocupadas pelo texto citado. As referências deverão seguir estritamente o modelo dos exemplos a seguir apresentados: Livros: Simões, João Gaspar (1987), Vida e obra de Fernando Pessoa. História duma geração. Lisboa: Dom Quixote. Colectâneas: Santos, Boaventura de Sousa (org.) (1993), Portugal. Um retrato singular. Porto: Afrontamento. Hespanha, Pedro (1993), “Das palavras aos actos. Para uma elegia do amor camponês à terra”, in Boaventura de Sousa Santos (org.), Portugal. Um retrato singular. Porto: Afrontamento, 289‑311. Revistas: Reis, José; Jacinto, Rui (1992), “As associações empresariais e o Estado na regulação dos sistemas produtivos locais”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 35, 53‑76. Ou, se houver lugar a indicação de volume e número: Santos, Boaventura de Sousa (1998), “The Fall of the Angelus Novus: Beyond the Modern Game of Roots and Options”, Current Sociology, 46(2), 81‑118 [= volume 46, número 2]. Se houver duas ou mais referências do mesmo autor e do mesmo ano, acrescentar‑se‑ão à data as letras a, b, etc., respeitando a ordem pela qual as referências aparecem no texto. Exemplos: Habermas, Jürgen (1985a), Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habermas, Jürgen (1985b), “A nova opacidade: a crise do Estado‑Providência e o esgotamento das energias utópicas”, Revista de Comunicação e Linguagens, 2, 115‑128. Deverá ser sempre referida a edição consultada. Poderá também indicar‑se, mas apenas se for considerada relevante, a data da primeira edição. Estas indicações deverão vir no fim da referência, entre parênteses rectos. Exemplos: [5.’ ed.]; [5ª ed.; 11948]. V. Provas tipográficas A revisão das provas tipográficas é da responsabilidade do Conselho de Redacção, que garante a reprodução fidedigna e tipograficamente correcta dos textos seleccionados para publicação; só em casos excepcionais, mediante pedido expressamente justificado, serão remetidas provas aos autores.
Download