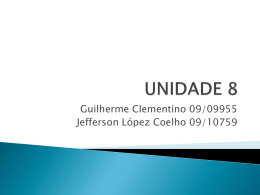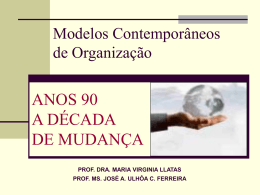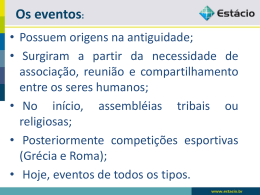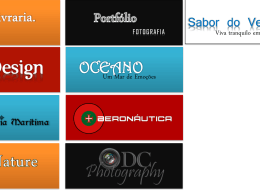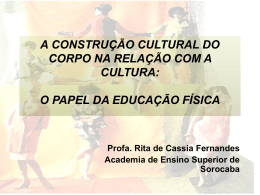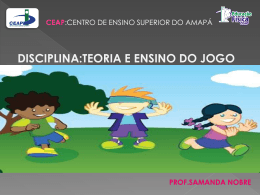JOGAR PARA COMPETIR E JOGAR PARA COMPARTIR da competição contra o outro à cooperação com o outro Prof. Dr. Carlos Rodrigues Brandão Mas agora que tanta coisa está mudando Não será a nossa vez de nos transformarmos também? Rainer Maria Rilke Quero pensar aqui a cooperação como o fundamento da vida humana. Quero passar pela educação, como processo cooperativo e amoroso de formação de pessoas humanas, e chegar ao jogo, como um momento da experiência de reciprocidades através das quais também aprendemos e ensinamos. Também nele quero encontrar raízes, flores, frutos e sementes de cooperação Competir para vencer ou cooperar, para ser? Há uma historieta de Quino, na série Mafalda, que dá bem o que pensar. A cena é assim: o meninozinho (o menor de todos) chega perto de dois outros meninos maiores, sentados no chão e concentrados na frente de um tabuleiro de xadrez, e pergunta: neste jogo de xadrez pode ganhá os dois? Ao que os dois contendores respondem: não, um só. Então o meninozinho pergunta de novo: e pa que o outo zoga? Parece uma tolice de crianças – que nunca são tolas – pois uma resposta lógica seria esta: ora a “graça do jogo” está em que deve haver sempre alguém que ganha de um outro que perde. Se não for assim, que graça é que tem? E é bem verdade que no futebol é bem melhor um “três a um” do que um “dois a dois”. No jogo, a regra universal é que dois (duas pessoas, dois times, duas equipes) ou mais de dois (como numa maratona) entram nele em condições supostamente iguais, para a que partir de uma igualdade inicial se chegue a uma desigualdade final. Todos estão submetidos da mesma maneira às mesmas regras. E então um vence o outro porque foi: mais capaz, mais hábil, mais forte, mais inteligente, mais astuto, mais sagaz, mais bem treinado, “mais” duas ou três destas “qualidades”, ou todas elas ao mesmo tempo. Essa é a “regra do jogo”. E por isso se joga. Mas, é sempre assim? Sempre foi assim e sempre deveria ser assim? E agora eu me lembro de uma seqüência de cenas que assisti ao acaso na televisão, no fervor dos dias de alguma olimpíada. Foi quando, de repente a câmara de filmagem, que mostrava grande belos lances das provas de ginástica olímpica, deslocou-se do podium e dos 2 vencedores, com os seus sorrisos de júbilos e as suas medalhas no peito, e veio mostrar os outros. Outros rostos, outras cenas. De quem? Do que não conseguiram nada. Dos que perderam. Então foram apresentados vários momentos de falha e de insucesso nas várias provas. O lado grotesco e perdedor do que deveria ser beleza e vitória. Uma moça caía feio da barra. Uma outra levava um tombo das paralelas. Um rapaz leva escorregava e, entre escandaloso e grotesco transformava em um gesto cômico o que deveria ser um salto de beleza, na ginástica de solo. Depois a câmara enfocou corpos e rostos dos perdedores. E eles eram bem mais do que os três vencedores – o de ouro, o de prata e o de bronze – de cada prova. Aquela ginasta que “veio para a medalha de ouro e ficou com a de bronze”. Aquela moça que por frações de pontos ficou fora do podium. Aquele rapaz negro que veio de longe, sabendo que ia perder, mas que assim mesmo veio “pra aprender e competir”. Aquela quase menina ainda, brasileira, que explica ao microfone porque “não deu dessa vez ainda”. E ela baixa vencida e pesarosa o olhar, como se pedisse perdão a uma gente que a assiste em uma tela e que ela nem sabe quem é. Enfim, de repente a câmara de filmagem saltou da euforia da vitória de alguns poucos e se demorou entre os ares de pesar de todas e de todos os outros, os “quase todos”. Saltou de algumas poucas pessoas por um momento tornadas diferentes de nós, que afinal somos como quase todo o mundo e nos deu a ver o nosso próprio rosto no de outros. Quando ao final deste capítulo nós nos defrontarmos com a narração a uma cena de uma outra olimpíada, quem sabe valeria a pena retornar a esta primeira e sentir a diferença entre uma e a outra? Logo nas primeiras páginas de introdução à economia solidária, Paul Singer retrata este outro lado de um sistema de política e de economia que nos é imposto sem nos consultar e que coloniza todos os recantos da vida. Ele lembra que na economia capitalista, em que se proclama – inclusive em alguns modelos de formação de crianças e de jovens através da educação – que todos podem “vencer na vida” e que isto depende apenas da “vontade de cada um”, o que de verdade acontece é o exato oposto. Porque de fato não é assim como é apregoado. Nunca foi assim e, menos ainda, daqui para frente menos ainda não haverá de ser assim. E então Paul Singer percorre no livro diferentes setores da vida de todos os dias, retratando como cada vez mais a ilusória “vitória” de alguns poucos custa o preço da derrota, da exclusão, da infelicidade de muitos. De quase todos, muitas vezes. O rosto feliz das moças e rapazes pintados de tintas e com a cabeça raspada do novo “bixo” na vida universitária são raras, breves imagens de suprema alegria frente ao “sucesso alcançado” um ou dois, do que nas das periferias das cidades. E ali estão, pintadas e sete cores, as faces felizes que os cursinhos de 3 vestibulares colam nos outdoors. Mas, e os outros? E todos os outros? O que foi feito deles? O que eles estão sentindo e vivendo agora? E o que será deles daqui para frente? Mesmo em uma situação em que dentro do jogo de perde-e-ganha do ingresso nas universidades, sempre se sabe que um entrará e 12 ficarão de fora, e 36 ficarão de fora, e 98 ficarão de fora, e centenas e milhares e milhares ficarão de fora, o haver “passado e entrado” é vivido como uma “conquista”, como uma “vitória”. Sim, porque quem “entrou” venceu. Venceu não apenas “na vida”, por um momento. Venceu também todos os outros: os que perderam e “ficaram de fora”. E a propaganda que vai do que acontece na mesa da casa das pessoas aos outdoors, às revistas do tipo “Caras” e aos programas das tardes medíocres e repetitivas da televisão, nos insiste em mostrar vezes sem conta os raros rostos dos vitoriosos – que nós sempre sonhamos ser – para que também nós entremos de novo e outra vez ainda no jogo ilusório de um mundo onde parece que não existem perdedores. Ou num mundo onde os derrotados perderam porque não aprenderam a vencer. Mas, o que é mesmo: vencer? Quando alguém lembra que vivemos em um sistema econômico de colonização da vida com o seu fundamento na classificação de pessoas em todos os setores e em todas as esferas da vida, da inclusão de alguns poucos em nome da crescente exclusão de quase todos, devemos lembrar, também, que esta palavra forte “exclusão” não se aplica apenas aos “deixados à margem”, aos marginalizados, e, no limite, aos desempregados. Nunca como agora fomos e, ao que tudo indica, seremos mais ainda, tão rotulados, tão indexados e tão quantificados. Tão distribuídos entre escalas, tão medidos e mensurados em um mundo “racional e operativo”, onde um título vale mais do que o nome, e um número vale mais do que um título. Nunca nos vimos tão avaliados, como agora, sejamos pedreiros, professores ou poetas. A todo o momento somos distribuídos, sem o direito pessoal a escolhas, dentro de sistemas de classificação de mulheres e de homens avaliados segundo critérios utilitários de competência/competitividade. Pessoas colocadas entre escalas numéricas de comparação apressada que nos dividem entre os poucos da “ponta” e os outros todos do “resto”. Assim como precisamos decorar cada vez mais senhas para abrimos as portas de prédios e as janelas de vídeos de acesso a alguma coisa, da mesma maneira também somos cada vez mais numerados para sermos ordenados como um “alguém que conta”. Para sermos comparados uns aos outros e, dóceis e rotulados, fornecermos ao poder ou à empresa os indicadores quantificáveis de nossa qualidade. E todo um trabalho sutil da mídia do mercado conspira para nos fazer acreditar que do mundo dos esportes até o das escolas, o das igrejas e o da própria identidade de cada uma e cada um de nós, assim deve ser, para que haja ordem, justiça e progresso. Em nome de quem? Para a felicidade de quem? 4 E, do outro lado destas escalas ilusórias da “qualidade total” o que de fato se mede e compara é o lado mais vendável de seres humanos. O mais vazio e até mesmo o mais civilizadamente antiético e agressivo (porque senão, como ser “competitivo?”) de jovens e adultos incentivados a “saírem à luta” em busca do sucesso, quando poderiam, juntos, “saírem à vida” em busca de felicidade partilhada. Pessoas desde crianças instruídas para serem “preparadas para a vitória”, superando e deixando pelo meio do “caminho do sucesso”, se possível, todos os outros. E, não raro, esses outros deixados aqui e ali pelo caminho do mundo dos negócios, são os mais éticos, os mais cooperativos, os mais solidários, os mais sensíveis, os mais sábios (sem seres sabedores ou especialistas), os mais humanos, enfim. Este universo de coisas e cenários de finanças pensados como seres vivos – “as bolsas ficaram nervosas” – ao lado de pessoas imaginadas e tratadas como uma mercadoria que se compra e vende1, depressa e sem pensar nos acostumamos a acreditar que se assim é, é porque não poderia ser de outra maneira. O preço do progresso é a produção, o preço da produção é o trabalho, o preço do trabalho é a competição e o preço da competição é a perda progressiva do que nos fez seres humanos e é, ainda hoje, o que há de mais humano em nós: a cooperação. o desejo da emoção: conviver e cooperar ou competir e vencer? Que eu me permita retomar aqui, pelo momento de algumas breves linhas, algumas idéias já trabalhadas antes. Sabemos e sentimos que somos seres humanos não porque sabemos aprender a saber saberes, e nos tornarmos racionais por sabê-los e para sabê-los. Somos humanos porque aprendemos uns com os outros em situações em que a cooperação cria a vida, a sociedade e o próprio conhecimento. Não somos somente seres sociais. Somos sociais porque aprendemos a nos tornar cooperativos. Somos seres original e essencial interativos. Somos seres em que a relação eu-outro, criadora de diferentes experiências de sermos um nós, nos faz seres de uma espécie conectiva. Convivemos sem cessar entre nós, e sabemos que nisto a pessoa de cada um conta e soma. Sabemos que podemos contar com outro, e pouca coisa é pior na vida do que descobrir que isto nem sempre é verdadeiro. Queremos multiplicar experiências interativas, cooperativa, participativas e conectivas, e se intercambiamos entre nós, de muitas maneiras, as palavras e gestos com que aprendemos uns dos outros e, juntos, buscamos encontrar e decifrar 1 Um livro sobre capacitação de pessoas para empregos no mundo dos negócios tinha títulos de itens de capítulos assim: “saiba ser um bom produto”; “aprenda a se produzir bem para se vender bem”. Não recordo título e autor e não perdi coisa alguma por esquecê-los. 5 sentidos para as nossas vidas e os nossos destinos, é porque o impulso mais original em nós é do da troca, da reciprocidade e da partilha. Nós começamos a nos tornar seres humanos em algum momento de nossa trajetória nas trilhas da vida, porque incorporamos emoções de reciprocidade afetuosa para com outros seres. E nós nos re-criamos sujeitos humanos a cada momento de nossas vidas, porque não somos apenas somos seres interativos: seres que de muitos modos interagem um com os outros. É importante repetir aqui algo aparentemente banal, mas de uma enorme importância em nossas vidas. Nós somos seres francamente conectivos. Viver como atores interativos em conexão, significa algo mais do que apenas buscarmos o outro para viver com ele “bons relacionamentos”, “boas experiências de vida”. Quer dizer que quase tudo o que vivemos ao partilhar com outras em nossas vidas uma variedade muito grande de interações são experiências pessoais e solidárias que nos criam e recriam. A partir de um certo momento começamos a sermos criados e feitos a partir de relações de reciprocidade entre pessoas; entre pessoas e nós mesmos no interior de unidades coletivas de pessoas e de trocas entre pessoas, Em praticamente todas as relações intersubjetivas voluntárias e livres, o outro não apenas se comunica comigo. Ele funda algo essencial em mim, nele e em nosso mundo a partir de gestos de inter-cooperação. E também eu nele, e através dele. Nós não sabemos ser e viver de uma outra maneira. Nós só conseguimos viver e experimentar a vida como uma coisa boa e valiosa, quando estamos juntos e partilhamos momentos significativos deste “estar juntos”. Nós só podemos estar voluntariamente juntos quando cooperamos uns com os outros e aprendemos a ser e a viver uns através dos outros. Nós somente lograrmos compartir situações de cooperação quando não uma necessidade vital, mas quando uma vocação gratuita a ter os outros voluntária e afetuosamente junto a mim, cria entre nós um contexto de emoções de aceitação e cooperação do/com a pessoa do outro. Somos seres da mente, do pensamento e da racionalidade na mesma medida em que somos seres da sensibilidade. Somos seres em quem o conhecimento das coisas tornou-se conhecimento de si-mesmo através das coisas. Não somos apenas seres que conhecem algo, como um gato, mas seres que se reconhecem conhecendo. Vivemos em um mundo que criamos, o da cultura. Todas as experiências de que venho falando aqui, são passadas dentro de mundos culturais criados pela ação humana e por ela transformados. Somos seres originalmente naturais. Somos parte e somos partilha do mundo da vida. Mas vivemos a nossa natureza em mundos de cultura. E criamos culturas e sociedades porque emergimos dos sinais (como o fogo na floresta) ao símbolo e à linguagem (alguém nos dizendo: “a floresta está pegando fogo) e do símbolo e da 6 linguagem ao significado e à sensibilidade humana (como ao dizer as si mesmo: “vamos nos unir para apagar o fogo ao invés de sairmos fugindo por aí!”). Esta seqüência é o que transforma em nós as idéias em significados e os sentimentos pessoais em sensibilidades interativas: a reflexão associada à emoção. Ou, o que vem a ser a mesma coisa: as emoções significadas através de saberes, de valores e de sentidos que criamos cooperativamente para construir e compartir as nossas vidas. O curso que a vida humana segue é o da sensibilidade, e nela as nossas emoções estão interagindo com as nossas idéias e valores e estabelecendo significados vivenciais para nos dizer e aos outros quem nós somos, quem são os nossos outros e o que estamos vivendo, experimentando e fazendo com eles e entre eles. Toda a vivência emotiva e todo o pensamento significativo que nos surgem e que vivenciamos, surgem e ganham sentido dentro de e através de contextos interativos. A pura experiência de mim-mesmo sem os outros, sem a referência ou a presença de outros, é uma abstração. Não pude ao longo de minha vida me tornar uma pessoa que aprendeu a sentir, a saber, a ser e a viver por minha própria conta. Do mesmo modo, eu não sei pensar-me a mim mesmo e me colocar para mim mesmo a não ser em presença de outras pessoas, ou na referência de momentos de presença destes outros em minha vida. E quem pratique alguma técnica de meditação sabe o quanto é difícil “esvaziar” a mente e o espírito de imagens, de idéias, de sensações. E é difícil porque? Porque somos seres do domínio da linguagem, da fala, da palavra e da presença de outros significativos que nos falam e nos ouvem. E é por isso, também, que mesmo a meditação mais demorada nos deve retornar à vida dialógica depois de alguns minutos. Por estarmos às vezes acostumados a uma ótica mais individualista, mais centrada nas realizações pessoais, pensamos que nos movemos entre os momentos de cada dia, através do que existe em nosso mundo interior: nossos sentidos e sentimentos, nossa memória e inteligência, nossas “experiências acumuladas”. Isto é verdadeiro, mas mesmo o”dentro de nós”, de nossa mais privativa individualidade, todos estes componentes de nosso psiquismo, de nossa identidade, de nosso eu, são dinâmicos e são sempre francamente interativos. Nada está imóvel dentro de nós, mas tudo o que há em nós e tudo o que somos existe em constante transformação. Somos nós e um outro, diferente, a cada momento. E mais, tudo o que “temos em nós” interage o tempo todo: percebemos com o que sentimos e sentimos com o que pensamos e pensamos com o que lembramos e lembramos com o que percebemos e sentimos. E somente podemos separar nossas funções psíquicas para dar nomes a uma totalidade de fluxos e de interações entre nossas dimensões corpóreas, mentais e espirituais. Da mesma maneira como podemos separar e ler 7 sozinha uma linha de uma estrofe, ou uma estrofe de um poema. Mas a poesia está em todo o poema. Um outro passo ajuda a compreender ainda melhor o mistério das interações com que levamos a vida. Agimos através de nossas energias e composições interiores, mas estamos sempre sentindo, pensando e lembrando outros, outras pessoas. E é diante delas – dentro de nós ou à nossa frente - com elas e através delas que nós tanto aprendemos a sentir e a pensar, a lembrar e a perceber, quanto a integrar tudo “isto” em nós, em cada momento de uma relação com uma outra ou com outras pessoas para conviver com elas uma experiência de partilha da vida. E nem eu convivo e nem reajo a seres abstratos, guardados dentro de mim e fabricados em minha mente ou nos meus desejos. Convivo com rostos, com olhares, com trejeitos de boca, de ombros. Convivo com a maneira como mãos me falam enquanto algum me diz alguma. Vivencio a dança do ser de outra pessoa diante de mim para dar os meus passos da dança do convívio entre nós. É a um corpo e é ao rosto de um outro, a sua pessoa corporificada diante de mim, que eu dirijo o olhar de meu rosto e os gestos de meu corpo. Conviver não é uma abstração, mas um jogo de papéis e um ritual de identidades de pessoas que, entre consensos e conflitos, entre momentos de amor e de desamor, e entre acertos e tateios iniciam e completam, várias vezes em um mesmo dia, os encontros e os confrontos das partidas mais essenciais na vida. Este é o mundo mais real do espetáculo diário das minhas convivências. Esses são os pequenos jogos do saber e do sentido entre os encontros sucessivos de cada momento, em cada dia ao longo de toda uma vida, que tornam a própria vida um ritual inigualável. E precisamos de uma bela de Sebastião Salgado que nos traga a magia de um rosto humano: seus olhos, seu ar, sua emoção traduzida num mover dos lábios, para vivermos por um instante de graça e beleza, o encontro com a beleza de um outro. Mas este mesmo espetáculo único e irrepetível – pois ninguém nos olha duas vezes de um mesmo modo – está aí, em casa e na rua, da manhã “a noite, à nossa espera. De vez em quando me espanto com amigas e amigos ávidos de saltarem para o “lado de lá” da vida humana verdadeira, em busca de visões de anjos, de guias espirituais, de fadas e duendes. Talvez eles existam mesmo e estejam em algum lugar à nossa espera. Mas o caminho para encontrar estes “seres de luz” e, quem sabe? conviver com eles, é o caminho do outro. É o lento aprendizado do sair de si mesmo em busca de repartir com outras pessoas a experiência amorosa da vida. E, bem sabemos, quando as relações de nossas convivência são vividas entre a solidariedade e a partilha de afetos, saberes, sentidos de vida e ações cooperativas, os anjos de luz estão entre nós, ou somos nós mesmos. Daqui em diante quero aprofundar esta seqüência de idéias com o pensamento de Martin Buber. Já falei sobre ele em outras páginas deste livro e ele ainda nos acompanhará mais 8 adiante2. Vamos lá. Em quase todas as horas do dia, a maior parte dos momentos que vivemos pares e conjuntos de pares relacionais do tipo: eu-me, eu-tu, eu-mundo, eu-isso. E até quando sonhamos, no sono, em geral sonhamos com alguma destas situações. Com ou sem as palavras que digam as idéias do que sentimos quando interagimos, entre silêncios, gestos e frases, as nossas relações eu-me são as que vivemos no diálogo conosco mesmos. As relações eu-tu são as que vivenciamos quando nos relacionamos com um outro, como uma outra pessoa inteira, que no singular ou no plural se relaciona conosco como uma inteira outra pessoa. As relações eu-mundo são as que vivemos quando nos sentimos em comunhão com a vida e os seus seres e o mundo, o cosmo e o seu todo. A interação eu-isso é, de diferentes maneiras e com diversas intensidades, a face oposta das outras três. Ela existe quando me tomo a mim mesmo, quando tomo o meu outro e quando tomo a vida e o mundo como meus objetos; ou como objetos de utilidade para mim. Ela se impõe quando saio do círculo do dom e ingresso no circuito da posse. Quando eu abandono - por um momento, por algum tempo ou de maneira constante - a reciprocidade gratuita e generosa de sentimentos (as emoções) , de sentidos (a significações das emoções), de significados (os saberes sobre eu mesmo, o outro, a vida e o mundo), de saberes (os conhecimentos, conjuntos e sistemas de conhecimentos que aprendemos a reconhecer para compreender frações da realidade em que nos movemos); de serviços (a prestação de intercâmbio através dos gestos produtivos do diálogo); de sociabilidades (as ações sociais dirigidas coletivamente à construção dos mundos de vida cotidiana sociais que criamos para viver e conviver) vivida como comunicação e cooperação, e ingresso no domínio do relacionamento regido pelo interesse e utilitariamente vivido em seu nome. E isto se dá quando eu mesmo, meu outro, a vida e o meu mundo, deixam de ser sujeitos de minha relação e se transformam em objetos de meu relacionamento. Relembrar Martin Buber. Em todas as situações e cenários de sua existência em que uma pessoa se reconhece em uma inter-comunicação com ela mesma, com uma outra pessoa, com um grupo de pessoas, com outros seres da vida, com a vida como um todo, com o seu mundo, ou mesmo com o sentimento holístico de todo o universo, esta pessoa vivencia essas diferentes e interligadas relações interação como uma relação eu-tu Esta é um encontro entre seres experimentados como sujeitos. Como sujeitos encontrados e colocados lado a lado em uma comunicação fundada na cooperação, qualquer que seja a sua dimensão. 2 . Seu livro mais importante e mais conhecido já foi indicado em outro capítulo de a ave que voa em mim. Trata-se de um longo texto de filosofia e também um belo poema sobre a essência da relação original entre seres humanos, a relação eu-tu. O livro é: eu e tu e foi publicado em português pela Centauro Edições, de São Paulo. 9 E ela pode experimentar relações com ela mesma e com os seus outros, como um relacionamento. Esta é a interação onde uma outra pessoa é vivenciada como um objeto. Toda a interação em que um dos pólos é tornado um objeto de interesse, de uso e de manipulação, corre o risco de vir a ser um relacionamento em que o sujeito que age assim pode transformar-se eles mesmo, também, em um outro objeto. Na experiência de um jogo com/contra uma outra pessoa, esta é a relação em que eu vivencio mais o prazer de haver vencido, derrotado ou mesmo “esmagado e humilhado” o meu contendor, do que a alegria generosa de haver partilhado com ele um momento de troca de forças e de energias. E nada pior do que dois amigos que jogam xadrez a vida inteira, sabendo de antemão que sempre um deles é quem vai perder. E nada melhor do que a seqüência de partidas em que nunca se sabe quem vai ganhar e quem vai perder. Quem sempre perde de mim tornar-se um objeto de minhas vitórias. Mas se ele e eu podemos vencer, então a repartição das vitórias nos torna, aos dois, sempre vencedores. O nome mais reconhecido entre nós, seres humanos, por meio do qual um domínio de interações entre eu e uma outra pessoa seja vivido por cada um de nós e entre nós, como uma relação em que eu e o meu outro nos encontramos como dois sujeitos, como um legítimo eu frente a um livre e autônomo tu no correr da convivência, é: amor. E, bem sabemos, o amor não é um sentimento passivo e auto-referente. Ele é uma vocação do ser ativa, interativa, e gratuita. E as palavras que tornam o amor experiência de ação diante do outro, são: liberdade, gratuidade, generosidade, reciprocidade, partilha, compaixão, solidariedade, cooperação, criatividade, disponibilidade. Quero voltar aqui a uma idéia já conhecida. Podemos suspeitar que a principal emoção geradora de ações de negação da vivência interativa da plena aceitação do outro para mim – o amor - não é propriamente o ódio, como estamos acostumados a pensar. Pois o ódio às vezes é apenas um amor que perdeu o seu rumo e esqueceu o seu sentido original. Uma das emoções mais contrárias ao amor é o interesse. É em nome e a serviço de meu desejo de tirar proveito de tudo e de todos, convivendo com outras pessoas como objetos de realização de meus interesses individuais, que eu saio do campo das ações entre sujeitos livres, para ingressar no campo dos relacionamentos em que pessoas valem como coisas. Como uma coisa, um outro diante de mim “vale” algo porque tem uma utilidade pra mim. Um relacionamento movido pelo interesse coloca quem “ganha” vitória ou lucro e quem “pede” fora da experiência da liberdade. Pois só se é livre quando se é, para si mesmo e para o outro, um pleno sujeito. Uma pessoa cujo sentido original de vida e de relação não está na motivação utilitário, embora ela possa se mover, também, em busca do bem para si mesma. O relacionamento gratuito, oposto ao utilitário, está fora do lugar onde a pergunta-chave é: o que 10 você vale para mim? Se há nele uma pergunta de valor ela é esta: o que é que este encontro entre nós vale para nós dois? Em nosso estado original e na plenitude da experiência de nosso ser, somos seres do amor. Somos pessoas destinadas a criar reciprocidades e experiências de encontros de partilhas de cotidiano entre pessoas, assim como da história de povos, regidos pelo amor e dirigidos sem desvios a ele. Somos seres vocacionados a uma história amorosa construída pela cooperação e, não, pela competição. Momentos de concorrência e de competição deveriam estar sempre subordinados a planos mais abrangentes de cooperação. Em qualquer lugar de vida e de trabalho. estabelecer qualquer vivência de relacionamentos entre pessoas – do contexto de par de amantes ao de toda a humanidade - com base no princípio da competição não significa um ato racional que se contrapõe a uma visão romântica e utópica sobre a pessoa e o mundo, em nome de a partir de uma visão das coisas lógica e realista. Ao contrário, tudo o que nos afasta da vocação original de sermos seres cooperativos , significa pensar a pessoa, a vida e o mundo a partir do que não é essencialmente nosso e não está em nós. Somos seres pertencentes à solidariedade e à colaboração, não ao interesse egoísta e à competição. Somos destinados ao encontro entre sujeitos, não à agressão. Tudo o que não é o amor em nós não é o nosso “outro lado”. Tudo o que o amor não clareia em nós, não é um nosso natural: lado de sombra. É, ao contrário, a privação e a ausência do que originalmente é nosso em nós mesmos. O oposto do amor não é o que o equilibra em nós e nos torna realmente humanos. Ele é a nossa doença. É o desvio do que em nós é a nossa natureza original. Tanto é assim que quase sempre adoecemos de um modo ou de outro quando somos forçados a conviver em contextos de relações onde um clima regido pela emoção do amor não acontece. Pequeninos macacos chimpanzés adoecem para sempre ou morrem quando privados de afetos. Com maiores razões, apenas o amor nos salva de não sermos enfermos. Sem a experiência cotidiana do amor não vivemos apenas mal: nós não sobrevivemos. O que se faz e o que se cria: conhecimento, compreensão e aprendizagem Antes de qualquer técnica de trabalho, antes de qualquer metodologia em qualquer campo do encontro entre pessoas, o que de fato conta é o clima que se cria no momento e no lugar em que qualquer encontro entre pessoas e entre grupos de pessoas acontece. Tantos nos livros mais recentes de puericultura quanto nos de educação, a cada dia mais aprendemos que o que importa é o saber construir contextos de interações regidos por motivações derivadas do amor: a gratuidade oposta ao interesse; a solidariedade oposta ao individualismo; a reciprocidade de 11 dons oposta a acumulação de ganhos; a aceitação plena do outro em suas diferenças, oposta à tolerância fundada na desigualdade; a cooperação, oposta à competição. Uma grande parcela do que chamamos de “problemas de aprendizagem”, “questões de indisciplina”, ou “bloqueios ao crescimento” é, antes de tudo, algo relativo à ausência do amor no espaço da convivência. É devido à sua ausência, ou à desproporção entre a emoção do amor e das ações interativas derivadas dele, e a predominância de afetos e motivações regidas pelo interesse utilitário e a competição. São múltiplos os contextos dos gestos de encontros entre pessoas, vividos como comunicação entre sujeitos, ou como o interesse de um sujeito sobre um outro, tornado objeto. Qualquer instante de uma vivência a dois, até mesmo na brevidade de se cruzarem numa esquina, pode ser um deles. Tomando como exemplos o que nos é mais conhecido, podemos pensar os cenários interativos dos encontros assim: a) aqueles em que se faz, como quando pessoas se reúnem para edificar, juntas, algo útil, como o começar a construir a casa onde se vai viver; b) aqueles em que se cria, como quando se constrói uma casa com um sentido de harmonia, de beleza e de dedicação a alguma coisa que se edifica com um sentido maior do que o da utilidade de se vender ou morar na casa; c) aqueles em que se aprende, como quando entre pessoas há uma intenção de se intercambiar gestos e sentidos, propiciando que habilidades, conhecimentos e valores sejam reciprocizados em situações de ensinar-e-aprender; d) aqueles em que se celebra, ou com-celebra algo, como quando pessoas se reúnem, entre seus símbolos e sentidos, para dizerem entre si e a outros quem elas são. Para se dizerem isto e algo mais. Para lembrarem, entre preces, cantos e danças, aquilo em que elas crêem, como elas vivem e querem viver, o que elas esperam delas e da vida, o que elas festejam, o que rememoram, o que elas desejam que perdure ou seja mudado e, finalmente, quem são aqueles – deus, deuses, seres de poder, heróis, pessoas do lugar - em nome de quem se vive uma celebração; d) aqueles em que se joga, como quando pessoas ou grupos de pessoas se colocam, frente a frente e se encontram e se enfrentam. Se enfrentam entre pessoas ou entre equipes a partir de como estabelecem como jogo uma competição disjuntiva ou conectiva. Isto é, uma experiência de conviver a competição de jogo para reiterar, nele e fora dele, o sinal de desigualdades entre concorrentes; ou a experiência de compartir a competição para reiterar, fora dele e nele, diferenças cooperativas. Vivemos um tempo e quem se reacende um ideário pedagógico fundado na competição e na aprendizagem como um meio de estabelecimento de desigualdades utilitárias. O princípio deste desvio da formação humana está na idéia de que o conhecimento é algo que se acumula utilitariamente, e ele vale como uma forma de ganho e de poder. Saber mais e poder mais; poder 12 mais é ganhar mais. Há muitos anos atrás o sentido de concorrência entre pessoas na escola e na educação tinha, pelo menos, uma conotação ética quase guerreira. Agora o “campo de batalha” desviou-se da “vida” para o “mercado” e, não raro, o “vencer na vida” equivale ao “conseguir um bom emprego”, quando não se obtém “um cargo de destaque”. Assim, a pedagogia de um tal imaginário de pessoa e de educação tende a tornar a sala de aulas e a escola um aparente civilizado cenário de combates, em que crianças e jovens são incentivados a se esforçarem sempre mais, para aprenderem cumulativamente sempre mais (o saber se ganha, se acumula e se pouca, como o dinheiro) para se tornarem não propriamente seres humanos bons, belos e verdadeiros, mas apenas agentes competentes, vencedores sobre os outros. Apenas em uma escala utilitária e mercantil a aprendizagem e as relações entre pessoas à volta dela poderiam estar estabelecidas sobre estes fundamentos. Pois bem sabemos que emoções como a competição movida pela perene concorrência, a comparação de desempenhos, a inveja, e a agressividade, na verdade limitam e entravam o aprendizado do conhecimento, que nos faz sabedores e, mais ainda, da compreensão, que nos faz sábios. Apenas o amor e os sentimentos derivados dele ampliam a interlocução entre o sentimento e a inteligência, tornando uma sensibilidade humana ilimitada a nossa capacidade de conhecer e de compreender. A idéia tão conhecida, segundo a qual só se ama o que se compreende pode ser pensada na direção oposta. E as duas serão então convergentes. Só se compreende quando se ama e só se compreende de verdade aquilo que se pode amar. Somos informados quando incorporamos ao nosso soft interior um pouco mais de dados a respeito de alguma coisa. Conhecemos quando integramos complexos de saberes em nossas complexas interações interiores de sensações, emoções, inteligências, memórias, etc. Mas compreendemos algo quando o tornamos um alguém para nós. Compreendemos quando de alguma maneira nos integramos no fluxo daquilo que é compreendido. Compreendemos quando fazemos parte do círculo das intercomunicações dialógicas de sentido onde se comparte parcelas da dinâmica de um complexo de compreensões. Mas, para mais além ainda, sabemos que compreendemos algo, como uma forma pessoal e conectiva de consciência e de sensibilidade, quando, por o havermos compreendido, somos movidos a integrar a nossa compreensão e aquilo que compreendemos no círculo gratuito do amor e da liberdade. Entre pessoas e entre grupos humanos não deveria haver lugar para contextos interativos de congraçamento e contextos interativos de enfrentamento. Isto não dever acontecer nos contextos do aprender-e-ensinar, como os da educação. Cada criança, cada adolescente, cada jovem e cada adulto, homem ou mulher, é um ser-em-si. É criador do seu conhecimento e a finalidade essencial do seu aprender é aprofundar a sua capacidade individual e interativa de 13 atribuir sentidos harmoniosos às suas emoções. De produzir sentidos e sensibilidades sobre o que aprende, ao partilhar situações de construção solidária do saber, aprendendo também a vivêlas, de uma maneira crescente e irreversível, como fontes de ações reciprocidades regidas pelo amor. Tudo o mais são complementos e comentários ao gesto essencial de aprender e compreender. Cada pessoa que aprende é em si-mesma a fonte e o destino de seu saber. Cada pessoa só realiza o sentido do aprender-a-saber e a saber-e-compreender quando vive o que aprende e vivencia o que sabe e compreende em contextos de diálogo. Tudo o que aprendo, sei e compreendo, serve essencialmente a alargar a minha capacidade de me voltar com amor a mim mesmo, ao meu outro (quem quer que ele seja), ao mistério da vida que comparto com os meus outros (humanos e não humanos) e ao meu mundo, a começar pela casa-nave Gaia onde vivo e onde crio e comparto os meus encontros da e com a Vida . Todo o sentido de competição nos contextos onde se vive a experiência da criação partilhada de saberes e a partilha de diálogos através dos quais cada pessoa e cada grupo de pessoas aprende, nega na origem e no destino o próprio valor do ato de aprender, acompanhado do ato de ensinar. Na comunidade aprendente (um nome bem melhor do que “sala de aulas” ou “turma de alunos”) todos têm algo a ensinar enquanto aprendem e todos têm algo a aprender enquanto ensinam”. Quando situadas fora de uma concepção classificatória, utilitária e competitiva, as crianças que estudam não sabem mais-ou-menos do que as outras. Elas sabem e compreendem de maneiras diversas. Assim, tal como em outros planos da vida social, as pessoas não devem ser comparadas competitivamente através de suas desigualdades, mas devem ser avaliadas cooperativamente através de suas diferenças. O trabalho pedagógico mais importante de uma pessoa responsável por algum contexto de educação, não é ensinar tecnicamente o que sabe a quem não sabe. É criar cenários de respeito pleno pelo outro. Contextos interativos de aceitação sem limites das diferenças e de convite fraterno a um trabalho de criação partilhada e amorosamente emotiva de saberes, dentro do qual os diferentes participantes de uma comunidade aprendente se sintam motivados a conviver-esaber. E assim se sintam e reconheçam, ao reconhecerem nos outros os seus colaboradores no criar algo que alargue, entre diferentes, a experiência da originalidade e, não, os seus concorrentes no fazer algo através da competição que alarga entre desiguais a própria desigualdade . Onde todas as pessoas estão pensando a mesma coisa, provavelmente ninguém está pensando coisa alguma. Onde todas as pessoas são condicionadas a sentirem as mesmas emoções do mesmo modo e a originarem ações de reciprocidade impostas por uma fonte externa à 14 liberdade de suas emoções, não há sentimento, não há interação e não há reciprocidade. Há uma representação imposta de afetos em um contexto onde a igualdade forçada dos atos e dos resultados tende a tornar transparente a desigualdade original entre quem pode dizer como se deve ser e fazer, e quem é conduzido a se comportar para ser e fazer fora ou contra as suas próprias emoções e seus desejos genuínos de interação com o outro. A uniformização forçada de maneiras de sentir, de pensar, de agir e de ser está em geral associada a um contexto regido pelo desamor e pela competição em nome da desigualdade. Em qualquer momento de prática de um trabalho, de uma criação, de um processo de educação, de um rito ou de um jogo não é nunca é sobre o ser de uma pessoa que se deve agir ou interferir. Pois não se deve pretender que alguém mude o ser-como-é de fora para dentro. Do exterior de um outro para o interior de si-mesmo, e sem que isto seja um movimento interativamente pessoal e regido por um aprendizado vivido entre a emoção e o pensamento. É o agir relacional e são as ações interativas do fazer vivido, aquilo sobre o que se pode trabalhar ou intervir. Eu não corrijo quem você é, mas posso ajudá-lo a rever como você é, através do que você fez ou faz, ou através do como você agiu em um momento de nossa relação recíproca. O educador não tem direito algum de inventariar, de classificar e de intervir como uma fonte de poder externo, mesmo que com a melhor das intenções, sobre o ser de uma criança. Este é o mais sagrado dos territórios. Ele deve criar os contextos de diálogos onde, ao sentir-se amada de maneira incondicional, sendo como é e porque assim é, ela sinta com inteira liberdade as suas próprias, ela compreenda o sentido de como age através delas e, então, recrie na convivência fraterna e no aprendizado derivado da troca de sentimentos e de sentidos com as outras, a sua própria pessoa.3 O jogo e o rito: o jogo como rito? Esta vocação ao mesmo tempo co-responsável e gratuita da educação é estendida a outro domínios de experiências, e ela aprende com outras experiências de reciprocidade de gestos humanos e de ações sociais. Se isto é verdadeiro, uma relação igualmente gratuita e cooperativa 3 Todo o tempo estou fundamentando minhas idéias na interação de minhas próprias experiências como educador e como professor “de sala-de-aulas”, junto com minhas leituras e reflexões de educadores como Paulo Freire, Leonardo Boff e Marcos Arruda e, finalmente, com leituras mais recentes e com felizes aprendizados junto a Humberto Maturana. Um de seus livros mais oportunos sobre este tema é um pequeno e precioso trabalho escrito juntamente com a educadora chilena Sima Nisis de Rezepka. O livro é, na verdade, uma seqüência de oficinas de relacionamentos humanos fundados na compreensão do outro e no amor. Suas partes propriamente teóricas são muito pequenas, mas muito importantes. O livro é: formação humana e capacitação, e foi publicado em português pela Editora VOZES, de Petrópolis, em 2000. 15 deveria valer também para o jogo e para o esporte. Um princípio muito importante para pensarmos como e em que os jogos e os esportes deveriam se voltar mais à criação entre cooperantes do que à oposição entre adversários, está em reaprendermos a valorizar bem mais a dinâmica do processo dos gestos de trocas entre pessoas conectadas umas com as outras, do que os produtos dos atos, os resultados dos enfrentamentos de pessoas colocadas umas contra as outras. Pois, “se o importante é competir, o essencial é cooperar”. E eu trago esta frase aqui para lembrar que, de uma maneira direta ou indireta, estarei me fundamentando nas idéias e propostas dos jogos cooperativos e das experiências que tenho partilhado com pessoas do Projeto Cooperação4. Somos levados a acreditar que devemos viver diferentes contextos de experiências de relacionamentos com emoções diferentes e até mesmo opostas. Assim, devemos vivenciar os rituais de celebrações com um sentimento de unidade, de partilha, de cooperação e de amor, como quando celebramos juntos o nascimento de uma criança, uma data de grata memória na história de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade, a volta ao lar de alguém querido ou uma colheita farta e bem sucedida. Mas devemos vivenciar os jogos e os esportes com sentimentos de desigualdade, já que para ser “interessante”, alguém precisa ganhar de alguém que precisa perder. Com motivações de um interesse agressivo - mesmo quando socialmente aceito e controlado - e de franca competição, porque o jogo é sempre uma batalha, um conflito controlado e sujeito a regras. No limite, com emoções de visível rivalidade e mesmo de desamor, porque tais sentimentos são “a alma do jogo”. Tudo isto porque em geral se aceita que se o ritual é um congraçamento, o jogo é um enfretamento. Esta oposição forçada entre o rito e o jogo, entre o ritual que celebra um “nós” e o desporte que faz se enfrentarem um “eu contra o outro”, dá o que pensar. Existe mesmo uma teoria antropológica segundo a qual o rito é, de uma maneira geral, uma ação social em que se parte de uma situação estruturada sobre a oposição entre atores desiguais (o “festejado” e os que festejam em seu nome, o sacerdote e os fiéis, os especialistas cerimoniais e os espectadores, etc), em direção a de uma unidade ao final entre todas as pessoas. Enquanto isto no jogo parte-se de uma situação de igualdade inicial estruturadas, entre pessoas (dois lutadores de Box) ou grupos de pessoas (dois times de futebol), onde submetidos por igual à aplicação das mesmas regras, objetiva-se chegar a um resultado de desigualdade ao final. 4 Há várias publicações do Projeto Cooperação. Uma das mais relevantes é um livro escrito por Fábio Otuzi Brotto, e que tomou o nome de: jogos cooperativos – o jogo e o esporte como um exercício de convivência. O livro foi editado pelo próprio Projeto Cooperação, em Santos, em outubro de 2001. O Projeto possui vários outros títulos publicados e oferece cursos e oficinas. Ver: www.projetocooperacao.com.br Existe também uma revista: jogos cooperativos, ela é bi-mensal e pode ser contatada em; www.jogoscooperativos.com.br. Ver também o livro de Cynthia MacGregor, 150 jogos não-competitivos para crianças, da Editora Madras, de São Paulo, sem data. 16 Claude Leví-Strauss relata em o pensamento selvagem, a maneira como os guhukugama, da Nova Guiné, re-inventaram o jogo de futebol que aprenderam com os missionários ingleses5. Bem ao contrário de nossa lógica desportiva, em que o melhor é haver sempre ganhadores e perdedores, entre estes jogadores tribais o que vale é aproximar, tanto quanto possível, o jogo do rito. E assim eles jogam durante vários dias seguidos, tantas partidas quantas forem necessárias, para que se equilibrem exatamente as perdidas e ganhas em cada campo (...) o que é tratar um jogo como um rito6. Sim, eis uma situação em que um jogo se vive como um rito. Em que se vive um jogo de competidores como uma comemoração com-celebrada, onde o que se busca não é uma vitória ao preço de uma derrota, mas é a reciprocidade da alegria de compartir, como numa festa de todos, bem mais o processo dos gestos cerimoniais do que o produto dos atos desportivos. Não importa traduzir desempenhos desiguais como um resultado expressivo em que se estabeleça um lado vencedor e um lado perdedor. Importa que num jogo onde se pode ganhar, empatar ou perder, haja uma isonomia de resultados de tal maneira que, em partidas que acabam sendo mais “representadas” do que “jogadas” os dois lados se equilibrem e, assim, dêem a ver, um ao outro, mais a evidência de uma igualdade demonstrada no rito em que a seqüência de partidas do jogo se dissolve, e do que a desigualdade expressa em uma desportiva diferença dos resultados. Uma longa citação com que Leví-Strauss encerra o capítulo nos ajudaria a compreender algo muito interessante e esquecido. O jogo aparece, portanto, como disjuntivo: ele resulta na criação de uma divisão diferencial entre jogadores individuais ou das equipes, que nada indicaria, previamente, como desiguais. Entretanto, no fim da partida, eles se distinguirão como ganhadores e perdedores. De maneira simétrica e inversa, o ritual é conjuntivo, pois institui uma união (pode-se dizer aqui, uma comunhão) ou, de qualquer modo, uma relação orgânica entre dois grupos )que, no limite, confundem-se um com a personagem do oficiante, o outro, com a coletividade dos fiéis) dissociados de início. No caso do jogo a simetria é pré-ordenada: e ela é estrutural, pois decorre do princípio de que as regras são as mesmas para os dois campos. Já a assimetria é engendrada: decorre inevitavelmente da contingência dos fatos, dependam estes da intenção, do acaso ou do talento. No caso do ritual, ocorre o inverso: coloca-se uma assimetria preconcebida e postulada entre profano e sagrado, fiéis e oficiante, mortos e vivos, iniciados e não-iniciados etc, e o “jogo” consiste em fazer passarem todos os participantes para o lado da parte vencedora, através de fatos cuja natureza e ordenação têm um caráter verdadeiramente estrutural. Com a ciência (se bem que aqui, ainda, ou no plano especulativos ou no prático), o jogo produz fatos a partir de uma estrutura: compreende-se, portanto, que os jogos competitivos prosperem em nossas sociedades industriais, ao passo que os ritos e os mitos, à maneira do bricologe (que essas mesmas sociedades industriais não toleram mais, senão como hobby ou passatempo), decompõem e recompõem conjuntos factuais (no plano físico, sócio-histórico e técnico) e se servem deles como de outras tantas peças indestrutíveis, em vista de arranjos estruturais que assumem alternativamente o lugar de fins e de meios7. 5 Claude Leví-Strauss (que começou a sua vida de pesquisador de campo, como etnólogo, junto a grupos tribais do Brasil-Central): o pensamento selvagem, Editora Papirus, Campinas em 1989. 6 o pensamento selvagem, pg. 46. 7 O pensamento selvagem, pgs. 48 e 49. 17 Sabemos que em todos os tempos os jogos se cercam de ritos, antes, durante e depois da produção de resultados finais. Em boa medida é este pêndulo entre momentos rito-no-jogo e momentos jogo-no-rito o que entretece cenas e gestos de beleza, mas do que apenas de eficácia. Vivemos um tempo em que em vários campos do agir-humano-com-sentido, o processo do acontecimento interativo vale mais do que o resultado-produto do que aconteceu. Apenas um torcedor fanático ou uma pessoa bastante vazia de sentimentos de harmonia e de sentidos de equilíbrio e beleza participa de um jogo antecipadamente atenta ao resultado final e desatenta da poesia da dinâmica dos gestos e da face de rito entretecida com o corpo do jogo. O que escrevo aqui tem a ver, sobretudo, com os jogos no contexto da educação de crianças e de adolescentes. E com as crianças que podemos pensar por um momento. Deixadas a sim mesmas, quando pequenas e relativamente livres ainda do controle dos adultos sobre os seus momentos de lazer, as crianças criam brincadeiras cooperativas. Elas gostam de re-inventar as “coisas do mundo” para criam casinhas, fazendinhas, clubinhos, ou o que seja. E inventam brincadeiras em que todos partilham da experiência construtiva (e talvez até construtivista) de inventarem alguma coisa juntos para se divertirem com o que vivem e criam, sem necessariamente competirem . Só mais tarde e imitando os jogos “dos grandes”, irão surgir, pouco a pouco: a competição, o “um contra o outro”, ou “contra todos”, a vitória alegre de um e a derrota pesarosa de todos os outros. Mesmo nos esportes mais oficiais, vemos nas reportagens dos programas esportivos que aos poucos o que vale tantos, no futebol, no tênis ou no vôlei não é nem mesmo a cena cheia de glória de um momento de vitória de um jogador ou de um time, mas é o número de pontos que cada vitória acrescenta nas contas (inclusive bancárias) de quem venceu. Varais vezes os noticiários lembram “a posição do Guga no ranking mundial do tênis” e se ele está “caindo” ou subindo” isto é um assunto de grande importância. Se ele ama e é amado; se é feliz ou não, tudo isso importa menos. E, no entanto, por debaixo dos números, longe, bem longe deles, “isso” é tudo o que importa. Ora, esta invenção do “ranking” e este culto ao valor da Ranquicisação da vida” recente. Nas olimpíadas gregas, que foram e seguem sendo a experiência criadora de quase todos os esportes, cada jogo ou competição celebrava vencedores, mas “morria ali mesmo”. Logo havia uma outra e o vencedor de uma corrida era o simples espectador de um jogo de dardos. A própria coroa de louros era verde e secava depressa. Não era jamais de ouro, prata ou bronze. 18 Podemos relembrar situações simples de nossas próprias vidas para estabelecermos, de uma forma mais ingênua e vivida, a diferença entre um lado e o outro. Lembro de novo situações de brincadeiras infantis em que o que se faz é reproduzir como um pequeno drama não ensaiado, porque os papei de cada um estão bem sabidos, uma relação estruturada da vida. As crianças brincam juntas de “construir casinhas” ou representam momentos de uma família, em que uma delas torna-se o “pai”, outra a “mãe” e,, uma terceira, a “filha”. Aqui o jogo vale como um rito. Não há um resultado a produzir, gerando uma desigualdade entre contendores, mas há uma cena a criar cooperativamente, gerando uma conformidade sperada e prevista entre atores. Algo semelhante nós vivemos como espectadores, quando o jogo que assistimos no campo ou na televisão é entre dois times pelos quais não “torcemos” de modo algum. Então o jogo que seria acompanhado com uma enorme carga de emoção, tensão e partidarismo se uma das equipes fosse “a do Brasil” em uma final de Copa do Mundo e, a outra, a de uma nação tradicionalmente rival, passa a valer como um espetáculo. Sem pender apara um lado ou para o outro, assistimos ao jogo como um quase rito. Prestamos a atenção às “boas jogadas” de um lado e do outro. Aplaudimos jogadores dos dois campos opostos e nos preocupamos bem mais com a beleza gestual do que está acontecendo do que com o resultado do que aconteceu. Mas o que nos é imposto é o oposto do sentido de beleza em nome do teor de uma tensão dirigida aos aspectos competitivos do que vemos, ou daquilo de que participamos. Na televisão a situação de concurso e de competição invade o campo da arte e pouco a pouco transmuta artistas em contendores que se apresentam frente a um corpo de jurados que atribui a cada um e a cada aspecto expressivo de seu desempenho uma “nota”. Em uma escala muito ampliada, isto é exatamente o que aconteceu com os “desfiles de escolas de samba” e a famigerada apresentação de “bumba-meu-boi em Parintins”. A invenção do Big-Brother Brasil leva este espírito de pura e simples competição entre todos, através de todas as dimensões “dadas a ver” do desempenho de cada um, a um grau máximo de inversão de sentido de um ritual empobrecido em um espetáculo e de um espetáculo – de resto, banal e vazio - depravado em uma competição do pior tipo perde-ganha possível. Durante alguns anos de minha juventude e mesmo dos começos da “maturidade universitária”, escalei montanhas. A excursão entre trilhas dos matos e dos montes do Rio de Janeiro e das cidades vizinhas e a escalada de montanhas foram os meus dois esportes de adoção. Levei os dois tão a sério que fiz longos cursos de um ano cada para me formar como 19 “guia excursionista” (pelo Centro dos Excursionistas) e como “guia escalador” (pelo Clube Excursionista Rio de Janeiro)8 Caminhávamos longas trilhas para chegar a um lugar em geral distante, difícil e especial pela sua beleza ou pelo seu acolhimento natural. Gastávamos horas em armar um acampamento. E até hoje a minha imagem geográfica da felicidade não é um castelo, um palácio ou mesmo uma casa, mas um acampamento com suas barracas cercadas de campos e de matas. Ali convivíamos por um dia, dois ou mais, entretidos em estar ali e vivermos aqueles momentos de convívio com a natureza, entre nós: uns com os outros. E subíamos montanhas. Algumas, mais fáceis e sem perigos. Outras, escaladas de grandes abismos e de “lances” que exigiam coragem e habilidade aprendida. Ainda fui de um tempo em que escalávamos amarrados a uma mesma corda, a distâncias de dois metros mais ou menos. Isso se chamava: “cordada” e até hoje é para mim uma das melhores e mais bonitas metáforas do viver alguma coisa juntos. Íamos uns ligados aos outros por uma espécie de enlace de corpos e de vidas. E, sobretudo nas escaladas mais “pesadas” estávamos mesmo uns nas mãos dos outros. Um guia nos guiava e quando eu me tornei guia guiei outras pessoas montanha acima. Mas também ele dependia de todos e em poucos lugares da vida a frase: um por todos e todos por um, soava tão verdadeira. Como íamos escalando “em linha”, sempre alguém chegava ao cume na frente do outro. Em geral era o guia, mas isto não contava, não tinha importância alguma 9. Chegávamos juntos e isto era o que importava sempre. Éramos uma equipe e a cada “lance” de montanha aprendíamos a ser “isto” um pouco mais. Durante todo o tempo íamos nos ajudando uns aos outros, parávamos no meio do caminho para descansarmos juntos ou para apreciar as belezas do mundo visto “lá de cima”. Bebíamos a água de um mesmo cantil e repartíamos entre nós a mesma comida. Por duas out três vezes eu passei sérios perigos e sei bem o valor de uma mão estendida num momento destes. Também estendi a minha mão a outros e não sei hoje bem a diferença entre uma cosia e a outra. Éramos um “nós e tínhamos até mesmo uma frase de propósito incorreta, para traduzir a idéia certa. Dizíamos: “eu fomos”, para falar de uma escalada. Havia raros escaladores solitários então, mas eles, por exímios que fossem nas artes da montanha, não eram um exemplo para os outros. 8 São os únicos diplomas que tenho pendurados na parede de casa. Não tenho as notas do curso de Guia Escalador e garanto que elas foram todas boas, tanto nas provas teóricas quanto nas práticas. 9 Quando Edmund Hillary, o escalador inglês rico e o guia Tendzing, um nepalês pobre, conquistaram juntos o Everest, ambos foram pressionados pelos “seus” a declararem que chegaram “antes do outro” no cume da montanha mas alta da Terra. Até onde sei os dois trataram de relativizar esta questão idiota. Ambos haviam chegado e um não chegaria sem o outro. E os dois não teriam chegado sem a presença e a ajuda de todos os outros, os que fizeram o apoio aos dois escaladores e que foram ficando, como é praxe em tais casos, ao longo dos acampamentos-base. 20 Quando chegávamos “lá no alto”, nos festejávamos, principalmente quando era por uma primeira vez. Descansávamos do grande esforço – imenso, algumas vezes – e nos púnhamos, juntos, congregados, a contemplar paisagens que os muitos anos nunca me deixaram esquecer. Ainda as tenho no álbum dos olhos, do coração e da memória. Mas o que víamos não era grandiosamente belo porque estávamos tão alto, tão “lá em cima”, tão perto e ta distantes do mundo. Era belo porque era a paisagem vista desde o nosso esforço conjunto. Era o que nos dávamos a ver, juntos, olhando em uma mesma direção após havermos finalmente chegado “lá em cima”, como fruto de um trabalho em que cada um, em uma equipe onde éramos todos vencedores, cada um se reconhecia vencedor de si mesmo, se é que ele vencia alguém. E o homem, sem sombra de dúvida, tem necessidade de paredes para debaixo delas se enterrar e vir a ser como a semente. Mas também tem necessidade da grande via Láctea e da extensão do mar, ainda que de momento nem as constelações nem o oceano lhe sirvam para nada. Que quer dizer servir?Conheço gente que trepou a pouco e pouco, penosamente, pela montanha acima, esfolando os joelhos e a palma das mãos, esgotando as energias, para chegar antes da Alba ao cume e matar a sede na fundura da planície ainda azul, como quem procura á água de um lago para beber. Ao chegarem lá, sentam-se e ficam-se a olhar e respiram. E o coração bate-lhes alegremente e encontram nisso um grande remédio para os desgostos10 Uma boa parte dos esportes de convívio com a natureza ainda preserva esta primeira inocência. Ainda se vai por ir e ainda se convive com a aventura ou com a maravilha pela alegria de se “ir lá”, de se “viver aquilo” e, sobretudo, de se haver feito “tudo isto” em equipe. Mas com pesar vejo que alguns antigos momentos de convívio silencioso e quase ritual com a natureza aos poucos se vão transformando em comparações mensuráveis típicas de alguns esportes radicais, onde a experiência do teste pessoal de limites frente ao perigo, ou alguma extrema habilidade do corpo deságua na vertigem de competições em que a poesia dos gestos vende-se a uma sucessão de demonstrações de força ou de proeza, medidos em frações de segundos e, uma vez mais, entregues a uma numerologia de resultados. O momento da verdade de um esporte não é o seu resultado, sobretudo quando ele glorifica um único vencedor, exalta os que acenam do alto do podium e esquece todos os outros: perdedores. Ele não é, menos ainda, o valor de listagem classificatória das desigualdades mensuráveis dos desempenhos competitivos, ali onde os gestos de beleza do corpo viram números contra distâncias, contra relógios e contra todos os outros... perdedores. A suprema beleza do esporte está no bailado dos gestos, em que corpos valem como estrelas e movimentos de mãos e de pés dançam com o universo inteiro. Está na orquestração de uma equipe onde vale mais o que criam com sabedoria e destreza os “de um lado”, e não a maneira como sobrepujam e 10 Está na página 76 de Cidadela, de Antoine de Saint-Exupéry, na 4ª edição da edição portuguesa traduzida por Ruy Belo e publicada em Lisboa pela Editorial Áster, em 1978. 21 derrotam os “do outro”. Aliás, o que seria da vitória dos que “vencem”, se não fosse a cooperação adversária dos que “perdem”? Somos levados a acreditar que devemos viver 0s nossos diferentes contextos de interações sentindo emoções diferentes e até mesmo opostas. Assim, devemos vivenciar os rituais de celebrações com um sentimento de unidade. Com as emoções regidas pelo amor e pelo desejo amoroso da partilha e da cooperação. Assim deveria ser quando celebramos juntos o nascimento de uma criança, uma data de grata memória na história de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade. Quando nos reunimos e somos felizes entre o vinho e a música como que entre preces comemoramos a volta ao lar de um alguém querido, ou benção divina de uma colheita farta e bem sucedida. Mas devemos experimentar os jogos e os esportes com sentimentos de uma aceitável hostilidade. Pois mesmo entre amigos aquele que está diante de mim é o meu “inimigo,”, o meu “oponente”, o meu “competidor”, o meu “rival”, o meu “adversário”. Devo viver frente/contra ele as emoções geradas pelo desejo da desigualdade (alguém precisa perder para que “tenha graça”), do interesse agressivo (mesmo quando ele é bem “administrado” e é socialmente bem aceito como “a regra do jogo”), de competição (porque o jogo é sempre um enfrentamento) e até mesmo de um programado e incentivado desamor. Pois se o ritual é um congraçamento, o jogo é um enfretamento. O sentimento e a lembrança de que a derrota do outro é a minha alegria têm sido uma constante em nosso mundo. Em prosa e em verso eles têm sido passados de geração a geração em muitos e muitos povos, como um fundamento poderoso da idéia de que a rivalidade, a competição e o desejo de vitória são originais no ser humano e são essenciais em sua vida. Não são. Pelo menos não são sempre e em todo o lugar. Podemos pensar muitas coisas imaginando jogos, ou imaginando outras coisas como jogos. Jogando com as palavras, com as idéias. Vejamos. Pensamos em jogos competitivos e em jogos cooperativos. Eles são diferentes. Em alguma medida eles são uns o contrário dos outros. No jogo competitivo você joga para vencer o outro. No jogo cooperativo você joga para vencer com o outro. No jogo competitivo você enfrenta uma pessoa resolvendo problemas para vencêla. No jogo cooperativo você se une à outra pessoa, para os dois juntos vencerem um desafio, resolvendo um problema. Fazendo ou criando algo que poderia ser criado ou feito a sós, ou mesmo contra alguém. Mas que quando vivido com alguém, ao seu lado, a seu favor, fica bem melhor. 22 Assim, por exemplo, em seu livro jogos cooperativos – o jogo e o esporte como um exercício de convivência, Fábio Brotto trás um quadro de Zimarian Walker, em educando par a paz, para estabelecer a seguinte escala de diferenças 11. Os jogos competitivos são divertidos apenas para alguns e alguns jogadores saem com o sentimento da derrota. Algumas pessoas são excluídas por falta de habilidade. Aprendem-se sentimentos de desconfiança, de egoísmo, de melindre diante dos outros. Os jogos são em geral fundados em divisões como: meninos e meninas, pequenos e grandes, o que cria barreiras entre as pessoas e justifica exclusões. Em vários casos os perdedores ficam de fora e se transformam em meros observadores dos vencedores. Há uma solidariedade dentro do time vivida em função da hostilidade frente ao outro tipo: o que é ruim para eles é bom para nós. Os jogadores são desunidos. Os jogadores tendem a perder a confiança neles, sobretudo quando rejeitados ou quando perdem. Pouca tolerância face à derrota desenvolve em alguns jogadores o sentimento de desistência face à dificuldades. Muitos se vêem mal-sucedidos e apenas poucos se tornam bem-sucedidos. Nos jogos cooperativos há uma distribuição do sentido de diversão entre todos, pois todos partilham do sentimento da vitória. Todos podem participar e todos se envolvem, independentemente de graus de habilidade e destreza. Aprende-se a confiar e a compartilhar. Pode haver uma ampla mistura de grupos que brincam e jogam juntos, criando-se um clima de aceitação mútua e recíproca. Há períodos maiores de envolvimento de todos nos jogos, com um maior tempo para cada participante desenvolver as suas capacidades. Há um aprendizado de solidariedade com os sentimentos dos outros, e mutuamente todos desejam o sucesso de outros, ao lado de seu próprio sucesso. Desenvolve-se a autoconfiança, pois todos são aceitos. Há um aumento da capacidade de perseverar, face às dificuldades a serem coletivamente enfrentadas. Todos encontram caminhos para crescerem e se desenvolverem. De olho nestas diferenças, podemos pensar os jogos e os seus tipos de uma maneira um pouco mais diferenciada. Mas não tanto, vocês logo verão. Por exemplo. Não é nada difícil aproximar tipos de jogos de outras experiências que as pessoas, os povos e as nações do mundo vivem, quando se relacionam de algum modo. Vejam bem, existem jogos cuja fonte de inspiração é a guerra (jogos de vencer, de combater, de vencer ou mesmo de matar o outro). Existem outros jogos em que ela é o comércio (jogos de negociar, de transacionar, ce “comprar e vender” de trocar). Há outros jogos em que a matriz inspiradora é a ciência (jogo de pensar, de enfrentar o outro pela inteligência). Outros em que ela é a arte (jogos de criar, de construir juntos, de inventar algo de beleza). Há jogos que valem como ritos (jogos de celebrar, de 11 Está na página 56 do livro de Fábio Brotto e na página 183 do livro de Zimarian Walker. 23 comemorar, de representar). E existem ainda (e ainda bem!) jogos cuja fonte é a paz (jogos de confraternizar, de unir para criar algo em favor de alguém). Os dois primeiros tipos são de jogos motivados pelo poder de domínio, pelo interesse utilitário e pela vitória alcançada à custa da derrota do outro. São bem os estilos dos jogos competitivos. Podem ser mesmo emocionantes, eletrizantes até, e em geral são. Os dois do meio são jogos motivados pelo desejo do conhecimento e interação entre as pessoas e os seus símbolos através de alguma forma de saber e de partilha do saber. De um lado estão aqueles em que este desejo regido pela curiosidade humana se realiza como gestos de destreza perceptiva e/ou mental e desafiam a soluções do pensamento, do raciocínio. São os jogos-ciência . E segundo alguns grandes cientistas, todo o fazer da ciência não passa de um grande jogo entre a mente e o mundo, entre o mundo e o mundo, através da mente humana, ou entre a mente humana e ela mesma. De outro lado estão os jogos em que o desejo está centrado em criar algo regido pela harmonia, pela beleza, pelo encantamento dos sentidos e dos sentimentos. Os jogos-ciência e os jogos-arte se dividem entre cooperativos e competitivos, pendendo os jogos-ciência um pouco mais para a competição e os jogos-arte um pouco mais para a cooperação. Os dois últimos tipos são bem o estilo de jogos cooperativos. Eles são motivados pelo diálogo, pelo desejo da reciprocidade e pela realização de processos - aquilo que estamos fazendo acontecer - e pelo produto - aquilo que logramos fazer acontecer - em situações interativas em que cada um precisa dos outros para os dois ou todos conseguirem alguma coisa. Alguma coisa boa para eles mesmos... ou para outras pessoas. No jogo-rito há uma busca de celebração, de criação de uma experiência próxima à festa, ao criar juntos um momento de memória ou de reconhecimento coletivo por algo. Vamos em frente. Podemos buscar as fontes de inspiração de jogos em alguma emoção originária, ou em um entrelaçamento de algumas emoções convergentes. Assim, O jogo-guerra tem como sua emoção dominante a agressão ao outro. O jogo-comércio tem como o seu motivo dominante o interesse de ganhos e a ambição da posse, em detrimento de outros, pois tal como acontece no famoso Banco Imobiliário, é preciso que alguns se arrazem para que outros fiquem ricos. O jogo-ciência tem o seu fundamento afeito no desejo do saber e no enfrentamento entre inteligências. No jogo-arte o que vale é o desejo recíproco da criação. O jogo-rito é vivido pelo prazer de alguma forma de comunhão que se celebra e comemora. E qual seria a raiz do jogopaz? Penso que seja a partilha do amor. Alguns exemplos poderiam tornar estas reflexões um pouco mais vivas. Vejamos os jogos de enfrentamento direto entre duas pessoas, lutando corpo a corpo diante de outras. O seu 24 extremo mais competitivo e mais desumano seria o da luta antiga entre gladiadores. Nele os dois lutam e só um deve ganhar. E a vitória de um contendor sobre o outro deveria ser tão absoluta, que o ponto alto de um combate era a morte do perdedor. Quem perde sai morto ou desonrado. Quando este mesmo combate corpo-a-corpo é como no Box, a morte ou até um grande sofrimento de quem perde é lamentada. Apenas as pessoas com um alto entendimento do assunto esperam ver do embate entre dois homens aprisionados em uma gaiola de agressão, como algo de beleza e de técnicas do corpo. A imensa maioria de quem assiste vibra com a simples visão da pura violência. Ela grita e esbraveja, protesta quando os dois contendores não são suficientemente agressivos. O jogo pode terminar empatado, mas isto é sempre frustrante. Um dos dois pode vencer “por pontos”. Mas a expectativa é que um deles vença o outro por “nocaute”. A visão de um vitorioso de pé diante de um perdedor caído ao solo, às vezes sangrando e sem sentidos é a glória aos olhos de muitos que vieram assistir. Estamos ainda no puro jogo-guerra, onde a vitória de um dos lados supõe a derrota absoluta do outro e, de alguma forma, a sua destruição. Quando chegamos a embates corpo-a-corpo entre duas pessoas, como o judô e outras lutas de tradição oriental, nos encontramos a meio caminho entre o jogo-guerra e o jogo-arte. Ainda deve haver um vencido e um vencedor, e em algumas destas lutas o resultado nunca pode ser um empate. Mas os dois jogam mais a destreza dos gestos de equilíbrio do corpo do que o seu domínio pelos atos de agressão. Não se vence o outro pela força a serviço da agressão, mas pelo domínio de si-mesmo diante de um outro. E a harmonia do bailado dos corpos durante o embate vale mais do que o resultado final. Um oponente “perde” quando apenas é imobilizado pelo outro. Quando é colocado fora de um círculo, como no sumo. Mas em minha opinião de amador, a mais bela de todas as lutas do tipo dois-a-dois e corpo-a-corpo, é a capoeira. Nela não se luta tanto quanto se dança, e a beleza dos gestos do gingado do corpo ao som de vozes e instrumentos, vale bem mais do que o resultado final. E nem parece que haja mesmo um resultado final. Pelo menos nas situações em que a capoeira vale como um ritual de beleza e destreza de parte a parte, não há, entre dois guerreiros-bailarinos, um vencido e um vencedor entre dois atores do corpo que bailam enquanto simulam uma luta e lutam enquanto representam um bailado. Assim, em lugar de um combate verdadeiro, o que se dá a ver é dinâmica e amorosa simulação de luta com desejos de ser arte e com a vocação de transformar o jogo em rito. Estamos agora diante de um pleno jogo-rito. Muitas brincadeiras infantis e de adolescentes do passado eram simulações dramatizadas do jogo-guerra. O “mocinho-e-bandido” que imitava os filmes de “bang-bang” do cinema norte-americano é uma boa imagem. É lastimável ver a quantidade de brinquedos infantis 25 que armam crianças e adolescentes para a simulação de combates tão perversos e violentos quanto os que eles assistem nos filmes de televisão. E os jogos eletrônicos esmeram-se em criar situações de guerra tão reais que as pessoas se sentem transportadas para um cenário quase real onde todos os desmandos da violência, da agressão e do desamor são permitidos. Mesmo quando o “meu lado” seja levado a pensar que luta por uma “causa justa” e, em seu nome, deva vencer e destruir um “inimigo”. Isto é, um outro. Quando o jogo trás para uma situação de embate entre dois, quatro ou mais contendores, o espírito do comércio, do negócio, ele cria situações onde a vitória de um dos lados não importa a destruição física, real ou simbólica, do outro lado. Quem vence conquista mais posses do que quem perde. Acumula mais bens, torna-se mais rico. O jogo-comércio é menos agressivo do que o jogo-guerra, mas não deixa de ser bastante competitivo. Como não há o bastante para ser fraternalmente repartido entre todos, todo o jogo é uma armadilha de parte a parte com vistas a quem um se aposse do que o outro deve perder. Nem deve nos espantar que muitos destes jogos criem representações bastante fiéis da vida do mundo dos negócios na realidade, como o “banco imobiliário”. Quando penso a oposição entre jogos competitivos e jogos cooperativos, gosto de alargar esta oposição que às vezes torna difícil trabalharmos com as nuances e as diferenças passo-a-passo entre um tipo de jogo e o outro, até o ponto em que a pergunta não é mais: este jogo é competitivo ou cooperativo. Mas ela passa a ser: quais os fundamentos humanos de emoção e sentido que estão presentes em cada tipo de jogo? Todas as pessoas que defendem novos olhares e novas compreensões na criação humana do saber, de Fritjof Capra a Edgar Morin, de Boaventura de Souza Campos a Ubiratan D’Ambrósio, defendem também a coragem de sermos capazes de ousar novas integrações entre campos das ciências. Isto a quem temos dado o nome de transdisciplinaridade e que representaria passos e saltos frente à multidisciplinaridade e mesmo à interdisciplinaridade. Mas todos eles defendem mais do que isto. Defendem a reinvenção de interações entre as ciências e as artes, entre elas e as tradições filosóficas não apenas do Ocidente, mas orientais e mesmo de povos em que o nome “primitivo” somente se aplica no sentido de povos testemunho, povos ancestrais, povos-raiz. Defendem, finalmente, a passagem de um padrão de ciência fundado em leis, em teorias pretensamente definitivas e em campos especializados de saber competente, em conexões de descobertas e de compreensões a respeito da pessoas humana, da sua cultura, da vida e do universo, abertas ao diálogo e conscientes de suas limitações, quando isoladas e de sua 26 fragilidade. Passamos do domínio das certezas competentes e competitivas para o das incertezas dialógicas. Penso que o mesmo espírito que anima os paradigmas emergentes na mundo das ciências, deveria amorosamente invadir também o da educação e o de todas as outra práticas interativas e sociais humanas12. O jogo entre elas Como um produto direto dos interesses do mundo do mercado, os jogos produzidos e oferecidos às crianças e aos jovens – inclusive os jogos eletrônicos – são em maioria fundados em preceitos de jogos-guerra e de jogos-comércio. Assim, eles antecipam como jogo e esporte a predominância de espíritos regidos pela competência-competitiva, como um ideal de pessoa educada pronta para ocupar postos no mercado de trabalho. Creio que o desafio do educador humanista não está tanto em opor aos jogos competitivos equivalentes jogos cooperativos. Ele estaria, ao lado desta difícil, mas indispensável tarefa, em recriar experiências de interação criativa em que, entre o jogo e o rito as crianças e os adolescentes se aproximassem mais das outras modalidades de jogos. É urgente re-inventar o lugar da arte, da criação artística, da partilha da beleza na educação. Isto tem um apelo especial no campo da educação ambiental, mas tem o mesmo apelo em todos os outros campos. Reencontrar na arte não apenas uma espécie de “hora de recreio” no intervalo dos momentos “sérios” da escola, mas como uma atividade humana de partilha de criação solidária de sentidos, sensibilidades e significados de beleza e de compreensão da vida e da vida humana. A arte não é criada e vivida para “dar prazer” ou para ser “desfrutada”. Ela se recria desde a autora da humanidade e ela é vivida, de muitas maneiras, como talvez a mais densa e criativa forma de nós nos fazermos, sentirmos e pensarmos com seres humanos. Um sentido de partilha da beleza na cooperação e, não, de vitória na competição, poderia re-orientar boa parte dos jogos de crianças e de adolescentes. De igual maneira, a experiência da celebração. A tal ponto banalizamos as com-celebrações dos dias da vida na comunidade humana, entre imitativas e repetitivas “festinhas de aniversário – que aos poucos perdemos o desejo e o sentido das celebrações rituais de exaltação de um “nós” através de um exagero de emoção e de beleza ritual. E isto não é o oposto do jogo, mas a sua outra face. Finalmente, se há um ingrediente de competição talvez presente na “graça” do jogo, podemos re-criar situações de enfretamento em que em um primeiro momento haja uma competição. Mas que ela deságüe em “segundo momento” de um mesmo jogo em que os que competiam antes agora se somem para criar algo solidariamente comum. 12 E isto tem acontecido. Pouco a pouco o mundo da educação se abre aos desafios dos novos modos de pensar e compreender. Recomendo a este respeito dois livros de Maria Cândida Moraes conferir nome e citar os dois livros de maneira correta. 27 Tenho procurado desenvolver com um grupo de amigas e amigos da rede solidária alguns jogos com palavras para serem vividos em situações como a sala-de-aulas. Jogos em que uma situação guerreira e competitiva, como no Batalha Naval, seja re-inventada como uma situação criativa e cooperativa, como no Você Planta e Eu Colho. Uma primeira experiência é a de três jogos com palavras escritos para um livro Paulo Freire e dirigido a crianças. em uma versão dele, já publicada, aparece um deles. Na outra, a ser editada ainda pela Editora da UNESP, deverão aparecer os outros dois 13. Coloco como um complemento a este breve estudo sobre a solidariedade através dos jogos, o Jogo das Palavras Semente. Que ele seja um bom exemplo do que podemos criar juntos. Pois este foi o modo como este jogo foi criado e segue sendo re-criado14. Mas eu quero me despedir destes escritos sobre o jogo e o rito na experiência da partilha da vida, com um relato tirado, uma vez mais, do livro de Fábio Brotto. Eu o conhecia narrado por Leonardo Boff, em um dos Encontros Nacionais de Fé e Política. A versão do livro de Fábio é mais completa. Conheço poucas passagens sobre como podemos passar de um pólo a outro e descobrirmos, no auge de um mundo competitivo, as raízes fecundas e os frutos saborosos da cooperação. O fato de que a lição dada no relato tenha sido por quem foi, dá muito o que pensar. E, mais ainda, o que sentir. Lá vai. UM SÓ TIME Há alguns anos atrás, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, nove participantes, todos com comprometimentos mental ou físico, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Todos, com exceção de um garoto, que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chora. Os outros oito ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então eles se viraram e voltaram. Todos eles. Uma das meninas com Síndrome de Down, ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e disse: “pronto, agora vai sarar”. E todos os nove competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que estavam ali, naquele dia, continuam repetindo essa história até hoje. Por quê? Porque, lá no fundo, nós sabemos que o que importa nessa vida é mais do que ganhar sozinho. O que importa nesta vida é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique diminuir o passo e mudar de curso15. 13 O livro foi publicado pelo ITERRA junto com o MST. Foi “encomendado” pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em 2001, como parte de comemorações em lembrança de Paulo Freire. Saiu como o Cadernos Fazendo História n° X, em XXXX, com o nome de a história do menino que lia o mundo. 14 Após haver sido criado por mim para o livro sobre Paulo Freire, o jogo foi retomado por Irene Cotrim, do Projeto Cooperação. Ela e algumas companheiras re-elaboraram criativamente o jogo, cuja versão atual é bastante mais inteligente e integrativa do que a minha versão original. 15 Está na página 80 do livro de Fábio Brotto. Foi inspirado no relato de Flo Johansen, um jornalista esportivo do Wolf News. Foi originalmente publicado no Informativo da Associação de Pais e Filhos com Síndrome de Down – Up & Down, jan/fev/mar 1999. Sem indicação da página.
Download