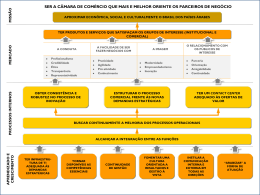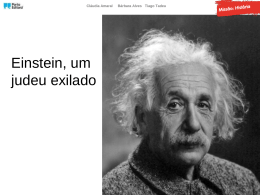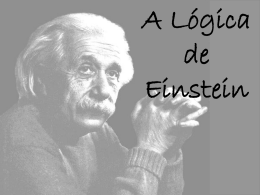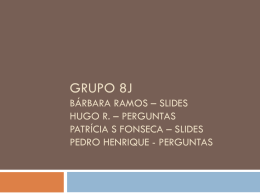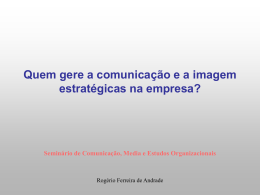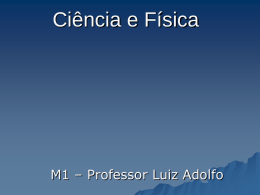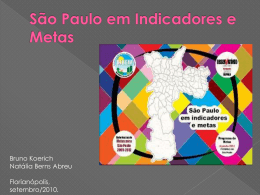PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS é uma publicação do Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia __________________________________________________________ ISSN 1413-9375 EDITOR: Carlos Henrique Cardim EDITORIA: Eiiti Sato Tatiana Carvalho Pires EXPEDIENTE: Administração e distribuição: Raimundo Aroldo Silva Queiroz __________________________________________________________ Endereço para correspondência: PARCERIAS ESTRATÉGICAS Centro de Estudos Estratégicos - CEE SPO Área 5, Quadra 3, Bloco A 70610-200 Brasília, DF Tel: (061) 411-5148 Fax: (061) 411-5198 E-mail: [email protected] URL: http://www.mct.gov.br/cee MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CEE) CE E Parcerias Estratégicas, no 1 (maio 1996) Brasília : [Ministério da Ciência e Tecnologia. Centro de Estudos Estratégicos] ,maio. 2000. Periodicidade irregular. 1. Brasil - Política e governo. 2. Brasil - Planejamento estratégico. 3. Política internacional. I. Ministério da Ciência e Tecnologia. Centro de Estudos Estratégicos. CDU 327 (05) 323 (81) (05) Sumário Política e Organização da Inovação Tecnológica A universidade, a empresa e a pesquisa que o país precisa. Carlos Henrique Brito Cruz ............................................................................................................ 5 Incubadoras de empresas e inovação tecnológica: o caso de Brasília. Luiz Afonso Bermudez ............................................................................................... 31 A inovação tecnológica e a indústria nacional. Dante Alário Jr. & Nelson B. de Oliveira .......................................................................................................... 45 As empresas de pesquisa sob contrato: um exemplo de integração pesquisa - indústria. Paulo César Siqueira ................................................................. 55 Instituições públicas de pesquisa e o setor empresarial: o papel da inovação e da propriedade intelectual. Simone Scholze & Cláudia Chamas ........ 85 As plataformas tecnológicas e a promoção de parcerias para a inovação. Marileusa Chiarello ............................................................................................ 93 Tecnologia industrial básica como fator de competitividade. Reinaldo Dias Ferraz de Souza ................................................................................................ 103 Gestão empresarial inovadora como questão estratégica. Carlos Artur Krüger Passos ................................................................................................... 127 Ciência, Tecnologia & Sociedade Inovação na era do conhecimento. Cristina Lemos ................................... 157 Internacional Perspectivas da América Latina em ciência e tecnologia. Fábio S. Erber 181 As novas políticas de competitividade na OCDE: lições para o Brasil e a ação do BNDES. Ana Cláudia Além .............................................................. 201 Sistemas de Inovação: políticas e perspectivas. José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres ......................................................................... 237 Documentos Por que e como os governos apoiam atividades de pesquisa e desenvolvimento. Department of Finance and Revenue (Canadá)Department of Finance and Revenue (Canadá) ............................................................................................ 257 A lei sobre inovação e pesquisa para promover a criação de empresas inovadoras de tecnologia. Ministère de lÉducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie (França) ................................................................................ 295 Reflexão O estabelecimento de prioridades num novo contexto sócio-econômico, a visão de um industrialista. J.R. Rostrup-Nielsen ........................................ 301 Levantamento: a inovação na indústria. Nicholas Valéry ........................ 307 Memória Einstein no Rio de Janeiro: impressões de viagem. Alfredo Tiomno Tolmasquim ...................................................................................................... 313 Política e Organização da Inovação Tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 5 A Universidade, a Empresa e a Pesquisa que o país precisa1 CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ A ciência está destinada a desempenhar um papel cada vez mais preponderante na produção industrial. E as nações que deixarem de entender essa lição hão inevitavelmente de ser relegadas à posição de nações escravas: cortadoras de lenha e carregadoras de água para os povos mais esclarecidos (Lord Rutherford, citado no documento Ciência e Pesquisa Contribuição de Homens do Laboratório e da Cátedra à Magna Assembléia Constituinte de Sâo Paulo, que propôs a criação da Fapesp em 1947)2 O conhecimento, que sempre foi um dos principais insumos para a geração de riqueza e bem estar social, passou a ser reconhecido como tal a partir da revolução da informação trazida pela Internet. Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, tem destacado que os avanços tecnológicos dos últimos anos, que permitiram às indústrias norte-americanas operar com maior produtividade, contribuindo para a maior prosperidade já experimentada pelo mundo3 . David Landes, o autor de A Riqueza e a Pobreza das Nações, destaca o valor do conhecimento mais contundentemente em entrevista à Veja 4 , referindo-se à necessidade de um país ter criadores de conhecimento para se desenvolver: Se você não tiver cérebros, está acabado. A capacidade de uma nação de gerar conhecimento e converter conhecimento em riqueza e desenvolvimento social depende da ação de alguns agentes institucionais geradores e aplicadores de conhecimento. Os principais agentes que compõem um sistema nacional de geração e apropriação de conhecimento são empresas, universidades e o governo. Qual o papel que se deve esperar de cada um, e qual é o papel Este artigo é uma versão atualizada e ampliada do artigo com mesmo título publicado na Revista Humanidades, 45 pp.15-29 (UnB, 1999). 1 S. Motoyama, A.I. Hamburguer e M. Nagamini, Para uma História da Fapesp Marcos Documentais, p. 26(Fapesp, Sâo Paulo, 1999). 2 Notícia publicada em O Estado de Sâo Paulo em 9/9/99. O texto completo do discursos etá em http://www.bog.frb.fed.us/boarddocs/speeches/1999/19990908.htm. 3 D. Landes, A Ética da Riqueza, Entrevista nas Páginas Amarelas, Veja, 22 de Março de 2000. 4 6 Carlos H. de Brito Cruz desempenhado por eles no Brasil, são as perguntas para as quais tento, neste artigo, contribuir respostas, mesmo que parciais. No Brasil o debate em torno da importância das atividades de pesquisa científica e tecnológica tem, historicamente, ficado restrito ao ambiente acadêmico. Este fato, por si só, já é um indicador da principal distorção que os dados abaixo evidenciam, qual seja: em nosso país a quase totalidade da atividade de pesquisa e desenvolvimento ocorre em ambiente acadêmico ou instituições governamentais. Ao focalizar-se a atenção quase que exclusivamente no componente acadêmico do sistema, deixa-se de lado aquele que é o componente capaz de transformar ciência em riqueza, que é o setor empresarial. Recentemente iniciativas como as da ANPEI (Associação Nacional para Pesquisa em Empresas), da ANPROTEC e da CNI, através do Instituto Euvaldo Lodi, tem alargado o horizonte da discussão incorporando progressivamente agentes ligados ao setor empresarial. Neste artigo analisamos alguns componentes do Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia, buscando determinar: · a quantidade de pessoas efetivamente envolvidas em atividades de P&D e a natureza das instituições onde estas pessoas desenvolvem suas atividades de P&D, classificadas como universidades, institutos de pesquisa e empresas e as conseqüências da distribuição de pessoal existente; co perfil de investimentos nacionais em P&D, de acordo com a natureza da instituição que cobre o dispêndio; · que papel deve-se esperar da universidade e da empresa na realização do desenvolvimento tecnológico. Para auxiliar a avaliação dos dados apresentados, apresentamos sempre que possível comparações com dados internacionais, através das quais podemos avaliar e aferir a situação relativa do Brasil em termos de competitividade e inserção internacional. QUANTOS CIENTISTAS E ENGENHEIROS HÁ NO BRASIL Internacionalmente a categoria cientistas e engenheiros é usada para descrever as pessoas que desenvolvem atividade de Pesquisa e Desenvolvimento. Para obter uma estimativa do número de cientistas e engenheiros atuantes em P&D no Brasil determinamos o número de pessoas envolvidas em cada instituição brasileira que realiza atividade de pesquisa científica ou desenvolvimento tecnológico. Estas instituições são universidades ou PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 7 escolas de ensino superior, empresas ou então laboratórios ou institutos de pesquisa governamentais, discriminadas na Tabela 1. Esta maneira de fazer o levantamento de pessoal parte das informações institucionais, e por isso acreditamos que possa ter um bom grau de confiabilidade. Para a contagem nas instituições de ensino superior consideramos os docentes em regime de Dedicação Exclusiva, ou em Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, conforme reportado por S. Brisolla5 em estudo realizado para o MCT em 1994. Este regime de trabalho pressupõe a realização de projetos de pesquisa, e orientação de estudantes de pósgraduação. Para os Institutos de Pesquisa Governamentais a fonte dos dados é um levantamento realizado pelo IBICT6 para os institutos federais e estaduais, exceto para o Estado de São Paulo para o qual a fonte foi um estudo recentemente feito pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Para o caso das empresas os dados são os disponíveis no Relatório sobre a Base de Dados da ANPEI para o ano de 19957. Tabela 1. Instituições com atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Ensino Superior (893 instituições) 19 Universidades Estaduais 37 Universidades Federais 04 Universidades Municipais 46 Universidades Privadas 03 Federações Municipais 81 Fac. Integradas Privadas 20 Estab. Isolados Fedarais 63 Estab. Isolados Estaduais 81 Estab. Isolados Munic. 539 Institutos de Governamentais Pesquisa Federais Estaduais 24 Institutos 31 Institutos Centros P&D Estatais 48 Centros de P&D em Empresas Privadas 651 empresas estudadas pela ANPEI (49,73% do PIB industrial) Estab. Isolados Privados OS CIENTISTAS E ENGENHEIROS QUE FAZEM P&D NO BRASIL A Tabela 2 descreve a distribuição institucional dos C&E profissionais (excluem-se estudantes de pós-graduação) observada no Brasil, e ao mesmo tempo demonstra, para fins de referência, a mesma distribuição nos Estados Unidos. Além dos 77.861 C&E contados na Tabela 2, há no 5 S.N. Brisolla et al., Indicadores Quantitativos de C&T no Brasil in Estudo Atual e Papel Futuro da Ciência e Tecnologia no Brasil (coord. S. Schwartzmann), MCT (1994). Disponível no Web em: http://www.mct.gov.br/mcthome/estudos/Html/EAPF.htm. 6 Sistema de C&T no Brasil, IBICT, MCT (1993). 7 Resultados da Base de Dados da ANPEI, 1995 estão em http://eu.ansp.br/~anpei/Link3.htm 8 Carlos H. de Brito Cruz Brasil 62.613 são estudantes de pós-graduação, os quais efetivamente não se dedicam em tempo integral à atividade de P&D por estarem ainda em formação. O número total de profissionais ativos em P&D no Brasil pode ser considerado muito pequeno quando comparado com os valores de outros países, constituindo apenas 0,11% do total da Força de Trabalho (FT) brasileira. Tabela 2. Distribuição institucional dos C&E profissionais no Brasil e nos Estados Unidos8 . Brasil Docentes em universidades 56.760 73% 128.000 13% 12.336 16% 70.200 7% 8.765 11% 764.500 79% 77.861 100% 962.700 100% Universidades Federais 32.652 Universidades Estaduais 17.062 Universidades Privadas Centros e Inst. de Pesquisa (sem lucro) Centros de Pq. Empresas Privadas Total USA 7.046 A Figura 1 ilustra esta comparação internacional, onde vemos que nos EUA e Japão quase 0,8% da FT atua em P&D. Na Coréia do Sul, um dos nossos competidores por mercados de produtos de alta tecnologia, 0,4%, quase o quádruplo do que no Brasil. Figura 1. Porcentagem da Força de Trabalho ativa em P&D, Para países selecionados9 ,10 . EUA Japão MÉDIA França Alemanha Coréia do Sul Itália Espanha Brasil 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% Porcentagem da Força de Trabalho ativa em P&D National Patterns of R&D Resources: 1996, NSF 96-333, Special Report (Table C-18) 8 Human Resources for Science and Technology: The European Region, NSF 96-316, Special Report (Arlington, Va, 1996). 9 Human Resources for Science and Technology: The Asian Region, NSF 96-303, Special Report (Washington, DC, 1993). 10 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 9 Na média dos países citados na Figura 1, o número de Cientistas e Engenheiros (C&E) é 0,54% da FT, praticamente o quíntuplo do que se observa no Brasil. A baixa quantidade de C&E no Brasil, destaca a importância de se dar continuidade à ênfase nas políticas de formação de C&E. Além desta deficiência na quantidade de cientistas e engenheiros, é importante analisarmos a distribuição institucional destas pessoas onde trabalham os C&E brasileiros. No Brasil 73% dos C&E trabalham para instituições de ensino superior, como docentes em regime de dedicação exclusiva ou tempo integral, enquanto que apenas 11% trabalham para empresas. Ao contrário do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos a enorme maioria dos C&E trabalha para empresas, atingindo a espantosa cifra de 764.500 C&E industriais. A distribuição como a americana, com a maioria dos C&E trabalhando na empresa é aquela que se verifica em todos os países industrializados, com pequenas variações. A Figura 2 mostra um resumo das distribuições institucionais dos C&E ativos em P&D, para vários países, mais o Brasil, para referência. Figura 2. Distribuição dos C&E ativos em P&D em vários países e no Brasil. O destaque é para o predomínio da presença de C&E nas empresas, para todos menos o Brasil. 100 Indústria Realização de P&D Governo 80 Univ. e outros 60 40 20 0 USA Jap Ger Fra UK It Can Brasil A baixa quantidade de C&E na empresa no Brasil acarreta uma série de dificuldades ao desenvolvimento econômico brasileiro, como por exemplo a baixa competitividade tecnológica da empresa brasileira e a reduzida capacidade do país em transformar ciência em tecnologia e em riqueza. Pode ser argumentado que comparar o Brasil com estes países de industrialização consolidada seria inadequado. Entretanto, mesmo na 10 Carlos H. de Brito Cruz comparação com países de industrialização recente a situação brasileira é extremamente desfavorável, como mostrado na Figura 3 em relação à Coréia do Sul. Enquanto os coreanos tem quase 75.000 C&E gerando inovação na empresa, no Brasil há menos de 9.000. Esta deficiência causa profundos danos à capacidade de competir da empresa brasileira. É preciso destacar que, ao contrário do que imagina o senso comum predominante no Brasil, a inovação tecnológica é criada muito mais na empresa do que na universidade. No Brasil tem havido ultimamente uma tendência de se atribuir à universidade a responsabilidade pela inovação que fará a empresa competitiva. Trata-se de um grave equívoco, o qual, se levado a cabo poderá causar dano profundo ao sistema universitário brasileiro, desviando-o de sua missão específica que é educar profissionais e gerar conhecimentos fundamentais. Como mostrado acima, em todo o mundo o lugar privilegiado da inovação é a empresa, e isto tem razão de ser. Figura 3. Distribuição dos C&E em P&D no Brasil (dados de 1996) e na Coréia do Sul (dados de 1997)11 . Cientistas e Engenheiros . 80.000 74.565 Universidades Institutos 56.760 60.000 Empresas 48.588 40.000 20.000 15.186 12.336 8.765 0 Brasil Coréia PESQUISA NA UNIVERSIDADE E NA EMPRESA Já em 1776 Adam Smith observava que as principais fontes de inovação e aprimoramento tecnológico eram os homens que trabalhavam com as máquinas e que descobriam maneiras engenhosas de melhorá-las, bem como os fabricantes de máquinas, que desenvolviam melhoramentos em seus produtos12 . Desde então o mundo mudou muito, mas vejamos o que nos diz o Vice-Presidente de Pesquisa da DuPont, Joseph Miller, (quantas Home Page do Ministério da Ciência e Tecnologia da Coréia, em http://134.75.163.2/policye4.html Adam Smith, A Riqueza das Nações, (1776). 11 12 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 11 empresas no Brasil tem um Vice-Presidente de Pesquisa?): .. a DuPont investe mais de um bilhão de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento e emprega mais de 3.000 engenheiros e cientistas e 2.000 técnicos de suporte. Dois terços deles trabalham em nossa Estação Experimental em Willmington, Delaware. Este é o local de quase todas as nossas principais descobertas. Este incrível registro de realizações é um tributo à vontade política da companhia de apoiar um empreendimento que é inerentemente imprevisível e inevitavelmente de alto risco13 . O investimento da DuPont em Pesquisa e Desenvolvimento corresponde a 3% do faturamento (faturamento mesmo, e não lucro líquido) da companhia. Edwin Mansfield, da Universidade da Pensilvânia realizou um estudo sobre as fontes de idéias para inovação tecnológica14 . Verificou que menos de 10% dos novos produtos ou processos introduzidos por empresas nos Estados Unidos tiveram contribuição essencial e imediata de pesquisas acadêmicas. Portanto 9 em cada 10 inovações nasce na empresa. Diz ele: .. a maioria dos novos produtos ou processos que não poderiam ter sido desenvolvidos sem o apoio de pesquisa acadêmica não foram inventados em universidades; ao contrário, a pesquisa acadêmica forneceu novas descobertas teóricas ou empíricas e novos tipos de instrumentação que foram usados no desenvolvimento, mas nunca a invenção específica ela mesma. Isto dificilmente vai mudar. O desenvolvimento bem sucedido de produtos ou processos exige um conhecimento íntimo de detalhes de mercado e técnicas de produção, bem como a habilidade para reconhecer e pesar riscos técnicos e comerciais que só vem com a experiência direta na empresa. Universidades não tem esta expertise e é irrealista esperar que possam obtê-la15 . O entendimento de que a pesquisa aplicada e o desenvolvimento necessários à criação de inovação tecnológica e competitividade deve ocorrer na empresa é um conceito ainda incipiente no Brasil. Acontece que, como a quase totalidade da atividade de pesquisa que ocorre no Brasil se dá em ambiente acadêmico, o senso comum tende à conclusão de que seria normal apenas universidades fazerem Pesquisa e Desenvolvimento. Ao mesmo tempo este equívoco tende a desviar as universidades da tarefa que só elas podem fazer, que é educar os profissionais que farão tecnologia na empresa, se esta lhes der uma chance para isto. J. Miller, Upset the natural equilibrium, in Innovation breaktrough thinking at 3M, DuPont, GE, Pfizer and Rubbermaid, ed. Rosabeth Kanter, J. Kao e F. Wiersema (Harper Business, New Yoprk (1997). 14 E. Mansfield, Contributions of new technology to the economy, in Technology, R&D and the Economy, ed. Bruce Smith e Claude Barfield. P. 125 (The Brookings Institutions, Washington, DC (1996). 15 E. Mansfield, Contributions of new technology to the economy, in Technology, R&D and the Economy, ed. Bruce Smith e Claude Barfield, p. 132 (The Brookings Institutions, Washington, DC (1996). 13 12 Carlos H. de Brito Cruz Muita ênfase tem sido posta no Brasil na questão da interação universidade empresa, como um deus ex-machina, que viria a sanar as deficiências tecnológicas da empresa. Além disto, mitificou-se esta interação como sendo uma fonte de recursos para as universidades, em substituição aos recursos do governo, invocando-se a experiência de universidades americanas. Os dados mostrados na Tabela 3 desafiam estes dois conceitos que fazem parte dos mitos e lendas brasileiros sobre C&T. Observa-se nesta tabela que dos 21 bilhões de dólares contratados para pesquisa em todas as universidades americanas em 1994, 1,4 bilhões, ou seja, menos do que 7% foram provenientes de contratos com empresas. O MIT, que é uma das instituições campeãs de interação com empresas, captou 15% de seu orçamento de pesquisa através de contratos deste tipo. Do outro lado, estes 1,4 bilhões contratados por empresas com universidades, são menos de 1,4% dos quase 100 bilhões investidos em P&D nas empresas nos Estados Unidos naquele ano. Este pequeno percentual confirma que a pesquisa de que a empresa precisa é feita na empresa, por seus próprios cientistas e engenheiros. Tabela 3. Valor dos contratos de pesquisa de universidades americanas em 1994, e valor contratado com empresas (Fonte: Science and Engineering Indicators, 1996). Total das universidades americanas Johns Hopkins University University of Michigan University of Wisconsin, Madison Massachussets Institute of Technology (MIT) Texas A&M University University of Washington University of Califirnia, San Diego Stanford University University of Minnesotta Cornell University University of California, Berkeley Harvard University Columbia University California Technology Institute (CalTech) University of New Mexico Investimento total (US$ milhões) 21.081 784 431 393 364 356 344 332 319 318 313 290 279 236 128 90 Investimento pela indústria (US$ milhões) 1.430 10 27 14 56 29 33 10 15 24 17 13 10 2 5 4 % investida pela indústria 6,8% 1,3% 6,2% 3,5% 15,3% 8,0% 9,7% 3,0% 4,6% 7,5% 5,5% 4,3% 3,4% 0,7% 3,9% 4,5% O pequeno percentual de financiamento obtido da indústria pela universidade americana parece estar relacionado com as diferenças institucionais intrínsecas à natureza da universidade e da empresa. Enquanto a missão fundamental da empresa na sociedade é a produção e a geração direta de riqueza, a missão fundamental e singular da universidade é formar pessoal qualificado. Um projeto de pesquisa só será adequado a esta missão quando ele contribuir ao treinamento de PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 13 estudantes, o que restringe o número de projetos que sejam atraentes por parte das universidades. E. Mansfield destaca16 : Como vários líderes de indústria tem enfatizado repetidamente, um dos principais papéis da universidade no processo de mudança tecnológica é o de prover estudantes bem preparados. Um destes líderes de empresa, ex-pró-reitor de pesquisa da Universidade de Stanford e cientista de renome na área de lasers e óptica não linear, ao ser questionado sobre o papel da Universidade de Stanford no sucesso do Silicon Valley afirmou17 : O mito é que a tecnologia de Stanford foi o que criou o sucesso do Silicon Valley. Entretanto um levantamento cobrindo 3.000 pequenas empresas encontrou apenas 20 companhias que usaram tecnologia vinda, direta ou indiretamente, de Stanford. O que Stanford contribuiu para o Silicon Valley foram estudantes talentosos e muito bem educados. Outras diferenças importantes e naturais entre o ambiente acadêmico e a empresa são: · realizar um projeto treinando estudantes muda completamente a escala de tempo de conclusão do projeto. Por outro lado a rapidez de conclusão é uma variável essencial do ponto de vista empresarial; · o sigilo é essencial num projeto empresarial, enquanto que num projeto acadêmico o livre debate dos resultados é, e precisa ser, a norma; · a motivação para a busca do conhecimento na universidade é muito mais desinteressada do que na empresa. Por isso a Pesquisa Fundamental acontece mais freqüentemente no ambiente acadêmico, enquanto que a Pesquisa Aplicada e o Desenvolvimento Tecnológico ocorrem mais freqüentemente na empresa. Ainda assim deve-se notar que a interação universidade-empresa é importante para a universidade na medida em que contribui para a melhor formação dos estudantes, e isto é razão suficiente para buscar sua intensificação. Do outro lado, esta interação pode contribuir para levar a cultura de valorização do conhecimento para a empresa. Mas é essencial evitar a ilusão de que esta interação será a solução para os problemas de financiamento da universidade e de tecnologia da empresa. A verdade é que o principal mecanismo para a interação entre a universidade e a empresa é a contratação dos profissionais formados nas universidades pelas empresas. 16 E. Mansfield, Contributions of new technology to the economy, in Technology, R&D and the Economy, ed. Bruce Smith e Claude Barfield, p. 132 (The Brookings Institutions, Washington, DC (1996) 17 Photonics Spectra, p. 24-25,April 1999 14 Carlos H. de Brito Cruz Mesmo que os dados acima indiquem limitações intrínsecas na intensidade da contratação de projetos de pesquisa empresariais por universidades, é preciso destacar que há várias outras modalidades de interação que podem e precisam ser mais exploradas no Brasil. Tem especial relevância as atividades de consultoria, nas quais o professor (ou a universidade) vende parte de seu tempo à empresa, freqüentemente realizando as atividades na própria empresa. Mesmo que muitas universidades brasileiras tenham provisões legais para este tipo de atividade, ela não tem sido muito intensa, tanto porque a cultura acadêmica muitas vezes impõe obstáculos tanto porque a demanda pela empresa tem sido reduzida. É claro que a atividade de consultoria só pode fazer sentido para a empresa quando esta tiver suas atividades de P&D e necessitar de complementação ou conhecimentos específicos quando não existe P&D na empresa a consultoria tende a ser inefetiva. A CIÊNCIA BRASILEIRA AVANÇA MAS A COMPETITIVIDADE NÃO Um resultado da distorção na distribuição institucional de C&E no Brasil é que ao passo que a ciência feita no Brasil tem ocupado progressivamente mais espaço no panorama mundial, a competitividade da empresa e sua capacidade de gerar riqueza não tem avançado da mesma maneira. O avanço da ciência brasileira já foi bem documentado no livro de Leopoldo de Meis e Jaqueline Lehta18 . Figura 4. Número de publicações em revistas do Science Citation Index, cujo endereço institucional é no Brasil, Coréia, Argentina ou México. Figura 5. Número de patentes registradas anualmente nos Estados Unidos e Artigos publicados (Sci. Cit. Index) 9.000 8.000 7.000 Brasil Coréia 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 18 L. De Meis e J. Lehta, O perfil da ciência brasileira (Editora da UFRJ, 1996). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 15 1600 10,000 B ras il: patentes nos E UA Coréia: patentes nos E UA 7,500 Coréia: inves t. P & D em pres as 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 96 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 85 0,000 84 0 83 2,500 82 400 81 5,000 80 800 19 P atent es nos E U A B ras il: inves t. P & D em pres as 1200 Investim. P . empr esas (U S $ bilhões) dispêndio empresarial em P&D para Brasil e Coréia do Sul19 A Figura 4 ilustra este avanço, usando dados obtidos no Science Citation Index em CD-Rom, da Biblioteca do Instituto de Física da Unicamp, corroborando os dados de De Meis e Lehta. Observa-se claramente o efeito da política brasileira de formação de recursos humanos para C&T, e da colocação destas pessoas principalmente em universidades: o número de publicações cresceu de um patamar histórico em torno de 2.000 por ano na década de 80, para quase 7.000 trabalhos publicados em 1998, valor muito superior ao dos vizinhos latino americanos. Outro ponto a ser notado na Figura 4 é o excepcional crescimento da produção científica da Coréia do Sul, chegando a suplantar o Brasil em 1996. É notável que mesmo que naquele país a maior parte dos C&E trabalhem para empresas, a produção científica em revistas indexadas tenha experimentado crescimento intenso. Na produção de inovação tecnológica a história já é bem outra. Uma maneira internacionalmente reconhecida para se medir a intensidade da inovação, é a contagem do número de patentes registradas em mercados competitivos. A Figura 5 mostra o número de patentes com origem no Brasil e na Coréia do Sul, registradas nos Estados Unidos ano a ano, desde 1980. No início da década de 80, os dois países Fontes: para as patentes, Science and Engineering Indicators, 1996; para os dispêndios brasileiros, S.N. Brisolla et. Al., Indicadores quantitativos de C&T no Brasil in Estado atual e Papel Futuro da C&T no Brasil, org. S. Schwartzmann, (1994) disponível em http:/ /www.mct.gov.br/mcthome/estudos/Html/EAPF.htm ; para os dispêndios coreanos: Human Resources for Science and Technology: The Asian Region, NSF 96-303, Special Report (Washington, DC, 1993). 19 16 Carlos H. de Brito Cruz registravam perto de uma dezena de patentes anualmente nos Estados Unidos. A partir de 1985 o crescimento do número de patentes coreano cresce exponencialmente, de maneira fortemente correlacionada com o investimento empresarial em P&D, também mostrado na mesma figura. Sendo a maior parte do investimento em P&D a parcela correspondente ao pagamento de salários dos C&E, a curva crescente de investimento empresarial em P&D descreve o aumento no número de C&E trabalhando para empresas na Coréia do Sul. É fácil imaginar que mais pesquisadores terão mais idéias e portanto gerarão mais patentes. Por outro lado, as curvas correspondentes ao Brasil demonstram como o reduzido número de C&E empresariais resulta num pequeno número de patentes. Na Figura 5 é notável a correlação entre o número de patentes e o dispêndio em P&D pela empresa em ambos os países. Uma visão mais geral é mostrada na Figura 6 onde se mostra o número de patentes registradas nos EUA em função do investimento anual em P&D realizado pelas empresas para uma coleção de 24 países. A curva de tendência é bem nítida, e observa-se que o caso brasileiro se afasta da tendência para menos, sendo que o Brasil registra quase 3 vezes menos patentes do que seria de se esperar para o investimento reportado pelas empresas. Figura 6. Número de patentes registradas nos EUA em função do investimento em P&D realizado pelas empresas em cada país (Fontes: número de patentes: Patent counts by country, USPTO, Aug. 1997; Investimento empresarial em P&D: referências 8 e 9). 100.000 EUA Japão Alemanha Patentes registradas nos EUA 10.000 França Suíssa Itália Taiwan Holanda 1.000 Austria Finlândia Dinamarca Bélgica Irlanda Grécia 10 Coréia Espanha Noruega 100 UK Suécia China Brasil Singapura Portugal India 1 10 100 1.000 10.000 100.000 Investimento pela indústria (Milhões de dólares PPP de 1987) Patentes são um produto típico do ambiente de P&D empresarial, e não do ambiente acadêmico. Em 1994, das 53.236 patentes registradas nos EUA, 1.604 foram originadas em universidades 3% do total. A Figura 7 mostra o número de patentes que universidades americanas registram anualmente. O pico da curva mostra que 25 universidades PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 17 registraram entre 20 e 30 patentes no ano em questão. Apenas 6 universidades registraram mais de 100 patentes. Mesmo que as universidades busquem ampliar seus registros de propriedade intelectual, ainda assim a natureza da instituição universitária exige a abertura e ampla divulgação dos resultados. Estas 6 universidades americanas que registram 100 ou mais patentes publicam anualmente milhares de artigos científicos divulgando seus resultados. 30 Figura 7. Histograma do número de patentes registradas no ano de 1994 por universidades nos EUA. 1 0 0 ,% 9 0 ,% 25 8 0 ,% N ú m e r o d e U n iv e r s id a F re q u e n c y C u m u l a t i ve % 7 0 ,% 20 6 0 ,% 15 5 0 ,% 4 0 ,% 10 3 0 ,% 2 0 ,% 5 1 0 ,% 0 ,% 0 2 5 10 20 40 100 200 M o re N ú m e r o d e P a te n te s A Figura 8 resume o quadro geral da produção de Ciência e de Tecnologia segundo os dois indicadores usados aqui. O Brasil aparece no mapa da ciência mundial, mas é quase inexistente no mapa da tecnologia mundial resultado direto do pequeno número de C&E ativos em P&D nas empresas. Figura 8. Participação mundial em artigos publicados em revistas do Science Citation Index e patentes registradas nos Estados Unidos. % dos Artigos ou Patentes nos EUA . 8% % dos artigos publicados % patentes reg. nos EUA 6% 4% 2% 0% Brasil UK Alem. França Itália Israel Coréia 18 Carlos H. de Brito Cruz O INVESTIMENTO EM P&D NO BRASIL FINANCIADORES E EXECUTORES O primeiro cuidado neste ponto é o de identificar corretamente o investimento em P&D, o qual é diferente do investimento em C&T, tradicionalmente divulgado no Brasil. Os manuais editados pela OCDE20 tratam de estabelecer as definições das categorias de interesse relacionadas às estatísticas sobre insumos e resultados em Ciência e Tecnologia (C&T) e também em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Para se estabelecer referências internacionais adequadas, é essencial cuidar da compatibilidade das definições das categorias que estão sendo medidas. A categoria C&T é definida de maneira bem mais ampla do que a categoria P&D na verdade a categoria C&T compreende completamente a categoria P&D, mas a excede. Simplificadamente, podemos atribuir à categoria P&D as atividades criativas relativas à C&T: o investimento para criar conhecimento e tecnologia pertence à categoria P&D e também à categoria C&T, enquanto que o investimento para comprar tecnologia pronta pertence à categoria C&T mas não à categoria P&D. Muita confusão tem sido feita no Brasil entre estas duas categorias e freqüentemente tem sido comparados dados relativos à C&T brasileiros com dados relativos a P&D de outros países. Somente recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia passou a divulgar os dados de investimento em P&D brasileiros21 Além do cuidado com as categorias, o levantamento dos indicadores relativos a investimentos nacionais em P&D deve buscar a identificação das fontes e dos executores do investimento. É fácil entender que em geral, governos são fortes investidores, mas fracos executores, a execução dos recursos investidos pelos governos ocorrendo freqüentemente por universidades e empresas. O mapeamento correto destas funções é essencial quando se pretende conhecer em detalhe um sistema nacional de C&T e também quando se realizam comparações internacionais. Como ilustração mostramos na Tabela 4 os dados sobre setor financiador e setor executor para o caso dos Estados Unidos. Um demonstrativo como a Tabela 4 permite aprender vários fatos interessantes sobre o Sistema de C&T norte-americano: cDo valor total empregado para P&D nos Estados Unidos, 36,3% são recursos provenientes do governo federal e 51,9% de empresas. 20 Medición de las Actividades Científicas e Tecnológicas - Manual de Frascatti, OCDE (1993). 21 Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia, 1990-1996, MCT, 1998. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 19 Tabela 4. Fontes financiadoras e Executores de recursos de C&T nos Estados Unidos em 1993 (Fonte: Science and Engineering Indicators, National Science Board, Washington, DC, 1996). o Financiado por Valor financiado Governo Empresas Universidades Outros Governo 60.224 16.556 22.813 17.255 3.600 Empresas Universidades 86.052 5.111 0 0 83.928 0 1.374 5.111 750 0 Outros 2.869 0 0 1.469 1.400 Exterior 11.593 0 11.593 0 0 Total 165.849 16.556 118.334 25.209 5.750 Valores em milhões de dólares de 1995 · Do valor financiado pelo governo, 37,9% se destina à execução em empresas e 28,7% a universidades. O valor financiado pelo governo para execução em empresas refere-se principalmente à compra de desenvolvimento tecnológico pelo governo americano. Este tipo de compra se constitui num importante subsídio ao desenvolvimento tecnológico na empresa nos Estados Unidos. · Do valor financiado pelas empresas, 97,5% é executado pelas próprias empresas e 1,6% por universidades. Estes percentuais são especialmente importantes, pois indicam claramente que a pesquisa de interesse da empresa é realizada na própria empresa e não por contrato com universidades ou centros de pesquisa. · Do valor executado por empresas, 70,9% provém de recursos próprios, 19,3% de recursos financiados pelo governo e 9,8% de recursos captados no exterior. Portanto, mesmo que haja recursos do governo financiando a pesquisa em empresas, a maior parte dos recursos para isto provém da própria empresa. · Dos recursos executados por universidades, 68,4% provém do governo federal e 20,3% das próprias universidades (em vários casos de universidades estaduais, recursos estaduais). Apenas 5,5% (neste ano de 1993) foram provenientes de empresas. Em 1998 pela primeira vez o governo brasileiro publicou um demonstrativo de executores e financiadores de P&D22 . Estes dados, levantados pela equipe de indicadores do CNPq, permitem conhecer a maior parte do demonstrativo de financiadores e executores, análogo àquele demonstrado na Tabela 4 para o caso dos EUA. Os dados relativos ao ano de 1996 para os dispêndios na categoria P&D (e não C&T) são mostrados na Tabela 5. 22 Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia, 1990-1996, MCT, 1998. 20 Carlos H. de Brito Cruz Tabela 5. Fontes Financiadoras e Executores de recursos de P&D no Brasil em 1996 (Fonte: Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia, 1990-1996, MCT, 1998). Financiado por Valor financiado Governo Executado Empresas por Universidades Outros Governo 3.166,75 722,67 481,33 1.962,75 n.d. Empresas Universidades 1.874,30 151,55 1.874,30 151,55 n.d n.d Outros n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Exterior n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Total 5.192,59 722,67 2.355,63 2.114,29 n.d. Valores em US$ milhões de 1995 Na Tabela 5 destacamos: · Valor total financiado pelo governo: 3,166,75 milhões de dólares constantes de 1995. Inclui-se aqui a soma dos recursos federais e estaduais (fap´s, institutos de pesquisa, ..), sempre para a categoria P&D (da mesma fonte se obtém que o valor total financiado para C&T pelo governo foi de 5.753,66 milhões de dólares constantes de 1995). · Do valor financiado pelo governo, 15% foi executado por empresas, 23% foi executado por órgãos do governo e 62% por universidades. Estes 15% correspondem exclusivamente à renúncia fiscal, indicando que o governo brasileiro não é um comprador de desenvolvimento tecnológico como ocorre com o governo dos Estados Unidos (v. Tabela 4). · Valor executado por empresas: foi, em 1996, 2.355,63 milhões de dólares de 1995, sendo 80% financiado com recursos próprios e 20% com financiado pelo governo via renúncia fiscal. (Deve-se destacar aqui que há muita dúvida quanto à validade e precisão deste dado, até porque os sistemas para sua determinação ainda são bastante precários.) · Valor executado por universidades: o valor de 2.114,29 milhões de dólares de 1995, corresponde à soma dos recursos para o pagamento de adicional de tempo integral aos docentes universitários, supondo-se que este adicional implique a atuação do docente em P&D, mais os recursos captados através de contratos de pesquisa estabelecidos com agências governamentais ou entidades privadas. Esta metodologia é a recomendada pela OECD no Manual Frascatti23, e pela primeira vez está sendo adotada pelo MCT na determinação destes indicadores. Nesta linha o levantamento certamente demonstra deficiência, visto que a célula correspondente a valores financiados por empresas para realização em universidades não deveria ser nula já que, mesmo que no Brasil não haja uma intensa contratação de projetos de P&D por empresas em universidades, este valor não é certamente nulo. Em universidades como a Unicamp e a USP o percentual contratado com empresas pode chegar a 4% dos contratos de pesquisa. Se o percentual financiado por empresas para ser executado por universidades fosse igual àquele praticado nos 23 Vide referência 19. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 21 EUA (1,6% do total financiado pelas empresas, v. Tabela 4 e comentários que a seguem) os contratos com universidades chegariam a 30 milhões. · O levantamento não inclui valores eventualmente captados do exterior. 1QUANDO A EMPRESA TEM SEUS CIENTISTAS E ENGENHEIROS E INVESTE EM P&D É importante mencionarmos alguns exemplos que ilustram que quando a empresa tem uma política de valorizar as atividades de P&D, contratando seus próprios C&E, há ganhos a serem obtidos. Há vários destes casos no Brasil basta lembrar a tecnologia da Petrobrás em extração de petróleo em águas profundas, as empresas de base tecnológica em São Carlos e Campinas, nascidas em torno e das universidades ali existentes, várias empresas do setor de alimentos, e muitas outras que incorporam conhecimento diariamente a seus produtos e processos. Três exemplos com informações mais específicas são ilustrativos. Figura 9. Custo por terminal telefônico instalado pelas empresas do Sistema Telebrás antes e após o licenciamento da tecnologia Trópico, desenvolvida pelo CPqD. O primeiro exemplo é o do antigo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Telebrás, hoje Fundação CPqD. Ali se desenvolvem produtos e processos relacionados aos objetivos da companhia, desde Custo por Terminal (US$) 1200 1000 800 600 400 200 D ez /8 A 7 br / A 88 go /8 D 8 ez /8 A 8 br / A 89 go /8 D 9 ez /8 A 9 br / A 90 go /9 D 0 ez /9 A 0 br /9 A 1 go /9 D 1 ez /9 A 1 br / A 92 go /9 D 2 ez /9 A 2 br / A 93 go /9 D 3 ez /9 3 0 fibras ópticas e antenas até software para tarifação e gerenciamento de sistemas telefônicos. Um dos projetos mais bem sucedidos e de impacto facilmente mensurável vem sendo a Central Telefônica Trópico, desenvolvida por engenheiros formados principalmente pela Escola Politécnica da USP, pela Unicamp e pelo ITA. Trata-se de uma central telefônica de processamento armazenado (CPA) muito moderna e capaz de vencer em concorrências competidores internacionais tradicionais 22 Carlos H. de Brito Cruz deste mercado, como Ericsson, NEC, Philips e outros. A Telebrás não é um fabricante de equipamentos, portanto licenciou a fabricação da Trópico a empresas no Brasil (Promon e Alcatel, por exemplo). Este licenciamento começou em Julho de 1990. A Figura 9 mostra o que aconteceu com o custo de cada terminal telefônico instalado pelas empresas do Sistema Telebrás (Telesp, Telerj, ) após o licenciamento. A economia em cada terminal chega a 1.000 dólares. Anualmente são instalados no Brasil mais de 700.000 terminais portanto um projeto do CPqD, feito por engenheiros bem educados em nossas universidades economiza para as operadoras de telecomunicações no Brasil mais de 700 milhões de dólares por ano, mais do que dez vezes mais do que o custo anual de todo o CPqD. O segundo exemplo é o avião a jato EMB145, desenvolvido pela Embraer, em Sâo José dos Campos. Trata-se de um avião a jato para 50 passageiros, destinado ao promissor mercado de vôos regionais24 . Lançado no início de 1997 tornou-se imediatamente um sucesso de vendas dezenas de unidades vendidas para empresas em todo o mundo, mais centenas em opções para compra futura. Engenheiros bem formados pelo ITA, trabalhando numa empresa que valoriza P&D, gerando riqueza para o país e para a empresa. Figura 10. Jato regional EMB145 desenvolvido e fabricado pela Embraer. O terceiro exemplo é o da tecnologia de fabricação de fibras ópticas. Este envolve a participação da universidade, pois o projeto nasceu na Unicamp, através de um convênio estabelecido em 1974 coma Telebrás. Veja, 19 de Março de 1997 e A. Pascual, Dogfight at the Gates, Time Magazine, p. 28, November 17, 1997. 24 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 23 Este projeto foi descrito por Krieger e Galembeck como um dos poucos e talvez o melhor exemplo de programa de P&D bem sucedido, no País25 . Iniciado na universidade, passou para um centro de pesquisa de empresa estatal e depois a tecnologia foi licenciada para empresas privadas que passaram a cuidar dos futuros desenvolvimentos. A peculiaridade importante aqui foi que a transferência de tecnologia se deu com a transferência de pessoas. Hoje, altos dirigentes da ABC Xtal, a primeira empresa a fabricar fibras ópticas no Brasil, são pesquisadores que lideraram o projeto na Unicamp nos anos setenta, como professores universitários. Além destes, técnicos e alunos formados migraram da universidade para a empresa, num processo enriquecedor para ambas as instituições (mesmo que na época houvesse sempre a voz dos arautos do desastre engendrado pelo esvaziamento da universidade). Hoje a ABC Xtal e outras empresas continuam fabricando fibras ópticas e desenvolvendo seus produtos e processos, e para isto, empregando egressos de nossas universidades. Figura 11. Uma das características técnicas das fibras ópticas fabricadas pela ABCXtal, mostrando como o esforço contínuo de desenvolvimento da tecnologia levou a empresa a um patamar competitivo. A Figura 11 mostra como uma característica técnica importantíssima, a atenuação da fibra, evoluiu desde 1987, quando a ABC começou a produzir fibras até hoje. Pode-se ver que a produção da ATENUAÇÃO dB /km 1,3 Média da Produção XTAL 1,1 0,9 Máx. e Min. do Mercado 0,7 0,5 0,3 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 ANO ABC chegou a um patamar bastante competitivo como resultado de um esforço continuado de P&D. Da mesma maneira, a Figura 12 mostra 25 E. Krieger e F. Galembeck, Sintese setorial: Capacitação para as Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, in Estado Atual e Papel Futuro da Ciência e Tecnologia no Brasil (EAPF), org. S. Schwartzmann (MCT, 1994) disponível em http:// www.mct.gov.br/mcthome/estudos/Html/EAPF.htm 24 Carlos H. de Brito Cruz como o preço de venda da fibra fabricada foi reduzido até chegar a um valor competitivo. Figura 12. Preço da fibra fabricada pela ABCXtal em comparação com o preço internacionalmente praticado, e curva da evolução da produção de fibra pela ABC. OS PROGRAMAS DA FAPESP PARA O INCENTIVO À PESQUISA NA EMPRESA 400 PREÇO US$/m 0,7 XTAL 350 0,6 300 0,5 250 0,4 200 0,3 150 INTERNACIONAL 0,2 100 0,1 50 0 1984 1986 1988 1990 ANO 1992 1994 1996 PRODUÇÃO kKm/ano 450 0,8 0 1998 Desde 1995, em São Paulo, a FAPESP vem se preocupando em criar mecanismos para intensificar a disseminação do conhecimento, tornando- o mais acessível a empresas e, mais recentemente, à administração pública. Dois programas foram criados voltados à área empresarial: o Programa de Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) e o Programa de Inovação Tecnológica na Pequena Empresa (PIPE). PROGRAMA DE PARCERIAS PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA26 O primeiro programa instituído pela FAPESP na direção de facilitar a disseminação do conhecimento gerado em universidades e institutos de pesquisa foi o Programa de Parceria para Inovação Tecnológica. O PITE apoia projetos de pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos com alto conteúdo tecnológico ou novos processos produtivos, propostos conjuntamente por uma empresa de qualquer porte e uma instituição de pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP financia a parte do projeto a cargo da instituição universitária ou de pesquisa, enquanto a empresa parceira deve oferecer uma contrapartida financeira para custear a parte da pesquisa que lhe cabe desenvolver. Três modalidades de parceria são consideradas. MODALIDADE 1: Projeto conjunto, proposto por pesquisador ou grupo de pesquisadores ligados a Universidades/Instituições de Pesquisa Para mais detalhes sobre o programa, consulte a Home Page da FAPESP em http:// www.fapesp.br . 26 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 25 e Desenvolvimento em parceria com empresa ou grupo de empresas, visando a desenvolver inovação cuja fase exploratória esteja praticamente completada. Enquadram-se nesta modalidade os projetos cuja fase exploratória já foi completada pelo pesquisador ou pelo grupo de pesquisadores com recursos próprios ou de agências de fomento. Os investimentos adicionais no desenvolvimento da inovação devem ser justificados por meio de uma análise preliminar de custo-benefício, que será considerada como um elemento de priorização. A FAPESP financiará até 20% do custo do Projeto, devendo a(s) empresa(s) envolvida(s) aportar(em) o restante dos recursos. MODALIDADE 2: Projeto conjunto, proposto por pesquisador ou grupo de pesquisadores ligados a Universidades/Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria com empresa ou grupo de empresas, visando a desenvolver inovação associada a baixos riscos tecnológicos e de comercialização. Enquadram-se nesta modalidade tipicamente os projetos de inovação incremental, forçada pelo mercado, envolvendo normalmente as etapas de exploração e de certificação. Como elemento de priorização, será considerada a demonstração dos benefícios sócioeconômicos que o êxito do Projeto terá sobre o setor de produção ou de serviços em que está inserido. A FAPESP financiará até 50% do custo do Projeto, devendo a(s) empresa(s) envolvida(s) aportar(em) o restante dos recursos. MODALIDADE 3: Projeto conjunto, proposto por pesquisador ou grupo de pesquisadores ligados a Universidades/Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria com empresa ou grupo de empresas, visando a desenvolver inovação associada a altos riscos tecnológicos e baixos riscos de comercialização, mas com alto poder fertilizante ou germinativo. Enquadram-se nesta modalidade os Projetos tipicamente de caráter revolucionário, cuja inovação resultante poderá causar um impacto significativo em todo um setor de atividades. Podem ser enquadrados nesta modalidade também Projetos de inovação incremental quando a empresa envolvida for de médio ou pequeno porte e quando da inovação resultar uma significativa contribuição sócioeconômica para o País. A FAPESP financiará até 70% do custo do Projeto, devendo a(s) empresa(s) envolvida(s) aportar(em) o restante dos recursos. Desde a sua implantação, já foram aprovados 48 projetos. É importante destacar que para este programa a FAPESP desenvolveu toda uma nova série de critérios de análise, voltada à natureza específica destes projetos, nos quais a relevância tecnológica, a aplicabilidade e o interesse da empresa parceira são itens novos de qualificação, que não existiam na análise dos projetos de natureza acadêmica. 26 Carlos H. de Brito Cruz Nos 48 projetos contratados, a FAPESP está investindo quase dez milhões de reais, valor semelhante ao comprometido pelas empresas parceiras, implicando numa contrapartida empresarial média em torno de 50%. Este percentual varia de projeto a projeto, em função da análise feita pela FAPESP sobre o risco intrínseco da pesquisa a ser desenvolvida. A contrapartida empresarial varia de 84% do total até 25% do total. O valor médio de cada projeto é de 400 mil reais e os projetos envolvem 12 instituições acadêmicas ou institutos de pesquisa, as principais sendo: USP (21 projetos), Unicamp (9 projetos), e Unesp (6 projetos). Num dos projetos já concluídos, uma equipe do IPT desenvolveu para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) um processo de produção e caracterização de aços elétricos (aços destinados a aplicações em motores e máquinas elétricas), que permitiu à empresa entrar num novo nicho de mercado com substancial faturamento anual. A descrição completa de todos os projetos contratados até Agosto de 1999 pode ser encontrada no Suplemento da publicação Notícias Fapesp27 PROGRAMA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PEQUENA EMPRESA28 Iniciado em 1997, o PIPE é o primeiro programa da FAPESP que apoia a pesquisa para inovação tecnológica diretamente na empresa, através da concessão de financiamento ao pesquisador a ela vinculado ou associado. O alvo do PIPE são empresas com até 100 empregados, dispostas a investir na pesquisa de novos produtos de alto conteúdo tecnológico ou processos produtivos inovadores, capazes de aumentar sua competitividade e sua contribuição sócio-econômica para o país. O programa se destina a apoiar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras a serem executadas por pequenas empresas sobre importantes problemas em ciência, engenharia ou em educação científica e tecnológica que, em caso de sucesso, tenham alto potencial de retorno comercial ou social. Os projetos podem ser desenvolvidos por pesquisadores vinculados às empresas ou que a elas tenham de algum modo se associado para a realização do projeto. O programa se justifica por ser a inovação tecnológica um instrumento reconhecido para o aumento da competitividade das empresas, condição para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo. Trata-se de criar condições para incrementar a contribuição do sistema estadual de pesquisa para esse desenvolvimento. Dispensando contrapartida e, por isso, dirigido exclusivamente a pequenas empresas, o programa é complementar ao de financiamento de projetos de pesquisa 27 Notícias Fapesp nº 46, Suplemento Especial: Inovação Tecnológica (Setembro, 1999). 28 Vide Referência 25 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 27 em parceria entre a universidade e empresa. Por meio deste conjunto de programas, a FAPESP busca induzir um aumento significativo do investimento privado em pesquisa tecnológica. Os projetos devem ser apresentados por pesquisador vinculado a empresa com menos de 100 empregados, e devem ser organizados contendo três fases: FASE I: é uma fase inicial com duração de 6 (seis) meses e que visa a realização de pesquisas sobre a viabilidade técnica das idéias propostas e cujos resultados serão o critério principal de qualificação para a Fase II. Pelo menos dois terços das atividades desta fase deverão ser desenvolvidas pela pequena empresa proponente que poderá, assim, subcontratar até um terço dos trabalhos de outras empresas, consultores ou instituições de pesquisa. Serão feitas, por ano, aproximadamente 20 concessões nesta fase com valor limite de R$50 mil para cada concessão. FASE II: é a fase de desenvolvimento da parte principal da pesquisa e terá duração de vinte e quatro meses. Pelo menos metade das atividades de pesquisa deverão ser desenvolvidas pela pequena empresa proponente que poderá, assim, sub-contratar até a metade dos trabalhos de outras empresas, consultores ou instituições de pesquisa. O valor máximo financiável nesta fase é de R$200 mil para cada projeto, sendo as concessões feitas aos projetos de maior sucesso na FASE I. A previsão é de que cerca de um terço dos projetos apoiados na FASE I receberão apoio para a realização da FASE II. Serão priorizadas para apoio nesta fase, as propostas que documentem compromisso de apoio financeiro de alguma fonte para a realização da FASE III do projeto, caso a FASE II seja bem sucedida. FASE III: é uma fase a ser realizada pela pequena empresa ou sob sua coordenação e que tem como objetivo desenvolver novos produtos comerciais baseados nos resultados obtidos na FASE I e na FASE II. A FAPESP não dará apoio financeiro de qualquer natureza a projetos nesta fase, mas poderá colaborar na obtenção de apoio de outras fontes caso os resultados da pesquisa comprovem a viabilidade técnica das idéias, bem como o seu potencial de retorno comercial ou social. A resposta a este programa foi excepcional: lançado em 1997, após 6 editais já há 101 projetos contratados (41 destes já na Fase II). É interessante observar que há uma concentração notável das localidades onde se sediam as empresas com projetos contratados em torno de universidades, consistente com a discussão feita acima sobre o papel da universidade como formadora de pessoal e por isso habilitadora do desenvolvimento tecnológico. A Tabela 6 mostra que dos 101 projetos, 28 Carlos H. de Brito Cruz 84 estão em municípios onde há tradicionais instituições públicas de ensino superior bem conhecidas por sua qualidade. O papel da universidade pública na formação do pessoal líder destes projetos também é facilmente verificável. A Tabela 7 mostra onde foram formados os líderes dos 101 contratos do PIPE. Destes, 79 (79%) obtiveram a graduação em universidades públicas. Observe-se também que neste programa a FAPESP não exigiu titulação de doutor para os líderes de projeto, exigindo sim demonstrada capacidade e experiência no tema do projeto. Tabela 6. Distribuição das localidades sede das pequenas empresas com projetos contratados no programa PIPE da FAPESP. Município São Paulo Campinas e região S. J. dos Campos e região São Carlos e região R. Preto e região Outras Total Quantidade 29 26 20 9 3 14 101 Tabela 7. Formação dos líderes dos projetos do PIPE Fapesp. USP Unicamp Unesp IFES e outras estaduais Univ. Particulares Univ. Exterior Outras Total Graduação 44 10 5 20 16 5 1 101 Mestrado 32 16 2 18 0 6 0 74 Doutorado 28 6 3 8 0 16 0 61 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 29 CONCLUSÃO A análise apresentada sobre as atividades e investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil permite concluir que além de haver poucos Cientistas e Engenheiros atuantes em P&D, há um percentual muito reduzido destes que trabalham, para empresas. Esta é uma das razões porque a competitividade tecnológica da empresa no Brasil é pequena, o que pode ser verificado através da contagem do número de patentes registradas com origem no Brasil nos Estados Unidos. O pequeno número de C&E empresariais no Brasil se correlaciona com o reduzido investimento empresarial em P&D. Nesta conjuntura, o esforço feito pelo poder público para a formação de recursos humanos qualificados, que mesmo sofrendo descontinuidades não pode ser considerado pequeno, acaba por ter pouca efetividade em trazer benefícios econômicos e sociais. Ao mesmo tempo que a ciência brasileira tem avançado e obtido mais destaque internacional, a tecnologia não tem acompanhado esta evolução. Criticamos a concepção simplista de que a interação universidade-empresa poderá resolver a necessidade de tecnologia da empresa e a necessidade de financiamento da universidade, destacando que cada uma destas instituições tem culturas e missões que devem ser respeitadas. Mesmo assim a interação deve ser buscada pela contribuição que pode trazer à melhor educação dada pela universidade a seus estudantes, bem como para levar a cultura de valorização do conhecimento para a empresa. Programas de apoio à pesquisa na empresa tem sido bem aceitos por estas. A forte demanda pelo PIPE da Fapesp demonstra que a pequena empresa tem necessidade de desenvolver tecnologia e está pronta a utilizar os mecanismos de apoio postos à sua disposição. Finalmente, o grande desafio em P&D no Brasil de hoje é como criar um ambiente que estimule a empresa ao investimento no Conhecimento para aumentar sua competitividade. O Estado brasileiro já realiza vultuosos investimentos na formação de pessoal qualificado (o país forma atualmente 4.000 doutores por ano) e em projetos de pesquisa fundamental e aplicada. Cabe à empresa aproveitar estas condições e convertê-las em competitividade, riqueza e desenvolvimento. Resumo Analisamos as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizadas no Brasil, focalizando a atenção no papel de cada uma das instituições: universidade, empresas e governo. Para isto analisamos o pessoal envolvido em P&D no país, os investimentos realizados e alguns resultados facilmente documentáveis como o número de publicações científicas e de patentes realizadas. Verifica-se que, enquanto a capacidade brasileira de fazer Ciência tem crescido, aumentando sua penetração internacional, a capacidade de fazer Tecnologia tem tido pouco desenvolvimento. Destacamos também que o papel da empresa, que deveria ser central na inovação tecnológica, não se realiza no Brasil. 30 Carlos H. de Brito Cruz Abstract It is of our compentancy to analized all Research and Development activities made in Brazil, focusing the atention on the role of each of the following institutions: universities, private companies and the government. In order for this to happen, we study the personal involved in this research and development project in the Country, the investments that have been done and some accessable documented results; for example: the numbers of scientific publications and their respective patents. Also verified, it is the fact that the capability of Brazilians to do Science has grown, augmenting the international penetration in this area, meanwhile the capacity to make Tecnologies has had little improvement. Finally, we feel that it is of utmost importance to bring foward the role of companies, which should be primordial in the tecnological inovation - not been true in Brazil. O Autor CARLOS H. DE BRITO CRUZ é Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Diretor do Instituto de Física da UNICAMP. Política e Organização da Inovação Tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 31 Incubadoras de Empresas e Inovação Tecnológica: o caso de Brasília LUÍS AFONSO BERMÚDEZ Incubadora aparelho destinado a manter temperatura constante e apropriada para o desenvolvimento de ovos e cultura de microorganismos segundo o nosso conhecido dicionário Aurélio , é o termo usado nos dias atuais para descrever um número crescente de grupos de negócios de alta tecnologia que fornecem as facilidades físicas, rede de conhecimentos pessoais, animação, consultorias e um sem número de necessidades e apoios que podem tornar possível o sonho de um empreendedor nas áreas tecnológicas. Este conceito está em moda no mundo inteiro E o quê faz que as incubadoras estejam em grande crescimento? Ajudar as empresas a se tornarem grandes é onde as incubadoras tem uma importante função. As incubadoras podem entregar ao mercado, empreendedores com os elementos críticos essenciais para o crescimento de suas empresas na velocidade da Internet como é necessário nos dias de hoje. Além disso, as incubadoras permitem acelerar o processo de desenvolvimento empresarial assegurando uma taxa de sucesso de negócios bem acima das taxas comuns de insucessos. Existem incubadoras de diferentes tamanhos e formas ofertando uma grande variedade de apoios, serviços e consultorias para os empreendedores. Neste trabalho mostram-se inicialmente os conceitos dos processos de incubação para então apresentar um caso de sucesso representativo da realidade brasileira. Para concluir, dados recentes sobre o movimento de incubadoras no Brasil são apresentados a partir de pesquisa anual realizada pela Associação Nacional que reúne as incubadoras brasileiras. CONCEITO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS Um programa de incubadoras de empresas normalmente coloca a disposição dos novos empreendimentos a instalação física, ou seja, o endereço do novo empreendimento, além de uma série de facilidades de escritório, como por exemplo, computadores, redes, telecomunicações, secretarias, etc... Para os empreendimentos tecnológicos também são ofertadas a possibilidade de uso de laboratórios, oficinas de protótipos e toda a orientação tecnológica necessária para o desenvolvimento da idéia 32 Luís Afonso Bermúdez inovadora que chegará ao mercado. Como complemento básico também são colocadas à disposição consultorias e apoios na área gerencial necessários para os empreendedores. Este conjunto de apoios permite não só a aceleração do processo mas também a solidez necessária para o ingresso no mercado altamente competitivo nas áreas inovadoras. Muitos programas também oferecem a orientação necessária para capitalização desses empreendimentos, seja através da preparação para o recebimento de um aporte de capital de risco como também na procura de fundos de financiamento para o dia a dia empresarial. Mas um dos fatores importantes do processo de incubação é a sinergia não só entre as empresas participantes mas também com a comunidade local, onde o programa está inserido visando a geração de emprego e renda nas mesmas. APRESENTAÇÃO DO CDT/UNB O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) é uma unidade da Universidade de Brasília, vinculado ao Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e à Reitoria, que tem como objetivo promover a interação entre a oferta e a demanda de conhecimentos científicos e tecnológicos, informação e a prestação de serviços especializados para a sociedade em geral. O CDT/UnB foi criado em 1986 e tem como missão o apoio e a promoção do desenvolvimento tecnológico, com base na vocação local, por meio da integração entre a Universidade, empresas e a sociedade de uma forma geral, objetivando o fortalecimento econômico e social da região. O CDT/UnB pode ser considerado um dos pioneiros no País a implementar este tipo de iniciativa, que visa desenvolver mecanismos de cooperação entre empresas e instituições de P&D, tendo divulgado, em diferentes eventos e fóruns, especialmente no meio empresarial, as pesquisas desenvolvidas nos mais de 60 Institutos, Faculdades e Departamentos da UnB, projetando o nome da Universidade, promovendo as empresas da Incubadora e difundindo os métodos de cooperação adotados entre a Universidade, os setores empresarial e governamental. Os objetivos gerais do CDT são: · Identificar pesquisas e serviços desenvolvidos por professores, pesquisadores e funcionários técnico-administrativos e promover seu repasse para a sociedade; · Identificar necessidades técnicas, financeiras e políticas do setor PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 33 empresarial e faz o encaminhamento para academia; . Identificar linhas de financiamento para pesquisa científica e tecnológica com potencial de transferência PROGRAMAS DO CDT/UNB Para cumprir sua missão o CDT criou programas voltados ao empreendedorismo e às mudanças de valores pessoais e institucionais, conforme mostra a Fig.1, tornando-se uma verdadeira porta de acesso acesso e de saída tecnológica para a Universidade de Brasília. Na Fig. 2. São mostrados de forma cíclica e histórica os programas desenvolvidos pelo CDT/UnB de forma a cumprir com sua missão. Fig. 1. O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília e seus objetivos. OBJETIVOS TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA NOVOS EMPREENDEDORES EMPREGO E RENDA REPRESENTAÇÕES EMPRESARIAIS COMPETITIVIDADE EMPRESÁRIOS PRODUTOS INOVADORES INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Fig. 2. Os programas do CDT/UnB PROGRAMAS ATUAIS Parque Tecnológico 1986 Hotel de Projetos 1998 Incubadora de Empresas de Base Tecnológica - 1988 CDT Escola de Empreendedores 1995 Disque Tecnologia 1994 1986 Jovem Empreendedor 1993 Empresa Júnior 1993 34 Luís Afonso Bermúdez INCUBADEIRA DE EMPRESAS Foi criada em 1990 com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e a criação de empresas de alta tecnologia principalmente, nas áreas de Informática, Microeletrônica, Automação, Mecânica de Precisão e Biotecnologia. Tem também como missão o apoio ao desenvolvimento de empresas inovadoras, por meio de ações e serviços que contribuam para o sucesso dos empreendimentos e o desenvolvimento social. Voltada para todo empreendedor que tenha o desejo de desenvolver novas tecnologias ou inovação de produtos e processos, a Incubadora oferece apoio institucional e infra-estrutura, que inclui o uso do espaço físico na universidade, serviços administrativos e de comunicação, treinamento gerencial, consultoria especializada, uso de equipamentos compartilhados e outros benefícios. A Incubadora já apoiou, 44 empresas. Nesse período 18 empresas já saíram da Incubadora em condições de sucesso. Atualmente 2 estão associadas ao Programa e 13 são residentes, conforme mostra a Fig. 3. Fig. 3. Resultados empresariais da incubadora. Histórico (1989 – 2000) Quadro Atual Nº de empresas que já passaram pela incubadora Empresas graduadas Incubadas no momento Graduadas que permanecem associadas ao programa * Encerraram atividades enquanto incubadas Desligadas do Programa 44 18 13 02 10 03 Fig. 4. Áreas de desenvolvimento das empresas apoiadas pela incubadora do CDT/UnB. Produtos Em quase dez anos da Incubadora as 44 empresas apoiadas produziram aproximadamente 160 produtos. Telec om unic aç ões 5% Inform átic a 50% A utom aç ão 9% B iotec nologia 16% S erviç os Tec nológic os 20% PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 35 Outros programas foram criados para dar suporte, fortalecer e ampliar os impactos da Incubadora-CDT como mecanismo de disseminação da cultura empreendedora dentro e fora da Universidade, inovação e geração de novos empreendimentos, cooperação institucional e transferência de tecnologia. Assim, atualmente, o CDT desenvolve suas atividades em três etapas interligadas entre si: PRÉ-INCUBAÇÃO INCUBAÇÃO PÓS-INCUBAÇÃO Escola de Empreendedores Incubadora Empresa Associada Empresa Júnior Parque Tecnológico** Disque Tecnologia* Jovem Empreendedor Hotel de Projetos * Incubação Virtual ** Em Implantação Escola de Empreendedores (Empreend) Criada em novembro de 1995, a Empreend tem como objetivo a difusão da cultura empreendedora nas Instituições de Ensino Técnico e Superior do Distrito Federal, além de incentivar a criação de novos negócios capazes de gerar, assimilar e absorver novas tecnologias de produto e de gestão. O Programa desenvolve a capacitação e o aperfeiçoamento técnico e gerencial de novos empreendedores e de empresários já estabelecidos no mercado. É por meio da Escola que a Incubadora promove o treinamento e a capacitação dos empresários que apóia. É a Empreend que organiza, por exemplo, o curso de Iniciação Empresarial oferecido aos empreendedores candidatos a uma vaga na Incubadora. A Empreend oferece as disciplinas Introdução à Atividade Empresarial e O Empreendimento Informática ministradas para formandos dos cursos de Engenharias da Faculdade de Tecnologia e Ciência da Computação da UnB e alunos da Escola Técnica de Taguatinga (2º grau). Como resultado do programa de disciplinas, 6 mil alunos foram beneficiados até dezembro de 1999 e foram elaborados 161 planos de negócio. De acordo com a última pesquisa realizada entre os ex-alunos, 15 empresas foram criadas, gerando 116 postos de trabalho diretos e 42 indiretos. Além das disciplinas a Empreend organiza treinamentos motivacionais e técnico-gerenciais para aperfeiçoamento profissional, estudos e diagnósticos empresariais, cursos e palestras voltados para a capacitação e disseminação do perfil empreendedor. Mais de 13 mil pessoas já participaram dos eventos e cursos promovidos pelaEscola. 36 Luís Afonso Bermúdez Programa Empresa Júnior (Pro Jr) O Pro Jr foi criado em 1993 com o objetivo de estimular e apoiar a criação e o fortalecimento de empresas juniores na Universidade de Brasília, proporcionando aos alunos complementação em sua formação acadêmica e maior vivência profissional. Além disso, o Pro Jr também objetiva incentivar o empreendedorismo, o espírito de liderança e a capacidade de gerenciamento dos alunos. A empresa Júnior é formada por estudantes de graduação e supervisionada diretamente pelos professores da UnB. Atualmente, o programa beneficia, em média, 200 alunos por ano, possibilitando um maior contato com o futuro mercado de trabalho dos estudantes. O Pro Jr é subordinado à Gerência de Empreendedorismo e muitas das consultorias oferecidas às empresas incubadas são realizadas pelas empresas juniores. Durante o processo de seleção da Incubadora, a Empresa Júnior de administração realiza, em conjunto com os empreendedores, pesquisa de mercado para avaliar o potencial mercadológico do produto/serviço das empresas candidatas. Atualmente, existem 09 empresas juniores nos cursos de: Administração, Psicologia, Estatística, Desenho Industrial, Ciência da Computação, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Sociologia, Publicidade e quatro em fase de constituição, nos Departamentos de Engenharia de Redes, Mecatrônica, Engenharia Elétrica e Química. De setembro de 1993, quando foi criada a primeira empresa júnior da UnB, até dezembro de 1999, 734 alunos passaram pelas empresas, dos quais 17 abriram seus próprios negócios. Em 1999 as empresas atenderam um total de 72 clientes e somaram um faturamento de R$ 102.000,00. PROGRAMA DISQUE TECNOLOGIA O programa Disque Tecnologia nasceu da necessidade de um serviço de atendimento aos empresários do Distrito Federal que demandassem soluções tecnológicas para problemas de produção ou organização produtiva. Inaugurado em 1995, o Disque Tecnologia é um serviço de atendimento a consultas de natureza tecnológica e gerencial. Tem como objetivo disponibilizar o conhecimento acumulado nas instituições de Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, para a solução de problemas, dúvidas tecnológicas e gerenciais dos empresários da Incubadora e locais, por meio de consultas feitas à Central de Atendimento Tecnológico - CAT do CDT. O cliente do Disque Tecnologia tem como vantagens a facilidade de acesso ao banco de especialistas (formado por docentes da Universidade de Brasília e consultores externos), o atendimento imediato e a realização PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 37 de projetos tecnológicos desenvolvidos de acordo com o alcance e a natureza do seu problema. Durante os quatro anos de funcionamento do programa foram atendidos 437 empreendedores e empresas. Em 1999, 228 novas consultas foram atendidas. O Disque é o Programa responsável também por implementar PATMEs e SEBRAETecs para os empresários. Ambos são programas do SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e da FINEP/MCT, destinados a apoiar técnica e financeiramente empresários e empreendedores na inovação de produtos e processos produtivos ou gerenciais, visando melhorar a competitividade. A equipe do Disque orienta ainda, os empresários residentes na Incubadora na elaboração de projetos para obtenção de apoio e financiamento junto a instituições públicas e privadas. Nos últimos três anos, 12 empresas da Incubadora tiveram projetos aprovados junto ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico PADCT e Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas RHAE, ambos do CNPq, e também junto ao SEBRAE, com valores médios de R$ 80.000,00 cada projeto. Programa Jovem Empreendedor Tem por objetivo preparar o jovem universitário para uma nova opção em sua carreira, ou seja, criar uma empresa de base tecnológica, a partir da monografia de final de curso. O Programa procura orientar o aluno na realização da pesquisa de mercado e no desenvolvimento do Plano de Negócios da futura empresa. Nos últimos três anos, o Programa atendeu 89 alunos, dos quais 04 desenvolveram produtos junto às empresas residentes na Incubadora. Uma aluna ganhou em primeiro lugar o prêmio brasiliense de designer de jóias e 04 alunos montaram uma empresa, com o apoio do Programa Hotel de Projetos, para desenvolvimento de um pasteurizador de leite pós envase para pequenos produtores rurais, que se encontra em processo de venda para comunidades carentes do Acre e para cooperativas e associações do Distrito Federal. Em 1996, o Programa Jovem Empreendedor desenvolveu um manual para os estudantes que ensina como montar um plano de negócios de uma empresa de base tecnológica. Este manual recebeu um prêmio do IEL/SEBRAE/CNPq como melhor trabalho da região Centro Oeste. Programa Hotel de Projetos Criado no segundo semestre de 1998, tem por objetivo apoiar a criação de empreendimentos inovadores nas áreas de software e de prestação de serviços tecnológicos em sua fase inicial. Participam deste programa empreendedores que passaram pelo Jovem Empreendedor ou pelo GENETI, núcleo do Projeto Genesis do Softex 2000, coordenado 38 Luís Afonso Bermúdez pelo Departamento de Ciência da Computação da UnB, e empreendedores locais que desejam criar uma empresa e necessitam de pequenos e rápidos apoios da UnB, de caráter técnico ou gerencial. São candidatos ao Hotel também projetos que ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, mas com perspectivas de acelerado crescimento. Os projetos são acompanhados e analisados por seis meses e após esse período são avaliados para ingresso ou não na Incubadora de Empresas. Como resultado da primeira seleção, três empresas foram apoiadas e posteriormente admitidas na Incubadora. Atualmente existem dois empreendimentos no Hotel e uma nova seleção está sendo planejada para o segundo semestre desse ano. Núcleo de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia / NUPITEC Este Programa tem como função apoiar os pesquisadores da UnB e empreendedores locais na negociação, elaboração e gestão de projetos cooperativos; orientação sobre transferência de tecnologia, contratos e vendas de serviços; orientação para registro de marcas e patentes; difusão de linhas de financiamento de projetos; e contratação e venda de serviços especializados. O NUPITEC foi criado no primeiro semestre de 1999 e ainda está em fase de estruturação com ênfase nas seguintes ações: · Divulgar o NUPITEC por meio de eventos e visitas aos departamentos da Universidade, com o objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância estratégica da propriedade intelectual. · Mapear os projetos de pesquisa que venham sendo desenvolvidos nos departamentos da Universidade. · Manter intercâmbio com outros escritórios de transferência de tecnologia existentes no país para a troca constante de informações e experiência. · Elaborar um manual de Propriedade Intelectual para orientação da comunidade acadêmica. Programa Parque Tecnológico O Programa Parque Tecnológico foi planejado para abrigar o CDT e instituições nacionais e internacionais ligadas à ciência, tecnologia e cultura. Suas atividades visam garantir o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de ponta no País, promovendo maior integração entre a universidade e a sociedade. O Programa está em fase de negociações para sua implantação definitiva, mas foi através dele que de forma pioneira no Brasil uma empresa de capital privado se instalou num PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 39 campusuniversitário: a AUTOTRAC, empresa que tem como atuação o rastreamento de meios transporte através de satélites e cuja sede operativa está instalada na UnB proporcionando uma integração forte e constante com a Universidade. PRINCIPAIS IMPACTOS DOS PROGRAMAS DO CDT NA COMUNIDADE ACADÊMICA E NO MERCADO DE TRABALHO · Setenta por cento (70%) do pessoal envolvido nas empresas residentes são alunos ou recém-graduados, na condição de sócios, funcionários ou bolsistas. A média anual de empresas residentes nos 3 últimos anos tem sido 15. Cada uma possui 3 funcionários em média. Assim, anualmente, pelo menos 36 alunos ou ex-alunos trabalham ou criam empresas na Incubadora. · Aproximadamente 50% dos atendimentos do Disque Tecnologia são feitos por professores da UnB. A particularidade é que quase 100% da demanda é constituída por empreendedores informais ou micro empresários locais, fato que comprova o potencial do Programa como um dos mecanismos de promoção da cooperação entre a universidade e as pequenas empresas, seja transferindo tecnologia e conhecimentos gerados na universidade ou na difusão de informações financeiras. · Destaca-se, ainda, a contribuição do CDT na formação complementar dos alunos. Anualmente, a Escola de Empreendedores, por meio da disciplina Introdução à Atividade Empresarial oferecida como crédito optativo nos cursos de Ciência da Computação e Engenharias, atende em média 250 alunos/ano. Nas empresas juniores passam 200 alunos por ano, em média. O Jovem Empreendedor acolhe anualmente 10 alunos. As empresas residentes oferecem, em média, 25 vagas por ano para estágio de alunos. Somando-se esses números o trabalho desenvolvido pela Incubadora em conjunto com os demais programas, contribui, anualmente para a formação complementar de quase 500 alunos. Vale ressaltar que muitos desses tornam-se empresários. RELAÇÕES COM ENTIDADES PARCEIRAS De forma a operacionalizar todas essas atividades o CDT/UnB recebe o apoio de várias instituições nacionais e locais sob a forma de projetos e parcerias institucionais tais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal SEBRAE/DF, a Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal FAP/DF, o Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal - IEL/DF, a Federação das Indústrias 40 Luís Afonso Bermúdez de Brasília FIBRA, a Federação do Comércio do Distrito Federal e o Instituto de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. O CDT mantém com todas essas instituições ótima relação, sendo realizados vários trabalhos em conjunto, como por exemplo, a Mostra Tecnológica, onde anualmente produtos e serviços dos parceiros são expostos. Algumas instituições como a FAP/DF, Sebrae/DF e CNPq têm apoiado financeira e institucionalmente as empresas residentes na incubadora e outras atendidas pelos demais Programas do CDT. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 1. Ainda dentro do espírito de fomentar a inovação tecnológica, o CDT/UnB tem realizado a gestão e operacionalização de projetos tecnológicos setoriais para segmentos econômicos do Distrito Federal. Como exemplo, pode-se citar o caso do projeto para 15 olarias de São Sebastião (DF) e o outro envolvendo 10 movelarias da Candangolândia (DF). Estes projetos foram desenvolvidos no âmbito das Gerências de Tecnologia do CDT, com a participação do Sebrae/DF, visando a recuperação de áreas degradadas e melhoria do processo produtivo, respectivamente. A partir do diagnóstico concluído sobre o perfil sócioeconômico das famílias envolvidas, do grau de degradação ambiental e do processo produtivo utilizado pelos oleiros, estão sendo propostas alternativas que viabilizem a continuidade e a expansão da atividade na região, porém, agregando os conceitos de cidadania, cooperação e competitividade. 2. Conforme a demanda, tem sido realizados também diagnósticos do potencial de expansão de mercado das empresas de base tecnológica e MPE´s locais com o uso de Inteligência Competitiva, cujo objetivo é identificar perfil da indústria e comércio local, oportunidades de investimentos, instituições parceiras, concorrentes e tendências gerais no campo empresarial. 3. Dentro da orientação de apoiar o desenvolvimento econômico local também são realizados diagnósticos sobre potencialidade de industrialização de comunidades do Distrito Federal, com identificação dos setores econômicos mais adequados ao perfil da população local, que poderão resultar na implementação de programas do Governo Local para a capacitação técnica e gerencial dos empreendedores. 4. Desenvolvimento de projetos de apoio técnico e financeiro para as empresas de base tecnológica concorrerem aos editais de programas nacionais tais como os do MCT/PADCT/CNPq e Programa RHAE MCT/CNPq. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 41 5. Gestão e operacionalização de projetos de desenvolvimento de empresas e departamentos da UnB visando usufruir dos incentivos previstos em lei (Ex.: Lei de Informática). INFRA-ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS Para atender todas as atividades descritas tornou-se necessária a montagem de um corpo técnico multidisciplanar para o CDT composto por profissionais concursados e contratados pela UnB (80%) e de bolsistas do CNPq e SEBRAE (20%). A estrutura hierárquica do CDT é horizontalizada com 2 níveis decisórios. Direção e sete Gerências, totalizando 31 pessoas, ou seja com uma equipe bem formada e estrutura é possível cumprir com a missão para a qual o Centro foi criado. CASO BRASILEIRO No Brasil, o movimento de incubadoras teve inicio na década de 80 com o surgimento das primeiras experiências em São Carlos (SP), Campina Grande (PB), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ). Desde lá o número de incubadoras tem crescido de forma exponencial, conforme pesquisa anualmente realizada pela ANPROTEC Associação das Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas, que reúne as incunbadoras e parques tecnológicos no Brasil. Na Fig. 5, mostra-se o crescimento do número de incubadoras no Brasil de 1988 a 1999. Fig. 5. INCUBADORAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL 100 100 74 80 60 60 38 40 20 27 2 4 7 10 12 13 19 0 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 42 Luís Afonso Bermúdez Essas incubadoras estão disseminadas em todo território nacional com forte concentração nas regiões sul e sudeste onde a atividade econômica do país está mais concentrada. No entanto, esforços para a criação de programas semelhantes tem sido observados nas demais regiões, como mostra a Fig. 6. FIG. 6. DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS INCUBADORAS BRASILEIRAS Conforme mostra a pesquisa realizada anualmente pela ANPROTEC, Fig. 7, a motivação para o nascimento das incubadoras está relacionada com o estímulo à cooperação entre universidades e a sociedade, com a otimização do potencial reagional no desenvolvimento econômico, social e tecnológico e, principalmente, com o incentivo ao empreendedorismo. Outro dado relevante das incubadoras brasileiras é o que se refere a capacidade de incubação, ou seja, o número de empresas que cada incubadora pode acolher, fisicamente: 13 empresas por incubadora, na média nacional. Este número colacado em conjunto com a taxa média de ocupação de 73 % permite afirmar que em 1999, as incubadoras brasileiras estavam apoiando cerca de 800 empresas inovadoras. Estas empresas tinham também como previsão de faturamento para o ano de 1999 o valor total de R$ 85.850.000,00 ! Estas mesmas empresas ainda nascentes (residentes nas incubadoras) já empregam mais de 4000 pessoas, das quais 44% são sócios das empresas. Ainda, essas empresas disponibilizaram no mercado 3800 produtos ou serviços inovadores. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 43 Finalmente, após uma média de 2,5 anos de permanência no programa de incubadora, as empresas graduadas que permaneceram no mercado em relação as que encerraram suas atividades tem-se a taxa de sobrevivência de 84%, ou seja, bem acima da média da taxa de fracasso das pequenas empresas brasileiras segundo estatística do Sistema SEBRAE. FIG. 7. PARÂMETRO DE MAIOR IMPORTÂNCIA NA DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DO PROGRAMA DE INCUBADORA. (Média Nacional) OBJETIVOS DAS INCUBADORAS Maior Importância 9 4 ,4 % Ince n tiv o ao e mpre e n d. 7 9 ,5 % D e se nv . E con . R e gion al 5 6 ,4 % G e ra ção de E mpre go 5 5 ,1 % D e se nv . T e cn ológico 3 8 ,5 % D iv e rs. E conô mica 1 4 ,1 % Lucr o p/Incub adora 0 20 40 60 80 100 n=78 REFERÊNCIAS Home-Page do CDT/UnB www.cdt.unb.br Home-Page da ANPROTEC www.anprotec.org.br ANPROTEC, Panorama 99 As Incubadoras de Empresas no Brasil, Setembro, 1999. Resumo Este trabalho apresenta uma descrição do conceito de incubadora de empresa e discute essa modalidade de incentivo à geração de empresa de tecnologia avançada a partir da experiência acumulada pelo Centro de Apoio a Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. Trata-se de iniciativa pioneira da UNB visando ao fomento da Inovação Tecnológica do Distrito Federal através do estimulo à criação de empresas de alta tecnologia. Dados em resultados concretos desses programas, obtidos ao longo de mais de uma década, são apresentados e discutidos tendo em vista as potencialidades dessa modalidade de ação como forma de estimular o desenvolvimento tecnológico. 44 Luís Afonso Bermúdez Abstract This work discusses the concept of business incubators and also presents a description of the programs developed by CDT (Technological Development Support Center of the University of Brasília). CDT is a pioneering initiative in the region of Brasília with the purpose of stimulating technological innovation by giving conditions to creating new technology based companies using laboratories and other technical support provided by the University. The CDT accumulated experience of more than ten years has produced many results and data which are used to discuss the subject, and which permit fruitful comparisons and assessment of trends and perspectives for this kind of university-industry relations. O Autor LUÍS AFONSO BERMÚDEZ, Diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, desde 1990.Engenheiro Eletrônico, 1977, pela Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Porto Alegre, Mestre em Engenharia Elétrica - Telecomunicações, 1980, pelo Centro de Estudos em Telecomunicações da Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, CETUC PUCRJ, Docteur en Electronique - Comunicações Óticas e Microondas, 1987, pelo Institut de Recherche en Comunications Optiques et Microondes da Université de Limoges, França, Professor Adjunto IV do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília desde 1980. Política e Organização da Inovação Tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 A Inovação Tecnológica e a Indústria Nacional DANTE ALÁRIO JUNIOR NELSON BRASIL DE OLIVEIRA Ensina o mestre Aurélio que tecnologia é um conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade. Nas áreas que apresentam elevada densidade tecnológica, que constituem o objeto da presente exposição, a pesquisa básica se destina a realizar o upgrading do conhecimento científico existente no mundo em dado momento e, assim, definir os elementos indispensáveis para o desenvolvimento de nova tecnologia. Em tais casos a tecnologia é, nitidamente, a interface entre a pesquisa e a aplicação prática da inovação que for alcançada e, assim, contém os procedimentos técnicos necessários para a alocação dos novos conhecimentos científicos gerados na produção de bens ou aplicações pertinentes. Quando a inovação atingida apresenta expressivo valor agregado ao Estado da Ciência, costuma-se dizer que foi realizada uma invenção. As invenções que apresentam os atributos de novidade, criatividade (atividade inventiva) e aplicação industrial podem receber o título de patente industrial, ou de modelo de utilidade, fazendo jus a uma série de benefícios estabelecidos em lei. É comum ouvir e/ou ler-se que nos países mais desenvolvidos a atividade de pesquisa é fundamentalmente processada ou financiada pelas indústrias. Isto não corresponde à verdade. É importante registrar o que foi dito em público, num encontro recente promovido pela Fundação Bio-Minas por graduado funcionário da área científica de uma das maiores multinacionais farmacêuticas, e apoiado pelos demais participantes internacionais: que a indústria não faz pesquisa básica, mas tão somente desenvolvimento. Assim, acompanha de perto as pesquisas elaboradas pelas Universidades e quando conclui que algo é promissor, processa todo o desenvolvimento tecnológico até o produto final, agora na indústria e não mais na Universidade. É por isso também que as mesmas pessoas lamentaram estarem as nossas Universidades Públicas (onde se faz mais fortemente pesquisas) desassistidas (afirmação dos brasileiros presentes) e, 46 Dante Alario Junior & Nelson Brasil de Oliveira consequentemente, com reduzido conteúdo científico (com as exceções conhecidas), uma vez que é lá onde as indústrias buscam as idéias para os novos produtos que serão introduzidos no mercado. Aqui no Brasil, onde as indústrias não possuem a força econômica das transnacionais, esta forma de trabalho se faz ainda mais necessária, ou seja, pesquisa básica sendo desenvolvida principalmente nas Universidades Públicas e, no caso de poderem ser aplicadas, seriam levadas, por contrato, para o setor industrial nacional que adequaria a tecnologia ao produto final e pagaria através de royalties. Este procedimento geraria tanto trabalhos científicos como também produtos inovativos (patenteados). No Brasil, as invenções que se traduzem em patentes, normalmente são associadas pelo grande público às atividades de pesquisa básica conduzidas em Universidades, o que é um grande equívoco. Em realidade, apenas 1% das patentes depositadas internacionalmente saem diretamente dos bancos acadêmicos. Entendemos que os centros universitários têm por objetivo precípuo a educação, constituindo-se a pesquisa apenas numa atividade-meio que tem como metas principais a publicação de trabalhos científicos visando o enriquecimento do currículo escolar, assim como a evolução da carreira profissional do professor-pesquisador. Além disso, a preparação dos pedidos de patente requer treinamento especializado na matéria e a manutenção de longo período de sigilo na atividade de pesquisa (dois a três anos para depositar uma patente), que pode ser melhor utilizado em termos profissionais pela publicação de meia dúzia de trabalhos de pesquisa em revistas especializadas, conduzidos no mesmo prazo. Essa é a situação encontrada de forma mais generalizada em todo o mundo, a despeito de respeitáveis exceções para confirmar a regra. Os inventores independentes são mais freqüentes nas áreas de tecnologias de menor valor agregado, ou de reduzida sofisticação do conhecimento científico. Em tais casos, normalmente prevalece a criatividade individual, especialmente no campo de modelos de utilidade. Para inventores independentes, o trato econômico e comercial de uma idéia original constitui uma grande dificuldade operacional. As empresas respondem por mais de 70% dos inventos patenteados no mundo, posto que a patente de invenção é um bem econômico de alto valor comercial por gerar um monopólio de mercado que assegura elevado retorno aos investidores bem sucedidos. São as empresas que respondem, no mundo inteiro, pelos pesados investimentos de longo prazo e elevado risco aplicados em patentes de invenção, ainda que PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 47 generosamente subsidiados pelos governos, e que se traduzem em retornos comerciais consideráveis (vide a situação privilegiada da indústria farmacêutica norte-americana, cuja lucratividade é o dobro da média apresentada pelo setor químico). Estima-se, a nível internacional, que a cada US$1,5 a US$2 milhões investidos em P&D, deva surgir uma patente de invenção. Como no Brasil a maior parte dos dispêndios contabilizados pelo governo e pela ANPEI em tecnologia (cerca de US$8 bilhões/ano, num PIB de US$650 bilhões/ano) correm por conta de bolsas de estudo, gastos na implantação de sistemas de qualidade e em serviços de engenharia (inclusive remessas ao exterior para o pagamento de licenças pelo uso de marcas), o montante realmente alocado à P&D no País é muito reduzido, muito menor do que transparece em tais indicadores. Em decorrência, o baixo índice brasileiro que resulta da relação número de patentes depositadas para investimentos em tecnologia, que vem sendo difundido no Brasil como indicativo de uma baixa conscientização dos empresários e pesquisadores brasileiros para a importância de P&D, constitui uma interpretação equivocada. A atividade de P&D, mais do que qualquer outra de natureza econômica, requer recursos financeiros elevados e de baixo custo (a maioria das vezes a fundo perdido ou de risco compartilhado), os quais são normalmente encontrados nos países desenvolvidos e indisponíveis no Brasil. Passemos a examinar o que é apresentado na literatura como referenciais de políticas tecnológicas utilizadas pelos países desenvolvidos. O governo norte-americano intervém no mercado tecnológico através da concessão de grandes incentivos à acumulação e aplicação de capital privado nessa área. Dentro desse contexto cabe destaque ao uso do Poder de Compra do Estado em favor de produtores locais, através do Buy American Act, bem como amplo e generoso programa de financiamento a fundo perdido para o desenvolvimento tecnológico de pequenos e microempresários (SBIR - Small Business Innovactive Research). Os subsídios diretos, ou uso do Poder de Compra, adotados pelo governo dos EUA às atividades de P&D, ao longo da década passada, atingiram o nível de US$90 a US$100 bilhões/ano1 . O financiamento diretamente subsidiado pelo governo dos Estados Unidos ao setor privado é considerado um instrumento de importância vital para encorajar pequenas empresas a investir em tecnologia, e isso é 1 Office of Managment and Bugdet of the United States Government. David Von Drehle, Clinton Details Plan For Hi-Tech Project, Washington Post, 23/02/ 93. 2 48 Dante Alario Junior & Nelson Brasil de Oliveira praticado em alta escala2. Para as grandes empresas industriais, que muito se valem do mercado de capitais, o apoio do Estado se efetiva normalmente através de contratações de serviços (inclusive projetos para o desenvolvimento de tecnologias) e compra de produtos fabricados por empresas localizadas naquele país (uso do Poder de Compra do Estado), embora muitas vezes ocorram doações diretas do Tesouro Nacional e tratamento favorável de impostos para setores ou empresas consideradas estratégicas pelo governo federal3. Como sempre, o pragmatismo anglosaxão abandona a ideologia liberal que teoriza para efeitos externos e aplica uma política industrial protecionista de mercado quando a conjuntura assim o requer. Assim também é o caso do Orphan Drug Act, lei aprovada em 1992, através da qual foi estabelecida uma série de medidas visando apoiar o desenvolvimento tecnológico e a industrialização de novas drogas destinadas ao combate de doenças que afetassem a menos de 200.000 pessoas/ano. Empresas envolvidas em tais programas recebem créditos fiscais referentes a dispêndios realizados em testes clínicos e doações para o desenvolvimento das drogas, além da exclusividade de mercado por sete anos, após a droga ter sido aprovada pela FDA4 (Egon Weck, Medicines Orphans: Drugs for Rare Deseases). No caso japonês, de forma mais explícita as agências governamentais MITI e JETRO são encarregadas, respectivamente, do planejamento e acompanhamento de políticas tecnológicas, industriais e de comércio exterior5. O MITI se vale de programas de desenvolvimento tecnológico como instrumento básico para sua política industrial (AIST/ MICT). O engajamento do Estado japonês nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, embora tenha mudado de enfoque nos últimos anos (menos engenharia reversa e mais atividade inventiva, como no caso do Human Frontier Science Program), continua a ser exercida até com maiores recursos públicos sendo aplicados. As atuais metas tecnológicas do MITI se concentram na busca de novos produtos e/ou materiais com alto valor agregado, que utilizam tecnologias sofisticadas e se traduzem em processos produtivos não poluentes. As drogas órfãs nesse país são aquelas requeridas por menos de 50.000 pacientes/ano e ao seu desenvolvimento estão direcionados conhecidos instrumentos de incentivo, tais como financiamento quase a fundo perdido e redução de impostos, além de uma prioridade no exame Richard M. Weintraub, Clinton Stirs New Furor Over Airbus Subsidy, Washington Post, 25/02/93. David Von Drehle, Clinton Details Plan For Hi-Tech Project, Washington Post, 23/02/93. 3 David Von Drehle, Medicines Orphans: Drugs for Rare Deseases.93. Chalmers Jonhson, MITI and the Japonese Miracle. 6 Japan: Feature - The Pharmaceutical Industry of Japan, Japan Chemical Week, 19/05/ 94. 4 5 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 49 pelo órgão de saúde e a concessão de uma exclusividade de mercado por 10 anos6. Dentro da política tecnológica francesa, subsídios para financiamentos e renúncia fiscal são concedidos para grandes empreendimentos ou para aqueles destinados a áreas estratégicas selecionadas (Programa DATAR). Também se encontram linhas de crédito subsidiado para pequenas e médias empresas, como as dotações concedidas pela Société Française pour lAssurance du Capital-Risque. Suporte tecnológico às pequenas e microempresas é oferecido através de programas específicos (programas ANVAR e ATOUT). Recentemente foi lançado na França um programa para apoiar o desenvolvimento e a industrialização de drogas órfãs, elaborado pelo Syndicat National de lIndustrie Pharmaceutique para o governo federal7. A Alemanha sempre deu ênfase especial à responsabilidade social do mercado, cabendo ao Estado fazer com que os regulamentos sejam cumpridos. A estratégia de ações industriais é estruturada em bases consensuadas entre os principais agentes econômicos envolvidos (Estado, bancos e empresas privadas), cabendo aos bancos privados a realocação de recursos de um setor para o outro, dentro da estratégia industrial assim definida pelo Estado, em parceria com o setor privado. Dentro da política tecnológica e industrial alemã, o governo incentiva a implantação de novas indústrias que incorporarem tecnologias modernas (como a informática), formando agregados industriais estratégicos, constantes do Programa Production 2.000/BMBF. A Alemanha também subsidia, através do seu sistema financeiro privado, as atividades de P&D industrial para empresas privadas em setores de tecnologias de ponta (biotecnologia, informática, energia, etc.), utilizando-se do programa Project Förderung. Também existem programas específicos de apoio às pequenas e micros empresas, através de juros subsidiados e com longos prazos de pagamento, como é o Deutsche Ausgleichsbank e o Kreditanstalt für Wiederaufbau. A política tecnológica e industrial italiana, que foi extremamente intervencionista no passado, atualmente moderou tal orientação, voltando-se basicamente para o desenvolvimento regional, a criação de empregos e o estímulo às pequenas e microempresas na Região da Terceira Itália, no centro/nordeste do país. Os Ministérios da Indústria e de Ciência & Tecnologia da Itália vem buscando realizar um trabalho mais articulado, em proveito da política tecnológica e industrial do país (programas do MICA e do MURST). 7 Snips White Paper on R&D, Pharmaceutical Business News, 21/12/94. 50 Dante Alario Junior & Nelson Brasil de Oliveira Como se vê pelas ilustrações acima apresentadas, todos os países avançados no mundo usam políticas tecnológicas e industriais pró-ativas, fartamente se valendo de subsídios governamentais ao setor privado via financiamento a fundo perdido, contratações de projetos de P&D, renúncias fiscais e reservas de mercado para compras governamentais (tantas e tantas vezes declarada morta), ou expressas por monopólios de patentes industriais. Não se pode afirmar que um desses instrumentos, avaliado isoladamente, é mais importante ou prioritário do que o outro. Em realidade, tratam-se de mecanismos que devem ser usados em conjunto, e nas devidas proporções, para que resulte um considerável efeito sinérgico que é o grande responsável pelo sucesso de tais políticas nos países desenvolvidos. Vale enfatizar a questão do Poder de Compra governamental, pois ele pode, se bem articulado com os setores industriais privados, transformar-se num grande formador e direcionador de mercado. Este é um aspecto relevante na conjuntura em que vivemos , pois quase nada acontece sem a existência de um mercado forte e significativo. Obviamente para que se viabilizem tais políticas, necessário se faz a existência de recursos financeiros suficientes e a um custo equivalente àquele praticado nos países desenvolvidos. Objetivando contribuir para a identificação de fontes para tais recursos, passamos a apresentar os seguintes comentários sobre o TRIPs. Os objetivos gerais do Acordo TRIPs (Trade Related Intellectual Proprierty Protection Rights) aparecem em seu preâmbulo, que reproduz conceitos inicialmente apresentados em 1986 pela Declaração de Punta Del Este, visando a redução das distorções ao comércio internacional, a promoção de adequada proteção dos direitos de propriedade intelectual e a garantia que as medidas para reforçar os referidos direitos não venham, por si mesmo, se tornar barreiras ao comércio legítimo. Tais objetivos gerais devem ser interpretados em conjunto com o Artigo 7 do TRIPs, intitulado Objetivos, segundo o qual a proteção e o reforço dos direitos da propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e a transferência e disseminação do conhecimento tecnológico de uma forma a conduzir o bem estar social e econômico, e a um balanço entre direitos e obrigações. A própria Declaração Ministerial emergente da Rodada do Uruguai reconheceu, ainda, a necessidade de ser estabelecido um fluxo contínuo e adequado de financiamento aos países menos desenvolvidos. Como 96% das patentes industriais registradas no mundo constituem privilégios concedidos a titulares residentes em países desenvolvidos, à tais nações deveriam naturalmente caber as obrigações PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 51 contidas no mencionado Artigo 7 de TRIPs, na busca de um melhor balanço entre direitos e obrigações. Embora a Organização Mundial do Comércio (OMC) não disponha de organismos próprios destinados a promover a inovação, a transferência e a disseminação de tecnologia para os países menos desenvolvidos, existem agências financeiras internacionais que vem promovendo atividades nessa área, tais como o Banco Mundial (através do BIRD, IDA, IFC e MIGA), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Europeu de Investimento (BEI). A OMC de um lado, e os mencionados organismos financeiros de outro, constituem grupos de entidades distintas que, a despeito de desenvolverem diversos trabalhos em conjunto, têm autonomia de ação própria. Como, no entanto, pertencem à mesma comunidade de nações no mundo, pode-se considerar que atuam de forma complementar em seus objetivos comuns. Assim, acreditamos que a obrigação a ser assumida pelos países desenvolvidos através do estabelecido pelo Artigo 7 de TRIPs, visando promover a inovação, a transferência e a disseminação de tecnologia para os de menor desenvolvimento econômico, deveria ser expressa via financiamentos em condições extremamente privilegiadas, conduzidos através das mencionadas instituições financeiras. A criação de linhas de financiamento específico para tal destinação serviria, até mesmo, como um incentivo para o reforço do direito proprietário nos países menos desenvolvidos, tão desejado pelos países de primeiro mundo e como requerido em TRIPs. Já existem linhas de financiamento em condições privilegiadas para projetos tecnológicos voltados ao meio ambiente ou correlatos, em temas do interesse do primeiro mundo. Mesmo assim, é requerida a contrapartida da ordem de 50% pelo ente público nacional, que sabidamente não tem sido disponibilizada nos últimos programas orçamentários brasileiros, fato que vem retardando e até mesmo inviabilizando a implementação de projetos prioritários no País. Dentro desse cenário, entendemos que deveria ser buscada pelo governo brasileiro a ampliação do escopo de tais linhas de financiamento internacional em condições privilegiadas, para atender a demanda apresentada pela carência de uma infra-estrutura tecnológica básica necessária para o setor produtivo nacional, cabendo ao setor privado a responsabilidade pela contrapartida exigida pelos referidos organismos internacionais, sob a coordenação do Estado. Entendemos, outrossim, que o aprofundamento do direito proprietário estabelecido em TRIPs, lido pela ótica de seus objetivos, somente deveria ser exigido pela OMC quando efetivamente se tornar 52 Dante Alario Junior & Nelson Brasil de Oliveira disponível, em organismos financeiros internacionais, a contrapartida das nações desenvolvidas visando a criação da competência técnica nos países em desenvolvimento, especialmente financiamentos em termos privilegiados para a inovação, a transferência e a disseminação de tecnologias. Essa deveria constituir uma firme disposição do governo brasileiro nessa matéria em foros internacionais. Há que se recuperar um enorme e crescente gap tecnológico existente entre o Brasil e os países desenvolvidos, que ameaça por obsolescência todo o setor produtivo instalado no País. Diversas razões, a maioria delas alheias às capacidades decisórias dos agentes econômicos privados atuantes no setor produtivo nacional, como procuramos ilustrar nesta apresentação, explicam a inibição de investimentos nessa área. A despeito de tudo isso, ainda há tempo para o País recuperar sua vocação de grandeza expressa pelas suas dimensões continentais, aliadas à fartura de recursos naturais e qualificação de recursos humanos. Mas para tanto é requerido que haja desenvolvimento tecnológico autóctone, que passa pela construção de quadros de P&D na empresa privada, apoiado em recursos oriundos de planejamento estratégico nacional, montado em parceria do setor público com o setor privado, constituindose tal política um objetivo nacional a ser tratado com prioridade pelo Estado. BIBLIOGRAFIA Office of Managment and Budget of the united States Government David Von Drehle, Clinton Details Plan For Hi-Tech Project, Washington Post, 23/02/93. Richard M. Weintraub, Clinton Stirs New Furor Over Airbus Subsidy, Washington Post, 25/02/93. David Von Drehle, Clinton Details Plan For Hi-Tech Project, Washington Post, 23/02/93. Egon Weck, Medicines Orphans: Drugs for Rare Deseases. Chalmers Jonhson, MITI and the Japanese Miracle. Japan: Feature The Pharmaceutical Industry of Japan, Japan Chemical Week, 19/05/ 94. SNIPs White Paper on R&D, Pharmaceutical Business News, 21/12/94. Resumo Neste artigo, discute-se a importância de se transferir os resultados de pesquisas desenvolvidas nas universidades públicas para o setor industrial nacional, que adequaria a tecnologia ao produto final e, por sua vez, efetuaria o pagamento de royalties às universidades. Como consequência, o incremento da parceria entre o setor público e o setor PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 53 privado ajudaria a dinamizar a pesquisa e o avanço tecnológico de uma forma geral e, assim sendo, na opinião do autor, a questão deveria ser tratado como prioridade do Estado. O artigo apresenta alguns exemplos de políticas tecnológicas bem sucedidas desenvolvidas em países como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão e a França, entre outros. Abstract The article discusses the importance of bridging public universities and private companies. Through a joint effort the products of the research activities developed by universities could be transferred to private companies to be effectively transformed into new products. On the other hand the companies could pay royalties to universities aiding additional resources to them. Considering the potential effects of such practices Brazilian Governments should give priority to policies fostering partnership between private companies and public universities. The article also presents few examples of successful initiatives carried out by countries such as the U.S., Germany, Japan, and France. Os Autores DANTE ALARIO JUNIOR - Diretor da BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA, Conselheiro da ALANAC (Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais) , Presidente da ALIFAR (Associação Latino Americana da Indústria Farmacêutica) NELSON BRASIL DE OLIVEIRA, Vice-Presidente da ABIFINA (Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades) 54 Dante Alario Junior & Nelson Brasil de Oliveira Política e Organização da Inovação Tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 55 As empresas de pesquisa sob contrato: um exemplo de integração pesquisa - indústria PAULO CÉSAR SIQUEIRA A aplicação do método científico ao desenvolvimento de novos processos ou produtos, a partir do final do século XIX e do início do século XX, provocou uma revolução no sistema industrial. Uma nova dinâmica de desenvolvimento tecnológico se estabeleceu para melhor adaptar os produtos ao gosto dos clientes e às exigências do mercado. O uso e a difusão de novas tecnologias, bem como a internacionalização da economia exigemumesforço de adaptação do industrial para se manter no mercado. Torna-se necessário dispor de recursos humanos e materiais suficientes para dominar um conjunto de competências científicas e técnicas que, devido a sua complexidade e ao seu custo, nem sempre são acessíveis. O industrial deve então complementar sua capacidade para se tornar mais competitivo. O recurso à competência externa se justifica em função do ganho de tempo e do lucro que se pode obter. Grande parte dos avanços tecnológicos são produzidos em instituições públicas de pesquisa que nem sempre estão aptas a explorar sua propriedade intelectual. A ligação com a indústria tende a facilitar a comercialização das tecnologias desenvolvidas. A existência de laboratórios de pesquisa industriais não impede porém que as empresas interessadas em desenvolver seus próprios produtos recorram à competência externa para complementar sua capacidade técnica. Esta iniciativa favorece a transferência de tecnologia 1 e o acesso a conhecimentos essenciais para garantir ao industrial uma posição de vantagem no mercado. A participação de centros acadêmicos europeus na produção de conhecimento voltados ao desenvolvimento industrial é cada vez mais significativa.2 Este processo, definido como science push, designa o uso Esta expressão designa o processo pelo qual a indústria incorpora ao seu patrimônio uma tecnologia desenvolvida em um outro setor ou por um outra agência, pertencente ou não à mesma empresa. No plano internacional, indica a incorporação ao patrimônio de um país de uma tecnologia desenvolvida no exterior. 1 Sobre o assunto, veja: CASSIRER, Maurice, Les contrats de recherche entre luniversité et lindustrie: lémergence dune nouvelle forme dorganisation. Paris, Escola de Minas, 1995. Tese de doutorado. 2 56 Paulo César Siqueira de mecanismos especiais para exploração comercial das idéias, técnicas ou produtos desenvolvidos pelas universidades ou organismos públicos de pesquisa. Os meios comumente utilizados são o registro de patentes, a concessão de licenças, a participação em programas conjuntos de pesquisa e a criação de empresas associadas. Devido à concorrência de empresas especializadas de pesquisa e consultoria em tecnologia, há uma certa dificuldade destes centros em manter seus parceiros industriais. Tal processo cria uma situação paradoxal que exige também uma certa competência no plano comercial. Segundo Webster, na medida em que o setor público de pesquisa assume o papel de empresário, o industrial se mostra mais reticente a adquirir o fruto de sua produção intelectual.3 Com efeito, a concorrência entre as entidades públicas e a indústria se amplia com o surgimento de empresas de comercialização tecnológica associadas às universidades. Estes estabelecimentos são criados em áreas onde normalmente não há interesse da iniciativa privada, mas na medida em que se tornam mais atuantes a concorrência se intensifica. A análise deste aspecto foge, porém, ao escopo do presente trabalho. Oberva-se uma crescente interação entre as instituições públicas e privadas em prol da união pesquisa/indústria. Esta interação contribui para transformar uma idéia ou invenção em uma verdadeira inovação, ao possibilitar a aplicação do conhecimento científico e tecnológico ao desenvolvimento de um produto ou processo aceito pelo mercado. Esta situação reflete uma tendência para uma relação mais flexível e para uma nova forma de organização industrial, calcada na subcontratação da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologia. Constitui uma tentativa de solução do conflito potencial entre a pesquisa fundamental e seu uso comercial. As empresas de pesquisa sob contrato (EPCs) assumem um papel fundamental como fonte alternativa de conhecimento e de desenvolvimento tecnológico neste processo. O presente artigo, baseado na atuação de grupos privados franceses, analisa sua importância como instrumento de ligação entre a pesquisa científica e a indústria. Trata-se de um estudo das formas de atuação destas empresas e de sua participação no mercado. Busca-se mostrar se as vantagens que lhes são conferidas justificam a existência do modelo. Parte-se da hipótese segundo a qual a evolução industrial, tendo criado uma demanda de O autor se refere à estratégia americana de desenvolvimento tecnológico, ao análisar a proposta de implantação na Grã Bretanha dos Centros Faraday de Pesquisa, baseados no modelo das EPCs. Veja WEBSTER, Andrew,Bridging institutions: the role of contract research organisations in technologiy transfer. In Science Policy, volume 21, no. 2, Abril /1994, pp. 89-97. 3 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 57 serviços tecnológicos especializados, possibilitou o seu surgimento. Embora menos representativas do que algumas congêneres européias, a escolha de empresas francesas se deve às suas caraterísticas e forma de atuação como instituições de pesquisa. A menção aos organismos públicos facilita a compreensão do papel destes grupos no sistema de inovação. Este artigo traça ainda um perfil destas empresas, a partir de sua definição e da análise de seus objetivos e características. Explica como se faz a ligação pesquisa/indústria e em que modalidades. Apresenta um breve panorama sobre as EPCs na Europa, ressaltando sua importância como mecanismo de transferência de tecnologia. Avalia sua adequação e capacidade de atender às exigências da indústria, a partir da relação destas empresas de pesquisa com os seus parceiros científicos e clientela. Para melhor compreender o papel das empresas de pesquisa sob contrato neste contexto, faz-se necessário um estudo prévio dos mecanismos de ação de outras fontes similares de tecnologia. FONTES EXTERNAS DE TECNOLOGIA Os laboratórios dos centros de ensino superior, dos institutos e organismos públicos de pesquisa são fontes tradicionais de conhecimento e de desenvolvimento técnico-científico externas à empresa. Além destes centros e de algumas entidades ligadas ao setor industrial, existem estruturas melhor adaptadas para a transferência de tecnologia à indústria, como as empresas de pesquisa sob contrato. A França já dispõe de um potencial capaz de fornecer à indústria, inclusive pequenas e médias empresas (PMEs)4 , os parceiros tecnológicos dos quais ela depende para se ter acesso às novas tecnologias. As universidades, as escolas politécnicas e de engenharia, os institutos universitários de tecnologia e os organismos públicos constituem uma parte importante de sua infra-estrutura de pesquisa. Além destes centros, estruturas especiais foram criadas para promover a ligação entre a pesquisa científica e a indústria, tais como os centros regionais de inovação e transferência de tecnologia (CRITTs) e os centros técnicos industriais (CTIs). Considera-se uma PME na França o conjunto de pequenas e médias empresas industriais, comerciais ou prestadoras de serviço que possuam um efetivo de 10 à 500 pessoas, à excessão das empresas agrícolas. Devido ao uso corrente deste critério, as firmas com menos de 10 funcionários são tidas como artesanais. Esta definição não reflete a realidade, uma vez que muitas empresas de tecnologia de ponta com menos de 10 empregados, sobretudo em informática e biotecnologia, não são de fato artesanais. Mesmo no Brasil, onde o número de empregados por empresa é geralmente maior, elas assumem um papel importante na economia do país. 4 58 Paulo César Siqueira O sistema tradicional de pesquisa presta diversas formas de assistência à indústria. As universidades e os institutos públicos, por exemplo, firmam contratos específicos com os industriais para a realização de pesquisa aplicada com objetivos pré-definidos. As empresas associadas às universidades ou às escolas francesas de engenharia colaboram com a indústria no desenvolvimento de estudos técnicos sob contrato. Alguns organismos públicos, como o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) comercializam os resultados de seu trabalho através da concessão de licenças para a exploração de patentes e do know how produzidos em seus laboratórios estimulando, inclusive, a abertura de novas empresas.5 Esta cooperação ocorre normalmente em áreas onde o industrial não detem a capacitação necessária ou busca complementar sua competência em relação à atividade principal para optimisar seus custos. As empresas de desenvolvimento tecnológico associados às universidades pertencem a estruturas tradicionais, calcadas na criação e na difusão de conhecimentos. Suas funções de transmissão de resultados não dependem a priori de uma lógica comercial. Devido ao seu status jurídico e estrutura, elas enfrentam limitações administrativas que podem levá-las a funcionar como filiais de seus órgãos de origem, relegando ao segundo plano a atividade de transferência de tecnologia. As condições de trabalho de seus pesquisadores e técnicos devem as vezes se adaptar à formação universitária, exigindo um sistema de avaliação diferenciado e mais oneroso do que o adotado pela indústria. Além da dificuldade de contratação de pessoal, há uma desconfiança em relação à atividade comercial. O empresário deve então levar em conta a especificidade de cada fonte antes de optar por uma intervenção externa. O caso da Sociedade Gradient é uma exceção exemplar. Nascida de uma associação com a Universidade de Tecnologia de Compiègne em 1973, ela emprega trinta pesquisadores a tempo integral e registra um volume de negócios de US$ 7,4 milhões, dos quais 75% como resultado de contratos com a indústria. As escolas de engenharia também são dinâmicas e buscam uma maior aproximação com os industriais. A Segundo a Comissão de Relação com as Empresas, mais de 1400 licenças foram concedidas pelo CNRS a 850 parceiros: PMEs ( 65,1% ), grandes empresas (26,4%) e organismos públicos (6,1% ). Muitas delas caducaram ou foram anuladas por falta de exploração comercial. A maioria das 530 licenças ativas são nas áreas de biotecnlogia, eletrônica, informática e materiais. O número de patentes registradas pelo CNRS se estagnou em cerca de 90 por ano, mas as patentes ativas não chegam a 700. As empresas americanas registram o maior percentual de patentes na França ( 26,6% ), seguidas pelas empresas francesas, japonesas e alemãs, que mostram um desempenho similar ( 16,5 %). Veja: Les relations avec les entreprises. Paris, MRE/CNRS, junho de 1995. pp 11-12, e Science et technologie - indicateurs 1994. Paris, Ed.Economica/OST, 1995, pp 86-87. 5 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 59 Armines, por exemplo, congrega 70 laboratórios das escolas de minas e politécnicas, empregando 350 funcionários, dos quais 200 engenheiros. Esta associação gera 2 000 contratos por ano, por um volume de negócios da ordem de US$ 26 milhões, sendo que 50% resultante de contratos com as PME.6 Algumas fontes de tecnologia são muito semelhantes às empresas de pesquisa sob contrato, quanto à sua missão e forma de atuação. Como observa-se a seguir, os CRITTs, os CTIs e as empresas de consultoria em tecnologia constituem uma boa referência para o estudo das EPCs. Estes centros tecnológicos prestam ao industrial assessoria técnica para a solução de problemas específicos e serviços de pesquisa sob contrato e consultoria. Suas características e natureza lhes garantem uma posição privilegiada no sistema e afirmam sua capacidade de trabalhar profissionalmente com o industrial. Dentre os fatores que facilitam sua ação, destacam-se: disponibilidade de pesquisadores, engenheiros e técnicos especializados, trabalhando em um local determinado, que se responsabilizam pela interação com a clientela; área de atuação normalmente bem delimitada e disponibilidade de infra-estrutura material, máquinas e equipamentos apropriados, no próprio local ou de fácil acesso; tendência a manter um equilíbrio financeiro a partir dos serviços prestados à indústria. OS CENTROS REGIONAIS DE INOVAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA Os centros regionais de inovação foram criados pelo governo francês em 1982, a fim de se estabelecer uma ligação entre os laboratórios de pesquisa e a indústria, principalmente pequenas e médias empresas. Podem ser definidos como a concentração em um mesmo local das competências de diferentes parceiros, tais como: instituições de ensino superior, organismos públicos de pesquisa, empresas, centros técnicos, associações comerciais e profissionais. Estes centros têm um papel importante no crescente interesse das empresas regionais pela pesquisa. Seu objetivo consiste em colocar à disposição do industrial instrumentos de produção desenvolvidos em conjunto, para assegurar a modernização e a reconversão de setores industriais, favorecendo o surgimento de uma nova capacidade de produção de maior valor agregado7 . 6 Veja CAVALIER, Michel, Le conseil en hautes tecnologies. Paris, STS/CNAM, 1995, p. 129. 7 Veja OCDE, La politique dinnovation en France. Paris, Econômica, 1986. 60 Paulo César Siqueira Os CRITTs possuem, em sua maioria, status de associação sem fins lucrativos, estabelecido pela lei de 1901. Sua personalidade jurídica, aliada à capacidade de trabalhar em estreita colaboração com as instituições de ensino superior, lhes conferem uma flexibilidade de ação que facilita a adaptação de suas ações às características de cada região. No princípio, estes centros desenvolviam atividades de consultoria, de sensibilização ou de coordenação das relações laboratório de pesquisa/ empresa, assegurando-lhes a prestação de serviços técnicos. Na medida em que suas ações começaram a ser reconhecidas, passaram a desenvolver estudos técnicos e a concepção de produtos e novos processos. As soluções tecnológicas oferecidas pelos centros de regionais de inovação emanam principalmente dos centros e institutos universitários de tecnologia, das escolas técnicas e de engenharia. Junto a estas instituições eles reciclam seus conhecimentos sobre a evolução tecnólogica recente de interesse das empresas, atuando como pontas de lança dos centros acadêmicos de pesquisa. Quanto à disponibilidade de recursos, os CRITTs possuem pessoal técnico capacitado, infra-estrutura e equipamentos adequados e para o exercício de suas funções. Podem recorrer aos créditos da Agência Nacional de Valorização da Pesquisa (ANVAR), em condições similares àquelas dadas às EPCs. Para efeito de cálculo destes subsídios, leva-se em conta o total dos recursos humanos e materiais já colocados à sua disposição, como entidade pública, pelo Estado ou pela União Européia. Estes recursos lhes permitem arcar com as despesas não cobertas por fundos próprios. Existem cerca de 60 CRITTs, distribuídos em 20 regiões francesas. Estes centros possuem uma clientela de 4 000 empresas, composta na sua maioria de PMEs. Empregam 600 pessoas, perfazendo um volume total de negócios da ordem 25 milhões de dólares americanos8 . Dois bons exemplos de atuação são o Centro de Tratamento de Superfícies de Champane Ardenne, a primeira entidade deste gênero, criada em 1982, e a Associação para o Desenvolvimento da Pesquisa nas Indústrias Agropecuárias (ADRIAC), criada em 1983, na mesma região. O CRITT de Tratamento de Superfícies, trabalhando em colaboração com a Universidade de Reims e o Centro Técnico das Indústrias Mecânicas (CETIM), presta aos industriais serviços de assistência técnica, formação de pessoal, controle de revestimento de materiais, sobretudo plásticos e metais. Dentre os trabalhos realizados para mais de 220 empresas, citamse controle de corrosão de carrocerias para a FIAT e a Volkswagen e o Fonte: Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa, Les centres de ressources technologiques pour linnovation dans les PME. Paris, MERS, fevereiro/1995, p. 20. Para facilitar a compreensão, os valores em dólares no presente artigo resultam da conversão de francos franceses a uma taxa média corrente de 5 francos por dólar. 8 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 61 tratamento de tubos e turbinas para a indústria aeronaútica na Europa. O CRIIT ADRIAC, nascido da estreita colaboração com a Universidade de Reims, promove a transferência de tecnologia para a indústria agropecuária local no que se refere à conservação e transformação de produtos agroindustriais. Atua na pesquisa sobre conservação de alimentos e desenvolve produtos e embalagens para a Air Liquide e a Beghin-Say. Estes centros regionais recorrem normalmente ao capital privado, porém, devido ao seu status de entidade pública amparada por lei, dependem da subvenção do Estado para o seu funcionamento. Esta relação de dependência supõe a harmonização de suas ações à política científica e tecnológica do governo francês, o que pode dificultar seu trabalho. As ações de sensibilização, por exemplo, devem ser coordenadas pelo poder público, pois dependem de medidas jurídicas e político-econômicas. Estas atividades requerem também a motivação das pessoas envolvidas e sua adequação ao perfil exigido. Mas, os organismos que incentivam a participação de seus quadros no processo de transferência de tecnologia pouco favorecem a re-utilização da capacitação adquirida, nem tão pouco a reconhece para efeito de ascenção na carreira. Portanto, o ideal é que estes centros sejam menos dependentes e mais agéis, diferenciando-se de seus parceiros acadêmicos, a fim de que se tornem mais eficazes no seu papel de ponte pesquisa/ indústria. Sua capacidade de detectar oportunidades de inovação onde elas estão disponíveis deve ser preservada. OS CENTROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS Criados pelo poder público no fim da década de 40, os centros técnicos industriais se originam dos setores profissionais correspondentes. Seu objetivo é de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, aumento da produtividade e melhoria do controle de qualidade nas empresas. As atividades destes centros se dividem em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de interesse geral para o setor ao qual pertencem e suporte às pequenas e médias indústrias (PMIs) em suas ações de normalisação, assistência técnica, registro de patentes, formação de pessoal e subcontratação de pesquisa. Estas ações coletivas facilitam o acesso destes centros industriais aos programas europeus e lhes oferecem a oportunidade de testar novos processos. Os 18 centros técnicos existentes na França empregam mais de 2500 pessoas que buscam atender às necessidades das PMIs. Os serviços de assistência técnica especializada, de consultoria e transferência de tecnologia representam 30% de sua atividade global. 9 No início da 9 Fonte: MESR op. cit. pp 23-24. 62 Paulo César Siqueira década de 80, estes centros evoluiram com o emprego de novos procedimentos ligados às tecnologias genêricas. O Centro Técnico das Indústrias de Vestiário (CETIH), por exemplo, adotou o corte a laser e a concepção e fabricação assistida por computador. O financiamento de suas atividades é parcialmente garantido por uma taxa parafiscal assumida pelas empresas do setor pertinente, que cobre 40% das despesas de P & D coletivo e de normalisação técnica. O restante dos gastos é financiado pelos contratos mantidos com as empresas (cerca de 50% do total) e pela participação destes organismos nos programas da União Européia. Os participantes dos cursos de formação devem arcar com 10% dos custos. Os CTIs são normalmente limitados por sua organização em ramos industriais para promover, de forma eficaz, a adaptação e a difusão de tecnologias inovadoras. Observa-se uma desconfiança dos industriais, principalmente de grandes grupos, em relação a sua atuação, justificada pelo receio de fuga de informação e pirataria. Como estes centros trabalham com várias empresas do mesmo setor, não há garantia de um atendimento específico mais adequado. Alguns empresários afirmam inclusive que a constante preocupação com a carreira científica inibe evolução destes centros em termos de tecnologia e concepção de produtos. Os centros técnicos industriais e os centros regionais de inovação cumprem um papel relevante de instituição de pesquisa e de transferência de tecnologia para a indústria. Oferecem, inclusive, serviços equivalentes aos prestados pelas empresas de pesquisa sob contrato, mas algumas particularidades os separam destas empresas. As duas primeiras categorias trabalham quase exclusivamente com as PMEs e suas atividades são mantidas por recursos públicos. Já a viabilidade econômica de uma verdadeira EPC resulta de sua atividade comercial. A expectativa destas instituições é de possuir uma clientela sólida de grandes empresas e de PMIs ativas, capazes de manter uma demanda de tecnologias inovadoras. A tipologia de seus clientes varia e uma estrutura de transferência de tecnologia mais leve permite a oferta de uma gama de atividades melhor adaptadas aos interesses do industrial. AS EMPRESAS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA Depreende-se dos modelos descritos uma similariedade de serviços oferecidos aos industriais e uma propensão à especialização, que depende da fonte de tecnologia, do parceiro científico e do cliente visado. As empresas de consultoria em tecnologia não fogem a esta regra. Apesar de muitas instituições de pesquisa oferecerem serviços de consultoria tecnológica, algumas empresas privadas se especializam neste campo. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 63 As sociedades de serviços e de engenharia da informação (SSEIs), na França, se prestam melhor à sua análise. Criadas na década de 60 por engenheiros oriundos das fábricas de equipamenos ou das grandes empresas de serviços de informática, as SSEIs caracterizam-se pela prestação de consultoria, mantida por pessoal técnico qualificado. Suas equipes compõem-se normalmente de engenheiros e técnicos especializados, capazes de promover a atualização de processos industriais e de desenvolver tecnologias de ponta. Os serviços propostos à indústria se referem a aplicação da informática à sua organização, gestão e estratégia de produção e vendas. Além da implantação de redes de comunicação e de processamento de dados, estas empresas realizam estudos e testes para a concepção de produtos de maior valor agregado. Visando atender a esta demanda, as SSEIs ampliaram sua área de atuação, passando da telemática para a automática, incluindo atividades no campo da robótica e da gestão da produção assistida por computadores. Algumas empresas de serviços se especializaram no desenvolvimento de softwares especiais para as indústrias aeronaútica, automobilística, espacial e de telecomunicações. A Altran Tecnologias, por exemplo, inovou recusando-se a exercer suas atividades unicamente no campo da informática. Apesar de derivada desta concepção, abriu o leque de suas qualificações para as áreas de mecânica e óptica, dentre outras, dotando-se de um significativo potencial para a prestação de serviços de consultoria. Estas empresas atuam junto aos industriais sob duas formas: prestação de serviços sob contrato e oferta de pessoal qualificado. A primeira forma corresponde a uma subcontratação externa. Engloba a realização de um estudo ou a concepção de um produto, a partir de um cronograma de atividades executado com os recursos da empresa de consultoria que cobra pelo serviço prestado. A segunda, refere-se ao deslocamento de pessoal especializado para a execução de trabalhos sob o controle e com os recursos materiais do industrial. Neste caso, a prestadora cobra pelo tempo de trabalho dispendido pelo seu técnico junto ao cliente. A atividade de consultoria, no sentido de emissão de recomendações, é considerada vantajosa em termos de penetração no mercado. Mesmo não representando um grande volume de negócios, ela permite uma colaboração com cliente na fase de elaboração de um projeto. Esta interação prévia abre ao prestador a oportunidade de ocupar um lugar privilegiado quando da escolha dos eventuais parceiros para sua execução. As empresas de consultoria são tidas como fontes importantes de conhecimento em termos de metodologia, organização e 64 Paulo César Siqueira acompanhamento de projetos. A prestação de consultoria tecnológica à indústria não é um privilégio recente das SSEIs, pois as empresas de pesquisa sob contrato as precederam na oferta deste serviço. As vantagens atribuídas às empresas de consultoria podem ser explicadas quando se reconhece seu trabalho como parte de uma atividade econômica especializada.10 Estas empresas, mesmo com a ampliacão de sua área de atuação, são limitadas para resolver questões complexas de inovação tecnológica, em função de sua compêtencia e da especificidade de seu trabalho. A especialização no campo da informática pode, por exemplo, facilitar sua intervenção em outras disciplinas, mas não é suficiente para permitirlhe a aquisição de competência em outros setores, a menos que seja motivada por um interesse objetivo que justifique o investimento. Como demonstra a análise a seguir, o espectro de ação das EPCs é mais amplo. Inclue também serviços de consultoria tecnológica, assegurados por divisões especiais ou pela associação com empresas especializadas nesta atividade. AS EMPRESAS DE PESQUISA SOB CONTRATO As EPCs surgiram na década de 50 para atender as necessidades de inovação das pequenas e médias empresas. São definidas como agências ou empresas públicas e privadas, especializadas no domínio das tecnologias genéricas 11, que prestam serviços de pesquisa e desenvolvimento técnico a terceiros. Esta acepção ampla pode englobar desde grandes empresas públicas de pesquisa até agências governamentais, como o CNRS, recentemente atraídas a participar do mercado de tecnologia pela possibilidade de ganhos com tais atividades. Apesar de prestarem serviços similares, elas não se enquadram como empresas de pesquisa sob contrato, devido ao seu status jurídico e à sua estrutura administrativa. O que não as impede de competirem com agências públicas ou privadas pelos contratos de pesquisa. Trata-se de uma forma complementar de tratamento da tecnologia, adaptado às necessidades da indústria. Pode assumir características clássicas de consultoria, sob a óptica de serviços e deontologia, ou a especificidade de ações tecnológicas de âmbito plurisdisciplinar. Segundo Cavalier (op. cit. p 4-7), é uma assistência tecnológica prestada por uma equipe especializada para optimizar a execução de uma tarefa em relação a uma solução interna. Esta acepção ampla da atividade não a distingue das ações das EPC, capacitando ambas as fontes a realizá-la. 10 Entende-se como tecnologia genêrica o conjunto de conhecimentos, processos e técnicas comuns a diversos setores industriais e atividades econômicas. O termo refere-se às tecnologias avançadas ou de ponta, como informática, biotecnologia e novos materiais, cujo uso generalisado contribui para o desenvolvimento de muitas áreas de conhecimento. 11 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 65 Alguns organismos de ligação pesquisa/indústria dependem da administração pública para assegurar a maioria do financiamento de suas ações, o que contraria a filosofia de uma empresa autônoma atuando em um mercado competitivo. Várias EPCs na França estão vinculadas aos órgãos públicos, como a Armines, a Gradient e a Central Recherche. O mesmo se dá com a alemã Fraunhofer-Gesellschat (FhG) e a Organização Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada (TNO), responsáveis por um grande número de pesquisas sob contrato na Europa. Estes organismos possuem um status jurídico que lhes conferem uma posição de vantagem em relação às instituições privadas na oferta de serviços de pesquisa e de desenvolvimento tecnólogico em diversos domínios do conhecimento. Foco de análise deste artigo, as EPCs privadas ao contrário devem assumir os riscos do mercado e se mostrar capazes de enfrentar uma concorrência sem depender diretamente do govermo. Sua missão denota um carácter comercial de prestadora especializada na área tecnológica para atender às necessidades de competitividade do cliente. Organizadas a partir de estruturas leves, tais empresas são concebidas para permitir a execução de um projeto desde a fase de elaboração até a concepção de um protótipo. Suas ações visam proporcionar à indústria soluções operacionais, a um custo acessível em relação ao seu desenvolvimento interno. Estes grupos privados, como é o caso da Batelle nos Estados Unidos e da Bertin & Cia na França, participam ativamente no desenvolvimento de pesquisa e de novos processos, explorando seu potencial para encontrar soluções nem sempre imaginadas. Tais empresas, em função de uma concorrência cada vez mais acirrada, colocam à disposição do industrial uma gama de conhecimentos pluridisciplinares e de competências variadas. Suas atividades, também regidas por contratos formais de subcontratação ou de fornecimento de mão de obra qualificada, se diferenciam da simples prestação de serviço, peculiar às empresas de consultoria. Além das particularidades descritas e de sua dinâmica de ação, as EPCs se distinguem dos organismos públicos pelas seguintes caractéristicas: independência comercial em relação ao Estado e aos grupos industriais; transferência de tecnologia ao cliente através de contratos privados e individuais; tendência a uma alta especialização tecnológica; abertura a todo tipo de cliente, independentemente do setor industrial ou da àrea de atuação; disponibilidade de recursos próprios para realizar pesquisas, desenvolver novos processos e comercializar seus resultados, através de filiais ou da concessão de licenças e patentes. Seus recursos humanos se compõem de engenheiros e técnicos especializados que assumem ao mesmo tempo o papel de equipe de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Por estes critérios de identificação, algumas 66 Paulo César Siqueira instituições não são consideradas empresas clássicas de pesquisa sob contrato. Somam-se ao exemplo do CNRS os centros públicos de pesquisa e ensino superior, as filiais dos grupos industriais, os laboratórios exclusivamente de testes e análises, os escritórios de engenharia e consultoria e enfim as SSEIs. As empresas de pesquisa sob contrato garantem uma prestação de serviços similar à subcontratação de produção industrial. Elas desenvolvem trabalhos sob encomenda, regidos por claúsulas contratuais que definem as condições de realização e até questões relativas à propriedade intelectual resultante de uma ação conjunta. Além de ações pontuais no caso de blocagem industrial, as EPCs oferecem à sua clientela os seguintes serviços: pesquisa sob contrato; estudos de prospecção e viabilidade; serviços de consultoria, de formação e assistência tecnológica complementar à atividade principal do industrial; cessão de pessoal técnico especializado; projetos de optimização da produção industrial; realização de testes; avaliação de soluções técnicas; concepção de protótipos e industrialização de produtos. Muitos autores reconhecem o importante papel destas instituições como agentes de ligação entre os órgãos públicos de pesquisa e a indústria. Argumentam em sua defesa que a pesquisa acadêmica e a indústria constituem dois sistemas sociais com objetivos, atribuições, linhas de ação e limitações bem diferentes.12 As universidades estão melhor adaptadas a desenvolver pesquisa básica ou pré-competitiva, caracterizada por uma menor especificidade, maior incerteza e longo prazo de realização a um custo razoável. Os laboratórios industriais desenvolvem em geral pesquisa aplicada à concepção de um produto. Neste caso, há maior especificidade, menor grau de incerteza e o prazo de execução da pesquisa é reduzido para amortecer seu alto custo. Tais particularidades impedem uma ligação direta entre estes sistemas, no âmbito de uma organização tradicional. Esta descontinuidade entre a geração do conhecimento científico e sua aplicação tecnológica suscita a mediação de organismos especializados para integrar eficaz e coerentemente suas diferentes características. Visualiza-se a importância das EPCs, como agências de ligação pesquisa/indústria, representando-as no gráfico a seguir que analisa a Argumento baseado na análise de aspectos culturais entre as agências de interface, os centros acadêmicos de pesquisa e de P & D industriais. Além dos tradicionais indicadores de êxito, como número de publicações, prêmios acadêmicos e produtos comercializados, comparou-se ainda a finalidade do esforço de pesquisa. Os resultados obtidos mostram que os pesquisadores dos centros universitários buscam o reconheciemento de seus pares. As agencias de ligação visam o cliente e os centros industriais de pesquisa buscam atender os objetivos da companhia. Veja BRAUNLING, G. Public policies, supporting technology appropriation. Monografia apresentada na Conferência sobre Tecnologia e Competitividade, MIAT/ OCD, junho de 1990, p 3. 12 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 67 PRODUTORES E UTILISADORES DE CONHECIMENTO Tempo longo termo universidades grandes empresas assist. org. govern. nac. de P&D transf./assist. tecnolog. SRC . tecnol. PME labor. govern. de pesq. loc. centros tecnol curto termo Caractér. tecnológicas Aplicada Fundamental Baseado em WEBSTER/1994 relação entre produtores de conhecimentos científicos e utilizadores interessados na sua aplicação tecnológica. Inicialmente, observa-se a transferência de conhecimentos das universidades e dos órgãos públicos nacionais aos centros tecnológicos e laboratórios locais. A seguir, destaca-se a posição estratégica das empresas de pesquisa sob contrato, ligando estes produtores de conhecimentos e os utilizadores (grandes empresas e PME). Estas empresas assumem um papel relevante no processo de aplicação dos resultados da pesquisa ao desenvolvimento tecnológico e sua utilização para a solução de problemas específicos. Elas ocupam uma posição intermediária como agentes de interface que lhes permite realizar pesquisa aplicada e prestar serviços em melhores condições do que os centros académicos de pesquisa. PANORAMA DAS EMPRESAS DE PESQUISA SOB CONTRATO NA EUROPA O panorama a seguir sobre as principais EPCs européias contribui para compreender sua forma de atuação e ilustrar suas particularidades. Existem cerca de 130 empresas de pesquisa sob contrato na Europa. A 68 Paulo César Siqueira grande maioria delas (97%) se concentra em apenas cinco países: Alemanha, França, Grã Bretanha, Holanda e Italia. 13 Há uma significativa diferença entre os organismos de cada país, quanto ao seus efetivos e volume de négocios. As empresas alemãs detêm a maior participação no mercado, seguidas pelas inglesas, holandesas, italianas e francesas. O quadro abaixo dá uma idéia das maiores empresas européias, com base nestes indicadores. Mostra ainda a sua categoria em relação ao Estado e sua área de atuação. PRINCIPAIS EPCS EPC PAÍS CATEGOR. DA EUROPA ATUAÇÃO EFETIVO NEGOCIOS FhG ALEMANHA DPP* PLURIDISCIP. 7 600 500 000 TNO HOLANDA DPP PLURIDISCIP. 5 000 300 000 CISE ITÁLIA INDEPEND. PLURIDISCIP. 660 73 000 ISMES SpA ITÁLIA INDEPEND. PLURIDISCIP. 590 72 000 BERTIN FRANÇA INDEPEND. PLURIDISCIP. 560 58 000 WRc GRÃ BRET. INDEPEND. ESPECÍFICA** 640 42 000 Fonte: « European Technology Directory » *DPP: dépendente do poder público NEGÓCIOS: Volume em Milhares de ECU/199214 EACRO, Janeiro, 1993. **ESPECÍFICA: atividade especialisada no área de meio ambiente e purificação de água. Observa-se que as duas EPCs mais importantes (FhG e TNO) dependem do Estado. O seu tamanho, quando comparadas com as empresas privadas, se explica em parte pela adoção de uma estrutura calcada nos moldes da administração pública, mais departamentalizada e complexa. Por outro lado, a garantia de apoio financeiro governamental e auxílio direto à pesquisa possibilitam a diversificação de suas atividades, contribuindo para ampliar sua estrutura administrativa e o seu efetivo total. Mais de um terço dos recursos da TNO, por exemplo, provêm de fundos públicos. Estas entidades executam atividades pluridisciplinares e atuam em diversas áreas, dentre as quais eletrônica, informática, materiais, energia, Veja: European Association of Contract Research Organisation (EACRO), Contract research. Dordrecht, Kluwer Academic Publischers, 1991, pp 23- 46. Outra boa referência sobre o assunto é o estudo: Les organismes de recherche sous contrat dans la CEE, Comunidade Econômica Européia, EUR 12112-FR-EN, 1989. 13 A antiga unidade monetária européia (ECU) era calculada a partir do conjunto de moedas dos países membros, ponderadas segundo o peso econômico de cada um deles e recalculadas a cada dia na Bolsa de Valores, de acordo com o fluxo de câmbio. A taxa vigente em 18 de outubro de 1996 era de US$ 1,24 por ECU. 14 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 69 saúde, meio ambiente e defesa. Contrariamente à iniciativa privada, elas têm ainda como objetivo o desenvolvimento de pesquisa estratégica a longo prazo para apoiar a indústria do país ao qual pertencem. Esta tarefa favorece a transformação de alguns setores, que nas empresas privadas não passam de meros departamentos especializados, em verdadeiras estrutras de pesquisa autônomas. Serve de exemplo a FhG, organismo estatal sem fins lucrativos, onde o cliente paga apenas os custos da pesquisa aplicada à solução de seu problema. Sua estrutura se compõe de nove grandes divisões autônomas, responsáveis pela gestão de vários institutos de pesquisa. Só a divisão de microeletrônica mantêm oito institutos, dentre eles o de Tecnologia do Estado Sólido e de Desenvolvimento de Circuitos Integrados. Apesar da significativa presença do Estado no processo de transferência de tecnologia em quase toda Europa, há uma ativa participação da iniciativa privada. Os grandes grupos executam ações pluridisciplinares em vários domínios. A tendência à especialização em alguns ramos conjuga-se com a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos para solução de problemas específicos em outros setores industriais. Nota-se no citado quadro que o volume de negócios das empresas privadas em relação ao seu efetivo é mais equilibrado do que nas instituições públicas. Em termos proporcionais, as empresas como Bertin podem atingir um volume de negócios mais significativo do que os organismos públicos, com um efetivo total relativamente mais baixo. O elevado volume de negócios (500 000 MECU) registrado pela FhG foi obtido com um número de empregados (7 600) igualmente alto. Nos Estados Unidos, a Batelle e a SRI Internacional são sem dúvida as EPCs mais conhecidas. Tais empresas seguiram, contudo, um caminho inverso ao escolhido por suas homólogas européias, optando por uma atuação independente do Estado. Estas instituições asseguram a ligação entre os produtores de conhecimentos científicos e os industriais. São igualmente responsáveis pela geração de parte do conhecimento acessível ao público. Sediada na Alemanha, a Battelle Europa ocupa uma posição comparável à de Bertin & Cia, registranto em 1992 um volume de negócios de 55 000 MECU com 660 funcionários.15 O modelo inglês se aproxima da tradição americana de empresas de pesquisa sob contrato independentes. Comparada com outros países europeus, a França se caracteriza por ter numerosas empresas de pesquisa sob contrato com baixos volumes de negócios, as quais representam 22% do total do continente. Segundo a ANVAR, existe mais de cinqüenta empresas na França, responsáveis 15 Fonte: European Tecnology Directory. EACRO, janeiro de 1993. pp 12-21. 70 Paulo César Siqueira por um faturamento de US$ 254,2 milhões em serviços em 1993. Deste total, US$ 139 milhões foram faturados pelas trinta EPCs clássicas existentes, responsáveis pela geração de cerca 1 500 empregos. Um valor aproximado de US$ 11 milhões resulta de contratos mantidos com as PME. 16 Como observado, o restante da estrutura se compõe de centros de pesquisa e de empresas de tecnologia dependentes do poder público. A análise da situação francesa mostra assim uma nítida preponderância da iniciativa privada no dominínio da pesquisa sob contrato. Bertin é a maior instituição do gênero no país e uma das grandes companhias européias. Como indicam os dados, a lider francesa registrou um volume de negócios (58 000 MECU) muito superior ao alcançado por suas compatriotas, com um efetivo total de 560 pessoas. A Hydrometal e Frottement, segunda empresa privada do país, obteve 18000 MECU, com um efetivo de 170 funcionários, como resultado de sua atuação no mercado de tecnologia em 1992. A imagem de Bertin & Cia não se respalda apenas no seu tamanho, baseia-se sobretudo no reconhecimento de seu know how, na sua pluridisciplinariedade em relação ao restante da categoria e nas suas realizações no campo da inovação tecnológica. Além da concepção e comercialização de produtos sob sua marca, ela desenvolve pesquisa aplicada e promove a transferência de tecnologia à indústria. A maioria de seus contratos são realizados com os grandes grupos, entre eles várias empresas estatais. A ação das empresas de pesquisa sob contrato depende da infraestrutura global de inovação na qual as agências de P & D atuam e dos mecanismos de ligação entre produtores e utilizadores de conhecimentos. A especificidade do sistema europeu se deve à forte presença do Estado neste processo. Ela pode ser justificada por fatores culturais, pelas características dos mercados locais (normalmente pequenos) e pelo ambiente sócio-político que privilegia mecanismos de regulamentação, incentivos fiscais à pesquisa e o seu financiamento através de programas estatais e da ajuda direta de entidades do governo. ATUAÇÃO DAS EMPRESAS DE PESQUISA SOB CONTRATO NO SISTEMA DE INOVAÇÃO Porque os industriais recorrem à tecnologia externa? Qual é o método de ação das empresas de pesquisa sob contrato? São elas realmente capazes de atender as exigências do mercado? Estes e outros questionamentos, inclusive sobre o financiamento de suas atividades e Veja: ANVAR, Aide à linnovation technologique.Bilan 1994 et objectifs 1995. Informe à imprensa de fevereiro de 1995, pp. 63 e 64. 16 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 71 os eventuais problemas enfrentados por estas instituições, podem ser esclarecidos a partir da análise de sua atuação no campo tecnológico. Via de regra, os industriais recorrem a estas instituições especilizadas em P&D por falta de competência ou recursos para o desenvolvimento in loco de um processo ou produto. Buscam alternativas para a solução de problemas específicos. Esta necessidade de complementar sua própria capacidade tecnológica pode ser justificada, principalmente, pelo interesse em adquirir novos conhecimentos e técnicas não disponíveis na empresa. Através deste recurso, o industrial pode dispor de pessoal técnico especializado, ter acesso a recursos materiais inovadores e optimizar os custos de pesquisa em relação ao tempo disponível. Naturalmente, mudanças macro-econômicas responsáveis pela evolução do sistema industrial podem explicar este conjunto de novas demandas no sentido global. Seus efeitos são às vezes vistos com o resultado de uma estratégia pós-fordista menos hierárquica e mais heterogênea, na qual o sucesso da empresa depende de uma especialização flexível em torno de algumas tecnologias essenciais e fortemente protegidas. Identificadas como genêricas, estas tecnologias são importantes para a manutenção do capital em um mercado competitivo. O recurso à pesquisa sob contrato facilita ao industrial o acesso às novas tecnologias a um custo reduzido. Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), uma situação de crise estrutural prolongada influenciou a estratégia das empresas, contribuindo para o aumento da subcontratação de serviços.17 O fato levou progressivamente algumas empresas especializadas a se dirigirem aos organismos em melhores condições de responder à sua demanda, tais como os centros de ensino e pesquisa e as instituições públicas e privadas de pesquisa sob contrato. Esta interação possibilitou a criação de redes de transferência de tecnologias entre alguns setores, dentre os quais: indústria automobilística, informática e eletrônica. O resultado foi o estabelecimento de um novo processo de inovação válido tanto para as grandes indústrias como para as PMEs. Trata-se de um processo caracterizado pela integração de sistemas, flexibilidade de ação, realização de atividades em rede e tratamento paralelo de dados, que explica em parte a método de trabalho das EPC. A sua implantação se apoia no estabelecimento simultâneo de núcleos e de alianças estratégicas entre setores nos quais as firmas detectam 17 Veja: University enterprise relations in OECD member countries. DSTI/SPR/89.37. Paris, OCDE, 1990, p 10. 72 Paulo César Siqueira problemas tecnológicos comuns, difíceis de se resolver individualmente. Parte das demandas da indústria podem, por exemplo, resultar da necessidade de se obedecer às exigências e parâmetros impostos para proteção do meio ambiente. Mesmo as grandes empresas recorrem a este tipo de associação, no caso do uso de tecnologias e instrumentos normalmente caros, como a ressonância magnêtica nuclear para testar novos produtos. O método de ação das empresas de pesquisa sob contrato se baseia na conversão do conhecimento científico em tecnologia, no desenvolvimento de tecnologias genêricas e sua adaptação para possibilitar a transferência à indústria. As vezes, a fonte que possibilita o atendimento de uma demanda tecnológica específica de um cliente se encontra um sistema complexo diferente do seu campo de especialização. Mas, a experiência destas empresas as tornam capazes de identificá-la e de aplicá-la para resolver um problema em outro setor. Um bom exemplo é o caso de uma empresa especializada em mecânica e acústica que aplica sua experiência na solução de um problema no domínio da energia nuclear. Mesmo quando a tecnologia da nova fonte é por definição adaptável ao sistema-alvo, a análise criteriosa de ambos sistemas (fonte e objetivo) é essencial para a sua identificação. Ela facilita a adaptação pretendida e a conversão da tecnologia em P & D práticos, a fim de viabilizar sua inserção no novo sistema e atender a uma demanda objetiva. Este processo especial de inovação constitui a transferência adaptativa de tecnologia, característica das EPCs. As opções viáveis para a solução de problemas industriais, cada vez mais complexos, repousam na transferência de tecnologia à partir de uma fonte externa, no desenvolvimento de uma tecnologia específica apropriada ao cliente ou na identificação de uma combinação ótima de tecnologias novas e existentes que atendam ao seu interesse. Quando se trata de complementar seu esforço interno, a EPC deve ser suficientemente flexível para se associar a outros centros de pesquisa, pelo tempo que for necessário, favorecendo assim sua ligação com a indústria. Neste caso, parte dos equipamentos e do material de trabalho se desenvolve em conjunto com outras instituições de pesquisa, que contribuem com o know how e eventual ajuda financeira. As EPCs francesas mantêm uma boa interação com centros públicos e privados de pesquisa, através de mecanismos de subcontratação e associação. A relação entre os pesquisadores destas empresas e seus pares externos é garantida pela participação em eventos científicos e pela realização de atividades de ensino e pesquisa conjunta. A participação das EPCs em programas industriais da Comunidade Européia, dirigidos ao desenvolvimento de tecnologia de ponta, é também uma forma de complementação de sua capacidade interna e uma opcão PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 73 de financiamento externo. Dentre os principais programas-quadro europeus, citam-se o BRITE (tecnologias industriais e novos materiais), o ESPRIT (tecnologias da informação) e o RACE (telecomunicações). Constituem uma outra alternativa de capacitação e recursos os projetos nacionais nas aréas de energia nuclear, aeronaútica e espaço. Estes programas promovem a interação entre os pesquisadores, viabilizando o acesso a novos conhecimentos e tecnologias necessários ao exercício de suas atividades. Como a maioria dos avanços tecnológicos se produzem neste contexto, a possibilidade de ampliar seu potencial científico-técnico justifica a participação das EPCs nestes projetos. No entanto, o desenvolvimento de métodos apropriados e sua experiência para combinar adequadamente tecnologias externas com o know how do cliente são ainda mais importantes. Aliás, esta é a chave do seu sucesso. Caso contrário, o industrial rejeitará a solução proposta e todo o trabalho poderá ser inviabilizado. As dificuldades detectadas neste tipo de cooperação estão geralmente ligadas à duração da pesquisa em relação aos resultados esperados, à definição conjunta de parâmetros e à troca de informações entre os parceiros. A subcontratação de pesquisa externa implica normalmente em uma defasagem adicional de tempo para obtenção dos resultados, podendo ocasionar um aumento nos custos da tecnologia desenvolvida. Em alguns casos, o contratante principal exige a confidencialidade dos resultados, o que pode dificultar a sua difusão e impedir o sucesso da intervenção. Além do mais, a transferência de tecnologia de um domínio a outro nem sempre é fácil. Trata-se de um processo complexo em função do número de participantes e de fatores administrativos. O atraso na difusão de resultados pelos outros participantes pode, por exemplo, torná-los obsoletos. Uma EPC deve levar em conta todos estes fatores e buscar racionalizá-los em termos de custo-benefício de sua atividade. No que se refere aos principais meios de financiamento de suas atividades, as EPCs, como as outras empresas, utilizam geralmente fundos próprios para a cobertura de despesas com pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Esta fonte de investimento é normalmente limitada pelo fluxo interno de recursos disponíveis. A parte destes recursos dedicada ao desenvolvimento de novos instrumentos representa 30 a 40% de seu volume de negócios. Como ela se mostra, via de regra, insuficiente para cobrir as necessidade da empresa, deve-se então recorrer às fontes externas de financiamento. Além da associação a outros centros e da participação em programas públicos de pesquisa, outra alternativa de financiamento 74 Paulo César Siqueira externo é o acesso aos fundos especiais do governo para a pesquisa sob contrato. Tratam-se de recursos proporcionais à participação das EPCs no mercado de tecnologia, calculados a partir do volume de negócios resultante de seus seviços à indústria. Quando bem aplicado, este tipo de financiamento pode ser muito eficaz, por permitir uma expansão mais rápida da empresa. Utilizado normalmente na Alemanha e aplicado também na Holanda, esta forma de apoio governamental contribuiu para garantir a expansão e o sucesso das empresas de pesquisa sob contrato, como a FhG e a TNO. Esta fórmula foi instituída na França em 1984 sob a forma de um crédito anual da ANVAR, proporcional ao valor total dos contratos de pesquisa e desenvolvimento industrial concluídos pela empresa no ano anterior. A taxa de cálculo varia de acordo com o tipo de instituição e a empresa contratante. Quando se trata de contratos entre EPCs clássicas e grandes empresas, ela é de 10,5% do valor total faturado no ano anterior e de 50% do total de negócios contratados com PMEs. No caso de empresas vinculadas ou de órgãos públicos de pesquisa, a proporção é de respectivamente 7% do valor dos contratos com grandes empresas e de 33,3% com PMEs. O financiamento visa a renovação do capital científico e tecnológico da empresa de pesquisa sob contrato. Engloba pesquisa a médio prazo, aperfeiçoamento de pessoal técnico e modernização dos instrumentos básicos. A pesquisa deve ser de amplo espectro, sem aplicação industrial específica, e os equipamentos de alto padrão tecnológico.18 O apoio do Estado a estas empresas implica no reconhecimento da importância das tecnologias genêricas para o desenvolvimento industrial e do papel das EPC no seu domínio e aplicação e difusão. Cinco anos após sua instauração na França, este financiamento resultou no aumento de 31% do efetivo de pesquisa sob contrato e de 48% do número de contratos, induzindo a um significativo aumento dos investimentos. O valor dos créditos concedidos pela ANVAR em 1994, com base no volume total de negócios de 1993, foi de US$ 18.6 milhões, dos quais US$ 13,6 milhões para as trinta empresas clássicas de pesquisa sob contrato.19 Esta demanda e os investimentos diretos das EPCs sugerem uma 18 Fonte: ANVAR, Aide-memoire sur labondement en faveur des sociétés de recherche sous contrat. Paris, setembro de 1992, pp. 2- 6. Devido a uma conjuntura econômia desfavorável em 1993, responsável por cortes no orçamento público e uma conseqüente redução no número de contratos, os valores de 1994 incluem uma aumento excepcional de 10% nas taxas de cálculo dos créditos da ANVAR. Veja: Aide à linnovation technologique, já citada, p 64. 19 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 75 constante preocupação com a manutenção de seus equipamentos e capacitação de seu pessoal técnico. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS DE PESQUISA SOB CONTRATO NO MERCADO DE TECNOLOGIA O êxito de uma EPC não se mede apenas por sua capacidade tecnológica ou pelo grau de interação com seus parceiros científicos, mas também por sua atuação no plano comercial. Neste tópico, buscase mostrar a importância de sua relação com a clientela e as eventuais dificuldades ligadas à questão do acesso ao mercado. Os contratos firmados pelas EPCs definem geralmente sua relação com os clientes. Dentre os diversos tipos existentes, destacam-se os contratos com compromisso de resultados ou de fornecimento de meios, os contratos de cessão de licenças e os acordos-quadro. Os primeiros se referem à subcontratação de pesquisa para a solução de um problema industrial específico, a partir de um cronograma de trabalho, com metas e prazos definidos com o cliente. A indústria automobilística, ao optar por esta modalidade para o desenvolvimento de tecnologias especiais, inclui clausúlas de exclusividade a fim de impedir sua tranferência à concorrência. A segunda categoria engloba os contratos para fornecimento de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado à indústria. Os exemplos mais comuns são os estudos de transferência de tecnologia, comandados pelos centros de pesquisa europeus, ou de estratégia de tecnologia industrial, através dos quais o cliente tem acesso a um estudo ou a um programa já disponível, ou ao pessoal capacitado para desenvolvê-lo. Os acordos-quadro garantem uma assistência permanente ao industrial para a solução de problemas de ordem geral. Trata-se de uma forma cômoda de parceria praticada pelos grandes grupos industriais europeus, principalmente franceses como EDF e SNCF. As claúsulas de exploração dos resultados são previamente acordadas pelas partes. Elas facilitam a realização de trabalhos exploratórios e uma intervenção rápida na prestação de assistência técnica ou consultoria, de valor unitário não superior a U$ 20 mil dólares americanos, sem a necessidade de novas formalidades. A gestão da propriedade industrial constitue um aspecto importante da negociação destes contratos com os clientes. Quando um empresário assina um contrato com uma EPC para o desenvolvimento de processo específico a patente obtida é geralmente de propriedade do cliente. Mas quando se trata de tecnologia genêrica de uso múltiplo, a empresa de pesquisa negocia os resultados obtidos fora do setor de origem para sua aplicação em vários domínios. As patentes obtidas em comum e com 76 Paulo César Siqueira divisão de custos são exploradas em parceria. No entanto, as patentes registradas pela EPC, sem nenhuma participação do cliente, podem ser exploradas diretamente pela mesma através de filiais ou dos contratos acima descritos. A clientela de uma EPC se compõe de promotores e de usuários dos avanços tecnológicos obtidos. O primeiro grupo compreende os órgãos públicos encarregados da promoção do desenvolvimento científicotécnico, sem finalidade de uso direto. A ANVAR, o Ministério da Pesquisa e as forças armadas francesas, bem como a Comunidade Européia cumprem este papel para satisfazer a demanda de outros usuários. Este fato reflete uma ativa participação do Estado como cliente privilegiado das empresas de pesquisa na Europa. Os pedidos destes organismos representam 30% do volume de negócios da firma francesa Bertin. O segundo grupo engloba a maioria das empresas públicas que demandam uma tecnologia ou sua aplicação para solucionar um determinado problema. Sua participação chega a 70% do total dos negócios da Bertin20 . A subcontratação de parte de componentes tecnológicos pelas grandes empresas (GEC-Alsthom, La Poste, France Telecom) é mais significativa do que das PMEs. Ela ocorre geralmente no âmbito dos projetos nacionais de pesquisa. Existe na França a Associação das Empresas de Pesquisa sob Contrato a Serviço das PMEs, que se encarrega de manter o contacto entre estas categorias. Criada em 1990, por iniciativa da Associação das Sociedades Independentes de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial, esta rede de P & D, composta de 10 membros, visa facilitar a transferência de know how das EPCs para as pequenas médias empresas.21 Esta interação promove a identificação de oportunidades de negócios para as empresas de pesquisa sob contrato. Estas empresas utilizam ainda a experiência e o conhecimento de seu pessoal técnico para descobrir novos clientes. Esta análise prospectiva inicia-se com o intercâmbio de informações entre os técnicos e seus parceiros externos, através da participação em eventos científicos e associações de pesquisa. A interação dos engenheiros das divisões técnicas com os setores comerciais, além de permitir a adaptação de tecnologias genéricas aos interesses do cliente, contribui para estabelecer uma estratégia de mercado. A prospecção a curto e médio prazo baseiase, porém, na evolução dos pedidos e trabalhos realizados a clientes Sobre a atuação francesa, veja: SIQUEIRA, Paulo César. Les sociétés de recherche sous contrat en France: un exemple de liaison entre la recherche scientifique et líndustrie. Paris, CNAM, 1996, pp. 51-75. 20 Veja : DARCEY, Joël, «Sociétés de recherche sous contrat: un élément-clé du transfert». In Courrier ANVAR no. 86, Paris, Março/Abril 1992, pp 5 - 8. 21 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 77 tradicionais. Sua análise fornece uma idéia das necessidades desta clientela. As mudanças no sistema de inovação influi no comportamento das empresas de pesquisa sob contrato. Constata-se nos últimos anos uma transformação gradual da relação destas empresas com sua clientela, fruto de uma participação direta no desenvolvimento de novos processos em áreas estratégicas para a modernização industrial. Até agências como o CNRS, procuram se adaptar às novas exigências, mantendo uma relação mais objetiva com os clientes. Tal reação reforça sua posição como principais concorrentes da iniciativa privada, ao lado dos centros técnicos industriais, dos CRITT e das estatais européias FhG e TNO. As EPCs os têm como seus concorrentes privilegiados, sob a alegação de que o apoio estatal a estes organismos lhes permite uma prestação de serviços a custos inferiores ao do mercado. O custo elevado de P&D é uma constante ameaça à participação destas empresas no sistema. O desempenho das EPCs tem estimulado as indústrias a recorrem cada vez mais à subcontratação, o que reflete uma forma de atuação mais ativa do que passiva. Elas estão menos propícias a participar de uma relação patrão/servidor e mais interessadas a ocupar na prática uma posição de parceiro igualitário. São vistas como indutoras de tecnologia, capazes de analisar objetivamente o problema do cliente e de utilizar seu potencial para encontrar soluções mais adequadas às suas necessidades. A execução de um projeto de pesquisa, com a utilização de mão de obra especializada, supõe, por exemplo, uma estreita colaboração com a estrutura operacional da firma contratante. Não se trata apenas de uma prestação de serviço, mas de uma intervenção objetiva da EPC que orienta a tomada de decisão pelo industrial. Há uma expectativa da clientela em relação aos serviços prestados pelas empresas de pesquisa sob contrato que deve nortear suas ações. Dentre os seus interesses, destacam-se : 1. A clientela quer ter acesso a equipamentos inovadores e prestes a serem usados, o que obriga a empresa a manter equipamentos modernos e pessoal técnico capacitado. 2. O usuário espera uma resposta rápida às suas demandas. Assim, a solução dos problemas propostos deve obedecer a um cronograma a curto prazo, adaptado às suas necessidades. 3. A EPC deve buscar soluções funcionais e de aplicação imediata. A interação objetiva com o cliente é essencial para a definir os parâmetros e otimizar os esforços. Deve-se dar um apoio eficaz à tomada de decisão, mas cabe ao usuário a libertade de decidir. 78 Paulo César Siqueira Na prática, poucos clientes são capazes de definir claramente a tarefa a executar. Além do mais, o recurso a tais empresas de pesquisa significa que o cliente tem a expectativa de obter uma maior-valia tecnológica, uma contribuição original, enfim uma verdadeira inovação. Portanto, ele não pode conhecer a priori o desenrolar do trabalho. No início, a EPC também não sabe necessariamente qual será a solução tecnológica adequada ao problema apresentado. Desta forma, uma colaboração efetiva facilita a compreenção e melhor definição das necessidades do parceiro industrial. Este entrosamento pode gerar uma transferência de tecnologia, acompanhada de uma contribuição metodológica ou de uma reorganização da produção. Uma transferência tecnológica dificilmente se reduz a um objeto independente do desenvolvimento de um produto ou de seu processo de fabricação com vistas ao mercado. A falta desta coordenação com cliente gera problemas técnicos, ligados à imprecisão de especificações ou à indicação de parâmetros pouco confiáveis. A imprecisão pode levar a resultados inaceitáveis pelos clientes ou contrários aos seus interesses e expectativas. Outros problemas estão ligados à falta de competência da própria empresa de pesquisa para atender uma demanda específica. Mas, o maior desafio de uma EPC consiste em identificar a necessidade real do cliente para lhe propor uma solução técnica adequada. No plano comercial, as dificuldades se resumem à incapacidade de acesso ao mercado com um produto a preço competitivo. Alguns clientes não conseguem comercializar um novo produto em função de seu preço final. Sua concepção no plano tecnológico se dá sem dificuldades, mas sua aceitação no mercado pode ser inviabilizada pelo alto custo da tecnologia ou do novo material empregado. Ilustra este impasse o desenvolvimento de uma sonda dentária por uma EPC francesa, sob encomenda. Apesar de sua perfeição técnica e de sua adaptação aos interesses do cliente, ela não foi comercializada devido à repercussão do custo dos materiais empregados no seu preço final. Fatores culturais também podem afetar a sua comercialização. Estes exemplos indicam que a solução de problemas industriais se faz em conjunto e por etapas progressivas. Antes de se iniciar a exploração de uma tecnologia, estudos de factibilidade e de mercado são necessários para se evitar os riscos de impasse. A partir das considerações já desenvolvidas, pode-se estabelecer uma síntese das principais preocupações destas instituições de pesquisa em relação à sua participação no mercado de tecnologia, conforme relacionado abaixo. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 79 1. Cada empresa de pesquisa sob contrato deve constantemente tentar manter uma vantagem tecnológica na sua área de atuação ou campo de especialização, em relação aos concorrentes. 2. As EPC devem desenvolver tecnologias adaptáveis a várias funções. Seus esforços devem se orientar a uma especialização flexível para atender as diversas necessidades do mercado. 3. A preocupação em garantir um bom nível de competitividade aos produtos encomendados pela clientela é constante. 4. As empresas de pesquisa sob contrato devem estabelecer uma boa interação com seus clientes e um diálogo constante com outras fontes de P&D. Esta interação vai desde o estudo à concepção do produto, passando pela negociação contratual e por sua comercialização. 5. As EPC devem se responsabilizar pelas despesas correspondentes à suas atividades e pelos custos da análise prospectiva para a adaptação de sua tecnologia ao mercado. O equílibrio financeiro deve ter por base os serviços prestados indústria. O recurso às empresas de pesquisa como ponte para o acesso a novos processos depende também da competência tecnológica do interessado. Paradoxalmente, quando mais reconhecida for a competência de uma indústria em certos setores, maior a sua capacidade de identificar tecnologias externas para complementar sua própria competência. Um estudo comparativo das indústrias na Alemanha e na Grã Bretanha demonstra que as firmas alemãs, por serem proporcionalmente mais competentes do que as inglesas, estão melhor preparadas para recorrer às fontes externas de tecnologia. As indústrias na Inglaterra, ao contrário, dependem mais da associação ou fusão com seus parceiros indústriais para garantirem maior competitividade aos seus produtos.22 CONCLUSÃO Depreende-se da presente análise que uma dinâmica favorável catalisa a tentativa de conciliação de interesses entre o pesquisador e o empresário industrial, através da pesquisa sob contrato. As empresas do setor oferecem aos industriais a oportunidade de acesso a conhecimentos e técnicas nem sempre disponíveis internamente. Por outro lado, a cooperação entre as duas partes permite uma divisão de Veja: CHEESE, J., «Sourcing technology-industry and higher education in Germany and Britain». In Industry and Higher Education, março de 1993. pp 30-38. 22 80 Paulo César Siqueira riscos e competências que a torna atrativa. Além da oferta de servicos especializados, o papel destas empresas como agência indutora de tecnologia é incontestável. Devido ao seu profissionalismo, à pluridisciplinariedade de suas ações e flexibilidade de sua atuação, elas são consideradas mais aptas a atender as demandas da indústria do que os centros tradicionais de pesquisa. Desde a sua criação na década de 50, as empresas de pesquisa sob contrato evoluiram qualitativamente em termos técnicos. A tendência à especialização flexível em alguns setores de ponta contribuiu para a melhoria dos serviços prestados à clientela. Graças à constante preocupação com a renovação de sua capacidade técnica, os meios de pesquisa à disposição do industrial são cada vez mais inovadores e eficazes. No plano comercial, esta evolução se caracterizou por uma adequação de suas estruturas administrativas à crise econômica dos últimos anos, responsável pela diminuição dos investimentos públicos e conseqüente queda na demanda de grupos estatais. Como as outras empresas, as EPCs se vêem afetadas por tais flutuações, mas a complexidade de suas ações dificulta uma recuperação a curto prazo. Apesar disto, a pesquisa sob contrato vem se consolidando no sistema de inovação. Observa-se uma efetiva participação das EPCs no desenvolvimento de novos processos e produtos. O seu êxito na Europa influenciou a adoção do modelo pela Polônia e Hungria, no final do regime comunista, dando provas de sua credibilidade. Trata-se, contudo de uma atividade complexa e custosa, na qual a manutenção da vantagem tecnológica em relação às concorrentes implica no aumento significativo de suas despesas. Este fato explica o recurso aos financiamentos externos, principalmente através da participação em programas estatais de pesquisa. Devido ao seu custo, a subcontratação suscita a oposição de muitos industriais das pequenas e médias empresas. Em consequência, o mercado se reduz praticamente aos grandes grupos públicos ou privados, detentores de um expressivo orçamento de P&D. Os dirigentes das EPCs defendem, com entusiasmo, o reconhecimento de seu papel original na como agências de ligação pesquisa/indústria. A realidade, porém, é um pouco mais complexa do que o mero discurso sobre a especificidade de seus serviços. O argumento, as vezes exagerado, tem conotação de propaganda. Contudo, não se pode refutar a importância destas empresas. De fato, não se trata apenas de uma oferta de tecnologia, mas de um processo mais elaborado de transferência de conhecimentos e técnicas ao industrial. Constitui uma interação objetiva que foge às regras clássicas de uma simples transação comercial. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 81 O equilíbrio entre a oferta e a demanda de tecnologia em um mercado competitivo exige a conciliação de fatores comerciais e técnicos para evitar os riscos de insucesso. O seu alto custo não pode ser justificado apenas pela especificidade das prestações. A participação no mercado supõe uma oferta de serviços de qualidade que atenda aos interesses do cliente. O sucesso da subcontratação depende de sua inserção no contexto econômico, representada pela garantia de acesso ao mercado do produto ou processo encomendado pelo industrial. As EPCs privadas européias diferem de suas homologas americanas, devido à sua dependência em relação ao Estado para a exploração de seu potencial tecnológico. Mesmo justificado, o apoio significativo, inclusive como cliente privilegiado, as tornam vulneráveis às políticas governamentais e aos efeitos econômicos em uma situação de crise. Dificulta, inclusive, uma atuação mais objetiva em termos de pesquisa estratégica. Esta posição contradiz a imagem de empresas privadas atuantes em um mercado competitivo. Além das questões analisadas, outros questionamentos poderiam ainda ser colocados sobre as EPCs. Por exemplo, são elas capazes de exercer suas atividades sem o apoio público, de forma a poder concentrar seus esforços na pesquisa estratégica? Os centros acadêmicos de pesquisa poderiam substituir algumas funções essenciais das EPCs no seu papel de interface? Estão elas aptas a expandir suas ações em prol do desenvolvimento regional? As respostas à estas questões dependem de uma análise comparativa de algumas empresas européias e das politícas nacionais para o setor, o que foge ao escopo do presente artigo. De qualquer forma, as considerações já desenvolvidas sobre dinâmica de ação das EPCs confirmam sua importância no sistema de inovação. As informações sobre sua participação no mercado de tecnologia permite avançar que elas continuarão a exercer um papel relevante como agências de interface pesquisa/indústria. Principalmente, quando se observa o seu constante empenho na busca de novas competências e na melhoria de sua relação com a clientela, para assegurar uma posição no mercado. Apesar do reconhecimento desta atividade pelo sistema, a conciliação do fator tecnológico com sua comercialização representa sempre um desafio. Estabelecidas as bases, restam ainda dificuldades a ultrapassar para o pleno êxito da pesquisa sob contrato. O esforço de inovação e a adaptação às exigências do mercado deverão sempre guiar suas ações. 82 Paulo César Siqueira BIBLIOGRAFIA ANVAR, Aide à linnovation technologique: bilan 1994 et objectifs 1995. Informativo à imprensa. Paris, ANVAR, fevereiro de 1995. BRAUNLING, G., Public policies supporting technology appropriation. Monografia apresentada na Conferência sobre Tecnologie e Competitividade. OCDE, junho de 1990. CASSIER, Maurice, Les contrats de recherche entre luniversité et lindustrie: lémergence dune nouvelle forme dorganisation. Paris, Escola de Mines, 1995. Tese de doutorado. CAVALIER, Michel, Le conseil en hautes technologies. Paris, STS/CNAM, 1995. CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Les relations avec les entreprises: la recherche à objectifs partagés et les transferts de technologie. Paris, CNRS, 1995. CHEESE, J., « Sourcing technology- industry and higher education in Germany and Britain », in Industry and Higher Education, Março de 1993. - CEE (Commission des Communautés Européennes ), Les organismes de recherche sous contrat dans la CEE. CEE/EUR, 12112-FR-EN, 1989. DARCEY, Joël, « Sociétés de recherche sous contrat: un élément-clé du transfert », in Courrier ANVAR no. 86. Paris, Março/Abril de 1992. EACRO (European Association of Contract Research Organisations), Contract research. Dordrecht, Klumer Academic Publishers/EACRO, 1991. - EACRO. European technology directory, Londres, EACRO/ Business Image, 1993. MESR (Ministère de LEnseignement Supérieur et de la Recherche), Les centres de ressources technologiques pour linnovation dans les PME. Paris, MESR, fevereiro de 1995. OCDE (Organisation de Coopération et de développement Economiques), La politique dinnovation en France. Paris, Economica, 1986. - OCDE, University enterprise relations in OECD member countries, DSTI/SPR/89.37. Paris, OCDE, 1990. OST ( Observatoire des Sciences et des Techniques) Science et technologie - indicateurs 1994. Paris, Ed.Economica/OST, 1995. SIQUEIRA, Paulo César. Les sociétés de recherche sous contrat en France: un exemple de liaison entre la recherche scientifique et líndustrie. Paris, CNAM, 1996. WEBSTER, Andrew, « Bridging institutions: the role of contract research organisations in technologiy transfer ». In Science Policy, volume 21, no. 2, Abril/1994, pp 89-97. Resumo O presente artigo, baseado na análise da atuação de grupos privados franceses, traça um perfil das EPCs (Empresas de Pesquisa sob contrato), a partir da análise de seus objetivos, características e da comparação com outras fontes de tecnologia. Explica como se faz a ligação pesquisa/indústria e em que modalidades. Apresenta um breve panorama sobre as EPCs na Europa, ressaltando sua importância como mecanismo de transferência de PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 83 tecnologia. Trata-se, acima de tudo, de um estudo de sua forma de atuação e de sua participação no mercado. Busca-se mostrar, a partir de sua relação com os parceiros científicos e comerciais, se as vantagens que lhes são conferidas justificam a existência do modelo e sua capacidade de atender às exigências da indústria. Parte-se da hipótese segundo a qual a evolução do sistema industrial, tendo criado uma demanda de serviços tecnológicos especializados, possibilitou o surgimento destas empresas de pesquisa. O estudo mostra que uma dinâmica favorável catalisa esta tentativa de conciliação de interesses entre o pesquisador e o empreendedor industrial. As EPCs são consideradas mais agéis e eficazes que os organismos públicos para responder às necessidades da indústria. Elas participam do desenvolvimento de novos processos, explorando seu potencial para encontrar soluções normalmente impensadas. Seu papel de agência indutora de tecnologia é incontestável. Supondo que o desenvolvimento tecnológico se impõe como um meio de acesso ao mercado, suas vantagens reforçam a adequação do presente instrumento. O desempenho das EPCs européias e a adoção deste modelo por outros países do continente confirmam sua eficiência. Abstract The contract research organizations (CRO) as agencies of linking research and industry, offer industrials acess to technical know-how to solve specific problems and to become more competitives. This article evaluates the questions related to technology transfer from these kind of organizations to industry, in France. Based on the analysis of the activity of some private French organizations, the study allows the evaluation of their capabilities to meet clients requirements within a competitive market. Additionally, followed by personal interviews with staff members of those organizations, the study develops a profile of them in Europe, explaining their different types, their methodology of action, their role within the innovation system and their relation with financial agents, researchers and clients. The state of the art of CRO in Europe helps to understand research under contract in that region of the world. The article also address the issue of whether environment favors their activities in France. O Autor PAULO CÉSAR SIQUEIRA é doutor em Ciência, Tecnologia e Sociedade peolo Centro Science, Technologie et Société (STS) do Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), em Paris, França. Atualmente ocupa o cargo de Coordenador Executivo do Acompanhamento e Avaliação do Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (PRONEX) do CNPq. 84 Paulo César Siqueira Política e Organização da Inovação Tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 85 Instituições públicas de pesquisa e o setor empresarial: o papel da inovação e da propriedade intelectual SIMONE SCHOLZE CLAUDIA CHAMAS As profundas alterações realizadas na legislação de propriedade intelectual permitem hoje ao País colocar em vigor mecanismos que privilegiem a intensificação do intercâmbio entre nossas instituições de pesquisa, onde tradicionalmente a invenção é gerada, e o setor industrial, mais qualificado para levar essas invenções ao mercado. É necessário, portanto, discutir e implementar os instrumentos adequados ao aparelhamento de nossas universidades e institutos de pesquisa, para fazer face às novas demandas no campo da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia, no que diz respeito aos projetos científicos e tecnológicos em associação com a iniciativa privada. Nos países industrializados, onde essa experiência já se verificou, muitos estudos evidenciam que as práticas cooperativas têm aumentado e novos produtos e processos surgem a cada ano em decorrência dessas parcerias. O fortalecimento desse vínculo foi estimulado tanto pelas políticas governamentais, como pela própria percepção de sua importância pelos dois setores. A cooperação deixou de ser uma atividade informal, como acontecia no passado, para adquirir um caráter formal, freqüente e planejado, com relações regidas por contratos que incluem a regulação de direitos de propriedade intelectual gerados no âmbito de projetos cooperativos de pesquisa. Nos Estados Unidos, o apoio governamental para P&D envolvendo cooperação entre empresas, universidades e laboratórios federais teve início nos anos 60, mas expandiu-se fortemente com a aprovação do Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, em 1980. Essa lei abriu os laboratórios federais para o setor industrial, disponibilizando não apenas infra-estrutura altamente especializada, como também oportunidades de parceria no financiamento e uso por instituições privadas de tecnologias desenvolvidas por instituições públicas de pesquisa. 86 Claudia Chamas & Simone Scholze Merece também destaque o papel desempenhado pelo Bayh-Dole Act no cenário da pesquisa nos EUA. Através dessa legislação foi implementada política federal de propriedade intelectual uniforme que permitiu às universidades, institutos de pesquisa e pequenas empresas reter a titularidade de patentes de invenções derivadas de pesquisas financiadas com recursos públicos federais e facultar às instituições beneficiárias desses recursos transferir tecnologia para terceiras partes. O Bayh-Dole Act estimulou decisivamente a análise custo/benefício por parte das empresas no que concerne aos investimentos para desenvolvimento e exploração comercial de tecnologias geradas nas instituições públicas de pesquisa, concedendo a titularidade dos direitos patentários a universidades, pequenas empresas e instituições sem fins lucrativos. Conforme dados da Association of University Technology Managers, a taxa de patenteamento nas universidades aumentou consideravelmente desde a implantação do Bayh-Dole Act. O estudo da AUTM nas 130 principais universidades identificou ainda a existência de 9.300 licenças ativas de comercialização de patentes, que geram royalties anuais de 300 milhões de dólares. Descontando-se 20% de despesas (taxas, anuidades de patentes, etc.), o valor líquido rateado entre as instituições de pesquisa e os pesquisadores é da ordem de 240 milhões de dólares ou, em média, de 26 mil dólares por patente. Nos Estados Unidos, de modo geral, o rateio adotado pelas universidades é de um terço para a universidade, um terço para o departamento onde se deu o invento e um terço para o pesquisador - ou equipe - inventor. Ou seja, em média, a premiação do pesquisador corresponde a oito mil dólares ano. Tomando-se apenas as dez universidades mais produtivas, a retribuição média anual por patente sobe para 60 mil dólares e a participação do pesquisador - ou equipe - para 20 mil dólares anuais. Em geral, as grandes universidades americanas contam com um escritório interno encarregado de cuidar dos aspectos legais e administrativos da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia. Esses escritórios de propriedade intelectual e transferência de tecnologia dispõem de equipes pequenas, integradas por administradores, economistas ou profissionais de outras áreas e por pessoal de nível técnico, não possuindo, em geral, profissionais com formação jurídica. Os aspectos litigiosos são tratados por escritórios de advocacia contratados fora da universidade. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 87 NOVOS MECANISMOS DE ESTÍMULO À PESQUISA COOPERATIVA ENTRE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NO BRASIL Tendo em vista que a proteção legal da propriedade intelectual tornase, também entre nós, vigoroso instrumento da política científica e tecnológica, foi publicado em abril último o Decreto Nº 2.553/98, que regulamenta a Lei de Propriedade Industrial, notadamente nos aspectos relativos ao compartilhamento de royalties entre as instituições públicas de pesquisa e universidades e seus pesquisadores. Determinam os artigos 88 e 89 da Lei de Propriedade Industrial que, embora pertença exclusivamente ao empregador a invenção decorrente de contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, poderá ser concedida ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente.1 Tal faculdade não se estendia, no regime anterior, às instituições públicas. Os resultados financeiros ou quaisquer outros benefícios gerados pela atividade inventiva do empregado pertencia exclusivamente à União. Assim, verificava-se, não raro, evasão de invenções dos institutos de pesquisa para o setor privado ou desestímulo do pesquisador em envolver-se em atividades de caráter tecnológico. Hoje, por força do artigo 93 da Lei de Propriedade Industrial, esses dispositivos também aplicamse às entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. Com base no Decreto Nº 2.553/98, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e o Ministério da Educação (MEC) elaboraram portarias que disciplinam a implantação do mecanismo de premiação em seus respectivos órgãos e entidades vinculadas: Portaria MCT 88/98 e Portaria MEC 322/98. Ambos os instrumentos aplicam-se, nas respectivas esferas de competência desses Ministérios, a todas as criações intelectuais, que envolvam inovação tecnológica, passíveis de proteção, ou seja, invenções, aperfeiçoamentos, modelos de utilidade, desenhos industriais, programas de computador e novas variedades vegetais Assim, os ganhos econômicos resultantes da exploração de criação intelectual, protegida por direitos de propriedade intelectual, de servidor de órgão ou de entidade do MCT, no exercício do cargo, serão compartilhados a título de incentivo em parcelas iguais e durante toda a vigência da proteção intelectual entre o órgão ou a entidade do Obviamente, pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção por ele desenvolvida desvinculada do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de meios, materiais, instalações e equipamentos do empregador (art. 90 da Lei Nº 9.279/96). 1 88 Claudia Chamas & Simone Scholze ministério, titular do direito de propriedade intelectual, responsável pelas atividades das quais resultou a criação intelectual protegida; a unidade do órgão ou da entidade do ministério onde foram realizadas as atividades; e o servidor autor da criação intelectual protegida. A portaria inova ainda ao estabelecer que órgãos e entidades do MCT deverão, ao celebrar quaisquer instrumentos contratuais relativos a atividades que possam resultar em criação intelectual protegida, estipular cláusulas de confidencialidade, a titularidade e a participação dos criadores na criação intelectual protegida. E mais, condiciona à observância da portaria a concessão de financiamentos, auxílios financeiros e bolsas de órgãos do MCT, como FINEP, CNPq, PADCT e PRONEX, sob pena de seu cancelamento. Espera-se que essas medidas tenham impacto favorável no nível das atividades inovativas dos institutos e universidades. Consoante o relatório do Projeto Inventiva, realizado em coordenação pelo Ministério da Indústria e Comércio, o INPI e o SEBRAE, o baixo desempenho das universidades e centros de pesquisa brasileiros, relativamente ao patenteamento de suas invenções, deve-se, entre outros fatores, à falta generalizada de reconhecimento de que a patente constitui importante indicador tecnológico, revelando a excelência tecnológica da instituição, bem como aos desconhecimento dos benefícios econômicos da exploração dessas criações intelectuais. Soma-se a esse dois fatores o desestímulo para buscar o patenteamento que ainda prevalece na comunidade de pesquisa, vez que quaisquer benefícios financeiros oriundos da comercialização e do licenciamento dessas invenções destinavam-se, até data recente, exclusivamente aos cofres da União. Os números dos pedidos de patentes por parte de universidades e institutos de pesquisa residentes no Brasil reflete sobretudo a baixa cultura de proteção da propriedade intelectual entre nós. Especialmente no ambiente acadêmico, ainda predomina a noção de que o novo conhecimento deve ser imediatamente publicado e livremente intercambiado. A pesquisa acadêmica tradicionalmente caracteriza-se pela liberdade de investigação e pelo livre fluxo das informações. As pesquisas empreendidas em universidades não têm necessariamente que resultar em algo comercializável e não buscam necessariamente atender ao mercado. O lucro não é o objetivo dos projetos. Por outro lado, a atividade empresarial enfatiza a obtenção de lucro, a preocupação com a qualidade e segurança, o preços dos produtos e a manutenção do sigilo em torno das atividades tecnológicas e comerciais. Uma vez que os resultados da pesquisa são passíveis de proteção intelectual, torna-se necessário que as universidades e institutos de PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 89 pesquisa desenvolvam instrumentos e loci capazes de gerir internamente, de forma adequada, a questão dos direitos de propriedade intelectual, a fim de compatibilizar sua inalienável missão pública com o estabelecimento de parcerias com o setor produtivo, que é obviamente motivado pelo lucro. Por essa razão, algumas de nossas institutos de pesquisa pioneiramente já criaram mecanismos institucionais de gestão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia. · EMBRAPA - Deliberação da Presidência nº 22/96, criando a Política Institucional de Gestão de Propriedade Intelectual, que define orientações gerais para a gestão das várias formas de propriedade intelectual na empresa e estabelece mecanismos operacionais diferenciados para o uso das prerrogativas existentes na legislação vigente e futura que regula e regulará os direitos referentes à propriedade industrial, à proteção de cultivares e à proteção de direitos autorais pertinentes aos produtos de informação - livros, periódicos, vídeos, CDs, softwares e similares. Foi também criado o Comitê de Propriedade Intelectual e a Coordenadoria de Propriedade Intelectual do Departamento de Programação Econômica e Desenvolvimento Comercial. · FIOCRUZ - Portaria da Presidência nº 204/96, regulamenta a propriedade industrial na instituição, estabelecendo procedimentos com relação a direitos de propriedade industrial e demais direitos de propriedade sobre as invenções ou aperfeiçoamentos passíveis de comercialização, resultantes de atividades realizadas na FIOCRUZ. Visa a proteger o patrimônio científico e tecnológico, estimular o processo inovador e possibilitar o retorno do investimento para fortalecer e ampliar a capacitação tecnológica da FIOCRUZ. · No âmbito das Universidades algumas iniciativas já foram consolidadas, a saber: · Universidade Federal de São Carlos: através da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, são negociadas as prestações de serviços entre professores e outras instituições; · Universidade Federal do Rio de Janeiro: por determinação da Resolução nº 01/90, a Fundação Coppetec é responsável pela negociação das prestações de serviços entre professores da Coppe e outras instituições. ·Universidade de São Paulo: a Resolução nº 3.428/88 criou o Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos. 90 Claudia Chamas & Simone Scholze · Universidade Estadual de Campinas: por força da Deliberação CONSU12/88 e da Portaria GR nº 072/93, foram criados a Comissão Permanente de Propriedade Industrial e o Escritório de Transferência de Tecnologia · Universidade Federal de Minas Gerais dispõe desde 1997 da Coordenaria de Transferência e Inovação Tecnológica e a Resolução nº 8, de julho de 1998, do Conselho Universitário definiu a política interna de propriedade intelectual e regulou o compartilhamento de royalties com os pesquisadores daquela universidade. Atualmente é necessário que os institutos de pesquisa (INPE, INPA, INT, CTI, LNCC, LNLS, MPEG, LNA, ON, CETEM, IMPA, CBPF, IBICT) e agências e linhas de fomento (CNPq, FINEP, PADCT, PRONEX) do Ministério da Ciência e Tecnologia também reexaminem as alterações a serem realizadas em seus regimentos e estatutos não apenas para incorporar as disposições do Decreto Nº 2.553/98 e da Portaria MCT 88/98, mas também para estabelecer a políticas internas adequadas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Acresce a essas iniciativas a incorporação entre os temas estruturantes do Avança Brasil 2000-2003 (PPA) do Programa Inovação e Competitividade, cujo objetivo é aumentar a competitividade das empresas nacionais. Trata-se do maior programa em termos de volume de recursos quando incluídas todas as fontes, envolvendo o montante total de R$ 5.3 bilhões para os quatro anos do PPA, dos quais R$450 milhões do Tesouro; R$1.3 bilhões da FINEP (extra orçamento geral da União); R$ 430 milhões de renúncia fiscal e mais de R$ 3 bilhões oriundos de.parcerias (estados, municípios, estatais, setor privado). O programa implementará 16 ações voltadas para capacitação de pessoal; fomento ao desenvolvimento tecnológico; financiamento a P&D nas empresas; estudos e painéis; e execução direta de inovações pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT). As ações mais específicas referemse a: micro e pequenas empresas; redes cooperativas de pesquisa para empresas; impacto das inovações tecnológicas no emprego e na educação; empresas exportadoras; empresas de base tecnológica; empresas de setores de impacto social (habitação, saneamento, transporte, energia); e capacitação de assessores e dirigentes sindicais. Outras ações do programa são genéricas, a exemplo de: apoio a estratégias de desenvolvimento tecnológico das empresas; desenvolvimento tecnológico industrial; e fomento ao desenvolvimento tecnológico empresarial. Destaque será dado neste programa ao PADCT Tecnológico e aos Incentivos Fiscais (lei nº8661/93). A eventual implantação em nossos institutos de pesquisa de escritórios internos de propriedade intelectual e transferência de PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 91 tecnologia, bem como de outros mecanismos instucionais facilitadores da associação entre as instituições públicas de pesquisa e o setor privado, certamente, deverão ter como objetivo preparar as instituições públicas de pesquisa para a proteção dos direitos de propriedade intelectual originados no âmbito das atividades de P&D; regulamentar a propriedade intelectual das invenções geradas com recursos públicos e estabelecer mecanismos de negociação e transferência da tecnologia para exploração comercial dessas invenções; e estruturar um sistema de acompanhamento e avaliação do retorno para a sociedade da utilização dos recursos públicos, de forma compatível com o Plano Plurianual de Governo. SIGLAS CBPF - Centro Brasileiro De Pesquisas Físicas CETEM - Centro De Tecnologia Mineral CNPq - Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico CTI - Fundação Centro Tecnológico para Informática FINEP - Financiadora De Estudos E Projetos IBICT - Instituto Brasileiro De Informação Em Ciência E Tecnologia IMPA - Instituto De Matemática Aplicada INPA - Instituto Nacional De Pesquisas Da Amazônia INPE - Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial INT- Instituto Nacional De Tecnologia LNA - Laboratório Nacional De Astrofísica LNCC - Laboratório Nacional De Computação Científica LNLS - Laboratório Nacional De Luz Síncroton MAST - Museu De Astronomia E Ciências Afins MCT Ministério da Ciência e Tecnologia MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi ON - Observatório Nacional PADCT Programa Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico PRONEX Programa de Apoio à Núcleos de Excelência SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Resumo O artigo enfatiza a importância de se discutir e implementar instrumentos adequadados ao aparelhamento de nossas universidades e institutos de pesquisa com o objetivo de fazer face à novas demandas no campo da propriedade intelectual e da tranferência de tecnologia, principalmente nos projetos científicos e tecnologicos associados ao setor produtivo. Abstract This paper emphasizes the importance in opening up the instruments discussions and implementation suited in order to have a better infra-structure in our universities and research institutions with the objective to satisfy all new demands of intelectual proprietorship in the field and technological transfers, specially in scientific and technological projects associated to the productive sector. 92 Claudia Chamas & Simone Scholze As Autoras SIMONE SCHOLZE, Advogada, Assessora do Ministro da Ciência e Tecnologia, Mestre em Direito pela Universidade de Brasília. CLAUDIA CHAMAS, Engenharia Química, Analista em C&T da Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, Doutoranda em Engenharia de Produção pela UFRJ. Politíca e Organização da Inovação Tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 93 As Plataformas Tecnológicas e a Promoção de Parcerias para a Inovação MARILEUSA D. CHIARELLO O desenvolvimento acelerado da tecnologia da informação, aliado à diminuição das distâncias resultante da recente globalização da economia, vêm transformando rapidamente as relações da sociedade neste final de século, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico e social. De fato, nunca foi tão difícil para as empresas manter-se no mercado como atualmente. O setor privado nacional, que havia se beneficiado de uma estratégia de desenvolvimento voltada para dentro e acompanhada de inflação alta crônica, deparou-se com outros desafios, desde a questão da qualidade e da relação com clientes até a preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, além da necessidade permanente de inovar. As últimas décadas no Brasil foram caracterizadas por um distanciamento entre os investimentos em C&T e a demanda por inovação no setor privado. Os investimentos públicos concentraram-se majoritariamente na área da ciência e o setor privado investiu pouco em desenvolvimento tecnológico. Nesse período, o governo brasileiro investiu uma quantia significativa de recursos para ampliar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento do sistema de ciência e tecnologia do país. Somente o CNPq/MCT gastou em média mais de R$500 milhões anualmente na capacitação de recursos humanos. Em decorrência, a produção científica brasileira apresentou um crescimento expressivo, passando de aproximadamente 2.000 artigos publicados em 1980, em revistas especializadas, de acordo com o Science Citation Index, para 6.000 publicações em 1996 (Cruz, 1999). Analisando-se a questão pela ótica do desenvolvimento tecnológico, mensurado pela preocupação com a proteção da propriedade intelectual, observa-se que o crescimento da produção científica brasileira não se traduziu em resultados inovadores para o setor empresarial. O número de solicitações de patentes por residentes no Brasil permaneceu estável em torno de 2.300/ano no período 1984 a 1993, o que é indicativo de um baixo nível de internalização dos resultados do desenvolvimento científico. No mesmo período, o número de patentes no Brasil por nãoresidentes aumentou de 4.600 para 14.500 (Albuquerque, 1998). 94 Marileusa D. Chiarello Por outro lado, vários fatores puderam ser identificados como inibidores de investimentos privados em C&T: a experiência limitada do setor produtivo em P&D, a carência de tradição em cooperar com a comunidade científica na base cliente/contratante e as políticas públicas de estímulo à participação do setor privado em atividades de C&T insuficientes (PADCT, 1997). CONECTANDO OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO No Brasil, o setor produtor de conhecimento é majoritariamente representado por instituições públicas, enquanto o setor usuário, que, através do processo de inovação, internaliza conhecimentos e gera bens e serviços, é quase sempre privado. Frente ao problema representado pelo baixo grau de apropriação do conhecimento para promover a inovação, muitos esforços precisam ser feitos para aumentar a conexão entre os dois setores. De fato, um dos problemas mais simples que afeta o desempenho dos sistemas locais de inovação é o desconhecimento da oferta tecnológica por parte das empresas e da demanda por tecnologias por parte das instituições de C&T, além do desconhecimento dos mecanismos de cooperação e financiamento por ambos os setores. Entre as experiências brasileiras recentes que visavam a promover a conexão e estimular a participação setorial na definição de prioridades em tecnologia destacaram-se as Missões Tecnológicas de Minas Gerais, os diagnósticos de demanda em setores industriais no Rio Grande do Sul e as Plataformas Tecnológicas, de abrangência nacional. As Missões Tecnológicas de Minas Gerais concentraram esforços no desenvolvimento de áreas escolhidas pelo consenso de partes distintas da sociedade. Seis Missões foram instituídas: Florestas Renováveis, Gemas e Jóias, Biotecnologia, Aquicultura, Gestão de Resíduos e Agenda 21. Na sua implementação, Minas mobilizou recursos humanos, materiais e financeiros muito além dos orçamentos governamentais. Como principais resultados, as Missões mobilizaram produtores, organizaram associações para desenvolvimento de projetos conjuntos, facilitaram a absorção de tecnologias, promoveram a qualificação de mão de obra entre outros (SECT/MG, 1997). No Rio Grande do Sul, o Núcleo de Gestão da Inovação Tecnológica da UFRGS desenvolveu uma metodologia simplificada para a identificação de demandas tecnológicas pelos atores envolvidos no processo. A metodologia baseia-se na constituição de grupos focais (um grupo focal é normalmente constituído por 6 a 12 pessoas, dispostas no mesmo lugar para discutir o tópico de interesse) e tem, como principal atrativo, a geração de resultados rapidamente. Doze setores econômicos foram investigados: Agro-alimentar, Bebidas e Vinho, Borracha, PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 95 Calçados, Couro e Peles, Editorial e Gráfico, Eletro-eletrônico, Fumo, Madeira e Mobiliário, Metal-mecânico, Químico e Têxtil e Vestuário. A experiência configurou-se como um novo padrão de busca de informações, que servem para auxiliar nos mais diversos processos decisórios. Os resultados do trabalho permitiram a identificação de um perfil geral das necessidades tecnológicas do Estado, o que foi fundamental para o surgimento de propostas concretas para incrementar a competitividade dos setores (Zawislak & Dagnino, 1998) A terceira experiência foi a das plataformas tecnológicas, concebidas para promover a mobilização de setores específicos da sociedade brasileira em torno de uma agenda comum de prioridades. Esses projetos foram financiados pelo Componente Desenvolvimento Tecnológico CDT, parte integrante do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico PADCT. O PADCT objetiva promover o desenvolvimento tecnológico das empresas nacionais e aumentar os investimentos privados em C&T, estimulando a formação de parcerias entre os setores acadêmico e produtivo. Enfatiza os projetos cooperativos, demandados e cofinanciados pelo setor privado, e apoia a criação de espaços para o estabelecimento de percepções compartilhadas e de articulações de programas de pesquisa de interesse comum a empresas e instituições acadêmicas (Plonski, 1998). Atua através de Editais públicos, oferecendo recursos não reembolsáveis para projetos co-financiados pelo setor privado, que provem mérito segundo critérios técnicos, sociais e econômicos preestabelecidos, definidos com base em demandas previamente identificadas. A EXPERIÊNCIA DAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DO CDT Na metade dos anos 90, o Sub-programa de Biotecnologia (SBIO) do PADCT II, com o intuito de gerar demanda de propostas para projetos de cunho mais tecnológico que científico, selecionou, nos campos da biotecnologia humana, animal e vegetal, temas de interesse social e econômico para o País. Na saúde humana, o foco foi dado à questão do diagnóstico precoce de câncer de colo do útero. Na área animal, a preocupação era a sanidade dos rebanhos brasileiros e na área vegetal, as pragas que atacam lavouras. O programa de agronegócios do CNPq viabilizou recursos e vários esforços foram feitos para mobilizar os atores que, de alguma forma, estavam ligados ao setor em questão. No caso da área vegetal, por exemplo, dois problemas principais foram abordados: a Vassourinha de Bruxa, praga que estava comprometendo o parque cacaueiro da Bahia e a clorose variegada de citros (CVC), provocada pela bactéria Xylella fastidiosa, muito preocupante para o setor citrícola, em especial o Estado de São de Paulo, maior produtor de laranja e de suco concentrado do mundo. Todos os atores das respectivas cadeias 96 Marileusa D. Chiarello produtivas foram incitados a identificar os gargalos tecnológicos que resultavam em entraves para o desenvolvimento das mesmas. A iniciativa levou, entre outros resultados, ao estabelecimento de diagnósticos das respectivas áreas, à criação de associações específicas e à formalização de parcerias para a resolução dos problemas levantados. Uma das parcerias culminou, recentemente, em um projeto cooperativo envolvendo o setor citricultor paulista e uma rede de laboratórios na implementação do projeto Genoma da Xilella fastidiosa, co-financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Dado o êxito obtido com a iniciativa do SBIO na área de fomento da demanda de projetos tecnológicos, o PADCT, na sua terceira edição (PADCT III), incorporou esta experiência ao seu portfólio de projetos financiáveis conceituando-a como plataformas tecnológicas. Na ótica do programa, as plataformas visavam a criar um ambiente propício ao estabelecimento de diálogo entre áreas da indústria, agricultura, serviços, governo e instituições de Pesquisa e Desenvolvimento. O resultado principal esperado desta aproximação era a formulação de projetos cooperativos, setoriais ou regionais, ou até mesmo projetos cooperativos para o desenvolvimento de produtos ou processos de interesse de uma empresa ou grupo de empresas, para os quais o CDT previa diferentes mecanismos de financiamento. As plataformas podem ser propostas por universidades, institutos, fundações estaduais, agências federais e outras instituições de P&D, entidades de classe ou ainda qualquer grupo de interesse organizado, de cunho tecnológico, comprometido com a promoção da inovação tecnológica. A metodologia de trabalho das plataformas é extremamente variável, mas, de forma geral, inclui a organização de seminários, grupos de trabalho, estudos, levantamentos e visitas técnicas Quadro 1. Resultados do julgamento das propostas de plataformas tecnológicas apresentadas na primeira e na segunda rodadas do Edital CDT 01/98 N úm ero de propostas 1ª Rodada 2ª Rodada TOTAL Recursos envolvidos Dem anda Contratadas Dem anda Contratadas Total* (R$ m ilhões) % privado** Total* (R$ m ilhões) % privado* * 78 10 16,1 41 2,1 50 87 20 19,4 116 4,0 116 165 30 35,5 71 6,1 87 *Somatória dos recursos solicitados ao PADCT e oferecidos como contrapartida. **(Recursos de contrapartida privada oferecida/ recursos solicitados ao PADCT)*100. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 97 No primeiro ano de atuação, as duas rodadas do Edital CDT 01/ 98, convocando parcerias para a implementação de Plataformas Tecnológicas, receberam 165 propostas de projetos, das quais 30 foram selecionadas para contratação (Quadro 1). Um dos principais indicadores do interesse que a atividade de plataformas despertou no setor empresarial é o volume de recursos oferecidos em contrapartida (Quadro 1). De fato, nesta modalidade de projetos, a contrapartida privada não era obrigatória e não havia um limite mínimo pré-estabelecido. Pode-se observar que, na demanda de propostas da primeira rodada, o valor de contrapartida oferecida correspondia a em torno de 40% dos recursos solicitados ao PADCT. Na segunda rodada os recursos de contrapartida privada foram superiores em quase 120% aos solicitados ao PADCT. Este fato foi observado também nas outras modalidades de projetos então financiadas pelo CDT. No total geral, a contrapartida privada nos projetos contratados foi superior em 170% aos recursos solicitados do PADCT. O aumento da participação privada na segunda rodada, além de ser indicativo do interesse da indústria nacional em participar de projetos cooperativos, pode ser creditado ao aumento da credibilidade do programa frente ao setor privado. Houve uma expressiva diversidade de temas abordados, desde farinha de minhoca até componentes eletro-eletrônicos, o que exemplifica o alcance das plataformas como ferramenta de mobilização de setores específicos. Quando analisados os volumes de recursos, pode-se observar Gráfico 1. Distribuição percentual da contrapartida oferecida pelos setores econômicos na demanda de propostas de Plataformas Tecnológicas do Edital CDT01/98. DEMANDA 12,00 10,07 10,00 9,28 6,36 5,78 6,00 4,89 4,89 4,09 4,06 3,50 4,00 2,00 SAUDE E SERVICOS SOCIAIS PRODUTOS DE METAL MATERIAL ELETRONICO VEICULOS AUTOMOTORES EDUCACAO INFORMATICA ALIMENTOS E BEBIDAS AGRICULTURA/PECUARIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 PRODUTOS QUIMICOS CONTRAPARTIDA ( %) 7,63 8,00 98 Marileusa D. Chiarello que alguns setores econômicos mostraram maior preocupação com a inovação tecnológica, traduzida nos valores de contrapartida oferecidos. Efetivamente, embora na demanda houvesse projetos representantes dos mais de 50 setores econômicos catalogados pelo IBGE, 60 % dos R$ 15 milhões de contrapartida foram propostos por apenas 10 setores específicos (Gráfico 1). Apenas os setores de produtos químicos e de máquinas e equipamentos responderam por quase um quarto de toda a contrapartida privada. Das 30 plataformas contratadas apenas 10 foram propostas por Universidades (Quadro 2). Três propostas tinham como instituição proponente a EMBRAPA e nos outros 17 casos a proposta foi encaminhada por associações ou instituições privadas sem fins lucrativos, representativas dos setores econômicos envolvidos. Esses dados também demonstram o potencial das plataformas para agregar esforços das áreas empresarial e de pesquisa para a busca de soluções de problemas tecnológicos. Entre as plataformas contratadas para financiamento, 70% são oriundas do eixo sul-sudeste (Quadro 3). Na demanda, este percentual era de quase 80%, refletindo a concentração de instituições de P&D e empresas nestas regiões. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS PLATAFORMAS DO CDT As plataformas tecnológicas da primeira rodada foram implementadas durante o ano de 1999 e algumas avaliações preliminares já puderam ser feitas. As da segunda rodada encontram-se ainda em fase de execução. Contabilizou-se em torno de 250 empresas diretamente envolvidas com a execução dos 10 projetos contratados na rodada 01. Além de estabelecer diagnósticos setoriais de oferta e demanda tecnológica, as plataformas possibilitaram a geração de quase uma centena de projetos potenciais, dos quais 60 em parceria com a iniciativa privada. Destes, em torno de uma dezena havia captado recursos de outras fontes para sua implementação, até o final de 1999. Entre outros produtos, a primeira rodada de plataformas promoveu mais de 30 seminários e workshops, além de ter gerado livros, CD-ROM, sites, vídeos e cursos. Os participantes das plataformas, respondendo à consulta formulada pela agência responsável pelo acompanhamento e a avaliação do programa, no caso, o CNPq, consideraram esta modalidade de auxílio importante por estabelecer bases para a gestão de um segmento econômico, criar ambiente favorável e formar cultura na elaboração de projetos cooperativos, contribuir para o desenvolvimento sócioeconômico dos setores envolvidos e proporcionar maior sinergia entre as comunidades industrial e acadêmica. Entretanto, a interrupção dos PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 99 Quadro 2. Plataformas tecnológicas contratadas na primeira e segunda rodadas do Edital CDT 01/98. RODADA 01 Coordenação das Necessidades Tecnológicas e Fomento de Ações Cooperativas em Automação visando o desenvolvimento do setor Industrial do Estado da Bahia Análise da Cadeia de Valor da Indústria de Mármore e Granito e Construção Civil do Espírito Santo Problemas da Produção, abate/processamento e comercialização dos produtos da ranicultura Identificação de Restrições Técnicas, Econômicas e Institucionais ao Desenvolvimento do Setor Leiteiro Nacional Medicamentos para o combate à Tuberculose Plataforma Tecnológica da Cadeia Automotiva do Rio Grande do Sul Plataforma de Polímeros no Sul do Brasil Automação Industrial e Componentes Expansão competitiva do setor de base florestal Plataforma para Indústria Brasileira de Revestimento Cerâmico RODADA 02 Projeto Plataforma em Sanidade Avícola Estudo da Capacitação Tecnológica/Competitividade de Empresas do Setor Metal-Mecânico do Ceará Estudo da Cadeia Produtiva do Mel no Estado do Piauí Projeto Simatec - Tecnologias Apropriadas de Desdobro, Secagem e Utilização da Madeira de Eucalipto e Produtos Sólidos de Madeira de Alta Tecnologia Foro de Tecnologias Limpas e Minimização de Resíduos na Industria Melhoria da Qualidade na Distribuição de Hortifrutícolas: Supermercados como Foco de Irradiação de Tendências Plataforma para o Desenvolvimento e Uso do Controle Biológico e Feromônios de Pragas da Agricultura Brasileira Plataforma Oleoquímica Desenvolvimento Metodológico em Exploração Mineral para a Amazônia Plataforma Tecnológica para o Direcionamento de Projetos Cooperativos de P & D em Sistema Plantio Direto Plataforma de Tecnologias Espaciais Identificação dos Gargalos Tecnológicos Determinantes da Importação de Produtos Químicos Tecnologias para a Indústria de Software no Brasil: Estratégias de Desenvolvimento Plataforma Tecnológica da Erva Mate do Paraná Organização de Plataforma para o Setor Extrativista do Estado do Acre Tecnologias de Informação: Estudo sobre Indicadores de Acessibilidade Plataforma em Engenharia de Requisitos para Elaboração de Estratégias de Aumento de Qualidade no Desenvolvimento de Sistemas Aplicações de Métodos Formais em Projetos e Desenvolvimento de Softwares Embutidos Análise Setorial e de Demandas Tecnológicas da Indústria de Extrusão de Ligas de Alumínio no Brasil Status em Tecnologias mais Limpas nas Operações de Pintura, Usinagem e Tratamento Superficial no Setor Metal-Mecânico do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Instituição Proponente Universidade Federal da Bahia Estado BA Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo Universidade Federal de Viçosa ES Fundação de Desenvolvimento Regional MG Sociedade QTROP de Química Fina para o Combate a Doenças Tropicais Universidade Federal do Rio Grande do Sul Associação Brasileira de Polímeros Regional Sul Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica Sociedade Brasileira de Silvicultura Centro Cerâmico do Brasil Instituição Proponente Uniao Brasileira de Avicultura Instituto Euvaldo Lodi RJ EMBRAPA Universidade Federal de Viçosa PI MG Universidade Federal da Bahia Associacao de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro Universidade Federal de Viçosa BA RJ MG RS RS SP SP SP Estado DF CE MG Universidade Federal do Rio Grande do Sul RS Agência para o Desenvolvimento DF Tecnológico da Industria Mineral Brasileira EMBRAPA DF Associação das Industrias Aeroespaciais do Brasil Associação Brasileira das Industrias Químicas Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software Fundacão para o Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico EMBRAPA Universidade de São Paulo Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro IPT SENAI SP SP SP PR AC SP RJ RJ SP RS 100 Marileusa D. Chiarello Editais do CDT, devido à escassez de recursos, foi apontada por muitos coordenadores de projetos como um dos principais fatores que comprometem a continuidade das parcerias com o setor privado. Cabe salientar que, baseando-se na experiência promissora do CDT, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal lançou, em julho de 1999, um edital destinado à financiar plataformas tecnológicas. Nove propostas visando a solução de problemas que afetam a competitividade de setores sócio-ecômicos de interesse do Distrito Federal foram apoiadas, dentre uma demanda de 25 propostas apresentadas, e encontram-se atualmente em fase de execução. CONCLUSÕES O grande número de propostas de plataformas tecnológicas apresentadas na primeira e segunda rodadas do Edital CDT 01/98 indicou claramente o interesse que esta atividade suscitou na sociedade brasileira. O elevado volume de recursos de contrapartida oferecido pela iniciativa privada refletiu o interesse do setor produtivo nacional em participar do desenvolvimento tecnológico, discutindo soluções em conjunto com o setor público de C&T. O potencial de geração de projetos cooperativos a partir das plataformas ficou evidente, mas a consolidação das parcerias é dependente da disponibilidade de mecanismos efetivos de financiamento. A falta de continuidade das políticas de promoção do desenvolvimento tecnológico, concretizada pela substantiva redução no aporte de recursos para co-financiar as parceiras estimuladas no âmbito do CDT, compromete consideravelmente a mobilização dos setores construída durante a execução das plataformas tecnológicas do PADCT III. SIGLAS CDT: Componente Desenvolvimento Tecnológico CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IPT: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A MCT: Ministério da Ciência e Tecnologia PADCT II: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Fase II PADCT III: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –Fase III SBIO: Subprograma de Biotecnologia do PADCT SECT-MG: Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 101 BIBLIOGRAFIA ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenção de residentes no Brasil (1980-1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos de propriedade intelectual para a construção de um sistema nacional de inovação. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de Doutorado. CHIARELLO, M. D.; RAINERI, P. C.; FREITAS, J. B. Plataformas Tecnológicas do programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico: um instrumento para promover a parceria universidade-indústria. Proceedings I Seminário Internacional sobre Gestão Tecnológica no Nordeste. Fortaleza, Junho de 1999. pp. 409-416. CRUZ, C. H. B. A Universidade a Empresa e a Pesquisa que o país precisa. Humanidades, N.º 45, Editora UNB, 1999. MCT/CNPq Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 1990 - 96, 1997. PADCT. Project Implementation Plan. Documento Básico do Programa. MCT/BIRD, 1997. 106p. PADCT. Project Implementation Plan. Documento Básico do Programa. MCT/BIRD, 1997. PLONSKI, G. A. Cooperação Empresa-Universidade no Brasil: Um Novo balanço Prospectivo. In: IBICT. Interação Universidade-Empresa. 1998. p. 9-23Bibliografia SECT/MG. Programa Estruturante Ciência e Tecnologia: Missões Tecnológicas. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1997. 134pp. ZAWISLAK, P. A & DAGNINO, R. P. Metodologia para Identificação Imediata de Demandas Tecnológicas de Setores Industriais: o caso de três setores gaúchos. Rio das Pedras, Rio de Janeiro. 21º Encontro da ANPAD, 1997. Resumo As plataformas tecnológicas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia foram idealizadas para promover a mobilização de setores específicos da sociedade brasileira, em torno de uma agenda comum de prioridades tecnológicas. Através do aumento da interação entre os setores público e privado, as plataformas podem fomentar a demanda das empresas por tecnologia e favorecer a criação de parcerias com Instituições de P&D interessadas em desenvolver projetos cooperativos.A avaliação das primeiras dez propostas concluídas comprovou o potencial desta modalidade, cuja execução depende do acesso a recursos para financiamento. Abstract This article desicusses the technological plataforms implemented by the Scientific and Techonological Development Program (PADCT) of the Ministry of Science and Technology to promote the mobilization of specific technological for the Brazilian society, within a commom agenda for technological priorites. Thourgh the increase of the interaction between public and private secson, plataforms ca foster the demand for technological increaseing partnership with R&D Institutions interested inf developing cooperative projects. The evaluation of the ten first projects proved to be sucessful and revealed a great of cooperative projects amoung universites and company 102 A Autora Marileusa D. Chiarello MARILEUSA D. CHIARELLO, ex-consultora do Componente Desenvolvimento Tecnológico do PADCT III, é farmacêutica com doutorado em Ciência de Alimentos pelo Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica - INRA, França. Atuou por dez anos no desenvolvimento tecnológico da agroindústria nacional e atualmente é gerente do Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos do MCT, Secretária Executiva da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e coordenadora da pós-graduação em Tecnologia de Alimentos da Universidade Católica de Brasília - UCB. Política e Organização da Inovação Tecnólogica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 103 Tecnologia Industrial Básica como fator de competitividade REINALDO DIAS FERRAZ DE SOUZA CONTEXTUALIZAÇÃO A Tecnologia Industrial Básica TIB reúne um conjunto de funções tecnológicas de uso indiferenciado pelos diversos setores da economia (indústria, comércio, agricultura e serviços). A TIB compreende, em essência, as funções de metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade (ensaios, inspeção, certificação e outros procedimentos tais como autorização, registro e homologação definidos no ABNT-ISO/IEC Guia 02). A essas funções básicas agregam-se ainda a informação tecnológica, as tecnologias de gestão (com ênfase inicial em gestão da qualidade) e a propriedade intelectual, áreas denominadas genericamente como serviços de infra-estrutura tecnológica. A importância do desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica como suporte à atividade produtiva tornou-se mais visível desde que o país optou pelo modelo de inserção competitiva no comércio mundial, do qual resultou a abertura da economia brasileira à concorrência internacional, no início da década de 90. Hoje é amplamente entendido que as funções da TIB compreendem as chamadas barreiras técnicas ao comércio. Assim, os temas Metrologia, Normalização, Regulamentação Técnica e Avaliação da Conformidade são objeto do Acordo de Barreiras Técnicas da Organização Mundial de Comércio e fazem parte da agenda do Mercosul e da ALCA. Naturalmente, é tema presente na União Européia e em todos os blocos econômicos do mundo, dado seu papel estruturante na organização das funções presentes na produção de bens e serviços e seu impacto no fluxo internacional do comércio. O FOMENTO À TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA O termo Tecnologia Industrial Básica - TIB foi concebido pela extinta Secretaria de Tecnologia Industrial STI, do antigo Ministério da Industria e do Comércio- MIC, no final da década de 70, para expressar em um conceito único as funções básicas do SINMETRO - Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, às quais se agregou a Gestão da Qualidade. Os alemães denominaram a TIB de MNPQ - Messen, Normen, Prüfen, Qualität ( explicitando o encadeamento das funções relativas a Medidas, Normas, Ensaios e Qualidade). Nos EUA usa-se o termo Infrastructural Technologies. 104 Reinaldo Dias Ferraz de Souza Para conduzir o processo de capacitação institucional nessas áreas, o Governo Brasileiro concebeu um Subprograma de Tecnologia Industrial Básica dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT, em execução mediante Acordos de Empréstimo com o Banco Mundial desde 1984 (o PADCT III estende-se de 1997 até o ano 2001). O Subprograma TIB vem sendo, desde o seu início, a única fonte regular de apoio à Metrologia, Normalização e Certificação, e Tecnologias de Gestão. Faz parte do TIB, igualmente, sob o tema Tecnologias de Gestão, o PEGQ - Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade, que capacitou um número significativo de entidades técnicas e de consultoria, respondendo pelo treinamento de 28.000 especialistas e, de modo indireto, pela difusão do modelo orientado pelo trinômio Diagnóstico, Treinamento (de facilitadores) e a Implantação (de programas de gestão da qualidade), de outros quase 300.000 profissionais; realizou mais de 30 missões técnicas ao exterior (Japão, EUA, Europa), trouxe quase duas dezenas de especialistas ao Brasil e atendeu a mais de uma centena de projetos de implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade Total em empresas e organizações diversas, públicas e privadas. Tudo isso ocorreu no período 1987-1997. Merece destacar que o primeiro curso de formação de Auditores Líderes de Sistemas da Qualidade (Lead Assessor) licenciado no Brasil pela BSI British Standards Institution, é fruto do PEGQ. O Subprograma TIB contempla, como funções conexas, além dessas áreas, a Informação Tecnológica e, mais recentemente, a Propriedade Intelectual. O PADCT-TIB destinou no período 85/96 (PADCT I e PADCT II) um total de US$ 58,7 milhões investidos da seguinte forma: (i) US$ 21,6 milhões em metrologia; (ii) US$ 13,4 milhões em capacitação de recursos humanos em gestão da qualidade (além do PEGQ, uma série de livros¹, filmes, diagnósticos e a realização de cursos nas áreas de qualidade para diversos setores industriais); (iii) US$ 15,9 milhões em informação tecnológica dando ênfase à criação e consolidação de uma rede de núcleos de informação tecnológica em apoio à indústria (atualmente esta rede consiste de 6 núcleos regionais, 18 núcleos especializados e uma unidade de coordenação localizada no IBICT Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica); (iv) US$ 3,6 milhões (somente pelo PADCT II) nas áreas de normalização e certificação da conformidade, visando ao desenvolvimento de normas de empresas, de normas de setor e de normas para a certificação de produtos relacionados a saúde, segurança e meio ambiente; (v) US$ 4,2 milhões para estudos². O primeiro livro texto sobre Gestão da Qualidade Total produzido no Brasil faz parte desta série e serviu de base para o Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade (PEGQ). 1 Exclui Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - ECIB, cujo valor de U$ 1,6 milhão não está contabilizado no total da TIB, por ter rubrica própria no PADCT II. 2 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 105 O PADCT-TIB possibilitou importantes avanços em TIB no Brasil. Na área de metrologia, base técnica para as atividades de normalização e certificação, o Subprograma TIB possibilitou suplantar graves lacunas quer no Laboratório Nacional de Metrologia LNM, responsável pelos padrões metrológicos primários no país, quer na Rede Brasileira de Calibração RBC, que reúne os laboratórios de nível secundário credenciados pelo INMETRO, os quais fornecem serviços diretamente à indústria. O Subprograma TIB possibilitou ainda a formação de parcerias entre laboratórios da Diretoria de Metrologia Científica do INMETRO e outros laboratórios, o que resultou na criação do Sistema Brasileiro de Referências Metrológicas (aprovado pelo CONMETRO através do Plano Nacional de Metrologia, em dezembro de 1998), além de ter possibilitado a criação do Programa RH-Metrologia, com parcerias do CNPq, CAPES, da OEA e do setor privado. Na área de gestão, os esforços do PEGQ contribuíram também para aumentar o número de empresas brasileiras certificadas de acordo com as normas ISO 9000 (sistemas da qualidade) de 18 em 1991, para cerca de 3.700 em 1999 (com um total de mais de 5.000 certificados em 4.600 unidades de negócios), das quais cerca de 130 empresas receberam apoio do PEGQ (destaque-se que o PEGQ visou à implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade Total e não à certificação de Sistemas de Garantia da Qualidade, sendo portanto esse um produto indireto). Esse processo de certificação de sistemas tem sua base na metrologia, na normalização e nos métodos de gestão. O PADCT vem sendo a principal fonte de fomento à TIB, sendo que no PADCT III o Subcomponente TIB foi organizado em dois conjuntos de atividades somando US$ 20,3 milhões: Serviços de Infraestrutura Tecnológica e Propriedade Intelectual, tendo como objetivos: · Harmonização dos sistemas de metrologia, normalização e avaliação da conformidade, objetivando o reconhecimento mútuo internacional desses sistemas como meio para facilitar o fluxo de comércio, buscando o principio de uma só norma, um só certificado, aceito amplamente; · Modernização do Sistema Brasileiro de Normalização; · Estímulo à ampliação das atividades com vistas à Certificação de Produtos, quer no campo voluntário, quer no campo compulsório; · Estruturação das atividades de Metrologia em Química por meio do apoio à montagem de uma rede de laboratórios voltados para a produção de Materiais de Referência Certificados; 106 Reinaldo Dias Ferraz de Souza · Difusão das Tecnologias de Gestão (qualidade, meio ambiente, tecnologia, negócios e outras), como fator de competitividade; e · Suporte ao desenvolvimento de ações na área de Propriedade Intelectual como forma de promover a competitividade. Algumas referências podem contribuir para a compreensão da importância da TIB: a) Nos EUA, segundo fontes do governo Norte-Americano, as atividades regulatórias em metrologia, com vistas a minimizar erros de medidas na indústria e no comércio impactam diretamente 52,8% do Produto Interno Bruto; b) Os diversos mercados estão cada vez mais exigentes quanto a produtos, exigindo a sua certificação por entidades credenciadas e com base em ensaios realizados por laboratórios credenciados e conduzidos segundo normas (campo voluntário) e regulamentos técnicos (campo compulsório). Sem o mútuo reconhecimento desses sistemas entre países, o preço de um produto será acrescido do custo de tantas certificações diferentes quanto forem os mercados de destino; c) Além da certificação de produtos e serviços cresce significativamente a exigência da certificação de sistemas (da qualidade, de gestão ambiental, de saúde ocupacional e segurança industrial) como condição para que as empresas exportem para outros mercados; d) A disseminação das funções de TIB, incluindo as modernas técnicas de gestão podem contribuir para um crescimento médio da produtividade industrial em cerca de 6% ao ano, ao longo da próxima década, conforme expectativa da CNI (no período de 91-96, esse crescimento foi da ordem de 8% ao ano, segundo dados da mesma fonte); e) A metrologia poderá responder pelas necessidades de aprimoramento dos serviços de interesse direto do cidadão. No caso dos serviços de saúde, os países desenvolvidos dedicam particular atenção à calibração de instrumentos tais como eletrocardiógrafos, esfigmomanômetros, termômetros clínicos e outros. Para se ter idéia do impacto da redução de incertezas de medidas ligadas à saúde, cite-se o caso das medições de colesterol nos EUA cujas incertezas foram reduzidas de aproximadamente 18% em 1969 para aproximadamente 5,55% atualmente, com redução de mais de US$ 100 milhões/ano de gastos com tratamentos equivocados. No Brasil, experiências conduzidas no Rio Grande do Sul mostram que cerca de 80% dos esfigmomanômetros de uma amostragem-teste apresentaram erros de leitura superior a 30%, PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 107 indicando a possibilidade de ocorrência de diagnósticos e tratamentos equivocados em níveis preocupantes. Outros exemplos poderiam explicitar de modo mais amplo os impactos das funções de TIB sobre a economia, a saúde e a segurança. Como exemplo, cite-se a segurança no trânsito, onde os monitores e controladores de velocidade, assim como os etilômetros ainda não estão regulamentados, dificultando a implementação do Código de Trânsito Brasileiro. Vale mencionar aqui que o Ministério da Saúde calculou em cerca de R$ 27 mil o custo unitário dos acidentes fatais no Brasil (hoje em cerca de 30.000/ano). A ampla utilização de equipamentos regulamentados poderia contribuir para uma significativa redução desses índices. Estendendo-se os exemplos para os demais campos de aplicação de regulamentos técnicos, pode-se inferir o benefício social e o potencial de economia direta e indireta que poderiam ser proporcionados por uma maior presença da TIB. O mesmo raciocínio se aplica ao campo voluntário, com um conseqüente aumento da proteção ao consumidor. Entretanto, em que pesem os avanços que o País vem experimentando nessa área, ainda é criticamente diminuto o número de produtos sujeitos à certificação compulsória e voluntária no Brasil, representando uma vulnerabilidade do nosso mercado, tanto no que diz respeito às relações econômicas e de consumo internas, quanto no que se refere à exportação e importação de produtos. Apesar da importância da TIB, vale lembrar que o programa do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT é o único esforço sistemático de apoio à área nos últimos 15 anos e, reconhecidamente, é o instrumento que vem propiciando os mais importantes avanços do País nesse campo. Importante mencionar também que o Programa Recursos Humanos para Atividades Estratégicas - RHAE e Programa de Apoio à Competitividade e Desenvolvimento Tecnológico - PCDT no âmbito do CNPq são instrumentos de fomento adicionais importantes para assegurar ações relativas a capacitação de recursos humanos de interesse da TIB. Para que se tenha uma idéia sintética do alcance dessas ações, o Programa RHAE vem possibilitando na área de TIB: 1. A participação do Brasil através da ABNT-CB-25 no Comitê Técnico 176 da ISO-International Organization for Standardization, responsável pelas normas ISO-9000; 2. A participação do Brasil através da ABNT CB 38 (antigo GANA) no Comitê Técnico 207 da ISO, responsável pelas normas ISO 14.000; 108 Reinaldo Dias Ferraz de Souza 3. A implantação, consolidação e expansão das atividades de certificação no Brasil para produtos, processos, sistemas e serviços através do apoio à Organismos de Certificação Credenciados; 4. A preparação de empresas para a certificação de seus Sistemas da Qualidade e de Gestão Ambiental, através de projetos cooperativos; 5. A consolidação de atividades laboratoriais em calibração (metrologia industrial) e ensaios (base técnica para a certificação de produtos), através de bolsas para complementar o quadro de especialistas nessas instituições; 6. A disponibilidade de pessoal técnico de alto nível no INMETRO para atividades de metrologia científica; A seguir, apresenta-se um resumo dos avanços em Metrologia, extraído de documento da Diretoria de Metrologia Científica e Industrial do INMETRO, no qual se registra ações sobre as quais o PADCT-TIB e os Programas RHAE e PCDT tiveram importante papel. Fortalecimento do Laboratório Nacional de Metrologia (LNM) O apoio técnico e financeiro do Subprograma Tecnologia Industrial Básica TIB, com investimentos da ordem de US$ 10 milhões destinados a fortalecer, no País, a estrutura da metrologia primária, possibilitou promover a atualização tecnológica do Laboratório Nacional de Metrologia (LNM/INMETRO), permitindo não apenas minimizar carências críticas sinalizadas pela crescente demanda de serviços da indústria brasileira, mas também implantar e desenvolver a necessária conscientização sobre o papel da metrologia em importantes segmentos da sociedade brasileira, especificamente, no âmbito das comunidades ligadas à produção de conhecimento em metrologia, ao desenvolvimento de padrões e à implementação de novas técnicas de medição de interesse da indústria. Recomendações do Comitê Técnico de Assessoramento em Metrologia No contexto de vários projetos específicos contemplando as diferentes especialidades da metrologia, a aplicação dos investimentos tomou em conta as recomendações explícitas de um Comitê Técnico de Assessoramento, de nível internacional, especificamente criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT para subsidiar o Governo Brasileiro nas questões técnicas da metrologia, em particular, no equacionamento das deficiências do sistema metrológico nacional. O Comitê Técnico acompanhou durante todo o desenrolar do PADCT-II o avanço do SINMETRO e sinalizou as prioridades para o fomento à Metrologia. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 109 Estímulo às Atividades de P&D em Metrologia Com o substancial apoio dos Programas RHAE e PCDT que destinou, no período de quatro anos, bolsas de especialistas para o Laboratório Nacional de Metrologia no valor equivalente a US$ 7 milhões, foi possível agregar ao quadro técnico do LNM experientes cientistas vinculados a importantes organizações congêneres de países mais industrializados e com maior tradição na prática da metrologia; atrair e motivar jovens cientistas e estudantes de pós-graduação para as atividades metrológicas; dar início ao Projeto Sabático no INMETRO como estratégia para induzir a pesquisa; atrair pesquisadores externos e fomentar, no Instituto e na indústria, a cultura da pesquisa cooperativa de interesse da ciência das medições. O Programa RH-Metrologia: Indução ao Desenvolvimento de RH em Metrologia O Programa RH-Metrologia aprovado no âmbito do PADCT-TIB e inteiramente voltado para o desenvolvimento de recursos humanos em Metrologia, proporcionou o aumento da competência profissional no exercício dessas atividades. Do Programa RH-Metrologia resultaram a implementação pioneira de dois cursos de mestrado e outros cursos em fase de articulação, um curso técnico em metrologia, apoio a teses de doutorado e dissertações de mestrado em metrologia, publicações, treinamentos especializados, escolas avançadas, missões técnicas ao exterior, projetos especiais em áreas críticas da metrologia brasileira, elaboração de pesquisas e diagnósticos, caracterizando um portfólio de importantes realizações. Plano Nacional de Metrologia: Instrumento da Política Metrológica Brasileira No âmbito nacional, foram significativos os avanços e articulações com vistas ao desenvolvimento da metrologia. Com ampla representatividade nos diferentes segmentos da sociedade envolvidos com a metrologia, implementou-se, por decisão do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial CONMETRO, o Comitê Brasileiro de Metrologia - CBM, órgão de assessoramento para formulação e supervisão de políticas públicas para o setor. Contando com expressiva participação da sociedade, sob a supervisão do CBM (dentre os seus membros, o CBM conta com participação de representantes do MCT e do PADCT-TIB) desenvolveu-se, com o foco na demanda, o Plano Nacional de Metrologia - PNM, no contexto do qual foi estabelecido um criterioso diagnóstico do atual sistema metrológico brasileiro, detalhado o planejamento para o horizonte do ano 2002 e definido um quadro de metas para viabilizar a sua 110 Reinaldo Dias Ferraz de Souza transformação face ao processo de globalização da economia e aos desafios impostos pelo Programa Especial de Exportações do Governo Federal. O Plano Nacional de Metrologia, produzido em estreita cooperação com a sociedade, oferece um horizonte de continuidade no planejamento estratégico da metrologia. Ao longo de 1999 um Grupo de Trabalho instituído pelo Comitê Brasileiro de Metrologia identificou as ações prioritárias do Plano Nacional de Metrologia e os agentes responsáveis por sua execução, bem como produziu um Sumário Executivo do Plano. Credenciamento de Laboratórios, Consolidação da Rede Brasileira de Calibração e Reconhecimento Internacional No que concerne à atividade de credenciamento de laboratórios de calibração, os avanços e conquistas foram igualmente importantes. Criada em 1983, a Rede Brasileira de Calibração conquistou a credibilidade da marca RBC e evoluiu de 53 laboratórios credenciados em 1994 para os atuais 100, muitos dos quais alcançaram o credenciamento e ampliaram o seu escopo de atuação com o apoio do PADCT-TIB e do RHAE. Rompida a barreira dos 100 credenciados, fica a confiança em que a Campanha Laboratório Credenciado, lançada pelo INMETRO em três regiões do Brasil com apoio das Redes Metrológicas e das Federações das Indústrias, haverá de estimular os 97 laboratórios que hoje já se encontram em processo de credenciamento, para que seja cumprida a meta do PNM de, novamente, dobrar o porte da RBC até 2002. O escopo do fomento às atividades de TIB no Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT conta também com o concurso de fontes adicionais do próprio Ministério. Assim, no conjunto, o MCT destina à TIB parte dos recursos do PADCT, dos Programas RHAE e PCDT (ambos no CNPq) e parte dos recursos da FINEP/Apoio ao Desenvolvimento da Empresa Nacional - ADTEN (Apoio à Gestão da Qualidade - AGQ) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. No contexto da implantação dos novos Programas Setoriais, como por exemplo o do Petróleo e Gás Natural, surgem novas fontes de fomento para a TIB, dado que as atividades de Metrologia, Normalização, Avaliação da Conformidade, Tecnologias de Gestão, Propriedade Intelectual e Informação Tecnológica estão intimamente ligadas ao desenvolvimento desses setores. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 111 TIB A E GESTÃO DA QUALIDADE A complexidade inerente às funções da TIB e sobretudo as interfaces entre essas funções tornam sua compreensão não trivial, em particular entre os não especialistas. Curiosamente, uma grande fonte que muito tem contribuído para uma adequada compreensão da TIB é a função gerencial, em particular a Gestão da Qualidade. Assim, será útil examinar essa função em particular, no escopo desse artigo, limitando-se esse exame, sem dúvida superficial, aos pontos mais diretamente relacionados à Tecnologia Industrial Básica. De um modo geral podemos fixar a história da Qualidade no Brasil a partir da adesão - não sem traumas - do País ao Sistema Métrico Decimal, em 1862. A adoção do Sistema Métrico de origem francesa implicou também na importação de padrões metrológicos, na sua distribuição pelo território nacional e ainda na adequação do sistema de ensino e dos livros escolares aos novos métodos de medir, com reflexos profundos sobre a organização das atividades econômicas e sobre o cotidiano das pessoas. A efetiva implementação do Sistema Métrico estendeu-se por décadas. A questão que se coloca é o porquê de se correlacionar qualidade com metrologia. Entendemos que, ao se adotar um sistema de medidas de caráter universal (ainda que por limitações técnicas fundamentado, em seus primórdios, em padrões materializados), substitui-se, com vantagens para o consumidor, um aparato de medições de origem antropomórfica (polegadas, pés, jardas, etc) ou pertencente ao mesmo grau de subjetividade e incerteza. É fácil inferir que foi um processo marcado por inúmeras dificuldades, uma vez que por trás de todo esse esforço tratava-se de modificar hábitos e culturas há muito arraigados no comércio e no consumidor de então. Essa origem metrológica, digamos assim, da função qualidade também está presente quando se analisam outros acontecimentos que causaram impacto na história mais recente. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos foi um deles: a intercambiabilidade de peças e componentes de fuzis foi considerada fator crítico de sucesso da União, assim como o início da fabricação em massa de automóveis por Henry Ford, para cujo sucesso a intercambiabilidade de partes e peças é considerada mais importante do que a própria invenção da linha de montagem. Há outras razões, contudo, para se lembrar a base metrológica da qualidade. A primeira deve-se ao fato de que a medida, sua exatidão, 112 Reinaldo Dias Ferraz de Souza repetitibilidade e rastreabilidade, é uma das formas de percepção do cidadão em relação à qualidade, uma vez que se manifesta na relação comercial cotidiana; outra, é porque a certificação de Sistemas de Garantia da Qualidade hoje passa a ter forte base metrológica e essa base em diversas grandezas não se refere mais a padrões materializados, mas naqueles resultantes da realização de experimentos fundamentais em Física e Química. Entretanto, não se pode perder de vista a razão essencial do surgimento e aplicabilidade dos sistemas de gestão: esses modelos gerenciais decorrem da crescente complexidade dos processos produtivos e dos próprios produtos. Os sistemas de gestão, portanto, permitem tratar de forma gerencialmente simples problemas de natureza complexa. EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO De um modo simplificado, podemos dizer que a Gestão da Qualidade nasce de duas abordagens: a preocupação com defeitos e falhas de componentes, principalmente de uso militar, de origem norteamericana (Shewart, Juran, Deming, Crosby, Feigenbaum) e inglesa com o consequente desenvolvimento de normas e métodos estatísticos e a vertente mais conhecida, fundamentada nos conceitos de preço, prazo e desempenho orientados para a satisfação do consumidor, de origem norte-americana e aplicada com êxito no Japão (Deming, Juran, Ishikawa), que surpreendeu o mundo na década de 70 sob o conceito de revolução gerencial. O tema da qualidade reveste-se hoje de um conjunto de técnicas e metodologias de diferentes graus de complexidade; com efeito, já não se pode dissociar a moderna abordagem da qualidade das demais tecnologias de gestão - meio ambiente, relações de trabalho (mais especificamente segurança industrial e saúde ocupacional), marketing, gestão do design, gestão estratégica de negócios entre outras, englobando rótulos e metodologias os mais diversos. Assistimos assim à convergência de seis grupos de tecnologias de gestão com foco em qualidade: aqueles orientados para o desempenho, aqueles orientados pelo custo, aqueles orientados pelo tempo, os modelos de autor, os modelos com base em normas e os modelos sistêmicos (alguns preferem o termo modelos holísticos). Essa convergência tem como foco, de um lado o conceito da excelência, campo profundamente trabalhado com a criação dos Prêmios Nacionais da Qualidade em diversos países. Um exemplo extremamente significativo desse fenômeno de convergência da tecnologia gerencial é o documento Visão 2000 da ISO que preconiza a evolução da família ISO 9000 em direção à Qualidade Total, rompendo com uma dicotomia decorrente da abordagem normativa como quesito mínimo, com a PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 113 abordagem da Qualidade Total preconizando o Kaizen (princípio da melhoria contínua) em direção ao conceito de excelência. A família ISO 14000 já nasce com critérios de excelência incorporados na sua formulação. Por exemplo, a norma ISO 14001, que estabelece os quesitos básicos do Sistema de Gestão Ambiental tem sua arquitetura baseada no modelo PDCA (Plan, Do, Check and Action) de gerenciamento. A revisão 2000 da ISO 9000 segue o mesmo caminho. De outro lado, fica cada vez mais evidente a necessidade de integração dos diversos sistemas de gerenciamento dentro de uma só abordagem, com vistas ao desempenho da gestão organizacional como um todo, mas sobretudo para aumentar a racionalidade daqueles componentes do Sistema Geral de Gestão Organizacional sujeitos à Certificação. Essa última preocupação tornou-se mais evidente com a progressiva exigência (por parte de clientes) da certificação simultânea (de seus fornecedores) segundo diferentes famílias, mais especificamente ISO 9000, ISO 14000 e BS 8800 e os sistemas derivados, tais como o QS 9000 para a indústria automotiva. Imagine-se esse contexto, por si bastante complexo a ponto de já merecer tratamento da ISO com vistas à racionalização das suas famílias de normas, unido à preocupação com gestão de P&D, gestão de tecnologia, gestão de marketing, etc. Além dos componentes abordados, há que se considerar também os novos desafios representados, de um lado, pela aceleração do progresso tecnológico e a diminuição do ciclo de vida entre a invenção e o produto novo no mercado, levando as empresas a desenvolverem mecanismos robustos para a gestão do conhecimento; de outro, há todo um processo impondo nova lógica nas relações capital/trabalho. Esse último aspecto apresenta uma complexidade toda especial, advinda do conceito de gestão participativa, com o rompimento definitivo da separação entre o staff e a linha de produção e da própria evolução tecnológica mudando os conceitos de emprego e empregabilidade. Assim, a dimensão humana nas organizações e a capacidade dessas em se manter em contínua aprendizagem completam o quadro de desafios para a montagem de Sistemas de Gestão realmente robustos. Em resumo, a configuração de um Sistema de Gestão que leve em conta todos os enfoques gerenciais de uma organização tem sido denominado pelos especialistas como um Sistema de Gestão Total. Para tanto, em termos de empresa ou qualquer outra organização, um Sistema de Gestão reunindo as diversas funções gerenciais e integrando estruturas passíveis de certificação (sistemas, produtos, processos, pessoal), deve ter um forte fundamento em TIB. Tendo essa 114 Reinaldo Dias Ferraz de Souza estrutura de funções encadeadas como eixo principal de um Sistema, a Gestão Total tratará de agregar também a Gestão do Marketing, baseada em técnicas QFD (Quality Function Deployment); a Gestão de Custos, com base em técnicas ABC (Activity Based Costs) e outras; a Gestão de Tecnologia, incluindo-se a não trivial Gestão de P&D; a Gestão do Design, a Gestão do Conhecimento (incluindo o conceito de capital intelectual) e a própria Gestão Estratégica de Negócios, com base em técnicas de benchmarking e em sofisticadas técnicas de desenho de cenários. O grande desafio que se apresenta para os especialistas é o de colocar todo esse aparato de metodologias e técnicas em um modelo simples, de fácil compreensão e funcionamento. As organizações que lograrem alcançar esse grau de integração entre as diversas famílias de gestão certamente desfrutarão de posição competitiva favorável no contexto do comércio globalizado. Assim sendo, é correto o entendimento de que as funções da TIB convergem para um tratamento articulado da Função Qualidade em seu sentido mais amplo, assegurado a necessária organicidade de todo o processo que permite evidenciar a qualidade de bens serviços. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TIB O presente trabalho não contempla uma referência exaustiva a todas organizações públicas e privadas que tratam do tema no Brasil. É, tão somente, o registro de eventos e situações que procura mostrar o esforço mais do que centenário do País nesse campo, tendo o enfoque da qualidade a nortear a exposição. Uma breve cronologia da história da Qualidade no Brasil irá revelar a seguinte sequência de eventos: Gabinete de Resistência de Materiais da Escola Politécnica de São Paulo, em 1899, mais tarde transformado em Laboratório de Ensaio de Materiais(1926), com importantes contribuições para a construção civil; adesão do Brasil à Convenção do Metro em 1921; criação do INT - Instituto Nacional de Tecnologia em 1933, com sua posterior Comissão de Metrologia, em 1938; criação do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológica do Estado de São Paulo em 1934 (por transformação do Laboratório de Resistência de Materiais); criação da ABNT em 1940; criação do Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq, em 1951; criação do INPM - Instituto Nacional de Pesos e Medidas em 1961;criação da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, em 1968; criação da STI - Secretaria de Tecnologia Industrial em 1972; criação do SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e do INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, em 1973; institucionalização do PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 115 SINMETRO e efetiva implantação do INMETRO, em 1979; implantação do Subprograma de Tecnologia Industrial Básica, em 1984; criação do PEGQ- Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade, em 1987; lançamento do PBQP - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, em 1991; e a modernização das atividades de Normalização, Credenciamento de Laboratórios e Certificação, com as resoluções do CONMETRO de agosto de 1992. Trata-se de uma cronologia incompleta, uma vez que se limita principalmente aos órgãos públicos. Na área de Gestão, por exemplo, cumpre enfatizar as importantes contribuições da ABCQ - Associação Brasileira para o Controle da Qualidade, da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, da Fundação Christiano Ottoni, do IBQN - Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear e de outras instituições com papéis relevantes nesse campo. Igualmente é importante registrar o papel dos Departamentos de Engenharia da Produção das universidades, com contribuições significativas para o desenvolvimento, adaptação e difusão de metodologias de gestão, além, naturalmente, das empresas de consultoria e das entidades associativas que prestam importantes serviços. Nas áreas de metrologia, normalização e avaliação da conformidade, a modernização do SINMETRO empreendida a partir de agosto de 1992 determinou que o Instituto encerrasse as atividades de registro de normas, o que ensejou um novo vigor para a ABNT, culminando em um processo de modernização gerencial da Associação como Foro Brasileiro de Normalização, com a consequente ação de melhoria sobre a organização e o funcionamento dos Comitês Brasileiros de Normalização CB e com o estabelecimento dos Organismos de Normalização Setorial ONS. A partir de 1992, o INMETRO passa a deixar também as atividades de certificação, limitando-se ao seu papel, nesse campo, ao de Organismo Credenciador. Com isso, há um especial estímulo ao surgimento dos Organismos de Certificação Credenciados OCC, oferecendo ao mercado boas opções para a certificação de produtos, processos, serviços, sistemas e pessoal. Quanto à base laboratorial cabe registrar que duas Redes (de Calibração e de Ensaios) comportam hoje, cada uma, cerca de cem laboratórios, todos eles credenciados de acordo com a ABNT-ISO/IEC Guia 25 e em condições de atender ao sucedâneo desse Guia que é a Norma ISO/IEC-17025. A propósito, registre-se que o credenciamento de organismos de inspeção e de certificação se faz rigorosamente de acordo com os Guias ABNT-ISO/IEC correspondentes. 116 Reinaldo Dias Ferraz de Souza Em resumo, a qualidade no Brasil (vista com sentido amplo) nasce de um conjunto de preocupações em torno de transações comerciais; passa pelos primeiros esforços de desenvolvimento tecnológico; se estende pelas iniciativas de qualificação de fornecedores levadas a cabo por empresas estatais, com destaque para o Programa Nuclear (em cujo escopo se introduziu no País o conceito de OSTI - Organismo de Supervisão Técnica Independente, ancestral dos atuais OCC Organismos de Certificação Credenciados) e a Petrobrás; integra as ações de fomento à Tecnologia Industrial Básica empreendidas pela extinta STI do antigo MIC e, finalmente, encontra a grande expansão com o processo de abertura da economia para a qual foram criados instrumentos e mecanismos, com destaque para o PBQP- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, no início dos anos 90. Há um aspecto extremamente significativo nessa pequena cronologia: o Brasil foi o primeiro, e é um dos poucos a possuir um sistema integrado que trata da core área de TIB (Metrologia, Normalização e Avaliação da Conformidade) dentro de uma mesma estrutura, o SINMETRO, orientado por um colegiado de nível ministerial, o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, tendo o INMETRO como entidade central do sistema e executado por diversas entidades que respondem por papéis específicos, vários deles objeto de credenciamento pelo Instituto, como são os Organismos de Certificação (produtos, sistemas e pessoal), os Organismos de Inspeção e os Laboratórios de Calibração (Rede Brasileira de Calibração) e de Ensaios (Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios). Nessas áreas o INMETRO cumpre a função de single voice accreditation, de acordo com a lógica seguida pela maioria dos países e consagrada nos foruns internacionais que tratam da matéria. Ainda como parte dos esforços de modernização do SINMETRO, o CONMETRO passou a contar com uma estrutura de Comitês Técnicos em caráter de assessoramento que são: o Comitê Brasileiro de Metrologia - CBM, o Comitê Nacional de Normalização CNN, o Comitê Nacional de Credenciamento CONACRE, o Comitê Brasileiro de Certificação CBC, o Comitê Codex Alimentárius do Brasil CCAB e o Comitê de Coordenação de Barreiras Técnicas CBTC. Os Comitês tem ampla representação de todas as partes envolvidas (do governo e do setor privado) e tem como atribuição propor ao CONMETRO as políticas, diretrizes e orientações estratégicas para as respectivas áreas. Nesse sentido, o CBM produziu em 1998 um Plano Nacional de Metrologia; o CNN encarrega-se do Plano Nacional de Normalização, a partir de proposições da ABNT e dos seus CBs e ONS; o CONACRE está tratando de estruturar um Sistema Brasileiro de Laboratórios; e o CBC trabalha em torno de um Plano Brasileiro de Certificação. São PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 117 esforços importantes, nenhum deles plenamente consolidado, mas que sinalizam no sentido de uma maior organicidades dos respectivos sistemas. Importante enfatizar que esses esforços, além de conferir maior transparência ao processo, permite maior grau de entendimento dessas atividades pela sociedade e representam instrumentos que poderão facilitar o relacionamento do País com seus congêneres no exterior. É importante registrar também que o Brasil vem tomando medidas concretas no sentido de dar cumprimento às obrigações decorrentes da Organização Mundial do Comércio - OMC no que diz respeito às notificações de regulamentos técnicos emitidos pelo Governo. Essa atividade é cumprida pelo INMETRO, no seu papel de enquiry point (ponto focal para as notificações), de acordo com as diretrizes tratadas no âmbito do CBTC/CONMETRO. Cabe mencionar também que as atividades do SINMETRO foram organizadas e implementadas quando o Brasil vivia plenamente o modelo de substituição de importações, com a forte presença das empresas estatais estimulando o desenvolvimento tecnológico industrial e as atividades de suporte técnico nas áreas de TIB. Assim, o SINMETRO representa uma boa arquitetura para o segmento industrial. Por conseguinte, há outros sistemas operando segundo a lógica de setores específicos, como são a Agricultura, a Saúde, o Meio Ambiente, a área Nuclear, Aeronáutica, Transportes, Trânsito, etc., muitos deles dispondo de estruturas de avaliação da conformidade que operam segundo maior ou menor grau de aderência ao contexto do SINMETRO. Esse, entretanto, é um capítulo que comportaria um artigo técnico mais específico, que venha a abordar a conveniência de se convergir para a organização dessas atividades em um único grande sistema ou se é mais interessante um modelo que contemple a convivência harmônica de diferentes sub-sistemas. No Brasil estamos mais próximos desse segundo modelo. Não há um único formato a priori relativo à organização sistêmica das atividades de TIB, mas a evolução do processo de integração comercial em escala global terminará por ensejar essa discussão. TIB E O PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO DA ECONOMIA O Brasil experimenta quatro grandes aprendizados no campo da integração comercial em escala global: a construção do MERCOSUL Mercado Comum do Sul, a construção da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas, a integração do MERCOSUL com a União Européia e a participação na Organização Mundial do Comércio - OMC. Em todos esses processos há uma preocupação muito grande e muito objetiva para com as chamadas barreiras técnicas ao comércio. 118 Reinaldo Dias Ferraz de Souza Com a diminuição ou mesmo eliminação das barreiras tarifárias, consequência do término da Rodada Uruguai do GATT e da criação da OMC, uma eventual proteção (legítima ou não) de mercados tende a recair sobre as áreas de normalização e regulamentação técnica, tendo numa ponta a avaliação da conformidade (e os consequentes Sistemas de Garantia da Qualidade Certificados e a Certificação de Produtos) e na outra, a Metrologia. A complexidade que cerca esse campo é de tal ordem que a OMC propôs aos países membros o Acordo de Barreiras Técnicas, ao qual o Brasil aderiu. A lógica que orienta esse processo é a seguinte: se o que importa nas transações comerciais é a qualidade (certificada) de produtos e serviços, há para isso o aparato de avaliação e certificação da conformidade, com base nos laboratórios de ensaios. Essa estrutura fundamenta-se em normas e regulamentos técnicos que, por sua vez, fundamentam-se na metrologia. Para se ter uma idéia do alcançe de decisões tomadas nessas áreas, basta imaginarmos que a exigência de um aumento na exatidão (diminuição do nível de incerteza) das medições por parte de um país comprador (ditadas por razões técnicas ou mesmo políticas) pode alijar um país fornecedor da competição por mercados. Assim sendo, as estratégias de participação de um país no comércio internacional tem que, necessariamente, tomar em conta a infra-estrutura de serviços tecnológicos disponível em termos de metrologia, normalização e avaliação da conformidade. Nesse contexto, podem ser importantes os arranjos sub-regionais de modo a permitir que dois ou mais países compartilhem recursos de infra-estrutura tecnológica, especialmente em áreas como a Metrologia Científica onde os investimentos requeridos em laboratórios, equipamentos e formação de pessoal em nível de doutorado são muito elevados. A questão é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Com efeito, os países, os blocos econômicos e suas organizações nacionais, sub-regionais, regionais e internacionais (por exemplo: ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; CMN - Comitê MERCOSUL de Normalização; COPANT - Comissão Panamericana de Normas Técnicas; e ISO - International Organization for Standardization, respectivamente) têm se preocupado com temas como o reconhecimento mútuo dos sistemas de normas e avaliação de conformidade, sem o que poderá haver um brutal travamento do fluxo de comércio. Há muito já se abandonou a idéia de unificação dos sistemas, reconhecendo que há diferenças entre os modelos em uso nos diversos países que transcendem a questão puramente técnica. A tônica hoje é a harmonização dos sistemas de metrologia, normalização e avaliação da conformidade, tomando-se em conta as peculiaridades de cada modelo PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 119 organizacional dessas atividades. Nesse sentido, trabalha-se ativamente no plano internacional no estabelecimento dos Acordos de Reconhecimento Mútuo, os MRA. Por outro lado, há que se considerar também que a norma é uma fotografia da tecnologia estando, portanto, em constante evolução. Da mesma forma, a metrologia que lhe serve de base também evolui rapidamente, do universo das medidas materializadas para o universo da Física e da Química, em escala sub-atômica, através da realização (experimentos controlados, reprodutíveis e repetitíveis). Esse processo, altamente complexo e dinâmico, exige uma considerável capacitação na chamada ciência das medições ( o PTB na Alemanha e o NIST nos EUA têm, cada um, mais de 500 PhDs em atividades de laboratório). Em consequência, mesmo um serviço de calibração que serve de suporte a um Sistema de Garantia da Qualidade certificado tende a ter base científica não trivial. O mesmo grau de complexidade refere-se às atividades de normalização, cada vez mais relativas ao desempenho e cada vez menos prescritivas. Dentro de uma abordagem mais moderna, a nossa tendência é a de encarar a metrologia, normalização e avaliação da conformidade não como barreiras técnicas, mas como ferramentas para a construção de relações comerciais duradouras, posto que essas deverão resultar de acordos de reconhecimento mútuo dos sistemas nos diversos países. O processo de regulamentação técnica merece uma consideração especial, pois o Acordo de Barreiras Técnicas da OMC reconhece o interesse legítimo dos países em regulamentar as atividades relativas à saúde, à segurança, ao meio ambiente e à prevenção de práticas enganosas. No passado o regulamento técnico tinha as características de uma norma compulsória. Esse era inclusive o termo empregado pelo SINMETRO. Hoje, tem-se que os regulamentos devem ter como base a norma técnica. As modernas diretivas da União Européia inclusive preconizam que os regulamentos devem restringir-se aos quisitos essenciais que atendam aos interesses legítimos, tendo o aparato da metrologia, da normalização e da avaliação da conformidade como suporte técnico. O Brasil tem ainda muito o que investir no sentido de aprimorar processo de regulamentação técnica do País. Esse é um esforço não trivial já ensaiado algumas vezes, mas que enfrenta dificuldades. De um lado, exige que se explore adequadamente as diferenças entre as funções, notadamente entre normalização e regulamentação técnica; de outro, 120 Reinaldo Dias Ferraz de Souza vai exigir um conjunto de orientações técnicas sobre elaboração e edição de regulamentos dentro de um enfoque moderno. Além disso, deve investir na formação de uma cultura comum a todas as entidades que detém atribuições regulatórias. A efetiva participação do Brasil no comércio internacional deve conduzir a um tratamento tecnicamente integrado dessas questões. A TIB NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Como síntese do que foi apresentado neste trabalho conclui-se que o MCT tem e continuará tendo importante papel no fomento das atividades da TIB no Brasil. Os recursos advindos com os novos fundos oriundos de setores em fase de flexibilização e de privatização ampliam potencialmente o escopo do fomento, especialmente num momento em que as fontes tradicionais sofrem restrições orçamentárias em razão da crise fiscal do Estado. Entretanto, novas oportunidades se apresentam e são analisadas a seguir. Novo Papel do MCT na Tecnologia Industrial Básica O MCT teve seu escopo de atuação significativamente ampliado com a incorporação das responsabilidades do extinto MEPE Ministério Extraordinário de Projetos Especiais, notadamente nas áreas espacial e nuclear, no que se refere à Tecnologia Industrial Básica. Essas áreas são fortemente demandantes das funções da TIB na organização das suas atividades bem como no exercício das suas atribuições legais. Em consequência, o MCT passa a ter novas responsabilidades normativas e regulatórias nesses campos. Assim, é digno de nota que: · o MCT passa a se responsabilizar por duas atividades em metrologia científica, a de Tempo e Frequência no Departamento do Serviço da Hora DSHO, do Observatório Nacional (já exercidas anteriormente) e a de Radiações Ionizantes no Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes LNMRI do Instituto de Rádioproteção e Dosimetria IRD, da CNEN, no contexto do LNM Laboratório Nacional de Metrologia. As atividades de metrologia científica representam grande importância estratégica, pois delas derivam o desenvolvimento, realização, guarda e disseminação de padrões primários; · o Observatório Nacional - ON cumpre ainda a função de disseminação da referência nacional em gravimetria, detendo o padrão secundário que efetua a linha de calibração de referência das estações que fazem PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 121 a mensuração da força de gravidade (G), fundamental para a execução das atividades que envolvem massa, força, pressão e outras grandezas que demandam o cálculo da força gravitacional. Vale destacar que o Observatório Nacional detém a competência técnica para responder por uma futura disseminação do padrão primário nessa área. Ainda com relação ao Observatório Nacional, o mesmo realiza a verificação do norte magnético nos aeroportos brasileiros, o que confere à instituição um leque abrangente de atuação em metrologia; · o Instituto Nacional de Tecnologia - INT dispõe de laboratórios credenciados no âmbito da Rede Brasileira de Calibração RBC e da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios - RBLE. Em convênio com o INMETRO e PUC-RJ atua também no desenvolvimento de padrões primários na área de dureza. O INT tem ainda um papel histórico importante, pois sediou a Comissão de Metrologia (1938) que precedeu ao INPM e ao INMETRO. Através do Decreto de 1938, o Instituto passou a deter os padrões primários, cabendo ao Observatório Nacional, em convênio com o INT, os padrões de tempo, no escopo do mesmo instrumento legal. Hoje, o DSHO/ON desenvolve atividades em articulação com seus melhores congêneres do exterior que ultrapassam em muito, em valor estratégico e econômico, a missão original de disseminação da hora legal brasileira; · o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE dispõe de laboratórios de calibração credenciados na RBC e as Indústrias Nucleares do Brasil - INB/CNEN dispõem de laboratório de ensaios credenciado na RBLE; o Laboratório de Integração e Testes LIT, do INPE, pode inclusive pretender de uma maneira formal o desenvolvimento e disseminação de padrões avançados, dentro da nova lógica do SBRM Sistema Brasileiro de Referências Metrológicas, proposta pelo Plano Nacional de Metrologia já aprovado pelo CONMETRO e atuar como referência metrológica nacional no âmbito do LNM; · a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT tem a expectativa de que o Comitê Brasileiro responsável pela normalização na área nuclear seja dinamizado ao máximo, em conformidade com os esforços da CNEN, bem como tem expectativa de que a demanda por normas na área espacial tenha tratamento sistemático, dado o seu impacto no mercado envolvendo artefatos da área aero-espacial. A Agência Espacial Brasileira - AEB e o INPE tem emprestado um grande dinamismo a tudo que se refere à normalização na área espacial em articulação com o CTA, implantando as Comissões e Grupos de Trabalho à semelhança do Comitê Técnico da ISO que trata da matéria. A AEB está estudando também o lançamento das bases para um processo de certificação na área espacial. Importante destacar que a CNEN integra o CB-20 da ABNT (Energia 122 Reinaldo Dias Ferraz de Souza Nuclear), assim como a AEB e INPE integram o CB-08 da ABNT (Aeronáutica e Espaço); · as áreas espacial e nuclear demandam atividades normativas e regulatórias que devem estar cada vez mais em sintonia com os fóruns internacionais e cujo processo de avaliação da conformidade deve guardar coerência com os modelos vigentes, os quais devem caminhar para a convergência de procedimentos, conforme apontam os fóruns que tratam do assunto. Em particular, cumpre assinalar que o processo de regulamentação técnica e avaliação da conformidade no setores nuclear e espacial devem operar como subsistemas independentes, porém guardando sintonia com o SINMETRO e utilizando-se da mesma infraestrutura de laboratórios de calibração e ensaios no âmbito da RBC e RBLE; · a Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI, vem investindo substancial esforço nas atividades relacionadas com a qualidade de hardware e de software, estando em posição de assumir papéis explícitos tanto no que se refere à constituição e obtenção do credenciamento da base técnica para a certificação a ser exercida por outros organismos, quanto a própria atividade certificadora, se o cumprimento dessa última atividade não conflitar com os objetivos institucionais no campo de P&D e assistência técnica. Destaque-se que essas atividades estão intimamente ligadas à P&D de produtos, processos e sistemas; · o MCT, reunindo agora atividades de fomento e atividades técnicas específicas de maior monta, assume outro papel mais amplo no âmbito do CONMETRO/SINMETRO; · a presença das entidades do MCT em fóruns técnicos, por sua vez, deve ser objeto de uma programação coordenada, com base em uma orientação estratégica unificada. A participação nesses fóruns é condição indispensável à proteção de interesses legítimos nos campos da metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade, sobretudo nas áreas em que o MCT passa a ter atribuições sobre as atividades-fins, como são as áreas espacial e nuclear. Coorporação Internacional a) Participação em Fóruns e Atividades de Cooperação Técnica No que se refere à cooperação internacional vale destacar o envolvimento do MCT e das suas entidades em diversos foruns técnicos e de integração econômica, em atividades relacionadas com a TIB, bem como em atividades de cooperação técnica entre laboratórios envolvendo notadamente o INT, o DSHO/ON, o IRD/CNEN, as INB/CNEN e o LIT/INPE. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 123 Esse elenco de atividades envolve uma agenda bastante complexa e que enseja uma ação articulada, visando o amplo aproveitamento dos resultados internamente ao MCT e também no meio externo, notadamente junto às entidades de P&D e ao meio empresarial. O papel do MCT nesses campos, além de ensejar o cumprimento de compromissos e responsabilidades técnicas específicas, apresenta uma oportunidade valiosa para promover o efetivo envolvimento da infra-estrutura de C&T disponível nas universidades e centros de pesquisa com os temas da TIB, com reflexos quase imediatos na melhoria dos cursos em especial nos campos das Engenharias, Química e Física. b) Oportunidades de Difusão da Competência Técnica Brasileira As discussões que se desenvolvem no âmbito da ALCA e em particular no Grupo de Negociações de Acesso a Mercados GNAM, relativas a Normas e Barreiras Técnicas ao Comércio levou o Brasil (MCT, MDIC, MRE) e propor ao MERCOSUL e este à Presidência do GNAM, um amplo programa de Cooperação, Assistência Técnica e Capacitação de Recursos Humanos, com foco na facilitação de negócios. Partiu-se da premissa de que os acordos comerciais deverão ter como base o mútuo reconhecimento dos sistemas nacionais de metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade dos 34 países do hemisfério, sem o que poderia haver entraves concretos ao fluxo de bens e serviços, notadamente pelas discrepâncias em exigências normativas e regulatórias. Provavelmente essas ações deverão ser conduzidas em bases bi-laterais. Devido às assimetrias entre as economias das regiões, é de todo conveniente que as estruturas da TIB sejam objeto, o quanto antes, de um esforço de cooperação, utilizando-se (principalmente as economias menores) de fundos de agências multilaterais. O BID, por exemplo, já sinalizou com um fundo conforme registrado na Declaração Ministerial de Toronto (novembro/99). Nesse quadro, o Brasil é uma liderança, já vem atuando pontualmente em assistência técnica a alguns países e pode dinamizar esse esforço, sistematizando - o e oferecendo um calendário de oportunidades, eventos e consultoria técnica especializada para a capacitação técnicas nas áreas de TIB. Com vistas a compor esse quadro, o MCT/SETEC e o MDIC/STI encomendaram à ABIPTI um primeiro mapeamento da capacidade de oferta de Assistência Técnica e Capacitação de RH por parte de entidades brasileiras. Essa ação está em curso e seu potencial pode ser resumido em: 124 Reinaldo Dias Ferraz de Souza · Ampliação do escopo de atuação dos institutos de pesquisa tecnológica e das organizações atuantes em TIB; · Constituição de um mecanismo de reforço do relacionamento técnico entre entidades brasileiras e estrangeiras; · Criação de um campo propício à constituição de negócios de natureza tecnológica, quer entre entidades técnicas, quer entre empresas; · Maior presença brasileira no cenário internacional, nas áreas de atividades da TIB. CONCLUSÃO A área de Tecnologia Industrial Básica compreende um conjunto essencial de atividades de suporte à competitividade da economia brasileira no mercado internacional, assim como é condição para o próprio amadurecimento do mercado interno. O Brasil hoje é uma liderança reconhecida nas Américas, no que se refere à TIB, dado o alto grau de coerência entre a organização dessas atividades no País e as modernas tendências internacionais. As funções de Tecnologia Industrial Básica (metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade) constituem a essência das chamadas barreiras técnicas ao comércio. Como instrumento de facilitação de fluxo de comércio, os países têm discutido nos fóruns internacionais o mútuo reconhecimento dos seus sistemas de metrologia, normalização e avaliação da conformidade, de modo a propiciar a aceitação dos certificados da conformidade emitidos por um organismo credenciado em outros mercados, desonerando o custo de bens e serviços. Esse enfoque mais moderno é baseado num tripé onde estão presentes a Competência, a Confiança e a Consistência entre entidades técnicas, laboratórios, organismos certificadores e organismos credenciadores (na maioria dos Países a cargo de organismos governamentais). Ao MCT nesse contexto cabe, ao lado da já tradicional atribuição de fomento do Ministério à área, também o papel de executor de atividades normativas e regulatórias de responsabilidade de algumas de suas Agências, especificamente CNEN e AEB. Ao combinar o fomento com a execução de atividades fins o MCT assume um papel de maior destaque no contexto das diversas atividades de TIB hoje executadas sob a responsabilidade de vários Ministérios integrantes do CONMETRO, PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 125 bem como de alguns órgãos governamentais não integrantes daquele Conselho de nível ministerial. BIBLIOGRAFIA DIAS, José Luciano de Mattos Medida, Normalização e Qualidade - Aspectos da História da Metrologia no Brasil - INMETRO e Fundação Getúlio Vargas - 1998 FELIX, Júlio César - A Metrologia no Brasil -Ed. Qualitymark, 1995 FLEURY, Afonso C. e FLEURY, Maria Tereza Leme - Aprendizagem e Inovação Organizacional - Ed. Atlas, 1995 FONSECA, Renato; Carvalho Jr., Mário C. [ et al.] Barreiras Externas às Exportações Brasileiras. - FUNCEX, 1999 ISO Internacional Organization for Standardization Certification and Related Activities - ISO, 1992 TEBOUL, James - Gerenciando a Dinâmica da Qualidade - Ed. Qualitymark, 1991 WILSON, John S.; GODFREY, John M.; SEVCIK, Patrick - Standards, Conformity Assessment, and Trade - Into the 21st Century - National Research Council, EUA National Academy Press, Washington/DC, 1995 WOMACK, James; JONES, Daniel T.; e ROOS, Daniel - A Máquina que Mudou o Mundo Massachussets Institute of Technology - Ed. Campus, 1992 Resumo Nos anos mais recentes, intensificam-se as chamadas barreiras técnicas ao comércio, compreendidas pela Metrologia, Normalização, Regulamentação Técnica e pelos procedimentos de Avaliação da Conformidade (Ensaios, Inspeção, Certificação e outras formas adotadas com o propósito de avaliar o cumprimento de requisitos técnicos especificados para produtos, processos, sistemas e serviços). No Brasil esses temas são tratados sob o conceito de Tecnologia Industrial Básica TIB, para qual o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT tem mantido linhas de fomento de forma regular ao longo dos últimos 16 anos, com expressivos resultados alcançados. Os temas compreendidos ao âmbito de TIB são conduzidos principalmente no âmbito do CONMETRO Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, mas também estão a cargo das demais autoridades regulatórias do País, com destaque para a Agricultura, Saúde, Meio-Ambiente, Àrea nuclear, Aeronáutica e Espaço, Trânsito, Transporte e outras, conformando sistemas específicos. Ao MCT cabe, além das ações de fomento, o exercício de atividades regulatórias na área nuclear e espacial por conta de suas atribuições. Neste artigo são discutidos os papéis desempenhados pelas diversas instâncias que compõem a TIB no Brasil. Abstract The process of internationalization of economy, intensified after the end of the Uruguay Round of GATT and the creation of the World Trade Organization-WTO, has provoked a gradual reduction of the tariff level in trade relations. At the same time, there was an increase in the so-called technical barriers to trade here including Metrology, Standardization, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures adopted 126 Reinaldo Dias Ferraz de Souza whit the purpose of assessing the fulfilment of technical requirements related to products, processes, systems quality, environment and services. In Brazil, these areas are encompassed by the Basic Industrial Technology ( TIB ) activities which has been receiving a long- standing line of investment in a specific support program from the Ministry of Science and Technology MCT for almost two decades now.Besides the responsability for financial support in actions included in the TIB Program, the sphere of action of the Ministry of Science and Technology also includes regulatory activities in the nuclear and spacial areas, the maintenance of metrological and testing laboratories, as well as na effective partcipation in the efforts of technical standardization. The article discusses the various aspects compused by TIB, institutions an Brazil. O Autor REINALDO DIAS FERRAZ DE SOUZA é Coordenador Geral de Modernização Tecnológica do MCT e Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (1976) reúne também as seguintes qualificações: Especialização em Gestão da Qualidade pela Fundação Christiano Ottoni, da UFMG e pela JUSE - Union of Japanese Scientists and Engineers, do Japão; Treinamento para Lead Assessor pela MCG, do Brasil e Batalas Handley-Walker, da Inglaterra; Especialização em Planejamento Físico do Ensino Superior pela FGV - Fundação Getúlio Vargas; Secretário Técnico do Subprograma Tecnologia Industrial Básica TIB, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PADCT (Acordo entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial). Politíca e Organização da Inovação Tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 127 Gestão Empresarial Inovadora como Questão Estratégica CARLOS ARTUR KRÜGER PASSOS No Brasil em geral, ficamos quase à margem do conhecimento do toyotismo. Isto por que, de modo diferente dos norte americanos e europeus, o nosso sistema produtivo não enfrentou diretamente a concorrência japonesa em seu período de auge competitivo entre 1975 e 1990, pois a abertura econômica ocorreu depois dessa data. Em decorrência, a nossa academia, e em especial a área de administração, salvo as sempre existentes exceções, pouco se debruçou sobre as condições e causas originárias daquela notável performance em gestão, estranhamente surgida fora do país hegemônico do capitalismo. Quando, nesta década ficamos sujeitos aos ventos da competição internacional, apropriamo-nos de algumas daquelas técnicas japonesas, mas já agora, com a releitura e adequação das mesmas efetuadas sobretudo pelos norteamericanos. Uma enxurrada de reciclados gurus ocidentais nos vendem milhares de títulos explicativos de como uma ou outra técnica japonesa, agora revista e ampliada e não poucas vezes renomeada, produziu melhorias na gestão desta ou daquela grande corporação, e pode eventualmente vir a salvar as nossas. Penso que cerca de 90 % dos dirigentes privados e do setor público brasileiros, acreditam que o toyotismo constitui-se apenas no fato de que alguns dirigentes empresariais japoneses inventaram determinado número de técnicas de gestão de razoável eficiência e eficácia, e que compete a nós aproveitar aquelas que eventualmente sirvam às nossas empresas. Esta postura profissional é insuficiente, e de graves conseqüências para as empresas e para todo o país. Mais que um certo número de técnicas, devemos apreender o toyotismo de modo sistêmico. Além de ser apenas um sistema de técnicas, entender os fundamentos sóciotécnicos de suas unidades produtivas. Mais do que ressaltar as suas forças, agora que as empresas japonesas são poderosas, é buscar entender por que exatamente tiveram de criar algo novo e tão poderoso quando ainda eram frágeis, entre 1946/75, e tirar lições para as empresas 128 Carlos Artur Krüger Passos brasileiras na atualidade. É o que pretendemos discorrer no texto que segue. UMA POSTURA NÃO PASSIVA FRENTE A GLOBALIZAÇÃO O termo globalização compreende todo um conjunto de fenômenos recentes que estão ocorrendo no interior das sociedades capitalistas e que têm expressão geográfica em todas as regiões do globo terrestre, embora com intensidades diferenciadas em cada lugar. Na verdade, trata-se do mesmo processo histórico de mundialização do sistema produtivo capitalista que vem se manifestando desde a Revolução Industrial Inglesa. Apenas ocorre que fenômenos que já existiam, ganham intensidade inusitada, estabelecem novos e diferenciados nexos entre si e provocam alterações nas estruturas sociais e políticas intra e entre nações, resultando em acentuadas alterações na evolução histórica mundial. O conjunto das modificações abrangidas pela globalização vem reforçando sobremaneira o poder político dos países industrializados onde se localizam a maioria das empresas financeiras e industriais oligopólicas mundiais, em relação aos países de menor desenvolvimento relativo, sobretudo a partir de 1989 com a queda dos regimes de socialismo real soviéticos. Como o comportamento dinâmico destas empresas constitui o cerne do comportamento dinâmico do conjunto da economia daqueles países, criar as condições institucionais internas e mundiais que melhor propiciem as condições para a expansão das mesmas, passa a constituir um objetivo político maior dos governos daqueles países. A globalização é, portanto, um fenômeno econômico reforçado politicamente. Desta maneira, enquanto forma de discurso, a globalização ganha a elegância lógica de apontar para um utópico mercado global onde somente as empresas mais competitivas sobreviveriam e, em decorrência disso, os consumidores de todo o mundo disporiam de todos os produtos que desejassem, a um menor preço e melhor qualidade. Ora, aplicar uma racionalidade global em condições extremamente diferenciadas nos diversos países é tratar de modo igual aos desiguais; isto não corresponde de imediato aos interesses dos povos dos países menos desenvolvidos. Uma política deste tipo pode resultar simplesmente em estagnação, ou desindustrialização acentuada, capaz de amplificar os já graves problemas de desemprego, pobreza e concentração da renda e riqueza existentes em diversos países menos desenvolvidos. Abrir a economia destes países à globalização sem a devida reflexão e PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 129 consideração aos interesses da base produtiva nacional pode ser extremamente danoso aos destinos de um país. Não é uma política muito inteligente, embora tenda a ser um discurso quase dominante porque aponta para a modernização das sociedades, o que em si seria sempre desejável. Por outro lado, não se pode imaginar que qualquer país possa permanecer fechado em seu próprio território ou postergando indefinidamente medidas capazes de reordenar o seu aparato produtivo de molde a fazer face às novas condições concorrenciais prevalecentes. Políticas nacionais que inequivocamente apontem para esta reordenação devem ser aplicadas e duramente defendidas pelas autoridades nacionais. Claro está que qualquer política de confronto direto com os países industrializados está fora de cogitação, pois isso só levaria ao isolamento e atraso ainda maior. Um mercado mundial mais integrado é desejável, e deve ser construído, mas nunca ao custo de uma violenta regressão econômica e social. Assim, cada país deve buscar uma melhor forma de integração, que leve em conta as peculiaridades históricas da estruturação de seu aparato produtivo, para que a reconversão à nova situação façase com o menor custo social. Entretanto, esse posicionamento não deve significar um aval às tentativas de diversos interesses sociais e econômicos de manter o status quo anterior, sem realizar o necessário esforço de readequar-se à novas condições competitivas resultantes da globalização. Este necessário ajuste às novas condições deve ser efetuado de maneira pró-ativa, isto é, partindo da mobilização de nossa própria vontade política, e não apenas tentando ajustar-se passivamente às imposições externas, mas adotando um caminho criativo que contemple as condições endógenas de nosso país. Mas não venhamos a nos iludir. As condições sob as quais os países latino-americanos têm de percorrer este caminho são bastante adversas e restritivas. O NOVO SISTEMA PRODUTIVO MUNDIAL Após a 2ª Guerra Mundial ocorreu um dos maiores ciclos expansivos da história do capitalismo em escala mundial, citado na literatura como os trinta gloriosos, ciclo este baseado sobretudo nos notáveis aumentos da produtividade do trabalho acompanhado com crescimento simultâneo do salário real nos principais países industrializados do mundo. Entretanto, já a partir do ano de l969 o ciclo expansivo dá mostras de esgotamento, sobretudo pela quase estagnação dos incrementos na produtividade do trabalho. O ciclo ganha uma sobrevida em função dos maciços dispêndios bélicos durante a guerra do Vietnam. 130 Carlos Artur Krüger Passos A partir de 1974, a economia mundial sofre uma grande inflexão. As variáveis fundamentais da dinâmica econômica, a taxa de crescimento da produção corrente de bens e serviços, e a taxa de investimentos produtivos, caem para aproximadamente um terço do que foram no ciclo do pós guerra em quase todos os países industrializados, e esta situação recessiva vem perdurando até os dias atuais. É verdade que neste período, a performance do Japão até a década de 80 foi bastante elevada, e a dos EUA nos anos 90 vem sendo considerada brilhante, embora ainda não esteja ocorrendo um novo ciclo expansivo mundial geral. Até 1974 os padrões tecnológicos e de gestão dominantes nas empresas capitalistas baseavam-se no padrão tecnológico eletro-mecânico expresso nos equipamentos do capital fixo, no modelo Taylorista-Fordista de organização dos processos de trabalho, na estrutura empresarial departamental típica do Fayolismo, e nos desdobramentos e avanços teóricos e práticos ocorridos até então. Neste último quartel do século entretanto, difunde-se para o sistema produtivo mundial, alterações consideradas paradigmáticas, tanto no padrão tecnológico como nas formas de gestão das empresas, transformando significativamente as formas de concorrência e modos operativos das empresas e do sistema produtivo como um todo. Dentre os fenômenos que mais têm sido referidos na literatura econômica e que maior impacto produzem na realidade dos países, em termos efetivos e ainda em processo, destacam-se os seguintes1: I. Aumento extraordinário da interconexão dos mercados financeiros, cambiais e de capitais das principais praças financeiras mundiais. A incrível capacidade de processar, transmitir e armazenar informações on-line, dos sistemas de computação contemporâneos acoplados a um amplo sistema de telecomunicações por infovias e satélites, permite que até modestos operadores atuem de modo direto ou através de terceiros nos múltiplos mercados mundiais, quase em tempo real. Parte do novo ímpeto deste fenômeno deveu-se também a profundas medidas desregulamentadoras na órbita financeira adotadas pelos países industrializados. II. desenvolvimento de um conjunto de inovações tecnológicas de largo espectro de utilização e mutuamente estimuladoras entre si, nas áreas de novos materiais, biotecnologia e, sobretudo e principalmente, 1 Os itens abaixo foram sumarizados a partir de COUTINHO, L. (1992). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 131 na microeletrônica. Esta última, através dos seus diversos desdobramentos que constituem o chamado complexo eletrônico - a informática, a telemática, a mecatrônica, a eletrônica de consumo etc. , cria não apenas novos setores industriais e de serviços, mas muito mais que isto, provoca uma reformulação quase que integral nos padrões de consumo da sociedade, nos materiais, nos processos produtivos e nos produtos de praticamente todos os setores econômicos e no ritmo das atividades humanas em quase todo seu espectro. Vem sendo criado um mundo novo ainda não definido em seu formato, onde os bens e serviços produzidos sob estas novas tecnologias ganham utilizações incrementais ou inéditas, com qualidade superior e preços reais progressivamente reduzidos. Com a internet e com o comércio eletrônico, padrões absolutamente novos de concorrência vem sendo estabelecidos, e o peso direto dos setores de informação/comunicação/entretenimento subordinados a estes novos padrões vem crescendo exponencialmente, a ponto de se poder afirmar haver uma nova economia, sobretudo a partir dos EUA, onde os próprios padrões de comportamento econômico estarem sendo alterados. Os antigos produtos e as formas anteriores de produzi-los, comercializá-los e entregá-los tendem a ser varridos do mercado. III. Intensificação das estratégias competitivas internacionais dos já então poderosos oligopólios industriais que dominam os principais e mais dinâmicos mercados mundiais. Com isto ocorre uma reconcentração da concorrência mundial em torno de um reduzido número de empresas e redes empresariais americanas, européias e japonesas. Estas praticamente já dominam o mercado global em setores como o da indústria automobilística, aeronáutica, farmacêutica, eletrônica de bens de consumo, petroquímica, material elétrico pesado, metais não ferrosos, química pesada, bens de capital por encomenda, equipamentos de instrumentação, supercomputadores e outros, que compõem o núcleo dinâmico das sociedades industriais. As barreiras à entrada de novas empresas nestes setores estão se tornando ainda maiores, inclusive pela ocorrência de nova onda de fusões e aquisições empresariais. IV. Uma revolução nos processos produtivos designada como automação flexível vai superando a antiga automação rígida das cadeias fordistas de produção. O desenvolvimento de medidores digitais, laser, sensores, micromecânica, controladores lógico programáveis e outros instrumentos, permite o controle e a automação dos processos em tempo real e auto-ajustáveis. Variando de acordo com o processo específico de produção e do produto, e em certas etapas ou em quase toda a cadeia produtiva o design (CAD), a engenharia (CAE) e a manufatura (CAM) podem ser quase integralmente automatizados por computadores e softwares dedicados com base em inteligência artificial. Caminha-se para 132 Carlos Artur Krüger Passos uma automação flexível totalmente integrada por computadores, cujas características futuras não são ainda totalmente delineáveis. V. Uma profunda modificação nos processos organizacionais, nas estratégias e na cultura das organizações empresariais. A necessidade de ampliar os ganhos de escala, a conquista de faixas de mercado de consumidores de bens diferenciados (customerized goods, isto é, bens conformando-se ao máximo ao gosto de cada cliente), e a necessidade de produzir a preços cadentes para ampliar faixas de mercado e enfrentar a concorrência, conduzem ao desmantelar das rígidas estruturas departamentais e promovem, de um lado, a integração entre a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produto, o design, marketing, engenharia produção, vendas, finanças, e, de outro, a conectividade com fornecedores, distribuidores, usuários e consumidores. VI. Reestruturação dos padrões de comando das corporações oligopólicas mundiais, no sentido de estreitar margens decisórias nos diversos níveis hierárquicos de suas redes mundiais de estabelecimentos subsidiários. Graças à telemática, a gestão empresarial ganha diretamente uma face mundial. Suprimentos de matérias-primas e seus processamentos, armazenagem e transportes são operados em redes logísticas globais, componentes e subconjuntos de peças padronizadas otimizam as fontes localizadas em diversos países relocalizando-se plantas industriais sob a ótica de complementaridade no mercado mundial e não mais como redes produtivas integradas apenas no nível dos diversos mercados nacionais. Especificações de características centrais de produtos são estabelecidas unificadamente numa escala global (o carro mundial, p.ex.) sem impedir a crescente diferenciação de características de produto para atender diferentes faixas e desejos dos clientes em cada país. E uma forte reconcentração das áreas de P&D de processos e de produtos em centros de pesquisa privados e públicos nos países onde a base científica e tecnológica é mais desenvolvida. ALGUMAS ESPECIFIDADES DA GESTÃO JAPONESA Nos anos 70 e sobretudo nos 80, as contundentes vitórias comerciais mundiais dos grandes conglomerados japoneses, sobretudo no mercado americano e em produtos típicos do american-way-of-life, tais como automóveis e eletrodomésticos e também em máquinas industriais complexas, deixava claro que um modelo de gestão diferenciado, de alta produtividade e muito competitivo havia surgido. Alguns analistas chegaram a indicar os fatores culturais como os motivos centrais daquelas brilhantes performances. Sem negar a importância dos valores culturais japoneses, alguns originários de fontes religiosas, outros de seu passado feudal relativamente recente e outros PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 133 ainda ancorados na tradição de obediência e tenacidade daquele povo acostumado a sobreviver nas duras condições de vida de suas pedregosas ilhas, parece não residir aí as fontes explicativas da emergência vitoriosa do capital empresarial japonês no após guerra. Mesmo não sendo a explicação culturalista de todo negligenciável, não reside aí sua diferença específica. Isto foi apontado aliás por Taiichi Ohno, um dos criadores do toyotismo, que não encontrava nenhuma razão pela qual o novo sistema não pudesse ser implementado em qualquer outro lugar da terra, pois conforme Coriat (1994), Ohno havia pensado ao avesso toda a herança legada pela indústria ocidental. Análises das modificações nos processos produtivos têm seguidamente enfatizado as diferenças entre o fordismo-taylorismo e o toyotismo, em um conjunto de técnicas criadas no Japão do pós-guerra, para enfrentar dilemas que estavam ausentes ou eram menos intensos nas economias ocidentais. O principal dilema, era o de como obter os ganhos de escala, típicos do fordismo-taylorismo, este também designado de produção em massa, quando o tamanho da demanda fosse bastante reduzido, e/ou quando esta demanda fosse composta de lotes relativamente pequenos de bens assemelhados, isto é, com pequenas variações nas suas especificações. Todo um impressionante conjunto de técnicas gerenciais japonesas tem esta preocupação originária básica: dotar a rígida linha de montagem fordista e a administração por postos de trabalho taylorista, de flexibilidade para ajustar-se às oscilantes condições e especificações de demanda. Este foi o caso enfrentado por um grande número de empresas japonesas no pós-guerra. Não podendo apropriar-se dos ganhos de escala clássicos da produção em massa, todas as energias deste modelo voltaram-se para produzir sem desperdícios, isto é, sem estoques, sem perdas, sem tempos de espera, e sobretudo com qualidade, ausência da qual resulta sem dúvida o maior dos desperdícios, pelo retrabalho exigido. Com base nestas diretivas foi criado um impressionante conjunto de técnicas de gestão inovadoras. Mas para produzir mais com menos, de forma enxuta, foi necessário estabelecer um grau de flexibilidade de resposta das equipes de trabalho à produção oscilante de variados tipos de produtos, quase simultaneamente. Melhor que a designação de produção enxuta dada pelos ocidentais, seria tê-la chamado de produção flexível. 134 Carlos Artur Krüger Passos É certo que a flexibilidade dos processos produtivos em cadeia obtida pelas técnicas japonesas citadas e que se encontram em manuais geralmente deslocadas do contexto que lhe deram origem foram importantes, mas ganharam um perfil revolucionário quando a elas acrescentou-se a autonomia dos procedimentos, individuais, em grupo, em células, em equipes, em sub-unidades organizativas, conforme em cada caso estejam estabelecidos os processos de trabalho. Esta autonomização, estava referida não a uma autorização para cada um atuar livre e aleatoriamente, mas sim para fazer de modo proativo o necessário à obtenção maximizada da produção com qualidade, ou seja, sem defeitos. A autonomização exige dos operadores do processo produtivo não apenas um conhecimento das tarefas de diversos postos de trabalho, o know how técnico de um trabalhador polivalente, mas também, e sobretudo, um conhecimento geral e amplo dos processos produtivos e uma motivação tenaz para efetuar tarefas de forma crescentemente aperfeiçoadas, o know why com conhecimento e informação do que está se passando no ambiente de trabalho. Em suma, trabalhadores mais instruídos, mais qualificados, mais informados e mais motivados para cooperar com os demais na superação contínua da produtividade e qualidade. Nada disto era isoladamente uma novidade nas empresas corporativas dos países ocidentais, salvo uma ou outra técnica ou método específico. A verdadeira novidade foi a de que a busca incessante de aperfeiçoamentos contínuos nos procedimentos de trabalho foi delegada ao conjunto dos trabalhadores, às equipes, e a cada um como indivíduo. Nas empresas ocidentais, o que mais se parecia com isto era o que nós conhecíamos como técnicas motivacionais e enriquecimento de tarefas. Sim, embora na forma talvez fossem assemelhadas, na essência produziam efeitos absolutamente diferentes, pois no Sistema Toyota de Produção tais técnicas inscreviam-se agora em um quadro de referência liberto dos cânones da produção em massa, a saber : a) liberto das restrições tayloristas, as quais transformam cada trabalhador em um robô que não deve pensar, sobretudo nada pensar além do necessário às repetidas tarefas de seu posto de trabalho, pois a quem compete pensar sobre os métodos e procedimentos de trabalho e produção, são apenas os engenheiros os gerentes e os proprietários, em suma os doutores e os donos; PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 135 b) liberto das restrições fordistas, as quais transformam cada trabalhador, chefias e gerências em irresponsáveis ou pelo menos não responsáveis ou ainda desinteressados pelo que ocorra ou possa ocorrer antes ou depois da parte que lhe cabe no processo de produção, ou no máximo na seção, setor ou departamento onde trabalha; as quais restrições além disso, impondo a cada um o cumprimento dos tempos e movimentos exigidos para o bom fluxo da cadeia de produção, transformam a qualidade em algo a ser ex-post tratada por métodos estatísticos pelos especialistas da alta direção; c) liberto das restrições fayolistas, as quais transformam cada seção, divisão e departamento, em unidades tendentes a formar lógicas próprias e isoladas, quando não antagônicas entre si, como por exemplo, produção versus vendas, desenho versus produção, P&D versus produção etc., ao invés de prevalecer a consciência de que o destino pessoal de todos está conectado com a performance global da empresa; as quais restrições além disso, pela rígida hierarquia de comando e coordenação, supostamente baseadas em competências pessoais, resultam em hierarquias-tirânicas pelo controle das informações, impedindo qualquer criatividade a todos os que não dispõem dos porquês, causas e objetivos (o know why) de cada procedimento e do conjunto dos objetivos a serem atingidos. Não estamos afirmando que as empresas japonesas atingiram algum utópico nirvana da produção. O que sim desejamos ressaltar com as observações acima é o salto qualitativo obtido pelo rompimento dos fundamentos da teoria de gestão até então vigentes. E o fizeram por que alguns empresários, engenheiros e trabalhadores perceberam que, mantidos tais fundamentos, não teriam condições de competir com as empresas ocidentais. Mas mais que isto, o novo modelo de gestão que surge, o toyotismo, quando encarado em seu conjunto sócio-técnico de forma integral, e não apenas como um certo número de técnicas por ele criadas, trouxe embutido dentro de si, algumas das características essenciais dos futuros modelos de gestão, chamados de alta performance, que deverão vigorar nas empresas mais avançadas nas décadas iniciais do novo milênio. Uma destas características a ressaltar, por que interessa à sociedade brasileira, é a criação de um ambiente inovador. O EIXO CENTRAL DA MUDANÇA: A COOPERAÇÃO NAS EMPRESAS Flexibilidade, polivalência, motivação e outros valores organizacionais, que eram já conhecidos e rastreados pelas diversas correntes da ciência da administração, são agora colocados sob um outro 136 Carlos Artur Krüger Passos paradigma de gestão, produzindo então resultados superiores em termos de produtividade2 . Embora sem pretender aprofundar observações sobre a mudança científico-técnica representada pela microeletrônica e seus desdobramentos, notamos, en passant, a peculiar adequação deste novo modelo de gestão a este novo paradigma tecnológico. Muitos ainda crêem que o avanço implícito neste último, reside no uso humano de máquinas inteligentes, quando na verdade trata-se de potencializar o uso da inteligência humana com o manuseio de máquinas inteligentes. Voltemos à questão da gestão. Recheado de uma terminologia japonesa ou americanizada : kanban, just-in-time, poka-yoke, t-q-c, c-c-q, t-r-f, seiri,seiton,seiso,..., kaizen, etc, que podem ser encontradas de forma sistemática em OHNO, T. (1997) e SHINGO, S. (1996) e diversos outros, o Sistema Toyota de Produção vem sendo progressivamente apropriado pelas empresas ocidentais a partir do uso pontual de suas técnicas organizacionais, em forma mais avançada, em variável medida e por algumas empresas, já como uma abordagem sistêmica de produção, e em pouquíssimos casos como uma filosofia de produção contemplando integralmente todos seus elementos sócio-técnicos, até porque, relações sociais de produção e culturas organizacionais não são transplantáveis facilmente de um país para outro, e quando e naquilo que o são, necessitam de descortino empresarial e político consideráveis. Apesar destas dificuldades, convém aprofundar a análise deste modelo, pois ele constitui uma das fontes de explicação fundamental para entendermos como o povo japonês transformou seu país na segunda potência econômica do mundo no espaço de 30 anos, e como eventualmente poderemos aproveitar os ensinamentos mais frutíferos desta trajetória. A espetacular performance de algumas empresas japonesas não teria sido obtida sem uma nova conformação mental - o chamado espírito toyota um dos elementos da filosofia do modelo, cuja essência repousa na cooperação. A cooperação aqui citada, não se origina de nenhum discurso a que estamos acostumados quer o psicológico, o religioso, o humanista, o altruísta , mas sim a uma peculiar conformação do cálculo econômico, incorporando, para todos os agentes da produção e não A comprovação desta superioridade, pode ser examinada no trabalho sobre a industria automobilística mundial, A máquina que mudou o mundo, e para alguns outros setores, em A mentalidade enxuta nas empresas, ambas obras publicadas em português pela editora Campus; (WOMACK, J.P. et al, 1992, e 1998). 2 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 137 apenas para os empresários, a noção de que seus rendimentos atuais e futuros dependem do comportamento agregado da empresa, numa perspectiva de médio e longo prazo. Ou seja, de outro modo como o denomina Coriat (1994), das rendas relacionais. Rendas estas que só surgem ou são criadas à partir desta peculiar relação cooperativa entre os atores da produção, baseadas é claro na confiança de que serão distribuídas segundo algum arranjo prévio, entre empresa e sindicato, por exemplo. Este cálculo econômico e a apropriação dos seus resultados, digamos de uma forma participativa ou cooperativa, é geralmente obstruído pelo conflito distributivo capital/trabalho imediato e de curto prazo. Assim, é bastante difícil de ser implantado nos ambientes de produção onde as relações conflituosas são dominantes e cristalizadas nas hierarquizadas estruturas empresariais de poder ou de comando. Conflitos distributivos estarão sempre presentes em economias reguladas pelo mercado, até porque seu suposto é o de que cada um de seus agentes pretendem maximizar os seus ganhos. Mas aparentemente estamos diante de um modelo de gestão, de maior inteligência, smj., pois ao invés de encarar a distribuição de forma estática, portanto no esquema ganha/perde, para outro, dinâmico, onde a distribuição pode ser ganha/ganha, a partir de uma renda que só surge pela existência do nexo cooperação/distribuição, subordinadas ambas às condições do mercado e da competição capitalista. Note-se aliás, que as empresas japonesas são capitalistas e, portanto, sujeitas também a este conflito. Na verdade, a cooperação obtida não se fez, sobretudo nas suas fases iniciais de implantação, sem acentuados conflitos de interesse, exacerbados pelas duríssimas condições econômicas do pós-guerra japonês. Mas resultou num peculiar arranjo cooperativo dos trabalhadores, dos quadros técnicos e gerenciais, e dos empresários, em busca da ameaçada sobrevivência das empresas, e nas condições de forte coesão institucional e política do Estado Nacional, recém reorganizado após a ocupação norte-americana. Um acendrado sentimento nacionalista da população fazia-os perceber que a nação poderia sofrer ainda mais desorganização e pauperização do que já haviam sofrido com a derrota militar. Sociologicamente pode-se afirmar que os atores sociais da produção entenderam ser necessário reduzir seus conflitos de interesses internos, para melhor enfrentar aqueles desafios externos implícitos na competição internacional. Surgem dessa situação sócio-econômica do pós guerra, formas institucionais peculiares, o sindicato por empresa, os mercados internos 138 Carlos Artur Krüger Passos de trabalho, uma baixíssima taxa de rotação de pessoal, mesmo nos poucos períodos abaixo do pleno emprego. Mas afora estas circunstâncias nem sempre transportáveis para outras situações, pelo menos na mesma intensidade e formatação, o essencial parece ter sido o estabelecimento de contrapartidas econômicas, e alguma participação na direção, acentuada nos aspectos operacionais, e menor mas não menos importante nos aspectos estratégicos, concedidas aos sindicatos em troca do empenho efetivo dos trabalhadores na produção como um todo. Para que se tenha idéia dos resultados desse processo produtivo com esta modalidade de gestão, o Japão possui atualmente renda per capita das mais altas do mundo e é o país industrializado de menor índice de concentração da renda, ambas resultantes de décadas de acelerada expansão econômica baseada neste arranjo cooperativo de alta produtividade. A crise que vive o Japão nesta década, origina-se fundamentalmente da órbita financeira, em especial pela especulação imobiliária exacerbada efetuada pelos bancos, no período de auge dos anos 80. Não nasceu no lado real da economia, mas obviamente vai produzindo seus efeitos no conjunto das atividades. Cabe ainda ressaltar uma característica diferencial de extrema importância, a criação de ambientes inovativos, que é entretanto pouco referida, porque aparece apenas como resultante dos esforços de redução dos desperdícios intrínseca ao sistema toyota de produção. Entretanto, trata-se de uma característica cujas resultantes não haviam sido pensadas originalmente pelos criadores deste modelo, mas cuja importância embora lá já estivesse, em semente desde o início, ganharia uma dimensão inesperada, devido aos seus desdobramentos. No modelo de produção em massa, os aumentos de produtividade são apropriados pelas empresas mediante a demissão dos trabalhadores que ficaram redundantes ou excedentes pela adoção de inovações. Nas condições históricas japonesas, a grande maioria dos trabalhadores eram não demissíveis, devido a acordos de longo prazo com os seus sindicatos corporativos. Ora, exatamente esta condição fazia com que, nos momentos de queda e/ou estabilidade da demanda as empresas retirassem da linha de produção um conjunto de trabalhadores para qualificá-los, transformá-los em polivalentes e dotá-los de competências ampliadas para, crescentemente, torná-los capazes de, em equipe, gerenciar por eles próprios os processos produtivos. Note-se que este investimento em qualificação também não corria o risco de se perder facilmente, exatamente porque vigorava um padrão de baixo turn-over empregatício. Mais ainda, o estabelecimento de políticas de baixo turn over, de capacitação permanente, de incorporações de ganhos de produtividade PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 139 aos salários (este item ocorria também nas empresas ocidentais no pós guerra) e sobretudo de participação significativa nos lucros, criaram as condições para surgir um ambiente inovador sui generis, onde pela primeira vez na história empresarial capitalista os empregados não precisavam temer e resistir à adoção de inovações. Com este peculiar arranjo sócio-técnico os empregados não só não temem inovações, pois estas não mais os prejudicam, como são permanentes criadores de novos procedimentos e técnicas para a elevação da produtividade, pois estas, agora neste arranjo, só os beneficiam. Para se ter uma idéia mais concreta, a Toyota é a empresa mundial mais inovadora em termos do número de patentes por funcionário, é também a maior compradora mundial de patentes, e ainda aquela que incorpora nos processos produtivos a maior percentagem das patentes que tem disponível. Muito mais precisa ser objeto de reflexão sobre este peculiar arranjo sócio-técnico, bem como de suas possibilidades e dificuldades de adoção e difusão pela sociedade brasileira. Não há como escapar da realidade que o toyotismo revolucionou os processos de trabalho e de produção, recuperando possibilidades de gestão concretas e formas de organizar o trabalho impensáveis no paradigma fordista-taylorista, inclusive para o ponto de vista dos trabalhadores. Neste último sentido veja-se aliás a discussão equivalente, relativa aos assemelhados métodos da co-determinação empresarial alemã ou sueca. Os exemplos concretos de administração avançada referem-se geralmente a esses três países, os únicos onde têm certa importância e difusão os métodos de engajamento negociado dos trabalhadores, em substituição aos métodos de engajamento estimulado dominantes nas empresas ocidentais. Nos EUA, além das empresas que se engajam nos métodos da lean production, há todo um movimento de renovação de métodos de gestão que, embora não partam das experiências japonesas, acabam por sugerir, até com outra linguagem, tratamentos assemelhados na relação capital/trabalho. Veja-se pois o que diz Peter Drucker, um dos mais lúcidos gurus do managerialism ocidental, em artigo na revista HSM Management de jan/fev 2000 : ...O segredo não é a eletrônica, mas sim a ciência cognitiva. O segredo para manter a liderança na nova economia e na nova tecnologia vai ser a posição social dos profissionais do conhecimento. 140 Carlos Artur Krüger Passos ...Cada vez mais o desempenho nesses novos setores baseados em conhecimento dependerá de gerenciar para atrair, manter e motivar os trabalhadores do conhecimento. Isso terá de ser feito de algum modo : satisfazendo seus valores, dando-lhes reconhecimento social e poder. Isso terá de ser feito pela transformação de subordinados em colegas executivos e de empregados, por mais bem pagos que sejam, em sócios. Sendo a cooperação o eixo central dos métodos de alta performance, fica agora possível esclarecer uma certa confusão conceitual a respeito do uso que se faz das chamadas técnicas japonesas. Há empresas que persistem mantendo rígidos e consolidados métodos fordistas-tayloristas de produção e têm efetuado implantes de técnicas japonesas em caráter pontual, sem alterar a essência dos antigos métodos de gestão. Alguns analistas têm designado estas formas híbridas como fordismo flexibilizado, e registram a ocorrência de algum ganho de produtividade nestas experimentações, embora tais ganhos logo deixem de ocorrer de forma continuada, como são observados no toyotismo. A maioria dos esforços das empresas americanas para recuperar o hiato de competitividade estabelecido antes de 1990 em relação a seus competidores alemães e japoneses, vem efetuando esta flexibilização do fordismo. Em algumas vezes, através dos métodos de reengenharia, obtém-se reduções de custos sob a ótica estrita de curto prazo, das quais em não poucas vezes, com o ônus de destruir as equipes de P&D e o espírito inovativo cujos resultados poderiam garantir o aumento da performance produtiva no médio e longo prazos. Com a difusão das inovações tecnológicas de fonte eletrônica, as empresas americanas sobretudo, têm encarado as inovações nas técnicas de gestão como um simples derivativo das primeiras. Enquanto os EUA se mantém na frente deste processo de difusão em relação à Europa e ao Japão, o hiato de produtividade industrial vem se reduzindo por esta causa diferencial. Também no Brasil diversos implantes pontuais de técnicas japonesas vêm ocorrendo desde os anos 70. Como tais experimentos resultam por vezes em aceleração do ritmo de trabalho ou controles disciplinares mais poderosos dentro do regime fordista-taylorista, e além disso, quase sempre sem nenhuma compensação adicional aos trabalhadores em termos de ganhos, algumas lideranças sindicais têm conduzido feroz, porém explicável, oposição às técnicas japonesas de produção, o que, como se percebe, nada tem a ver com o conjunto sócio-técnico integral do modelo referido como toyotismo. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 141 O BRASIL, A GLOBALIZAÇÃO E O NOVO PARADIGMA PRODUTIVO Com enorme esforço, ao longo deste século diversos países economicamente atrasados iniciaram processos de industrialização que obtiveram relativo sucesso. O Brasil é um deles, e no período de 1930 a 1980 obteve um dos mais brilhantes resultados, em termos da montagem de um parque industrial complexo e de alguma importância no contexto mundial. Naqueles 50 anos de industrialização acelerada, obteve uma taxa média de crescimento do produto de 7% ao ano, uma das mais elevadas dentre todos os países, o que caracteriza o modelo de crescimento como um sucesso, a despeito de todas as insuficiências e distorções econômicosociais apontadas por diversos analistas. O modelo de substituição de importações, base conceitual explicativa da expansão industrial brasileira até l980, esgotou-se em termos relativos, exatamente porque foi um sucesso. O esgotamento do dinamismo macroeconômico, o endividamento corrente devido às altas do preço do petróleo em 74 e 79, e sobre estas condições, a monumental elevação da taxa de juros em dólares entre 79/81, conduziu o país à moratória, inflação acelerada e estagnação, estas duas últimas atravessando toda a década de 80 a meados dos 90. Dois fatos alvissareiros ocorreram desde então. Primeiro, foi a oportunidade criada pelo Plano Real, o qual há cinco anos, vem obtendo taxas inflacionarias irrisórias para uma sociedade intoxicada com inflação, depois de outras tentativas de controle do processo malogradas desde 1986. A obtenção desta significativa estabilização dos preços, vem recuperando para os agentes econômicos uma das condições básicas de funcionamento de qualquer economia de mercado, qual seja, uma segurança na elaboração do cálculo econômico de médio e longo prazo, para a tomada de decisões. O segundo, foi a passagem em janeiro de 1999 para o regime de câmbio flutuante, a partir do qual, vem se estancando o crescimento dos acentuados desequilíbrios em algumas variáveis macroeconômicas, como a explosiva expansão da dívida interna do Governo Federal e o agravamento do déficit do setor público pela pressão da conta de juros. Mas, ainda mais importante que estas variáveis citadas, é o início da recuperação das atividades produtivas da economia, após o desestímulo sistêmico gerado por um câmbio sobrevalorizado e juros reais estratosféricos durante mais de quatro anos. 142 Carlos Artur Krüger Passos A economia brasileira, infelizmente, ainda não recuperou uma dinâmica expansiva, significando isto que as expectativas gerais de negócios, centradas nas variáveis reais da economia, ainda não induziram os agentes econômicos a tomar decisões de produzir e investir com segurança, mesmo que num ritmo brando, numa perspectiva de longo prazo. Mas, ainda que como perspectiva potencial, atualmente convergem os analistas em apontar para uma expansão de 3 a 4 % no PIB para 2000, talvez como início de um período mais longo de crescimento econômico. Estas são as condições básicas de que a economia brasileira dispõe para enfrentar as tarefas de ajustar-se a um novo paradigma produtivo e ao mesmo tempo inserir-se em um novo contexto competitivo conduzido pelo processo de globalização. O desafio da economia brasileira é conseguir reestruturar a base produtiva criada sob os padrões tecnológicos eletro-mecânicos e de gestão fordista-taylorista, para uma nova estrutura formada por unidades produtivas organizadas segundo os novos paradigmas eletrônicomecânico e de gestão inovadora. O conjunto das unidades produtivas operando neste novo padrão terá de ser significativo o suficiente para induzir progressivamente outras empresas e setores a incorporá-lo. A médio prazo, este conjunto de empresas transformadas é que poderá resistir às condições competitivas impostas pelo mercado mundial. O tempo (timing) disponível pela economia brasileira para efetuar estas reestruturações se reduz continuamente. Embora a implantação da ALCA seja o horizonte mais visível, os efeitos de uma possível explosão do comércio eletrônico podem encurtar esta perspectiva. Além disso, se o conjunto das economias industrializadas ingressarem em um novo ciclo expansivo de longo prazo, sem que a economia brasileira tenha tornado endógeno pelo menos um núcleo competitivo de empresas em bases inovadoras e dinâmicas, a sociedade brasileira enfrentará o próximo século na condição de uma nova espécie de subdesenvolvimento. Evitar esta última circunstância é o desafio contemporâneo da economia e da sociedade brasileira. Transformar rapidamente o parque produtivo, que foi montado para atender o mercado interno e protegido, exige elevar a competitividade das unidades produtivas aos níveis internacionais. Pretendeu-se obter esta elevação, submetendo-se todo o aparato produtivo aos ventos da concorrência internacional desde 1990, quando se adotou uma forte redução tarifária às importações e praticamente eliminaram-se quaisquer PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 143 restrições quantitativas a importar ainda vigentes, sem adotar políticas públicas visando complementar os esforços privados de elevação da produtividade. Como a política de abertura estabeleceu-se nos quadros referenciais do neo-liberalismo, todo o esforço modernizador foi deixado ao mercado, com os empresários adotando as decisões mais racionais a cada circunstância. O Estado vem se ajustando às políticas emanadas do Consenso de Washington, reduzindo progressivamente as anteriores atribuições que até então realizava, retendo apenas as tarefas gerais de constituir um quadro institucional estável, sem interferir nas decisões individualizadas de produzir e investir, agora totalmente a cargo dos agentes privados. O Estado, justificando-se nas condições financeiras precárias, não vem interferindo nas condições do mercado e, em conseqüência, não tem adotado políticas ativas de fomento econômico de caráter setorial ou específicas, salvo em alguns casos onde os instrumentos de fomento estavam ainda vigentes institucionalmente desde antes de 1990. Este discurso ideológico e sua prática concreta, se acaso teve algum mérito em romper com um status quo exageradamente estatizante e protecionista desfrutado anteriormente pelos produtores privados, ignorou que o mercado é em si uma construção social, e não uma abstração teórica e conceitual. Ainda que uma empresa, um setor produtivo, ou um parque industrial sejam propriedade privada e devam reger-se pelas condições concorrenciais de mercado, a obtenção de bons resultados na competição econômica internacional constitui interesse que transcende as próprias empresas e os seus proprietários. Assim, torna-se necessário abandonar o protecionismo como finalidade em si, sem cair no extremo oposto de acreditar que todo um sistema produtivo anteriormente protegido, possa tornar-se por conta própria competitivo frente aos mais poderosos oligopólios mundiais, em prazos curtos e sem mobilizar esforços da sociedade através do Estado, tal como isto é efetuado mesmo nos países desenvolvidos. Assim, todas as novas políticas ativas de fomento que venham a ser adotadas, devem ter por objetivo estrito aumentar a produtividade e a competitividade das unidades produtivas, com metas explicitas a alcançar em prazos definidos, como contrapartida ao aporte de apoio público. Os produtos e as empresas beneficiárias destas vantagens públicas devem tornar-se competitivas nas condições de mercado. 144 Carlos Artur Krüger Passos A situação menos desejável é a que prevalecia até o início de 1999, atualmente progressivamente abandonada, na qual uma não política setorial de fomento acabava abrindo margem a pressões continuadas em busca de apoios públicos ad hoc, para sustentar déficits de competitividade e evitar falências sem quaisquer compromissos com objetivos de aumento da produtividade, qualidade e inovação tecnológica necessários à competitividade. AS DIFICULDADES DAS EMPRESAS PARA CRIAR AMBIENTES INOVADORES. No relatório de pesquisa sobre a produtividade em diversos setores produtivos brasileiros, realizado pela empresa de consultoria MacKinsey (1998), fica evidente que é possível obter-se elevações significativas da produção em diversos setores, em períodos de tempo que vão de quase imediatos a até 3 anos, sem efetuar-se investimentos novos substantivos. Significa isto dizer, que mesmo sem considerar o impacto dos investimentos pesados em modernização de plantas industriais existentes e em novos equipamentos, e o resultante das novas plantas industriais, é possível elevar a produção e produtividade do sistema produtivo brasileiro, adotando-se basicamente apenas inovações de gestão. Sem entrar nos detalhes metodológicos desta alentada pesquisa, destacamos algumas passagens a seguir : ...No Brasil os hiatos de produtividade nas empresas ocorrem principalmente por conta da ausência de práticas organizacionais avançadas e de poucos investimentos em tecnologia. ...Nos casos estudados (oito setores), seria possível passar de 27% da produtividade dos EUA para aproximadamente 75% sem encontrar obstáculos estruturais intransponíveis. ...O aumento potencial de 6 % na produtividade, somado a investimentos que gerem empregos para absorver os 2,5 % anuais de crescimento da população economicamente ativa, resulta em um potencial estrutural de crescimento anual do PIB de aproximadamente 8,5 %. Se essa taxa fosse sustentada por dez anos, o PIB per capita brasileiro dobraria. Em outras condições e em outros termos, tais conclusões reiteram o que diversos centros acadêmicos já vinham apontando anteriormente, como por exemplo o Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (1994) e diversos outros. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 145 O hiato de produtividade resultante de formas atrasadas de gestão é tão substancial, que o fomento, estímulos e difusão de uma gestão empresarial inovadora é uma questão estratégica, e como tal, deveria ser tratada como de interesse público, a ser estimulada de forma complementar aos esforços individualizados que vem sendo realizados pelo próprio setor empresarial privado. Isto significa dizer que neste período histórico, além das políticas macroeconômicas, - de estabilidade monetária , fiscal e financeira, de poupança e investimento, e de programas de infraestrutura -, devem ser estruturadas políticas públicas de elevação da produtividade baseadas em métodos de gestão, capacitação dos trabalhadores e inovação tecnológica dentro das empresas. Tais políticas seriam aplicadas até que um conjunto substantivo de setores produtivos alcancem níveis de competitividade que garantam sua sobrevivência e expansão, e possam efetuar por conta própria esta tarefa. Neste momento, o setor público poderá voltar a se ater basicamente às políticas de educação e capacitação de recursos humanos e de estímulo a ciência e tecnologia. Mas se este potencial de aumento de produtividade existe, cabe indagar o porque das dificuldades que o setor privado, por conta própria não o efetiva, ou pelo menos não vem conseguindo fazê-lo em um modo e um ritmo adequado. A principal dificuldade para implementar ações visando a mudanças efetivas no nível das unidades produtivas capazes de provocar transformações em escala social, reside nas próprias condições históricas em que vem ocorrendo tanto a globalização como a mudança do paradigma produtivo, como já foi mencionado anteriormente. Aqueles fenômenos respondem às necessidades dinâmicas dos países industrializados e nos apanharam, à economia e às empresas, dentro de um período de estagnação econômica, herdeiros de passivos financeiros, econômicos, sociais, institucionais e políticos de ampla magnitude, e com as tarefas de reajuste às novas circunstâncias encontrando uma agenda atravancada pelos compromissos atuais resultantes de um passado com desequilíbrios acentuados. A opção por uma agenda genérica de reformas em períodos de longa estagnação, como sugerida pelo Consenso de Washington, tem algo de paralisante, na medida em que conflitos distributivos importantes vêm à tona, sem haver nenhum acréscimo de riqueza a ser compartilhado pelos eventuais perdedores da disputa social pela renda. 146 Carlos Artur Krüger Passos A segunda dificuldade reside no fato de que a própria percepção de que o país pode perder o trem da história não está presente e difundida nas mentes e no comportamento concreto da ampla maioria de seus habitantes. Esta vaga noção de perigo e urgência nacional registrada no Japão e em outros povos, é menos acentuada no Brasil. A maioria não tem de fato esta consciência, mesmo porque a história não lhes pertence, pelo menos como atores relevantes. Outros, com diversos graus de consciência, apresentam a natural diversidade de julgamento e comportamento, sem que se tenha sido obtido no Brasil uma maioria significativa em torno da necessária criação de condições sistêmicas de competitividade, que algumas lideranças pretendem que seja obtida apenas pelo resultado cego das forças de mercado. Mesmo assim, após a abertura econômica a partir dos anos 90, tem ocorrido um significativo movimento de tomada de consciência empresarial quanto às imperativas necessidades de modernizar-se, premidos pelas novas condições competitivas impostas pela redução tarifária geral. Neste espaço de tempo, constata-se o predomínio da adoção de estratégias defensivas de mercado. E isto aconteceu mesmo nas empresas mais avançadas, ou que possuem empresários mais capacitados e conscientes das circunstâncias, e que portanto reconheciam a necessidade de implementar estratégias inovadoras de longo prazo. Já vimos que as restrições do câmbio e dos juros tornavam este caminho quase impossível. Mas, embora conduzidos sob a preocupação estrita de redução de custos, os aumentos de produtividade alcançados em diversos setores têm sido expressivos. Independentemente de possíveis distorções das estatísticas, as quais não captam adequadamente os efeitos das terceirizações realizadas, ampliando talvez os ganhos de produtividade um pouco acima do que na realidade o são, os incrementos percentuais de produtividade e o crescimento verificado no número de empresas que obtiveram certificados ISO, atestam a existência de estamentos empresariais importantes realizando a tarefa que lhes compete. Há um vasto movimento de renovação de procedimentos produtivos, através de técnicas de reordenação de atividades, reengenharia visando à redução de níveis hierárquicos e reordenação de atividades em torno de processos produtivos, terceirização de atividades de apoio, controle estatístico da qualidade, e um sem-número de outras técnicas de gestão disponíveis sobretudo no mercado de consultoria privada. Mas mesmo estes comportamentos dinâmicos, têm sido adaptativos a posições defensivas de mercado. Em milhares de outros casos, há PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 147 movimento apenas de abandono de atividades e posições de mercado, designado por vários analistas como desindustrialização por incapacidade de adoção de estratégias de resposta rápida. Lastimável foi portanto, a circunstância da não ocorrência simultânea de um firme movimento expansivo da economia. Tais esforços modernizadores não foram acompanhados de investimentos significativos, através dos quais não apenas seriam introduzidas inovações tecnológicas e de gestão simultâneas e conectadas, como também estratégias de médio e longo prazos que permitiriam às empresas adotar modelos de gestão inovadores com a segurança ampliada pelos períodos de expansão, mesmo que com taxas modestas. A REORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS PRIVADAS Mas, independente das condições dinâmicas da economia, e agora, já vimos que abre-se a possibilidade de um período de crescimento após cerca de 20 anos de estagnação, as empresas brasileiras terão de se haver com a necessária elevação de sua competitividade, para não perecerem frente seus competidores. Não há mais como postergar a adoção de atitudes modernizantes inovadoras, permanecendo-se apenas nas tarefas importantes mas insuficientes de cortar as velhas gorduras do fordismotaylorismo protegido. Assim é útil descrever algumas das tarefas e das dificuldades que os empresários, na linha de frente, e o estado e a sociedade como um todo, deverão enfrentar na adoção de modelos de produção efetivamente inovadores, como opção estratégica disseminada no tecido produtivo. Sendo crucial para a adoção de modelos de gestão inovadores, iniciemos com a questão da cooperação. As opções conflituosas, que ainda dominam boa parte das empresas brasileiras, tendem a levar em conta sobretudo a face monetária do capitalismo, como se todos os indivíduos apropriassem todas as suas vantagens estritamente através de preços instantâneos no mercado. Embora o mercado seja fundamental para o funcionamento desta economia, há fenômenos que são a ele conectados de forma indireta ou defasada no tempo, abrindo a possibilidade de arranjos institucionais ou circunstanciais apresentarem facetas simultâneas de conflito e de cooperação. Assim por exemplo, depois que através do mercado, um empresário já tenha adquiridos seus equipamentos, insumos e contratado força de trabalho por determinados preços e, portanto para ele, custos, a conseqüente obtenção de uma certa quantidade de produtos depende 148 Carlos Artur Krüger Passos das formas como os mobiliza. E esta mobilização não é estritamente de natureza mercantil, mas sim técnica e de gestão, embora o resultado desta mobilização, os produtos obtidos, estejam sempre referenciados a um futuro resultado monetário a ser obtido no mercado. Como já foi descrito, a redução dos níveis de conflito pode não ser apenas um ato voluntarioso, paternalista ou cultural, mas sim, negociado, concertado, acordado, pela troca de interesses mútuos. Mais que isto, o negociado engajamento proativo dos trabalhadores objetiva obter uma mais ampla liberação das suas potencialidades humanas a favor do aumento de uma possível renda futura partilhada pelos atores envolvidos. Este arranjo que mobiliza as habilidades humanas de inteligência e criatividade para inovar permanentemente, dentro das sociedades capitalistas, constitui a evolução para a futura sociedade do conhecimento. A manutenção, por inércia, poder, ou desconhecimento, das estruturas produtivas segmentadas por postos fixos à moda taylorizada, corresponde hoje a uma opção prévia pela derrota empresarial, eqüivale a não dispor de nenhuma estratégia inovadora competitiva. Enfatizamos este ponto, mediante uma citação3 , registrando no início dos anos 80, a fala de um empresário japonês a seus colegas em uma associação patronal francesa, . . . ... Vocês, empresários europeus, vão perder e nós, empresários japoneses, vamos ganhar. Vocês vão perder porque a derrota está em suas próprias cabeças : vocês estão intimamente persuadidos de que as organizações de grande desempenho competitivas são aquelas nas quais há de um lado - e no alto - aqueles que pensam, e do outro - e embaixo aqueles que executam. Vocês estão persuadidos disso, mesmo aqueles que dizem o contrário... E, infelizmente, é grande ainda hoje o contingente de empresários, políticos, engenheiros, lideranças públicas e privadas no Brasil, para os quais a observação acima seria ainda hoje aplicável. Mas, como esta postura, que haveremos de superar, não é algo apenas voluntarioso, pois em princípio apelos à cooperação, pura e simplesmente, pouco resultado devem obter, examinemos quais as dificuldades que mais exigem esforços de transformação. B. CORIAT (l994), Pensar pelo avesso. Editora UFRJ/Revam, contido na página 23. Extratos da fala de um empresário japonês reproduzidos por G.Archer e H.Eriex em LEntreprise du 3ème type. Ed.du Seuil, l984. 3 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 149 Com os novos métodos de produção alteram-se a importância das antigas variáveis. Não mais serão vencedoras as empresas cujas estratégias estejam baseadas em força de trabalho barata, abundância e custo baixo de matérias-primas, ou na disponibilidade de energia barata. Assim, estratégias públicas, ou políticas e programas de fomento baseados nestas características devem ser abandonadas, para não ficarmos criando hoje, empresas, tecnologias, empregos, capacitações que inevitavelmente não se sustentarão no amanhã. De modo tendencial, deverão prevalecer nos mercados as empresas cujas estratégias incorporem ou baseiem-se em variáveis tais como : a) utilizem informações e conhecimentos que os concorrentes ainda tenham disponíveis; b) as que possuam informações e as disponibilizem com maior grau de difusão ao seu corpo funcional; c) aquelas em que os recursos humanos que mobiliza seja composto de pessoas com maior grau de educação e de qualificações técnicas; d) as empresas que vierem a alcançar um ambiente de trabalho participativo e cooperativo voltado para inovações contínuas de produto e de processo contínuos. Em suma, a informação processada, isto é, o conhecimento, passa a ser a pedra de toque do novo padrão de competição. Mais competitiva será a empresa que dispuzer de mais ciência, mais tecnologia e mais cooperação das pessoas e da rede de entidades conectadas com sua produção e com seu mercado. Neste ponto as empresas brasileiras deverão fazer um duplo esforço: além de tornarem-se capacitadas a absorver tecnologias, devem a partir destas ser capazes de desenvolver inovações. Para muitos analistas, esta política só seria aplicável a setores de alta densidade tecnológica, não levando em conta que o Brasil possui muito pouco deles. Atualmente se consideramos o conjunto da cadeia de valor de qualquer produto, em todas as suas fases pode-se incrementar a agregação de valor, mediante um dos seus vetores, representado por incorporar trabalho de maior intensidade de conhecimento. Para corroborar esta afirmação, destaca-se aqui, em tradução livre, uma observação importante citada por Michael E. Porter, em artigo da Harvard Business Review nov/dez 1998, a saber ... o termo alta tecnologia { high tech } criou a concepção equivocada de que somente um pequeno número de atividades econômicas competem com procedimentos tecnológicos sofisticados As condições atuais do mercado de trabalho brasileiro não são de molde a facilitar a cooperação dos trabalhadores com suas empresas. As estratégias defensivas que implicaram em demissões substantivas para 150 Carlos Artur Krüger Passos redução de custos, obviamente bloqueiam a cooperação, pois dificilmente trabalhadores sob risco de desemprego conseguem incorporar atitudes cooperativas, cujos resultados por definição implicam em processos de médio e longo prazos. Uma grande parte das empresas sequer possui programas de formação e de qualificação de pessoal, sejam internos ou externos. É impressionante como é generalizada a concepção de que a qualificação de recursos humanos constitui um problema externo às unidades produtivas. Mas nenhum país econômicamente importante baseia suas necessidades de educação e capacitação exclusivamente na oferta externa às unidades produtivas, seja pública ou privada. Voltemos a utilizar um trecho do já citado Relatório de Pesquisa McKinsey, a saber . . . ...Nossa abordagem analítica permite, simplesmente, quantificar o grau em que a combinação de investimentos em treinamento com a melhoria de processos de produção pode resultar em aumento da produtividade. Em outras palavras, reunimos evidências das possibilidades de melhoria de desempenho, para as empresas brasileiras, por meio da adoção de melhores práticas operacionais e organizacionais, utilizando a mão-de-obra já disponível, apesar de sua escolaridade relativamente baixa. Além disso, as possibilidades de ganhos de produtividade são bem maiores que os custos envolvidos. Este fato indica que vale a pena, para o setor empresarial, investir no treinamento de funcionários, e dessa forma, contribuir para aumentar o capital humano no Brasil. A responsabilidade pela formação do trabalhador não precisa recair somente sobre o setor público. O treinamento no emprego torna-se, assim, um importante complemento à educação formal. Pesquisas indicam também que a desigualdade salarial no Brasil está associada à desigualdade no acesso à educação e à escassez do estoque de capital humano. Com a adoção de práticas produtivas e gerenciais mais avançadas, o crescimento da demanda por trabalhadores com maior escolaridade tenderá a aumentar seus salários. Assim para que a desigualdade salarial não cresça, será necessário atender a essa demanda não só com trabalhadores capacitados pelos programas de treinamento das empresas, mas também com a elevação do nível educacional dos novos participantes da força de trabalho. Finalmente, cabe ressaltar que, em quase todos os países que atingiram um PIB per capita duas vezes superior ao que o Brasil possui atualmente, a força de trabalho possuía maior escolaridade que no Brasil. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 151 Isso sugere que programas de ensino secundário que atinjam uma fração maior da juventude brasileira ajudariam, sem dúvida, o país a alcançar o seu potencial de crescimento. As solicitações empresariais de flexibilização da legislação trabalhista, que é claramente arcaica e inadequada, voltaram-se entretanto quase que invariavelmente à obtenção de flexibilidades quantitativas, isto é, redução dos custos de demitir, redução de direitos trabalhistas e previdenciários, redução dos custos de contratar, etc., explicáveis até nesta década de corte de gorduras, mas só reforçam situações latentes e abertas de conflito. Este tipo de abordagem deve ser rediscutido e prontamente substituído por critérios e cenários que incorporem alguma visão de futuro. Além do número de empregos se reduzirem, o que é em si importante, mas poderia estar refletindo uma inadequação de oferta/ demanda em termos de qualificação de recursos humanos, a recente divulgação de que a massa global dos salários no Brasil se deprimiu em 7% no ano de 1999, é rigorosamente uma indicação de que estamos sendo conduzidos a reter apenas fatias de mercado de bens de baixo valor agregado e de salários irrisórios. O volume de recursos internos às empresas despendido em P&D é também extremamente baixo. Se tratássemos a gestão inovadora como um item da estratégia nacional, parte ponderável das pesquisas tecnológicas hoje fomentadas, seria desenvolvida diretamente a partir de necessidades internas a empresas ou clusters produtivos. Dirigente de organismo de fomento à C&T, o Professor Dr. Carlos Henrique de Brito Cruz explicitou em palestra recente, através de um chiste analógico, que o país tem realizado esforços significativos para criar uma razoável capacidade, expressa em recursos humanos de alta capacitação científica e tecnológica, mas falta-nos o artilheiro, o homemgol, aquele que nas empresas dedica-se à pesquisa e desenvolvimento de produtos e de processos, e que efetiva as inovações de maior densidade tecnológica. Em quase todas as demais posições em campo temos quadros competentes em ação. Mas quase nunca fazemos gol, isto é, pouco implementamos na produção inovações patenteáveis. Deve-se reconhecer que a concessão negociada de participação dos trabalhadores de cada empresa nos resultados do aumento de produtividade decorrentes de um ambiente de cooperação é extremamente delicada, pois além de afetar o próprio objetivo da empresa - seus lucros - implica a confiança mútua e acesso a informações contábeis sensíveis. Além dos casos existentes em diversas empresas japonesas, também o exemplo alemão de acordos específicos com seções 152 Carlos Artur Krüger Passos sindicais de fábrica nos indicam serem possíveis tais procedimentos. Ainda que hajam muitas dificuldades de progressiva operacionalização destes sistemas de participação nos lucros, é indispensável haver a vontade diligente e inteligente dos proprietários das empresas, para implementá-lo inserido num arranjo cooperativo visando criar ambientes inovativos, antecipando-se a disposições de caráter legal surgidas em uma época pretérita de padrões de relação capital trabalho. Ainda no campo dos óbices à criação de uma atitude de cooperação dos trabalhadores, merece ser citado o temor dos empresários, mas não menos do corpo dos gerentes e chefias intermediárias, de uma eventual perda de seu direito de dirigir a empresa ou seu setor ou seção. Isto obviamente só deve ocorrer nas mais atrasadas organizações em regime conflitivo. Pelo contrário, em certa medida é plenamente salutar que um ambiente cooperativo, autonomizado, mais qualificado e flexível reduza e de preferência anule e substitua todos os componentes tirânicos dos poderes-hierárquicos de chefetes, e os substituam progressivamente pelos poderes-conhecimento, características das verdadeiras lideranças. Já há muitas décadas em diversas empresas japonesas, um dos atributos para assumir posições de comando estratégico na alta direção é que os possíveis futuros ocupantes sejam ou tenham sido membros ativos dos sindicatos de trabalhadores. Por fim uma observação necessária nos ambientes brasileiros. Aqui o termo cooperação sugere quase tudo, menos o que ele é. Para muitos significa complacência com qualquer situação ou atitudes pessoais; para outros, a necessária aceitação cega/surda/muda de sua autoridade por parte dos outros. Como corolário, atitudes cooperativas aqui quase significam subordinação, ou no mínimo ausência de posicionamento próprio. Cabe notar que nos exemplos que mais mobilizaram atitudes cooperativas no trabalho as empresas japonesas, alemãs, e suecas , as maiores críticas externas endereçadas a estes modelos, referem-se à ausência de complacência, à dureza do trabalho, etc., e os exemplos mais conseqüentes e de maior sucesso referem-se à aceitação pelas chefias dos objetivos traçados de comum acordo com os trabalhadores. Mas as atitudes cooperativas não se restringem a atitudes de relacionamento no chão da fábrica ou em seus escritórios. As empresas de maior capacidade competitiva adotam atitudes de cooperação interempresas com seus fornecedores e com as empresas usuárias de seus bens e serviços, buscando estabelecer vínculos produtivos na definição conjunta de padrões de qualidade, no design cooperativo, nas técnicas de just-in-time, no desenvolvimento tecnológico, na qualificação e treinamento conjunto de seus quadros profissionais, no lazer, e em tantos outros aspectos capazes de produzir sinergias. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 153 A formação de redes empresariais conectam estes interesses de forma a cooperarem em busca da ocupação de maiores fatias de mercado, o que interessa a todos de forma conjunta, como única forma de competirem com eficácia, contra outras redes de competidores em operação no mesmo mercado. Talvez nunca como agora, um conjunto tão amplo e importantes de variáveis decisivas para os destinos da população brasileira e seu estado-nação, estejam imbricadas no lugar mesmo da produção, no coração das unidades produtivas. Permanecer sem mobilizar com diligência os melhores recursos nacionais para alterar o atual quadro da produtividade e consequentemente da competitividade, ali onde estas variáveis são importantes hoje, é correr o risco histórico de vir enfrentar um longo período de atraso cultural e pobreza material. A gestão da grande maioria das unidades produtivas no Brasil, ainda utiliza-se de modelos arcaicos e ultrapassados. Esta é uma questão estratégica fundamental, que necessita ser tratada como prioritária, ao lado de outras políticas de fomento, pelo setor público brasileiro. Sem paternalismos, uma mobilização neste sentido somar-se-ia com os esforços empresariais, técnico-científicos e os do mundo do trabalho, cuja resultante será com certeza melhor que as que temos obtido até o presente momento de nossa história. BIBLIOGRAFIA CANUTO, Otaviano. Aprendizado tecnológico na industrialização tardia: Economia e Sociedade n. 2, ago. 1993. p.171 a 189. CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso : o modelo japonês de trabalho e organização. Rio de Janeiro : Revan : UFRJ, 1994. 212p. COUTINHO, Luciano G. A Terceira Revolução Industrial. Economia e Sociedade n.1, ago. 1992. p.69 a 87. COUTINHO, Luciano G.,e FERRAZ, João Carlos (coords.). Estudo da competitividade da Indústria Brasileira. Campinas : Papirus Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994. 510p. DRUCKER, Peter. Além da Revolução da Informação. HSM Management nº 18, janeiro-fevereiro 2000. p. 48 a 55 LICHA, Antônio Luis. Evolução de regimes institucionais. Rio de Janeiro: UFF, l996. 40p. (mimeo.) OHNO, Taiichi. O Sistema Toyota de Produção - Além da Produção em Larga Escala. Porto Alegre, Bookman Companhia Editora, 1997. 137p. OREIRO, José Luis. Alta performance ou produção em massa flexível os casos da Alemanha e do Reino Unido. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 1995. 8p. (mimeo.) 154 Carlos Artur Krüger Passos PASSOS, Carlos Artur Krüger; Sistemas Locais de Inovação : o caso do Paraná. p 335 a 372, IN :- Globalização & Inovação Localizada : Experiências de Sistemas Locais no Mercosul; CASSIOLATO, José Eduardo e LASTRES, Helena Maria Martins (Eds.). Brasília, DF, IBICT/MCT, 1999. 799 p. PASSOS, Carlos Artur Krüger; Novos Modelos de Gestão e as Informações. p 58 a 83, IN :- Informação e Globalização na Era do Conhecimento; LASTRES, Helena Maria Martins, ALBAGLI, Sarita (Orgs.). Rio de Janeiro, Editora Campus, 1999. 318 p. PORTER, Michael E. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, november-december 1998. p. 77 a 90. Produtividade : a Chave do Desenvolvimento Acelerado no Brasil; McKinsey Global Institute, Relatório de Pesquisa, São Paulo, março de 1998, mimeo, (versão integral e versão resumida) SHINGO, Shigeo. O Sistema Toyota de Produção do Ponto de Vista da Engenharia de Produção. Porto Alegre, Bookman Companhia Editora Ltda, 1996. 291 p. SHINGO, Shigeo. Sistemas de Produção com Estoque Zero. Porto Alegre, Bookman Companhia Editora Ltda, 1996. 380 p WOMACK, J.P.; JONES, D.T.; ROOS, D. A Máquina que Mudou o Mundo. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1992. 347p. WOMACK, J.P.; JONES, D.T. A Mentalidade Enxuta nas Empresas - Elimine os Desperdícios e Crie Riqueza. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1998. 427p. Resumo Este artigo aponta as razões pelas quais a postura nacional mais correta é agir de forma pró-ativa na transformação do aparelho produtivo visando maior produtividade e competitividade, face aos desafios postos pela globalização. Isto exigirá abandonar os antigos modelos fordistas-tayloristas por métodos de produção baseados na cooperação para criar ambientes inovativos. Com base no toyotismo, as empresas aplicam diversas tecnologias de base microeletrônica conectadas com técnicas de gestão inovadoras, com um método cujo eixo central reside na mobilização dos agentes através de um ambiente de cooperação intra e inter empresas. Analisa-se no texto as dificuldades para se efetivar tais mudanças nas empresas brasileiras, em termos macro e microeconômicos. Explicita-se o porque, nas circunstâncias atuais, a adoção de um modelo de gestão inovação como atributo central, ultrapassa o simples interesse dos empresários e torna-se uma questão estratégica nacional. Abstract The reasons by which the correct nactional posture in this article is to act in a proactive form in the transformation of the productive aparatus seeking a better productivity and competitiveness, having all challenges set by the globalization phenomenon. This will implicate in the abandoning of the old models fordists-taylorists by means of production based on cooperation to create new ambiances. Having the toyotist model, these companies use diverse technologies based on microelectronic connections with management innovative tecniches, with a method that uses as its core the agents mobilization through intra and inter cooperation of the companies. In this paper the difficulties to modify brazilian companies are analized in macro and microeconomical terms. Putting in evidence why, in actual circunstances, the adoption of PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 155 this pattern that has innovation as a key player, is outdating the simple interest of entrepreneurs and turning this issue into a national strategy. O Autor Economista graduado pela UFPR. Mestre em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Doutor em Sócio-Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris I - Panthéon-Sorbonne. Prof. do Mestrado em Tecnologia do CEFET-PR. Prof. do Mestrado em Desenvolvimento Econômico da UFPr. Ex-Secretário do Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Estado do Paraná. Ex-DiretorPresidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). @ E-mail <[email protected]> 156 Carlos Artur Krüger Passos Ciência, Tecnologia & Sociedade PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 157 Inovação na Era do Conhecimento1 CRISTINA LEMOS2 O contexto atual se caracteriza por mudanças aceleradas nos mercados, nas tecnologias e nas formas organizacionais, e a capacidade de gerar e absorver inovações vem sendo considerada, mais do que nunca, crucial para que um agente econômico se torne competitivo. Entretanto, para acompanhar as rápidas mudanças em curso, torna-se de extrema relevância a aquisição de novas capacitações e conhecimentos, o que significa intensificar a capacidade de indivíduos, empresas, países e regiões de aprender e transformar este aprendizado em fator de competitividade para os mesmos. Por este motivo, vem-se denominando esta fase como a da Economia Baseada no Conhecimento ou, mais especificamente, Baseada no Aprendizado. Apesar de muitos considerarem, atualmente, que o processo de globalização e a disseminação das tecnologias de informação e comunicação, permitem a fácil transferência de conhecimento, observase que, ao contrário desta tese, apenas informações e alguns conhecimentos podem ser facilmente transferíveis. Elementos cruciais do conhecimento, implícitos nas práticas de pesquisa, desenvolvimento e produção, não são facilmente transferíveis espacialmente, pois estão enraizados em pessoas, organizações e locais específicos. Somente os que detêm este tipo de conhecimento, podem ser capazes de se adaptar às velozes mudanças que ocorrem nos mercados e nas tecnologias e gerar inovações em produtos, processos e em formas organizacionais. Desta forma, se torna um dos limites mais importantes à geração de inovação por parte de empresas, países e regiões o não compartilhamento destes conhecimentos que permanecem específicos e não transferíveis. Assim, enormes esforços vêm sendo realizados para tornar novos conhecimentos apropriáveis, bem como para estimular a interação entre os diferentes agentes econômicos e sociais para a sua difusão e conseqüente geração de inovações. Reconhece-se, portanto, no contexto Este artigo foi originalmente publicado em: Lastres, Helena M. M. e Albagli, Sarita Informação e Globalização na Era do Conhecimento, Rio de Janeiro, Editora Campus Ltda. (www.campus.com.br), capítulo 5, pp. 12 144, 1999. 1 A autora agradece a valiosa contribuição de Helena M. M. Lastres para a elaboração deste artigo. 2 158 Cristina Lemos atual de intensa competição, que o conhecimento é a base fundamental e o aprendizado interativo é a melhor forma para indivíduos, empresas, regiões e países estarem aptos a enfrentar as mudanças em curso, intensificarem a geração de inovações e se capacitarem para uma inserção mais positiva nesta fase. Este artigo objetiva identificar as principais alterações no entendimento do processo inovativo, e as formas de inovação características da atual fase. Para tal, na seção 2, abordam-se os principais elementos do processo inovativo, sua natureza e fontes, bem como os conhecimentos necessários para sua geração. São discutidos, na seção 3, aspectos do que vem sendo apontado como a Economia Baseada no Conhecimento, e posteriormente, na seção 4, as mudanças mais recentes na dinâmica de geração e aquisição destes conhecimentos e as tendências de intensificação de sua codificação. Objetiva-se enfocar, na seção 5, a relevância do aprendizado como processo central para a inovação e, na seção 6, os novos formatos organizacionais que vêm sendo considerados como mais adequados para se participar deste processo. Na seção 7, apresentam-se argumentos sobre a importância de sistemas locais na geração de inovação. Discutem-se, na seção 8, as alterações por que vêm passando políticas de promoção de inovações e, por fim, na conclusão, argumenta-se que, se houve uma mudança na compreensão deste processo, é necessário que as novas políticas reconheçam e incorporem tais alterações, reformulando seus formatos e objetivos. NOVOS ELEMENTOS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO No âmbito da economia, ao longo deste século, muito vem se discutindo sobre a inovação, sua natureza, características e fontes, com o objetivo de buscar uma maior compreensão de seu papel frente ao desenvolvimento econômico, ressaltando-se como marco fundamental a contribuição de Joseph Schumpeter, na primeira metade deste século, que enfocou a importância das inovações e dos avanços tecnológicos no desenvolvimento de empresas e da economia. De forma genérica, as inovações podem ser radicais ou incrementais. Pode-se entender a inovação radical como o desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Este tipo de inovações pode representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, originando novas indústrias, setores, mercados. Também significam redução de custos e aumento de qualidade em produtos já existentes. Algumas importantes inovações radicais, que causaram impacto na economia e na sociedade como um todo e alteraram para sempre o perfil da economia mundial, podem ser lembradas, como por exemplo, a introdução da máquina a vapor, no final do século XVIII, ou o PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 159 desenvolvimento da microeletrônica, a partir da década de 1950 do atual século. Estas e algumas outras inovações radicais impulsionaram a formação de padrões de crescimento, com a conformação de paradigmas tecno-econômicos (Freeman, 1988). As inovações podem ser ainda de caráter incremental, referindose a introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou organização da produção dentro de uma empresa, sem alteração na estrutura industrial (Freeman, 1988). Inúmeros são os exemplos de inovações incrementais, muitas delas imperceptíveis para o consumidor, podendo gerar crescimento da eficiência técnica, aumento da produtividade, redução de custos, aumento de qualidade e mudanças que possibilitem a ampliação das aplicações de um produto ou processo. A otimização de processos de produção, o design de produtos ou a diminuição na utilização de materiais e componentes na produção de um bem podem ser consideradas inovações incrementais. Até pouco tempo, era grande a rigidez para caracterizar o processo de inovação, suas fontes de geração e formas como se realiza e difunde. Evidentemente que a compreensão do processo de inovação está estreitamente influenciada pelas características dominantes de contextos histórico-econômicos específicos. Atualmente, aspectos negligenciados por não terem relevância nos períodos em questão começam a ser plenamente reconhecidos como de papel fundamental para o êxito do processo inovativo. À medida em que melhor se conhecem as especificidades da geração e difusão de inovação, mais se sabe sobre sua importância para que empresas e países reforcem sua competitividade na economia mundial. Cabe ressaltar que, em correntes tradicionais da economia, ainda hoje existem dificuldades de análise do processo inovativo. Estas vertentes, em geral, consideram a tecnologia como um fator exógeno à dinâmica econômica, que se encontra facilmente disponível e transferível a qualquer agente econômico. Consideram, ainda, que processo inovativo é igual para estes agentes, independentemente do seu tipo, setor, estágio de capacitação tecnológica, local ou país em que está localizado. Diferentemente desse enfoque, destacam-se, neste capítulo a abordagem neo-schumpeteriana que aponta para uma estreita relação entre crescimento econômico e as mudanças que ocorrem com a introdução e disseminação de inovações tecnológicas e organizacionais. Compreende-se, sob este ponto de vista, que os avanços resultantes de processos inovativos são fator básico na formação dos padrões de transformação da economia, bem como de seu desenvolvimento de longo prazo. 160 Cristina Lemos Entretanto, reconhece-se que o entendimento existente sobre a natureza das inovações e seus efeitos sobre o crescimento econômico são ainda limitados. A busca de uma maior compreensão deste processo levou ao notável crescimento dos estudos nesta área, ao longo das últimas décadas. À medida em que se intensificaram formas anteriormente não sistematizadas no estudo do processo inovativo, novos aspectos puderam ser incorporados ao quadro de referência anterior. Desta forma, noções lineares sobre o processo inovativo como aquelas que o tratavam como resultado das atividades realizadas na esfera da ciência, que evoluiria unidirecionalmente para a tecnologia, até chegar à produção e ao mercado já não se colocam mais no centro do debate. Adicionalmente, na mesma medida que a ciência não pode ser considerada como fonte absoluta de inovações, também as demandas que vêm do mercado não devem ser tomadas como o único elemento determinante do processo de inovação, como apresentavam teses contrárias3 . Quando se aceita a existência de uma estrutura complexa de interação entre o ambiente econômico e as direções das mudanças tecnológicas, deixa-se de compreender o processo de inovação como um processo que evolui da ciência para o mercado, ou como seu oposto, que o mercado é a fonte das mudanças. Os diferentes aspectos da inovação a tornam um processo complexo, interativo e não linear. Combinados, tanto os conhecimentos adquiridos com os avanços na pesquisa científica, quanto as necessidades oriundas do mercado levem a inovações em produtos e processos e a mudanças na base tecnológica e organizacional de uma empresa, setor ou país, que podem se dar tanto de forma radical como incremental. Longe de ser linear, o processo inovativo se caracteriza por ser descontínuo e irregular, com concentração de surtos de inovação, os quais vão influenciar diferentemente os diversos setores da economia em determinados períodos. Além de não obedecer a um padrão linear, contínuo e regular, as inovações possuem também um considerável grau de incerteza, posto que a solução dos problemas existentes e as consequências das resoluções são desconhecidas a priori. Revelam, por outro lado, um caráter cumulativo, tendo em vista que a capacidade de uma empresa realizar mudanças e avanços, dentro de um padrão estabelecido, é fortemente influenciada pelas características das tecnologias que estão sendo utilizadas e pela experiência acumulada no passado (Dosi, 1988). Para detalhes sobre a crítica ao modelo linear e o longo debate acerca dos argumentos de science ou technology-push e demand ou market-pull, ver, entre outros, Freeman, 1988; Lastres, 1993; e Lemos, 1996. 3 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 161 Com a maior compreensão sobre a natureza e as fontes de geração de inovações, flexibilizou-se a abrangência de sua definição e ampliouse o leque de atividades consideradas como de inovação. De forma geral, considera-se, atualmente, que a mesma envolve diferentes etapas no processo de obtenção de um produto até o seu lançamento no mercado. Não significa algo necessariamente inédito, nem resulta somente da pesquisa científica. Não se refere apenas a mudanças na tecnologia utilizada por uma empresa ou setor, mas inclui também mudanças organizacionais, relativas às formas de organização e gestão da produção. A definição de inovação que vem sendo mais comumente utilizada caracteriza-a, portanto, como a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, processos e novas técnicas organizacionais (Dosi, 1988). Objetivando apontar para as possibilidades de inovação em países em desenvolvimento, Mytelka (1993) desfaz a noção de que inovação deve ser algo absolutamente novo no mundo e colabora para a sua compreensão, ao focar a inovação sob o ponto de vista do agente econômico que a está implementando. Assim, considera inovação o processo pelo qual produtores dominam e implementam o projeto e produção de bens e serviços que são novos para os mesmos, a despeito de serem ou não novos para seus concorrentes - domésticos ou estrangeiros. Importante também foi o entendimento de que cada uma das fontes de geração de inovações baseadas na ciência, ou na experiência cotidiana de produção, design, gestão, comercialização e marketing dos produtos pode ter maior relevância e impacto distinto para o processo, dependendo sobremaneira da estrutura e tipo da empresa, dos setores e países em questão. Está também relacionada à natureza da inovação, se se refere a aperfeiçoamentos ou se representa rupturas nos sistemas tecnológicos, ou seja, se são inovações incrementais ou radicais. Da mesma forma, cada uma destas fontes de inovação vai ser em maior ou menor grau prevalecente, dependendo do estágio em que se encontra o paradigma. Na emergência de um paradigma, quando novas tecnologias surgem com mais intensidade, parece ser mais evidente que as fontes baseadas em conhecimentos científicos possuem papel fundamental para a introdução de inovações de cunho mais radical. Já em sua maturidade, quando as tecnologias já estão dominadas, as fontes relacionadas a conhecimentos adquiridos com a experiência da empresa se tornam mais e mais importantes para que as firmas estejam aptas a gerar aperfeiçoamentos e obter inovações incrementais (Freeman, 1988). Assim, é necessário considerar que uma empresa não inova sozinha, pois as fontes de informações, conhecimentos e inovação podem se localizar tanto dentro, como fora dela. O processo de inovação é, portanto, 162 Cristina Lemos um processo interativo, realizado com a contribuição de variados agentes econômicos e sociais que possuem diferentes tipos de informações e conhecimentos. Esta interação se dá em vários níveis, entre diversos departamentos de uma mesma empresa, entre empresas distintas e com outras organizações, como aquelas de ensino e pesquisa. O arranjo das várias fontes de idéias, informações e conhecimentos passou, mais recentemente, a ser considerado uma importante maneira das firmas se capacitarem para gerar inovações e enfrentar mudanças, tendo em vista que a solução da maioria dos problemas tecnológicos implica no uso de conhecimento de vários tipos. Observa-se que a emergência do atual paradigma, baseado nas novas tecnologias de informação e comunicação, que possibilitou uma transformação radical nas formas de comunicação e de troca de informações, colocou em relevo as características elencadas acima, ou seja, a importância das diferentes fontes de inovação e da interação entre as mesmas. Contribuiu, ainda, para compreender que estes aspectos do processo de inovação sempre estiveram presentes mas, no atual contexto, são mais do que nunca condição necessária para a geração de inovações. O fato é que o processo de inovação aumentou consideravelmente sua velocidade nas últimas décadas. A aceleração da mudança tecnológica é de tal ordem, que se nota uma alteração radical no uso do tempo na economia, com uma crescente redução do tempo de produção de bens por meio da utilização das novas tecnologias, formas organizacionais e técnicas de gestão da produção e também de consumo dos bens com a planejada diminuição do tempo de vida dos produtos. A necessidade de colaboração, mesmo para grandes conglomerados, torna-se, portanto, muito maior, para que se possa acompanhar o ritmo destas mudanças e não ficar para trás. Desta forma e que se observa a crescente articulação dentro das empresas e entre estas e outras organizações, em especial, as instituições de pesquisa. A ECONOMIA BASEADA NO CONHECIMENTO E NO APRENDIZADO Desde o pós-guerra, vem se reconhecendo, paulatinamente, que a produtividade e competitividade dos agentes econômicos depende cada vez mais da capacidade de lidar eficazmente com a informação para transformá-la em conhecimento. Uma grande e crescente proporção da força de trabalho passou a estar envolvida na produção e distribuição de informações e conhecimento e não mais na produção de bens materiais, gerando reflexos no crescimento relativo do setor de serviços, frente ao industrial. Desta forma, apontou-se para uma tendência de aumento da importância dos recursos intangíveis na economia particularmente nas formas de educação e treinamento da força de trabalho e do conhecimento adquirido com investimento em pesquisa e desenvolvimento. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 163 A emergência do atual paradigma intensificou a relevância destas características e a importância dos recursos intangíveis na economia. As tecnologias de informação e comunicação propiciam o desenvolvimento de novas formas de geração, tratamento e distribuição de informações. Através de ferramentas de base eletrônica que diminuíram enormemente o tempo necessário para comunicação, transformam-se as formas tradicionais de pesquisa, desenvolvimento, produção e consumo da economia, facilitando e intensificando a muito rápida ou instantânea comunicação, processamento, armazenamento e transmissão de informações em nível mundial a custos decrescentes. Três aspectos devem ser destacados no que se refere a estas novas tecnologias. O primeiro são os avanços observados na microeletrônica que tiveram como consequências de maior impacto para a economia e para sociedade o desenvolvimento do setor de informática e a difusão de microcomputadores e de softwares que vêm englobando grande parte das tarefas que anteriormente eram realizadas pelo trabalho humano direto. O segundo se refere aos avanços nas telecomunicações. A introdução e disseminação de algumas das novas tecnologias, como por exemplo, as comunicações via satélite e a utilização de fibras óticas, revolucionaram os sistemas de comunicação. Por fim, a convergência entre estas duas bases tecnológicas, permitiu o acelerado desenvolvimento dos sistemas e redes de comunicação eletrônicos mundiais. A difusão dessas novas tecnologias permitiu a expansão das relações e da troca de informações possibilitando a interação entre diferentes unidades dentro de uma empresa como a pesquisa, engenharia, design e produção e fora dela, com outras empresas ou outros agentes que detenham distintos tipos de conhecimentos. A incorporação de ferramentas, cada vez mais velozes e de menor custo, se dá em todos os setores da economia, permitindo acesso a informações como nunca foi possível e, para aqueles que concentram esforços na aquisição de conhecimentos, uma maior capacidade de gerar alternativas tecnológicas. Estas tecnologias alteraram radicalmente os padrões até então estabelecidos e vêm exercendo uma influência decisiva em inúmeros aspectos das esferas sócio-econômico-político-cultural. Assim é que se considera que as mesmas são a base técnica do que vem sendo chamado por alguns autores de revolução informacional, que contribui para a conformação de uma nova Era, Sociedade ou Economia da Informação, do Conhecimento ou do Aprendizado, conforme a maior ênfase que se considere que deve ser dada a um destes aspectos (Lojkine, 1995; Castells, 1997; Foray e Lundvall, 1996; Lundvall e Borrás, 1998; e Cassiolato e Lastres, 1999, entre outros). 164 Cristina Lemos A despeito da atual maior visibilidade das informações, alguns autores argumentam que esta fase se caracteriza pelo fácil acesso às informações, mas ponderam que o conhecimento é central, e sem ele não é possível decodificar o conteúdo das informações e transformá-las em conhecimento. Assim, preferem se referir a mesma como a Economia Baseada no Conhecimento. A ênfase no conhecimento deve-se, também, ao fato de que as tecnologias líderes desta fase são resultado de enormes esforços de pesquisa e desenvolvimento. As altas taxas de inovações e mudanças recentes implicam, assim, em uma forte demanda por capacitação para responder às necessidades e oportunidades que se abrem. Exigem, por sua vez, novos e cada vez maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento, educação e treinamento. Argumenta-se, desta forma, que os instrumentos disponibilizados pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação equipamentos, programas e redes eletrônicas de comunicação mundiais podem ser inúteis se não existir uma base capacitada para utilizá-los, acessar as informações disponíveis e transformá-las em conhecimento e inovação. Na atual fase, na qual se destacam dois fenômenos interrelacionados, o processo de aceleração das inovações e a globalização em curso, aparentemente a disponibilização de meios técnicos que possibilitam o acesso a informações, torna o conhecimento transferível para todos. Nota-se que os conhecimentos envolvidos na geração de inovações podem ser tanto codificados como tácitos, públicos ou privados e vêm se tornando cada vez mais interrelacionados. A informação e o conhecimento codificado podem ser facilmente transferidos através do mundo, mas o conhecimento que não é codificado, aquele que permanece tácito, só se transfere se houver interação social, e esta se dá de forma localizada e enraizada em organizações e locais específicos. Assim, para se entender a formação do conhecimento, deve-se ter em conta as especificidades das relações estabelecidas dentro das firmas e entre diferentes firmas e outros agentes econômicos e sociais, as características das relações industriais em nível local, nacional e regional, além de outros fatores institucionais, que evidentemente contribuem para compreensão das diferenças nas formas de aquisição de conhecimento e na capacidade inovativa de cada um destes níveis. A relevância do conhecimento como base da inovação e recurso fundamental desta fase impõe a exploração e interação das mais diferentes fontes para sua obtenção. Com todos os recursos disponíveis atualmente e com a rapidez com que as mudanças vêm se dando, há uma exigência crescente de combinação de fontes informação e PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 165 conhecimento, facilitada por estes recursos. Isto levou a um crescimento substancial do grau de interação entre organizações. Neste sentido, muitos autores vêm reconhecendo, no período atual de mudança radical, que o conhecimento e o aprendizado possuem papel chave e afetam a economia e a sociedade como um todo. Dentre aqueles que argumentam que tais mudanças se dão no modo de geração e difusão de conhecimento, nas fontes de crescimento e de competitividade e nos processos de aquisição de capacitação, incluem-se Foray e Lundvall (1996), os quais destacam especialmente a mudança na dinâmica de formação do conhecimento, a aceleração do processo de aprendizado interativo e a crescente importância das redes de cooperação, pontos que serão abordados mais detalhadamente nas próximas seções. MUDANÇA NA DINÂMICA DO CONHECIMENTO Conforme apontado anteriormente, as mudanças características do novo paradigma imprimiram uma nova dinâmica nas formas de geração e aquisição de conhecimento e com mudanças nas relações entre conhecimento tácito e codificado. Visando maiores chances de apropriação do conhecimento, vem se notando uma necessidade intensificada de capacitação e expansão das fronteiras do conhecimento codificado. A tendência a uma codificação crescente do conhecimento, relaciona-se fundamentalmente às velozes mudanças na geração desse conhecimento e de inovações. O processo de codificação do conhecimento vem sendo intensificado, em última instância, para dotar o conhecimento de novos atributos que o tornem similares aos bens tangíveis e convencionais, aproximando-o de uma mercadoria, objetivando facilitar sua apropriação para uso privado ou comercialização. Transformando-se em uma mercadoria com características bastante específicas, o conhecimento codificado como informação permite ser armazenado, memorizado, transacionado e transferido, além de poder ser reutilizado, reproduzido e comercializado indefinidamente, a custos extremamente baixos. Assim é que se argumenta sobre uma tendência à expansão cumulativa da base de conhecimentos codificados (Cowan e Foray, 1998). Para melhor definição da relação entre os dois tipos de conhecimento, cabe salientar que conhecimento codificado refere-se ao conhecimento que pode ser transformado em uma mensagem, podendo ser manipulado como uma informação. Atualmente, é grande a facilidade de transferência do conhecimento codificado, por meio de ferramentas como as mencionadas anteriormente. Conhecimento tácito, por seu turno, é o conhecimento que não pode ser explicitado formalmente ou 166 Cristina Lemos facilmente transferido, refere-se a conhecimentos implícitos a um agente social ou econômico, como as habilidades acumuladas por um indivíduo, organização ou um conjunto delas, que compartilham de atividades e linguagem comum. Não está disponível no mercado para ser vendido ou comprado e requer um tipo específico de interação social, similar ao processo de aprendizado, para que seja transferido (Lundvall e Borrás, 1998; e Cowan e Foray, 1988). Alerta-se, entretanto, para os limites inerentes ao processo de codificação do conhecimento. Não se deve supor que todo conhecimento tácito tende a ser codificado e que os dois tipos de conhecimento podem ser tratados de forma substitutiva ou excludente. Tal alerta mostra-se importante porque alguns autores tendem a considerar, atualmente, que se verifica um aumento relativo do estoque de conhecimento codificado frente ao de conhecimento tácito, o que conduziria em última instância à codificação completa do conhecimento. Entretanto, existem poucas evidências empíricas que comprovem a alteração da proporção de cada um dos dois tipos no estoque total de conhecimento. Em direção contrária à assertiva de que a codificação pode atingir todo tipo de conhecimento tácito, considera-se que o processo de codificação nunca será completo, ...car la codification n´offre que des solutions incomplètes à l´expression de la conaissance (Cowan e Foray, 1998: 315). Isto significa que toda codificação de um conhecimento é acompanhada de criação equivalente na base do conhecimento tácito. Ambos os conhecimentos, tácito e codificado, devem ser tratados como complementares, pois sempre haverá alguma forma de conhecimento tácito específico implícita nas práticas comuns a cada firma, setor ou região. Ou seja, ao mesmo tempo em que se observa uma expansão cumulativa na base do conhecimento codificado, esta codificação será sempre incompleta, pois intensifica-se a importância e irredutibilidade do conhecimento tácito como recurso fundamental, que permanece na esfera de indivíduos e empresas específicas. Apesar de ser permanentemente vital na inovação, o conhecimento tácito, por suas características bastante peculiares, só é compartilhado através da interação humana, nas relações realizadas entre indivíduos ou organizações em ambientes com dinâmica específica, o que, em última instância, torna a inovação localizada e restrita ao âmbito dos agentes envolvidos. A capacitação necessária para compreender e usar os códigos locais pode se dar somente com sua inserção nas redes de relações para participação do processo de aprendizado interativo. O sucesso de alguns arranjos produtivos com concentração geográfica, como os distritos industriais que apresentam forte dinâmica, ilustra sobremaneira tal consideração. Os agentes de tais arranjos detêm PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 167 um considerável estoque de conhecimento tácito, que circula eficazmente para a difusão de conhecimento local, com custos extremamente baixos. Não existe necessidade de uma intensificação da codificação dos mesmos, muitas vezes porque atuam no mesmo setor, conjunto de tecnologias, conhecimentos ou cadeia produtiva, compartilhando dos mesmos recursos e capacitações. A codificação do conhecimento nestes tipos de arranjo, por seu turno, é também relacionada aos contextos específicos onde se compartilham códigos, linguagem comum, identidade, confiança e conhecimentos tácitos necessários para a interpretação precisa da mensagem codificada. Neste sentido, o acesso aos conhecimentos específicos de uma firma, arranjo ou setor pode explicar em larga medida a intensificação dos esforços para a formação de redes de cooperação no contexto atual, objetivando a criação de uma interação positiva para a absorção dos conhecimentos tácitos existentes. Chega-se, portanto, a uma importante observação para compreensão das formas de geração e difusão de conhecimento. Atualmente existem possibilidades concretas de acesso e transferência de informações/conhecimento codificado, propiciadas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Entretanto, estas possibilidades não são distribuídas equanimemente para todos, com informações acessíveis para qualquer empresa, setor, país ou região. Por outro lado, o acesso à informações/conhecimento codificado não é suficiente para que um indivíduo, empresa, país ou região se adapte às condições técnicas e de evolução do mercado. É crucial que estes agentes mantenham interação social com outros. As mudanças são muito rápidas e somente aqueles que estão envolvidos na criação do conhecimento possuem possibilidades reais de acesso aos seus resultados. Ressalta-se que apenas poucas empresas ou países no mundo concentram as maiores taxas de investimento na geração de conhecimento traduzido em atividades de pesquisa, desenvolvimento, educação e treinamento e de inovações e, portanto, a maior participação no ambiente competitivo mundial, enquanto outros permanecem marginais a este processo. Além disso, cada vez mais os investimentos em capacitação para participar da Economia do Conhecimento se tornam maiores, dificultando ainda mais a entrada de empresas e países distantes deste processo. O PROCESSO DE APRENDIZADO INTERATIVO 168 Cristina Lemos Conforme já argumentado, crescentemente se reconhece a importância do aprendizado contínuo e interativo no processo de inovação. Ao mesmo tempo em que isso se verifica, as características já ressaltadas do atual paradigma baseado fortemente no conhecimento e com mudanças extremamente rápidas impõem uma maior intensificação deste aprendizado. A existência de uma capacitação adequada através de aprendizado constante é necessária para enfrentamento das mudanças e isso se dá de forma mais completa com a interação para a troca de informações, conhecimento codificado e tácito e a realização de atividades complementares entre eles. O processo de geração de conhecimentos e de inovação vai implicar, portanto, no desenvolvimento de capacitações científicas, tecnológicas e organizacionais e esforços substanciais de aprendizado com experiência própria, no processo de produção (learning-by-doing), comercialização e uso (learning-by-using); na busca incessante de novas soluções técnicas nas unidades de pesquisa e desenvolvimento ou em instâncias menos formais (learning-by-searching); e na interação com fontes externas, como fornecedores de insumos, componentes e equipamentos, licenciadores, licenciados, clientes, usuários, consultores, sócios, universidades, institutos de pesquisa, agências e laboratórios governamentais, entre outros (learning-by-interacting). Conforme salientado anteriormente, o reconhecimento das diversas fontes de conhecimento foi muito importante para a compreensão da forma como é conduzido o processo inovativo. Como resultado, uma das importantes percepções atuais é que o processo inovativo é um processo de interação de natureza social. O grau de interação com que se dá o aprendizado vai variar conforme os agentes envolvidos, o tipo de relação que mantêm entre si, a existência de linguagem comum, identidades, sinergias, confiança, assim como o ambiente em que se inserem. No momento atual, caracterizado por uma competição que não se dá apenas via preços, o mais importante não é apenas ter acesso a informação ou possuir um conjunto dado de habilidades, mas fundamentalmente ter capacidade para adquirir novas habilidades e conhecimentos (learnig-to-learning). Isto se traduz na capacidade de aprender e de transformar o aprendizado em fator competitivo. Ou seja, na possibilidade de constante reconstrução das habilidades dos indivíduos e das competências tecnológica e organizacional da firma (Lundvall e Borrás, 1998). O aprendizado é importante tanto para se adaptar às rápidas mudanças nos mercados e nas condições técnicas, como também para gerar inovações em produtos, processos e em formas organizacionais. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 169 Argumenta-se que o conhecimento é o principal recurso e o aprendizado o processo central desta fase. Assim, na Economia Baseada no Conhecimento, a preocupação com o processo de aprendizado se torna ainda mais crucial, tanto que alguns autores denominam o atual período mais precisamente como da Economia Baseada no Aprendizado (Lundvall e Borrás, 1998; Cassiolato e Lastres, 1999). Conforme já mencionado, o destaque a cada um destes aspectos pode variar conforme a ênfase que se propõe. Lundvall e Borrás (1998:35) ressaltam, por exemplo, que a razão mais fundamental da preferência por usar a Economia do Aprendizado como conceito chave é que este enfatiza a alta taxa de mudança econômica, social e técnica que perpassa continuamente o conhecimento especializado (e codificado). E torna claro que o que realmente importa para o desempenho econômico é a habilidade de aprender (e esquecer) e não o estoque de conhecimento. Apesar desta discussão geralmente colocar-se para tecnologias avançadas, em grandes corporações e países desenvolvidos, aponta-se para a importância do aprendizado também em empresas ou países que se concentram em atividades tradicionais e de baixo conteúdo tecnológico. Desta forma, deve-se evitar a crença que em setores menos intensivos em conhecimento, o processo de aprendizado deve ser negligenciado. Pelo contrário, em todos os setores da economia existem possibilidades de aprendizado, aperfeiçoamentos e mudanças. NOVOS FORMATOS ORGANIZACIONAIS Da mesma forma que se identificam os principais recursos e processos, podem ser também apontados os formatos dominantes na atual fase. Assim, e como uma decorrência da discussão travada acima, vem se considerando a formação de redes como o formato organizacional mais adequado para promover o aprendizado intensivo para a geração de conhecimento e inovações. Até há pouco tempo, as análises econômicas relativas a atividades inovativas se concentravam no estudo de inovações individuais e específicas. Somente a partir de meados da década de 80, intensificaramse as investigações de formatos organizacionais forjados para enfrentar inovações. Duas especificidades passaram a ser consideradas elementos de influência no desenvolvimento econômico e na sua capacidade de inovação: (i) os variados formatos organizacionais em redes para promoção da interação entre diferentes agentes, nos quais mencionam- 170 Cristina Lemos se, entre outros, alianças estratégicas, arranjos locais de empresas, clusters e distritos industriais, e (ii) o ambiente onde estes se estabelecem. Indica-se uma tendência crescente de constituição de formatos organizacionais específicos entre diferentes tipos de agentes sociais e econômicos, em ambientes propícios para a geração de inovações, envolvendo desde etapas de pesquisa e desenvolvimento e produção, até a comercialização. Tais formas de interação vêm interligando as diversas unidades dentro de uma empresa, bem como articulam diferentes empresas e outros agentes destacando-se, particularmente, instituições de ensino e pesquisa, organismos de infra-estrutura, apoio e prestação de serviços e informações tecnológicas, governos locais, regionais e nacionais, agências financiadoras, associações de classe, fornecedores de insumos, componentes e tecnologias e clientes visando promover uma fertilização cruzada de idéias, responder e se adequar às rápidas alterações, com a promoção de mudanças e aperfeiçoamentos nas estruturas de pesquisa, produção e comercialização. Estes novos formatos são vistos, portanto, como a forma mais completa para permitir a interação e o aprendizado, assim como a geração e troca de conhecimento. Alguns autores caracterizam a formação e operação de redes como um fenômeno intimamente ligado à emergência do sistema de produção intensivo em informação e como a principal inovação organizacional associada ao atual paradigma (Freeman, 1991; Lemos, 1996). Conforme já ressaltado, com o potencial oferecido pelos novos meios técnicos disponibilizados com as tecnologias de informação e comunicação, intensifica-se a geração e absorção de conhecimento e as possibilidades de implementação de inovações. As exigências de especialização ao longo da cadeia de produção se tornam cada vez maiores. As tecnologias estão crescentemente baseadas em diferentes disciplinas e a maioria das empresas não possui capacitação ou recursos para dominar toda esta variedade. As novas tecnologias acarretam, assim, tanto os meios para a cooperação, como a necessidade de criação de mais intensivas e variadas formas de interação e aprendizado intensivo. A parceria é considerada uma condição para a especialização, uma vez que capacita os agentes envolvidos para o desenvolvimento de competências interrelacionadas e a participação em redes se torna um imperativo para a sobrevivência das empresas. Além disso, as redes permitem às empresas a possibilidade de identificar oportunidades tecnológicas e impulsionar o processo inovativo. Considerando-se a existência de dificuldades cada vez maiores de obtenção de conhecimento e realização de pesquisa e desenvolvimento que abranjam as mais diversas áreas, e a complementaridade tecnológica PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 171 é vista como um forte motivo de inserção em redes. Participar destas é uma forma útil de monitorar novos desenvolvimentos e de avaliar, através de processo de interação, outras tecnologias que não as disponíveis pela firma, necessárias para a viabilização de uma inovação. A participação em redes pode proporcionar um largo conjunto de experiências, estimulando o aprendizado e gerando conhecimento coletivo, e este aprendizado promovido entre os agentes é considerado como uma de suas maiores contribuições. As redes também podem enriquecer o ambiente territorial através das oportunidades que oferecem de troca de informações, transmissão de conhecimento explícito ou tácito, e mobilidade de competências. A participação de variados agentes é importante para o desenvolvimento de conhecimento conjunto, destacando-se especialmente as instituições de ensino e pesquisa que atuam na promoção destas atividades e tem importante papel de possibilitar a abertura da rede a um largo número de usuários locais potenciais (Lemos, 1996). A DIMENSÃO LOCAL DA INOVAÇÃO Conforme salientado, o processo de inovação é atualmente entendido como interativo, dependente das diferentes características de cada agente e de sua capacidade de aprender a gerar e absorver conhecimentos, da articulação de diferentes agentes e fontes de inovação, bem como dos ambientes onde estes estão localizados e do nível de conhecimentos tácitos existentes nestes ambientes. A atenção que passou a ser dada ao caráter localizado da inovação e do conhecimento surgiu, particularmente, na observação da distribuição espacial desigual da capacidade de geração e de difusão de inovações. Aponta-se para uma significativa concentração em nível mundial da taxa de introdução de inovações, com algumas regiões, setores, empresas tendendo a desempenhar o papel de principais indutores de inovações, enquanto outras parecem ser relegadas ao papel de adotantes. Nesta direção, enfatiza-se a noção de que o processo inovativo e o conhecimento tecnológico são altamente localizados. A interação criada entre agentes econômicos e sociais localizados em um mesmo espaço propicia o estabelecimento de significativa parcela de atividades inovativas. Ou seja, um quadro institucional local específico que dispõe de mecanismos particulares de aprendizado e troca de conhecimentos tácitos pode promover um considerável processo de geração e difusão de inovações. Assim, diferentes contextos locais com diferentes estruturas institucionais terão processos inovativos qualitativamente diversos (Lastres et alii, 1999). 172 Cristina Lemos Neste sentido, cabe ressaltar formatos organizacionais baseados na proximidade local, alguns já mencionados, como os clusters e distritos industriais, que se baseiam em redes locais de cooperação. Estes formatos apresentam aprendizado interativo, relevância da confiança nas relações e as proximidades geográficas e culturais como fontes importantes de diversidade e vantagens comparativas, assim como a oferta de qualificações técnicas e organizacionais e conhecimentos tácitos acumulados. O aspecto confiança, por seu turno, vem sendo apontado como fator crítico para o estabelecimento de relações de cooperação e interação, para que se possa superar as incertezas existentes ao longo do processo de inovação. Ressalte-se que a confiança tem melhores possibilidades de ser promovida em um ambiente comum de proximidade e identidade entre os agentes, como os arranjos locais (Saxenian, 1994). Neste contexto, adquire especial importância a adoção do conceito de sistemas nacionais de inovação. Desenvolvido por Lundvall (1992) e Freeman (1995), tal conceito tem por base a consideração de que os atores econômicos e sociais e as relações entre eles determinam em grande medida a capacidade de aprendizado de um país e, portanto, aquela de inovar e de se adaptar às mudanças do ambiente. Desempenhos nacionais, relativos à inovação, derivam claramente de uma confluência social e institucional particulares e de características histórico-culturais específicas (Lastres et alii, 1999). Este conceito já vem sendo discutido em níveis locais e regionais. Os sistemas nacionais, regionais ou locais de inovação podem ser tratados, desta forma, como uma rede de instituições dos setores público (instituições de pesquisa e universidades, agências governamentais de fomento e financiamento, empresas públicas e estatais, entre outros) e privado (como empresas, associações empresariais, sindicatos, organizações não governamentais, etc.) cujas atividades e interações geram, adotam, importam, modificam e difundem novas tecnologias, sendo a inovação e o aprendizado seus aspectos cruciais. Neste sentido, o enfoque dos sistemas nacionais de inovação se contrapõe a idéia de que a crescente globalização vem ocorrendo em todos os níveis. Pelo contrário, dados empíricos demonstram que a geração de inovações e de tecnologias é localizada e circunscrita às fronteiras localizadas nacional ou regionalmente (Maldonado, 1996; Lastres, 1997). Tendo em vista que os conhecimentos que se geram no processo inovativo são tácitos, cumulativos e localizados, existiria um espaço importante em nível nacional, regional ou local para o desenvolvimento de capacitações tecnológicas endógenas. Estas capacitações são imprescindíveis para se absorver de forma eficiente o que vem de fora e adaptar, modificar e gerar novos conhecimentos. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 173 NOVAS ABORDAGENS PARA POLÍTICAS DE INOVAÇÕES As considerações apontadas nas seções anteriores do capítulo indicam que a Economia Baseada no Conhecimento ou no Aprendizado reúne alguns elementos de extrema relevância, que devem ser incorporados para estabelecimento de políticas de inovação alternativas. Nesta seção, serão discutidos dois aspectos referentes a novas formulações de políticas científicas, tecnológicas, industriais e de inovação e algumas observações sobre o papel do Estado na condução destas políticas. Em primeiro lugar, observa-se que políticas de promoção tenderam tradicionalmente a focar em padrões de promoção do desenvolvimento tecnológico de firmas ou projetos pontuais e individuais. Atualmente, surge uma necessidade de se repensarem políticas que visam o desenvolvimento individual de firmas, bem como de repensar as organizações e instituições envolvidas no processo de formulação de tais políticas, à luz das rápidas mudanças trazidas com o paradigma das tecnologias de informação e comunicação e refletidas no próprio processo de inovação. É importante reconhecer que já ocorrem mudanças no foco de políticas em alguns países4 . No âmbito destas novas políticas que vêm sendo formuladas, nota-se uma tendência à mudança em formatos e conteúdos. Assim, observam-se novas formas de entender políticas científicas, tecnológicas e industriais como fazendo parte de um mesmo conjunto, que tende a privilegiar o desenvolvimento, disseminação e uso de novos produtos, serviços e processos. Enfatiza-se, também, o estímulo à formação de redes de diferentes agentes para intensificar o processo de aprendizado interativo na pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização destes bens. As políticas de inovação se tornam atualmente mais importantes do que no passado, tendo em vista seu papel crucial para intensificar a competitividade, através do fortalecimento da capacidade de aprender de indivíduos e empresas. Neste sentido, um passo importante é a incorporação do elemento aprendizado como o processo central para capacitar um país ou região. Amplia-se, também, a relevância para as políticas do enfoque de sistemas nacionais, regionais ou locais de inovação, no qual é central a noção de que o processo inovativo é localizado e, portanto, depende de seus contextos empresarial, setorial, organizacional e institucional Salienta-se particularmente o caso da União Européia e de seus países separadamente, onde as políticas industriais vêm sendo reorientadas para o reforço à promoção da inovação. Para detalhes, ver Cassiolato e Lastres, 1998 e Cassiolato e Lastres, 1999. 4 174 Cristina Lemos específicos. Nestes casos, todo o conjunto de agentes que conformam um sistema são considerados para o incentivo ao desenvolvimento do sistema local, regional ou nacional específico. Em segundo lugar, observam-se, por vezes, tendências a se reduzir o papel de promotores de políticas científica, tecnológica e de inovação de governos nacionais ou regionais. Neste sentido, destaca-se o conflito, por vezes existente, entre formuladores de políticas influenciados por modelos neo-clássicos os quais desconsideram o papel da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento de um país ou região e aqueles que enfatizam o enfoque inovativo. Muitas vezes os primeiros tendem a negligenciar atenção a políticas inovativas e reduzir o volume de recursos a serem aplicados nestas (Lundvall e Borrás, 1998; e Cassiolato e Lastres, 1999). Ressalta-se também que, em face do contexto atual de acelerado processo de globalização e das facilidades resultantes das tecnologias de informação e comunicação, considera-se, por vezes, não ser mais necessário o investimento de governos nacionais na promoção de atividades de geração de conhecimento e inovação. Para os que compartilham destes argumentos, o processo de globalização também incluiria a geração, difusão e acesso a informações e conhecimento por todo o mundo, uniformemente, e, portanto, não mais se fariam prementes investimentos nestas atividades, posto que teriam seus resultados públicos e disponíveis internacionalmente5 . A este respeito, cabe reforçar os argumentos anteriormente mencionados sobre as crescentes barreiras criadas ao acesso a conhecimentos codificados e particularmente tácitos traduzidos em termos das necessidades de constantes investimentos em capacitação dos indivíduos e interação social bem como a importância particular destes últimos para o processo de aprendizado inovativo. Ou seja, somente aqueles que tiverem capacitação terão chances de aproveitar as oportunidades de acesso a estas redes de conhecimentos. Evidenciase, adicionalmente, que a distribuição de conhecimento permanece desigual entre empresas, países e regiões, sendo ainda mais relevante que se realizem investimentos para aumentar o estoque de conhecimentos e informações e capacitar recursos humanos para promover inovações. A introdução do novo paradigma tecno-econômico, com altas e velozes taxas de mudanças, aliado ao processo de globalização, incluem novos elementos à questão da promoção de inovação. Como destacam alguns autores, mudanças vêm ocorrendo rapidamente e para melhor 5 Para detalhes sobre este debate, ver Maldonado (1996) e Lastres (1997). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 175 inserção na Economia Baseada no Aprendizado, importa que se estimule este processo. Neste sentido, é importante reconhecer que também a formulação de políticas deve ser tratada como um processo de aprendizado, pois é necessário que se compreenda e se adapte as políticas a tais mudanças, para estabelecer diretrizes consonantes com os contextos específicos. Para tanto, enfatiza-se a importância do aprendizado também na formulação de políticas, direcionado tanto para as instituições envolvidas, como para os próprios formuladores de políticas (Lundvall e Borrás, 1998; e Cassiolato e Lastres, 1999). CONCLUSÃO A breve exposição das atuais características da inovação salientou: (i) a sua importância para o sucesso de empresas e países; (ii) a necessidade de intenso investimento em conhecimento, entendido este como o principal recurso do atual paradigma, gerado e absorvido particularmente por indivíduos; (iii) a relevância fundamental para sua geração de um processo de aprendizado interativo; (iv) que é localizado em agentes e ambientes específicos; e (v) os novos formatos organizacionais que facilitam este aprendizado. As mudanças que vêm sendo observadas em nível de políticas em alguns países ou regiões do mundo, particularmente naqueles mais desenvolvidos, foram fundamentadas no reconhecimento de como é crucial a formulação de políticas de promoção de inovações no quadro atual. Ainda, baseia-se na compreensão de que o processo de inovação é um processo de aprendizado interativo, que envolve intensas articulações entre diferentes agentes, requerendo novos formatos organizacionais em redes. Para se estar apto a entrar nestas redes e neste novo contexto, é fundamental o investimento na capacitação de recursos humanos, responsáveis pela geração de conhecimentos. O processo de aquisição de conhecimentos que possibilitem a utilização eficiente de tecnologias é longo e difícil, mas, imprescindível. Neste processo coletivo de aprendizagem, apesar do epicentro estar constituído pelas empresas nos diferentes setores onde atuam, outros atores e instituições públicas e privadas possuem importante participação. Ressalta-se, particularmente, o papel das instituições de pesquisa e das universidades, que fornecem a base do desenvolvimento científico e tecnológico para a geração de conhecimentos e capacitação de pessoas. Portanto, é necessário se compreender que mesmo sendo a empresa o locus do processo de inovação, a mesma não inova sozinha e necessita de articulação com os demais agentes, tendo em vista este ser um processo interativo. 176 Cristina Lemos No caso específico dos países em desenvolvimento, um importante instrumento de políticas de implementação e modernização de estruturas industriais, tradicionalmente existente nestes países, traduziu-se no estímulo à aquisição de tecnologias por meio da sua compra, considerando-se que seria suficiente para o desenvolvimento de uma empresa ou setor. Entendendo-se tecnologia como conhecimento, considera-se que ela não pode ser facilmente transferida. Conforme apontado anteriormente, pode-se transferir ou comprar conhecimentos codificados, mas não os tácitos e sem estes, não se tem a chave para a decodificação dos conhecimentos adquiridos como tecnologia. Neste sentido, reforça-se a importância dos investimentos em capacitação, pesquisa e desenvolvimento e em particular do aprendizado, paralelamente à importação de tecnologia, para que seja possível o desenvolvimento tecnológico endógeno. Cabe destacar, ainda para países em desenvolvimento como o Brasil, que é necessário que se reconheça, primeiramente, a importância da inovação para capacitar o país a acompanhar as mudanças em curso, possibilitar a maior participação destes no crescimento econômico mundial e contribuir para o seu desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, cabe evidenciar que, por vezes, a compreensão do processo inovativo em países em desenvolvimento é ainda restrita. A importância de redimensionar a definição de inovação reside na observação de que, em países que não estão na liderança do paradigma vigente, uma definição rígida de inovação e de seu processo limita a abrangência de sua ação. Pode levar indivíduos, empresas, instituições de ensino e pesquisa, governos, particularmente os formuladores de políticas, e outros agentes sociais e econômicos envolvidos a supor que a geração de inovações deve ser algo absolutamente novo, baseado em tecnologias avançadas, localizado em grandes empresas, em setores de ponta. Ao contrário disso, os esforços devem focar particularmente as especificidades locais, incluindo também os conjuntos de empresas de menor porte e os setores mais tradicionais, tendo em vista as possibilidades de aprendizado e de capacitação para as mudanças que podem significar tais investimentos. As políticas, nesta fase de rápidas mudanças, são extremamente importantes para adaptar e reorientar os sistemas produtivos e de inovação a este novo contexto. As formulações de políticas devem incorporar, não só uma maior flexibilização do que significa o processo inovativo, como também reformular o foco de sua ação, ao privilegiar conjuntos de indústrias e setores em articulação com outros agentes que contribuam para o fortalecimento da capacitação tecnológica e que podem acrescer a sua competitividade. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 177 Os desafios que se colocam são muitos e acima de tudo critica-se o argumento de que o processo de globalização promoverá a distribuição automática e igual do conhecimento. Este, certamente ficará restrito à esfera de empresas, setores, países e regiões que invistam pesadamente na capacitação de seus recursos humanos para promover um processo de constante aprendizado interativo entre seus agentes econômicos e sociais e a formação de um ambiente local capacitado para se adaptar às mudanças frequentes e aumentar a sua capacidade inovativa. BIBLIOGRAFIA Cassiolato, J. E. e Lastres, H. M. Inovação, Globalização e as Novas Políticas de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, in Cassiolato, J. E. e Lastres (eds) Globalização e Inovação Localizada: Experiências de Sistemas Locais no Mercosul, IBICT/IEL, Brasília, 1999. Cassiolato, J. E. e Lastres, H. M. (Coords.) Novas Políticas Industriais em Países Selecionados - Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Itália e Japão, Relatório de projeto de pesquisa apoiado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial IEDI - IE/UFRJ, 1998. Castells, M. The Information Age: economy, society and culture, (Blackwell, 1997). Chudnovsky, D. , in Cassiolato, J. E. e Lastres (eds) Globalização e Inovação Localizada: Experiências de Sistemas Locais no Mercosul, IBICT/IEL, Brasília, 1999. Cohendet, P. e Llerena, P. Learning, Technical Change, and Public Policy: how to create and exploit diversity in Edquist (ed.) Systems Innovation - Technologies, Institutions and Organizations Pinter, London, 1997. Cowan, R. e Foray, D. Économie de la codification et de la diffusion de conaissances in Petit, P. (direction) Léconomie de linformation Les enseignements des théories économiques, Collection , Édition La Découverte, Paris, 1998. Dosi, G. The nature of the innovative process in Dosi, in G., et alii (eds), Technical Change and Economic Theory. Pinter Publishers, London, 1988. Dosi, G. Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and direcctions of technical change. Research policy, vol. 11, 1982. pp. 147-162. Foray, D. e Lundvall, B., The knowledge-based economy: from the economics of knowledge to the learning economy. OCDE, 1996. Freeman, C., The National System of Innovation in Historical Perspective Cambridge Journal of Economics, v. 19, n° 1, Feb, 1995. pp. 5-24 Freeman, C. Networks of innovators: A synthesis of research issues. Research Policy, volume 20, number 5, October,1991. pp. 499-514. Freeman, C. Introduction, in Dosi, G. , Nelson, R., Silverberg, G. E Soete, L. (eds) Technical Change and Economic Theory, London, Frances Pinter, 1988. 178 Cristina Lemos Freeman, C., Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Pinter Publishers, London, 1987. Harvey, D. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Editora Loyola, 1989. Lastres, H. M. M., Globalização e o Papel das Políticas de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico Texto para Discussão n.º 519, IPEA (Brasília, fevereiro de 1997). Lastres, H. M. M., Advanced Materials and the Japanese System of Innovation, Macmillan, London, 1994. Lastres, H. New Trends of Cooperative R&D Agreements opportunities and Challenges for Third World Countries. Nota técnica do bloco Condicionantes Internacionais da Competitividade. In: Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira Versão preliminar. 45p.. IE/Unicamp - IEI/UFRJ - FDC - Funcex, Campinas, 1993. Lastres, H. M., Cassiolato, J. E., Lemos, C., Maldonado, J. M. e Vargas, M. A. Inovação, Globalização e as Novas Políticas de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, in Cassiolato, J. E. e Lastres (eds) Globalização e Inovação Localizada: Experiências de Sistemas Locais no Mercosul, IBICT/IEL, Brasília, 1999. Lemos, C., Redes para a Inovação - Estudo de Caso de Rede Regional no Brasil, Tese de Mestrado. Programa de Engenharia de Produção, COPPE/UFRJ, março, 1996. Lojkine, J. A Revolução Informacional. Cortez Editora, 1995. Lundvall, B-Å e Borrás, S. Globalising Learning Economy: implications for innovation policy Targeted Socio-Economic Research TSER, DGXII European Commission Studies. Luxembourg, European Communities, 1998. LundvalL, B-Å., User-Producer Relationships and National Systems of Innovation in Lundvall, B-Å., (ed.), National System of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London, 1992. Maldonado, J. , O Brasil Face o Processo de Globalização Tecnológica: o segmento de novos polímeros em foco, tese de doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 1996. Mytelka, L. A role for innovation networking in the other two-thirds. Futures, July/ August, 1993. Nelson, R. (ed.) National Innovation Systems: A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford, 1993. Saxenian, A. Regional Advantage Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1994. Resumo O atual contexto econômico é caracterizado por mudanças aceleradas que vêm afetando os mercados, as tecnologias e as formas organizacionais em curso. Com isso, a capacidade de gerar e absorver inovações vem sendo considerada crucial para que uma empresa se torne efetivamente competitiva. Para acompanhar as rápidas mudanças em PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 179 curso, torna-se de extrema relevância a aquisição de novas capacitações e conhecimentos, o que significa intensificar, nos variados agentes, a capacidade de aprender, interagir e transformar este aprendizado em fator de competitividade. Este artigo objetiva identificar as principais alterações que vêm ocorrendo no entendimento do processo de inovação e as formas pelas quais essa inovação tende a ocorrer atualmente. Abstract The current economical context is characterized by quick changes that are affecting markets, technologies and the various forms of operation of business and institutions. Indeed, the capacity to generate and to absorb innovations has been considered crucial for any industry to become competitive. To follow the fast changes which are ocurring, it is more and more relevant to develop the capacity to learn, to interact and to transform new knowledge into competitiveness factor. The article tries to identify the main changes in the technological innovation process and the potential of the new forms of acquiring and developing new technologies. A Autora CRISTINA LEMOS, pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia (INT/MCT); doutoranda em engenharia de produção na Área de Inovação Tecnológica e Organização Industrial da Coppe/UFRJ; MSc. em engenharia de produção (Coppe/UFRJ, 1996); economista (UFRJ, 1985) 180 Cristina Lemos Internacional PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 181 Perspectivas da America Latina em Ciência e Tecnologia FABIO STEFANO ERBER Na retórica moderna, a ciência e a tecnologia ocupam lugar de destaque, evocando um consenso semelhante ao alcançado pela miséria. Assim como todos são contra esta última, são favoráveis às primeiras. No entanto, em várias partes do globo, a América Latina (AL) entre elas, persiste a miséria e a ciência e a tecnologia encontram grandes dificuldades para avançar. Uma análise de perspectivas é, necessáriamente, histórica. O passado projeta-se sobre o futuro e, embora não o determine, condicionao. No caso da ciência e tecnologia (C&T) na América Latina a recorrência de alguns problemas ao longo de várias décadas permite caracterizá-los como problemas estruturais, onde operam características de cumulatividade, rigidez e fixação de trajetórias. Alguns destes problemas estruturais podem ser detectados , a seguir: Quadro 1 - A ciência e tecnologia da america latina no contexto internacional esforço e resultado - uma comparação com os eua, 1990 e 1996 (eua = 100) A M E R IC A L A T IN A G A STO S EM P&D P IB PATEN T ES N O S EU A ( 1) P U B L . C IE N T ÍF . ( 2 ) 1990 3 ,5 2 3 ,0 0 ,1 4 N .D . 1996 5 ,0 2 3 ,5 0 ,1 5 2 ,1 Notas: 1) Dados para Argentina, Brasil e México, 1990 e 1993 2) Percentagem sobre total mundial Memo: Patentes concedidas na América Latina de titulares não residentes (% do total) : 1990: 84,5%; 1996: 81,6% Fontes: PIB, Gastos em P&D, Publicações e Patentes na América Latina - RICYT (site na Web). Patentes nos EUA - GACTEC (1997) 182 Fabio Stefano Erber · A desproporção entre o peso econômico da região, os esforços feitos em C&T (expressos pelo gasto em pesquisa e desenvolvimento) e os resultados alcançados (publicações científicas e patentes depositadas nos EUA). · Um desempenho algo melhor em atividades científicas do que tecnológicas · O predomínio de tecnologias importadas, provocando uma limitada articulação entre atividades científicas e tecnológicas na região. Não obstante, o mesmo Quadro assinala algumas modificações positivas ao longo dos anos noventa, notadamente um aumento dos gastos em Pesquisa e Desenvolvimento feitos na região. Cabe advertir que tomar a região como unidade de análise encobre importantes disparidades - como mostra o Quadro 2, os três maiores países da América Latina - Argentina, Brasil e México - respondem por uma esmagadora parcela dos gastos em C&T, publicações e patentes, maior que sua participação na economia regional. Tal concentração conduzirá a análise posterior (especialmente na Seção 3) a enfocar mais detidamente os três grandes. Quadro 2 - A concentração na C&T da américa latina participação de Argentina, Brasil e México como % do total regional - 1996 PAÍS ARGENTINA BRASIL MEXICO SOMA PIB 16.9 41,1 18,7 76,7 GASTOS EM C&T PUBLIC. CIENTIF. 10,3 67,6 8,9 86,9 20,3 39,3 19,6 79,2 PATENTES CONCEDIDAS RESIDENTES 21,5 59,0 7,3 87,8 NÃORESIDENTES 20,6 23,6 43,6 87,7 Fonte: RICYT (site na WEB) A interpretação desses fenômenos e a discussão das perspectivas da C&T na AL requerem um mínimo esquema analítico, apresentado na próxima seção. A terceira seção discute a evolução das atividades de C&T na região nos anos noventa à luz do padrão de desenvolvimento adotado, explorando as implicações da base desse padrão - as reformas estruturais das instituições - sobre as atividades científicas e tecnológicas. A quarta seção apresenta as conclusões quanto às perspectivas da C&T na América Latina. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 183 UM ESQUEMA ANALÍTICO O binômio C&T abarca uma heterogênea gama de atividades, que produzem resultados distintos e demandam recursos igualmente diferenciados. A multiplicação de estudos sobre C&T mostrou que essas atividades apresentam complexas inter-relações, levando ao abandono dos antigos modelos lineares, em que a direcionalidade ia da C para T, em favor de visões sistêmicas, em que as várias partes interagem, retroalimentam-se e apresentam efeitos de sinergia. O desenvolvimento do sistema de C&T resulta, na perspectiva evolucionista1 , da co-evolução das estruturas produtiva e institucional. A primeira tem um forte conteúdo setorial, dado que os diversos setores da economia demandam diferentes atividades de C&T em intensidades distintas (compare-se a demanda por C&T de uma economia em que predominam setores como têxteis e alimentos com a demanda de uma economia regida pelo complexo eletrônico). Em contraste com o consenso que reina sobre o papel que a estrutura produtiva desempenha sobre o desenvolvimento das atividades de C&T, perduram grandes perplexidades sobre as relações que existem entre a estrutura institucional e o progresso da C&T. Embora haja concordância que a diversidade e flexibilidade institucionais constituem fatores de estímulo a essas atividades e que a competição entre as instituições é benfazeja, existem fortes dúvidas quanto ao papel que desempenham o Estado e as instituições de mercado ou quanto à importância relativa de empresas de maior e menor porte. A diversidade de soluções institucionais para promover o desenvolvimento do sistema de C&T provocou a revitalização de análises de casos nacionais e um saudável agnosticismo quanto a uma normatividade a priori . Supondo dada uma estrutura produtiva, algumas questões institucionais, como a relação entre as políticas do Estado macroeconômica, industrial e de C&T - e o desenvolvimento do sistema de C&T, podem ser aprofundadas através de uma análise micro, partindo da discussão da importância das atividades de C&T para certos tipos de organizações. Uma organização pode ser caracterizada como um conjunto de recursos (humanos, físicos, financeiros), estruturado por um conjunto de rotinas e normas, de natureza operacional e estratégica. O conjunto de rotinas e normas constitui outro ativo. A combinação de todos esses ativos é específico a cada organização, distinguindo-a das demais2. 1 O locus clássico para várias abordagens evolucionistas é o livro de Dosi et al. (1988). Esta é uma extensão da visão evolucionista da firma. Para a última, ver Teece e Pisano (1994). 2 184 Fabio Stefano Erber O montante de recursos necessário para alcançar certos resultados pode ter níveis mínimos (i.e. apresentar indivisibilidade) e a interação desses recursos pode ter efeitos de sinergia. Em outras palavras, uma organização pode ser vista como um portfolio de ativos. Certas organizações, como institutos de pesquisa, universidades, têm por objetivo produtos de C&T. Para tanto, necessitam de um portfolio de ativos bastante especializado. A constituição deste portfolio demanda longo tempo e os recursos que o compõem são específicos, com uso alternativo limitado. Por sua vez, os resultados desse portfolio podem demandar longo tempo de maturação, são incertos e sua apropriabilidade econômica pela organização é baixa. Com efeito, há consenso que, para esses produtos, os mecanismos de mercado são inadequados para induzir altos níveis de investimento, sendo necessária a intervenção direta do Estado, pelo menos no financiamento dos recursos. No entanto, como advertia um clássico, o capitalismo é um sistema que é caracterizado pela transformação das forças produtivas e, por mais importantes que sejam as instituições dedicadas à produção de C&T, o fulcro da transformação tecnológica são as empresas. As empresas, como sabemos, são organizações que têm o lucro por objetivo. Utilizam seus ativos com esse propósito. Fatores macroeconômicos, como a taxa de crescimento da economia, a estabilidade de preços e a vulnerabilidade externa, afetam as expectativas das empresas e os seus investimentos. Os ativos de C&T (laboratórios, equipes técnicas, etc.) fazem parte do seu portfolio. Sua importância dentro do portfolio é influenciada por fatores setoriais: a possibilidade de transformar a base técnica de produção através de novos produtos e processos e o padrão de competição vigente no setor, dado, entre outros fatores, pela abertura às importações e a presença de outros competidores. Estes fatores setoriais impõem à empresa gastos mínimos em atividades de C&T, sem os quais a empresa desaparecerá do mercado. Outros fatores, intrínsecos à firma, impõem um teto aos seus gastos em C&T, entre os quais se destacam o seu tamanho e sua capacidade de obter recursos de terceiros para financiar esses gastos - o que, por sua vez, remete às condições dos mercados de crédito e capital. Porém outros fatores, derivados do contexto econômico e político em que a firma opera, podem ser ainda mais relevantes para estabelecer o teto dos gastos em C&T. Contextos de baixo crescimento, instabilidade e vulnerabilidade externa atuam contra investimentos de prazo PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 185 relativamente longo de maturação e maior incerteza, características de programas de pesquisa. Mesmo que o contexto macro não seja desfavorável, se outros ativos detidos pela empresa apresentarem expectativas de fluxos de custos e rendimentos mais favoráveis e expectativas de resultados menos incertos, será racional que a empresa aplique em C&T o mínimo possível. A título de exemplo: em um contexto em que a aplicação de recursos em títulos governamentais apresente altos rendimentos, a curto prazo e com alta segurança, por que iria a firma aplicá-los (além do mínimo necessário) em atividades em que o resultado é incerto e de longo prazo de maturação? Neste contexto, o mercado atua contra o investimento em C&T. Conforme apontado acima, as atividades de C&T abrangem uma ampla gama. Ou seja, o portfolio de recursos de C&T de uma firma abrange recursos diferentes e produz resultados distintos. Constitui, portanto, um portfolio em si, parte do porfolio geral da empresa. As condições acima citadas (setoriais e macro) podem explicar não apenas a posição relativa dos investimentos de C&T dentro do portfolio geral mas também a composição do portfolio de C&T. Em condições de maior incerteza, necessidade de resposta rápida a inovações introduzidas por concorrentes dotados de maiores recursos, os investimentos em C&T serão orientados para atividades que demandam menores imobilizações e onde os resultados são alcançados em prazo mais curto (por exemplo, novos procedimento de controle de qualidade). Finalmente, as instituições de mercado oferecem à empresa a alternativa de obter os resultados de investimentos em C&T de outras empresas, através de contratos de licenciamento de tecnologia. Em comparação com o desenvolvimento próprio, tais contratos oferecem ao licenciado a vantagem de menor incerteza técnica e econômica, menor imobilização e maior rapidez. Em contrapartida, freqüentemente envolvem custos atados (compras de bens de produção) e os riscos inerentes à dependência de terceiros. Do ponto de vista tecnológico, estes contratos levam o licenciado a dominar novas tecnologias de produção e de engenharia de detalhe, mas retém junto ao licenciador o controle técnico e legal da capacidade de introduzir inovações. Ou seja, o licenciamento leva ao desenvolvimento de um conjunto restrito de recursos de C&T. No limite, conduz à elevação do piso de gastos, para absorver a tecnologia importada, mas reduz o teto, descartando programas próprios de inovação. Contextos econômicos em que as empresas são levadas à ater-se a níveis mínimos de investimento em C&T fazem com que a relação entre as empresas e as instituições especializadas em C&T seja muito limitada. Os serviços que as primeiras demandam às segundas são de baixa complexidade e de resultados imediatos (a exemplo de testes de 186 Fabio Stefano Erber produtos). Adequar-se a esta demanda leva as instituições de C&T ao uso ineficiente dos seus recursos e/ou, a prazo mais longo, alterar a composição destes recursos. Como estas instituições cumprem também a função de formar recursos humanos para as atividades de C&T, a adequação à demanda tende a gerar um processo cumulativo, em que os recursos humanos disponíveis para as empresas são preparados principalmente para o mínimo de atividades executadas no momento presente pelas empresas. O contrário ocorre quando a estrutura produtiva e o contexto econômico estimulam as empresas a elevar seu patamar de gastos e, assim, estabelecer relações mais intensas com as instituições de C&T. Assim, em contextos em que predomina o investimento mínimo em ativos de C&T o conceito de sistema nacional de inovação parece ser de baixa aplicação. O DESENVOLVIMENTO DA C&T NA AMÉRICA LATINA NOS ANOS NOVENTA Apesar da heterogeneidade que caracteriza a região, durante os anos noventa a América Latina foi conduzida por uma visão de desenvolvimento homogênea3 . Esta visão, apoiada teóricamente sobre um tripé composto pela tradicional economia neo-clássica, a teoria da escolha pública e a nova economia institucional, privilegia a transformação institucional como fulcro do desenvolvimento 4 . A principal instituição condutora do desenvolvimento é o mercado, cuja constituição e operação eficiente constitui o cerne das reformas estruturais preconizadas pelo Consenso de Washington no início da década (Williamson, 1990) e implantadas em toda a região no decorrer dos noventa. Ao Estado, nesta visão, caberia buscar o equilíbrio fiscal, defender-se contra seu aprisionamento por interesses privados (sintetizado por políticas de escolha de vencedores), evitar funções produtivas diretas (privatizando as empresas estatais) e centrar a regulação em medidas que reforcem a concorrência nos mercados (por exemplo, via a legislação de propriedade intelectual e de defesa da concorrência). A visão de desenvolvimento consubstanciada no Consenso de Washington foi também aplicada aos países africanos sob a denominação de structural adjustment programmes e imposta aos países do Sudeste asiático após a crise de 1997. Ë um fenômeno único, em termos de homogeneização de concepção de desenvolvimento, refletindo a hegemonia americana nos anos noventa. 3 Distingue-se,pois, da antiga visão desenvolvimentista, que privilegiava a transformação da estrutura produtiva e da moderna visão evolucionista que encara o desenvolvimento como resultante da co-evolução das estruturas produtiva e institucional. 4 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 187 Esta visão uniforme reflete tanto mudanças geo-políticas como a hegemonia americana subseqüente à dissolução do bloco comunista como o fracasso do prévio padrão de desenvolvimento latino-americano, fundado sobre a intervenção do Estado nacional-desenvolvimentista, a proteção a capitais privados nacionais e a substituição de importações, que transformou a década dos oitenta numa década perdida em termos de desenvolvimento, marcada por taxas de inflação altas e crônicas e baixas taxas de crescimento5. Em conseqüência, a década de noventa é definida por uma agenda positiva, consubstanciada nas reformas estruturais das instituições, e por uma agenda negativa, de rechaço às características do padrão de desenvolvimento anterior. A convicção dos policy-makers de que dispunham de uma doutrina correta, associada ao apoio internacional, fez com que a política econômica assumisse um caráter fundamentalista, em que qualquer crítica era equiparada à heresia e ignorada. Poucas vezes o dito de Deutsch (1966) de que o poder é a capacidade de recusar informações teve tanta aplicação como na América Latina dos anos noventa. Cabe aqui explorar as implicações das duas agendas para a C&T na América Latina. Comecemos pela agenda positiva. Na perspectiva das reformas dos anos noventa, o crescimento econômico adviria de dois círculos virtuosos, entrelaçados. No primeiro círculo, estruturado pelas medidas de abertura ao exterior (comercial, financeira e de investimento direto) acreditava-se que abertura provocaria, em um primeiro momento, um forte déficit em transações correntes, que seria coberto pela entrada de investimento direto estrangeiro (IDE) e de capitais financeiros. As importações de bens de produção e a entrada de investimento direto levariam, em um momento subseqüente, ao aumento de produtividade da economia e, portanto, ao crescimento do produto e das exportações, tendendo a reduzir o déficit de transações correntes. Neste círculo o IDE desempenha um papel crítico pois supunha-se que teria, simultaneamente, maior propensão a importar e a exportar que as firmas nacionais - ou seja, sua maior demanda por importações seria posteriormente compensada pela ampliação das exportações. A manutenção de altas taxas de juros internas para atrair capitais financeiros - contraditória com os objetivos de ampliação do investimento interno e de obtenção do equilíbrio fiscal era vista como temporária, a vigorar enquanto o círculo virtuoso permanecesse incompleto. Não é ocioso lembrar que o esgotamento do nacional-desenvolvimentismo foi substancialmente agravado pela crise do sistema econômico e financeiro internacional. 5 188 Fabio Stefano Erber O segundo círculo virtuoso é estruturado pelas reformas internas. A estabilidade de preços (freqüentemente ancorada pela taxa de câmbio) levaria à uma redistribuição positiva de renda, ampliando o mercado. Ao mesmo tempo, a estabilidade ampliaria os horizontes de investimento das empresas. Face a estas condições favoráveis e acicatadas pela maior concorrência (derivada da abertura comercial e de investimentos, da privatização das empresas estatais e da mudança na regulação pelo Estado), as empresas ampliariam seus investimentos, aumentando a produção e as exportações. As reformas do Estado - fiscal e administrativa dariam apoio a esse processo de crescimento reduzindo a pressão sobre a taxa de juros. O processo de integração regional serviria de suporte aos dois círculos virtuosos principais, aumentando sua conexão. Quais as implicações desta visão para a C&T da região? Em primeiro lugar, enfatiza-se a empresa (privada) como motor do desenvolvimento tecnológico e um dos principais objetivos das políticas científicas e tecnológicas dos países da região passa a ser o aumento da participação privada no financiamento e na execução de atividades de C&T. Em verdade, este não é um objetivo novo - o Estado desenvolvimentista também o perseguiu com afinco. Seu fracasso sugere que existem causas estruturais para tanto. Entre estas destacam-se a composição da estrutura produtiva, em que os setores intensivos em tecnologia têm pequeno peso; a dominância da importação de tecnologia, fruto da gravitação de empresas internacionais e do tamanho reduzido das empresas nacionais; a configuração incompleta do mercado de capitais, onde faltam mecanismos de risco e a reduzida competição entre as empresas. Os reformistas dos anos noventa ignoraram a primeira, agravaram a segunda, não resolveram a terceira e concentraram-se na última causa. O aumento de produtividade da economia constitui, nesta visão, o cerne do processo de desenvolvimento. Tal aumento seria logrado, principalmente, através da importação de bens de produção (máquinas e bens intermediários) e de tecnologias. O desenvolvimento de recursos locais de C&T é claramente secundário. Na melhor das hipóteses, complementa as importações. Façamos a hipótese de que os círculos virtuosos tivessem se completado. Neste caso, mesmo que desempenhando um papel secundário, os investimentos das empresas em C&T aumentariam, tanto em função do crescimento geral dos investimentos como do aumento de competição nos mercados. Nos termos da seção anterior, o piso dos gastos em ativos de C&T aumentaria. Quanto ao teto destes gastos, é PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 189 duvidoso que aumentasse: a globalização tende a eliminar muitas das idiosincrasias locais, que respondiam por forte parcela dos programas mais ambiciosos de P&D, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão para que processos e produtos regionais rapidamente sejam os mesmos do exterior - o que estimula a importação de tecnologias, que requer um teto de gastos relativamente baixo. O papel de demiurgo do crescimento atribuído ao capital estrangeiro, que em muitos países entrou adquirindo algumas das empresas locais (estatais e privadas) mais dinâmicas tecnológicamente, agrava a tendência a importar tecnologias. Ou seja, provavelmente, os círculos virtuosos levariam a um achatamento do teto. Ao longo da década os países da região implementaram com afinco as principais reformas (exceto as reformas fiscal e administrativa do Estado) e lograram uma notável queda nas taxas de inflação6 . O saldo líquido de IDE na região passou de US$ 7.3 bilhões em 1990 para US$ 33.7 bilhões em 1996. Apesar de tudo, os círculos virtuosos não se completaram e nada indica que venham a se completar no futuro próximo. A taxa de crescimento da região na década foi medíocre (3,8% ao ano); o PIB per capita em 1998 era somente 3% superior ao vigente em 1980. A taxa de investimento continuava baixa7 e a produtividade do trabalho evoluiu de forma muito diferenciada entre os países: em alguns (Argentina e Brasil) seu crescimento levou a um estreitamento do hiato que a separa da produtividade dos EUA, enquanto em outros (Chile, Colômbia, México) o hiato de produtividade aumentou (Katz 1999)8 e o desemprego na região tinha atingido níveis inauditos9 . Ou seja, tivemos mais uma década perdida em termos de desenvolvimento. Faltou à concreção dos círculos virtuosos o seu suporte principal, o pilar que lhes daria sustentação: um comportamento favorável do mercado internacional. Seja do lado comercial, com os preços dos produtos de exportação regional caindo, seja do lado financeiro, com o capital financeiro tornando-se cauteloso e exigindo maiores taxas de A taxa anual de variação dos preços ao consumidor na América Latina e o Caribe foi de 1188.3% em 1990 e 10,3% em 1998. Estes dados e os citados a seguir provém da CEPAL (1998; 1999) 6 A preços de 1990, a taxa de formação bruta de capital como percentual do PIB foi de 27,6 em 1980, 18,8 em 1990 e 20,7 em 1996.. 7 Katz ((ibid.) mostra que a tendência à redução do hiato de produtividade não pode ser atribuído exclusivamente às reformas, antecedendo-as. Nos dois casos, o aumento de produtividade está também associado a processos de terceirização e desemprego maciço. 8 A taxa regional de desemprego urbano aberto passou de 5.9% em 1990 para 8.0% em 1998. 9 190 Fabio Stefano Erber juros à medida em que as crises dos mercados emergentes se sucediam - México em 1995, o Sudeste asiático em 1997 e Rússia e Brasil em 1998. A vulnerabilidade externa dos círculos virtuosos era maior que o previsto pelos policy-makers. Mesmo desvalorizações radicais como a brasileira em 1999 não lograram expandir as exportações - sinal que a estrutura produtiva é pouco dinâmica em termos de comércio internacional10 . O fracasso dos círculos virtuosos tende a agravar as tendências relativas a gastos empresariais em C&T. Assim, mantém-se as pressões competitivas para aumentar o piso destes gastos, mas o crescimento irregular da economia e a crescente vulnerabilidade externa tendem a abaixar o teto. Esta última tendência é reforçada por políticas de juros altos, resultante seja da crise fiscal seja da necessidade de atrair capitais financeiros do exterior. A combinação de crescimento irregular e incerto com altos rendimentos de ativos financeiros tende a deslocar os investimentos para esse tipo de ativo. Reduz-se assim o incentivo para investir em C&T além do mínimo indispensável. Somada à forte pressão para usar tecnologia importada, a tendência à financeirização dos investimentos pressiona o teto em direção ao piso. Não é demais enfatizar que as conjecturas acima expostas dizem respeito à tendências. Infelizmente, os dados empíricos disponíveis são contraditórios. A julgar pelos dados oficiais e pelas informações apresentadas pela Rede Ibero Americana de Ciencia y Tecnologia (RECYT) (que são baseadas nos primeiros)11 , a evolução dos gastos em C&T na América Latina é extremamente positiva, conforme já mostrado no Quadro 1. Dada a concentração regional e a disponibilidade de informações concentrar-nos-emos nos três maiores países da região. O Quadro 3 detalha os gastos em C&T 12 para os três grandes por fonte de financiamento em 1993 e 1996. Exceto para o caso mexicano, ainda afetado pela crise de 1995, verifica-se uma expansão de gastos espetacular : na Argentina à taxa anual de 9.8% e no Brasil a 12.7% ao ano. Nestes casos, o gasto com C&T teria subido de 0,39% para 0,46% do PIB na Argentina e de 0,96% para 1,23% do PIB no Brasil. Nos dois casos, parte substancial da expansão de gastos em C&T é explicada pelo aumento de dispêndios empresariais (42% na Argentina e 46% no Brasil). Os produtos de alta tecnologia, que apresentam a maior taxa de crescimento no comércio internacional, representavam apenas 13% do total de manufaturas exportadas pela região em 1995 (Lall 1999). 10 Em seu site (www.redhucyt.oas.org/RICYT) informam-se apenas as pessoas e órgãos de enlace com a rede. Estes são entidades governamentais. 11 12 Para o México os dados restringem-se a Pesquisa e Desenvolvimento em 1995 e 1996. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 191 Assim, a participação do setor produtivo no financiamento de C&T teria passado de 23% do total para 28% na Argentina e de 24% para 31% no Brasil. Em outros termos, os gastos empresariais na Argentina e Brasil teriam crescido a taxas anuais de 16,4% e 22,5%, respectivamente. Em síntese, os dados oficiais indicam uma verdadeira revolução no comportamento tecnológico das empresas. Quadro 3 - Gastos em C&T por fonte de financiamento e percentagem do PIB Argentina,Brasil e México - em US$ milhões e percentagem do total - 1993 e 1996 FONTE: VALOR E (%) 1993 GOVERNO EMPRESAS EDUC. SUP. ONG EXTERIOR TOTAL TOTAL/PIB (%) 1996 GOVERNO EMPRESAS EDUC. SUP. ONG EXTERIOR TOTAL TOTAL/PIB (%) ARGENTINA BRASIL MEXICO (1) 535,4 (52,7) 238,8 (23,5) 196,1 (19,3) 9,1 (0,9) 36,5 (3,6) 1016,0 (100,0) 0,39 4344,0 (70,6) 1482,9 (24,1) 326,1 (5,4) ----6153,0 (100,0) 0,96 1079,7 (73,3) 210,6 (14,3) 131,1 (8,9) 17,7 (1,2) 33,9 (2,3) 1473,0 (100,0) 0,37 626,4 (46,3) 378,8 (28,0) 274,6 (20,3) 23,0 (1,7) 50,0 (3,7) 1353,0 (100,0) 0,46 5750,8 (64,9) 2738,0 (30,9) 372,2 (4,2) ----8861,0 (100,0) 1,23 668,6 (66,2) 177,8 (17,6) 84,8 (8,4) 11,1 (1,1) 67,7 (6,7) 1010,0 (100,0) 0,35 :1) México : valores para P&D, 1995 e 1996. Nota: Fonte: :RYCIT (site na Web), elaboração do autor. No entanto, os procedimentos estatísticos adotados para estimar os gastos empresariais inspiram grande cautela quanto à sua precisão. No caso brasileiro, tais dados estão baseados nas informações prestadas pela ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais). A ANPEI envia questionários às empresas cadastradas, variando o número de empresas que respondem (em 1993 foram 401 e em 1996 362). As autoridades governamentais acrescem ao total informado 33%13 e adicionam ou subtraem valores referentes a certos incentivos fiscais (MCT/CNPq, 1997). A imprecisão destes procedimentos é alta. O Quadro 4 mostra a evolução dos gastos para uma amostra de 86 empresas que responderam 13 Segundo MCT/CNPq (1997), chegou-se a este número porque o faturamento das empresas que compõem o banco de dados da ANPEI corresponde a 36% do PIB industrial. Este último, como se sabe, é uma medida de valor agregado, não estritamente comparável com o faturamento. 192 Fabio Stefano Erber aos questionários da ANPEI durante o período 1993/1997, elaborado pelos responsáveis pelas pesquisas da Associação (Sbragia et al. 1999). O reduzido número de empresas sugere que a composição da amostra flutua muito de ano para ano e a evolução dos gastos apontada no Quadro sugere um processo muito mais modesto que o indicado pelos dados oficiais. Quadro 4 - Brasil: gastos empresariasi em inovações, por tipo de atividades - em milhões de US$ correntes e percentagem - 1993 A Gasto Total Distribuição %: P&D ENR (2) Nacional Extramuros Importação 1993 7285.5 1994 6845.0 1995 6711.7 1996 7610.8 1997 7896.1 50.8 14.26 27.46 52.06 18.40 22.04 61.14 14.11 17.23 57.11 17.32 15.45 61.58 8.09 15.99 7.60 7.20 8.16 10.42 14.59 1.19 0.60 0.09 1.28 0.66 0.09 1.18 0.72 0.09 1.13 0.64 0.12 1.09 0.67 0.16 Total/ Vendas (%) P&D/Vendas Import./Vdas Notas: 1) Dados para 86 empresas que responderam ao questionário da ANPEI em todos os anos. 2) ENR : Engenharia não rotineira. Fonte: Sbragia et al. (1999). Quadro 5 - Gastos em C&T financiados pelas empresas - Taxas de crescimento anuais 1993 1996 segundo fontes diversas - em percentagem PAÍS RYCIT GOVERNO ARGENTINA BRASIL MEXICO (1) 16,4 22,5 (16,4) 19,7 22,3 (42,7) Nota: (1) México : Gastos em P&D Fontes: RICYT : site na Web Governo: Argentina : GACTEC (1998) Brasil : MCT/CNPq (1997) México : SEP/CONACYT (1998) Pesquisa: Argentina : Quadro 6 Brasil : Quadro 4 TOTAL 11,7 1,4 N.D. PESQUISA LOCAL IMPORTADA 9,7 15,0 0,4 12,5 N.D. N.D. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 193 Assim, mantendo o mesmo período antes analisado (1993/1996), os gastos em C&T feitos pelas empresas crescem apenas 1,4% ao ano. No período, os gastos com importação de tecnologia crescem fortemente (12,5% ao ano) enquanto os gastos locais aumentam de forma reduzida (0,4% ao ano). A intensidade de gastos totais em C&T, medida como percentual do faturamento, tende a cai ao longo do período, especialmente para os gastos nacionais, enquanto a intensidade de importações tende a subir. Os serviços contratados no país a outras instituições (principalmente instituições de pesquisa) perdem importância relativa (vejam-se Quadros 4 e 5). Para a Argentina, as estimativas de gastos empresariais estão baseadas numa pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para o ano de 1996 junto a 1639 firmas industriais, que respondiam por cerca de 54% do faturamento e 50% do emprego da indústria do país, das quais 534 realizavam gastos com inovação. Estes gastos foram expandidos para o universo industrial e a eles somados $109 milhões que corresponderiam a gastos efetuados em outros setores (GACTEC 1998, p. 38, nota 8). Na mesma pesquisa foram solicitadas informações relativas a 1992, mas os documentos oficiais (GACTEC 1997 e 1998) não esclarecem como foram estimados os gastos empresariais totais. Quadro 6 - Argentina: gastos empresariasi em inovações, por tipo de atividades em milhões de pesos correntes e percentagem - 1992 e 1996 Tipo de Atividade Total P&D Não-P&D intramuros Nacional extramuros Importações Total/Vendas (%) P&D/Vendas (%) Import/Vendas (%) 1992 Valor % 204 100.0 51 25.0 57 27.9 Valor 319 74 85 1996 % 100.0 23.2 26.6 20 9.8 27 8.5 76 37.3 133 41.7 1.28 0.15 0,48 1.38 0.16 0,58 Notas: 1) Dados para 534 firmas que declararam gastos para inovação em 1996 2) Em Nacional extramuros estão incluídos gastos para licenciamento e contratos com instituições de C&T públicas e não lucrativas. Fontes: GACTEC (1998), p.129 and INDEC (1998) pp. 69 and 88, elaboração do autor. 194 Fabio Stefano Erber Examinando os dados da pesquisa do INDEC (Quadros 5 e 6), também verifica-se um crescimento de gastos bastante inferior ao estimado pelo Governo e pela RICYT, embora as taxas sejam altas (11.7% ao ano entre 1992 e 1996). Da mesma forma que no caso brasileiro, os gastos com importação crescem mais que os gastos locais (15% e 9,7% ao ano, respectivamente) e os serviços contratados perdem importância. No entanto, à diferença do caso brasileiro, a participação de P&D no gasto total reduz-se. Finalmente, no caso mexicano, os dados governamentais que comparam a execução de P&D pelo setor empresarial com os gastos com importação de tecnologia (SEP/CONACYT 1998 p.85) em 1994 e 1995 (únicos anos disponíveis) confirmam e acentuam a queda verificada pela RICYT e mostram que os gastos locais caem mais que a importação de tecnologia, passando a relação entre gastos com tecnologia no exterior e no país de 2,09 a 2,6414 . Em síntese, dependendo de qual fonte de dados se tome, as conjecturas feitas sobre a evolução de dispêndios das empresas em C&T no Brasil é falsificada (no sentido popperiano) ou não. Os dados da pesquisa de Sbragia et al. (1999) confirmam as conjecturas, tanto no que diz respeito à evolução do montante de gastos como no papel das importações de tecnologia e de serviços contratados a outras instituiçòes do país (aumento do primeiro e redução do segundo). O pequeno aumento da participação de P&D no gasto total (ver Quadro 4) pode ser devido a problemas de classificação, requerendo pesquisas adicionais, segundo informação de um dos autores da pesquisa. No mínimo, o contraste entre as fontes sugere que o MCT deveria discutir com a comunidade acadêmica e estatística os procedimentos adotados, iniciativa que já foi encetada. No caso argentino, o alto crescimento dos gastos em C&T foi provavelmente afetado pelas altas taxas de crescimento do período 1991/ 94 e pela base muito reduzida de que partem estes gastos. Ao mesmo tempo, apresenta uma composição consistente com o previsto: um aumento substancial da participação das importações e uma redução da participação de P&D e de serviços contratados fora da empresa. Finalmente, no caso mexicano parecem inequívocas a influência da crise de 1995 no volume de gastos empresariais, assim como o papel preponderante da importação de tecnologia no suprimento local. Os dados são, em US$ milhões, para 1994 e 1995: gastos em P&D pelo setor empresarial: 320.2 e 183.5; pagamentos ao exterior por royalties e assistência técnica : 668,5 e 484,1. A queda nos gastos locais é superior à registrada pela RICYT (ver Quadro 3). 14 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 195 Embora as reformas estruturais dos anos noventa visem colocar as empresas no centro do processo de desenvolvimento tecnológico da região, o Estado e as instituições de pesquisa continuam a ser atores importantes no financiamento e na execução de pesquisas. No primeiro, o Governo é a principal fonte de recursos, embora sua participação tenha, aparentemente, diminuído15 (veja-se Quadro 3). Na execução, conforme mostra o Quadro 7, a RICYT estima que, entre 1990 e 1997, o Governo teria reduzido sua participação de 33% do total para 26% e as instituições de ensino superior teriam, grosso modo, mantido sua participação (passaram de 45% para 42%)16 . Quadro 7 - América Latina: gastos em C&T por setor de execução: em percentual do total - 1990 e 1997 SETOR GOVERNO EMPRESAS EDUCAÇÃO SUP. ONG 1990 33.2 21.3 45.0 0.5 1997 26.2 31.5 42.3 0.6 Fonte: RICYT (site na Web) Governo e instituições de pesquisa estão intimamente entrelaçados, posto que as principais instituições de pesquisa são públicas17 . Face às reformas estruturais, esta vinculação tem importantes conseqüências para as atividades destas últimas. Em primeiro lugar, sob forte influência do Banco Mundial e do BID, a prioridade da política educacional passou a ser o ensino primário e, a seguir, o secundário. Em segundo lugar, difundiu-se um diagnóstico que assevera ser desequilibrada a relação entre gastos em pesquisa científica e tecnologia. Face ao baixo desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas da região (veja-se Quadro 1) e aos vínculos entre ciência e tecnologia, este diagnóstico poderia levar a aumento de gastos governamentais em C&T, priorizando o elemento T de forma a equilibrar a composição de dispêndios. No entanto, a conclusão retirada do diagnóstico é, freqüentemente, de que os gastos em ciência devem ser Cabe lembrar que é o setor produtivo, cujos dados foram antes comentados, quem amplia sua participação no financiamento de C&T 15 Como as empresas substituem o Governo como o segundo principal executor de pesquisas, vale reiterar as qualificaçòes anteriores quanto aos dados sobre os gastos privados. 16 No Brasil há um importante segmento de universidades públicas que pertencem aos Estados, notadamente em São Paulo. Nos demais países a maioria é de responsabilidade do governo central 17 196 Fabio Stefano Erber mantidos constantes, ou mesmo reduzidos, em favor da tecnologia, o que é consistente com programas tecnológicos de teto baixo e orientados para uma estrutura produtiva pouco intensiva em tecnologia. Finalmente, tal entrelaçamento leva as instituições de pesquisa a serem vítimas da inconclusa crise fiscal e administrativa do Estado pela qual passam muitos países da região. Esta crise, somada à visão de que o mercado é a melhor instituição para orientar o desenvolvimento levou muitos Governos a forçarem instituições de pesquisa a estabelecer vínculos comerciais com as empresas. No entanto, como vimos anteriormente, as instituições de pesquisa padecem de uma rigidez de ativos e a demanda das empresas orienta-se para serviços de baixa complexidade, em desacordo com a dotação de ativos das instituições de pesquisa. Paradoxalmente, obtém-se assim, através do mercado, o oposto de seus desígnios - a má alocação de recursos. Conforme apontado acima, tanto na Argentina como no Brasil, os serviços contratados extramuros pelas empresas que investem em inovação tendem a perder expressão relativa. Por último, as reformas estruturais dos anos noventa afetam diretamente o Estado enquanto formulador e executor de políticas. É neste aspecto que a agenda negativa das reformas manifesta-se de forma mais clara, notadamente na formulação de políticas. Três itens desta agenda merecem destaque. Em primeiro lugar, renega-se a importância da autonomia nacional. Em alguns países, como Brasil e México, no passado este fator foi muito relevante na ação estatal em favor da C&T local. No presente, o mesmo fator que contribuía para legitimar a ação estatal nesta área, reduz agora sua prioridade política. Em segundo lugar, e vinculado ao primeiro, argüi-se que não existem distinções entre capitais segundo sua origem. No entanto, há uma extensa literatura que mostra que as atividades de P&D de firmas transnacionais tendem a ser centralizadas, normalmente junto ao seu país de origem. A tendência ao uso de tecnologia importadas tende a propagar-se, entre os fornecedores e competidores destas empresas. Ignorar a diferença e não negociar a implantação dessas atividades na região implica em aceitar um padrão de programas tecnológicos orientado para atividades de adaptação de tecnologias importadas, mantendo baixo o teto destes programas. Finalmente, o medo de incidir no pecado mortal de escolher os vencedores baniu a visão de estrutura produtiva do campo das políticas, reduzindo-as a políticas horizontais. A suposição que computer chips e potato chips são equivalentes do ponto de vista tecnológico e econômico PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 197 é obviamente equivocada e não encontra respaldo na prática dos países industrializados nem ação dos países de industrialização recente. Mais, qualquer política horizontal, mesmo a mais macro, incide de forma distinta sobre os vários setores de acordo com a sua base técnica. Como o personagem de Moliére, que falava em prosa sem saber que o fazia, o Estado ao adotar políticas horizontais faz, inadvertidamente, políticas setoriais. No entanto, a ignorância é um péssimo guia para a ação e, ao adotar a ideologia da horizontalidade na política de C&T (e em sua irmã xipófaga, a política industrial), os Estados latino-americanos privam-se de atuar sobre a estrutura produtiva dos seus países e, portanto, de fomentar o desenvolvimento. Para concluir, caberia um breve comentário sobre a cooperação regional. Dadas as reduzidas dimensões dos sistemas nacionais de C&T em todos os países da região e a existência de muitos problemas por vários compartilhados, há um enorme campo para a cooperação científica e tecnológica. A julgar pela evidência disponível18 , a primeira é mais forte que a segunda. Provavelmente, isto decorre de vários fenômenos: a facilidade de estabelecer tratados governamentais de cooperação científica, que não ofendem interesses e conferem a aura de modernidade aos signatários; a relativa universalidade da ciência, a pressão para divulgar resultados e a operação de invisible colleges entre os cientistas. Em contrapartida, a cooperação tecnológica entre empresas privadas radica no medo e na reciprocidade entre os parceiros e visa a exclusão dos demais. É portanto, mais difícil de negociar, especialmente a cooperação que vai além dos contratos de licenciamento e assistência técnica, como a pesquisa pré-competitiva. A baixa capacidade de P&D da maioria das empresas locais e a preferência das transnacionais por fazer seu P&D nos países avançados constitui um óbice a essas formas mais avançadas de cooperação. Os acordos de integração regional que vicejaram na atual década aparentemente, pouco contribuíram para minorar este problema, devido à sua orientação precipuamente comercial. CONCLUSÕES Mantido o marco geral das reformas estruturais acima descritos, e supondo que a inserção internacional da região não piore e que as condições de estabilidade econômica e política seja matidas, parece provável que a C&T na América Latina siga uma trajetória semelhante à dos anos passados da década: baixa prioridade atribuída a essas atividade pelo Estado, um aumento dos gastos empresáriais em atividades tecnológicas de baixa complexidade, com a utilização maciça 18 Para uma análise da experiência entre Brasil e Argentina, veja-se Erber (1999). 198 Fabio Stefano Erber de tecnologias importadas e um crescimento limitado das atividades científicas. No entanto, seja no plano interno dos países da região seja no âmbito dos países mais avançadas e instituições internacionais, existem sinais qua a fé na força propulsora das reformas diminui. Ou pelo menos, que as reformas necessitem de complementação. O s recentes resultados eleitorais em vários países como Argentina, Uruguai e Venezuela e manifestações internacionais sobre o pós Washington Consensus apontam nessa direção. Parece possível que, num novo contexto, regido por outra estratégia de desenvolvimento, a dimensão da estrutura produtiva volte a ser priorizada como elemento de promoção do desenvolvimento, iclusive através da construção de vantagens comparativas internacionais. Neste caso, será indispensável aos países da região ampliar seu investimento em atividades de C&T. BIBLIOGRAFIA CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) (1998) - Estudio Economico 1997-1998 CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) (1999) - Estudio Economico 1998-1999 Deutsch, K. (1966) - The Nerves of Government, The Free Press, Toronto. Dosi et al. (1988) - Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, Londres. Erber, F. (1979) - Política científica e tecnológica no Brasil: uma revisão da literatura em J. Sayad (comp.) Resenhas de Economia Brasileira, Edição Saraiva, São Paulo. Erber, F. (1999) - Structural reforms and science and technology policies in Argentina and Brazil, Seminário Politicas para fortalecer el Sistema nacional de Inovación, SECYT, Buenos Aires, mimeo. GACTEC (Gabinete Científico-Tecnológico) (1997) - Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000, Presidência de la Nación, Buenos Aires. GACTEC (Gabinete Científico-Tecnológico) (1998) - Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1999-2001, Presidência de la Nación, Buenos Aires. Herrera, A. (1971) - Ciencia y Política en América Latina, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (1998) - Encuesta sobre la conducta tecnológica de las empresas industriales argentinas, Estudios INDEC 31. Katz, J. (1999) - Cambios en la estructura y comportamiento del aparato productivo latinoamericano en los años 1990 y su relación con lo tecnologico y innovativo PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 199 Seminário Politicas para fortalecer el Sistema nacional de Inovación, SECYT, Buenos Aires, mimeo. Lall, S. (1999) - Science, technology and innovation policies in East Asia: Lessons for Argentina after the crisis Seminário Politicas para fortalecer el Sistema nacional de Inovación, SECYT, Buenos Aires, mimeo. MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia) (1997) - Brasil: Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 1990-96, MCT, Brasília. RICYT (Rede Iberoamericana de Ciencia y Tecnologia) (1999) - Indicadores, http:// www.redhucyt,oas.org/RICYT/indica.htm Sbragia, R; Krugrianksas, I. and Andreassi, T. (1999) - Innovative firms in Brazil, in H. Etzkowitz, J. Mello, R. Casa and L. Leydesdorff (eds.) Triple Helix in Latin America, forthcoming. SEP/CONACYT (Secretaria de Educación Publica/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (1998) - Indicadores de Actividades Cientificas y Tecnologicas Mexico 1997 , CONACYT, Mexico. Teece, D. e Pisano, G. (1994)- The Dynamic Capabilities of Firms : an Introduction, em Industrial and Corporate Change vol.3. n.3. Williamson, J. (1990) - Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for International Economics, Washington. Resumo O artigo inicia por uma seção teórica que discute a relação entre as atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas por vários tipos de instituições e o contexto econômico definido pelas políticas públicas. A seguir, analisa as implicações da estratégia de desenvolvimento seguida na América Latina nos anos noventa, centrada somente em reformas institucionais, para as atividades de C&T realizadas por empresas e instituições de pesquisa e para a atuação do Estado nesta área. Após comparar várias fontes de dados, mostra que o desenvolvimento de C&T nos principais países da região é muito limitado. Conclui argumentando que uma outra estratégia de desenvolvimento, em que a dimensão da estrutura produtiva seja privilegiada, implicaria num aumento das atividades de C&T na região. Abstract This article begins with a theorical section which discusses the relationship between scientific and technological activities developed by different types of institutions and the economic context defined by public politics. Moreover, analizing the developing strategical implications have been occuring in the nineties in Latin America, focusing only in instutucionals reforms towards scientifics and technologicals activities that have been done by private sectors and research institutions as well as distinguished State´s performance in this area. The scientific and technological developments in the primordial countries of this region is very limited, after having comparing with various data. In this form, we conclude that other strategies of development, which the product structure shall be privilieged in it´s dimension, would implicate in a rise of the S&T activities of the above mentioned region. 200 O Autor Fabio Stefano Erber Bacharel em Economia pela UFRJ (1965); M. A. em Economia do Desenvolvimento pela University of East Anglia (1971); PhD em Economia pela University of Sussex (1978). Secretário-Geral Adjunto do MCT (1986/1989); Diretor do BNDES (1992/1994). Atualmente, Professor Titular do Instituto de Economia da UFRJ, consultor de agências internacionais, instituições governamentais brasileiras e empresas privadas. Internacional PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 201 As novas políticas de competitividade na OCDE: lições para o Brasil e a ação do BNDES ANA CLÁUDIA ALÉM Levando em consideração a emergência de um novo paradigma tecnológico e o processo de globalização financeira aspectos marcantes das duas últimas décadas -, o objetivo do texto é analisar as mudanças mais importantes ocorridas recentemente no conjunto de políticas de competitividade dos países da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico - OCDE. Na busca de um aumento das exportações, as políticas de competitividade adotadas pelos países da OCDE têm sido marcadas pela seletividade. Neste contexto, assiste-se a uma diminuição dos subsídios diretos às empresas e ênfase no apoio ao investimento em setores intensivos em tecnologia e à constituição de infra-estrutura necessária para alcançar objetivos de crescimento de longo prazo.1 Ênfase especial tem sido dada ao investimento de pequenas e médias empresas e à organização de clusters industriais, onde a política industrial é vista de uma maneira mais ampla e seu papel é articular e envolver empresas de diferentes setores e atividades, com as tecnologias de informação e comunicações exercendo o papel central. O texto mostra que, de fato, apesar de os diferentes Estados Nacionais estarem passando por dificuldades fiscais, tem aumentado sua participação ativa na promoção de um aumento da competitividade do sistema econômico, com ênfase, principalmente, no apoio à inovação tecnológica área onde a intervenção é permitida no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Os orçamentos governamentais de P&D tem aumentado em termos reais na maior parte dos países da OCDE, o que tem se combinado a medidas de estímulo ao investimento em P&D por parte das empresas. Conforme um documento oficial da OCDE de 1993, os estados têm considerado fundamental contrabalançar a significativa exposição ao exterior via redução das barreiras tarifárias por meio de políticas de promoção ao aumento da competitividade de suas empresas, tanto no que diz respeito ao aumento das exportações 1 Ver OCDE(1996 e 1997). 202 Ana Cláudia Além quanto em relação à participação nos mercados internos cada vez mais abertos à concorrência externa. Sendo assim, a justificativa para um papel mais ativo dos Estados Nacionais é a pressão da concorrência internacional que gera a necessidade de se reforçar o potencial de desenvolvimento nacional e/ou regional. A justificativa teórica para a adoção de políticas protecionistas se baseia nas novas visões da teoria do comércio internacional, segundo as quais há a possibilidade de um país específico obter vantagens relativamente aos seus rivais a partir de políticas de incentivos a determinadas indústrias estratégicas, principalmente, àquelas associadas às tecnologias de ponta.2 A utilidade de uma discussão como esta é tirar algumas lições para o Brasil das políticas de competitividade adotadas nos grandes países, no sentido do de se observar o que pode ser feito para promover o aumento das nossas exportações, fator fundamental para contornar a atual restrição externa pela qual passamos e permitir a retomada de uma trajetória sustentada de crescimento. A recente correção cambial promoveu um aumento da competitividade de nossos produtos, entretanto, não foi suficiente. Ainda que haja, de fato, uma defasagem entre o momento da desvalorização da moeda real e o aumento das exportações decorrente, principalmente em relação aos produtos manufaturados, o fato é que nossas vendas externas continuam extremamente vulneráveis às flutuações dos preços das commodities internacionais, tendo em vista que mais de 40% da pauta se compõem de produtos básicos e semimanufaturados. O fraco dinamismo das exportações sugere a necessidade de uma política mais ativa de promoção das exportações por parte do governo. Para se aumentar a competitividade de nossas vendas externas, além de uma taxa de câmbio favorável, há a necessidade de um aumento da sofisticação da nossa pauta de exportações, o que, como a experiência internacional demonstra, implicará um aumento do conteúdo tecnológico de nossos produtos. O grande desafio é promover o aumento da participação das exportações brasileiras no total mundial, que após atingir um pico de 1,42% em 1984, caiu para 0,94% em 1998.3 No final do texto, apresenta-se o que já tem sido feito pelo BNDES no sentido de apoio ao aumento das exportações brasileiras e retomada do desenvolvimento econômico. 2 Ver Tyson (1992) e Krugman (1986) 3 Ver IEDI(1999). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 203 AS NOVAS POLÍTICAS DE COMPETITIVIDADE NA OCDE O Novo Contexto Internacional Com a globalização da economia internacional, o sucesso de uma nação passou necessariamente a ser medido pôr sua participação nos fluxos comerciais. Tendo em vista que os produtos de maior destaque na pauta de comércio passaram a ser aqueles intensivos em tecnologia, as políticas tecnológicas surgem como um importante condicionante para uma maior competitividade e, conseqüentemente, uma maior participação no comércio internacional. Sendo assim uma característica importante das novas políticas de competitividade é a crescente articulação entre as políticas tecnológicas e as políticas comerciais. As Principais Características das Políticas de Competitividade Há um grande número de políticas da OCDE que contribuem para o reforço da competitividade da indústria, com o objetivo de aumentar sua participação no comércio internacional, acelerar o crescimento econômico e a criar novos postos de trabalho o que neste caso explica a importância conferida aos programas específicos às pequenas e médias empresas. A amplitude das novas políticas de competitividade da OCDE é ampla e dependente de cada contexto nacional, mas suas principais características são: i) uma forte articulação entre as políticas comercial e tecnológica; ii) uma tendência progressiva de descentralização/ regionalização das políticas adotadas; iii) uma importante participação dos Governos na promoção dos gastos em pesquisa e desenvolvimento; iv) a combinação de políticas de estímulo à concorrência com políticas de promoção da cooperação e concentração; v) a combinação de políticas de cunho horizontal e vertical/setorial; e vi) a preocupação não apenas com o desenvolvimento de novas tecnologias, mas também com sua difusão rápida em todos os setores da economia. O objetivo das políticas é a adaptação das empresas às novas tecnologias via, principalmente, incentivos aos gastos em P&D e à difusão e cooperação tecnológica nas áreas de pesquisa genérica de longo prazo. Ou seja, as políticas de competitividade são conduzidas na direção de um crescente investimento em conhecimento e capacitações em nível da empresa. De fato, a idéia é acelerar o processo de internalização da capacitação tecnológica. Além disso, a partir da consolidação das bases regionais para o desenvolvimento tecnológico, visa-se o fortalecimento das redes de pequenas e médias empresas e do desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas para o crescimento econômico interno, como o incentivo aos setores de ponta e às atividades de pesquisa básica. 204 Ana Cláudia Além Apesar de um discurso liberal no que diz respeito à liberdade de comércio e competição nos mercados globalizados, o que se observa é uma preocupação por parte dos países membros da OCDE, não apenas quanto ao aumento de suas exportações para o mundo, mas também quanto à participação de seus produtos nos mercados internos. Neste sentido, tem aumentado a participação ativa dos Estados na promoção de um aumento da competitividade do sistema econômico, enfatizando, principalmente, o apoio à inovação tecnológica área onde a intervenção é permitida no âmbito da OMC. Os orçamentos governamentais de P&D tem aumentado em termos reais na maior parte dos países da OCDE, o que tem se combinado a medidas de estímulo ao investimento em P&D por parte das empresas. As políticas de competitividade adotadas atualmente pelos países da OCDE são diferentes das políticas industriais implementadas no pósSegunda guerra que tinham como principal objetivo a reconstrução do sistema produtivo e a restauração do setor privado, no caso da Europa e do Japão, e a reconversão industrial para fins civis, no caso dos EUA4 . As novas políticas de competitividade mais abrangentes - combinam alguns instrumentos tradicionais da política industrial com um número maior e mais complexo de novos mecanismos. Há a combinação de políticas horizontais com políticas verticais, com crescente importância destas últimas. Isto reflete o fato de que nos anos 90 o principal objetivo da política industrial passou a ser a criação das condições necessárias para que as empresas e a indústria possam concorrer de forma competitiva em um mercado global. Os Principais Instrumentos das Políticas de Competitividade Nos países da OCDE a importância relativa dos incentivos via programas e projetos tecnológicos com enfoque setorial, regional e pôr tipos de empresas tem aumentado. A idéia é promover uma contínua mudança estrutural na indústria no sentido de aumentar a importância relativa de setores de alta tecnologia especialmente o complexo eletrônico. Como reflexo disto, no período recente, nos países da OCDE observase um crescente grau de seletividade: tem ocorrido uma redução do subsídio direto às empresas no sentido de privilegiar o investimento em setores tecnologicamente orientados. Os setores privilegiados são aqueles sujeitos a uma intensa concorrência internacional, em um panorama de No caso dos EUA também se destacou o reaparelhamento e renovação de armamentos para fazer frente à Guerra Fria. 4 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 205 abertura dos mercados. Há uma preocupação particular em incentivar a cooperação entre as empresas e entre estas e as instituições de pesquisa. Dentre os principais instrumentos utilizados para o apoio ao aumento da competitividade da indústria nos principais países da OCDE destacam-se: i) o uso do poder de compra do Estado e a intervenção direta para a reestruturação dos setores utilizados de forma seletiva, visando setores específicos, principalmente, os setores de ponta; ii) requisitos de desempenho para o investimento de risco estrangeiro5 ; iii) subvenções e auxílios fiscal-financeiros, diretos e indiretos - via reduções da carga tributária ou diretamente por meio da concessão de vários tipos de subsídios, como empréstimos a taxas preferenciais de juros. O objetivo das políticas é a adaptação das empresas às novas tecnologias via, principalmente, incentivos aos gastos em P&D e à difusão e cooperação tecnológica nas áreas de pesquisa genérica de longo prazo. Além disso, a partir da consolidação das bases regionais para o desenvolvimento tecnológico, visa-se o fortalecimento das redes de pequenas e médias empresas e do desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas para o crescimento econômico interno, como o incentivo aos setores de ponta e às atividades de pesquisa básica. Ou seja, as políticas de competitividade são conduzidas na direção de um crescente investimento em conhecimento e capacitações em nível da empresa. As Políticas de Concorrência & o Apoio à Cooperação e Concentração À primeira vista pode parecer que haja uma contradição na implementação simultânea de políticas de apoio à concorrência e de incentivo à cooperação e concentração das empresas. Entretanto, tendo em vista a necessidade de fortalecimento das firmas em um novo contexto internacional globalizado de competição acirrada, o apoio a movimentos de cooperação e concentração torna-se imprescindível levando-se em conta os altos custos envolvidos na busca de inovações tecnológicas. Sendo assim, a regulação do poder de mercado em setores oligopolizados tem como objetivo viabilizar a emergência de setores industriais internacionalmente competitivos em um ambiente de condições de concorrência equilibradas entre os produtores domésticos. Ou seja, se por um lado, o mercado regional deve fornecer as condições para o desenvolvimento de empresas com escala de produção e pautas produtivas grandes o bastante para fazer face à concorrência Por exemplo, requisitos quanto à compra de insumos e componentes locais, obtenção de um equilíbrio da contas externas em relação às trocas intra-firma e um desempenho mínimo das exportações fora das trocas intra-firma. 5 206 Ana Cláudia Além no mercado internacional, é indispensável impedir o surgimento de configurações industriais incompatíveis com os interesses dos países da OCDE, tais como comportamento monopolístico, acordos restritivos, barreiras à entrada, entre outros. Apesar da pressão da concorrência externa sobre os oligopólios locais ser considerada favorável, persiste a preocupação com a manutenção da soberania nacional, principalmente, no que diz respeito ao domínio das tecnologias críticas. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS NACIONAIS Estados Unidos6 No passado, as relações interindustriais nos Estados Unidos caracterizavam-se pôr: i) alto nível de verticalização das grandes empresas; ii) baixo grau de cooperação entre produtores finais e fornecedores; iii) falta de planejamento de longo prazo; iv) alta dispersão espacial; e v) forte restrição a arranjos cooperativos entre as empresas dada pela legislação antitruste. Estas características refletiam o baixo nível de cooperação e articulação entre as empresas, o que dificultava o desenvolvimento de novas tecnologias. Com a finalidade de reverter esta situação, as empresas dos EUA têm se empenhado na modernização de seus modelos gerenciais e na busca de uma organização da produção mais flexível. É notório o avanço das alianças estratégicas entre as empresas com o objetivo de facilitar o acesso a conhecimentos complementares que contribuam para o aumento de competitividade das empresas face aos competidores externos, através, principalmente, da exploração de novas oportunidades tecnológicas. Mas o sinal mais claro de mudanças está no campo da reestruturação patrimonial, onde cada vez mais se acelera o movimento de fusões e aquisições de empresas. Este movimento tem como base a idéia de que é preciso fortalecer os grupos nacionais para que possam fazer frente ao processo de concorrência cada vez mais acirrado em nível internacional.7 A defesa da concorrência no mercado interno é feita simultaneamente a uma intensa regulamentação do acesso ao mercado doméstico, mesmo com a redução das tarifas. Neste sentido, destaca-se a importância da federação norte-americana, tendo em vista que uma quantidade significativa de restrições ao acesso ao mercado doméstico é de responsabilidade dos estados. 6 Ver NSF (1998) e Bellon (1995). O Sherman Act de 1890 - que introduziu a legislação anti-truste e de regulação da concorrência - tem sido adaptado no sentido de permitir a conglomeração das empresas norteamericanas em um momento de crescente integração da economia mundial e de necessidade de concentração de capitais com o objetivo de garantir economias de escala e sinergias tecnológicas. 7 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 207 Quanto à relação setor público/setor privado, a participação do Estado é mais relevante na estruturação do arcabouço institucionalregulatório que serve de base para a atuação dos agentes do setor privado. Neste sentido, destaca-se a ação dos lobbies industriais que representa os interesses privados junto aos poderes executivo e legislativo. As medidas regulatórias implementadas refletem, de fato, uma significativa associação entre o setor público e o setor privado e dizem respeito a áreas estratégicas para o aumento da competitividade da economia norteamericana. A principal forma de intervenção direta do Estado no sentido de promover a indústria norte-americana prossegue sendo através da política de compras do governo que desde 1933 tem sido legislada pelo Buy America Act. Dentre as medidas do governo com o objetivo de privilegiar as empresas locais destacam-se: i) a proibição de agências governamentais de comprarem bens e serviços de empresas estrangeiras; ii) a definição dos níveis de conteúdo local na produção a ser atendido nas compras; e iii) a definição de termos preferenciais de preços para empresas locais. Para se ter uma idéia do nível de proteção, é exigido nos casos de contratos de suprimento ou construção de agências governamentais que todos os materiais e bens não-processados provenham de empresas norte-americanas e que os produtos manufaturados tenham um mínimo de 50% de conteúdo local. Há também medidas de apoio às compras de pequenas e médias empresas, assim como daquelas firmas localizadas em áreas onde as taxas de desemprego são maiores.8 As políticas de competitividade Em relação ao investimento dos Estados Unidos em P&D, destacamse três características principais: i) o elevado montante dos gastos totais em comparação aos de outros países da OCDE, ver Tabela 1-, ii) o tamanho do orçamento federal em P&D os recursos federais ainda correspondiam a cerca de 40% do financiamento do total de gasto de P&D em 1995, dos quais a maioria realizada pelo setor privado, ver Tabela 2; e iii) o domínio das atividades militares no orçamento federal de P&D nos últimos 30 anos. 8 Além do Buy america Act outros instrumentos importantes são o National Security Act de 1947 e o Defence Production Act de 1950 relacionados ao setor de defesa; o Programa de Balanço de Pagamentos do Departamento de Defesa, que impõe uma correção de 50% nos preços oferecidos pôr empresas estrangeiras, quando comparadas a empresas lociais; o Competition in Contracting Act de 1984, pelo qual as agências governamentais podem basear suas compras em objetivos de promoção industrial; e o National Space Policy Directive de 1990, segundo o qual os satélites do governo que respondem pôr 80% do mercado de satélites dos EUA podem ser lançados apenas pôr veículos espaciais fabricados nos EUA. 208 Ana Cláudia Além A concentração de P&D militar na indústria aeronáutica, de mísseis e equipamentos eletrônicos significou um importante estímulo indireto a P&D em todo o complexo eletrônico. Além disso, as compras governamentais militares têm sido essenciais para o desenvolvimento e Tabela 1 Gastos em P&D - % do PIB Reino Alemanha França 1981 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Unido 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 nd 2,4 2,7 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 Japão EUA 2,1 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 nd 2,4 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,6 2,5 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 nd Fonte: DTI, UK(1998) e IEDI (1998). Tabela 2 Gastos com P&D financiandos pelo Governo - (% do Total) Reino Alemanha Itália Japão EUA Unido 1987 39,5 34,7 54,0 19,6 49,1 1988 36,5 34,2 51,8 18,1 47,8 1989 36,4 34,1 49,5 16,8 45,6 1990 35,5 33,9 51,5 16,1 43,8 1991 35,0 35,8 46,6 16,4 38,7 1992 34,3 36,0 44,7 17,5 37,7 1993 33,4 36,7 47,8 19,7 37,7 1994 33,5 37,2 46,4 19,5 36,9 1995 33,3 37,1 47,4 - 36,1 Fonte: DTI(1998). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 209 consolidação de alguns setores de ponta, como a indústria de semicondutores. De fato, a participação dos recursos federais para P&D é elevada e superior à média da indústria em setores intensivos em tecnologia (por exemplo, equipamentos de comunicação e componentes eletrônicos) e no complexo aeronáutico. Mesmo em setores não diretamente intensivos em tecnologia, mas que são importantes para a economia norte-americana e que passam pôr profundas transformações tecnológicas como o de equipamentos de transporte o governo federal tem sido responsável por parcela significativa da P&D do setor privado. A nova política de competitividade dos Estados Unidos enfatiza o redirecionamento da política de C&T do esforço tecnológico militar para a promoção da capacidade de inovação do setor empresarial civil, se caracterizando por um certo nível de protecionismo e por uma forma direta de intervencionismo. Os dois princípios básicos que regem a nova política tecnológica dos EUA são: i) a constituição de um ambiente précompetitivo via a construção de uma nova infra-estrutura voltada à produção e difusão tecnológica; e ii) o incentivo à formação de redes e parcerias entre os diferentes agentes - universidades, agências federais, empresas e fundações científicas - tendo em vista a complementaridade das capacitações de cada um. A parte não subsidiada diretamente da P&D industrial beneficiase de medidas indiretas e deduções fiscais, principalmente, sob a responsabilidade de estados e municípios. Apesar do caráter aparentemente genérico/horizontal destes tipos de incentivos, observase que são as empresas dos setores de tecnologia de ponta, especialmente as novas, aquelas que mais têm se beneficiado dos créditos de impostos devidos. Isto se explica pelo fato de que como o crédito só é utilizado quando ocorrem aumentos nos gastos totais em P&D, setores e empresas que apresentam altas taxas de crescimento e vendas e/ou são intensivos em gastos em P&D são aqueles positivamente afetados pela legislação. Vale destacar também o papel dos Industrial Development Boards (IDB) locais que concedem financiamento a custo baixo para o investimento na indústria, principalmente, para empresas de alta tecnologia. Em nível federal, nos últimos dez anos, têm sido implementadas políticas ativas de proteção à indústria doméstica e de sinalização das principais linhas de ação a serem exploradas no processo de desenvolvimento industrial. Com o objetivo de revitalização da política industrial e tecnológica, o Departamento de Comércio (DC) tornou-se, na administração Clinton, uma agência central no gerenciamento de programas de desenvolvimento tecnológico conjunto de firmas apoiadas pelo governo.9 210 Ana Cláudia Além Vale ressaltar a criação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia que tem a função de coordenar a política de ciência e tecnologia (C&T) entre as diversas agências governamentais e de definir as prioridades governamentais quanto às atividades de P&D.10 Além disso, outros programas recentemente introduzidos reforçam o protecionismo e o intervencionismo direto no sentido de aumentar a competitividade da indústria, dentre os quais: i) programas de apoio ao desenvolvimento tecnológico; ii) montagem de projetos calcados no desenvolvimento de pesquisa dirigida; iii) a utilização de instrumentos de política comercial, com destaque para a seção 301; e iv) a inclusão de exigências de conteúdo local e reciprocidade para o acesso de empresas estrangeiras aos programas financiados pelo governo. As políticas comercial, de controle do capital estrangeiro e de concorrência Apesar dos EUA seguir as regras comuns da OCDE em relação ao movimento de capitais e investimento externo direto, o presidente da república tem o direito de impedir a compra de ativos empresariais de firmas norte-americanas por parte de empresas estrangeiras, por motivo de ameaça à soberania nacional. A seção 5021 do Trade Act de 1988 autoriza o presidente a investigar através do comitê sobre investimento estrangeiro nos EUA (CFIUS) - os efeitos na segurança nacional dos EUA de qualquer fusão ou aquisição de empresas que resulte em controle estrangeiro. A investigação leva em conta também o efeito potencial da aquisição e/ou fusão na liderança tecnológica dos EUA. Ou seja, a política de segurança está estreitamente associada com as políticas industrial e tecnológica. Apesar do movimento de crescente liberalização dos mercados promovido pelos países da OCDE, os EUA, como ocorre em outros países membros, mantém medidas protecionistas a setores considerados estratégicos.11 Neste sentido, destacam-se ações como: i) o desenvolvimento de tecnologias avançadas em parceria com o setor privado e a academia; ii) a construção de uma infra-estrutura tecnológica adequada; e iii) o exercício de uma liderança sinalizadora de ações para o governo e o setor privado. No que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias, o DC criou o Advanced Technology Program (ATP) que prevê a repartição com empresas privadas dos custos associados ao desenvolvimento de novas tecnologias com riscos elevados e que apresentem um espectro amplo de possíveis aplicações. O orçamento do ATP vem crescendo a cada ano, passando de US$ 47 milhões em 1992, para cerca de US$ 800 milhões em 1997. Além do ATP, o Departamento de Comércio tem a função de selecionar as tecnologias a serem apoiadas e implementar uma série de ações relacionadas a práticas de extensão industrial de escopo regionalizado, através de programas de parceria com o setor privado. 9 Dentre as principais medidas do Conselho estão: i) a extensão pôr três anos dos créditos tributários para atividades de pesquisa e experimentação; ii) a redução da taxação sobre ganhos de capital provenientes de pequenas empresas; e iii) a eliminação de barreiras da legislação anti-truste ao estabelecimento de joint ventures. 10 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 211 Em relação ao desempenho das exportações, observa-se, principalmente a partir da segunda metade dos anos 80, um significativo crescimento das vendas externas das indústrias de alta e média-alta tecnologia ver Tabela 3. Estes resultados demonstram o sucesso das novas política de competitividade implementadas principalmente a partir de meados dos anos 80. Como resultado do acúmulo de déficits comerciais e a intensificação da concorrência internacional, a política comercial dos EUA tem evoluído de um multilateralismo não -discriminatório para práticas crescentemente bilaterais, com destaque para a utilização de medidas TABELA 3 Crescimento médio anual das exportações (%) 1980-85 1985-90 1990-1994 Total da Indústria 2,0 8,0 10,1 Ind. de alta tecnologia 5,2 14,8 9,4 Ind. de média-alta tecnologia 2,5 3,5 11,0 Ind. de média-baixa tecnologia -2,1 9,5 8,4 Ind. de baixa tecnologia -0,4 9,6 6,4 Fonte: IEDI(1998). protecionistas. Como reflexo desta mudança de orientação da política comercial, a parcela de importações sujeita a algum tipo de barreira não-tarifária aumentou significativamente, passando de cerca de 12% na primeira metade da década de 1980, para 21% na segunda metade da mesma década. O que tem se observado é que simultaneamente ao processo de redução de tarifas nos EUA e em outros países como resultado de muitas rodadas de negociações no âmbito do GATT -, o número e a importância das barreiras não-tarifárias vêm aumentando desde a década de 1970, de tal forma que se tornaram mais importantes do que as tarifas na restrição aos fluxos de comércio internacional.12 11 Por exemplo, exitem restrições à entrada de empresas de capital estrangeiro nos seguintes setores: i) energia atômica; ii) rádio e televisão; iii) transporte aéreo; iv) navegação costeira e doméstica; v) energia elétrica em terras federais; vi) mineração em terras federais e/ou na Exclusive Economic Zone; e vii) portos em águas profundas. Em relação ao setor financeiro, o Federal Reserve pode não reconhecer como primary dealer um banco comercial ou de investimento controlado por estrangeiros, se o governo do país em questão negar o mesmo tratamento a instituições norte-americanas para operações com securities governamentais. 212 Ana Cláudia Além Japão Dentre as principais características do sistema econômico japonês destacam-se: i) o processo de aprendizado coletivo; ii) os incentivos e maior comprometimento dos trabalhadores com as metas da empresa; e iii) e a elevada flexibilidade do sistema como um todo. Em nível de organização da estrutura industrial, destacam-se os Keiretsu grandes conglomerados japoneses, que participam de diversos setores industriais - que têm um importante papel na promoção da cooperação entre as empresas responsáveis pela produção e comercialização dos bens finais, os vários fornecedores de equipamentos e partes, componentes, equipamentos e materiais, o banco dos conglomerados e as agências governamentais. Uma peculiaridade dos conglomerados japoneses é a delicada combinação de competição e colaboração, que permite um melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento tecnológico. As políticas de competitividade A principal característica das políticas de competitividade japonesas é a estreita associação entre agências governamentais, setor empresarial e a comunidade científica e tecnológica. Esse contínuo processo de consulta tornou-se instrumento fundamental na reestruturação da economia japonesa e de sua orientação em direção a um alvo comum. Desta forma, a grande ênfase é colocada no alto nível de conectividade do sistema japonês de inovação como importante elemento facilitador do processo de aprendizado e de difusão de novas tecnologias. O estreito relacionamento entre o Ministry of International Trade and Industry (MITI) e o setor privado busca o desenvolvimento de sistemas que visam a coleta de informações técnicas e comerciais. A análise Nos EUA, destacam-se as seguintes barreiras não tarifárias: i) seção 201 que se traduz na proteção temporária sob a forma de restrições ao comércio a indústrias negativamente afetadas pela concorrência de produtos importados, ainda que estes não incorporem qualquer tipo de subsídio que facilite a sua colocação no mercado norte-americano. Os pedidos de proteção são analisados pela International Trade Comission (ITC). O Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988 ampliou a abrangência da seção 201, criando a possibilidade de proteção em função da perda de market share pôr empresas norte-americanas em indústrias específicas; ii) seção 301 que diz respeito à regulamentação de ações para compensar práticas discriminatórias implementadas pôr outros países contra produtos ou empresas dos EUA. Recentemente, a criação da super 301 aumentou a abrangência de ação da medida, incluindo a possibilidade de implementação de retaliação que pode chegar a um acréscimo de 100% em termos de tarifas ad valorem de importação sobre produtos importados.; iii) seções 701 e 731 a primeira autoriza o Departamento de Comércio a investigar reclamações contra importações que tenham sido favorecidas pôr subsídios à produção ou à exportação de governos estrangeiros. A segunda autoriza a investigação de reclamações quanto a práticas de dumping realizadas pôr empresas que exportam para os EUA. 12 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 213 sistemática e detalhada das tendências tecnológicas mundiais e a identificação de áreas de oportunidade para o desenvolvimento tecnológico fazem parte do sistema japonês de inovação. De especial importância em nível nacional, tem sido o uso de sistemas de previsão tecnológica para a formulação de políticas tecnológicas e industriais de longo prazo, cujo objetivo é sinalizar a direção do avanço futuro da economia e da tecnologia, dando às empresas confiança quando realizam seus próprios investimentos em P&D, equipamentos e treinamento. Além disso, tais medidas indicam às instituições financeiras privadas quais áreas e setores deveriam receber tratamento favorável. Tais sistemas têm visado, principalmente, identificar aquelas novas tecnologias que são capazes de transformar padrões existentes de crescimento econômico, como foi o caso do reconhecimento da importância tecnológica da informação. Neste sentido, destacam-se os sistemas de previsão tecnológica chamados de visions of the future, que mapeiam a direção do avanço econômico e tecnológico, oferecendo às empresas, economia e sociedade japonesas, indicações nas quais possam pautar seus investimentos, formação e treinamento de recursos humanos, entre outros. A preocupação da política industrial com a busca de novas oportunidades de investimentos nas áreas de fronteira tecnológica reflete uma estratégia que associa a atuação desejada no futuro e o papel dos diferentes atores nacionais. Neste sentido, vale destacar os programas de pesquisa colaborativa apoiados pelo governo cujos principais objetivos são fortalecer as empresas com maior potencial competitivo e facilitar as necessárias conexões na cadeia de informação técnico-científica e de produção e comercialização de novos bens. Ao estimular projetos nacionais de P&D colaborativos, o MITI tem sido capaz de promover ainda mais as formas de cooperação, inclusive entre empresas japonesas concorrentes. Vale ressaltar, entretanto, que o principal objetivo destes programas é garantir um maior potencial competitivo às empresas e não reduzir a competição entre elas. Destacase também o papel das associações industriais na definição e promoção da política tecnológica e industrial, colaborando para a divisão de riscos e custos entre as unidades participantes, a aceleração do processo de pesquisa e eliminação de superposições desvantajosas, a reunião de competências tanto horizontal quanto verticalmente, a difusão de informações e mobilização de ações ao longo de parcela relevante da cadeia produtiva. Dentre os incentivos financeiros ao esforço em P&D, estão o tratamento preferencial quanto ao imposto devido, subsídios e contratos de pesquisa governamentais, e empréstimos por parte das instituições financeiras governamentais a taxas preferenciais. A partir do momento 214 Ana Cláudia Além em que a política tecnológica japonesa se torna mais seletiva, os subsídios e contratos de pesquisa governamentais passam a desempenhar um papel mais importante. Em relação ao financiamento das atividades de P&D, o Banco de Desenvolvimento do Japão e a Corporação Financeira para Pequenas e Médias Empresas têm fornecido empréstimos a taxas preferenciais ao setor privado. Vale ressaltar que o montante total de auxílio financeiro direto às atividades privadas de P&D por parte do governo japonês é relativamente modesto, atingindo apenas 20% do total em 1994 - ver novamente a Tabela 2. Entretanto, o papel do governo enquanto instância coordenadora e mobilizadora tem sido fundamental para induzir o setor privado a investir em áreas e tecnologias consideradas prioritárias pelo Estado. O montante de gastos em P&D no Japão é o maior dentre os países da OCDE ver Tabela 1. O sucesso das políticas de competitividade adotadas pelo Japão reflete-se no alto índice de especialização das exportações em setores de alta e média alta tecnologia ver Tabela 4. As políticas comercial, de controle do capital estrangeiro e de concorrência O Japão continua sendo um país significativamente fechado no que se refere às importações, quando comparado aos outros países da OCDE. Apesar das tarifas de importação sobre produtos manufaturados e matérias-primas aproximaram-se das aplicadas nos demais países desenvolvidos, alguns produtos como alimentos e bebidas permanecem sujeitos a tarifas elevadas. Outros produtos, como agropecuários e alguns manufaturados estão sujeitos a restrições quantitativas, pôr motivos de saúde e/ou segurança pública. O sistema de controle de importações, operacionalizado através de autorizações e licenças, é complexo e sujeito a contínuas alterações e distintas interpretações que dificultam significativamente a entrada de produtos importados. As associações TABELA 4 Índice de Especialização das Exportações(%) Setores de Setores de Setores de Setores de Alta tecnologia Média-alta tecnologia Média-baixa tecnologia Baixa Tecnologia 1985 1994 1985 1994 1985 1994 1985 EUA 186 159 107 99 50 63 76 1994 85 Japão 148 144 122 125 94 87 25 16 Alemanha 71 68 123 122 90 93 76 76 França 82 96 96 94 107 100 114 119 Fonte: IEDI (1998). Nota: (1) Participação das exportações do setor no total das exportações industriais do país dividida pela participação das exportações do setor no total das exportações industriais da OCDE PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 215 empresariais participam em conjunto com o governo na tomada de decisões sobre os procedimentos legais e padrões dos produtos, o que confere aos produtores locais vantagens significativas em relação aos concorrentes estrangeiros. Outras barreiras importantes às importações são dadas pelos tradicionais sistemas de distribuição japoneses networks entre produtores e distribuidores ligados pôr antigas relações e interesses comuns, muitas vezes caracterizados pela propriedade acionária cruzada -, e pelo sistema de compras do governo que implica, principalmente, uma compra reduzida de computadores, supercomputadores, satélites, entre outros, de fornecedores internacionais. As pressões internacionais pôr uma maior liberalização das importações decorrentes do aumento dos superávits comerciais com seus principais parceiros internacionais, levaram o Japão a criar em 1990 um programa de incentivos fiscais às empresas que aumentassem as importações de determinados produtos, como máquinas automáticas de processamento de dados, calculadoras, circuitos integrados, instrumentos médicos e fibras óticas. No que diz respeito às exportações, o Japão subsidia as vendas externas de acordo com o limite determinado pelo Export Credit Arrangement da OCDE. Ao longo da década de 1980, o Japão tornou-se o principal país de origem dos investimentos externos diretos. Entretanto, como país receptor de investimentos externos, sua participação prosseguiu sendo modesta. Em 1979, houve uma importante alteração da legislação de controle do setor externo. Pela Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law todo o investimento estrangeiro passou a ser autorizado a não ser que fosse especificamente proibido, ao contrário do que ocorria anteriormente, quando todo o investimento estrangeiro era proibido a não ser que fosse especificamente autorizado. Entretanto, alguns setores permanecem sob restrição à entrada de capital estrangeiro como agricultura, silvicultura, pesca, mineração, petróleo e couro, como resultado das restrições admitidas pelo Código de Liberalização dos Movimentos de Capitais da OCDE. Também há restrições a entrada de capitais em setores associados à segurança nacional, ordem pública, operacionalização da economia e reciprocidade internacional como aeronáutica, desenvolvimento espacial, energia atômica e produção de drogas e vacinas. Em 1991, a Foreign Exchange and Foreign Trade control Law foi revisada e em 1992 foi aprovada a Law on Extraordinary Measures for the promotion of Imports and Facilitation of Inward Investments, estabelecendo incentivos fiscais, financiamentos e outras formas de apoio ao investimento estrangeiro. Em 1993, foi criada a Foreign Investment in Japan Development Corporation sustentada pelo governo e pelo setor privado, com o objetivo de oferecer serviços de apoio às subsidiárias de empresas 216 Ana Cláudia Além estrangeiras em início de operação no Japão. Em 1994, foi criado o Japan Investment Council para a promoção de investimentos estrangeiros no país. União Européia13 A política industrial da União Européia baseia-se no Tratado da União Européia que entrou em vigor em Novembro de 1993 e apresentou quatro objetivos: i) acelerar a adaptação da indústria às alterações estruturais; ii) incentivar um ambiente favorável à iniciativa e ao desenvolvimento das empresas, com destaque para as pequenas e médias empresas; iii) incentivar um ambiente favorável à cooperação entre empresas; e iv) promover uma melhor exploração do potencial industrial das políticas de inovação e de desenvolvimento tecnológico14 . O apoio financeiro por parte dos países da União Européia ao investimento em P&D se dá de forma indireta via reduções da carga tributária, disponíveis a todas as empresas ou diretamente por meio da concessão de vários tipos de subsídios, como empréstimos a taxas preferenciais de juros.15 Apesar do discurso privilegiar políticas de cunho horizontal, as políticas setoriais e regionais têm aumentado de importância ao longo do tempo 16 . Os programas de incentivos além de promoverem um catching up tecnológico de forma generalizada nas economias 13 A análise da experiência do Reino Unido é de particular importância tendo em vista a crescente importância do Estado na promoção do desenvolvimento tecnológico, em um país de tradição de não-intervencionismo do Governo na economia. O que se observa de fato é que o Reino Unido, ainda que não possua um arcabouço institucional de apoio à P&D da mesma magnitude do que outros países da União Européia com destaque para Alemanha e França , tem tido as mesmas preocupações dos demais no que se refere ao aumento dos gastos na promoção do desenvolvimento tecnológico, com vistas ao aumento da competitividade de sua economia. Isto tem se refletido na implementação de diversos programas com participação tanto direta quanto indireta do setor público. Segundo o Department of Trade and Industry (DTI) uma espécie de Ministério da Indústria e do Comércio do Reino Unido the development and diffusion of new technology, for which R&D is becoming increasingly important, is a key component of innovation. By itself new technology is no guarantee of sucess, but in general the Government believes that an increase in R&D activity would be of benefit to the economy. It is therefore concerned to examine what steps might be taken to encourage more R&D...(DTI, 1998). 14 Ver Cassiolato (1996), Marchipont (1995), e Freeman e Oldham (1991). Há uma variedade de programas de cooperação para o financiamento público de atividades de P&D no âmbito da União Européia, com destaque para: a)Programa-Quadro Comunitário: apoio às políticas públicas, aos setores de telecomunicações e informática, estímulo à inovação industrial, nuclear, pesquisa básica e formação; b)Programa Eureka : concentrase no estímulo à inovação industrial e ao desenvolvimento tecnológico na área de telecomunicações e informática; c)Agência Espacial Européia - totalmente voltada para o setor espacial. Ver IEDI (1998) e home page da União Européia. 15 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 217 comunitárias, também têm um enfoque setorial, privilegiando os setores estratégicos em termos internacionais.17 Em termos de financiamento dos programas, destacam-se os fundos estruturais que financiam a reconversão de zonas afetadas pelo declínio industrial; a reestruturação industrial; o ajuste e a modernização da agricultura e pesca; o desenvolvimento de zonas rurais; e o combate a greves de larga duração.18 Alemanha A Alemanha é hoje a terceira maior economia do mundo e responde por cerca de 25% da economia da União Européia. Na década de 90, a política industrial passou a ser conduzida a partir de duas questões principais. Em primeiro lugar, privilegiou-se o auxílio às novas lander anteriormente Alemanha Oriental , no processo de catching up tecnológico em relação às empresas do restante do país. As medidas de apoio incluíram suporte e promoção de financiamento de projetos de pesquisa, de pessoal de P&D interno às empresas, de cooperação entre empresas e instituições públicas de pesquisa, parques tecnológicos e incubadoras. O financiamento destas iniciativas foi viabilizado tanto pela participação direta do Governo Federal, como por meio de fundos supranacionais oriundos do European Recovery Program (ERP). Os investimentos resultantes da implementação destes programas foram acompanhados por reformas complementares visando reduzir a As políticas setoriais incluem a proteção seletiva e temporária, bem como iniciativas que resultem em redução da capacidade instalada ou realocação espacial das firmas. As regionais, pôr sua vez, têm o objetivo de assegurar a redução dos desníveis de competitividade entre indústrias e países da região. 16 17 Além disso, os programas da UE focalizam regiões deprimidas, normalmente situadas em áreas rurais subdesenvolvidas com baixo nível de renda e alto grau de desemprego, bem como regiões com indústrias em crise. Grande parte dos empréstimos e subsídios concedidos complementam planos de desenvolvimento financiados pelos Estados Nacionais. Destacam-se os financiamentos concedidos pelo Banco de Investimento Europeu, com duas modalidades de empréstimos, os globais - orientados para investimentos em novos ativos fixos, infra-estrutura e melhoria ambiental-; e individuais, para projetos de investimento de longo prazo. 18 Os principais fundos estruturais são: i) Fundo Social Europeu - destinado ao financiamento de treinamento e requalificação de mão de obra; ii) Fundo Europeu de Garantia e Orientação Agrícola - voltado para a melhoria das condições de processamento e comercialização dos produtos agrícolas e pesqueiros; iii) Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) - inicialmente direcionado para o desenvolvimento de infraestrutura industrial, passou a incorporar no escopo de suas ações subsídios para redes de comunicação, P&D em regiões selecionadas e infra-estrutura de educação e saúde. Em 1997, estavam sendo apoiados 470 programas em toda a UE. 218 Ana Cláudia Além carga tributária incidente sobre as empresas e o impacto decorrente do custo de mão-de-obra, considerado elevado pelos padrões internacionais. Em segundo lugar, houve a constatação, divulgada em um documento publicado em 1993, de que todos os esforços realizados a partir dos anos 70 não foram suficientes para promover as mudanças estruturais fundamentais para se alcançar competitividade nos setores ligados às novas tecnologias de base microeletrônica, o que se explicaria pelo fato de as políticas adotadas estarem organicamente associadas ao paradigma anterior. Como resultado, a partir de 1995, houve uma revisão profunda do sistema de inovação alemão com vistas a adaptá-lo para atender às necessidades do paradigma da microeletrônica. Além disso, houve uma ampliação do espaço das políticas para o setor de microeletrônica do nível nacional para o nível da União Européia, sob a idéia de que proporcionar P&D em todas as novas tecnologias ultrapassaria a capacidade de qualquer economia européia, mesmo a alemã.19 A especialização da estrutura industrial A análise da estrutura industrial alemã aponta para uma acentuada especialização em ramos industriais de nível tecnológico médio-alto, que em 1995 respondiam por quase 40% do valor adicionado gerado na indústria20 . Comparando a situação alemã com o que se observa nos EUA, Japão e França, percebe-se que a participação alemã no valor adicionado industrial nos ramos de alta tecnologia é a menor, ao mesmo tempo em que a evolução na participação deste ramo entre 1980 e 1995 também foi inferior. O recuo da participação da indústria de alta tecnologia na Alemanha fica ainda mais claro tendo em vista a análise do perfil de especialização das exportações ver Tabela 4. Dos quatro maiores países da OCDE, a Alemanha é o país que apresenta uma especialização mais deficiente nos setores de alta tecnologia. Em relação à União Européia a tendência tem sido de um declínio na especialização em bens de alta tecnologia, com exceção do Reino Unido (em computadores e equipamentos para telecomunicações) e França (aeroespacial). Os resultados demonstram que é no ramo de produtos de nível tecnológico médio-alto que a indústria alemã ainda detém o domínio das exportações em relação aos demais países da União Européia. No caso da Alemanha este ramo reúne as indústrias Destacam-se dois projetos: a participação extensiva no Joint European Submicron Silicium (Jessi) realizado dentro da iniciativa européia EUREKA e o projeto de cooperação transatlântica em P&D, com o objetivo de se constituir uma infra-estrutura de P&D e capacidade produtiva em microeletrônica. 19 20 Ver IEDI(1998). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 219 automobilística, química, de máquinas e equipamentos elétricos, além de outros produtos metálicos. As políticas de competitividade e o sistema de inovação Como resultado da própria estrutura administrativa do governo federal alemão, os estados e os governos locais assumem um papel fundamental nas políticas de desenvolvimento econômico regional, não apenas no planejamento de ações, bem como no financiamento do investimento industrial, na constituição de infra-estrutura e na criação de mecanismos de transferência de conhecimentos. Uma parte significativa dos incentivos tem se direcionado às pequenas e médias empresas intensivas em inovação, no sentido de auxiliá-las no financiamento de venture capital necessário ao seu crescimento. Um aspecto importante é que os incentivos têm se realizado crescentemente sob a idéia de agregados industriais estratégicos e clusters industriais onde a política industrial é vista de uma maneira mais ampla, envolvendo empresas de diferentes setores e atividades com as tecnologias de informação e comunicação jogando o papel central. A preocupação central é internalizar as tecnologias de base microeletrônica nos diferentes setores da economia. Como resultado da preocupação do governo alemão com a melhoria do sistema nacional de inovação, principalmente, no que diz respeito à necessidade de uma maior interação dos diversos agentes participantes do esforço inovativo, foi criado em 1994 o Ministério Federal de Educação, Ciência, Pesquisa e Tecnologia (BMBF) que responde pela maior parte dos recursos investidos na área de P&D -, a partir da fusão do Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da Pesquisa e Tecnologia. Além do BMBF, o Ministério Federal da Defesa e o Ministério Federal da economia também direcionam parte de seus recursos para a área de P&D. A reestruturação foi realizada com a finalidade de aumentar os gastos públicos em P&D, e ao mesmo tempo estimular o setor privado a aumentar os seus gastos. O caráter diffusion-oriented da política tecnológica alemã se reflete na adoção de programas e instrumentos voltados para o apoio a determinadas tecnologias de uso genérico e na promoção de diversas instituições públicas e privadas, voltadas para a transferência tecnológica para o setor produtivo. As políticas alemãs de apoio ao desenvolvimento tecnológico combinam instrumentos de cunho horizontal e vertical, onde a articulação do governo com o sistema financeiro local no que diz respeito à alocação de recursos é fundamental. 220 Ana Cláudia Além As formas de incentivos podem ser diretas, na qual existe uma relação contratual específica entre o poder público e a empresa beneficiária, indiretas genéricas/horizontais, e indiretas específicas/ verticais, direcionadas a setores tecnológicos bem definidos.21 Os programas tecnológicos assumem duas direções: i) prestam auxílio direto a projetos de P&D para o desenvolvimento de novos produtos ou processos; e ii) fornecem incentivos indiretos a fim de estimular o processo de difusão tecnológica tanto pelo fortalecimento da capacidade de absorção das empresas como pelo apoio à P&D cooperativa. Em termos monetários, os esquemas de apoio direto e financiamento a programas de P&D assumem uma importância muito maior do que os de incentivo indireto. Entretanto, os esquemas de apoio indireto desempenham um papel fundamental na melhoria e desenvolvimento das atividades de P&D relacionadas ao segmento das pequenas e médias empresas que têm uma participação menos ativa nos programas de P&D do governo federal, em comparação com o grau de inserção das grandes empresas nestes programas. De fato, verifica-se que os programas promovidos pelos estados costumam apresentar um perfil mais adequado ao segmento das pequenas e médias empresas. A preocupação com a descentralização das políticas industriais e tecnológicas na Alemanha reflete-se no aumento da participação tanto dos estados quanto dos governos locais no processo de capacitação tecnológica do setor produtivo regional. De fato, a análise dos gastos com P&D e ciência e tecnologia promovidos pelos diferentes níveis de governo e pelo setor privado mostra que entre 1993 e 1995, a participação do setor privado reduziu-se, enquanto que a participação dos estados e governos locais aumentou22 . Os instrumentos financeiros de caráter genérico compreendem: i) a contribuição para gastos de P&D ligados a pessoal de pesquisa; ii) contribuição para investimentos em P&D; iii) promoção de empresas technology-oriented; e iv) consórcio de pesquisas entre empresas e institutos de pesquisa; e crédito para reconstrução. No que se refere ao apoio a setores específicos, destacam-se: i) o programa para o desenvolvimento da tecnologia industrial adoção de sistemas baseados em computadores e uso de robôs; ii) subsídios à P&D industrial em setores de alta tecnologia (energia, informática, biotecnologia, etc...); iii) programa para a automação das fábricas; iv) programa aplicações de microeletrônica; v) apoio a pesquisa básica em física ; e vi) programa especial para tecnologia de produção visa a automação de escritórios e fábricas do ponto de vista organizacional. 21 22 Ver IEDI (1998). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 221 As políticas comercial, de controle do capital estrangeiro e de concorrência Apesar do movimento de crescente liberalização dos mercados que vem sendo promovido tanto nos países da União Européia quanto na OCDE, a Alemanha, a exemplo dos demais países membros, ainda aplica determinadas exceções a estes acordos visando a proteção de setores considerados estratégicos. Na Alemanha, as empresas estrangeiras legalmente estabelecidas dispõem de acesso aos fundos de P&D financiados pelo governo, desde que cumpram certos critérios de seleção como a manutenção de uma determinada estrutura de P&D no país e o cumprimento da legislação para transferência dos resultados da P&D para o exterior. No que diz respeito ao apoio às exportações, a Alemanha não dispõe de uma política de subsídios diretos às exportações, com exceção dos esquemas adotados no âmbito da União Européia que estabelecem algumas formas de subsídio à exportação de produtos agrícolas. Entretanto, diferentes entidades governamentais e semigovernamentais oferecem programas de financiamento para exportações. Em relação à proteção ao mercado local, ainda que não apresente barreiras formais à importação de uma série de produtos, a Alemanha exige rígidos padrões de segurança que dificultam o acesso externo ao seu mercado doméstico. Estes padrões podem exigir tanto a modificação nos produtos importados como algum tipo de certificação decorrente das normas que são estabelecidas pelo Instituto Alemão de Padronização. No que diz respeito às políticas de proteção à concorrência, na Alemanha não existe uma legislação que proíba a concentração no controle das empresas considerada um instrumento eficiente -, ainda que eventuais excessos tendam a ser controlados tanto pela legislação quanto pelo comportamento ético característico dos bancos alemães. Entretanto, o processo de reestruturação de empresas por meio da tomada de controle acionário (take-over) constitui uma área extremamente vigiada na Alemanha, em razão das dificuldades de obtenção de um consenso envolvendo acionistas, trabalhadores e quem passa a assumir o controle da empresa o que torna esta operação pouco atraente como instrumento para a reestruturação. A lei das companhias e fusões torna difícil a realização deste tipo de operação. França A política industrial francesa nas últimas décadas tem se caracterizado pela estreita associação de interesses entre o Estado e um núcleo de grandes empresas localizadas em setores dinâmicos da 222 Ana Cláudia Além economia, muitas delas com expressiva ou até preponderante participação do capital estatal23 . Um aspecto importante da Política Industrial francesa implementada nas últimas décadas é a definição de prioridades setoriais que orientam o esforço de criação de capacitação produtiva e tecnológica da indústria com destaque para grandes programas públicos nos setores de telecomunicações, aeroespacial e setor de energia nuclear. No que diz respeito ao financiamento dos projetos, destaca-se a concessão de incentivos financeiros à realização de investimentos por empresas nacionais e estrangeiras pôr meio da DATAR, a agência do governo responsável pôr este tipo de suporte. O principal incentivo oferecido pela DATAR baseia-se em um prêmio para o direcionamento de investimentos para áreas selecionadas (PAT). A política industrial francesa tem tido, preponderantemente, uma ênfase setorial a partir do apoio à montagem de grandes projetos aglutinadores de competências em áreas estratégicas, negligenciando, em certa medida, as políticas de cunho horizontal, como o apoio a pequenas e médias empresas e correção de desequilíbrios regionais o que neste caso reflete, de fato, a ausência de desequilíbrios regionais mais sérios no caso francês. O governo francês tem tentado reverter esta situação, tendo em vista que, nos últimos anos, as pequenas e médias empresas têm sido aquelas que vêm sustentando um maior volume de emprego, face ao processo de reestruturação produtiva, organizacional e patrimonial experimentado pelos grandes grupos econômicos. As medidas de apoio às pequenas e médias empresas visam, principalmente, a favorecer a realização de investimentos em capacitação produtiva e tecnológica, e a melhoria do acesso ao crédito. No que diz respeito à redução dos desequilíbrios regionais, nos últimos anos, algumas medidas vem sendo tomadas visando a dinamização de determinadas regiões, como: i) mobilização de créditos para a conversão das indústrias de determinadas regiões afetadas desfavoravelmente pela concorrência externa (mineração e construção naval, pôr exemplo); e ii) a criação de pólos tecnológicos. No que diz respeito à política tecnológica, medidas direcionadas a encorajar atividades de P&D, inovação e difusão tecnológica por parte 23 Ver Aujac (1996). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 223 das empresas são tradicionalmente tratadas como prioridade dentro do padrão de intervenção governamental observado nas últimas décadas.24 A participação do governo no sistema de P&D é inegável: em 1994, o governo era ainda responsável pôr 50% dos recursos mobilizados para financiamento de atividades de P&D, sendo também responsável, diretamente, pôr 38% dos esforços executados. Uma característica marcante da economia francesa é a forte simbiose existente entre os setores público e privado. Há o estímulo à consolidação de um sistema de participações cruzadas e circulares entre empresas privatizadas e públicas com conseqüente imbricação dos respectivos conselhos de administração , o que reforça a solidariedade orgânica entre o setor empresarial público e privado, traço marcante do capitalismo francês. A política comercial e o padrão de especialização da indústria O sistema tarifário francês segue as regulamentações mais gerais definidas pela UE. As tarifas incidentes sobre produtos importados de fora da UE são relativamente moderadas. Para diversas matérias-primas importadas a tarifa é zero ou baixa, enquanto que para os produtos manufaturados as tarifas vão de 5 a 17%. A maioria dos produtos agrícolas importados enquadra-se nas regulações da Política Agrícola Comum (CAP) da UE, pelas quais os diversos produtos são taxados de forma diferenciada de forma a permitir uma equalização dos preços das commodities importadas com aqueles vigentes na UE. Há, também, a imposição de taxas adicionais a serem acrescentadas às tarifas cobradas sobre as importações de determinados produtos. Vale enfatizar que apesar de as tarifas serem moderadas, há diversas barreiras não-tarifárias, com vistas a proteger ou beneficiar a indústria doméstica, como a utilização de padrões técnicos como meio de barrar produtos estrangeiros. Os produtos importados têm de se adequar aos requisitos impostos pelo sistema de normalização francês, que se baseia O apoio oferecido pelo governo francês a programas de P&D realizados pelo setor empresarial abrange: i) programas internacionais de caráter cooperativo responsáveis pôr aproximadamente 10% do orçamento de P&D francês, em particular aqueles montados no plano intra-europeu, como o programa EUREKA; ii) suporte a programas de desenvolvimento tecnológico realizados no setor privado, desenhados de forma a incentivar a transferência de tecnologias para pequenas e médias empresas; iii) programas nacionais de pesquisa em áreas estratégicas, com ênfase nas áreas espacial, ciências físicas, aeronáutica, telecomunicações, eletrônica, energia nuclear e de pesquisa em engenharia; e iv) suporte às atividades de pesquisa e inovação em pequenas e médias empresas, pôr meio de arranjos institucionais especificamente desenhados de forma a promover a aplicação prática de resultados de pesquisas públicas e a facilitar o processo de difusão tecnológica. 24 224 Ana Cláudia Além em normas relativamente complexas principalmente no que diz respeito à performance e à segurança -, o que implica a realização de testes sofisticados que devem ser realizados em território francês, acarretando um custo adicional para os importadores. Dentre os produtos mais afetados pôr este tipo de controle, destacam-se: os produtos eletrônicos, equipamentos de telecomunicações e produtos agrícolas sujeitos a normas de controle fitossanitário. A adequação a normas e padrões específicos é obrigatória para produtos adquiridos pôr meio de contratos pôr empresas públicas, bem como para máquinas e equipamentos, ferramentas, eletrodomésticos, equipamentos esportivos e brinquedos. A evolução favorável das exportações nos últimos anos tem decorrido, principalmente, de: i) a consolidação do mercado comum (em 1996, cerca de 63% das exportações francesas se dirigiram para parceiros da UE com destaque para Alemanha, Reino Unido, Itália, BélgicaLuxemburgo e Espanha -; ii) a especialização do setor empresarial em setores onde ele apresentava vantagens competitivas reveladas, que lhe permitiam uma inserção positiva na concorrência internacional; e iii) a adoção de medidas de política econômica explicitamente orientadas à criação de estímulos às exportações; via programas de desenvolvimento em indústrias de alta tecnologia, como no caso do setor aeroespacial, e o apoio às pequenas e médias empresas. Observou-se entre 1980 e 1994, um expressivo aumento do índice de especialização das exportações em setores de alta tecnologia indústria aeronáutica e em setores de indústrias tradicionais como alimentação e bebidas nos quais a França tradicionalmente se destaca como importante exportadora. As exportações de produtos de alta tecnologia vêm apresentando um crescimento significativo ver Tabela 5. No período mais recente, as evidências indicam que a competitividade da indústria francesa está cada vez menos fundamentada em preços e mais associada à qualidade e ao nível tecnológico dos produtos. As políticas de controle do capital estrangeiro e de concorrência Quanto à política relativa ao capital externo, a partir de 1987 se inicia um processo de progressiva desregulamentação, que se refletiu em um aumento da entrada de investimentos externos de US$ 2,6 bilhões em 1985 para cerca de US$ 24 bilhões em 1995. No mesmo período, a participação dos investimentos externos diretos (IED) realizados na França em relação ao total realizado na UE se elevou de 14% para 20%, enquanto que a participação dos IED na França em relação ao conjunto dos investimentos externos realizados em países da OCDE passou de 5% para 11% no mesmo período. A PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 225 contrapartida deste processo é o crescimento dos investimentos realizados pôr empresas francesas no exterior. Vale ressaltar que os potenciais investidores estrangeiros, em determinadas situações, sofrem uma discriminação quanto ao local de residência. As autoridades francesas determinam a nacionalidade de uma empresa com base no local de residência de seus proprietários, sem considerar o local de incorporação do capital. Sendo assim, qualquer empresa cujo capital foi incorporado em países da UE, mas cujos principais proprietários ou controladores não sejam residentes nos países da UE é considerada não-européia para fins de regulamentação de investimentos externos. Empresas de capital aberto são consideradas nãoeuropéias se um único investidor, ou grupo de investidores atuantes em conjunto, possuir mais de 20% do capital votante da empresas, mesmo quando residentes na UE detém mais de 50% do capital da firma. No caso de empresas que não são de capital aberto, o governo francês define como não-européias aquelas empresas nas quais um único investidor, ou grupo de investidores atuando em conjunto, controlam mais de 33,3% do capital da firma, a menos que uma pessoa residente na UE controle mais de 50% do seu capital. O governo francês se resguarda, ainda, o direito de declarar que uma determinada empresa é controlada pôr não-residentes na UE, mesmo quando parcela do capital controlada pôr investidores nãoeuropeus localiza-se abaixo dos patamares mencionados anteriormente. Há ainda algumas restrições setoriais: setor agrícola; construção aeronáutica; transportes aéreos no interior da França; setor nuclear; atividades bancárias; transporte marítimo; e atividades editoriais. Em 1993, o programa de privatizações foi retomado com maior vigor. Um aspecto marcante do processo foi a progressiva abertura para investidores externos. Entretanto, apesar da liberalização da entrada Tabela 5 Crescimento das Exportações Setoriais Francesas - média anual (%) 1980-85 1985-90 1990-94 Total da Indústria 2,1 5,1 5,9 Ind. de alta Tecnologia 6,7 10,8 9,4 Ind. de Média-Alta Tecnologia 1,8 4,5 5,5 Ind. de Média-Baixa Tecnologia 0,0 2,7 3,8 Ind. de Baixa Tecnologia 2,9 6,4 5,3 Fonte: IEDI (1998). 226 Ana Cláudia Além de capitais externos para participação no processo de privatização, o governo manteve uma golden share nos empreendimentos de forma a proteger os interesses nacionais. Basicamente, a intervenção do governo no processo de compra de empresas privatizadas por empresas estrangeiras decorre de três direitos legais: i) o direito de requerer uma autorização prévia do Ministério da Economia no caso de investidores ou grupo de investidores atuando em conjunto para adquirir mais de uma determinada percentagem do capital das empresas privatizadas; ii) o direito de nomear até dois membros não-votantes do conselho de direção das empresas privatizadas; e iii) o direito de bloquear a venda de ativos das empresas privadas de maneira a resguardar interesses nacionais, envolvendo não apenas ações como também edifícios, tecnologias, patentes, marcas ou qualquer outro ativo tangível ou intangível. No que diz respeito à política de defesa da concorrência, a preocupação com práticas anticompetitivas se acirrou com o processo de privatização. Apesar das mudanças na legislação com o objetivo de criar obstáculos a operações hostis de take over, é possível observar uma intensificação das operações de fusões e aquisições a partir do final da década de 80. A ATUAÇÃO DO BNDES: O QUE JÁ TEM SIDO FEITO Após a consolidação do processo de estabilização, assume destaque a discussão sobre os desafios a superar para a retomada de um novo ciclo de desenvolvimento da economia brasileira. Neste novo ciclo, apesar de restar ao Estado um papel de menor expressão na execução direta do investimento em relação ao que se observou no passado, sua ação continua essencial para construir as bases para a retomada do desenvolvimento econômico. Isto implica a necessidade de recuperação das atividades de formulação de políticas e de desenvolvimento de instrumentos de atuação condizentes com a nova configuração macroeconômica do país e com a necessidade de intervenção precisa e seletiva que deverá caracterizar a atuação governamental nos próximos anos. É neste sentido que o BNDES, como principal agência de promoção do desenvolvimento à disposição do governo, tem um papel fundamental a cumprir. De 1994, ano que marcou a retomada dos financiamentos, a 1998, os desembolsos reais do BNDES apresentaram um crescimento real acumulado de mais de 300%. Esse maior volume de operações se deu como resultado não apenas da expansão das atividades tradicionais com os setores industriais e de infra-estrutura, como também de um significativo aumento dos desembolsos em áreas como o setor de serviços PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 227 shopping centers, turismo, parques temáticos, etc. , financiamento à exportação, apoio a projetos de alto impacto social e programas de estímulo à privatização estadual.25 Tendo em vista o que foi discutido ao longo do artigo, a seguir são destacadas algumas áreas particularmente importantes para se promover uma retomada do desenvolvimento e o aumento das exportações brasileiras que já vêm sendo privilegiadas pelo BNDES. O financiamento às exportações A queda da participação do Brasil no comércio mundial, incompatível com o objetivo de acelerar o crescimento do PIB, têm incentivado a adoção de medidas no sentido de fortalecer sua política de exportações, aperfeiçoando os mecanismos financeiros de estímulo às exportações, incentivando uma maior inserção em novos mercados, particularmente em nichos com grande potencial de expansão em função de vantagens comparativas, e adotando uma política mais agressiva de divulgação dos produtos brasileiros no exterior. A necessidade de solucionar o problema do alto déficit em transações correntes, pelo qual a economia brasileira passa atualmente, requer uma expansão significativa das exportações brasileiras, o que exige um aumento de sua competitividade. Neste sentido, o BNDES tem agido em duas frentes principais: em primeiro lugar, incentivando o aumento da competitividade das empresas (e.g., pela ampliação dos financiamentos às pequenas e médias empresas inovadoras através do Condomínio de Capitalização de Empresas de Base Tecnológica Contec); em segundo, aprofundando os mecanismos de financiamento ao comércio exterior. Em 1991, o BNDES criou a linha de financiamento FINAMEX, através da qual passou a apoiar as empresas exportadoras de bens de capital estabelecidas no país, nacionais ou estrangeiras, a partir de instrumentos de financiamento competitivos com os similares oferecidos no mercado internacional. Havia duas linhas de desembolso: i) préembarque, voltada para o financiamento da produção para exportação, e ii) pós-embarque, destinada ao financiamento da compra de produtos brasileiros de exportação. O financiamento - restrito a 85% do valor exportado na linha pré-embarque e a 85% do valor FOB das exportações financiadas, na linha pós-embarque - dava-se via instituições financeiras credenciadas a um custo dado por: TJLP/Dólar + Libor de 6 meses + Spread de 5% (linha pré-embarque); e Taxa de Desconto + Taxa de 25 Ver Além (1997 e 1998). 228 Ana Cláudia Além Cobrança + Comissão de Administração + Comissão de Compromisso (linha pós-embarque). O prazo total de financiamento era de até 30 meses no caso da linha pré-embarque e de até oito anos para a pósembarque. A partir de 1994, foram registrados aumentos significativos dos desembolsos do BNDES para financiamentos às exportações, principalmente para as operações de pós-embarque. No final de 1996, o total de desembolsos atingiu US$ 388,3 milhões, ante os US$ 32,8 milhões registrados no primeiro ano de atuação do Finamex. Em 1997, a linha de financiamento à exportação foi ampliada. Com o novo nome de BNDES-exim, passou a apoiar praticamente todos os setores exportadores, não se restringindo mais ao setor de bens de capital. A cobertura do financiamento passou dos 85% anteriores para 100%, tanto na linha pré como na de pós-embarque. Além disso, foi criada uma linha pré-embarque especial com o objetivo de financiar a produção nacional de bens exportáveis, sem vinculação com embarques específicos - ao contrário do que é exigido pela linha pré-embarque -, mas com período pré-determinado para a sua efetivação. O custo do financiamento passou a ser composto por: custo financeiro (variação do dólar + Libor) + Spread básico (com instituição financeira garantidora, 1,0% a.a.; com instituição financeira mandatária, 2,0% a.a.) +Spread de Risco (nas operações com instituição financeira garantidora, negociado entre a instituição financeira credenciada e o cliente. O prazo total de financiamento é de até 30 meses para as linhas pré-embarque e préembarque especial, e de até 12 anos para a linha pós-embarque. A ampliação das linhas de financiamento às exportações resultou em um aumento expressivo dos desembolsos em 1997, que atingiram cerca de US$ 1,2 bilhão, 205% acima do valor registrado em 1996. Em 1998, os desembolsos dobraram em relação ao ano anterior, chegando a US$ 2,4 bilhões. BNDES também fornece apoio financeiro a tradings desde 1994. Inicialmente, foram apoiadas as operações pós-embarque e/ou operações com grandes fabricantes/corporações, quando era mais conveniente assumir o risco do fabricante contra o risco da trading. Entretanto, tendo em vista o potencial das tradings e empresas comerciais exportadoras como fator de alavancagem de exportação de pequenas e médias empresas, ampliou-se o apoio inclusive para operações pré-embarque. O principal foco de ação é o fomento à exportação através de tradings e das empresas comerciais exportadoras usando sua logística junto a empresas de pequeno porte. Nesse esforço, até agosto de 1999, já foram aprovados recursos da ordem de R$ 380 milhões para utilização por tradings e comerciais exportadoras, comparados com os R$ 273 milhões em 1998. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 229 O apoio às micro, pequenas e médias empresas O BNDES, desde 1965, conta com linhas de crédito específicas para as micro, pequenas e médias empresas (MPME). Apesar das muitas dificuldades em atender o segmento, dadas suas características de banco sem agências, e voltado para projetos, ainda assim, em 1998 o BNDES aplicou cerca de 35% do orçamento do Banco no ano nas MPME. Recentemente, foram introduzidos vários aperfeiçoamentos não só nas linhas de financiamento propriamente ditas, mas sobretudo no Fundo de Garantia para a Promoção de Competitividade (FGPC), facilitando o acesso da MPME ao crédito.26 Foi alterada a classificação de porte das empresas que permite que um número maior de firmas seja incluído na categoria de micro, pequena e média e, portanto, possa se beneficiar de crédito privilegiado. Foi adotado o padrão MERCOSUL, praticado pelo Brasil no âmbito do Mercosul e aceito pelo Banco Mundial, que tem por base o faturamento ROB das empresas.27 Foram também, aumentados os percentuais de participação do BNDES nos financiamentos.28 Além disso, o BNDES passou a operar em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para que os O Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade (FGPC) é, a rigor, um Fundo do Tesouro Nacional gerido pelo BNDES que tem por objetivo reduzir o risco do banco que financia a MPME, assumindo parte dele e facilitando por meio desta redução de risco, o acesso da MPME ao crédito. São 182 bancos (quase todos os bancos estabelecidos no País) credenciados como Agentes Financeiros e que repassam recursos do BNDES às empresas. As alterações praticadas foram: i) fundo de aval passou a cobrir até 80% do financiamento no caso de micro e pequena empresa e média empresa exportadora, significando que o banco repassador, ao conceder um financiamento de, digamos, 100 mil reais, estará correndo o risco de apenas 20 mil reais. A diferença, 80 mil reais, é garantida pelo fundo de aval; ii) foi eliminada a obrigatoriedade de garantias reais em operações com participação do fundo de aval até 500 mil reais. Portanto, como o fundo pode cobrir até 80% do empréstimo, está-se falando, na prática, de um financiamento máximo de 625 mil reais sem obrigatoriedade de garantias reais; iii) a garantia pessoal (ou fidejussória) é sempre exigida, o que significa o aval do dono da empresa (do acionista ou do quotista) em um título de crédito.; iv) foram introduzidas simplificações na operacionalização do Fundo de Aval. Havia exigência de relatórios mensais, nos casos de inadimplência, que dificultavam a operação dos bancos repassadores e aumentavam custos. Esses relatórios passaram a ser semestrais; v) ainda, também em caso de inadimplência da empresa, o banco tinha apenas 90 dias para uma negociação administrativa da dívida. Findo tal período, era obrigatória a execução judicial da empresa sob pena de perder o direito ao fundo de aval. Este prazo de negociação foi estendido para 1 ano; vi) foi aumentada a remuneração dos bancos repassadores de 2,5% para 4% quando da utilização do Fundo de Aval. Nas demais operações, a remuneração continua livre. 26 A nova classificação é a seguinte: i) micro até R$ 700 mil ( US$ 400 mil); ii) pequena até R$ 6,2 milhões ( US$ 3,5 milhões); e iii)média até R$ 35 milhões ( US $ 20 milhões). 27 Máquinas e Equipamentos: i) micro e pequena 90%; ii) média empresa em regiões incentivadas 90%; e iii) média nas demais regiões e grande empresa 80%. Outros Investimentos: i) micro e pequena empresa - 70%; ii) média e grande empresa em regiões incentivadas - 70%; e iii) média nas demais regiões e grande empresa - 60%. 28 230 Ana Cláudia Além bancos possam usar também o Fundo de Aval do Sebrae para as linhas de financiamento do BNDES de forma alternativa ou de forma complementar, desde que o limite máximo de participação dos fundos seja respeitado (80% do valor do financiamento). Deverão ser, prioritariamente, canalizadas para o fundo Sebrae as operações de menor valor (até R$ 300 mil) e as demais para o FGPC. Além disso, o Sebrae manterá seu papel fundamental na questão da capacitação do pequeno empresário. Como incentivo aos bancos para que operem com as micro e pequenas empresas, foi criado um Programa de Milhagem, segundo o qual a cada milhão de reais efetivamente aplicado naqueles tipos de empresa, o banco repassador passa a ter o direito de receber 100 mil reais (10%) para livre aplicação, inclusive capital de giro, sempre nas micro e pequenas empresas. Com isso, ao mesmo tempo em que se cria um incentivo adicional aos bancos, atende-se a uma demanda forte por capital de giro deste universo de empresas. Também foi assinado com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) um Termo de Cooperação com o objetivo de criação, junto às Federações Estaduais, de Centros Avançados de Apoio à Pequena Empresa com a finalidade de assistir ao pequeno empresário, informálo sobre as linhas de crédito do BNDES, Fundo de Aval, etc. e até acompanhar seu relacionamento com o agente financeiro. Há ainda o objetivo de estabelecer uma conexão, via Internet, desses Centros com o BNDES a fim de, por um lado, receber críticas e sugestões e, por outro, fornecer informações e esclarecimentos. O Condomínio de Capitalização de Empresas de Base Tecnológica (Contec) O Contec, criado em 1988, é conduzido pela BNDESPAR e representa uma das iniciativas mais desenvolvidas no Brasil de apoio a pequenas e médias empresas através de capital de risco.29 Para ter acesso ao financiamento, as firmas têm que se enquadrar no conceito de empresas de base tecnológica que correspondem aos estabelecimentos que apresentam produtos ou processos considerados inovadores ou pioneiros. Os investimentos podem ser realizados através de participação acionária direta, de debêntures conversíveis em ações e de bônus de subscrição, sempre sem garantias reais. A participação acionária da BNDESPAR é sempre minoritária, atingindo no máximo 40% do capital das empresas investidas. De 1988 a 1999, o Contec investiu cerca de US$ 42 milhões. Na maioria dos casos, o investimento do Contec tem representado a única alternativa de financiamento disponível, tendo em 29 Para uma análise detalhada do Contec ver Pinto (1997). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 231 vista a falta de garantias reais para oferecer no caso de um empréstimo tradicional. Apesar do programa ainda ser pequeno, não sendo capaz de por si só revolucionar o desenvolvimento tecnológico do país, sua importância reside, principalmente, na demonstração dos benefícios que poderiam ser auferidos pelo desenvolvimento de uma indústria de capital de risco no Brasil. A carteira do Contec é composta, principalmente, por empresas do setor de informática, software e equipamentos e sistemas para telecomunicações. Vale destacar que muitos dos produtos desenvolvidos pelas empresas da carteira como os da Bio Fill, da Relastomer e da Couro Vegetal da Amazônia representaram inovações importantes, mesmo em termos internacionais. Além da contribuição para a criação de uma capacitação tecnológica internalizada, os investimentos do Contec também demonstram uma preocupação em melhorar as condições sociais e proteger o meio-ambiente. Mesmo nos casos em que os produtos constituem-se em desenvolvimentos no Brasil de tecnologias já existentes no mercado internacional, o próprio esforço de adaptação do uso das técnicas para o caso brasileiro já representa um esforço de capacitação tecnológica, o que traz ganhos para o sistema econômico como um todo. A Bio Fill produz uma película celulósica utilizada para tratamento de queimaduras, que substitui a pele queimada com resultados extremamente positivos. Este produto foi patenteado em diversos países. A tecnologia criada pela Relastomer, por sua vez, representa um processo inovador de regeneração da borracha, inédito no mundo. Utilizado principalmente para a reciclagem de pneus, contribui para o reaproveitamento de um material cujo acúmulo na natureza representa uma preocupação de profissionais ligados ao meio-ambiente em nível internacional. Finalmente, a empresa Couro Vegetal da Amazônia emprega indiretamente mais de mil seringueiros da região amazônica, inclusive índios, na produção do couro vegetal, oferecendo uma alternativa economicamente viável para a melhoria das condições sociais contribuindo para a fixação dos habitantes na região - e a preservação do meio-ambiente naquela região. Os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento Com o objetivo de contribuir para a elaboração do Plano Plurianual 2000-2003 e para a retomada do planejamento de longo prazo do Governo Federal, o BNDES contratou, em março de 1998, junto ao 232 Ana Cláudia Além consórcio de empresas privadas vencedor de licitação pública, a execução do Estudo dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. Este trabalho teve como objetivo a identificação de oportunidades de investimentos públicos e/ou privados em setores considerados essenciais para o desenvolvimento sustentável do país: infra-estrutura econômica - transporte, energia e telecomunicações -, desenvolvimento social - saúde, educação, habitação e saneamento -, informação e conhecimento e meio ambiente. Os investimentos identificados contribuirão para a melhoria das condições de competitividade sistêmica da economia e para a redução das disparidades regionais e sociais. Para este fim, o território nacional foi dividido em espaços os Eixos Nacionais que buscaram agrupar regiões, independentes das fronteiras geopolíticas, levando em consideração diversos requisitos, a saber: existência de rede multimodal de transporte; estruturação produtiva interna atual e potencial; ecossistemas; e as relações sociais existentes entre as cidades. Foram identificados para cada Eixo os principais obstáculos ao seu desenvolvimento e à sua integração, nacional e internacional, para um horizonte de oito anos (2000-2007). Todos os projetos identificados respondem a demandas encontradas nas regiões e configuram-se como investimentos estruturantes. São projetos de importância nacional com capacidade de alavancar outros investimentos em nível regional e local. Além disso, são investimentos que apresentam atratividade ao setor privado. O conjunto de investimentos propostos totaliza US$ 165 bilhões para o período considerado no Estudo (2000-2007). Os recursos previstos para a União correspondem, dentro desse horizonte, a US$ 10 bilhões por ano, cerca de 13% do montante normalmente investido pelo governo brasileiro nos últimos anos, não se caracterizando, portanto, em valor que comprometa a realização dessas metas. O estudo empregou uma abordagem holística e integrada onde diversas variáveis Infra-estrutura Econômica; Desenvolvimento Social; Informação e Conhecimento e Meio Ambiente - foram analisadas em conjunto, como determinantes para o desenvolvimento sustentável das regiões. CONCLUSÃO Com a globalização da economia internacional, a participação nos fluxos comerciais internacionais passou a ser um importante indicador do sucesso de uma nação. Tendo em vista que os produtos de maior destaque na pauta de comércio passaram a ser aqueles intensivos em tecnologia, as políticas tecnológicas surgem como um importante PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 233 condicionante para uma maior competitividade e, conseqüentemente, uma expansão das exportações no mercado internacional. A amplitude das novas políticas de competitividade da OCDE é ampla e dependente de cada contexto nacional, mas suas principais características são: i) uma forte articulação entre as políticas comercial e tecnológica; ii) uma tendência progressiva de descentralização/ regionalização das políticas adotadas; iii) uma importante participação dos governos na promoção dos gastos em pesquisa e desenvolvimento; iv) a combinação de políticas de estímulo à concorrência com políticas de promoção da cooperação e concentração; v) a combinação de políticas de cunho horizontal e vertical/setorial; e vi) a preocupação não apenas com o desenvolvimento de novas tecnologias, mas também com sua difusão rápida em todos os setores da economia, à medida que se considera que inovação e difusão fazem parte de um mesmo pacote. As políticas de competitividade são conduzidas na direção de um crescente investimento em conhecimento e capacitações em nível da empresa, tendo como objetivo acelerar o processo de internalização da capacitação tecnológica. Além disso, a partir da consolidação das bases regionais para o desenvolvimento tecnológico, visa-se ao fortalecimento das redes de pequenas e médias empresas e do desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas para o crescimento econômico interno, como o incentivo aos setores de ponta e às atividades de pesquisa básica. Nos países da OCDE, a importância relativa dos incentivos via programas e projetos tecnológicos com enfoque setorial, regional e por tipos de empresas tem aumentado. A idéia é promover uma contínua mudança estrutural na indústria no sentido de aumentar a importância relativa de setores de alta tecnologia, especialmente o complexo eletrônico. Existe uma clara combinação entre políticas de apoio à concorrência e de promoção da cooperação e concentração das empresas via processos de aquisição e fusão. Se, por um lado, o mercado regional deve fornecer as condições para o desenvolvimento de empresas com escala de produção e pautas produtivas grandes o bastante para fazer face à concorrência no mercado internacional, é indispensável impedir o surgimento de configurações industriais incompatíveis com a defesa dos interesses dos países da OCDE. Apesar de a pressão da concorrência externa sobre os oligopólios locais ser considerada favorável, persiste a preocupação com a manutenção da soberania nacional, principalmente no que se refere ao domínio das tecnologias críticas. 234 Ana Cláudia Além No que diz respeito ao comércio exterior, as barreiras não-tarifárias às importações têm assumido importância crescente nos últimos anos. Dentre as principais destacam-se: quotas determinadas pelo Acordo Agrícola da OMC e quotas multilaterais para as importações de produtos têxteis determinadas no âmbito do Acordo sobre Têxteis e Vestuário, também da OMC; restrições de caráter sanitário e fitossanitário; acordos de preço mínimo e acordos de restrição voluntária; direitos antidumping e direitos compensatórios; e medidas de salvaguarda. A análise das políticas de competitividade adotadas nos países da OCDE fornece lições importantes no sentido de uma ação mais ativa do Estado brasileiro no aumento do conteúdo tecnológico da nossa pauta das exportações, com impactos diretos no aumento da competitividade dos nossos produtos no mercado internacional. Além de uma taxa de câmbio favorável, a sofisticação da pauta exportadora contribuirá para tornar nossas vendas externas menos vulneráveis às variações dos preços das commodities internacionais. O grande desafio é aumentar a participação das exportações brasileiras no total mundial. De fato, o aumento das exportações é essencial para solucionar nosso atual problema de restrição externa e garantir uma retomada sustentada do crescimento econômico. Neste sentido, o BNDES, que já vem assumindo um papel de destaque, que deverá ser ainda mais importante nos próximos anos. BIBLIOGRAFIA ALÉM, Ana Cláudia (1997); BNDES: Papel, Desempenho e Desafios para o Futuro, Texto para Discussão número 62, BNDES, novembro. ________________(1998); O desempenho do BNDES no período recente e as metas da política econômica, Texto para Discussão número 65, BNDES, julho. AUJAC, H. (1996), An introduction to French Industry Policy. BELLON, B. (1995), Les politiques industrielles américaines; vers un modèle de politiques industrielles de marché, in: Revue DÉconomie Industrielle 71, numéro spécial. CASSIOLATO, J.E. (1996), As novas políticas de competitividade: a experiência dos principais países da OCDE, T.D. 367, IE/UFRJ, julho. Department of Trade and Industry (DTI) (1998), Innovating for the future: investing in R&D. FREEMAN, C. e OLDHAM, C.H.G. (1991), The background of european industry and technology, in: Technology and The Future of Europe..., Pinter Publishers. Funcex (1995), Reestruturação industrial em um contexto de abertura e integração: um modelo para o caso brasileiro. IEDI (1998), Políticas Industriais em Países Selecionados. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 235 _____(1999); Comércio exterior brasileiro: desempenho no 1o semestre de 1999 e projeções. KRUGMAN, P. (1986), Strategic policy and the new international economics, MIT Press MARCHIPONT, J.F. (1995), La stratégie industrielle de lUnion Européenne: à la recherche dun concept de politique de compétitivité globale, in: Revue DÉconomie Industrielle 71, numéro spécial. National Science Foundation (NSF) (1998), Science and engineering indicators, USA. OCDE (1996), Industrial Competitiveness, Paris. ______(1997), Diffusing technology to industry: government policies and programmes, Working Paper, vol.V, n-33, Paris. PINTO, L. F. G. (1997), Capital de risco: uma alternativa de financiamento às pequenas e médias empresas de base tecnológica o caso do Contec, in: Revista do BNDES 7, junho. TYSON, L.(1992), Managing trade conflict in high-technology industries, in: Harris, M. and Moore, G. (eds.) Linking trade and technology Policies, National Academy Press, Washington D.C. Resumo Com o avanço da globalização da economia internacional, a participação nos fluxos comerciais internacionais passou a ser um importante indicador do sucesso de uma nação. Tendo em vista que os produtos de maior destaque na pauta do comércio internacional passaram a ser aqueles intensivos em tecnologia, as políticas tecnológicas surgem como um importante condicionante para uma maior competitividade. A discussão das experiências dos países industrializados na formulação de políticas de desenvolvimento tecnológico permite tirar algumas lições para o Brasil a respeito do que está sendo feito no mundo com esse objetivo. Ao fim do texto, discute-se também o que tem sido feito pelo BNDES no sentido de apoiar ao aumento das exportações brasileiras por meio do estímulo à diversificação da produção e das exportações. Abstract Due to the advancement of the globalization process the patterns of foreign trade became a very important indicator for economic performance of nations. Since the last quarter of a century the major part of the international trade is composed by manufactured goods and those which are technology intensive are of increasing importance. These facts reveal that technological development has to be considered as a crucial part of public policy to improve competitiveness of the country in the world markets. In this way the discussion of the different public policies aiming at technological development issued by industrial countries always is useful to assess our own initiatives. The article also presents the main actions developed by BNDES (National Bank for Economic and Social Development) in order to support national efforts to develop technology which can enhance exports and economic growth. A Autora ANA CLAÚDIA ALÉM é economista e Gerente de Macroeconomia do Departamento Econômico da Área de Planejamento do BNDES, onde se ingressou 1993. É mestre em Economia pelo Instituto de Economia (IE) da UFRJ e doutoranda pela mesma Universidade. 236 Ana Cláudia Além Internacional PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 237 Sistemas de Inovação: Políticas e Perspectivas JOSÉ EDUARDO CASSIOLATO HELENA MARIA MARTINS LASTRES Entre os poucos consensos estabelecidos no intenso debate que procura entender o atual processo de globalização, encontra-se o fato de que inovação e conhecimento são os principais fatores que definem a competitividade e o desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas e até indivíduos. A globalização tem acirrado a concorrência que cada vez mais está baseada em conhecimento e na organização dos processos de aprendizado. Observa-se crescente importância de outros fatores que não os relacionados diretamente a preços na concorrência entre empresas. As capacitações das empresas, em termos de produção e uso do conhecimento, têm cada vez mais um papel central, na sua competitividade. A crescente competição internacional e a necessidade de introduzir eficientemente, nos processos produtivos, os avanços das tecnologias de informação e comunicações têm levado as empresas a centrar suas estratégias no desenvolvimento de capacidade inovativa. Esta é essencial até para permitir a elas a participação nos fluxos de informação e conhecimentos (como os diversos arranjos cooperativos) que marcam o presente estágio do capitalismo mundial. Como principais questões que contribuíram para um melhor entendimento do processo de inovação nos últimos anos, destacam-se: · reconhecimento de que inovação e conhecimento (ao invés de serem considerados como fenômenos marginais) colocam-se cada vez mais visivelmente como elementos centrais da dinâmica e do crescimento de nações, regiões, setores, organizações e instituições; · a compreensão de que a inovação constitui-se em processo de busca e aprendizado, o qual, enquanto dependente de interações, é socialmente determinado e fortemente influenciado por formatos institucionais e organizacionais específicos; · a idéia de que existem marcantes diferenças entre os agentes e suas capacidades de aprender (as quais refletem e dependem de aprendizados anteriores, assim como da própria capacidade de esquecer); 238 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres · entendimento de que existem importantes diferenças entre sistemas de inovação de países, regiões, setores, organizações, etc. em função de cada contexto social, político e institucional específico. · a visão de que, se por um lado informações e conhecimentos codificados apresentam condições crescentes de transferência - dada a eficiente difusão das TIs - conhecimentos tácitos de caráter localizado e específico continuam tendo um papel primordial para o sucesso inovativo e permanecem difíceis (senão impossíveis) de serem transferidos. As transformações no processo inovativo ao longo das últimas duas décadas acontecem no sentido de que ele passa a depender cada vez mais de processos interativos de natureza explicitamente social. Tais interações ocorrem em diferentes níveis. Observa-se, inicialmente, uma crescente interação entre as diferentes fases do processo inovativo. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e difusão constituem parte de um mesmo processo. Mais ainda, o processo inovativo caracteriza-se também por necessárias interações entre diferentes instâncias departamentais dentro de uma dada organização (produção, marketing, P&D, etc.) e entre diferentes organizações e instituições. Assim, conforme relatório recente da União Européia, quatro tendências principais relativas às novas especificidades do processo inovativo observadas na última década podem ser destacadas. Inicialmente observa-se uma significativa aceleração da mudança tecnológica nas últimas décadas. O acontecimento é constantemente ilustrado pelo fato de que o tempo necessário para se lançar novos produtos tem se reduzido, que o processo que leva a produção do conhecimeto até a comercialização é mais curto e que os ciclos de vida dos produtos são também menores. O rápido desenvolvimento e uso amplo das tecnologias de informação e comunicações certamente têm jogado um papel fundamental nesta mudança. Ao mesmo tempo, a colaboração entre firmas e a montagem de redes industriais tem marcado o processo inovativo. Novos produtos têm sido desenvolvidos a partir da integração de diferentes tecnologias e estas são crescentemente baseadas em diferentes disciplinas científicas. Mesmo grandes empresas têm dificuldade em dominar a variedade de domínios científicos e tecnológicos necessários, o que explica a expansão de acordos colaborativos e a crescente expansão de redes industriais.. A integração funcional e a montagem de redes têm oferecido vantagens às empresas na busca de rapidez no processo inovativo. A flexibilidade, interdisciplinaridade e fertilização cruzada de idéias ao nível administrativo e laboratorial são importantes elementos do sucesso competitivo das empresas. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 239 Finalmente, observa-se a crescente colaboração com centros produtores do conhecimento dada a crescente necessidade do processo inovativo se apoiar em avanços científicos em praticamente todos os setores da economia. Conforme destacado em trabalhos anteriores, os países mais avançados têm enfrentado as mudanças acima descritas de maneira diferenciada. Particularmente, ressalta-se que a forma de atuação do Estado no campo das políticas industriais e tecnológicas tem se alterado significativamente. AS NOVAS POLÍTICAS DE INOVAÇÃO EM VIGOR NOS PAÍSES DA OCDE Em praticamente todos os países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, os governos têm considerado imperativo contrabalançar o grau elevado de abertura ao exterior que se seguiu à importante redução de barreiras tarifárias (que em alguns casos foi completa), mobilizando e desenvolvendo uma ampla gama de instrumentos visando melhorar a competitividade de suas empresas, tanto no que se refere às exportações quanto em relação aos mercados internos expostos à concorrência externa. Hoje em dia, o principal fator que efetivamente fixa os limites cada vez mais severos, em nível dos investimentos públicos necessários à manutenção das dimensões estruturais da competitividade, é a crise fiscal do Estado e a sua dificuldade em financiar as despesas de médio e longo prazo. Mas não se pode confundir as restrições advindas da crise fiscal - reais e sérias - com a anulação do papel do Estado na definição e implementação de políticas industriais e tecnológicas. No Japão, na Alemanha, na França e nos EUA os governos vêm agindo pragmaticamente na defesa ou reforço de sua competitividade industrial, pois desta depende sua soberania. É verdade que, na maior parte dos países da OCDE, reconhece-se que a pressão da concorrência externa nos oligopólios locais é considerada positiva. Porém, uma série de outros parâmetros é considerada pelos governos locais. Entre estes, destacam-se a preservação dos componentes principais da soberania nacional, particularmente, o domínio e algum grau de autonomia parcial em tecnologias críticas. A racionalidade para este parâmetro combina considerações militares e industriais cujo mix varia de acordo com o país. Outros parâmetros importantes incluem a questão do emprego, o balanço comercial e, principalmente, aumentar os retornos de processos tecnológicos interativos Estes são a base das políticas atuais de inovação ora em vigor nos países da OCDE. Tais políticas, porém, não devem ser confundidas com 240 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres a geração anterior de políticas industriais e tecnológicas, no sentido de que elas não possuem nem a simplicidade nem a relativa legibilidade daquelas. O contexto histórico sobre o qual as políticas de inovação e competitividade têm sido criadas, particularmente o conflito por elas apresentado com relação aos princípios da livre concorrência, fazem com que elas sejam, na maior parte dos casos, de baixa transparência. Mas sua dificuldade de análise é igualmente devida ao fato de que, se as novas políticas incluem um certo número de instrumentos tradicionais da política industrial, elas também recorrem a um número maior e mais complexo de instrumentos. Na prática, tal complexidade dá um caráter ad hoc muito pronunciado às políticas. Porém, um conceito chave é o reconhecimento que as políticas comerciais de investimento e de inovação devem ser consideradas de maneira holística, conjuntamente, e não de maneira separada. A interface entre tais políticas é particularmente visível nas políticas de apoio à exportação e no erguimento das barreiras não tarifárias. As primeiras são centradas em apoio indireto via programas, voltados principalmente à inovação e ao desenvolvimento regional. As segundas, referem-se fundamentalmente a considerações de natureza ambiental, oferecem a diversos setores uma proteção efetiva, compensam a que foi perdida como resultado da eliminação das tarifas e são, de fato, instrumentos setoriais de política de competitividade. Em ambos os casos, utilizam mecanismos permitidos pelo acordo que levou à criação da Organização Mundial do Comércio. Não é surpresa que, em tal acordo, as três áreas onde o apoio público é ainda permitido são exatamente: inovação, desenvolvimento regional e meio ambiente. O banco de dados da OCDE sobre programas de apoio à indústria mostra que, a partir da segunda metade dos anos 80, os gastos públicos destinados ao auxílio ao investimento, de caráter geral, diminuíram principalmente em razão de reformas que reduziram incentivos fiscais. Porém, tal diminuição foi mais do que compensada por um aumento significativo de outras medidas de política que foram reforçadas. Entre estas, devem destacar-se as medidas de caráter regional e de apoio à inovação, as que mais crescem. No que se refere às medidas de apoio à inovação, apesar do apoio à P&D ser um mecanismo de política há muito utilizado, ele mudou substancialmente ao longo da presente década, transformando-se no mais importante instrumento de política industrial utilizado pelos países da OCDE. Anteriormente o apoio à inovação se constituía fundamentalmente de subvenções pagas às empresas sob a forma de contratos de P&D estabelecidos com o objetivo da obtenção de resultados específicos, prolongando-se, em caso de sucesso, sob a forma de compras governamentais. Na maioria das vezes, tal apoio era ligado a grandes PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 241 programas concebidos e coordenados pelos Estados (armamentos, aeronáutica, computadores, etc.). Hoje em dia, na maior parte dos países da OCDE, a ênfase nas medidas de apoio à inovação tecnológica, por parte dos países mais avançados, está estreitamente vinculada ao desenvolvimento, difusão e utilização eficiente das novas tecnologias (especialmente as de informação e comunicações) na economia baseada no conhecimento. Além da referida convergência entre as diversas políticas, particulamente as de comércio internacional, industrial e tecnológica, observa-se um crescente reconhecimento da importância da inovação e dos sistemas nacionais de inovação em tais países. Em síntese, as políticas recentes adotadas pelos países membros da OCDE e da UE se relacionam principalmente: · à nova ênfase das políticas a blocos agregados de desenvolvimento (particularmente sistemas produtivos e de inovação) os quais geralmente incluem diversos setores e atividades correlatos, assim como as políticas que focalizam atividades de serviços relacionadas a diferentes partes da indústria. · ao reconhecimento de que investir apenas para ter acesso a novas tecnologias e sistemas avançados não basta, uma vez que o conhecimento e o aprendizado estão amarrados a pessoas; assim, tem sido enfatizado o investimento na capacitação e treinamento de recursos humanos. · ao entendimento de que, dada a natureza sistêmica e interativa dos processos de inovação e aprendizado, não há sentido em continuar promovendo políticas que privilegiem apenas o lado da oferta ou da demanda de tecnologias. Em particular, tem se observado a promoção de redes de todos os tipos e em níveis local até o supranacional (com a finalidade de ajudar a criar um sistema mais interdependente e coerente que torne as empresas mais competitivas). · à importância conferida à internacionalização do desenvolvimento e utilização de tecnologias, que tem levado os governos a apoiarem empresas em seus esforços de internacionalizar suas atividades - até como forma de promover possibilidades de as mesmas participarem de programas cooperativos mundiais - o que inclui sistemas de previsão tecnológica e o estabelecimento de regras para partilhar e proteger direitos de propriedade intelectual. Destaca-se que a ênfase ao enfoque de sistema de inovação em si já traz pelo menos duas orientações de política embutidas para nortear os policy-makers quanto às novas formas de promoção à inovação: (i) que o 242 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres processo inovativo, assim como as políticas para estímulo do mesmo, não podem ser vistos como elementos isolados de seus contextos nacional, setorial, regional, organizacional, institucional; e portanto, (ii) a importância de se focalizarem a relevância de cada subsistema envolvido, assim como as articulações entre estes e entre agentes. Estudo sobre estas novas políticas realizado pelo Grupo de Economia da Inovação da UFRJ para o IEDI, sob coordenação dos autores, apresenta diversos exemplos. As experiências mostram que importantes mudanças institucionais foram realizadas nos diversos países. Em meados da década passada, a Alemanha funde o Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da Pesquisa e Tecnologia num novo Ministério Federal de Educação, Ciência, Pesquisa e Tecnologia (BMBF). A reestruturação foi realizada a partir do diagnóstico sobre a perda de competitividade da indústria e da queda verificada a partir de 1990, dos gastos totais do setor privado em P&D. No caso dos EUA, a reorganização institucional se deu particularmente no âmbito do Departamento de Comércio com a transformação do National Institute for Standards and Technology (NIST) que teve suas funções redefinidas, passando a contemplar especialmente o financiamento de pesquisas genéricas de caráter pré-competitivo em firmas industriais - através do Advanced Technology Program (ATP) e a montagem de diversos programas de colaboração entre governo, empresas e instituições de ensino e pesquisa.1 Em alguns países (destacam-se os casos de Holanda, Dinamarca e Suécia) as novas tendências estão até transformando a natureza da intervenção do governo, associada a uma mudança na direção de um maior entendimento das complexidades e dinâmica do processo de inovação, assim como de seu papel na Economia do Aprendizado. No caso da Espanha, em março de 2000, o novo governo cria um Ministério da Inovação. O BRASIL E OS PAÍSES LATINO AMERICANOS Os desafios e impasses enfrentados pelos países menos avançados face ao processo de aceleração da globalização e à crescente importância de inovação e conhecimento na competitividade, são semelhantes e até mais sérios do que aqueles identificados no caso dos países mais avançados. Salienta-se aqui, a argumentação daqueles autores que vêem Entre os principais programas voltados à inovação destaca-se o Super Car 2000, onde governo, as três grandes empresas automobilísticas daquela país (Ford, General Motors e Chrysler) e as principais instituições de pesquisa se juntaramno sentido de promover esforços inovativos pré-competitivos para enfrentar a concorrência japonesa. 1 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 243 como consequência real da aceleração do processo de globalização o acirramento das disparidades e a aceleração do processo de polarização entre regiões, países e grupos sociais (ricos e pobres em informação; integradas e não integradas globalmente). Os países latino-americanos defrontam-se com as atuais transformações a partir de sistemas nacionais de inovação formados ao longo do período de substituição de importações que, além de intensa importação de tecnologia, apresentavam as seguintes características: · níveis extremamente reduzidos de gastos em C&T (Ciência e Tecnologia) e P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), particularmente se comparados com os países da OCDE e do Sudeste Asiático; · a maioria significativa das atividades de P&D realizadas por institutos de pesquisa e universidades públicas e por laboratórios de P&D de empresas públicas, com participação extremamente reduzida de empresas privadas; · as universidades públicas tiveram papel fundamental no treinamento de recursos humanos especializados. Portanto, de maneira geral, o setor público desempenhava o papel mais importante no desenvolvimento dos sistemas nacionais de inovação desses países. Aponta-se ainda que, durante o período de substituição de importações, a maior parte das tecnologias adquiridas pelos países latino-americanos eram relativamente maduras. Considerava-se que a maior parte da capacitação necessária para usar e operar as tecnologias de produto e processo podia ser adquirida de uma maneira relativamente fácil via treinamento em rotinas básicas. Por outro lado, não se requeria ou estimulava, de forma efetiva, a acumulação da capacitação necessária para gerar novas tecnologias, sendo tais requisitos ainda mais limitados em setores onde a proteção isolava as empresas dos efeitos das mudanças geradas na economia internacional. Tais considerações são consistentes com a caracterização das empresas latino-americanas em geral, dada a maneira com que elas foram constituídas, a partir das políticas de substituição de importações e/ou promoção de exportações. Como enfatizou Carlota Perez2 : a maior parte das empresas não foi constituída para evoluir. A maioria o foi para operar tecnologias maduras, supostamente já otimizadas. Não se PEREZ, C. (1989) The present wave of technical change: implications for competitive restructuring and for institutional reform in developing countries, texto preparado para o Strategic Planning Department of the World Bank, Washington, D.C.: The World Bank, p.32. 2 244 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres esperava que as empresas alcançassem competitividade por elas próprias. A lucratividade era determinada por fatores exógenos, como a proteção tarifária, subsídios à exportação e numerosas formas de auxílio governamental, ao invés da capacidade da própria empresa aumentar a produtividade ou qualidade. As empresas não são conectadas (tecnicamente) (e tem sido) difícil a geração de sinergias nas redes e complexos industriais. O pequeno esforço quanto ao desenvolvimento de atividades inovadoras e as consequentes fragilidades e deficiências tecnológicas da indústria local foram considerados como não tendo representado empecilho significativo ao crescimento econômico durante o processo de substituição de importações. Na fase mais recente, todavia, estes fatores constituem um importante gargalo. De fato, um importante contraste entre a tendência dos países mais avançados e o caso brasileiro referese, por exemplo, ao engajamento do setor empresarial nos esforços inovativos e de P&D. As reformas estruturais dos anos 90 realizada na região, sem a preocupação de priorizar a capacidade inovativa das empresas locais, trouxeram importantes impactos aos sistemas nacionais de inovação. Na falta de uma participação mais efetiva das empresas locais no esforço inovativo, a maior parte das estratégias tecnológicas adotadas parece apoiar-se na crença de que a tecnologia se globalizou e o investimento estrangeiro seria condição necessária e suficiente para modernizar o parque produtivo local e para conectar a economia ao processo de globalização. Porém, uma série de trabalhos importantes mostram que, longe de ter se tornado global, a tecnologia, a inovação e o conhecimento têm se caracterizado como componentes crescentemente estratégicos, de cunho localizado. Durante a década de 90, as políticas industriais e tecnológicas dos países latino-americanos foram ancoradas num duplo eixo. Por um lado, supunha-se que, à semelhança do período anterior, as tecnologias seriam passíveis de aquisição no mercado internacional. Por outro lado, considerava-se que as subsidiárias das empresas transnacionais teriam um papel chave no processo de catch up industrial e tecnológico: (i) trazendo os novos investimentos necessários para integrar as economias locais ao processo de globalização; (ii) transferindo suas novas tecnologias para as economias atrasadas e pressionando os concorrentes locais a se modernizarem. Assim, para atrair um novo fluxo de investimentos estrangeiros bastavam serem seguidos os preceitos de liberalização, desregulamentação e privatização, deixando que o mercado tomasse conta do resto. A consecução de tais preceitos tem resultado numa intensa competição entre governos locais na tentativa de atrair novos PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 245 investimentos por parte de empresas transnacionais. Tal competição está baseada na concessão de incentivos fiscais de diversa natureza. Tais incentivos, que resultam em custos altamente elevados - englobando incentivos os mais variados, desde facilidades de aquisição de terrenos, criação de infra-estrutura até isenções fiscais e financiamentos de longo prazo caminham em direção oposta aos novos instrumentos acima apontados. A sua inadequação refere-se ao fato de, se tais medidas não forem acompanhadas de outras que exijam o cumprimento de certas exigências quanto ao desempenho das empresas beneficiárias (como, por exemplo, obtenção de certas metas quanto a exportações e aumento do valor agregado, a nível local),3 a tendência é que o encadeamento com a economia local continuará se reduzindo e os empreendimentos continuarão tendo impacto negativo na balança comercial, dado o seu caráter intensivo em importação. De fato, como argumentam diversos autores, encontram-se crescentes evidências que as guerras fiscais para atrair investimentos não atraem o tipo de investimento que gera aprendizado e inovação. Uma das conclusões aqui é que, na falta de promoção dos processos de aprendizado e de capacitação inovativa, e do fortalecimento de redes e vínculos que incluam agentes locais, as empresas receptoras dos subsídios encontram poucas razões para se enraizar nas regiões hospedeiras. Assim, apesar de importantes esforços, o ajuste produtivo realizado pela maioria das empresas brasileiras tem consistido basicamente de uma estratégia defensiva de racionalização da produção, visando reduzir custos. Tal movimento tem se dado basicamente através da introdução parcial e localizada de equipamentos de automação industrial, e de novas técnicas organizacionais do processo de trabalho, ou através do enxugamento da produção, com redução de pessoal e eliminação de linhas de produção (movimentos de desverticalização, subcontratação e especialização). Deve-se reconhecer que o ajuste empreendido aumentou a eficiência e evitou a desindustrialização (a menos de áreas específicas, como no caso do setor de microeletrônica). Mais ainda, o aumento de produtividade e da qualidade dos produtos, a redução dos prazos de produção e entrega, e o início de utilização de novas técnicas de organização constituem-se, certamente, em aspectos positivos da restruturação brasileira. Deve-se lembrar que as medidas de atração de investimento estrangeiro, quando aplicadas nos países mais avançados, vêm, de maneira geral, acompanhada de compromissos por parte dos beneficiários particularmente no que se refere ao aumento do valor agregado localmente. 3 246 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres Porém, no ajuste defensivo atual, em várias empresas, o enxugamento da produção levou ao abandono de linhas de produtos de maior nível tecnológico, que incorporam maior valor adicionado, em favor de produtos mais padronizados, caracterizando um processo oposto à tendência internacional, o downgrading da produção. Neste ajuste produtivo foram privilegiadas faixas médias e baixas do consumo e equipamentos básicos à produção. Enfim, a estrutura produtiva orientou-se para a produção relacionada aos segmentos sujeitos a menores riscos no mercado, provocando um significativo descolamento da estrutura industrial nacional em relação aos segmentos mais dinâmicos na pauta de consumo dos países industrializados e no comércio internacional. O resultado líquido de tais movimentos tem sido uma progressiva (e conhecida) erosão da competitividade internacional das empresas brasileiras, que se manifesta na perda de importância do país no comércio internacional a partir do final da década de 80. Assim, de uma maneira geral, os seguintes impactos no sistema nacional de inovação brasileiro (à semelhança de outros países latinoamericanos) já podem ser observados: · dada a retração do Estado no financiamento das atividades científicotecnológicas, esperava-se que os agentes privados passassem a desempenhar um papel mais importante. Na prática, porém, tem se observado que a diminuição dos gastos públicos não tem sido acompanhada por um aumento nos gastos privados. · a política governamental tem promovido a privatização parcial dos institutos tecnológicos públicos, forçando-os a obter uma crescente parcela de seus gastos correntes no setor privado. · a liberalização diminuiu o custo de bens de capital importados, encorajando, portanto, o seu uso em detrimento das máquinas e equipamentos localmente produzidos. Tanto no caso da privatização das empresas públicas, quanto na expansão dos conglomerados locais, o estabelecimento de novas capacidades produtivas baseia-se fortemente no uso de equipamentos e bens intermediários importados. O resultado final é que a produção tem se tornado menos intensiva no uso de capacitações técnicas e engenharia locais. · uso crescente de componentes importados teve um impacto negativo nas empresas locais, uma vez que destruiu cadeias de produção em um número grande de firmas locais (especialmente PMEs) que serviam como fornecedoras de empresas estrangeiras. · as subsidiárias das empresas transnacionais - como passaram a poder operar com base em partes e componentes importados - reformularam PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 247 suas estratégias de adaptação de tecnologia e algumas descontinuaram programas tecnológicos locais que se justificavam nas economias mais fechadas do passado. · a maior parte das firmas locais que desenvolveram capacitações tecnológicas no passado - premidas pelo aumento da concorrência e tendo que operar num ambiente em que, à diferença de suas competidoras internacionais, o Estado abstém-se de formular e implementar políticas industriais - ou estão sendo absorvidas por subsidiárias de empresas transnacionais ou estão desaparecendo; em ambos os casos, os esforços tecnológicos estão sendo perdidos. · as firmas locais com capacidade tecnológica que sobreviveram, tendem a apresentar modestas ou nulas taxas de crescimento nos últimos anos até como estratégia de sobrevivência no cenário globalmente competitivo - o que pode acarretar importantes problemas para a manutenção de suas capacitações, dada a conhecida associação entre estas e o crescimento da firma. O resultado líquido é que o capital tecnológico assim como parte importante da capacitação dos recursos humanos gerados e acumulados desde o período de substituição de importações tornaram-se obsoletos no período atual. Assim, a preocupação com os ajustes macroeconômicos de curto prazo (foco central da visão neoliberal) tem trazido imenso impacto na acumulação de capacitações que a longo prazo são essenciais para o desenvolvimento econômico. ALGUMAS DIRETRIZES GERAIS QUANTO À DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE INOVAÇÃO A operacionalização das novas políticas exige menos do Estado do ponto de vista de recursos financeiros e significativamente mais no que se refere à sua capacidade de intervenção; exige um Estado melhor preparado para compreender as importantes mudanças associadas à denominada Era do Conhecimento.4 No que se refere especificamente às políticas de inovação, o enfoque principal a partir do qual elas tem sido desenhadas é o de Sistemas de Inovação, em suas diferentes dimensões (supranacional, nacional e subnacional). Um sistema de inovação pode ser definido como um conjunto de instituições distintas que conjuntamente e individualmente contribuem para o desenvolvimento e difusão de tecnologias. Tal noção envolve, portanto, não apenas empresas mas, principalmente, instituições de LASTRES, H. E ALBAGLI, S. (eds.): Informação e Globalização na Era do Conhecimento (Campus, Rio de Janeiro, 1999) 4 248 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres ensino e pesquisa, de financiamento, governo, etc. Este conjunto constitui o quadro de referência no qual o governo forma e implementa políticas visando influenciar o processo inovativo. Em termos gerais, tal sistema seria constituído por elementos (e relações entre elementos) onde diferenças básicas em experiência histórica, cultural e de língua refletemse em idiossincrasias em termos de: organização interna das firmas, relação inter-firmas e inter instituições, papel do setor público e das políticas públicas, montagem institucional do setor financeiro, intensidade e organização de P&D, etc. 5 A utilidade do conceito de sistemas nacionais de inovação reside no fato de o mesmo tratar explicitamente questões importantes, ignoradas em modelos mais antigos de mudança tecnológica especificamente o da diversidade e do papel dos investimentos intangíveis em atividades de aprendizado inovativo. Além disso - e baseando-se na consideração que uma diversidade significativa existe entre os países e instituições na forma, nível e padrão dos investimentos em aprendizado - focalizam-se particularmente as ligações entre instituições e suas estruturas de incentivos e capacitações. Num plano mais decentralizado, têm sido concebidos sistemas regionais, estaduais e locais de inovação. O corolário principal desta discussão é o de que não existem formas e mecanismos de política de aplicabilidade universal. Pelo contrário, formas e mecanismos variarão em função das diferentes especificidades. Na raiz de tal problemática está a questão central na visão de sistemas de inovação da diversidade. Encontra-se heterogeneidade ao nível da firma, de seu ambiente de atuação, das relações mesoeconômicas e da economia como um todo. Ao nível micro, isto significa, entre outras coisas, que trabalhamos com um enfoque que despreza conceitos de firma representativa, assumindo-se que as firmas não responderão da mesma maneira a mudanças econômicas ou de política. Ao nível macro, na análise, por exemplo, de crescimento econômico, a diversidade significa que podem existir diferentes combinações de atividades nas trajetórias de crescimento de países e regiões. Do ponto de vista da política econômica, a diversidade implica em que não existem regras gerais com relação à promoção de inovação e crescimento e que, portanto, é necessário pensar em detalhe com relação às características específicas dos contextos onde as políticas serão implementadas. O problema principal de tal visão, porém, é como entender a questão da diversidade numa perspectiva mesoeconômica. O ponto é particularmente importante tendo em vista que as novas formas de intervenção pública ocorrem exatamente neste nível. CASSIOLATO, J. E LASTRES, H. Globalização e Inovação Localizada: experiências de sistemas locais no Mercosul (IBICT/MCT, Brasilia, 1999). 5 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 249 Para se responder tal questão, dois pontos merecem ser enfatizados. O primeiro refere-se ao próprio conceito de inovação utilizado. Inovação não é algo que só ocorra nos países avançados, em grandes corporações multinacionais ou em indústrias hi-tech. Estes três mitos ainda são presentes hoje em dia quando se discute sistemas de inovação e existem boas razões para esse equívoco. Uma delas é que parcela significativa das análises disponíveis se baseia em indicadores extremamente imperfeitos do processo inovativo, tais como gastos em P&D e patentes como representativos de, respectivamente, insumos e resultados do processo inovativo. Não é necessário que aqui nos detenhamos numa crítica detalhada sobre tais indicadores. O importante é que possamos partir de uma definição mais apropriada sobre o processo inovativo. Podemos utilizar, por exemplo, a noção de que inovação é o processo pelo qual as empresas dominam e implementam o design e a produção de bens e serviços que sejam novos para elas, independentemente do fato de serem novos para seus concorrentes domésticos ou internacionais. Definir inovação dessa maneira não significa negar o papel da P&D na geração de novos conhecimentos, mas permite uma perspectiva mais ampla para o entendimento dos processos de capacitação e aprendizado realizado pelas firmas na busca de competitividade. A segunda refere-se ao conceito de setor utilizado. Obviamente, tem sido cada vez mais reconhecidas as dificuldades (e suas consequências) de se estabelecer fronteiras claras entre atividades econômicas que crescentemente se entrelaçam e classificá-las dentro de limites estritamente setoriais; por exemplo, como definir a fronteira entre os setores industriais e de serviços, na economia atual? Porém, uma outra observação é fundamental para a discussão sobre política industrial e de inovação e que se refere à intensidade relativa de esforços inovativos pelos diferentes setores da economia. A visão tradicional, baseada no indicador gastos em P&D sobre faturamento (ou qualquer outra variável de desempenho, como por exemplo receita operacional) associa intensidade do dinamismo tecnológico com tal variável; assim setores caracterizados por altos gastos em P&D sobre vendas são denominados como sendo de alta intensidade tecnológica enquanto setores caracterizados por baixos gastos em P&D são denominados como sendo de baixo dinamismo tecnológico. A utilização da definição de inovação acima, permite diferentes análises e interpretações. Assim, a tabela 1 apresenta dados das Innovation Surveys, realizadas por diversos países da União Européia, que se referem à contribuição dada por produtos novos às vendas para diferentes setores industriais. Deve-se lembrar que, nas Innovation Surveys, tal indicador é utilizado como melhor aproximação do esforço inovativo do que gastos 250 Tabela 1 Porcentagem de produtos novos para a firma nas vendas de 1992 por setor industrial Alemanha, Noruega, Holanda e Dinamarca Setor Alemanha Noruega Holanda Dinamarca M i n e r a ç ã o , e x t r a ç ã o d e p e t r ó l e o e g á s, e n e r g i a e f o r n e c i m e n t o d e á g u a 36 25 22 ND Alim ent os, bebida s e f um o 34 45 32 48 T êx teis e conf ecçõe s 43 33 39 47 M aderia, prod uto s da m adeira, papel, celulose, gráf ica 30 22 27 24 Refinação p l á st i c o de petróleo, quím ica, borracha e pro duto s de m aterial O utros pro duto s m inerais não m etálicos 51 27 31 27 31 24 28 23 33 10 15 27 M etalurgia 42 44 28 29 Equipam entos p ara a produção e u so de en ergia m ecânica, m áquinasf erram enta 37 40 29 32 Equipam entos d e u so g eral, arm am entos e m unições 49 44 46 31 M áquina s agrícolas, outro s equipam ento s de u so geral, equipam entos dom ésticos 58 64 43 34 E q u i p a m e n t o s d e e s c r i t ó r i o , c o m p u t a d o r e s, e q u i p . d e t e l e c o m u n i c a ç õ e s e rádio 77 56 47 37 Equipam entoe elétricos 46 52 43 29 Instrum ento s m édicos, óticos e d e precisão 51 56 42 38 V e í c u l o s m o t o r e s, a v i õ e s e e q u i p a m e n t o s e s p a c i a i s 60 31 46 38 O utros eq uipam entos de tran sp orte (ex ceto aeroe spacial) 36 46 36 40 M óv e i s e o u t r o s s e t o r e s 66 46 39 41 Fonte: OCDE José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres Siderurgia PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 251 em P&D ou patentes. Os países representados na tabela são a Alemanha, a Noruega, a Dinamarca e a Holanda. O ponto principal a ser destacado da tabela 1 é que existe uma proporção significativa das vendas que são ligadas a novos produtos e que esta proporção se encontra ao longo de praticamente todos os setores industriais. Analisada desta maneira, a inovação não se confina a alguns poucos setores hi-tech e os dados da tabela sugerem que existe uma rápida mudança na composição de produtos das empresas inovadoras. Um corolário a ser enfatizado, é que a inovação, no sentido da introdução de novos produtos e processos, é mais equitativamente distribuída pelos diferentes setores; é pervasiva, não se restringindo aos setores hi-tech. Tal ponto sugere que nada impede que os chamados setores tradicionais sejam inovativos. A literatura inclusive tem mostrado casos importantes que exemplificam como empresas e aglomerações produtivas destes setores tem sido capazes de inovar fazendo uso eficiente das tecnologias de informação e comunicações. Tais considerações levantam uma questão mais ampla. A inovação envolve aprendizado e criação do conhecimento, de novas e diferentes competências relacionadas ao desenvolvimento e implementação de produtos e processos Para melhor tentar entendê-la devemos introduzir uma discussão sobre estática e dinâmica. Sistemas de inovação têm sido muitas vezes confundidos com clusters. Aqui o problema maior é o de não se adotar uma visão estática. Por exemplo, há, uma tendência de se definir o cluster em termos da classificação industrial tradicional (cluster de calçados, de cerâmica, etc.) com suas fronteiras fixas e os atores configurados em relação aos produtos e processos existentes. A visão de cluster baseada em setor, porém, não captura situações onde as fronteiras dos setores industriais encontram-se em mutação, tornando-se fluidas. Assim, de uma perspectiva dinâmica, os setores industriais devem ser reconceitualizados, enquanto sistemas mais amplos e em contínua mutação baseados em conjuntos de tecnologias e soluções. Por exemplo, recente pesquisa realizada em alguns países desenvolvidos, utilizando a visão evolucionista de sistemas de inovação sugere que o aumento da produção e exportação e melhoria da competitividade de diversos sistemas locais têm origem em duas fontes principais. Inicialmente, a extensão em que a base de conhecimentos locais em tais sistemas se aprofundou e ampliou no sentido de incluir design, controle de qualidade, informação relativa a mercados e marketing e capacitações ligadas às tecnologias de informação e comunicações. Em segundo lugar, o estabelecimento de ligações técnicas por parte das 252 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres diversas instituições e organizações que compõem o sistema, na direção de ampliar a gama de insumos ligados ao conhecimento. Assim, como exemplo extremo, observa-se empresas de serviços como supermercados instalando laboratórios de P&D, contratando químicos e biológos para realizar pesquisas conjuntamente com empresas alimentícias, empresas químicas produzindo insumos, etc. Os pontos a serem ressaltados referemse, em primeiro lugar, a que empresas em qualquer setor necessitam ampliar sua base de conhecimento interno para melhor se apropriar através de diferentes mecanismos de interação da base de conhecimentos externa à firma. Em segundo lugar, que a competitividade de aglomerações produtivas, mesmo em áreas tradicionalmente identificadas como de baixa intensidade tecnológica (calçados, vestuários, etc.) está cada vez mais vinculada à existência - dentro de, e fazendo parte, das aglomerações - de organizações e instituições (firmas, institutos de pesquisa, etc) que possuam capacitações nas novas tecnologias da informação e das comunicações. Utilizando-se como exemplo a indústria de pesca, o processo inovativo e as tecnologias são baseadas em materiais avançados, incorporam conhecimentos de design, o monitoramento depende de imagens computacionais e tecnologias de reconhecimento, os sistemas de alimentação e saúde envolvem o uso de robótica, insumos farmacêuticos e conhecimento de nutrição crescentemente ligados à biotecnologia, novas técnicas de preservação, armazenamento e empacotamento que são baseadas em tecnologias de resfriamento, bacteriologia, microbiologia, engenharia e informática. Uma gama enorme e diversa de capacitações torna-se necessária para se obter competitividade em situações cada vez mais complexas. Assim, a visão sistêmica da inovação se preocupa não apenas com o desempenho da firma isoladamente mas, principalmente, com a integração das firmas em complexas relações econômicas e sociais com o seu ambiente. Do ponto de vista de política, a política de inovação é complementar à política científica que se preocupa com o desenvolvimento científico e com a formação de cientistas e da política tecnológica que objetiva o suporte, melhoria, promoção e desenvolvimento de tecnologias. A política de inovação leva em consideração as complexidades do processo inovativo e focaliza as interações dentro do sistema. Ela é cada vez mais necessária para se alcançar a competitividade nos diferentes setores da economia e deve centrar-se na criação de condições para que os diferentes agentes apropriem-se, eficientemente, dos ganhos potenciais trazidos pelas tecnologias de informação e comunicações. Porém, tal eficiência só será alcançada se as capacitações e conhecimentos associados a tais tecnologias forem enraizados nos sistemas produtivos locais. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 253 CONCLUSÕES Conforme discutido acima, a análise das tendências sobre políticas industriais e de inovação na chamada Era do Conhecimento vem privilegiando a promoção de inovação e sistemas de inovação como componente mais importante da competitividade de organizações e países. Destaca-se a importância de discutir as novas demandas e desafios associados à conformação da Economia do Conhecimento. Em particular, que se trata de uma era em que o conhecimento coloca-se como recurso principal e o aprendizado como processo central. Considera-se que quão mais forte for a base de recursos humanos, maior a possibilidade de acelerar o processo de inovação, e que quão mais forte o potencial para inovação, maior a probalidade do sistema atrair e absorver pressões competitivas. Nesta discussão, concorda-se com a idéia de que, no caso das políticas de inovação, estas podem e vão além da criação de um ambiente dinâmico para a acumulação de capital. A variedade e maior sofisticação dessas novas formas de se definir e implementar políticas contradizem as teses sobre o enfraquecimento dos Estados-nação e sua capacidade de formular políticas nacionais. Particularmente, destaca-se o novo papel dos Estados nacionais de se pronunciarem e definirem políticas domésticas (tanto nacionais como subnacionais), crescentemente articuladas ao nível de blocos regionais. O erro, portanto, estaria em tomar tais tendências como antagônicas à experiência anterior. Evidentemente, reconhece-se que as transformações econômicas e sociais que caracterizam as duas últimas décadas do século XX certamente trazem novos desafios à definição e implementação de projetos e políticas nacionais. Ao mesmo tempo, abrem-se também novas oportunidades, que são melhor aproveitadas pelas sociedades que têm coesão, estratégia e medidas eficientes para delas tirar proveito. Assim, tais desafios devem ser vistos - não em contraposição à própria alternativa de se definirem políticas nacionais - mas sim, como novas exigências a serem equacionadas. Argumenta-se, portanto, que ao invés de perderem sentido, na verdade as políticas nacionais passam a ter seu alcance desenho, objetivos e instrumentos reformulados, visando o atendimento dos novos requerimentos impostos por um conjunto de fatores associados à inauguração do atual padrão de acumulação. Reconhece-se que o enfrentamento das intensas mudanças observadas em escala mundial não é tarefa trivial. Conforme lembrado por Chris Freeman e Carlota Perez: (i) a adaptação da economia tenderá a se transformar num processo lento e doloroso se deixado por si só, 254 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres principalmente em períodos de mudanças tecnológica e institucional radicais; (ii) o papel de políticas públicas e privadas estimulando a promoção e renovação do processo cumulativo de aprendizado é particularmente destacado em tais ocasiões; (iii) geralmente em períodos de mudanças radicais observa-se um processo de destruição criadora não apenas no que concerne às atividades e estruturas econômicas e técnicas, mas também às atividades e estruturas sócio-políticas.6 Um último ponto a sublinhar aqui refere-se ao reconhecimento de que variações nacionais e locais podem levar a diferentes caminhos de desenvolvimento e à crescente diversidade, ao invés da padronização e convergência apregoada pelas teses mais radicais sobre influências da globalização em políticas nacionais e subnacionais. Conforme destaca Celso Furtado, globalização está longe de conduzir à adoção de políticas uniformes. A miragem de um mundo comportando-se dentro das mesmas regras ditadas por um super FMI existe apenas na imaginação de certas pessoas. As disparidades entre economias não decorrem só de fatores econômicos, mas também de diversidades nas matrizes culturais e das particularidades históricas. A idéia de que o mundo tende a se homogeneizar decorre da aceitação acrítica de teses economicistas.7 Nós acrescentaríamos: e apenas daquelas que ignoram os processos históricos e sociais envolvidos. Resumo Novas políticas para o desenvolvimento industrial e tecnológico vêm sendo formuladas em resposta às importantes transformações vividas nas últimas décadas. Reconhecese a existência de novos desafios à definição e implementação de projetos e políticas nacionais. Ao mesmo tempo, abrem-se também novas oportunidades, que são melhor aproveitadas exatamente pelas sociedades que têm coesão e são capazes de definir estratégia e medidas eficientes para delas tirar proveito. Argumenta-se, portanto, que ao invés de perderem sentido, na verdade as políticas nacionais passam a ter seu alcance desenho, objetivos e instrumentos reformulados, visando o atendimento dos novos requerimentos impostos por um conjunto de fatores associados à inauguração do atual padrão de acumulação. Dentre as principais tendências das políticas adotadas por países mais avançados encontra-se a crescente convergência entre as diversas políticas, particularmente as de desenvolvimento industrial e tecnológico e de comércio internacional. Observa-se igualmente a ênfase crescente ao fortalecimento dos processos de aprendizado, geração e difusão de conhecimentos para o aumento da competitividade de organizações e países. Como decorrência, a promoção do processo inovativo, assim como dos sistemas locais e nacionais de inovação vem tornando-se característica das novas políticas associadas à Era do Conhecimento. Freeman, C. E Perez, C. Structural crisis of adjustment: business cycles and investiment behaviour. In G. Dosi et all (eds) Technical Change and Economic Theory, (Londres, Pinter, 1988) 6 7 Furtado, C. O Capitalismo Global (São Paulo Paz e Terra, 1998, p. 74)o, C. O Capitalismo PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 255 Abstract New policies for industrial and technological development are being designed and implemented as a response for the important transformations observed worldwide during the last decades . It is recognized the existence of new threats for defining and implementing national projects and policies. However, it is argued, that new opportunities are also presented; these opportunities have been better exploited by societies characterized by cohesion and that can devise appropriate strategies. Instead of losing importance, national policies are changing their objectives and instruments and are targeting the new requirements imposed by a set of factors associated to the new pattern of accumulation. Among the most important features of the new policies designed and implemented in advanced economies is the convergence among trade, industrial and technology policies. Also important is the emphasis on strengthening learning processes and on the generation and diffusion of knowledge to foster competitiveness of organizations and countries. As a result, the promotion of innovation processes and local and national systems of innovation characterize the new policies associated with the Knowledge Era. Os Autores JOSÉ EDUARDO CASSIOLATO Ph.D. em Política Científica e Tecnológica e Industrialização, Science Policy Research Unit, SPRU/University of Sussex, Inglaterra; Mestre em Economia do Desenvolvimento, University of Sussex, Inglaterra; Economista na USP. Professor do Instituto de Economia (IE/UFRJ) onde coordena uma rede de pesquisadores e um projeto de pesquisa internacionais sobre sistemas locais de inovação no Mercosul; Pesquisador Associado ao NEIT/Instituto de Economia da UNICAMP; Membro da Diretoria da SBPC (até 2002). Pesquisador-visitante da Universidade de Sussex (1990/1) e da Universidade Pierre Mendés-France (1999/2000). Tem-se dedicado à pesquisa e ensino em economia da inovação, do desenvolvimento e política industrial, de C&T e inovação. HELENA MARIA MARTINS LASTRES - Ph.D. em Política Científica e Tecnológica e Industrialização, Science Policy Research Unit, SPRU/University of Sussex, Inglaterra; Mestre em Engenharia da Produção na COPPE/UFRJ; Economista, FEA/UFRJ. Pesquisadora do IBICT/CNPq) e professora e pesquisadora do Grupo de Inovação do Instituto de Economia (IE/UFRJ). Pesquisadora-visitante da Universidade de Tóquio (1991) e da Universidade Pierre Mendés-France (1999/2000). Tem-se dedicado à pesquisa e ensino em política de C&T e economia da inovação, da informação e do conhecimento. 256 José Eduardo Cassiolato & Helena Maria Martins Lastres Documentos PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 257 Por que e como os Governos apoiam Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Este é um documento de base do Ministério das Finanças e da Receita do Canadá. O Sistema Federal de Incentivos de Imposto de Renda para a Pesquisa Científica e o Desenvolvimento Experimental: Relatório de Avaliação, Dezembro de 1997 INTRODUÇÃO As atividades de pesquisa e desenvolvimento englobam o trabalho criativo realizado em base sistemática, a fim de aumentar o estoque de conhecimentos, inclusive o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e o uso deste estoque de conhecimentos para conceber novas aplicações. Este trabalho pode tomar a forma de pesquisa básica, pesquisa aplicada ou desenvolvimento experimental1. As atividades de pesquisa e desenvolvimento produzem tecnologia, uma forma de conhecimento que é utilizada para melhorar a produtividade de fatores de produção e de crescimento econômico e, em última análise, para melhorar os padrões de vida. Como outras formas de capital, a tecnologia pode ser armazenada, vendida como um bem ou serviço, pode depreciar-se ou tornar-se obsoleta. A tecnologia pode 1 Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (1994), capítulo 2, páginas 29-45. O Capítulo 1, páginas 18-21, discute a distinção entre atividades de pesquisa e desenvolvimento e outras atividades estreitamente correlatas que podem ser agrupadas de maneira mais ampla sob o título de atividades científicas e tecnológicas (STA) e inovação científica e tecnológica (STI). As STA compreendem atividades sistemáticas estreitamente ligadas à geração, o avanço, a disseminação e a aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos em todos os campos da ciência e da tecnologia. Essas incluem atividades como as de pesquisa e desenvolvimento, a educação e o treinamento científicos e tecnológicos, e os serviços científicos e tecnológicos. A STI pode ser considerada como a transformação de uma idéia num produto novo ou melhorado introduzido no mercado, ou um novo processo operacional ou um processo operacional melhorado utilizado na indústria ou no comércio. As inovações envolvem uma série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, as atividades de pesquisa e desenvolvimento constituem somente uma dessas atividades, e podem ser realizadas em diferentes fases do processo de inovação. 258 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá ser usada, em combinação com outros fatores de produção, para melhorar processos de produção existentes ou para criar novos processos de produção, e para aumentar a qualidade e a variedade dos bens e serviços disponíveis para consumo. O avanço da tecnologia na produção foi reconhecido há muito tempo como um importante fator, na base do crescimento econômico. No entanto, o processo pelo qual a tecnologia é criada e disseminada na economia, a magnitude de sua contribuição para o crescimento econômico, e o papel que os governos podem desempenhar em seu avanço são menos bem entendidos. Este documento tem duas seções principais. A primeira estabelece a necessidade de que os governos apoiem as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Ele o faz examinando brevemente as teorias econômicas que ligam as atividades de pesquisa e desenvolvimento ao crescimento econômico, identificando a falha de mercado que de outra formas levaria a sub-investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento, e transmitindo estimativas da literatura especializada quanto à extensão dessa falha de mercado. Tendo sido estabelecida a rationale para o apoio governamental, a segunda seção do documento examina mecanismos alternativos disponíveis para os governos para auxiliar as atividades de pesquisa e desenvolvimento. O documento se centra, em especial, na comparação de incentivos às atividades de pesquisa e desenvolvimento baseados no imposto de renda nos países do Grupo dos Sete (G-&) e na Austrália, e dá uma classificação da atratividade relativa desses mecanismos baseados em impostos. O Anexo contém uma descrição mais pormenorizada do apoio através do imposto de renda a atividades de pesquisa e desenvolvimento nos países do G-7 e na Austrália. PARTE I A NECESSIDADE DE QUE OS GOVERNOS APOIEM AS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E O CRESCIMENTO ECOMÔNICO Os dados econômicos mostram aumentos na renda real per capita2 durante períodos prolongados em muitos países, e padrões variáveis de crescimento em diferentes períodos históricos, tanto no âmbito de países A renda real per capita é obtida dividindo-se o valor total dos bens e serviços produzidos num ano (i.e. o produto interno bruto) por um índice de inflação que representa o preço médio daqueles bens e serviços, e depois pela população. 2 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 259 específicos quanto de país para país. Estudos empíricos sugerem que o crescimento econômico não é um processo aleatório. Antes, ele é afetado por uma pletora de variáveis econômicas, sociais e políticas. A partir de uma perspectiva teórica, esses fatos precisam ser explicados. Esta é a finalidade das teorias do crescimento. Uma teoria do crescimento econômico pode ser definida como a identificação e o estudo dos fatores por trás do crescimento a longo prazo da renda real per capita. Todas as teorias dependem de simplificar-se pressupostos que podem mudar ao longo do tempo e que variam de economia para economia, e não existe uma única teoria que possa explicar plenamente o crescimento. Os modelos existentes de crescimento econômico podem ser classificados em duas escolas principais de pensamento: a teoria neoclássica do crescimento e a teoria do crescimento endógeno3. 1) A Teoria Neoclássica do Crescimento A teoria neoclássica do crescimento econômico, conforme formalizada pela primeira vez por Solow (1956), se baseia na acumulação de capital físico 4 como o fator chave por trás do crescimento numa economia perfeitamente competitiva com retornos constantes em escala5 e com uma taxa exógena de poupança que se pressuponha ser uma fração constante da renda nacional total. A dinâmica da teoria neoclássica na ausência de progresso tecnológico é como segue. A economia começa com uma razão capital mão-de-obra baixa. Capital novo (líquido ou de depreciação) é pago a partir de poupanças agregadas. Embora a discussão se centre na pesquisa realizada a partir do início dos anos cinqüenta, deve notar-se que economistas clássicos do século XIX, como Mill e Marx, estudaram o crescimento com base na acumulação de capital físico. Uma de suas principais conclusões é a de que, uma vez que os recursos são limitados e que o retorno marginal do capital diminui à medida em que aumenta a razão capital-mão de obra, a única maneira pela qual o crescimento pode ser sustentado é através de melhorias na produção (i.e., avanço tecnológico). Tanto a teoria neoclássica do crescimento quanto a teoria do crescimento endógeno se basearam nessas idéias para formalmente incorporar as atividades de pesquisa e desenvolvimento a seus modelos. 3 O capital físico inclui maquinaria, estruturas e estoque, e difere do capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento. O último inclui trabalho altamente qualificado ou muito especializado, bem como o capital físico necessário às atividades de pesquisa e desenvolvimento.uturas e estoque, e difere do capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento. O último inclui trabalho altamente qualificado ou muito especializado, bem como o capital físico necessário às atividades de pesquisa e desenvolvimento. 4 Diz-se que um processo de produção tem retornos constantes em escala se o custo médio da produção permanece constante à medida em que muda a produção. Retornos crescentes (decrescentes) em escala significam que o custo médio da produção diminui (aumenta) à medida em que a produção aumenta (diminui) 5 260 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá Devido a retornos marginais de capital cadentes, à medida em que aumenta a razão capital mão-de- obra, o produto marginal do capital cai, e também cai o incentivo para investir em capital novo. Portanto, cada unidade adicional de capital gera menos retorno e menos poupança, o que por sua vez significa que menos renda estará disponível para acumulação de capital. A longo prazo, a razão capital mão-de-obra atinge um nível no qual o retorno do capital é igual a sua depreciação a poupança é suficiente apenas para pagar pela depreciação física do capital, e não existe incentivo à inversão em capital novo. A acumulação de capital e o crescimento cessam e a economia entra num equilíbrio estável de longo prazo. O progresso tecnológico entra na teoria neoclássica do crescimento como um fator exógeno que cresce a uma taxa constante e que é essencial para o crescimento econômico a longo prazo. O avanço tecnológico aumenta a produtividade da mão de obra de modo que o produto marginal do capital não declina à medida em que cresce a razão capital mão-de- obra. A longo prazo, como não há limite superior ao crescimento da tecnologia e portanto ao crescimento da produtividade da mão de obra, a taxa de crescimento da renda real per capita não diminui até zero. O crescimento econômico é portanto sustentável e a taxa de crescimento a longo prazo é igual à taxa constante presumida de progresso tecnológico6. Os pressupostos básicos da teoria neoclássica implicam que os recursos sejam alocados de forma eficiente na economia. Isto significa que não é possível mudar essa alocação e fazer com que uma pessoa fique em situação melhor sem ao mesmo tempo fazer com que pelo menos uma pessoa fique em situação pior. Portanto, não há qualquer razão baseada na eficiência para a intervenção governamental numa economia desse tipo. Qualquer política que afete a alocação de recursos aumentaria o produto total e retardaria o crescimento econômico. No entanto, a intervenção governamental ainda poderia basear-se no critério da eqüidade. Por exemplo, poder-se-ia buscar uma mudança na distribuição da renda com o fito de atingir-se um objetivo de política social. Neste caso, o mérito relativo da intervenção seria avaliado comparando-se a perda resultante em eficiência com o ganho em matéria de eqüidade. 2) Crítica da Teoria Neoclássica Os pressupostos em que se baseia a teoria neoclássica do crescimento têm sido criticados como sendo irrealistas. A mudança tecnológica nem sempre é um fator exógeno de fora do mercado e determinado por um 6 Esta discussão abstrai o crescimento populacional. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 261 processo desconhecido; muitas descobertas e muitas melhorias tecnológicas na produção que aumentaram significativamente os padrões de vida no século XX foram realizadas no setor comercial, por empresas que buscavam lucros, e não por governos ou universidades, onde a pesquisa é comandada por forças outras que as do mercado 7. Os mercados raramente são perfeitamente competitivos; eles muitas vezes são caracterizados pela concorrência imperfeita, por retornos de escala crescentes e por informação assimétrica. Ademais, nem todos os bens e serviços desejados podem ser produzidos pelo setor privado; alguns são bens públicos, e alguns produzem externalidades que beneficiam ou prejudicam outras pessoas dentro da sociedade. Em todos esses casos, a composição marginal dos preços, que é a característica chave da concorrência perfeita, não é factível, e os mercados não conseguem alocar os recursos de maneira eficiente. Antes de passar a discutir como são tratadas essas críticas na teoria do crescimento endógeno, é importante descrever brevemente os conceitos de informação assimétrica, de bens públicos e de externalidades, vista suas implicações para as teorias do crescimento econômico e a rationale para a intervenção governamental na economia de mercado. A informação assimétrica, também chamada o problema do principal agente, ocorre quando uma parte numa transação tem informações que a outra parte não possui, ou deve incorrer em alto custo para obter. Por exemplo, um tomador pode ter informações sobre suas possibilidades de tornar-se inadimplente que não estejam disponíveis cedente. Um segurador de automóveis pode ter vários clientes com diferentes padrões de risco; alguns dos clientes podem adotar ações específicas para reduzir a probabilidade de ter acidentes, enquanto que outros podem não fazê-lo. Nessas situações, é possível que não se materialize um mercado, porque compradores e vendedores não poderão concordar quanto a um preço e uma quantidade, devido à diferença no nível de informação. Também é possível que resulte um mercado incompleto, em que a quantidade de equilíbrio seja mais baixa do que seria num equilíbrio competitivo. Os bens públicos são caracterizados pela ausência de rivais e pela impossibilidade de exclusão. A primeira propriedade significa que o uso de um bem público por uma pessoa ou empresa não impede que outras pessoas o utilizem simultaneamente, seja parcialmente, seja em sua totalidade. O último fato significa que é impossível, ou pelo menos proibitivamente caro, evitar que pessoas específicas utilizem tais bens. 7 Ver, por exemplo, The Economist, Innovation: The machinery of growth, 11 de janeiro de 1992, páginas 17-19. 262 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá Como exemplos de bens públicos temos as ondas de rádio e a defesa nacional. As externalidades (também chamadas vazamentos) surgem quando ações empreendidas por uma pessoa ou empresa afetam (ou vazam sobre), de forma negativa ou positiva) o bem-estar de outras pessoas. Normalmente, as externalidades não são levadas em conta na composição do preço das commodities porque elas não afetam as estruturas de custo ou de receita do produtor; a sociedade como um todo absorve seus efeitos. A poluição do ar e da água são exemplos de externalidades negativas, uma vez que ela impõe um custo à sociedade. Os vazamentos de vantagens ligados a atividades de pesquisa e desenvolvimento são exemplos de externalidades positivas. 3) A Teoria do Crescimento Endógeno A teoria do crescimento endógeno abranda muitos dos pressupostos neoclássicos para incorporar imperfeições de mercado tais como as mencionadas acima8. No entanto, tal como nos modelos neoclássicos, o crescimento econômico a longo prazo é conduzido pela acumulação de fatores de produção baseados no conhecimento, tais como o capital humano, o aprender fazendo, as atividades de pesquisa e desenvolvimento e a inovação9. A longo prazo, é a acumulação desses fatores que faz com que a produtividade dos fatores continue a aumentar e evita que o retorno marginal de capital caia abaixo de níveis lucrativos. A teoria do crescimento endógeno pressupõe que o avanço tecnológico seja o resultado das atividades de pesquisa e desenvolvimento empreendidas por empresas desejosas de maximizar seus lucros. As atividades de pesquisa e desenvolvimento entram no processo de produção como um fator de produção, e são usadas em conjunção com outros insumos. Como ocorre com qualquer decisão sobre investimento, as atividades de pesquisa e desenvolvimento não são empreendidas a menos que haja uma oportunidade de lucro10. Romer (1994) revê as origens da teoria do crescimento endógeno e discute as implicações teóricas e práticas dos pressupostos básicos dos modelos de crescimento neoclássico e endógeno. Entre as contribuições importantes à teoria do crescimento endógeno inclui-se Romer (1986 e 1990), Lucas (1988), Grossman e Helpman (1991) e Aghion e Howitt (1992). 8 Forin e Helpman (1995) discutem esses fatores de produção baseados no conhecimento, e suas contribuições à produção e ao crescimento econômico. 9 Na prática, as atividades de pesquisa e desenvolvimento são financiadas e realizadas tanto por instituições que buscam o lucro quanto por instituições públicas. Statistics Canada (1997) informa que 48% do total das atividades de pesquisa e desenvolvimento no Canadá em 1996 foram financiados pelo setor privado e 62% foram por ele realizados; o resto foi financiado (52%) e realizado (38%) por governos, universidades e instituições privadas sem fins de lucro. 10 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 263 O pressuposto de que as determinantes do crescimento de longo prazo são endógenas ao processo de tomada de decisões da empresa é um desvio importante com relação à teoria neoclássica do crescimento, e tem importantes implicações em termos de políticas. Realmente, se o crescimento de longo prazo é conduzido por fatores de produção baseados no conhecimento que são parte da estrutura normal de custos da empresa, então, mudando-se o custo desses fatores através, por exemplo, de subsídios diretos, incentivos fiscais ou políticas comerciais, os governos podem influenciar o crescimento a longo prazo11. 4) A Contribuição do Progresso Tecnológico ao Crescimento Econômico As teorias sobre o crescimento econômico proporcionam um quadro para a análise do crescimento e de suas determinantes. Esses quadro também pode ser usado para estudar o impacto das políticas governamentais sobre o crescimento econômico e sobre os investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, tal quadro não permite a quantificação da contribuição ao crescimento econômico das atividades de pesquisa e desenvolvimento e de outros investimentos baseados no conhecimento. Esta é uma questão complexa de mensuração que está sujeita à possibilidade de observar dados, de sua disponibilidade e de sua qualidade12. Diferentemente do capital tangível, que tem mercados bem desenvolvidos, o preço do conhecimento raramente pode ser determinado com qualquer grau de exatidão. Ademais, o conhecimento é cumulativo em termos de tempo e produz externalidades que não podem ser captadas em preços de mercado. Devido a essas dificuldades, a contribuição ao crescimento econômico dos investimentos baseados no conhecimento não é mensurável. No entanto, pode obter-se uma indicação dessa contribuição subtraindo-se o crescimento em fatores de produção do crescimento no produto interno bruto (PIB); o resto e chamado o resíduo de Solow, e é um indicador da produtividade total do fator (Total Factor Productivity/TFP)13. Há abundante literatura sobre a mensuração da TFP e sobre as contribuições das atividades de pesquisa e desenvolvimento ao 11 As políticas governamentais, tais como as políticas de compras governamentais, também podem ter como meta o produto e não os fatores de produção para atividades de pesquisa e desenvolvimento. 12 Ver, por exemplo, Griliches (1994). Griliches (1994) e Grossman e Helpman (1991), capítulo 1, discutem problemas relativos à interpretação e à mensuração da TFP. A TFP pode ser calculada para a totalidade da economia, para setores específicos e para indústrias. 13 14 Mohnen (1992) examina esta literatura 264 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá crescimento econômico14. Por exemplo, a pesquisa macroeconômica tem usado a TFP para investigar as razões por detrás do declínio no crescimento da renda real per capita em países desenvolvidos desde 1974. Uma explicação possível para este fenômeno é um declínio na contribuição do progresso tecnológico ao crescimento na produtividade da mão de obra, que por sua vez constitui o maior componente do crescimento da renda real per capita. Fortin e Helpman (1995) estimam que o crescimento da produtividade da mão de obra no Canadá representou 60% do crescimento da renda real per capita ao longo do período de 1960 a 1993, e que aproximadamente 50% do crescimento da produtividade da mão de obra ao longo desse período deveu-se ao progresso tecnológico15. Os autores também observam que a dominância da produtividade do mão-de-obra como fator de contribuição ao crescimento econômico no Canadá, e de modo mais geral nas economias desenvolvidas, tem a probabilidade de tornar-se mais forte relativamente a outros fatores cujo crescimento parou na última década ou tem estado declinando. A INAPROPRIABILIDADE E AS IMPERFEIÇÕES DE MERCADO A teoria econômica e as provas empíricas indicam que o progresso tecnológico, através de seu impacto sobre os fatores de produção, é uma determinante chave do crescimento econômico de longo prazo; realmente, para alguns países, é a determinante mais importante. No entanto, isto em si não dá uma justificativa econômica para a intervenção governamental para realocar recursos em favor de atividades de pesquisa e desenvolvimento. A intervenção governamental numa economia de mercado normalmente é justificada pela incapacidade do mercado de prover uma alocação de recursos eficiente ou socialmente desejável. No caso dos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, o fracasso do mercado fica evidenciado pela presença de externalidades e de imperfeições de mercado, cujos efeitos se estendem não apenas para além das empresas individuais, mas também para além das fronteiras dos países. Outros componentes básicos do crescimento da renda real per capita são: a razão entre a renda nacional bruta e o produto interno bruto (que representa o pagamento a não residentes por seus investimentos no Canadá), os termos de troca ou a razão entre os preços de exportação e os preços de importação, a taxa de emprego, a taxa de participação da força de trabalho e a razão trabalho-idade. Em comparação com 60% de produtividade do trabalho, as contribuições desses componentes ao crescimento da renda real per capita ao longo do período de 1960 a 1993 foram de cerca de -2%, 5%, -7%, 21% e 25%, respectivamente. Para ter mais detalhes, ver Fortin e Helpman (1995). 15 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 265 A teoria das finanças públicas classifica os bens e serviços segundo dois critérios: o da rivalidade e o da possibilidade de acarretar exclusão. Conforme anteriormente observado, um bem é rival se o uso por parte de uma pessoa impede que outros o usem; e é suscetível de acarretar exclusão se for possível excluir outrem de seu uso. Os dois conceitos, da rivalidade e da possibilidade de acarretar exclusão, não são mutuamente excludentes. Um bem rival é excludente; um bem não rival pode ou não ser excludente, dependendo de sua natureza e do custo em que o proprietário deva incorrer para excluir outros de seu uso. Se um bem é não rival e pelo menos parcialmente não excludente, então ele é inapropriável; i.e., outras pessoas podem beneficiar-se de seu uso por parte do proprietário sem incorrer em quaisquer custos. A não suscetibilidade de apropriação de um bem leva a sua subprodução numa economia de mercado. Isto é um resultado que deriva diretamente da política microeconômica da empresa. A empresa não investirá num produto se souber que não se poderá apropriar de suas receitas potenciais. No entanto, se alguma parte das receitas for suscetível de apropriação, a empresa investirá, se tal parte for suficiente para tornar o investimento lucrativo. A quantidade que não é produzida depende do grau de inapropriabilidade. Em condições normais, a inapropriabilidade perfeita conduz à ausência de produção por parte de tomadores de decisão privados, e a apropriabilidade perfeita conduz à produção eficiente. A subprodução devida à inapropriabilidade é uma forma do que é geralmente conhecido como falha de mercado; deixado livre, o mercado não aloca uma quantidade eficiente de recursos à produção de um bem inapropriável. A falha de mercado é um critério usado por economistas e formuladores de políticas para justificar a intervenção governamental em economias de mercado. É sobejamente sabido que a tecnologia, e o conhecimento em geral, não são plenamente apropriáveis numa economia de mercado16 ; uma vez produzida, pelo menos parte dela pode ser obtida sem qualquer custo. O preço que os compradores realmente pagam para adquirir uma tecnologia normalmente é mais baixo do que o preço que estariam dispostos a pagar se a tecnologia fosse plenamente suscetível de apropriação porque a desenvolveu. A diferença entre esses dois preços é chamada a vantagem do vazamento (ou vazamento). Portanto, a 16 Um exemplo extremo é a tecnologia que é uma idéia. É muito difícil evitar a sua disseminação: o custo marginal de reproduzi-la é zero: e outros podem usá-la sem pagar. A proteção dos direitos de propriedade intelectual, por exemplo, o uso de patentes é apenas uma solução parcial para o problema das caronas causado pela inapropriabilidade da tecnologia. 266 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá tecnologia não é um bem privado puro; há uma incompatibilidade entre sua produção, que pode ser baseada na tomada de decisões privada, e sua disseminação, uma atividade cujos benefícios extrapolam o produtor para atingir a sociedade como um todo17. A informação assimétrica e a concorrência imperfeita são outros tipos de imperfeição de mercado que conduzem ao subinvestimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento18. Tem sido sustentado que a informação assimétrica distorce um funcionamento eficiente dos mercados de capital; por exemplo, pode levar ao racionamento do crédito e ao abandono de investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em projetos com alta probabilidade de sucesso devido a dificuldades financeiras, enquanto que aqueles investimentos em projetos com pouca probabilidade de sucesso continuam sendo financiados e levados adiante. Himmelberg e Peterson (1994) mostram que as atividades de pesquisa e desenvolvimento são financiadas principalmente por fontes internas porque a informação assimétrica limita o financiamento externo. A PROVA EMPÍRICA SOBRE VAZAMENTOS Tem havido muitos estudos empíricos sobre vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento (ou a diferença entre as taxas privadas e sociais de retorno do investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento), especialmente a partir de meados dos anos oitenta. Esses estudos, que se centram sobretudo em indústrias manufatureiras e de alta tecnologia, mostram que existem vazamentos entre diferentes projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma mesma empresa, entre empresas que operam no mesmo setor, entre diferentes setores (vazamentos intra e intersetoriais), e entre países. Geralmente são usados dois tipos de modelo econométrico para investigar os vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento. O primeiro envolve estimar-se os parâmetros das funções de produção, que incluem não apenas a mão de obra e o capital, mas também o capital de pesquisa e desenvolvimento como insumo. O segundo envolve estimarse funções de custo nas quais a estrutura de custos depende de variáveis como o produto, os preços dos fatores e o capital de pesquisa e desenvolvimento. Dependendo da disponibilidade e da qualidade dos dados, os parâmetros dessas funções podem ser estimados utilizando-se dados de projeto, de empresa, de setor, ou que abranjam toda a economia. 17 para mais informações sobre a inapropriabilidade, ver Romer (1990). McFetridge (1995) examina a literatura sobre os vários tipos de falha de mercado e seu impacto potencial sobre o investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 18 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 267 Uma vez que se estima o parâmetro de vazamento, pode-se calcular as taxas de retorno social; nos casos de dados de empresa, por exemplo, isto é feito somando-se à taxa privada de retorno de um setor as vantagens marginais de vazamento que são produzidas para outros setores19. A análise econométrica das taxas de retorno sociais dos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento versus as privadas e dos vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias manufatureiras e de alta tecnologia produzem os seguintes resultados gerais:20 · As taxas privadas de retorno sobre investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento normalmente são mais altas do que as que se observa para outros investimentos de capital. · As taxas sociais de retorno sobre investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento podem ser até cinco vezes mais altas do que as taxas privadas de retorno; a dimensão das vantagens do vazamento variam de forma significativa. ·As taxas sociais de retorno sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento básicas são mais altas do que aquelas sobre pesquisa e desenvolvimento aplicados. · As atividades de pesquisa e desenvolvimento públicas produzem taxas de retorno mais baixas do que as atividades de pesquisa e desenvolvimento privadas, mas taxas mais altas de retorno do que o capital público de infra-estrutura. · Os vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento reduzem os custos variáveis e aumentam a produtividade; a magnitude dos resultados depende de se a amostra estudada é tomada no nível da empresa ou no do setor. Encontrou-se resultados qualitativos semelhantes em amostras colhidas no nível de projeto dentro de empresas21. · Os vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento contribuem para o aumento da produção e para a redução do preço da produção. · Os vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento geralmente são substitutos parciais para mão de obra e materiais, mas complementos para o capital (que não seja capital de atividades de pesquisa e 19 Bernstein (1994) examina várias formas funcionais estimadas na literatura. 20 A menos que indicado de outra forma, esses resultados se baseiam nos exames feitos por 21 Henderson e Cockburn (1993). 268 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá desenvolvimento). Isto significa que os vazamentos reduzem a demanda por mão-de-obra e por materiais e aumentam a demanda por capital. Uma vez que o componente principal do capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento é mão de obra qualificada, o efeito substituição que age sobre a demanda por mão-de-obra deveria ser visto, pelo menos em parte, como um efeito redutor da demanda por mão-de-obra não qualificada a favor da demanda por mão-de-obra qualificada. · Os vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento induzem um aumento nos investimentos de capital em atividades de pesquisa e desenvolvimento em empresas que têm atividades de pesquisa e desenvolvimento intensivas em termos de capital, mas funcionam como um substituto do capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento em empresas onde o capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento forma uma pequena parte do investimento total. No entanto, no nível do setor, os vazamentos geralmente são substitutos do investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento do setor recipiente. · Os vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento num país contribuem para ganhos de produtividade em outros países. Esses vazamentos internacionais são uma função de relações comerciais e de outros tipos de relações (por exemplo, educacionais e culturais) que os países mantêm entre si 22. Ademais, a direção dos ganhos de produtividade induzidos por vazamentos internacionais de atividades de pesquisa e desenvolvimento é de grandes economias onde se realizam intensamente as atividades de pesquisa e desenvolvimento para pequenas economias abertas que utilizem menos intensivamente as atividades de pesquisa e desenvolvimento23. Em outras palavras, as economias que gastam uma proporção relativamente baixa de seu PIB em atividades de pesquisa e desenvolvimento (por exemplo, o Canadá) se beneficiam mais, através de reduções de custos e de aumentos de produtividade, de vazamentos internacionais do que aquelas que gastam uma proporção relativamente mais elevada (por exemplo, os Estados Unidos e o Japão). McFetridge (1995) examina estudos de caso de projetos específicos de pesquisa e desenvolvimento, processos de pesquisa e desenvolvimento e novos produtos que resultam de investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Os resultados que ela relata em termos de ganhos de produtividade e a diferença entre as taxas privadas e sociais de retorno sobre o investimento em atividades de pesquisa e Grossman e Helpman (1991), capítulo 9, discute as implicações da interdependência internacional para o investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento e para as políticas governamentais. 22 23 Ver Também Bernstein e Yan (1995), Bernstein e Mohen (1994), e Coe e Helpman (1993). PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 269 desenvolvimento são semelhantes aos encontrados em estudos econométricos. PARTE II COMO OS GOVERNOS APOIAM AS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Conforme mostrado na Parte I, as atividades de pesquisa e desenvolvimento produzem tecnologia, uma forma de conhecimento que é utilizada para aumentar a produtividade de fatores de produção. A teoria econômica indica que o progresso tecnológico, sobretudo através de seu impacto sobre a produtividade da mão de obra, é uma determinante chave do crescimento de uma economia a longo prazo. A rationale econômica para que os governos apoiem as atividades de pesquisa e desenvolvimento é que os benefícios dessas atividades vazam, ou se estendem para além das próprias pessoas ou instituições que realizam as atividades de pesquisa e desenvolvimento, para outras empresas e setores da economia, e o valor desses benefícios não é suscetível de plena apropriação por que tiver realizado as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Esses benefícios de vazamento significam que, na ausência de apoio governamental, as empresas realizariam menos atividades de pesquisa e desenvolvimento do que o que é desejável do ponto de vista da economia. Os mercados deixam de alocar uma quantidade de recursos eficiente ou socialmente ideal às atividades de pesquisa e desenvolvimento. A evidência empírica mostra que os vazamentos de atividades de pesquisa e desenvolvimento existem entre projetos, empresas, setores e países, e que as taxas sociais de retorno sobre os investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento podem ser significativamente mais altas do que as taxas privadas de retorno. Isto confirma o caráter não excludente do progresso tecnológico e a incapacidade do mercado de alocar uma quantidade eficiente de recursos ao investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento. De uma perspectiva de política, a necessidade de incentivos às atividades de pesquisa e desenvolvimento é clara; a questão para os formuladores de política é determinar sua magnitude e suas formas. Os governos de muitos países dão apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento. Este apoio assume uma variedade de formas. A decisão quanto a que forma usar depende de dois elementos: a natureza da falha de mercado e os objetivos de política buscados por países específicos. Na maioria dos casos, a falha de mercado resulta de alguma combinação 270 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá de imperfeições de mercado, tais como a inapropriabilidade, a concorrência imperfeita e a informação assimétrica. Na maioria dos casos, a reação da política a uma falha de mercado é alguma combinação de apoio regulatório ou fiscal. Esta parte não trata da questão das formas que deveria assumir o apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento, do equilíbrio adequado entre formas alternativas de assistência, ou de se a assistência deveria ter bases amplas ou se deveria ser objeto do estabelecimento de metas. Essas questões ultrapassam o alcance da avaliação do sistema federal de incentivos baseados no imposto de renda para a pesquisa científica e o desenvolvimento experimental. Antes, a discussão considera as características gerais de formas alternativas de apoio governamental, e mecanismos específicos de imposto de renda internacionalmente utilizados para apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento e o nível relativo de assistência prestada por aqueles mecanismos de apoio baseados em impostos. AS FORMAS DE APOIO GOVERNAMENTAL Em termos de regulação, os governos contam com patentes e outras medidas para proteger os direitos de propriedade intelectual, como uma solução parcial para o problema das caronas causado pela inapropriabilidade da tecnologia, especialmente no que diz respeito a tecnologias que sejam específicas para a produção de um bem em especial ou de seus substitutos. Proporcionar poder monopolístico às instituições que realizem atividades de pesquisa e desenvolvimento reduz os efeitos da inapropriabilidade e aumenta os custos da imitação. A proteção da propriedade intelectual, assim, facilita a difusão da tecnologia ao mesmo tempo em que mantém o incentivo para que se invista em atividades de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, as tecnologias que são de uso geral são mais difíceis de apropriar através do uso de patentes e de outras medidas2 4. Como complemento à proteção das patentes, há instrumentos de política que incentivam o investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento ou que aumentam as taxas provadas de retorno sobre investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento para níveis mais próximos aos das taxas sociais de retorno, sem necessariamente conferir poder de monopólio a quem realiza as atividades de pesquisa e Levin e outros (1987) discutem vários meios que os inovadores podem utilizar para proteger-se contra imitadores e para minimizar os vazamentos, e as limitações das patentes. Mansfield (1986) e McFetridge (1995) discutem as patentes. 24 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 271 desenvolvimento. Os Governos do Canadá e de outros países industrializados têm implementado alguns desses instrumentos para reagir ao problemas de imperfeições de mercado e a seus impactos sobre o investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento e sobre o crescimento econômico. Esses instrumentos incluem: · atividades de pesquisa e desenvolvimento patrocinadas pelo governo; · a compra pelo governo de novas tecnologias; · subsídios diretos, empréstimos e contribuições reembolsáveis a empresas, universidades e organizações sem fins lucrativos, e · incentivos fiscais. McFetridge (1995) examina avaliações de atividades de pesquisa e desenvolvimento patrocinadas pelo governo, políticas de compras governamentais, subsídios diretos, financiamento de concessionárias e incentivos fiscais para atividades de pesquisa e desenvolvimento no Canadá. No caso das atividades de pesquisa e desenvolvimento patrocinadas pelo governo, ele conclui que os projetos de pesquisa com aplicabilidade em setores inteiros foram caracterizados por altas taxas de retorno, enquanto que aqueles que conferem vantagens exclusivas a empresas individuais foram caracterizados por favoritismo e baixas taxas de retorno. Esta conclusão geral também se aplica no caso dos subsídios diretos às atividades de pesquisa e desenvolvimento e se estende a avaliações de subsídios a atividades de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos e no Reino Unido. A eficácia em termos de custos foi maior em situações em que tais subsídios tinham o objetivo de solucionar problemas tecnológicos que atingiam setores inteiros ou múltiplos setores. Nos casos de políticas de compras governamentais, de financiamento de concessionárias e de incentivos fiscais, McFetridge conclui que: · as políticas de compras governamentais foram eficazes no sentido de induzir ou acelerar a inovação em casos em que o governo é um cliente importante para os produtos desenvolvidos; · recentes modificações institucionais na concessão de empréstimos pelo governo podem ter melhorado a eficiência do financiamento da inovação, e · incentivos fiscais existentes têm a probabilidade de ser socialmente benéficos, mas não há caso que obrigue a torná-los mais generosos. 272 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá Sua conclusão geral quanto à eficácia em termos de custos de instrumentos de política para atividades de pesquisa e desenvolvimento é no sentido de que: · ... a eficácia de instrumentos de política indica que os incentivos fiscais e o financiamento de concessionárias podem ser mais efetivos do que os subsídios diretos, embora a evidência empírica seja limitada. Os incentivos fiscais e os subsídios diretos possuem características diferentes, e podem ser usados para atingir objetivos alternativos, mas complementares. As principais diferenças entre essas medidas de política são: · Os subsídios diretos envolvem controle governamental discricionário sobre a tomada de decisões; os recursos são seletivamente canalizados para setores, empresas ou investimentos identificados como tendo o maior potencial de crescimento ou a mais premente necessidade de assistência. Com incentivos fiscais, os mercados determinam que investimentos serão realizados e a tomada de decisão permanece com os investidores. · Os incentivos fiscais normalmente são estruturados para prestar assistência a uma ampla gama de setores, empresas ou investimentos. Os subsídios diretos normalmente têm como meta números relativamente pequenos de setores, empresas ou investimentos. · Geralmente ocorre que os subsídios diretos podem ser utilizados tanto por empresas que pagam impostos quanto pelas que não os pagam. No entanto, os incentivos fiscais também podem ser concebidos para atingir esse objetivo através do recurso a disposições relativas à possibilidade de reembolso ou de transferência de perdas. · O custo de receita dos subsídios diretos tem um teto no nível de financiamento disponibilizado à autoridade concedente num ano dado, enquanto que o custo de receita dos incentivos fiscais depende de níveis de investimento determinados pelo mercado. · O sistema fiscal pode ser mais eficaz para incentivar investimentos de longo prazo - as empresas podem esperar razoavelmente receber benefícios constantes quando se implementa projetos de vários anos de duração. Os níveis de financiamento dos subsídios diretos muitas vezes são estabelecidos em base anual, e podem variar (às vezes de maneira significativa) de ano para ano. · Utilizando-se a estrutura existente da administração tributária, os incentivos fiscais podem ser menos onerosos (em termos tanto de PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 273 administração como de observância), de mais fácil acesso, mais tempestivos, mais certos e menos pesados do que os subsídios diretos. ASSISTÊNCIA EM TERMOS DE IMPOSTO DE RENDA NOS PAÍSES DO G-7 E NA AUSTRÁLIA Muitos países usam incentivos baseados no imposto de renda para incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento por parte de e em nome de contribuintes. Em geral, o incentivo se centra em atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas dentro das fronteiras nacionais para fins empresariais. Embora a definição da OCDE de atividades de pesquisa e desenvolvimento seja amplamente usada como padrão, as definições realmente empregadas para fins fiscais diferem, às vezes de maneira significativa, deste termo de comparação a fim de atender a objetivos de política de países específicos. Alguns incentivos fiscais a atividades de pesquisa e desenvolvimento são estruturados para prestar apoio em bases amplas, outros têm como meta tipos específicos de atividades de pesquisa e desenvolvimento ou de empresas (por exemplo, empresas novas, empresas menores, ou firmas que não pagam impostos), e outros, ainda, se centram em objetivos regionais. Também há significativas diferenças internacionais na concepção e na composição dos incentivos fiscais a atividades de pesquisa e desenvolvimento atualmente em uso para fomentar este tipo de investimento. Esta seção compara o tratamento fiscal dispensado pelo Canadá às atividades de pesquisa e desenvolvimento com o tratamento dispensado na Austrália, França, Alemanha, Itália, no Japão, no Reino Unido e nos Estados Unidos. A Tabela 1 resume os aspectos chave dos sistemas de imposto de renda para atividades de pesquisa e desenvolvimento nesses países. Os incentivos a atividades de pesquisa e desenvolvimento assumem a forma de deduções aceleradas, deduções de bonificações ou de créditos fiscais ao investimento, incrementais ou não incrementais. O anexo contém uma descrição mais pormenorizada do apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento baseado no imposto de renda nos países do G-7 e na Austrália. Entre os elementos chave desses sistemas fiscais aplicados a atividades de pesquisa e desenvolvimento incluem-se as definições de atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis e das despesas permissíveis, das deduções de imposto de renda e, quando aplicáveis, de créditos fiscais ao investimento. A fim de qualificar-se para a dedução de 125%, as despesas correntes ou de capital anuais com atividades de pesquisa e desenvolvimento devem geralmente exceder A$ 20.000. 25 274 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá 1) Deduções de Imposto de Renda Em cada um dos países do G-7, as despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento são plenamente dedutíveis no ano em que são realizadas. Sujeita à obediência a um patamar mínimo de despesa, a Austrália oferece uma bonificação de dedução correspondente a 125% das despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento.25 As taxas às quais as despesas de capital podem ser depreciadas para fins fiscais variam consideravelmente entre os países do G-7 e na Austrália. Em geral, existe a disponibilidade de alguma forma de depreciação acelerada para ativos de capital de pesquisa e desenvolvimento (que não sejam prédios). Sujeita à obediência ao mesmo patamar mínimo de despesa aplicável às despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento, a Austrália permite que se dê baixa em 125% do valor das despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento ao longo de três anos, numa base de linha reta. No Canadá e no Reino Unido, as despesas de capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento são plenamente dedutíveis da renda tributável no ano em que são realizadas. Nos demais países, os ativos de capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento são depreciados, utilizandose uma variedade de métodos, a várias taxas e ao longo de diferentes períodos de tempo. Na França e na Alemanha, os ativos de capital geralmente podem ser depreciados utilizando-se o método da linha reta ou o do saldo declinante. No entanto, na França, a depreciação pelo método do saldo declinante é optativa para certos ativos de capital, inclusive a maquinaria, o material e o equipamento de pesquisa e desenvolvimento que tenham uma vida útil de pelo menos três anos. Na Alemanha, as despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento estão sujeitas ao mesmo tratamento dispensado a outros ativos suscetíveis de depreciação. Na Itália, as despesas de capital normalmente suscetíveis de depreciação pelo sistema da linha reta, mas também existe a possibilidade de depreciação acelerada com relação a ativos de capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento (isto é, as despesas são suscetíveis de depreciação à taxa legal para o primeiro ano de tributação, a uma taxa de até o dobro da taxa legal para o segundo e terceiro anos, e com base no método da linha reta para o restante da vida útil do ativo). No Japão, as despesas de capital de atividades de pesquisa e desenvolvimento podem estar sujeitas à depreciação comum (usando-se o método da linha reta, o do saldo declinante ou qualquer outro método aprovado), à depreciação inicial aumentada ou à depreciação acelerada. A PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 275 depreciação inicial aumentada e a depreciação acelerada são incentivos fiscais disponíveis para certos tipos de maquinaria, instalações, equipamento e prédios. A depreciação inicial acelerada proporciona uma taxa de depreciação mais alta do que a taxa da depreciação comum que, de outra forma, está disponível para o ano durante o qual o ativo é pela primeira vez utilizado. A depreciação acelerada proporciona uma taxa de depreciação acima da taxa da depreciação comum, que, de outra forma, está disponível ao longo de um número especificado de anos. Nos Estados Unidos, os bens de capital tangíveis se depreciam normalmente segundo o Sistema Modificado de Recuperação Acelerada de Custos (MACRS). Nos termos das regras do MACRS, os métodos de depreciação são recomendados para cada classe de bens, e incluem o método de saldo declinante de 200%, o método de saldo declinante de 150% e o método da linha reta. 2) Créditos fiscais ao Investimento De modo semelhante, a concepção e a complexidade dos créditos fiscais a atividades de pesquisa e desenvolvimento variam consideravelmente entre os países do G-7 e na Austrália. Quatro dos países proporcionam tais créditos - o Canadá tem um crédito fiscal baseado no total da despesa com atividades de pesquisa e desenvolvimento; os Estados Unidos e a França têm créditos fiscais baseados na despesa incremental com atividades de pesquisa e desenvolvimento, e o Japão tem três créditos fiscais, um dos quais é baseado na despesa incremental com atividades de pesquisa e desenvolvimento e os outros dois no total da despesa com atividades de pesquisa e desenvolvimento. Os métodos para calcular a despesa incremental com atividades de pesquisa e desenvolvimento diferem cada país que oferece esta forma de crédito fiscal. Também há certas limitações em alguns países na quantidade de créditos fiscais que podem ser ganhos ou usados num ano. A Alemanha, a Itália e o Reino Unido atualmente não concedem créditos fiscais a atividades de pesquisa e desenvolvimento2 6. Atualmente há duas taxas de crédito fiscal ao investimento para atividades de pesquisa e desenvolvimento no Canadá: uma taxa geral de 20% e, para algumas pequenas empresas, uma taxa aumentada de 35% sobre até 2 milhões de dólares de despesas elegíveis. As despesas com equipamento novo usado principalmente para atividades de pesquisa e desenvolvimento (mais de 50% do uso) também se podem qualificar para um crédito fiscal ao investimento correspondente à metade No entanto, de 1991 a 1993, um crédito fiscal regionalmente diferenciado para atividades de pesquisa e desenvolvimento esteve disponível para pequenas e médias empresas na Itália. O anexo contém mais pormenores desta questão. 26 276 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá do crédito normal. Os créditos podem ser usados para reduzir os impostos federais sobre a renda que de outra forma seriam devidos, e os créditos não utilizados podem ser aplicados retroativamente por três anos, ou estendidos por dez anos. Ademais, as pequenas empresas elegíveis para a taxa de crédito fiscal aumentado e as empresas não incorporadas podem obter uma restituição dos créditos não utilizados dentro de um ano. A taxa geral de restituição é de 40% dos créditos fiscais ganhos tanto sobre despesas correntes quanto sobre despesas de capital. No entanto, existe a possibilidade de uma restituição de 100% para créditos ganhos sobre despesas correntes à taxa aumentada. As empresas também podem transferir restituições esperadas de créditos fiscais a cedentes de empréstimos como garantia para financiamentos ponte de suas operações. O valor de créditos fiscais reivindicados num ano reduz o valor das despesas correntes e de capital elegíveis para a dedução do imposto de renda. Nos Estados Unidos, o crédito fiscal é ganho a uma taxa de 20% sobre o valor pelo qual as despesas correntes elegíveis com atividades de pesquisa e desenvolvimento num ano excede um valor base. O valor base é o produto da razão entre a despesa elegível com atividades de pesquisa e desenvolvimento em os valores brutos recebidos no período de 1984 a 1988 (chamada a percentagem base fixada) e a média dos valores brutos recebidos pelo contribuinte nos quatro anos precedentes. Este valor base está sujeito a duas limitações. Em primeiro lugar, a percentagem base fixada não pode exceder 16%. Em segundo, o valor base não pode ser inferior a 50% da despesa elegível do contribuinte com atividades de pesquisa e desenvolvimento no ano. O crédito pode ser usado para reduzir o imposto de renda das empresas que de outra forma seria devido, e os créditos não utilizados podem ser aplicados retroativamente por três anos, ou estendidos por quinze anos. A dedução relativa a despesas correntes elegíveis com atividades de pesquisa e desenvolvimento é reduzida do valor dos créditos incrementais havidos num ano. O crédito fiscal na França é de 50% da despesa elegível com atividades de pesquisa e desenvolvimento num ano que exceda o nível médio de despesa com atividades de pesquisa e desenvolvimento nos dois anos anteriores. Assim, o valor desse crédito fiscal incremental pode ser positivo ou negativo, e há limitações à capacidade de usar os dois tipos. Um crédito positivo pode ser usado para reduzir o lucro da empresa e o imposto de renda que de outro modo seria devido num ano até um máximo de 40 milhões de francos. Para empresas novas, os créditos não utilizados são plenamente restituíveis. Em todos os outros casos, os créditos não utilizados podem ser estendidos por até três anos, sendo que findo este prazo quaisquer créditos não utilizados remanescentes são plenamente restituíveis. A capacidade de deduzir PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 277 Tabela 1 O tratamento tributário das atividades de pesquisa e desenvolvimento nos países do G-7 e na Austrália Canadá Austrália França Alemanha Itália Japão Reino Unido Estados Unidos Dedução do Imposto de Renda despesas correntes: 100% despesas de capital: 100% patamar mínimo de despesa: A$ 20.000 despesas correntes: 125% despesas de capital: 125% ao longo de três anos, pelo método da linha reta despesas correntes: 100% despesas de capital: método da linha reta ou do saldo declinante; alguma aceleração para atividades de pesquisa e desenvolvimento despesas correntes; 100% despesas de capital: método da linha reta ou do saldo declinante despesas correntes: 100% (ou ao longo de cinco anos pelo método da linha reta) despesas de capital: geralmente pelo método da linha reta; alguma aceleração para atividades de pesquisa e desenvolvimento despesas correntes: 100% (ao longo de cinco anos) despesas de capital: comum (linha reta, saldo declinante ou qualquer outro método aprovado), depreciação inicial ou acelerada, alguma aceleração para atividades de pesquisa e desenvolvimento despesas correntes: 100% despesas de capital: 100% despesas correntes: 100% (ou ao longo de cinco anos pelo método da linha reta) despesas de capital: Sistema Modificado de Recuperação Acelerada de Custos (MACRS); alguma aceleração para atividades de pesquisa e desenvolvimento Crédito de Imposto de Renda Base: todas as despesas Taxas: 20% geralmente; 35% para certas pequenas empresas; meia taxa normal para certos equipamentos usados tanto para atividades de pesquisa e desenvolvimento Quanto para outros fins Possibilidade de restituição para certas empresas Retroatividade de três anos, extensão de dez anos dedutíveis: reduz a base para a dedução Não se aplica Base: despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento comparadas com os dois anos anteriores; positiva ou negativa Taxa: 50% Possibilidade de restituição para empresas novas: três anos de extensão/restituição para outras empresas Limites anuais sobre o uso de crédito fiscal Não se aplica Não se aplica Três créditos fiscais para atividades de pesquisa e desenvolvimento; um para as despesas incrementais base para créditos incrementais; a despesa com atividades de pesquisa e desenvolvimento num ano em excesso da maior despesa anual com atividades de pesquisa e desenvolvimento desde 1966 Taxas: 20% crédito geral (incremental); 7% crédito para tecnologias de base; 6% crédito para pequenas e médias Limite anual sobre o uso de créditos fiscais Não se pode estender para o futuro créditos não utilizados Não se aplica Base: a despesa corrente com atividades de pesquisa e desenvolvimento que exceda o produto da razão entre despesa corrente com atividades de pesquisa e desenvolvimento e os valores brutos recebidos no período de 1984 a 1988 e a média dos valores brutos recebidos nos Quatro anos precedentes Taxa; 20% Limites anuais sobre os créditos fiscais ganhos Retroatividade de três anos; extensão de 15 anos Tributável: reduz a base para deduções correntes 278 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento não é afetada pelo valor dos créditos incrementais havidos num ano. Um crédito negativo reduz os valores de créditos fiscais positivos nos anos subseqüentes. No entanto, o valor de crédito negativo estendido não pode ser maior que a soma de créditos fiscais positivos que uma empresa tenha recebido anteriormente. O Japão proporciona três créditos fiscais ligados a atividades de pesquisa e desenvolvimento a empresas: um crédito geral de 20% sobre despesas correntes incrementais e provisões de depreciação para maquinaria, equipamento e prédios para fins de atividades de pesquisa e desenvolvimento; um crédito de 7% para despesas com ativos de capital depreciáveis usados para fins de atividades de pesquisa e desenvolvimento com relação a certas tecnologias básicas, e, para pequenas e médias empresas, um crédito de 6% sobre despesas correntes e provisões de depreciação para maquinaria, equipamento e prédios para fins de atividades de pesquisa e desenvolvimento. A base para o crédito de 20% é o valor pelo qual as despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento num ano excedam o maior valor de despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento em que a empresa tenha incorrido em qualquer ano desde 1966. O crédito de 20% pode ser utilizado para reduzir o imposto da empresa que de outra forma seria devido a um mínimo de 10% do passivo fiscal anual da empresa, e os créditos fiscais incrementais não podem ser estendidos para uso em outros exercícios fiscais. O crédito de 7% para tecnologias básicas é adicional ao crédito fiscal incremental de 20% sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas o valor combinado dos dois créditos não pode exceder 15% do imposto da empresa que de outra forma seria devido. O crédito fiscal de 6% sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento para pequenas e médias empresas só pode ser em lugar do crédito fiscal incremental de 20% sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas junto com o crédito de 7% sobre tecnologias básicas, até um máximo de 15% do imposto da empresa que de outra forma seria devido. A capacidade de deduzir despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento não é afetada pelo valor de créditos fiscais havidos num ano. UMA COMPARAÇÃO INTERNACIONAL DO APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO BASEADO NO IMPOSTO DE RENDA Um estudo recente realizado pela Junta de Conferências do Canadá proporciona uma comparação internacional do apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento baseado no imposto de renda nos países da Warda (1997 e 1998). Warda (1998) inclui uma descrição dos regimes de imposto de renda para atividades de pesquisa e desenvolvimento em cada um dos países e informações adicionais sobre a metodologia empregada. 27 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 279 OCDE. Os sistemas tributários aplicados a atividades de pesquisa e desenvolvimento foram classificados comparando-se a razão custobenefício mínima com a qual um investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento se torna rentável à luz do tratamento concedido a atividades de pesquisa e desenvolvimento pelo sistema de imposto de renda de um país. Especificamente, a razão custo-benefício mínima é o valor atual da renda antes do imposto necessária para cobrir o custo de um investimento inicial em atividades de pesquisa e desenvolvimento e para pagar os impostos sobre a renda aplicáveis. Quanto menor for a razão, maior será o incentivo para as empresas investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Uma razão inferior á unidade significa que os investimentos são subsidiados pelo sistema de imposto de renda27. O estudo mostra que, depois de levar em conta tanto os incentivos federais quanto os provinciais, o tratamento em termos de imposto de renda que o Canadá dispensa aos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento é o mais favorável entre os de todos os países do G-7 e a Austrália (e o segundo mais favorável, depois do da Espanha, entre os dos países da OCDE). A Austrália, que proporciona uma bonificação de dedução de imposto de renda, é o segundo mais favorável. A Alemanha, que não oferece incentivos especiais a atividades de pesquisa e desenvolvimento, é o menos favorável. Cada um dos demais países do G-7 proporciona alguma forma de apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento através do imposto de renda. Os resultados desta comparação para grandes empresas manufatureiras estão reproduzidos no Gráfico 1. Embora a comparação internacional indique um tratamento em termos de imposto de renda muito atraente para investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento no Canadá, a parcela do PIB gasta pelas empresas em atividades de pesquisa e desenvolvimento (BERD) no Canadá é baixo segundo os padrões internacionais. Isto é mostrado no Gráfico 2, que compara as razões BERD/PIB nos países do G-7 e na Austrália. 280 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá Gráfico 1 Uma comparação do apoio prestado a atividades de pesquisa e desenvolvimento através do imposto de renda nos países do G-7 e na Austrália Canadá * Austrália EUA ** França Reino Unido Japão Itália Alemanha -10% -5% 0% 10% 15% 20% 25% 30% Taxa de Subsídios * Para um investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento localizado no Quebec ** Para um investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento localizado na Califórnia Fonte: Warda (1997) Gráfico 2 Razão BERD/PIB nos países do G-7 e na Austrália:1994 Japão EUA Alemanha França Reino Unido Canadá Austrália Itália 0 0,2 BERD como Percentagem do PIB Fonte: OCDE (1997) 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 281 ANEXO O APOIO FISCAL AS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NOS PAÍSES DO G-7 E NA AUSTRÁLIA Este anexo resume elementos chave dos sistemas de imposto de renda existentes para atividades de pesquisa e desenvolvimento nos países do G-7 e na Austrália. Descreve-se, em especial, as deduções de despesas correntes e de capital e quaisquer incentivos adicionais (por exemplo, deduções com bonificações ou créditos fiscais ao investimento) que são atualmente oferecidos nestes países. Quando aplicáveis, incluise disposições especiais relativas, por exemplo, a empresas que não pagam impostos, a empresas menores ou a incentivos regionais. Austrália A concessão tributária relativa a atividades de pesquisa e desenvolvimento na Austrália é uma dedução de imposto de renda correspondente a 125% das despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis2 8. Um contribuinte elegível deve ser uma empresa incorporada na Austrália, um fundo público de comércio ou um parceiro numa associação de empresas elegíveis. 28 A taxa máxima de dedução foi reduzida de 150% para 125% no orçamento australiano de 20 de agosto de 1996. Antes de 24 de julho de 1996, duas ou mais empresas australianas também podiam formar um sindicato para fins de terceirizar ou realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento na Austrália. As atividades de pesquisa e desenvolvimento sindicalizadas eram complementares à concessão fiscal de 150% de então, e as duas modalidades tinham exigências semelhantes a respeito das despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis. Ademais, um sindicato tinha de incorrer em mais de A$ 500.000 em despesas totais com atividades de pesquisa e desenvolvimento para qualificar-se para uma taxa de dedução acima de 100%. A intenção em termos de política por detrás das atividades de pesquisa e desenvolvimento sindicalizadas era permitir que grupos de empresas implementassem projetos de pesquisa e desenvolvimento que ficassem além das possibilidades financeiras de uma única empresa ou que uma única empresa considerasse demasiado arriscados. Normalmente um dos membros do sindicato era uma empresa menor de pesquisa com perdas fiscais que desejava empreender atividades adicionais de pesquisa e desenvolvimento com base em tecnologia preexistente que possuísse. Através da participação num desses sindicatos, essa empresa de pesquisa que não pagava impostos podia licenciar sua tecnologia preexistente e transferir as perdas fiscais relativas à tecnologia preexistente aos investidores empresariais, esses sim contribuintes, do sindicato para obter financiamento para as atividades adicionais de pesquisa e desenvolvimento. Cada investidor empresarial do sindicato podia deduzir seu quinhão proporcional das despesas elegíveis de pesquisa e desenvolvimento ao calcular sua renda tributável. A taxa de dedução para despesas relativas à tecnologia preexistente era de 100%; a taxa para despesas adicionais com atividades de pesquisa e desenvolvimento variava de 100% a 150%, sendo a taxa mais alta a aplicável a investimentos de risco pleno. As solicitações de dedução podiam ser feitas até 13 meses antes da realização da despesa. Com base em disposições que criavam isenções ligadas a situações preexistentes para agrupamentos de empresa deste tipo já existentes, o programa de pesquisa e desenvolvimento sindicalizado for terminado em 23 de julho de 1996. 282 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá A definição de pesquisa e desenvolvimento elegível geralmente se baseia na definição da OCDE de atividades de pesquisa e desenvolvimento2 9. A fim de ser elegíveis, as atividades de pesquisa e desenvolvimento necessitam seja da presença de um elemento apreciável de novidade, seja a resolução de incerteza científica ou técnica através de um programa de atividades sistemáticas, investigativas e experimentais. Ademais, o trabalho deve basear-se em princípios das ciências físicas, biológicas, químicas, médicas, de engenharia ou de computação. Além disso, as atividades de pesquisa e desenvolvimento devem satisfazer a regras relativas a um certo conteúdo australiano que têm a ver com o pessoal chave e os itens mais importantes das instalações e do equipamento, e os resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento devem ser explorados em termos comerciais normais e para beneficiar a economia australiana. Um patamar anual mínimo de A$ 20.000 normalmente deve ser obedecido para que as despesas com pesquisa e desenvolvimento se qualifique para a concessão fiscal30. As despesas elegíveis com atividades de pesquisa e desenvolvimento incluem as despesas correntes de custos e de capital incorridas com instalações e maquinaria e com instalações piloto que sejam utilizados exclusivamente para atividades de pesquisa e desenvolvimento31. As despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento são dedutíveis a uma taxa de 125% no ano em que são realizadas. As despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento podem ser deduzidas ao longo de três anos segundo o método da linha reta. As despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas fora da Austrália também são elegíveis, se o valor de tais despesas não exceder 10% das despesas elegíveis para a totalidade do projeto de pesquisa e desenvolvimento a elas ligado. Há, no entanto, diferenças entre as duas. Por exemplo, na Austrália, certas atividades como testes e coleta de dados rotineiros e pesquisas de mercado e promoção de vendas são elegíveis se estiverem diretamente relacionados com uma atividade central elegível. Ademais, o desenvolvimento de software para comutadores é elegível se o software for desenvolvido para venda, mas não é elegível se for desenvolvido exclusivamente para uso interno na empresa. 29 O patamar não se aplica a pagamentos contratuais feitos a uma Agência Registrada de Pesquisa. O uso dessas agências permite que os contribuintes com solicitações menores tenham acesso às concessões de 125% para atividades de pesquisa e desenvolvimento. 30 As despesas de capital incorridas na construção ou reconstrução de prédios normalmente são dedutíveis nos termos do sistema normal de depreciação ao longo de um período de 40 anos, segundo o método da linha reta. Os juros e as despesas ligados à aquisição de tecnologia preexistente para fins das atividades de pesquisa e desenvolvimento do próprio contribuinte são dedutíveis a uma taxa de 100% 31 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 283 CANADÁ O regime federal de imposto de renda para atividades de pesquisa e desenvolvimento no Canadá consiste de deduções do imposto de renda e de créditos fiscais ao investimento para despesas elegíveis, correntes e de capital. O contribuinte para ser elegível deve ser uma empresa que realize atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis no Canadá. A definição de atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis é consistente com a definição internacionalmente aceita usada pela OCDE e inclui a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental. Algum trabalho de apoio também pode ser elegível quando tal trabalho estiver ligado às necessidades da pesquisa básica, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental e apoiar diretamente essas atividades. Também há algum tipo de trabalho que é excluído da definição de atividades de pesquisa e desenvolvimento para fins de imposto de renda - geralmente porque não é considerado como pesquisa e desenvolvimento de acordo com a definição da OCDE32. As despesas correntes elegíveis incluem: vencimentos ou salários de empregados diretamente envolvidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento; o custo do material consumido em atividades de pesquisa e desenvolvimento; custos de aluguel relativos a maquinaria e equipamento usado no todo ou de forma substancial (90% ou mais) para atividades de pesquisa e desenvolvimento; despesas incorridas nos termos de vários tipos de contrato e custos de manutenção e administrativos. As despesas de capital elegíveis geralmente consistem de despesas com maquinaria e equipamento que sejam usados ou consumidos no todo ou substancialmente na realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento no Canadá. No entanto, nem todas as despesas corrente e de capital são elegíveis. Por exemplo, as despesas de capital com a aquisição de terra ou de prédios (que não sejam prédios altamente especializados para fins de atividades de pesquisa e desenvolvimento)33, e as despesas correntes ligadas a pagamentos correlatos de aluguel ou arrendamento não são despesas de pesquisa e desenvolvimento permissíveis. Também estão excluídas as despesas incorridas com a O trabalho de apoio elegível consiste de trabalho relacionado com engenharia, desenho, pesquisa de operações, análise matemática, programação de computadores, coleta de dados, teste e pesquisa psicológica. O trabalho excluído consiste de pesquisa de mercado ou promoção de vendas; controle de qualidade ou testes rotineiros de materiais, aparelhos, produtos ou processos; pesquisa nas ciências sociais ou humanas; prospeção, exploração ou perfuração ligadas à busca ou à produção de minerais, petróleo ou gás natural; a produção comercial de um material, aparelho ou produto novo ou melhorado ou do uso comercial de um processo novo ou melhorado; mudanças de estilo ou a coleta rotineira de dados. 32 As despesas de capital com prédios normalmente são dedutíveis nos termos o sistema normal de depreciação, a uma taxa de 4% ao ano, segundo o método do saldo declinante. . 33 284 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá aquisição de direitos sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento ou delas decorrentes. As despesas correntes e de capital elegíveis são totalmente dedutíveis; as despesas que não são deduzidas num ano podem ser transferidas indefinidamente. Há duas taxas de crédito fiscal ao investimento para atividades de pesquisa e desenvolvimento: uma taxa geral de 20% e, para algumas pequenas empresas34, uma taxa aumentada de 35% sobre até 2 milhões de dólares de despesas elegíveis. As despesas com equipamento novo utilizado tanto para atividades de pesquisa e desenvolvimento quanto para outros fins também podem qualificar-se para um crédito fiscal ao investimento correspondente à metade do crédito normal. Os créditos fiscais ao investimento podem ser utilizados para reduzir impostos federais sobre a renda que de outra forma seriam devidos. Os créditos fiscais que não são utilizados no ano em que são adquiridos podem ser aplicados retroativamente por três anos ou estendidos para o futuro por dez anos. Ademais, empresas menores elegíveis para a taxa aumentada de crédito fiscal em empresas não incorporadas podem obter a restituição de créditos não utilizados adquiridos num ano. A taxa geral de restituição é de 40% para créditos ficais adquiridos por conta de despesas correntes e de capital. No entanto, há a possibilidade de uma restituição de 100% para créditos fiscais adquiridos sobre despesas correntes à taxa aumentada. As empresas também podem transferir restituições esperadas de créditos fiscais a cedentes de empréstimos como garantia para financiamentos ponte para suas operações. Essas transferências, contudo, não são vinculantes para a Coroa. França As despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento são plenamente dedutíveis na França. A depreciação segundo o método da linha reta é o regime normal de depreciação para ativos de capital, e é calculada em termos proporcionais para o primeiro ano de tributação. As taxas de depreciação segundo o método da linha reta não são estabelecidas na legislação tributária e variam segundo o tipo de ativo e segundo a vida útil normal do ativo, segundo o uso de cada setor da indústria, área do comércio ou empresa. As taxas de linha reata para maquinaria geralmente variam de 10% a 20%, e para instalações de 10% a 15%. A taxa de linha reta para patentes, materiais e software de 34 Especificamente empresa privadas com controle canadense com renda tributável no ano anterior inferior a 400.000 dólares e com capital tributável empregado no Canadá no ano anterior inferior a 15 milhões de dólares. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 285 computador é de 20%3 5. A depreciação segundo o método do saldo declinante é um sistema opcional para certos ativos de capital, inclusive maquinaria, material e equipamento para atividades de pesquisa e desenvolvimento que tenham vida útil de pelo menos três anos. As taxas de depreciação do método do saldo declinante correspondem a: uma e meia vez a taxa de linha reta para ativos com uma vida útil normal de três a quatro anos; duas vezes a taxa de linha reta para ativos com uma vida útil normal de cinco a seis anos e duas e meia vezes vez a taxa de linha reta para ativos com uma vida útil normal de mais de seis anos. Os custos de prédios industriais geralmente são suscetíveis de depreciação a uma taxa de 5% segundo o método da linha reata. A França também concede um crédito fiscal incremental para despesas elegíveis com atividades de pesquisa e desenvolvimento por parte de empresas. A definição de atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis baseia-se em grande medida na definição da OCDE de atividades de pesquisa e desenvolvimento e inclui a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental. As despesas elegíveis incluem salários e benefícios, custos operacionais, certos pagamentos contratuais, custos de patentes e provisões de depreciação com relação a bens de capital, inclusive prédios. A taxa do crédito fiscal incremental é de 50%. A base do crédito é o valor pelo qual as despesas elegíveis com atividades de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa num ano exceder seu nível médio de despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento, ajustadas em função da inflação para os dois anos anteriores. O valor do crédito fiscal incremental pode ser positivo ou negativo. Um crédito positivo pode ser usado para reduzir o lucro da empresa e o imposto sobre a renda que de outra forma seria devido no ano, até um máximo de 40 milhões de francos, e não é tributável. Para empresas novas, os créditos não utilizados são suscetíveis de restituição total. Em todos os demais casos, os créditos não utilizados podem ser estendidos para o futuro por até três anos, e ao fim deste prazo quaisquer créditos não utilizados remanescentes se tornam totalmente restituíveis. Um crédito negativo reduz os créditos fiscais positivos nos anos subseqüentes. No entanto, o valor dos créditos negativos estendidos para o futuro não podem ser superiores à soma dos créditos positivos que a empresa tenha recebido anteriormente. Alemanha Na Alemanha, as despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento são plenamente dedutíveis ao calcular-se a renda tributável. As despesas de capital com atividades de pesquisa e 35 Em certos casos excepcionais, o software de computador pode ser plenamente depreciado ao longo de 12 meses. 286 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá desenvolvimento estão sujeitas ao mesmo tratamento dispensado a outros ativos suscetíveis de depreciação. As taxas de depreciação variam segundo categorias de ativos, e os ativos de capital geralmente podem ser depreciados utilizando-se o método da linha reta ou o do saldo declinante. A taxa de linha reta legal de depreciação para maquinaria é de 10%; para computadores de 20% e para patentes varia de 14% a 20%. As taxas correspondentes para a depreciação calculada pelo método do saldo declinante são de até três vezes a taxa permissível de linha reta, até um máximo de 30% ao ano. Os custos de prédios novos são suscetíveis de depreciação somente a uma taxa de 4% segundo o método da linha reta. Não há incentivos adicionais disponíveis para empresas que realizem atividades e pesquisa e desenvolvimento na Alemanha. Itália As despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento na Itália podem ser totalmente deduzidas no ano em que são incorridas ou amortizadas segundo o método da linha reta ao longo de um máximo de cinco anos. As despesas de capital geralmente são suscetíveis de depreciação segundo o método da linha reta, sujeitas à regra do meio ano, e as taxas de depreciação variam segundo categorias de ativos. As despesas com maquinaria e equipamento geralmente se depreciam ao longo de um período de 10 anos e os custo de construção ao longo de 33 anos. As empresas também podem solicitar depreciação acelerada com relação a despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento. Especificamente, essas despesas são depreciáveis à taxa legal no primeiro ano de tributação, e a uma taxa até o dobro da taxa legal no segundo e no terceiro ano de tributação. A base de capital não depreciada pode então ser deduzida segundo o método da linha reta ao longo do restante da vida do ativo. Atualmente não há incentivos adicionais disponíveis para empresas que realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento na Itália3 6. 36 No entanto, para o período de três anos entre 1991 e 1993, estiveram disponíveis na Itália créditos fiscais para despesas correntes e de capital ligadas a atividades de pesquisa e desenvolvimento incorridas por pequenas e médias empresas, i.e., empresas com menos de 200 empregados e que operassem com um capital de menos de 20 bilhões de liras. As taxas de crédito eram, geralmente, de 30%, e de 45% para empresas que operassem em áreas de economia deprimida do país. O valor do crédito fiscal que uma empresa podia solicitar num ano fiscal também era limitado a um máximo de 500 milhões de liras, de um modo geral, e de 750 milhões de liras para empresas que operassem em áreas de economia deprimida. O crédito podia ser utilizado para reduzir o imposto de renda, os impostos locais ou o IVA que de outra forma seria devido. Ademais, pequenas e médias empresas iniciantes em campos de tecnologia inovadora (por exemplo, tecnologia da informação, materiais avançados, o meio ambiente e a biotecnologia) tinham direito a um crédito fiscal idêntico para os três primeiros anos após o início de suas operações, mas, com relação a custos estruturais gerais, i.e., custos não necessários ligados somente a atividades de pesquisa e desenvolvimento. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 287 Japão No Japão, as despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento são plenamente dedutíveis no ano em que são realizadas, ou podem ser amortizadas ao longo de um período de não menos de cinco anos. As despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento podem estar sujeitas à depreciação comum, à depreciação inicial aumentada ou à depreciação acelerada. As deduções são permitidas para ativos de capital que custem menos de 200.00 ienes. A depreciação comum é possível para todos os ativos tangíveis, afora a terra, e para certos ativos intangíveis tais como patentes, direitos autorais e marcas registradas. Geralmente baseia-se na vida útil legal do ativo. Os métodos de cálculo para a depreciação comum incluem o da linha reta, o do saldo declinante ou qualquer outro método aprovado. O valor da provisão é calculado proporcionalmente no ano em que as despesas são realizadas37. A depreciação inicial aumentada e a depreciação acelerada são incentivos fiscais disponíveis para certos tipos e maquinaria, instalações, equipamento e prédios. Essas medidas especiais de depreciação têm a finalidade de ajudar a atingir uma variedade de objetivos de política, inclusive o do apoio a atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas em certas regiões ou por certos tipos de empresa. A depreciação inicial aumentada proporciona uma taxa de depreciação mais alta do que a da depreciação comum de outra forma disponível para o ano em que os ativos são utilizados pela primeira vez3 8. A depreciação acelerada proporciona uma taxa de depreciação acima da taxa de depreciação comum que de outra forma estaria disponível durante um número específico de anos. O Japão concede três diferentes tipos de crédito fiscal a empresas para atividades de pesquisa e desenvolvimento: um crédito geral de 20% para despesas incrementais; um crédito de 7% para tecnologias básicas e um crédito de 6% para pequenas e médias empresas. Nenhum dos A vida útil legal, por exemplo, de prédios de concreto reforçado (para escritórios) é de 65 anos, de computadores de seis anos, e de direitos de patente de oito anos. O método do saldo declinante deve ser usado para ativos tangíveis nos casos em que a empresa não informe o método escolhido. As taxas normais de depreciação são de 18% para maquinaria com base no critério do saldo declinante, e de entre 1,5% e 2% para prédios, com base no critério da linha reta. 37 Por exemplo, as taxas de depreciação inicial aumentada para certos prédios e para certos tipos de maquinaria e equipamento usados para atividades de pesquisa e desenvolvimento por pequenas empresas são de 8% e de 30%, respectivamente. Certos tipos de maquinaria e equipamento usados para empresas de alta tecnologia estabelecidas em áreas de tecnópolis são elegíveis para uma taxa de 30% de depreciação inicial aumentada. 38 288 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá créditos fiscais para atividades de pesquisa e desenvolvimento é tributável. Para qualificar-se para o crédito fiscal incremental de 20% as atividades de pesquisa e desenvolvimento devem ser realizadas a fim de fabricar produtos ou para melhorar, conceber ou inventar técnicas de produção. As despesas elegíveis consistem das despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento (isto é, vencimentos e salários de empregados que se ocupem exclusivamente de atividades de pesquisa e desenvolvimento, o custo de materiais e despesas correlatas) e provisões de depreciação para maquinaria para atividades de pesquisa e desenvolvimento, equipamento e prédios. A base de crédito corresponde ao valor pelo qual a despesa com atividades de pesquisa e desenvolvimento num ano exceder o maior valor de despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento incorridas pela empresa em qualquer ano desde 1966. O crédito pode ser usado para reduzir os impostos da empresa que de outra forma seriam devidos até um máximo de 10% do passivo tributário anual da empresa. Os créditos fiscais incrementais não utilizados não podem ser estendidos para utilização em outros exercícios fiscais. O crédito fiscal de 7% para tecnologias básicas é adicional ao crédito fiscal incremental de 20% para atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas o valor combinado dos dois créditos não pode exceder 15% dos impostos que a empresa de outra forma teria de pagar. O crédito se aplica a despesas com ativos de capital suscetíveis de depreciação usados para atividades de pesquisa e desenvolvimento com relação a certas tecnologias básicas. Essas são: robôs avançados e maquinaria avançada; processos avançados; eletrônica avançada; biotecnologia e tecnologia de novos materiais. O crédito fiscal de 6% para pequenas e médias empresas só pode ser usado no lugar do crédito fiscal incremental de 20% para atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas juntamente com o crédito fiscal de 7% para tecnologias básicas, até um máximo de 15% dos impostos que a empresa de outra forma teria de pagar. As despesas elegíveis são as .mesmas às quais se aplica o crédito fiscal incremental de 20% para atividades de pesquisa e desenvolvimento. As pequenas e médias empresas são definidas como as que têm um capital de 100 milhões de ienes ou menos, ou que têm menos de 1.000 empregados. Reino Unido O Reino Unido oferece incentivos fiscais especiais à pesquisa científica. A definição de atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis baseia-se em grande medida na definição da OCDE de PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 289 atividades de pesquisa e desenvolvimento39. As despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento são plenamente dedutíveis da renda tributável no ano em que são realizadas. As despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento também são plenamente dedutíveis se a pesquisa científica for especificamente ligada ao comércio ou se os recursos financeiros são pagos a uma instituição de pesquisa científica 4 0. As despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento que estejam vinculadas ao comércio, e que não sejam o custo da aquisição de terra, também podem ser elegíveis para uma dedução de 100%. Estados Unidos Nos termos da lei federal4 1, certas despesas correntes com atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas por um contribuinte ou em seu nome podem ser totalmente deduzidas no ano em que são realizadas ou amortizadas ao longo de um período de não menos de 60 meses, a começar no mês no qual o contribuinte pela primeira vez aufere lucros a partir de tais despesas. Para ser elegível, a despesa deve ter sido realizada em relação a um comércio ou negócio do contribuinte e ter ligação com atividades de pesquisa e desenvolvimento no sentido experimental ou laboratorial da expressão (ou seja, ligação com atividades que tenham a finalidade de descobrir informações que eliminariam a incerteza com relação ao desenvolvimento ou melhoria de um produto). Existe incerteza se as informações disponíveis paras o contribuinte não estabelecem a capacidade ou o método para desenvolver ou melhorar o produto, ou o desenho adequado do produto. O termo produto inclui qualquer modelo piloto, processo, fórmula, invenção, técnica, patente ou bem semelhante. A despesa relativa a vários tipos de atividades de pesquisa e desenvolvimento não é elegível - especialmente a despesa ligada a: testes de controle de qualidade; levantamentos de eficiência; estudos de gestão; levantamentos junto a consumidores; propaganda ou promoção; pesquisa histórica ou literária e a aquisição de patente, modelo, produção ou processo de outrem. São também inelegíveis as despesas incorridas com a aquisição ou a melhoria de terras, a exploração de petróleo ou Por exemplo, as atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis no Reino Unido devem incluir uma porção substancial de inovação, em vez de simplesmente o desenvolvimento de produtos. No entanto, a definição do Reino Unido tende mais para a ciência pura e para a ciência aplicada, e exclui as ciências sociais. 39 40 As associações e órgãos de pesquisa científica aprovados ligados a universidades estão isentos de impostos empresariais. Alguns estados norte-americanos também oferecem várias formas de apoio tributário a atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas esses mecanismos não são discutidos neste documento. 41 290 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá gás, e bens suscetíveis de depreciação ou de destruição utilizados em trabalho experimental. Os bens de capital tangíveis se depreciam normalmente nos termos do o Sistema Modificado de Recuperação Acelerada de Custos (MACRS). Nos termos das regras gerais do o Sistema Modificado de Recuperação Acelerada de Custos, os métodos de depreciação são recomendados para cada classe de bens, e incluem o método do saldo declinante de 200%, o método do saldo declinante de 150% e o método da linha reta. O número de anos ao longo do qual um ativo se pode depreciar também é recomendado para cada classe de bens. Convenções para o estabelecimento de médias (meio ano, meio do trimestre, meio do mês, conforme o caso) são usadas para calcular as deduções de MACRS para o ano fiscal no qual o bem é colocado em serviço e o ano fiscal em que se o aliena42. O governo federal também proporciona um crédito de imposto de renda de 20%, não restituível, para certas despesas incrementais com atividades de pesquisa e desenvolvimento incorridas no âmbito de um comércio ou negócio existente do contribuinte43. As atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis são aquelas elegíveis para a dedução de 100%, realizadas com a finalidade de descobrir informações de natureza tecnológica e que se pretende sejam úteis no desenvolvimento de um componente novo ou melhorado de uma empresa do contribuinte, e substancialmente todas as atividades que constituem elementos de um processo de experimentação destinado a conseguir função, desempenho, confiabilidade ou qualidade novos ou melhorados. Se as atividades de pesquisa e desenvolvimento se basearem fundamentalmente em princípios das ciências físicas ou biológicas, da engenharia ou da ciência da computação, considera-se que as novas informações tenham natureza tecnológica44. O processo de experimentação deve envolver a avaliação As despesas de capital com atividades de pesquisa e desenvolvimento, para fins de aquisição de maquinaria e equipamento geralmente se depreciam ao longo de cinco anos, utilizando-se o método do saldo declinante de 200%; custos de construção ao longo de 39 anos com base no método da linha reta. 42 Este crédito se aplica a despesas incorridas entre 1º de julho de 1996 e 31 de maio de 1997. Não houve disponibilidade de crédito fiscal para despesas com atividades de pesquisa e desenvolvimento incorridas entre 1º de julho de 1995 e 30 de junho de 1996. No entanto, vários créditos fiscais incrementais também estiveram disponíveis, cada um em base temporária e sujeito a diferentes taxas e regras, de 1º de julho de 1981 a 30 de junho de 1995. 43 O desenvolvimento de software de computador é elegível se resultar em programas ou procedimentos informáticos novos ou significativamente melhorados. Ademais, todavia, o desenvolvimento interno de software de computador deve ser usado em atividades de pesquisa e desenvolvimento elegíveis, realizadas pelo contribuinte, ou num processo de produção que atenda às exigências necessárias à obtenção do crédito. Considerações adicionais no caso de desenvolvimento interno de software de computador incluem a de se o software é inovador e se não está disponível comercialmente, e se o desenvolvimento do software em questão envolve substancial risco econômico. 44 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 291 de mais de uma alternativa concebida para atingir um resultado nas quais os meios para atingir tal objetivo sejam incertos no início do processo. As atividades de pesquisa e desenvolvimento e as despesas que sejam inelegíveis para a dedução de 100% também serão inelegíveis para o crédito fiscal incremental. Ademais, as atividades de pesquisa e desenvolvimento não se qualificam para o crédito fiscal incremental, se forem: pesquisa realizada fora dos Estados Unidos; pesquisa nas ciência sociais, nas artes ou nas ciências humanas; pesquisa financiada por outra pessoa ou por órgão governamental através de doação ou de contrato; pesquisa conduzida após a produção comercial e pesquisa conduzida para a adaptação ou a duplicação de um componente empresarial existente. As despesas inelegíveis consistem de salários de empregados envolvidos em atividade de pesquisa, custos de suprimentos utilizados na pesquisa, pagamentos a terceiros pelo uso de tempo de computador em pesquisa qualificada, 655 do valor de pagamentos contratuais por atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas em nome do consumidor e 75% dos valores pagos a consórcio de pesquisa qualificado por atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas em nome do consumidor e um ou mais contribuintes não ligados à atividade suscetível de dedução fiscal. O crédito também se aplica a valores pagos ou a despesas incorridas por uma empresa para pesquisa básica feita por faculdades, universidades e outras organizações qualificadas, na medida em que tais valores excedam certos valores relativos a períodos base. A base para o crédito fiscal incremental é o valor pelo qual a despesa elegível com atividades de pesquisa e desenvolvimento num ano exceder um valor base. O valor base é o produto da razão entre a despesa elegível com atividades de pesquisa e desenvolvimento e os valores brutos recebidos no período de 1984 a 1988 (ou seja, a percentagem básica fixada) e a média dos valores brutos recebidos pelo contribuinte nos quatro anos anteriores4 5. No entanto, a percentagem de base fixada não pode exceder 16%. Além disso, o valor de base não pode ser inferior a 50% da despesa elegível do contribuinte com atividades de pesquisa e desenvolvimento no ano em curso. O crédito pode ser utilizado para reduzir os impostos sobre a renda que de outra forma seriam devidos pela empresa, e os créditos não utilizados podem ser aplicados retroativamente por três anos ou estendidos para o futuro por 15 anos. Existem regras especiais para empresas iniciantes. Há regras diferentes para calcular o valor do período base relativo a pesquisa básica realizada por universidades e outras organizações qualificadas. 45 292 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá A dedução para despesas correntes elegíveis com atividades de pesquisa e desenvolvimento é reduzida pelo valor do crédito incremental havido num ano. BIBLIOGRAFIA Aghion, Phillipe e Peter Howitt (1992) A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, volume 60, nº 2 (março). Governo Australiano (1996) Budget Statement Nº 2. Budget 1996/97, Tesoureiro e Ministro das Finanças. Canberra: Australian Government Publishing Service, 20 de agosto. Baily, Martin N. e Robert Z. Lawrence (1992) Tax Incentives for R&D: What the Data Tell Us?, estudo encomendado pelo Conselho sobre Pesquisa e Tecnologia, janeiro. Bernstein, Jeffrey I. (1994) International R&D Spillovers Between Industries in Canada and the United States, documento de trabalho nº 3, Industry Canada, setembro. Bernstein, Jeffrey I. e Pierre Mohnen (1994) International R&D Spillovers Between US and Japanese R&D Intensive Sectors, documento de trabalho nº 4682, National Bureau of Economic Research, março. Bernstein, Jeffrey I. e Xiaoyi Yan (1995) International R&D Spillovers Between Canadian and Japanese Industries, documento de trabalho nº 5401, National Bureau of Economic Research, dezembro. Coe, David T. e Elhanan Helpman (1993) International R&D Spillovers, documento de trabalho nº 4444, National Bureau of Economic Research, agosto. Ministério da Fazenda e da Receita do Canadá (1997) The Federal System of Income Tax Incentives for Scientific Research and Experimental Development: Evaluation Report. Dezembro. Ministério da Indústria, da Tecnologia, do Desenvolvimento Regional, da Pesquisa Industrial e Junta do Desenvolvimento, Austrália (1994) Guide to Benefits: 150% R&D Tax Incentive, edição revista. Canberra: Serviço de Publicações do Governo Australiano. Fortin, Pierre e Elhanan Helpman (1995) Endogenous Innovation and Growth: Implications for Canada, documento ocasional nº 10, Industry Canada, agosto. Greliches, Zvi (1994) Productivity, R&D and the Data Constraint, American Economic Review, volume 84, nº 1 (março). Grossman, Gene M. e Elhanan Helpman (1991) Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, Massashusetts: MIT Press. Henderson, Rebecca e Iain Cockburn (1993) Scale, Scope and Spillovers: The Determinants of Research Productivity in the Pharmaceutical Industry, documento de trabalho nº 4466, National Bureau of Economic Research, setembro. Himmelberg, Charles P. e Bruce C. Peterson (1994) R&D and International Finance: A Panel Study of Small Firms in Hightech Industries, Review of Economics and Statistics. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 293 Levin, R. A. Klevorick, R. Nelson e S. Winter (1987) Appropriating Returns from Industrial Research and Development, in M. Baily e C. Winston, editores, Brookings Papers on Economic Activity. Washington: The Brookings Institution. Lucas, Robert E. Jr. (1988) On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, volume 22, nº 1 (julho). Mansfield, Edwin (1986) The R&D Tax Credit and Other Technology Policy Issues, American Economic Review, volume 76, nº 2 (maio). McFetridge, Don G. (1995) Science and Technology: Perspectives for Public Policy, documento ocasional nº 9, Industry Canada, julho. McFetridge, Don G. e Jacek P. Warda (1983) Canadian R&D Incentives: Their Adequacy and Impact, Canadian Tax Paper nº 70. Toronto: Canadian Tax Foundation, fevereiro. Mohnen, Pierre (1992) The Relationship Between R&D and Productivity Growth in Canada and Other Major Industrialised Countries, estudo encomendado pelo Conselho Econômico do Canadá. Ottawa: Canada Communication Group. Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento - OCDE (1994) Frascati Manual 1993 - The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development. Quinta edição. Paris: OCDE. Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento - OCDE (1997) Main Science and Technology Indicators, nº 2. Paris: OCDE. Romer, Paul M. (1994) The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives, volume 8, nº 1 (inverno). Romer, Paul M. (1990) Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, volume 98, nº 5 pt 2 outubro. Romer, Paul M. (1986) Increasing Returns and Long-Run Growth Journal of Political Economy, volume 94, nº 5 (outubro). Solow, Robert M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, volume 70, fevereiro. Statistics Canada (1997) Service Bulletin: Science Statistics. Catálogo 88-001-xpb, volume 21, nº 8, agosto. Warda, Jacek P. (1994) Canadian R&D Tax Treatment: An International Comparison, relatório nº 125-94, The Conference Board of Canada, junho. Warda, Jacek P. (1998) R&D Tax Incentives in OECD Countries: How Canada Compares, resumo para os membros 190-97, The Conference Board of Canada, janeiro. Warda, Jacek P. (1998) Fiscal Measures to Promote R&D and Innovation: An Overview of Policies in the OECD Countries, relatório preparado para a Diretoria para a Ciência, a Tecnologia e a Indústria, OCDE, a ser publicado. 294 Ministério das Finanças e da Receita do Canadá Documentos PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 295 A lei sobre inovação e pesquisa para promover a criação de empresas inovadoras de tecnologia (*) OBJETIVOS E CONTEXTO DA LEI A Lei sobre inovação e pesquisa de 12 de julho de 1999 promove a transferência de pesquisas financiadas pelo setor público para a indústria e a criação de empresas inovadoras. A França tem recursos consideráveis em termos de ciência e tecnologia, mas a combinação dessas descobertas devidas à pesquisa com aplicações industriais é realizada com menos facilidade do que em outros países industrializados. As dificuldades nessa colaboração podem ser vistas tanto em termos das estruturas, na dificuldade em estabelecerse parcerias eficazes entre estabelecimentos de pesquisa e empresas, quanto em termos humanos, no baixo nível de contato entre pesquisadores e o mundo econômico. Assim, embora a experiência mostre que a utilização econômica dos resultados da pesquisa é um fator básico do dinamismo da economia, o número de empresas criadas a cada ano utilizando os resultados de pesquisa financiada pelo setor público permanece demasiado baixo. São, entretanto, essas empresas que têm o mais forte potencial para crescimento. A finalidade da Lei sobre Inovação e Pesquisa é reverter esta tendência e proporcionar um contexto legal que fomente a criação de empresas inovadoras de tecnologia, sobretudo por parte de pessoas jovens, sejam eles pesquisadores, estudantes ou empregados. AS QUATRO SEÇÕES DA LEI 1. A mobilidade dos pesquisadores em direção à indústria. 2. A cooperação entre estabelecimentos de pesquisa do setor público e as empresas. 3. O quadro geral fiscal para empresas inovadoras. (*) Lei Nº 99587, de 12 de julho de 1999, publicada no Diário Oficial da França de 13 de julho de 1999. Este trabalho procura apresentar de modo sintético e organizado esse dispositivo legal criado pelo Governo Francês com o objetivo de incentivar a inovação tecnológica no país. 296 Ministério da Educação da França 4. O quadro geral jurídico para empresas inovadoras. A MOBILIDADE DOS PESQUISADORES EM DIREÇÃO À INDÚSTRIA A criação de uma empresa Pesquisadores, professores-pesquisadores, engenheiros, jovens doutores, funcionários técnicos e administrativos agora podem envolverse na criação de uma empresa para explorar seu trabalho de pesquisa. Eles estão autorizados a participar como sócios ou como gerentes da nova empresa, durante um período de tempo ao cabo do qual eles podem escolher entre voltar ao setor público ou deixá-lo para permanecer na empresa. Durante esse período, e por um prazo máximo de seis anos, eles são estagiários, mantendo sua situação de funcionários públicos. A lei, portanto, permite que a organização de origem pague o salário do criador da empresa durante a fase inicial de suas atividades, e evita que aqueles que se envolvam no lançamento de uma empresa sejam penalizados em termos de suas carreiras no terreno da pesquisa. Um contrato define as ligações entre a empresa e o estabelecimento de pesquisa cujo trabalho está sendo explorado. Consultas: O Apoio Científico Os funcionários de pesquisa prestam seu apoio científico a empresas que estejam desenvolvendo seu trabalho, enquanto permanecem no setor público. A Contribuição ao capital de uma empresa A Lei permite que qualquer funcionário de pesquisa contribua ao capital de uma empresa que esteja desenvolvendo seu trabalho de pesquisa. A participação acionária pode ser de até 15% do capital da empresa. O funcionário concorda, em troca, em não participar de quaisquer negociações entre a organização competente e sua empresa. Atuar como Diretor na Diretoria Os pesquisadores e professores-pesquisadores podem ser membros de órgãos gerenciais de empresas. A quem deve-se fazer solicitações? A solicitação deve ser apresentada à autoridade (organização, universidade, etc.)a qual estiverem vinculadas os pesquisadores. A autoridade deve, então, notificar, para fins de aprovação, o Comitê de Ética do Setor Público do Estado. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 297 A COOPERAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE PESQUISA DO SETOR PÚBLICO E AS EMPRESAS A criação de incubadoras de empresas Estabelecimentos de educação superiores e de pesquisa podem estabelecer incubadoras, com a finalidade de prover locais, equipamento e material para aqueles que esperam criar empresas ou para empresas novas. Esta medida estimula especialmente a criação de empresas de alta tecnologia por parte de pessoal de pesquisa e de estudantes. O desenvolvimento de serviços para a exploração do trabalho de pesquisa As universidades e os institutos de pesquisa podem criar serviços empresariais industriais e comerciais para gerenciar seus contratos de pesquisa com empresas ou com outros órgãos do setor público. Esses serviços também podem cobrir atividades tais como o gerenciamento de patentes, prestação de serviços e atividades editoriais. Foram implementadas regras orçamentárias e contábeis mais flexíveis, que permitem realizar essas atividades de maneira empresarial e também o recrutamento de pessoal contratado. A simplificação das formalidades administrativas e da gestão de contratos A lei simplifica a criação de subsidiárias e de Agrupamentos de Interesse Econômico (GIPs), que reúnem institutos de pesquisa, universidades e empresas. Além disso, as instituições de ensino superior poderão agora fazer contribuições a serviço de assistência de saúde e de previdência para seu pessoal contratado; esta medida, que passa por cima das associações, tem o objetivo de melhorar a proteção social dos funcionários. A Lei também esclarece o quadro jurídico para as convenções entre escolas tecnológicas e profissionais e empresas para permitir que essas últimas obtenham maiores vantagens a partir do potencial tecnológico desses estabelecimentos. Finalmente, contratos plurianuais entre o Estado e estabelecimentos de pesquisa do setor público facilitarão ainda mais a transferência de tecnologia. QUADRO GERAL FISCAL PARA EMPRESAS INOVADORAS A liberalização do esquema BSPCE A Lei liberaliza o esquema de garantias acionárias dos fundadores de empresas (BSPCE, Bons de Souscription de Parts de Créateur dEntreprise 2 ), de modo que todas as empresas novas e em expansão estejam cobertas. O esquema, que permite a compra de ações numa empresa a preço 298 Ministério da Educação da França previamente fixado, é restrito a empresas criadas há menos de 15 anos. A lei sobre inovação e pesquisa reduziu de 75% para 25% a fração do capital da empresa que deve ser detida por pessoas físicas quando as garantias são emitidas. A Lei também estende o benefício do BSPCE a empresas registradas no novo mercado. A liberalização do sistema FCPI O esquema do fundo de investimentos na inovação (FCPI - Fonds Communs de Placement dans linnovation 3 ) também foi mais aprimorado a fim de permitir que esses fundos possam investir em todas as empresas inovadoras. Esses fundos, que atraem poupanças pessoais para novas empresas inovadoras através de incentivos fiscais, podem agora investir em qualquer empresa aprovada pela ANVAR, desde que a empresa não seja controlada em mais de 50% por uma empresa já existente. Valorizar os créditos fiscais de pesquisa Finalmente, as disposições da Lei com relação a créditos fiscais de pesquisa (CIR, Crédits dimpôt Recherche 4 ) devem promover o recrutamento de pessoal de pesquisa. Realmente, a taxa de custos operacionais, estabelecida segundo os custos de pessoal, foi aumentada para 100% para empresas que empreguem um jovem Doutor. Esta nova disposição permitirá que as empresas cooperem com uma pessoa altamente qualificada e capaz de proporcionar-lhes acesso aos últimos avanços num campo específico. Isto completa as adaptações que foram feitas ao CIR pelo Projeto de Lei sobre Finanças de 1999, a fim de promover as empresas inovadoras (sobretudo o reembolso imediato do crédito fiscal). QUADRO GERAL JURÍDICO PARA EMPRESAS INOVADORAS A EXTENSÃO DO ALCANCE DO ESQUEMA DE EMPRESAS POR AÇÕES SIMPLIFICADAS (SAS - SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE ) A atual situação das empresas de responsabilidade limitada não é especialmente adequada às necessidades de novas empresas de risco com alto potencial de crescimento. O esquema de empresas por ações simplificadas (SAS) foi ampliado de modo que todas as empresas inovadoras dele possam beneficiar. Nota do tradutor: em francês no original em inglês: Garantias Acionárias dos Fundadores de Empresas. 2 Nota do tradutor: em francês no original em inglês: Fundos Comuns de Investimento na Inovação. 4 Nota do tradutor: em francês no original inglês: Créditos Fisciais de Pesquisas. 3 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 299 O esquema proporciona grande flexibilidade: · Maior liberdade contratual, adequada à rápida expansão dessas empresas e que permite a rápida modificação da estrutura de capital e das relações entre acionistas; · A possibilidade de emissão de ações preferenciais com direito a voto, que permite que os fundadores mantenham o controle da empresa sem limitar o acesso a capital novo; · A redução das formalidades para empresas com recursos administrativos limitados e que necessitam tomar decisões rápidas, e · A possibilidade de formar uma empresa com um único sócio. Informações mais detalhadas escrever para : 1, Rue Descartes 75231 Paris Sedex 05, França URL: http://www.education.gouv.fr/technologie Email: [email protected]. URL: http://www.education.gov.fr 300 Ministério da Educação da França Reflexão PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 301 O Estabelecimento de Prioridades num Novo Contexto Sócio-Econômico, a Visão de um Industrialista Apresentação feita na Conferência Mundial da Ciência, Budapeste, 28 de junho de 1999 J.R. ROSTRUP-NIELSEN O FRACASSO DO MODELO LINEAR O conhecimento científico proporciona opções para nosso futuro. As tendências atuais envolvem riscos de abordagens de curto prazo à questão da pesquisa e do desenvolvimento na indústria, bem como na pesquisa patrocinada pelo governo. Ao mesmo tempo, a linha divisória entre a política de pesquisa e a política industrial se tornou menos nítida, e nos defrontamos com dois paradoxos: Investimentos mais altos em pesquisa não resultarão necessariamente em mais empregos. A longo prazo, evidentemente, o aumento em nosso padrão de vida dependeu e depende do progresso tecnológico, mas é difícil provar uma correlação direta entre os recursos usados localmente em pesquisa e o crescimento local. Este aparente paradoxo tem duas explicações: Em primeiro lugar, os resultados científicos se disseminam rapidamente. Em segundo, é a capacidade de utilizar os resultados que é decisiva, não apenas as realizações dos resultados. A pesquisa é somente uma pequena parte do processo de inovação, e do processo de trazer a ciência para dentro das empresas. É verdade que as descobertas científicas têm conduzido a desenvolvimentos tecnológicos. Há, entretanto, vários exemplos de que os desenvolvimentos na indústria têm criado a base para a ciência. Portanto, em vez de seguir um modelo linear, a tecnologia e a ciência se desenvolvem em paralelo. Ademais, a maior fração de inovação está ligada a melhorias incrementais, e essas ocorrem através de uma colaboração estreita com clientes e fornecedores. Para as empresas industriais, o processo de inovação é o gerenciamento do conhecimento, independentemente de sua fonte e da criação das necessárias 302 J. R. Rostrup-Nielsen competências para transferir esse conhecimento para o ambiente empresarial. TENDÊNCIAS NA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL A atividade de pesquisa industrial mudou significativamente ao longo das duas últimas décadas. Muitas empresas, especialmente grandes empresas, escolheram focalizar negócios de importância central 1 e em valor para os acionistas 2 e conseqüentemente reduziram significativamente suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Isto pôs em risco sua visão de longo prazo, que deveria dar as bases para a renovação e a manutenção da competitividade. As empresas tentam solucionar este problema de diversas maneiras. Uma solução é terceirizar a pesquisa de longo prazo a laboratórios públicos de pesquisa, muitos dos quais evidentemente estão famintos por contratos de pesquisa. Outro resultado tem sido o de que criou-se espaço para muitas empresas menores de alta tecnologia tornarem-se fortes num nicho tecnológico específico. No entanto, há um limite para quanto pode ser terceirizado. Uma empresa deve manter suas competências nucleares e sua capacidade de monitorar e adaptar novos conhecimentos. Os esforços de pesquisa e desenvolvimento não podem ser avaliados meramente do ponto de vista do retorno financeiro planejado. O Net Present Value (NPV) do plano de negócios para a empresa ao longo do ciclo de vida total do produto pode facilmente ser enganador. O valor de uma pesquisa de longo prazo é a criação de futuras opções, 9e daí a flexibilidade da companhia para reagir diante de incertezas num mundo rapidamente cambiante. As atividades de pesquisa e desenvolvimento exigem equipamento e serviços cada vez mais caros, e pessoal altamente especializado em diversos campos. Isto tem levado a fusões e a alianças para permitir o compartilhamento de custos e de riscos. Também criou espaço para uma exploração plena dos resultados. Criam-se consórcios e redes de pesquisa de maneira global. As atividades de pesquisa e desenvolvimento estão sendo globalizadas. Elas são colocadas, seja perto do mercado, seja perto do centro onde se concentram os conhecimentos e a experiência científicos. Esta tendência inclui o terceiro mundo, onde grupos de alta qualidade no campo da 1 Nota do tradutor: em itálico no original em inglês core business. Nota do tradutor: idem, shareholders value. 2 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 303 ciência e da tecnologia representam um grande potencial para pesquisa em campos ricos em matérias primas e com vastos mercados. Foi-se o tempo em que os países industrializados lidavam com produtos e serviços com alto conteúdo de conhecimento e deixavam o terceiro mundo concentrar-se no suprimento de matérias primas e na produção barata de commodities. Nenhuma região tem o monopólio da criatividade. É um desafio integrar-se os centros de conhecimento do terceiro mundo à rede existente de pesquisa e desenvolvimento industrial de modo que assegure o respeito mútuo e uma divisão eqüitativa de papéis. POLÍTICAS INTEGRADAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO O forte compromisso internacional de cientistas e da indústria e o objetivo local dos políticos de reforçar seus próprios países pode parecer outro paradoxo. No entanto, atrair novos investimentos para empregos qualificados e mais bem pagos é um objetivo legítimo dos governos locais. Se esses empregos se devem basear na alta tecnologia, é essencial reforçarse o quadro geral das empresas locais e identificar-se mecanismos para um processo de inovação mais eficiente, para criar incentivos para companhias derivadas de empresas maiores a partir de centros de conhecimento em universidades e em grandes empresas. Um elemento de grande importância nessas políticas é dispor-se de um sistema universitário forte. Para a indústria, a finalidade primordial da universidade é a de proporcionar candidatos a emprego altamente preparados. Este é o melhor mecanismo de transferência do conhecimento. É importante que esses candidatos sejam treinados na linha divisória de nosso conhecimento e que estejam familiarizados com as fronteiras da pesquisa. Esta é a razão principal pela qual as universidades devem lidar com pesquisa ambiciosa que proporcione novos conhecimentos, novos conceitos, etc. No entanto, os cientistas muitas vezes são avaliados com base na publicação de documentos, na participação em conferências e na obtenção de doações ou bolsas. Isto significa que os cientistas profissionais são atraídos pela ciência segura e não se podem permitir dedicar-se à arriscada pesquisas radical. Afora o fornecimento de candidatos a emprego, as universidades podem interagir com a sociedade e com a indústria. Já existem muitos canais para a colaboração entre a indústria e as universidades em matéria de pesquisa. Esses canais têm ajudado a criar novas competências dentro das empresas. Recentemente, tem havido uma pressão sobre as universidades no sentido de que participem mais do processo de inovação. Está sendo 304 J. R. Rostrup-Nielsen exercida pressão política para tirar a tecnologia e o conhecimento para fora das universidades para beneficiar a sociedade e a indústria. Novamente, isto se baseia no modelo linear. Evidentemente, deveria haver bons mecanismos para criar empresas derivadas a partir de universidades, e certamente há a necessidade de que as universidades protejam em maior medida seu conhecimento, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, através da Lei Bayh-Dole. Também é importante, contudo, que esse movimento na direção da sociedade e da indústria não se torne a finalidade da pesquisa universitária. Isso poderia também destruir os atuais canais informais de colaboração entre a universidade e a indústria e levar a abordagens de curto prazo no que diz respeito à pesquisa universitária. O dinheiro público gasto com as universidades deve centrar-se na pesquisa de longo prazo e não ser direcionado pelo aspecto político de ser relevante. Os elementos de uma Política Integrada de Ciência, Tecnologia e Inovação podem proporcionar um forte instrumento para que os governos melhorem a competitividade e o crescimento locais. Muitas vezes é difícil formular e implementar tais políticas, porque isso envolve a participação de vários ministérios, não apenas os que se ocupam de educação, ciência, indústria e comércio, mas até mesmo os que lidam com tributação e finanças. No entanto, para a maioria dos governos, é difícil empreender esforços interministeriais. O IMPULSO DA SOCIEDADE O vetor da inovação industrial mudou. No passado, o desenvolvimento industrial era criado primordialmente pelo impulso tecnológico. Mais tarde, a atividade de pesquisa e desenvolvimento foi orientada pelo impulso do mercado. Hoje em dia, isto foi parcialmente substituído pelo impulso da sociedade, ou melhor, pelo que pode ser chamado o impulso regulatório, o que significa que as empresas industriais trabalham em maior medida para atender a necessidades ditadas pela sociedade. Isto exige uma estreita interação entre a legislação, a indústria e os consumidores. Necessitamos mais conhecimentos para prover uma base sólida para a legislação, e a implementação deveria ser suficientemente bem planejada, de modo que o esforço industrial possa ser redirecionado em bases de longo prazo. A política ambiental é um exemplo. Em princípio, a maioria dos problemas ambientais podem ser resolvidos se estivermos dispostos a pagar. Não nos podemos permitir basear nossa conduta em atitudes, sentimentos e, menos ainda, no medo. Necessitamos conhecimentos para estabelecer prioridades. A indústria pode contribuir aconselhando PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 305 quanto ao que é possível e participando do desenvolvimento de novas tecnologias. É óbvio que os países ou regiões que primeiro conseguem uma abordagem e uma formulação de metas realistas também têm a probabilidade de adquirir liderança em termos de tecnologia. Demasiadas vezes vemos que a legislação é arbitrária e que as decisões são tomadas em bases de curto prazo. Isto significa que a abordagem de curto prazo também influenciará o planejamento da indústria que poderia preferir então reagir à legislação antes de ser proativa num programa de longo prazo visando a tecnologia mais sustentável. O impulso social é então substituído pelo impulso regulatório. A gestão deste processo é um dos maiores desafios no novo contexto sócio-econômico. Os sociólogos falam do crescimento endógeno e da conformação social da tecnologia. Isto significa a conformação da demanda social no processo de pesquisa e a necessidade de um mediador para unir vários atores. A pesquisa e a inovação já não são fins em si mesmas, mas têm de atender a necessidades individuais e sociais. O desenvolvimento deveria ser orientado por necessidades percebidas e a competitividade industrial não deveria ser uma meta, mas um meio de aumentar a contribuição da ciência e da tecnologia para o crescimento. Certamente, o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia deveriam visar o crescimento, o emprego e a qualidade da vida. Também é verdade que a tecnologia foi a base para atividades guerreiras avançadas e causou alguns desastres industriais e tecnológicos que resultaram em crescente desconfiança por parte do público para com a ciência e a tecnologia e suas conseqüências. No entanto, deve haver um limite ao controle social sobre a ciência e a tecnologia. A relevância da pesquisa não deveria ser avaliada em base corrente. A interferência do assim chamado ator público para criar a rede inovadora/social correta pode facilmente levar à falta de progresso. O público e o sistema político ainda podem ser mais eficazes na definição do que devemos fazer, ou qual das opções disponíveis devemos escolher, mas a indústria é mais eficiente ao fazer as coisas da maneira certa devido a sua capacidade de administrar o processo de trazer a ciência para dentro das empresas com parceiros de sua própria escolha. Mais importante, é perigoso misturar a ciência com atitudes e políticas e que o debate público e o processo político determinem quais problemas devem ser temas de pesquisa. 306 J. R. Rostrup-Nielsen Ademais, a História está cheia de exemplos de julgamentos equivocados quanto à importância de novos fatos. Esses incluem as opiniões dos próprios inovadores (Edison era céptico quanto à utilidade da lâmpada elétrica; a IBM não acreditava no computador pessoal, etc.). Também vimos exemplos de novos desenvolvimentos tais como a pílula P, que conduziu a uma mudança não planejada da sociedade e de nosso código de ética. Devemos manter a abordagem científica para buscar a verdade e nunca parar de questionar as bases de nosso conhecimento. A ciência não deveria buscar o consenso. Ela deve procurar resultados verdadeiros, não resultados agradáveis. Se não for assim, bloquearemos a renovação de nossas sociedades. Quanto às empresas, a pesquisa exploratória de longo prazo cria opções e flexibilidade para manobrar-se num mundo incerto e cambiante. CONCLUSÕES A indústria e os governos se defrontam com grandes desafios quanto à melhor maneira de utilizar o conhecimento científico para nosso desenvolvimento a longo prazo. As tendências atuais envolvem alguns riscos. Os ganhadores serão: · as empresas que mantêm pesquisa e desenvolvimento de longo prazo para criar opções futuras. · as empresas capazes de integrar o potencial de pesquisa do terceiro mundo em base igualitária. · os países capazes de formular e implementar uma política integrada de ciência, tecnologia e inovação e capazes de evitar as armadilhas do modelo linear. · os países/regiões capazes de administrar a conformação social da tecnologia, capazes de evitar o impulso regulatório e de deixar espaço para pesquisa ambiciosa e livre a longo prazo. Devemos ter a coragem de explorar novos horizontes independentemente da sua relevância para a política atual. Com as palavras de Günther Grass: Was richtig ist, muss nicht wahr zu sein. Die Wahrheit ist ein weites Feld. O que é certo não necessita ser verdadeiro. A verdade é uma longa história. Reflexão PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 307 Levantamento: A Inovação na Indústria THE ECONOMIST A INDÚSTRIA COMO RELIGIÃO A inovação tornou-se a nova teologia, diz Nicholas Valéry. No entanto, ainda há muita confusão quanto a o quê é e a como fazê-la acontecer A INOVAÇÃO tornou-se a religião industrial dos idos do século XX. O mundo empresarial a vê como a chave para lucros crescentes e para fatias de mercado. Os governos automaticamente a buscam quando tentam pôr ordem na economia. No mundo inteiro, a retórica da inovação substituiu a linguagem da economia do bem-estar do após-guerra. É a nova tecnologia que une a esquerda e a direita da política, diz Gregorio Daines, da Universidade de Cambridge. Mas, o que constitui precisamente a inovação é difícil dizer, mais ainda medir. Normalmente se pensa na inovação como na criação de um produto ou de um processo melhor. No entanto, ela poderia ser tão simplesmente a substituição de um material por um outro mais barato num produto existente, ou uma maneira melhor de comercializar, distribuir ou apoiar um produto ou serviço. Os empresários - os mais bem sucedidos, embora não os únicos praticantes da inovação - raramente se detêm para examinar como o fazem. A maioria deles simplesmente continua criando valor através da exploração de alguma forma de mudança - seja na tecnologia, nos materiais, nos preços, em aspectos tributários, em questões demográficas, ou mesmo na geopolítica. Eles geram, assim, novas demandas, ou uma nova maneira de explorar um mercado existente. O empresário, disse Jean-Baptiste Say, o economista francês que cunhou a palavra em torno de 1800, movimenta recursos econômicos de uma área de produtividade baixa para uma área de produtividade mais alta e de maior rendimento. Dois séculos mais tarde, os economistas ainda estão lutando para entender esta misteriosíssima parte do processo de criação de riquezas. Uma maneira de descrever a inovação é explicar o que ela não é. O marido e a mulher que abrem uma lanchonete na frente de um novo edifício de escritórios podem estar jogando com a poupança de suas 308 The Economist vidas, mas não estão inovando. A empresa japonesa de eletrônica que lança uma câmera de vídeo mais atraente está simplesmente forçando sua linha de distribuição numa tentativa de tirar os produtos da concorrência das prateleiras. A empresa farmacêutica que fabrica uma versão genérica de uma pílula contra a úlcera campeã de vendas está simplesmente se locupletando da expiração das patentes de um rival. Todos estes exemplos são simplesmente empreendimentos comerciais, não são inovações. As inovações não apenas quebram a forma, elas também rendem retornos bem melhores do que os empreendimentos comerciais comuns. Um estudo norte-americano concluiu que a taxa geral de retorno de cerca de 17 inovações de sucesso atingidas nos anos setenta ficou numa média de 56%. Compare-se isto com o retorno médio sobre o investimento de 16% de todas as empresas norte-americanas nos últimos 30 anos. Não constitui surpresa alguma, então, que a despeito de todo o risco de seus empreendimentos, os inovadores com boas idéias e bons registros de desempenho atraiam investimentos como as flores atraem abelhas. Para apreciar a diferença entre abrir mais uma loja de hambúrgueres e realmente promover a inovação, consideremos o que fez a McDonalds. Ela padronizou o produto, concebeu procedimentos culinários inteiramente novos e treinou meticulosamente a sua gente, dando assim aos clientes algo que nunca tinham tido - um sanduíche de hambúrguer de alta qualidade, servido com a velocidade da preparação no último momento, num ambiente higiênico, a um preço arrasador. A McDonalds não apenas criou um novo produto, mas toda uma nova categoria de mercado. Isto foi inovação de primeiríssima ordem. Por razões diferentes, também o foi o gravador de videocassete BETAMAX que a Sony exibiu pela primeira vez em fins de 1974 e (de maneira mais significativa) o primeiro gravador de VHS que a JVC revelou em 1976. Nenhuma das duas empresas japonesas realmente inventou a gravação em vídeo, isso já fora feito por uma empresa norteamericana chamada AMPEX, em 1954. No entanto, os gravadores de vídeo da AMPEX, com suas fitas de duas polegadas de largura de rolo a rolo, eram do tamanho de uma eletrola de colocar moedas. Eles eram usados por redes de televisão, de modo que estações na costa oeste dos Estados Unidos pudessem gravar programas de televisão transmitidos ao vivo da costa leste e retransmiti-los localmente num horário mais conveniente. Os inovadores japoneses deram-se conta de que o grande mercado para o gravador de vídeo eram as residências, não o estúdio. No entanto, transformar o gravador industrial da AMPEX num produto para o consumidor significava encolher tudo - não apenas o tamanho, mas PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 309 também o preço. A saída surgiu utilizando-se a fita de três quartos de polegada num cassete enrolado ao redor de cabeçotes de gravação, montado num tambor giratório que era inclinado num ângulo da direção da fita. Assim, em vez de gravar o sinal de vídeo como uma seqüência de bandas verticais de impulsos magnéticos em toda a largura da fita à medida em que ela se movia passando pelos cabeçotes de gravação, o sinal de vídeo era lançado sob a forma de faixas diagonais em toda a fita. Mexendo-se na inclinação do tambor giratório, o comprimento da faixa diagonal numa fita de três quartos de polegada podia ser tornado tão longo quanto o da vertical numa fita de duas polegadas. O gravador podia, assim, gravar a mesma quantidade de informação e oferecer uma imagem tão precisa quanto o sistema anterior. No entanto, como a fita era muito mais estreita, os projetistas japoneses puderam acumular o equivalente a vários grandes rolos de fita de gravação num pequeno cassete jeitoso do tamanho de um livro. Nunca houve um produto para o consumidor que se comparasse ao gravador de videocassete. Nos anos oitenta, este único item representou a metade das vendas anuais de 30 bilhões de dólares da indústria japonesa de produtos eletrônicos para o consumidor, e três quartos de seus lucros combinados. Como todas as melhores inovações, o aparelho de videocassete não substituiu o produto existente, canibalizando assim suas vendas. Era um tipo totalmente novo de engenho, que surgiu do nada e açambarcou uma demanda sensacional. A VISÃO TRINTA-TRINTA Quem são essas pessoas que podem dar o salto de uma idéia para um novo produto ou processo que os consumidores compararão? Esqueçamos o inventor solitário que trabalha em sua garagem. Afora Bill Hewlett e Dave Packard, essas pessoas raramente aparecem com inovações que agitam os mercados, que fazem fortunas ou que mudam a maneira pela qual o mundo funciona. Tampouco são os inovadores mais vigoros, necessariamente as pequenas empresas do mito popular, fundadas por engenheiro brilhantes, que trabalham na ponta do avanço tecnológico. Thomas Edison, provavelmente o inventor mais bem sucedido de todos os tempos, era tão incompetente como inovador que seus financiadores tiveram de retirá-lo de todas as novas empresas que fundou. A invenção e a inovação têm em comum mais ou menos o que têm em comum uma alavanca de mudança e o Federal Express. Ralph Waldo Emerson estava equivocado ao sugerir, no século XIX (se é que jamais o fez), que se um homem fabrica uma ratoeira melhor o mundo acorrerá à sua porta. Inventar uma ratoeira melhor é a parte fácil; o difícil é inovar, que leva tempo, dinheiro, acesso a mercados e percepção. Talvez Emerson devesse ter colocado de outra forma: Se você produzir 310 The Economist um serviço de dedetização de eficácia única, os investidores acorrerão para apoiá-lo. Duas coisas distinguem todas as organizações detentoras de bons antecedentes em matéria de inovação. Uma delas é que elas incentivam pessoas que têm uma força motora interior - sejam elas motivadas pelo dinheiro, pelo poder e pela fama, sejam elas motivadas pela simples curiosidade e pela necessidade de realização pessoal. A segunda é que elas não deixam a inovação por conta da sorte: elas a buscam sistematicamente. Elas procuram ativamente a mudança (a raiz de toda inovação), depois avaliam cuidadosamente seu potencial em termos de retorno econômico ou social. Em seu livro de 1985, Inovação e Espírito de Empresa, Peter Drucker, agora o mais venerado de todos os gurus da cultura gerencial, relaciona sete fontes de oportunidade para as organizações que buscam a inovação. Quatro delas podem ser encontradas dentro da própria empresa, ou pelo menos no âmbito do setor de que a empresa faz parte, e que deveriam portanto resultar bastante óbvias para as pessoas de dentro. As outras três vêm do mundo exterior, e devem resultar aparentes para qualquer pessoa que se dê o trabalho de olhar. Todas as sete são sintomas de mudança. Relacionadas em ordem de dificuldade e incerteza crescente, elas são: · O sucesso inesperado que é recebido com gratidão mas raramente dissecado para ver como ocorreu. · A incongruência entre o que realmente acontece e o que deveria ter acontecido. · A inadequação de um processo básico que é considerado natural. · As mudanças na estrutura do setor ou do mercado que tomam a todos de surpresa. · As mudanças demográficas causadas por guerras, melhorias na medicina e até mesmo a superstição. · As mudanças na percepção, no humor e na moda provocadas pelos altos e baixos da economia. · As mudanças no nível de consciência causadas por novos conhecimentos. A ironia é que os funcionários, os acadêmicos e mesmo os empresários prestam bem mais atenção às formas mais arriscadas de inovação (tentando explorar alguma descoberta baseada na ciência) do PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 311 que ao tipo mais fácil e mais rápido de inovação com o qual poderiam fazer lucros (capitalizando em cima de algum sucesso inesperado, por exemplo). Isto pode ter muito a ver com o encanto da pesquisa e do desenvolvimento - sem falar das grandes somas de recursos públicos que os governos disponibilizam, diretamente através de doações, bem como indiretamente através de créditos fiscais, para empresas realizarem pesquisa e desenvolvimento. Ademais, há boas provas a mostrar que se um novo produto ou serviço chega ao mercado como resultado de algum evento novo ligado a patentes ou a propriedade intelectual nos próprios laboratórios de uma empresa, esse produto ou serviço normalmente rende elevados retornos: pese-se somente no que a Dupont ganhou com o Nylon ou a SmithKline com o Tagamet, um dos medicamentos mais bem sucedidos da história. Mas esses grandes eventos novos acontecem somente uma ou duas vezes na vida de uma empresa. Este levantamento sustenta que a inovação tem mais a ver com a busca pragmática da oportunidade do que com idéias românticas sobre a fortuna acidental, ou com pioneiros solitários que pugnam por sua visão contra todas as adversidades. Pode ser que não haja qualquer receita única para produzir inovações sob encomenda, mas há uma espécie de livro de receitas que se está tornando sempre mais útil. Hoje em dia os Estados Unidos obtêm mais da metade de seu crescimento industrial a partir de indústrias que mal existiam há uma década - tal é o poder da inovação, especialmente nos setores da indústria da informação e da biotecnologia. O melhor ponto de partida, portanto, é o próprio crescimento econômico, e o papel que a inovação nele desempenha. Copyright 1999 The Economist Newspaper Limited. 312 The Economist Memória PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 313 Einstein no Rio de Janeiro: impressões de viagem1 ALFREDO TIOMNO TOLMASQUIM Numa fria manhã de inverno, em janeiro de 1924, Albert Einstein recebeu em sua casa, na Haberlandstrasse 5, em Berlim, uma carta do Reitor da Universidade de Buenos Aires, José Arce, convidando-o para um ciclo de conferências naquela instituição2. Um convite vindo da América do Sul não o surpreendia. Afinal, chegavam convites diariamente de todos os lados, para as mais variadas finalidades: viagens, participação em solenidades, ciclo de conferências, discursos políticos, pedidos para tradução de seus artigos, e até solicitações de um retrato seu para ser colocado no laboratório de alguma universidade, ou na sala de estar de alguém. Além disso, a Universidade de Buenos Aires já havia demonstrado interesse explícito pelo seu trabalho. Dois anos antes, ele havia recebido um pedido para que autorizasse a Revista do Centro de Estudantes de Engenharia a traduzir para o espanhol seu artigo sobre a Teoria Geral da Relatividade 3; posteriormente, o Conselho da mesma Universidade lhe conferia o diploma de Doutor Honoris Causa em Física e Matemática 4. Aos poucos, Einstein ia se acostumando com a fama a que fora lançado subitamente a partir da inesquecível sessão conjunta da Royal Society of London e da Royal Astronomical Society, em 6 de novembro de 1919. Naquela cerimônia, o astrônomo Sir Frank Dyson anunciara solenemente ao mundo os resultados obtidos pelas expedições enviadas *Artigo originalmente publicado em Einstein e o Brasil, org. de Ildeu de Castro Moreira e Antonio Augusto Videira, Rio de Janeiro: Ed.UFRJ. Este artigo consiste numa forma de narrativa livre e romanceada da viagem de Einstein, a partir de fontes documentais, tais como correspondências, seu diário de viagem e jornais de época, e em depoimentos de pessoas, tanto através de biografias, como oralmente. Os pensamentos de Einstein, que constam do texto, são baseados, em sua maioria, em escritos em seu diário, ou em sua correspondência, mas não necessariamente aconteceram no momento, ou no contexto especificamente citado. Evitei propositalmente desenvolver estudos analíticos sobre a visita, sobre Einstein, ou sobre o ambiente brasileiro na época, para não quebrar a fluidez do texto. Essas análises, bem como trechos dos documentos e do próprio diário, constarão do livro que estou escrevendo sobre a viagem de Einstein ao Brasil, a ser publicado brevemente. 2 Rectorado de la Universid de Buenos Aires para Einstein, 31/12/22. Arquivo Albert Einstein - AE43.094 -1/2/3/4. 3 Revista del Centro de Estudiantes de Ingeneria para Einstein, 05/04/23. AE 44.740 4 Rectorado de Ia Universidad de Buenos Aires para Einstein, 13/10/22. AE 30.160, 30.162, 30.163, 30.165 1 314 Alfredo Tiomno Tolmasquim para observar o eclipse do Sol em Ilha de Príncipe, no Golfo da Guiné e, em Sobral, no Ceará. Divulgava-se, então, que estava correta a exótica teoria que determinava que o universo era curvo, e que a luz se desviava pela força gravitacional dos corpos. As fotografias tiradas durante o eclipse comprovavam que a luz emitida pelas estrelas era desviada pela força gravitacional do Sol. Einstein esperara muito por essa notícia. Outras expedições já haviam tentado fotografar um eclipse total do Sol o que forneceria os dados observacionais necessários para comprovar experimentalmente a deflexão da luz. Em 1914, por exemplo, uma expedição chefiada por Erwin Freundrlich tentara observar um eclipse na Criméia, mas fora interrompida pelo começo da guerra em toda a Europa. Uma expedição americana também tentou verificar o efeito num eclipse em junho de 1918, mas dessa vez foi o clima que não ajudara. Parecia que Deus não queria colaborar permitindo desnudar os seus fenômenos. Somente com o final da guerra, as Sociedades Científicas inglesas conseguiram se unir e obter recursos para as duas expedições. Para a Ilha de Príncipe iriam Arthur Eddington e E.T.Cottingham, enquanto que a de Sobral, seria composta por Andrew Crommelin, do Observatório de Greenwich, e C. R. Davidson. Einstein costumava fazer uma seleção das cartas que recebia. Aceitava alguns convites, recusava muitos, e a outros nem se dava ao trabalho de responder. Aquele convite da Argentina, porém, tinha uma atração especial. Havia apreciado muito a viagem que havia feito anteriormente ao Japão, e o contato com a cultura nipônica. Também a Palestina o havia impressionado bastante, com toda uma geração de pioneiros judeus tentando transformar em realidade um antigo sonho, lutando contra as adversidades de uma terra árida e seca, cheios de ideologia na mente e esperança na alma. Conhecer a América do Sul poderia ser igualmente interessante. Além disso, Einstein tinha resolvido assumir o papel a que havia sido lançado com sua fama, e descobrira em si mesmo o melhor advogado para defender suas idéias e princípios. Sua fala tinha uma enorme força e constituía uma das melhores armas contra os articuladores da Campanha anti-Relatividade5, que unia anti-semitas, nacionalistas extremados e críticos das novas idéias físicas. Por tudo isso, aceitar o convite era para ele uma espécie de obrigação. Deveria falar aos físicos argentinos sobre a Teoria da Relatividade e os avanços que estavam sendo feitos na Física. E teria a oportunidade de envolver os judeus argentinos na grande obra que estava sendo feita na Palestina, e que necessitava de um esforço global para se tomar realidade. Na verdade, tanto as autoridades acadêmicas como os dirigentes da Associação Hebraica de Buenos Aires o pressionavam para que aceitasse Termo criado pelo próprio Einstein para caracterizar a campanha de difamação de e ataques orquestrada contra ele. 5 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 315 o convite, colocando todas as facilidades possíveis e imagináveis ao seu dispor. De início, inclusive, haviam condicionado o convite a um mínimo de doze conferências. Porém, com medo de que isso viesse a ser motivo para uma recusa de Einstein, ratificaram a correspondência esclarecendo que ele poderia dar quantas conferências desejasse, e que o número de doze era apenas uma sugestão6. De fato, a única condição imposta por Einstein foi a de que o convite deveria ser formulado por uma instituição oficial, o que foi providenciado. Apesar da Asociación Hebraica de Buenos Aires e da Instituicion Cultural Argentino-Germana estarem promovendo a ida de Einstein, o convite havia sido formulado apenas pela Universidade de Buenos Aires, e toda a correspondência seguia por intermédio da Representação diplomática argentina na Alemanha. Essa imposição de Einstein se devia ao medo de que seu nome fosse usado indevidamente, e sem seu consentimento, em prol de alguma causa. A Asociación Hebraica, apesar de não constar formalmente do convite, administrava um lobby junto a pessoas próximas a Einstein para que empreendesse a viagem. A idéia de aceitar o convite lhe parecia atraente, mas de qualquer forma não poderia viajar naquele mesmo ano, conforme sugerido. Afinal, ele havia estado muito ausente de Berlim no ano anterior, por conta da viagem ao Extremo-Oriente e Oriente Médio, e da ida à Leiden, na Holanda, a convite de seu amigo Ehrenfest. É verdade que a Universidade de Berlim não criava dificuldades para essas contínuas ausências, mas Einstein não se sentia à vontade para solicitar às autoridades nova licença para se ausentar de Berlim. Além disso, ele queria terminar os estudos que estava desenvolvendo sobre a possibilidade de obter um novo argumento para a associação entre onda e matéria, partindo de flutuações estatísticas. E havia ainda um motivo de ordem pessoal: o casamento de sua enteada Ilse com o jovem jornalista Rudolf Kayser. O melhor seria adiar a viagem para o ano seguinte. Mais uma vez os argentinos aquiesceram, informando que o Conselho Universitário, em nova reunião, havia decidido transferir o convite, e a alocação dos recursos necessária para 1925, na esperança de que ele pudesse, então, viajar à América do Sul7. Na verdade, toda essa gentileza consistia numa insistência sua que retirava de Einstein a possibilidade de uma resposta negativa. Finalmente, em julho de 1924, Einstein aceitava o convite, e começava a se preparar para a viagem: marcar a melhor data, reservar as passagens e deixar as coisas organizadas para um período de ausência de três meses8. Ele havia optado por viajar no Cap Polônio, um navio 6 Rectorado de la Universidad de Buenos Aires para Einstein, 07/01/24. AE 43.096 7 Rectorado de Ia Universidad de Buenos Aires para Einstein , 16/05/24. AE 43.097 e 43.098 Legacion de La República Argentina para Einstein em 26/07/24, confirmando o recebimento da carta com a resposta positiva quanto a ida à Argentina. AE 43.099 8 316 Alfredo Tiomno Tolmasquim considerado seguro e veloz, e que sairia do porto de Hamburgo no dia 5 de março. Como nas viagens anteriores, ele levaria uma pequena bagagem, e seu inseparável violino. Nesse meio tempo, chegaram convites das Universidades de Córdoba, La Plata e Tucuman na Argentina, da Universidade de Montevidéo, no Uruguai9, e da Faculdade de Medicina e Escola Politécnica da Universidade do Rio de Janeiro todos querendo aproveitar sua vinda à América do Sul. Quanto às Universidades da Argentina, Einstein deixaria para resolver durante sua estada naquele país, de acordo com a disponibilidade de tempo, mas concordou desde logo em visitar Montevidéo e o Rio de Janeiro. Os convites haviam sido agenciados pela Asociación Hebraica. No caso específico do Rio de Janeiro, o Presidente da instituição judaica argentina, Jacobo Saslavsky, avisou ao Rabino Isaiah Raffalovich, que por sua vez entrou em contato com o diretor em exercício da Escola Politécnica, Getúlio das Neves. Entretanto, o convite que Einstein recebia era assinado pelo próprio Raffilovich, em nome de Paulo de Frontin, Diretor da Escola Politécnica, e Aloysio de Castro, Diretor da Faculdade de Medicina10. No dia 4 de março, Einstein viajou de trem para Hamburgo, onde pernoitaria, para embarcar no dia seguinte, no navio Cap Polônio em direção à América do Sul11. Sua esposa Elsa o acompanhou somente até a estação de trem: dessa vez, não viajaria com ele, como nas viagens anteriores aos Estados Unidos e ao Japão. Apesar de interessante, era cansativo empreender uma viagem tão longa, sem falar que o casamento andava um pouco desgastado, e um período de férias seria bom para os dois. Margot, a outra enteada de Einstein, havia planejado acompanhá-lo, aproveitando a passagem que havia sido enviada para Elsa, mas também acabou não viajando por motivo de doença. Einstein apreciava sobremaneira toda aquela calma e tranqüilidade. Era ótimo poder se distanciar da agitação e dos problemas na Europa e, em especial, na Alemanha. Mas também ficava aterrorizado com a idéia de ter que chegar ao seu destino, onde certamente o esperavam com discursos, cerimônias e encontros sociais. Em todas as viagens, a grande movimentação criada em torno dele era sempre muito cansativa e estafante. Só lhe restava, enfim, aproveitar, enquanto isso, a paz e o sossego. O navio ia passando pelos portos das cidades européias, Bologna, Coruna, Vigo, e Einstein se entretia observando a paisagem local e os passageiros que embarcavam em cada porto. Ele não conseguia passar 9 Rectorado de Ia Universidad de Buenos Aires para Einstein, 23/10/24. AE 43.163 10 Rabino Isaiah Raffalovich para Einstein, 27/01/25. AE 44.010. Muitas das informações sobre a viagem foram tiradas do diário de viagem de Einstein AE 29.133. Às vezes, aproveitamos no texto um comentário, parte de uma frase, sua impressão sobre algum lugar ou pessoa, ou mesmo apenas seu estado de espírito. 11 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 317 incólume. Sua fisionomia, àquela altura bastante conhecida, já tinha sido estampada na capa de várias revistas e na primeira página de muitos jornais. Mas, pelo menos, não o perturbaram. Em Lisboa, última parada na Europa, e onde ficariam ancorados todo o dia, Einstein aproveitou para fazer uma pequena excursão junto com Sievers e o psicólogo Jesinghaus, com quem havia travado amizade durante a viagem. Passearam pelo centro da cidade, visitaram alguns pontos históricos, castelos, conventos. Lisboa dava uma impressão maltrapilha, mas simpática. A vida parecia transcorrer lenta, sem pressa ou objetivo. De volta ao navio, a viagem prosseguiu. Passavam ao longo da África: Teneriff, Cabo Verde, e o calor ia aos poucos aumentando. Suava-se durante a noite, e ao amanhecer o clima já estava quente. Eintein se dedicava às suas leituras: folheava o livro de Koigen, ou o do filósofo francês Mayerson sobre teoria do conhecimento, e outras vezes dedicava-se a seus estudos em Física. Estava cada vez mais convencido da impossibilidade da Teoria de Campo na forma como havia sido proposta. Conversava com alguns passageiros sobre a Teoria da Relatividade, ouvia poesias, declamadas pela escritora Elsa Jerusalém, ou se distraía em longos almoços com o Capitão, quando aproveitavam para trocar anedotas. Participou também de um quarteto, tocando Mozart e Beethoven para os passageiros. No dia 14 recebeu emocionado um cartão de felicitações pelo seu 460 aniversário. A viagem transcorria tranqüila, mas às vezes ele se sentia sozinho. Pena que Margot não tivesse podido viajar com ele: certamente ela estaria apreciando muito a viagem. Aos poucos, seu valioso sossego ia desaparecendo. Muitas vezes ele era o centro das atenções, e até os oficiais já tinham lhe pedido para dar uma conferência. De qualquer forma, era melhor ir se reacostumando, pois mais em breve estariam chegando aos portos da América do Sul - e seria o fim daquela tão benquista tranqüilidade. Na manhã do dia 21, o navio chegava ao porto do Rio de Janeiro. Era uma visão maravilhosa, apesar do céu encoberto e da chuva fina. Na entrada da Baía se erguiam fantásticos penhascos. Impressão majestosa. O navio ficava ancorado apenas algumas horas e depois seguiria viagem a caminho da Argentina, mas uma comitiva formada por membros da comunidade judaica, médicos e engenheiros já estava esperando por Einstein. A eles, havia se juntado um grande número de repórteres, afoitos para lhe arrancar algum furo de reportagem. Perguntaram-lhe sobre a geometria de Minkowsky, a velocidade da luz ou o eclipse de Sobral. Em suas respostas, Einstein tentou mostrar que o surgimento de novas teorias na Física era um processo normal do desenvolvimento da ciência - e que nenhuma delas tinha, portanto, uma conseqüência tão bombástica quanto queriam fazer parecer. Na Teoria da Relatividade tudo é simplicidade e clareza e a velocidade da luz é uma simples medida, um padrão necessário a todos os cálculos, tão 318 Alfredo Tiomno Tolmasquim absoluto como qualquer outro padrão. Até então, Einstein nem havia associado a cidade do Rio de Janeiro com o nome de Sobral. Mas não se retraiu diante da pergunta do repórter: depois de pensar um pouco, comentou sobre as duas expedições enviadas para Ilha de Príncipe e Sobral, das dúvidas quanto à veracidade dos resultados por só terem sido fotografadas sete estrelas, e de uma nova expedição realizada em 1922 pelo Observatório de Lick, sob a direção de Campbell, que fotografou 11 estrelas, confirmando o desvio previsto. Einstein foi convidado pela comissão a fazer um passeio pela cidade durante o tempo em que o navio permanecesse no porto. Saíram numa comitiva de sete carros fazendo um passeio pela cidade, até chegarem ao Jardim Botânico. Einstein estava deslumbrado com tudo o que via. Do Diretor do Jardim Botânico, Pacheco Leão, ouviu as estórias sobre o jequitibá, uma das maiores árvores da flora brasileira, e suas aplicações tanto para construção como para uso medicinal12. O Jardim Botânico e a flora, de modo geral - superava os sonhos das 1001 noites. Tudo parecia viver e crescer a olhos vistos. Depois seguiram para o Hotel Copacabana Palace, na Praia de Copacabana, onde os aguardava um farto almoço. Conversam sobre a Europa após a 1a Grande Guerra, sua impressão sobre as vendedoras de peixe, que tinha visto durante sua parada em Portugal, e sobre a programação para sua volta no início de maio. O Diretor da Escola de Medicina, Aloysio de Castro, lembrou mais uma vez a importância do eclipse solar de 1919, e o orgulho que isso causava para os brasileiros. Einstein pegou então um pedaço de papel e, num gesto de gentileza, escreveu em alemão: A questão que minha mente formulou foi respondida pelo radiante céu do Brasil. No caminho de volta ao porto, a comitiva passou pelo centro da cidade e Einstein aproveitou para fazer um pequeno passeio a pé. Observava com interesse as pessoas na rua, tentando encontrar elementos da mistura entre o português, o índio e o negro. Tudo lhe despertava o interesse. Uma indiscutível abundância de impressões em poucas horas. Após essa rápida visita, ele retomou ao Cap Polônio e seguiu sua viagem em direção à Argentina. O navio deveria chegar em Buenos Aires ao meio-dia do dia 24, mas ficou preso, chegando às 2:30 da manhã, e o desembarque só aconteceu na manhã seguinte. Apesar do apoio que recebeu do pessoal do navio e em especial da Sra. Jerusalém, Einstein estava irritado e cansado, ansiando pela hora de descansar. Do porto, seguiu direto para a casa da família Wasserman, no Palácio de Belgrano, onde ficaria vide Veiga Soares, Cecília Beatriz da, As mais belas árvores da mui formosa Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. 12 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 319 hospedado. Buenos Aires lhe causava uma impressão muito ruim, parecia uma Nova York do sul, em tamanho reduzido. Ah, se pudesse cortaria todas as grandes cidades em menores. Einstein enfrentou um programa intenso em Buenos Aires: conferências, encontro com Presidente e Ministros, entrevista a jornalistas, passeio de avião sobre a cidade, visita a museus e instituições científicas, recepções, jantares - um sem-número de compromissos. Por isso, saboreou os poucos momentos de tranqüilidade em que pode ficar sozinho em seu quarto, ou os finais de semana na casa de campo dos Wasserman em La Vajole. Além da programação, proferiu palestras em La Plata e Córdoba. Foi um mês intenso, de compromissos sociais quase diários. Ele se sentia terrivelmente cansado de tanta gente à sua volta durante todo o tempo. Desejava retornar à sua casa o quanto antes. A idéia de ter que perambular ainda mais lhe parecia um peso - mas o fato é que o estavam esperando em Montevidéo. E, assim, no dia 23 de abril Einstein embarcou para a capital uruguaia conforme programado. Mas, para sua surpresa, teve de Montevidéo uma impressão muito boa. A cidade era arquitetonicamente bonita, com seu estilo colonial, e o país tinha uma estrutura de assistência social exemplar de amparo à mãe e à criança, jornada de trabalho de 8 horas e um Estado totalmente separado da Igreja. O clima era quente e úmido, mas de forma amena, e a natureza era amável. Uruguai, terrinha feliz. As pessoas pareciam ter um amor a própria terra, sem qualquer megalomia. A situação do país lhe lembrava em especial a Suíça, que ele tanto apreciava. As pessoas também se assemelhavam de alguma forma aos suíços, modestos e autênticos. Einstein não lembrava de ter recebido em nenhum lugar uma recepção cordial como aquela. A impressão geral era de uma grande sinceridade e amabilidade, mas tomando-se sempre o cuidado de não parecer sufocante. Mas se a cidade, ao contrário de Buenos Aires, deixava-o mais à vontade, a movimentação era a mesma. Ou, talvez, ainda maior. Tinha que cumprir, ali em sete dias, a mesma intensa programação que havia executado em quatro semanas. Einstein visitou Presidente e Ministros, deu conferências e entrevistas à imprensa, participou de jantares e recepções. Tudo num ritmo muito frenético. No dia 10 de maio, embarcou no navio francês Valdivia, com destino ao Rio de Janeiro. Einstein sentia seus nervos no limite, e dava tudo para não ter novamente que subir no trapézio, mas era preciso agüentar. Afinal, estavam-no esperando por lá. O melhor seria desfrutar daqueles três dias de viagem como uma forma de descanso. Aproveitou para fazer um balanço de sua vida, e de como ela tinha mudado em tão pouco tempo, a ponto de quase não conseguir mais imaginar o que significava uma vida calma e regrada. A partir daquela inesquecível sessão na Royal Society de Londres, sua vida tinha dado uma grande reviravolta, e lá estava ele vagando por aquele hemisfério como um mensageiro da Relatividade. 320 Alfredo Tiomno Tolmasquim O Valdivia chegou ao Rio de Janeiro ao por-do-sol do dia 4 de maio, uma 2a feira, mas, como só estava sendo esperado para o dia seguinte, a comissão de recepção precisou improvisar. Einstein desceu do navio com seu terno de brim branco e o violino embaixo do braço, cansado de sua passagem pela Argentina, castigado pelo calor e a umidade. Pareceu-lhe que a atmosfera quente e úmida deixava as pessoas meio amolecidas e sem agilidade - o que talvez constituísse a contrapartida daquela impressionante beleza natural. Dessa vez, Einstein evitou os repórteres. Levado pela comissão diretamente para o Hotel Glória, pode descansar um pouco da viagem e acertar a sua programação na cidade. Aproveitou para mandar postais da Cidade Maravilhosa para Lord Haldane13, que o havia hospedado durante sua estada em Londres, e com quem travara uma forte amizade. E, também, para seu grande amigo Ehrenfest, em Leiden, na Holanda, a quem comentou que o Rio era um verdadeiro paraíso, e uma alegre mistura de povos 14. Ficou acertado que Einstein faria duas conferências sobre a Teoria da Relatividade, no Clube de Engenharia e na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e visitaria algumas instituições científicas. Reservaria também uma noite para a recepção da comunidade judaica local, proposta pelo Rabino Raffalovich. O programa devia incluir ainda um encontro com o Presidente da República, Arthur Bernardes, e bastante tempo livre para descansar e passear pela cidade. O dia seguinte, inclusive, deveria ser dedicado ao descanso. Isidoro Kohn, que seria seu cicerone durante sua estada no Rio de Janeiro, foi encontrá-lo pela manhã no hotel. Judeu austríaco, dono de uma loja de tecidos na Rua 7 de Setembro, e há vários anos no Brasil, Kohn sugeriu a Einstein que fossem ao centro da cidade comprar um fraque, na sua opinião, o traje mais adequado para o encontro no dia seguinte com o Presidente da República. Einstein achava tudo aquilo uma formalidade desnecessária, mas como não conhecia os costumes locais resolveu não arriscar uma descortesia para com os seus anfitriões. Foram à alfaiataria Tombo do Rio, na Rua da Carioca, onde Einstein experimentou o primeiro terno - e achou que estava perfeito. Preferiu encerrar logo a estória mas Kohn achou a roupa muito folgada e curta numa palavra, horrível. Finalmente, após Einstein experimentar vários temos, escolheram o que lhe caia melhor15. Depois do passeio pelo centro, retomaram para um almoço no hotel, onde o aguardavam Irma, esposa de Kohn, e sua acompanhante Poldi Wettl. Eram senhoras alegres, e o 13 Einstein para Lord Haldana, 05/05/25. AE 32.652 14 Einstein para Ehrenfest. AE 10. 105. 15 Esse fato foi narrado por Kohn. Ver A Noite, 12/05/1955. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 321 almoço transcorreu de forma muito agradável. Posteriormente, se deram conta que haviam esquecido de comprar a gravata para o fraque. Foram então, à casa de Kohn, onde Einstein escolheu uma de suas gravatas16. À tarde, Einstein recebeu várias visitas: um grupo de comerciantes alemães, convidando-o para um jantar patrocinado pela comunidade alemã, e o Diretor da Faculdade de Filosofia, Washington Garcia, que vinha lhe oferecer um Diploma de Honra concedido por aquela Faculdade17. No final da tarde, foi com um grupo de cientistas ao Pão de Açúcar, num passeio que o deixou maravilhado. Era uma viagem vertiginosa sobre a floresta selvagem preso por um cabo de aço. Em cima, um magnífico jogo de altemância de neblina e sol. Ao descer foi ainda servido um chá e doces no Restaurante Hangar. À noite, recebeu as boas-vindas da comunidade judaica e fez um passeio de carro com o Rabino Raffalovich, que lhe havia causado uma ótima impressão. O dia seguinte seria bem mais movimentado. Pela manhã, o médico Silva Mello foi buscá-lo no hotel para um passeio a pé pelas ruas de Santa Tereza. Silva Mello havia sido preparador em Berlim dos cursos de Rudolf Ehrmann, que por sua vez era o médico pessoal de Einstein. Foi Assis Chateaubriand, dono de O Jornal, e amigo de Silva Mello, quem se encarregou de marcar um encontro entre os dois. Silva Mello contou algumas das intrigas da Universidade, e muitas vezes a conversa fluía mais que a própria observação. Einstein achou-o um homem distinto e inteligente, e tanto o passeio como a conversa lhe agradaram muito. Depois seguiram para um almoço no Restaurante Minho, no porto, que lhe lembrava uma taberna. À tarde, Einstein teria que se dedicar aos seus compromissos sociais. No hotel, vestiu o fraque comprado na véspera, e ficou à espera da comitiva chefiada por Getúlio das Neves, e integrada por Alfredo Lisboa, Daniel Henninger, Mário Souza, e Isidoro Kohn, suas companhias na visita ao Chefe de Estado. Conversou com Arthur Bernardes, posou para algumas fotos, e depois seguiu até os gabinetes do Ministro da Justiça, Affonso Penna Júnior, da Agricultura, Miguel Calmon, e do Prefeito do Rio de Janeiro, Alaor Prata. Einstein não gostava nada dessas formalidades - mas sabia que eram necessárias. Afinal, ele tinha consciência de seu status político, como uma espécie de Chefe de Estado, e sabia se resignar com essas obrigações. Havia sido recebido em outras ocasiões pelo Presidente dos Estados Unidos, pelo Imperador do Japão, ou o Primeiro Ministro da Inglaterra - nada mais natural que ser recebido pelo Presidente do Brasil em sua visita a esse país. Em troca, Einstein deu sua gravata para Kohn, que está guardada ainda hoje pelos descendentes de Kohn. 16 17 Faculdade de Philosophia para Einstein, 05/05/25. AE 30.201. 322 Alfredo Tiomno Tolmasquim Rumaram em seguida para o Clube de Engenharia, onde Einstein faria a primeira parte de sua conferência sobre a Teoria da Relatividade. Encontrou um salão superlotado por embaixadores, generais do exército, representantes dos Ministros e engenheiros, muitos deles acompanhados de suas esposas e filhos. Pareciam prontos para assistir a uma exibição de algum grande barítono. Após uma introdução do presidente em exercício do Clube de Engenharia, Getúlio das Neves, começou a proferir em francês a conferência que conhecia tão bem, e havia repetido por inúmeras vezes para os públicos mais distintos. Falou sobre a relação entre o tempo e a velocidade da luz. Explicou o fato da velocidade ser uma constante em todos os referenciais, enquanto que o tempo é influenciado pela velocidade do observador, o que havia tornado a Teoria da Relatividade tão popular em todo o mundo. O público se comprimia, deixando pouco espaço para o próprio Einstein se locomover, apertando-o de encontro ao quadro-negro, onde fazia desenhos para explicar a mudança de referencial. Devido ao calor, e ao grande número de pessoas, as janelas foram abertas, o barulho da rua prejudicou ainda mais a acústica já precária da sala. Mas o pior para Einstein era perceber com nitidez que estava diante de um público muito diversificado, com uma grande quantidade de pessoas leigas, sem um conhecimento prévio em Mecânica que permitisse entender sua explanação. Mas ele proferiu sua palestra conforme o previsto, apesar do pequeno sentido científico de tudo aquilo. Ele mesmo se sentia ali como uma espécie de elefante branco. À noite, sozinho e nu em seu quarto no Hotel Glória, descansou do estafante dia, apreciando a vista da baía com inúmeros trechos verdes de ilhas nuas ao luar. Examinou com atenção as medalhas em bronze que havia recebido, produzidas três anos antes por ocasião das comemorações do Centenário da Independência18. A quinta-feira começou com uma visita ao Museu Nacional. Einstein foi recebido pelo antropólogo Roquete Pinto, substituto do diretor Arthur Neiva, que se encontrava na época em São Paulo auxiliando na debelação da praga cafeeira. Roquete Pinto falou-lhe sobre a Rádio Sociedade, a primeira emissora do Brasil., criada dois anos antes por ele e Henrique Morize. Einstein se interessou especialmente pelos esqueletos de animais, como a estrutura da espinha dorsal de uma serpente, e pelos aspectos antropológicos, como a cultura dos índios. Tomou conhecimento das teorias eugênicas que imperavam. em grande parte do meio científico local, prevendo o futuro branqueamento do Brasil. Segundo essas teorias, o negro iria desaparecer em função da mistura racial para dar lugar ao mulato - e este, por sua vez, estaria fadado a desaparecer por sua pequena resistência. Após a visita, seguiram para um almoço na Essas medalhas encontram-se no espólio de Einstein, depositadas na Universidade Hebraica de Jerusalém. 18 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 323 casa de Aloysio de Castro, médico, escritor e membro, juntamente com Einstein, da Comissão de Cooperação Internacional da Liga das Nações. Estavam presentes a escritora Rosalina Coelho Lisboa, Assis Chateaubriand, Silva Mello, o antropólogo russo Schild, Henrique Morize, Presidente da Academia Brasileira de Ciências, o médico Miguel Couto, Getúlio das Neves, Daniel Henninger, da Escola Politécnica e Noca Cerqueira. A conversa girou em torno dos problemas da ciência brasileira, da ausência de pesquisa pura e das dificuldades na Liga das Nações para estabelecer os critérios de concessão de donativos para professores e alunos necessitados. Mas por vezes o interesse recaía sobre deliciosas amenidades, como as preferências culinárias ou o costume das moças brasileiras de se pintarem de forma tão extravagante. E Einstein adorava uma boa conversa, e o almoço se desenrolou de forma agradável. Seguiram então para a Academia Brasileira de Ciências, onde Einstein foi recebido pelos membros da Academia e, conforme tinha sido combinado com Roquete Pinto, foi convidado para proferir algumas palavras nos microfones da Rádio Sociedade. Na verdade, ele não tinha muito a dizer, e preferiu ressalvar a importância da rádiotelefonia, e o seu papel para transmitir os melhores frutos da civilização àqueles que vivem isolados - desde que divulgadas por pessoas capacitadas, é claro. Ainda na Academia, Einstein ouviu o discurso do Vice-Presidente, Juliano Moreira, sobre a influência da Teoria da Relatividade nas demais ciências, em especial a Biologia. Francisco Lafayete falou a seguir sobre as teorias de Einstein, e conferiu-lhe o título de Membro Correspondente da Academia Brasileira de Ciências, assinado por todos os membros. Depois foi a vez de Mário Ramos, que elogiou a obra do visitante e instituiu o Prêmio Albert Einstein, uma medalha de ouro e um diploma para o melhor trabalho das seções de Matemática, Físico-Química e Biologia. Enquanto ouvia os discursos, Einstein pensava sobre as longas digressões daqueles veementes oradores. Quando elogiavam alguém, era como se estivessem elogiando a própria eloquência. Certamente, deveriam vir do clima esse apreço pela retórica, e pela irrelevância, esse gosto pelo supérfluo, mas achava que as pessoas em geral não pensavam da mesma forma. De repente, seus pensamentos foram interrompidos pela salva de palmas: estava na hora de proferir algumas palavras. Einstein agradeceu os elogios e falou sobre as discussões acerca da teoria, da luz, explicando que a teoria do quantum luminoso havia, pelo seu poder de explicação, assumido uma posição segura ao lado da teoria ondulatória da luz. Entretanto, ainda não se tinha conseguido uma síntese lógica entre as duas teorias. Explicou, então, as experiências mais recentes que estavam sendo realizadas para tentar explicar a natureza da luz. A sexta-feira começou com uma visita ao Instituto Oswaldo Cruz, onde o diretor Carlos Chagas o acompanhou numa demorada visita pelo Museu de Anatomia Patológica, a sala de leitura, a biblioteca e os 324 Alfredo Tiomno Tolmasquim diversos laboratórios. Ouviu uma longa exposição sobre os insetos transmissores de doença, e observou o Tripanossoma ao microscópio. À tarde, proferiu a segunda conferência sobre a Teoria da Relatividade, na Escola de Engenharia. Dessa vez, haviam tomado medidas para evitar a invasão do salão: o público foi selecionado, ficando restrito aos que haviam estado na primeira conferência, da qual esta seria uma continuação, e limitando o número de participantes ao que comportava o salão de honra da Escola. Einstein pode, então, desenvolver sua exposição em ambiente de mais silêncio e atenção, apesar de igualmente prejudicado pelo forte calor da sala. À noite, aguardava-o a recepção oferecida pela colônia alemã, no Clube Germania Einstein teve um pouco de receio quando os representantes da colônia alemã vieram convidá-lo para aquele jantar. Afinal, o que ele menos queria era ter que se defrontar no Brasil com manifestações nacionalistas germânicas, ou mesmo contrárias a ele19.Mas os anfitriões garantiam que ele encontraria um clima agradável e receptivo - e estavam corretos. Participaram do agradável jantar negociantes, industriais, banqueiros, vestidos como se tivessem saído diretamente de seus escritórios. No único discurso da noite, o Sr. Stahmer, diretor de um banco alemão, chamou Einstein de embaixador da vida espiritual alemã. Einstein não tinha nenhuma intenção de discursar, mas pressionado pelos presentes acabou comentando que, assim como na Europa, também nas Américas havia germes de desconfiança entre os povos, embora as fricções fossem mais leves, em função de uma maior tolerância. O embaixador Knipping, da Alemanha, aproveitou o ambiente descontraído para anunciar a Einstein que gostaria de lhe oferecer uma recepção. Einstein pensou, então, em como eram estranhos os alemães, para quem ele seria uma flor fedorenta, que eles voltavam sempre a enfiar na lapela. A questão diplomática também não era simples, pois Einstein, apesar de nascido alemão, tinha optado pela nacionalidade suíça, quando se transferiu para aquele país no início da vida fazendo, Na Argentina houve muitos alemães descontentes com a presença de Einstein, chegando a haver muitas divergências dentro da própria Instituicion Cultural Argentino-Germana, uma das promotoras da sua visita. Seu artigo sobre paneuropismo publicado no Jornal La Prensa ampliou ainda mais o número de alemães contrários a sua presença, a ponto do embaixador alemão ter convidado apenas argentinos para a recepção que ofereceu a Einstein. Ver correspondência entre o Embaixador alemão na Argentina, Pauli, e o Chanceler alemão. Politisches Archiv des Auswartigen Amtes, Alemanha, R 64677. 20 Uma das ocasiões mais confusas e delicadas foi na concessão do Prêmio Nobel. Segundo o protocolo, o ganhador do Prêmio Nobel deveria ser acompanhado pelo embaixador de seu país na cerimônia e no banquete de recepção oferecido pelo Rei da Suécia. Os dois embaixadores na Suécia, da Alemanha e da Suíça, disputavam-se para ver quem acompanharia Einstein. A sorte foi Einstein não ter podido participar da cerimônia, pois se encontrava na época em viagem ao Japão. O prêmio foi recebido pelo Embaixador alemão em nome de Einstein, mas entregue a ele na Alemanha pelo embaixador suíço, a seu próprio pedido. 19 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 325 inclusive, suas viagens com passaporte suíço20. Ali, no Rio de Janeiro porém, não parecia haver problema diplomático algum. Einstein aceitou o convite, que poderia ser marcado para a sua última noite no Rio. Impôs apenas uma condição: que não houvesse discursos! Na manhã de sábado foi ao Observatónio Nacional as cúpulas de observação, a sala da hora, e se interessou em especial pelo equipamento sismográfico. Teve ainda a oportunidade de encontrar alguns astrônomos que haviam participado do eclipse em Sobral, entre eles Allyrio de Mattos, Lélio Gama, Domingos Costa e o próprio Henrique Morize. Depois, seguiu para um almoço tranqüilo na casa de Silva Mello, sem repórteres ou formalidades, e com um cardápio de pratos brasileiros. A digestão contou com um passeio a pé, até a casa dos irmãos Álvaro e Miguel Osório, onde haviam montado um laboratório doméstico para desenvolverem trabalhos em Fisiologia. O melhor desses passeios com Silva Mello foi, sem dúvida, a ausência dos jornalistas e membros da comissão. Igualmente agradável foi o jantar na casa de Isidoro Kohn, apenas em companhia de sua família. Mas a noite não havia acabado: havia ainda a recepção oferecida pela comunidade judaica no Jockey Club. No enorme salão, completamente repleto, estavam reunidas para vê-lo e ouvi-lo cerca de três mil pessoas, praticamente a totalidade da comunidade judaica do Rio de Janeiro na época. Einstein sabia que havia se tomado uma espécie de símbolo moderno do povo judeu - afinal, apesar de ser tido universalmente como um gênio, ele não abdicava de sua origem judaica. Ao contrário, queria mostrar que era possível ser um cidadão do mundo, reconhecido por todos, e ao mesmo tempo se assumir como judeu. Além disso, ele havia abraçado a causa do Sionismo21. Só não poderia supor que sua adesão à causa sionista o levaria a se tomar um dos grandes ativistas e defensores do movimento. Com a súbita fama atingida no final do ano de 1919, passou a ser alvo concreto do anti-semitismo e do ultranacionalismo existente na Alemanha. Antes de se tomar um símbolo para os judeus, ele tinha se tornado um símbolo judeu para os anti-semitas. Decidiu, então, que, se faziam tanta questão em rotulá-lo de judeu, ao menos seria um bom judeu. Desde então, onde quer que chegasse, havia uma recepção entusiástica dos judeus - pois para eles Einstein era um símbolo de união. Isso lhe causava uma grande alegria, e ele esperava que a expectativa positiva trouxesse algo de bom. Inicialmente, o Rabino Raffalovich falou em alemão sobre o valor do estudo para o judaísmo, e o papel simbólico que Einstein ocupava como grande gênio. Em seguida. Eduardo O movimento político de retorno a Sion já existia desde o final do século passado, mas havia ganho um grande impulso em 1917 (8 anos antes) com a declaração do Ministro do Exterior Britânico favorável ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, conhecida como Declaração Balfour.. 21 326 Alfredo Tiomno Tolmasquim Horowitz falou em idisch, em nome da Federação Sionista e da colônia ashkenazi. Por fim, David Perez falou em francês, em nome da colônia sefaradi. Chegou, então, a vez de Einstein dizer algumas palavras. Falou sobre a necessidade de todos os judeus se unirem em prol daqueles que estavam passando necessidades em várias partes do mundo, e da grande obra que estava sendo realizada na Palestina, de construção de um lar nacional para o povo judeu. Essa é uma tarefa tão grande, que é preciso que todos participem e se esforcem, ressaltou Einstein. Apesar de encarar como uma verdadeira obrigação a luta pelo seus ideais, participar desses eventos era extremamente cansativo. Longos discursos e uma elogiação descomedida, ainda que sincera. Graças a Deus, acabou. Na verdade, ele queria retomar logo à Alemanha para descansar de tanta movimentação e de toda aquela gente que lhe era desconhecida. Felizmente, os dois próximos dias estavam destinados, conforme a programação, a passeios, algumas visitas e descanso. Para o domingo, estava prevista uma viagem a Itatiaia, mas devido à distância, decidiu-se por um passeio mais curto, pelas matas da cidade. Einstein seguiu num automóvel junto com Isidoro e Irma Kohn, Poldi, e o Rabino Raffavolich. Atrás deles um outro veículo conduzia Getúlio das Neves, Roberto Marinho, Pacheco Leão, Mário Souza e Azevedo do Amaral. Foram costeando a orla até chegarem à Avenida Niemeyer subiram São Conrado e de lá seguiram para o Alto da Boa Vista, Excelsior e Vista Chinesa. Desceram pelas Laranjeiras, pegaram o pequeno trem para o Corcovado, onde chegaram ao entardecer. Deslumbrado com a paisagem e a flora local, Einstein achou a excursão maravilhosa, tendo ficado especialmente impressionado com a visão do por-do-sol no Corcovado. Durante o passeio, Einstein combinou com Raffalovich que nas visitas à noite à Central Sionista e a Biblioteca Scholem Aleichem seriam suprimidos os longos discursos e as grandes formalidades. Assim. foi feito. Raffalovich fez uma apresentação informal de Einstein, o que contribuiu para dar mais intimidade ao encontro. Também pronunciaram algumas palavras Jacob Schneider, Presidente da Federação Sionista, e Manuel Koslowsky, Presidente do Centro Sionista. Einstein agradeceu a recepção e expressou sua alegria pela intensa atividade sionista na comunidade judaica do Rio de Janeiro. No final, todos assinaram um livro de honra. De lá, Einstein seguiu para a Biblioteca Scholem Aleichem, onde ouviu o presidente da instituição, Feingold, discorrer sobre escritores judeus dos quais a Biblioteca possuía livros. Recebeu de presente um livro do escritor Scholem Aleichem com capa de couro e inscrição em letras de ouro. Em retribuição, ofereceu um retrato autografado para ser pendurado numa das paredes da Biblioteca. PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 327 Na segunda-feira, ele cumpriu, finalmente, o último dia de sua estada. Começou com uma visita ao Hospital dos Alienados, ciceroneado pelo Diretor Juliano Moreira e pelo diretor da Faculdade de Medicina, Aloysio de Castro. Durante a visita pela biblioteca, salão de honra, fisioterapia e demais dependências, viu alguns casos exemplares e conversou com alguns internos. De lá, seguiram para um almoço na residência de Juliano Moreira, que era casado com uma alemã. Einstein considerava Juliano Moreira uma pessoa especialmente virtuosa, vendo com satisfação o fato dele ser mulato. Houve, ainda, uma visita aos gabinetes de alguns ministros, mas, para satisfação de Einstein, a maioria estava ausente, poupando-o dos intermináveis cumprimentos. Assistiram a um filme sobre a vida dos índios e o trabalho do General Rondon. E, ao final da tarde, visitaram a sede de O Jornal, onde recebeu de presente uma caixa de madeira com pedras preciosas do Brasil, em bruto e lapidadas. (Essa caixa não se encontra hoje no espólio de Einstein: possivelmente foi roubada durante o confisco de sua casa na Alemanha pelos nazistas, em 1933). À noite, Einstein participou ainda de um jantar no hotel, oferecido pelo embaixador alemão. Depois daquele dia repleto de atividades, que encerrava várias semanas de peregrinação por salões de conferência, cumprimentos e recepções pela América do Sul, ele concluiu em seu diário: finalmente livre, mais morto do que vivo. No dia seguinte, Einstein embarcou no navio Cap Norte, em direção à Alemanha, deixando a todos que o receberam um pequeno e simpático agradecimento escrito. Finalmente, teria duas semanas de descanso até retomar ao movimento de Berlim. Porém, estava cada vez mais desanimado com a situação na Alemanha, e em especial, a recente posse de Hindemburgo. Pensava que a Alemanha era a nação que havia expulso a inteligência com uma bengala. Durante a viagem de volta, Einstein aproveitou para descansar, refletir sobre as questões da Física, tocar seu violino, e fazer um balanço da viagem. Em primeiro lugar, decidiu não empreender mais viagens desse tipo, longas e sem justificativa científica. Lembrou-se, então, do que havia visto e ouvido sobre o General Rondon, e resolveu escrever do próprio navio uma carta ao Comitê Nobel, recomendando-o para o Prêmio Nobel da Paz, ressaltando que sua obra consistia na integração de tribos indígenas aos homens civilizados sem utilização de armas nem coerção de qualquer natureza 22. Einstein chegou à Alemanha com os nervos estressados, e disposto a adiar a viagem para Pasadena, nos Estados Unidos, programada para o inverno de 1927. Deu continuidade a sua atividade cientifica, a luta 22 Einstein para Vorsitzenden des norwegischen Nobel-Komites, 22/05/25. AE 71.113. 328 Alfredo Tiomno Tolmasquim pelo pacifismo e contra o rearmamento da Alemanha, e em prol da Universidade Hebraica de Jerusalém. No final de 1925 chegou um Diploma de Honra concedido pelo Clube de Engenharia, e encaminhado por Isidoro Konh23. A relação posterior de Einstein com o Brasil se restringiu ao contato com físicos brasileiros da nova geração, ou com as autoridade brasileiras. Intercedeu durante a 2a Guerra Mundial por refugiados judeus do nazismo24 e, posteriormente, por cientistas fugidos do macarthismo25. Em 1952, Silva Mello aproveitou sua estada nos Estados Unidos, e foi em companhia de Ehrmann visitar Einstein em sua residência em Princeton. À semelhança de Einstein, Ehrmann. também havia se exilado nos Estados Unidos, com a ascensão do nazismo, e continuara a ser seu médico particular. Einstein e Silva Mello, entre um gole de chá e alguns biscoitos, rememoraram a visita ao Rio de Janeiro, e os passeios a pé pela cidade. JORNAIS CONSULTADOS O Jornal O Imparcial O Malho Revista Fon Fon O Careta A Noite Jornal do Brasil Correio Paulistano Aonde Vamos? O Paiz (Biblioteca Nacional do Brasil) Das Idische Vochemblat (Biblioteca Nacional de Israel) 23 Isidoro Kohn para Einstein, 30/11/25. AE 30.205. Ver Lesser, Jeffrey. O Brasil e a Questão Judaica: imigração, diplomacia e preconceito. Rio de janeiro: Imago. 24 Um dos casos mais divulgados é o da ida do físico David Bohn a São Paulo. Ver Bohn, Einstein e a Ciência no Brasil, Ciência Hoje, Vol. 15, n0 90, maio de 1993, p. 44-7. 25 PARCERIAS ESTRATÉGICAS - número 8 - Maio/2000 329 AGRADECIMENTOS Várias pessoas têm contribuído nesta pesquisa sobre a visita de Einstein ao Brasil, com indicações de material, sugestões e críticas. Entre elas, gostaria de registrar os nomes de Nachman Falbel, Giuseppe Castagnetti, Naumin Aizen, Jeffrey Lesser, Samuel Malamud, Haim Avni, Jurgen Renn, Isidoro Alves, Ana Maria Ribeiro de Andrade, Hanna Schneider, Pedro Kirslansky, Ada Hetz, Beatriz Bach, Léa Gleizer, Lenita Adler. Agradeço ainda a Zeev Rozenkranz, e toda a equipe do Arquivo Albert Einstein, da Hebrew University of Jerusalem, por ter-me facilitado o acesso ao material. Sou grato em especial a Antonio Fernandes Borges pela gentil revisão do texto e em especial ao jornalista e escrito Antônio Fernando Borges pela revisão do texto, que enriqueceu muito o artigo. Este artigo é resultado das pesquisas realizadas durante meu pós-doutorado no Edelstein Center for the History and Philosophy of Science, Technology and Medicine da Universidade Hebraica de Jerusalém. Nesse sentido, agradeço ao Museu de Astronomia e Ciências Afins por minha liberação, e ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico a bolsa de estudos, possibilitando a realização desse trabalho. BIBLIOGRAFIA Albert Einstein. Revista do Clube de Engenharia. 1925. Caffareli, Roberto Vergara. Os oito dias de Einstein no Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo. N0 81, Ano II, Suplemento Cultural, p.3, 14/05/78. Caffarelli, Roberto Vergara. Einstein e o Brasil. Ciência e Cultura vol.31, n0 12, dez 1979. Clark, Ronald W. Einstein: the life and times. London: Hodder & Stoughton, 1973. Einstein, Albert. Observação sobre a situação actual da Theoria da Luz. Revista da Academia Brasileira de Sciencias, n0 1, abril de 1926, pp. 1-3. Falbel, Nachman. A visita de Albert Einstein à comunidade judaica do Rio de Janeiro. In. Falbel, Nachman. Estudos sobre a comunidade judaica no Brasil, São Paulo, 1984. Folsing, Albricht. Albert Einstein: Eine Biographie. Frankfurt: Suhrkamp, Verlag, 1993. Frank, Philipp. Einstein: his life and times. New York: Da Capo Press, 1989. Holton, Gerald, Elhanan, Yehuda (ed.). Albert Einstein: historical and cultural perspectives, New Jersey, Princeton University Press, 1982. Kirsten, Christa; Treder, Hans-Jurgen, et al. Albert Einstein in Berlin 1913-1933. Vol. I Darstellung und Dokumente. Vol. IL Spezialinventar. Berlin: Akademie-Verlag, 1979. 330 Alfredo Tiomno Tolmasquim Malamud, Samuel. Recordando a Praça Onze. Rio de Janeiro: Kosmos, 1988. Michelmore, Peter. Einstein - perfil de un hombre. Barcelona: Editorial Labor, 1965. Pais, Abraham. Sutil é o Senhor...: a ciência e a vida de Albert Einstein. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. Pereira, Francisco Lafayette Rodrigues. Recepção de Einstein. Revista da Academia Brasileira de Sciencias. n0 1, abril de 1926, pp. 77-9. Raffalovich, Isaiah. Tziunim ve Tmurim, (Autobiografia) Tel Aviv. (em hebraico) Reiser, Anton. Albert Einstein: a biographical portrait. New York: Albert & Charles Borei, 1930. Ricieri, Aguinaldo Prandini. A vinda de Einstein ao Brasil., São Paulo: Prandiano, 1988. Schenker, Aron, Fun Albert Einstein besuch ein Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ikuf, 1959. (em idisch) Sujimoito, Kenji. Albert Einstein: A photographic biography. New York: Schoken Books, 1989. Resumo A visita de Albert Einstein ao Brasil, em maio de 1925, causou um grande impacto na comunidade científica do Rio de Janeiro. O famoso cientista visitou o Brasil na volta de sua viagem à Argentina e Uruguai, onde esteve proferindo palestras na Universidade de Buenos Aires. Sua visita ao Brasil foi marcada por debates sobre a ciência pura e aplicada, a necessidade de incrementar a pesquisa científica, e a metodologia científica por si só. A disputa entre os cientistas e as instituições de pesquisa também estiverem na pauta de discussão, mostrando a realidade da ciência no Brasil daquela época Abstract This paper presents the scientific context Einstein found during his visit to Brazil in May 1925, and the impact it caused in the scientific community in Rio de Janeiro. He visited Brazil when he went back from his trip to Argentina and Uruguay to take a course of lectures in the Buenos Aires University. His visit turned explicit many debates were taking place in Brazil about the pure and applied sciences, the necessity of new places for the development of the scientific research, and the methodology of science itself. It put also in evidence the situation and disputes were carrying on between scientists and also their institutions, producting a portrait of the science at this time in Brazil. O Autor A LFREDO TIOMNO TOLMASQUIM é pesquisador titular e chefe do Departamento de Informação e Documentação do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Doutor pela UFRJ, fez o pós-doutorado no Edelstein Center for the History and Philosophy of Science, Technology and Medicine da Universidade Hebraica de Jerusalem.
Download