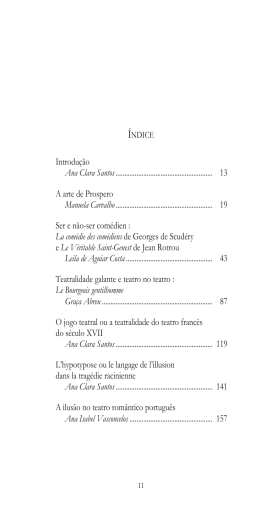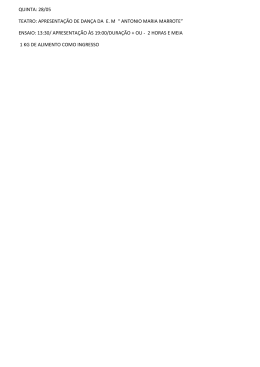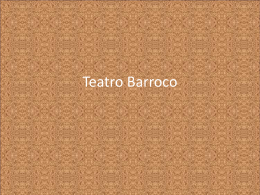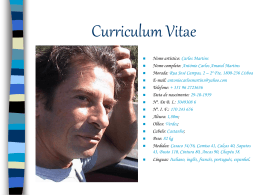UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PRISCILA SAEMI MATSUNAGA TRABALHO DO LATÃO Rio de Janeiro 2013 PRISCILA SAEMI MATSUNAGA TRABALHO DO LATÃO Tese de Doutorado apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura (Literatura comparada), Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Ciência da Literatura (Literatura comparada) Orientadora: Profa. Dra. Eleonora Ziller Camenietzki Rio de Janeiro 2013 PRISCILA SAEMI MATSUNAGA TRABALHO DO LATÃO BANCA EXAMINADORA Tese de Doutorado apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura (Literatura comparada), Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Ciência da Literatura (Literatura comparada). _________________________________________ Profª Drª Eleonora Ziller Camenietzki – Orientadora Universidade Federal do Rio de Janeiro − UFRJ _________________________________________ Prof. Dr. André Luiz de Lima Bueno Universidade Federal do Rio de Janeiro − UFRJ _________________________________________ Profª Drª Danielle dos Santos Corpas Universidade Federal do Rio de Janeiro − UFRJ _________________________________________ Profª Drª Maria Elisa Burgos da Silva Cevasco Universidade de São Paulo – USP _________________________________________ Prof. Dr. Walter Garcia da Silva Júnior Universidade de São Paulo – USP Dedico este trabalho ao mestre Fernando Amorim Tudo quanto ainda me falta dizer e fazer, eu o direi e farei sempre contigo ao me lado. Augusto Boal AGRADECIMENTOS Ao percorrer as ruas de pedra de Paraty, o caminhante sabe o quão difícil é não fixar os olhos no chão. Mas ainda que o corpo, ou os pés, nos obriguem a andar curvados com medo do tropeção, há sempre um som, um cheiro, uma brisa, que faz com que olhemos para o horizonte e para o alto. A mim ocorreu estar perambulando numa das ruas de Paraty, desajeitadamente, e conhecer dois personagens essenciais, de tons inconfundíveis, sem os quais este trabalho não teria sido realizado: o meu querido professor Fernando Amorim e minha querida orientadora Eleonora Ziller. Faltam palavras para agradecer e homenagear as figuras mais decisivas desse momento, que de um cafezinho na esquina se transformou numa nova etapa da minha vida. A eles minha imensa, para sempre, gratidão. Através de Fernando e Eleonora tive outros encontros, pessoas por demais especiais, que estiveram comigo nesses anos de aprendizado – e suas vozes e desejos de boa jornada ressoam pelas linhas do trabalho: os queridos professores Jose Cubero e Maria Helena Silveira; meus amigos do Núcleo UFRJMar Marcella Freire Ventin, Paula Callegario, Bianca Pires, Elielson Barros, Daniela Carvalho. Agradeço especialmente a Paulo Maia, pela acolhida em Santa Tereza e conversas até ... às 22h. Deixa muita saudade um grande amigo e professor, Luiz Henrique da Costa. Com vocês o céu de Paraty sempre está mais azul. Com vocês partilho o trabalho de estudo, e, também, de vida. À Paula Kropf, companheira de doutoramento, muito obrigada por dividir materiais, pensamentos, sugestões. Reconduzida pela orientação da professora Eleonora, o estudo permitiu outro encontro inesperado e tão prazeroso quanto o primeiro: aos mui queridos integrantes da Companhia do Latão, meu sincero e respeitoso agradecimento. Em especial, agradeço a João Pissarra, Martin Eikmeier, Luiz Gustavo Cruz, Roberta Carbone, Paula Bellaguarda, Renan Rovida, Rogério Bandeira, Carlos Escher, Ney Piacentini e Helena Albergaria pelas conversas, e principalmente pelo aprendizado. Ao mestre Sérgio de Carvalho, muito mais do que agradecida pela paciência e carinho nos momentos de certezas tão incertas, de partilhamento intelectual. Este estudo não teria se concretizado sem a sua parceria e generosidade. Com Sérgio redescobri o teatro e serei eternamente grata. É o meu desejo que a aprendizagem com esse grande dramaturgo se espalhe por essas linhas e por demais trabalhos que estão por vir. Deste encontro, novos amigos: ao querido Julian Boal, agradeço as observações pontiagudas que sempre me fazem pensar adiante e a Cecília Boal, pelo carinho, confiança e respeito quanto ao meu trabalho. Agradeço os professores Maria Elisa Cevasco e André Bueno pelas generosas observações no exame de qualificação e confiança em mim depositada. Agradeço os professores do departamento de Ciência da Literatura, em especial à Martha Alkmin, Danielle Corpas e Flávia Trocolli pelas sugestões de leitura e generosidade e o professor Luis Alberto Alves, coordenador do Programa de Pósgraduação em Ciência da Literatura. Agradeço os funcionários da Faculdade de Letras, em especial a Jorge Fernandes e Maria de Fátima Quintela Campelo, pela sempre disposta acolhida às minhas solicitações. Este percurso só foi possível porque tenho, junto a mim, o carinho de meus pais, Nelson e Vanilde, que sempre apoiam as decisões mais difíceis. Compartilho este trabalho com minhas amadas: Melissa, leitora exigente e Vanessa, observadora ferrenha. Pelo olhar de vocês vejo de um jeito diferente, de ângulos novos, perspectivas viajantes. Amorosamente agradeço ao meu companheiro Denis, que de mais de perto vem acompanhando minhas dúvidas, os tropeços nas pedras de Paraty, e que com uma voz, também inconfundível, me faz olhar para o horizonte, para além do enquadramento da porta. Nele encontro Bylly, e antes, Cléo. RESUMO Esta tese objetiva discutir o trabalho teatral desenvolvido pela Companhia do Latão, grupo paulistano formado em fins da década de 90. O estudo perpassa a produção dramatúrgica e cênica, bem como sua produção teórica, com o intuito de identificar o projeto estético forjado por um preciso projeto ideológico anticapitalista. Nesse sentido, debruça-se sobre a peça Ópera dos vivos, estreada na cidade do Rio de Janeiro em 2010. Pelo estudo desenvolvido compreende-se que a Companhia do Latão se insere, com alto grau de consciência da linguagem, nas contradições do presente, nas quais o pressuposto crítico problematiza, pela composição cênica, o campo representacional em que o capitalismo ideologicamente se projeta e constantemente se recompõe. ABSTRACT This thesis aims to discuss the theatric work developed by the Companhia do Latão, a group founded in São Paulo in the late 1990’s. The study links the dramatic and panoramic production as well as its theoretic production, in order to identify the esthetic project forged by a precise project of anti-capitalist ideology. In this sense we focus on the piece Ópera dos vivos, released in Rio de Janeiro in 2010. With the developed study we understand that the Companhia do Latão falls within the contradictions of the present, with a high level of linguistic conscience, in which the critical dialogue questions, with the scenic composition, the representative field in which capitalism is projected and always reestablishes itself. RÉSUMÉ Cette thèse à comme objectif de discuter le dévelopement du travail théatrale par la Companhia do Latão, un groupe de São Paulo formée dans la fin des années 90. L’étude relie la production dramaturgique et scénique, bien comme sa production théorique, afin d’identifier le projet esthétique forgée par un projet d’idéologie anti-capitaliste bien precis. Dans ce sens c’est une étude de la piece Ópera dos Vivos , sortie à Rio de Janeiro en 2010. Dans l’étude effectuée on comprend que la Companhia do Latão insert, avec un haut niveau de conscience linguistique, dans la contradiction du présent, dans lequel le dialogue critique thématise, par la composition scenique, le domaine figuratif dans lequel le capitalisme idéologiquement se conçois et constamment se recompose. SUMÁRIO PRÓLOGO.....................................................................................................................10 Os pressupostos básicos...................................................................................................15 NÃO SE PODE ULTRAPASSAR O FIM A NÃO SER RECUANDO....................21 É TEMPO DE DESTRAMBELHAR..........................................................................36 OS MORTOS OBSTACULIZAM A FELICIDADE DOS VIVOS..........................69 EPÍLOGO.....................................................................................................................176 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................185 ANEXOS.......................................................................................................................191 Anexo 1..........................................................................................................................192 Anexo 2..........................................................................................................................194 10 PRÓLOGO Em fins da década de 90, diante do acirramento da política neoliberal, artistas de São Paulo constituíram um movimento conhecido posteriormente como Arte contra a barbárie. Os pressupostos do movimento se dirigiam para a formulação de políticas públicas contra a prática do Estado, a de investimentos via renúncia fiscal, disputando publicamente o pensamento sobre arte e cultura. O livro organizado por Iná Camargo Costa e Dorberto Carvalho, A luta dos grupos teatrais de São Paulo por políticas públicas para a cultura, registra as condições históricas que geraram tal movimento, identificando num primeiro momento o entrelaçamento, em nível global, do Estado ao sistema capitalista (tanto o “estado mínimo” que obviamente retira sua responsabilidade de setores como educação, saúde e cultura quanto o “estado forte”, funcionando estrategicamente como um espaço nacional legitimador do capitalismo global). Os autores acabam com qualquer ilusão sobre o papel do Estado: “o capital dá régua e compasso a todas as esferas da nossa vida” (COSTA; CARVALHO, 2008, p.13). A partir dessa consideração enterram outra ilusão, a saber, que no campo artístico poderia ser cultivada alguma autonomia, econômica e também estética: ao Estado gestor do capital não cabe senão a função de encaminhar questões públicas conforme interesses privados, o que fica evidente quando reduz investimentos estatais na oferta de serviços públicos, incluindo a cultura, negando a convicção de que se tratam de direitos fundamentais do cidadão. No Brasil, que nunca vivenciou um estado de bem-estar social, segundo os autores, passamos da “política” benfeitora de iniciativas individuais amigáveis do período colonial, barrados impulsos republicanos mais democráticos, ao processo de mercantilização da cultura em nível mundial. A ditadura iniciada em 1964 deu as condições estruturais para a entrada definitiva do Brasil nessa ordem. Por incrível que possa parecer, foi a ditadura iniciada em 1964 que pela primeira vez dotou o país de uma política de cultura digna do nome e de inspiração keynesiana. Mas é bom não perder de vista o processo: primeiro os militares trataram de eliminar da cena, por meio da censura, prisões e exílios, a cultura esquerdista, hegemômica até o AI-5. Feita a limpeza e criada a infra-estrutura para a indústria cultural (a Embratel é de 1965, o Ministério das Comunicações é de 1967) que se encarregou de colonizar para os valores do capital os corações e as mentes da grande maioria, foi possível, já em 1975 (governo da “distensão lenta, gradual e segura”), criar um órgão como a Funarte para viabilizar o Plano Nacional de Cultura, que vinha sendo ruminado desde 1966. Quando, em 1985, o governo da Nova República desvinculou o Ministério da Cultura do Ministério da Educação, pouca gente entendeu que este já era o primeiro lance para a entrada do 11 Brasil no jogo bruto da administração da cultura pelo capital. (COSTA; CARVALHO, 2008, p.17) A perversidade dessa condição ficou explícita com a regulamentação da Lei Rouanet (nº 8.313/91)1. Foi tudo muito rápido: em 1995 foi aprovada uma primeira regulamentação da Lei Rouanet autorizando a ampliação dos resgates do imposto devido permitidos na formulação anterior, em 1996 é criado o Sistema Financeiro da Cultura para organizar a renúncia fiscal no plano dos estados e municípios, além do federal. Isto é: cada esfera da administração pública renuncia seus respectivos impostos, como IPTU e ISS (Lei Mendonça), ICMS (leis estaduais) e IR (Rouanet). Finalmente, em 1997, nova regulamentação da Lei Rouanet completa o processo, autorizando a dedução integral dos gastos. A partir deste momento, acabou a farsa, ou melhor, finalmente se consolidou a parceria tal como definida acima: agora o Estado paga tudo e o capital exerce a sua liberdade de escolha. (COSTA; CARVALHO, 2008,p.18) É neste cenário devastador, de total precarização das condições de trabalho de artistas sujeitos à política de marketing de grandes empresas, que o movimento Arte contra a barbárie é gestado. Alguns dos signatários do Primeiro Manifesto Arte contra a barbárie – Aimar Labaki, Beto Andretta, Carlos Francisco Rodrigues, César Vieria, Eduardo Tolentino, Fernando Peixoto, Gianni Ratto, Hugo Possolo, Marco Antonio Rodrigues, Reinaldo Maia, Sérgio de Carvalho, Tadeu de Souza e Umberto Magnani (publicado em 07 de maio de 1999 pela grande impressa e divulgado para mais de 300 pessoas no Teatro Aliança Francesa no dia 10 de maio) −, integravam grupos teatrais formados entre os anos 1980 e 1990 e junto deles, artistas de longa trajetória na produção cultural brasileira. O encontro entre gerações, talvez, tenha dado o tom de alguns pontos apresentados pelo documento, que reproduzo abaixo2: Manifesto arte contra a barbárie O teatro é uma forma de arte cuja especificidade a torna insubstituível como registro, difusão e reflexão do imaginário de um povo. Sua condição atual reflete uma situação social e política grave. É inaceitável a mercantilização imposta à cultura no País, na qual predomina uma política de eventos. É fundamental a existência de um processo continuado de trabalho e pesquisa artística. Nosso compromisso ético é com a função social da arte. A 1 A Lei Rouanet, que instituiu o Programa Nacional de Apoio a Cultura (PRONAC), foi sancionada durante o governo de Fernando Collor. 2 CARVALHO, Dorberto; COSTA, Iná Camargo. A luta dos grupos teatrais de São Paulo por políticas públicas para a cultura: os cinco primeiros anos da lei de fomento ao teatro. São Paulo: Cooperativa Paulista de Teatro, 2008, p. 21-22. Em algumas referências, como a que se pode acessar no site da Companhia do Latão, os “grupos” assinam o documento. Saliento que César Vieira é fundador do grupo Teatro Popular União e Olho vivo em atividade desde meados da década de 60. 12 produção, circulação e fruição dos bens culturais é um direito constitucional, que não tem sido respeitado. Uma visão mercadológica transforma a obra de arte em “produto cultural”. E cria uma série de ilusões que mascaram a produção cultural no Brasil de hoje. A atual política oficial, que transfere a responsabilidade do fomento da produção cultural para a iniciativa privada, mascara a omissão que transforma os órgãos públicos em meros intermediários de negócios. A aparente quantidade de eventos faz supor uma efervescência mas, na verdade, disfarça a miséria de investimentos culturais a longo prazo que visem à qualidade da produção artística. A maior das ilusões é supor a existência de um mercado. Não há mecanismos regulares de circulação de espetáculos no Brasil. A produção teatral é descontínua e no máximo gera subemprego. Hoje, a política oficial deixou a cultura restrita ao mero comércio do entretenimento. O teatro não pode ser tratado sob a ótica economicista. A cultura é o elemento de união de um povo que pode fornecer-lhe dignidade e o próprio sentido de nação. É tão fundamental quanto a saúde, o transporte e a educação. É, portanto, prioridade do Estado. Torna-se imprescindível uma política cultural estável para a atividade teatral. Para isso, são necessárias, de imediato, ações no sentido de: Definição da estrutura do funcionamento e da distribuição de verbas dos órgãos públicos voltados à cultura. Apoio constante à manutenção dos diversos grupos de teatro do País. Política regional de viabilização de acesso do público aos espetáculos. Fomento à formulação de uma dramaturgia nacional. Criação de mecanismos estáveis e permanentes de fomento à pesquisa e à experimentação teatral. Recursos e políticas permanentes para a construção, manutenção e ocupação dos teatros públicos. Criação de programas planejados de circulação de espetáculos pelo País. Este texto é expressão do compromisso e responsabilidade histórica de seus signatários com a ideia de uma prática artística e política que se contraponha às diversas faces da barbárie – oficial e não oficial – que forjaram e forjam um País que não corresponde aos ideais e ao potencial do povo brasileiro. (COSTA; CARVALHO, 2008, p.20) Na identificação das condições de trabalho que não se enquadravam no eixo “fomentado” pelo Estado via renúncia fiscal, e com a clareza de que a cultura é direito do cidadão, houve um enfrentamento ideológico potencializador para o envolvimento de outros artistas e coletivos, e assim os integrantes passaram a se reunir com certa frequência para determinar suas pautas e encaminhamentos. Seguiram-se outros manifestos e a concretização de uma reivindicação: a aprovação de uma lei de fomento ao teatro na cidade de São Paulo. As dificuldades para sua aprovação, os embates políticos, as esperanças em torno de seu alcance e também o balanço político, e estético, dos artistas fomentados podem ser 13 recuperados através do citado livro A luta dos grupos teatrais de São Paulo por políticas públicas para a cultura e também na recente publicação Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo, organizado por Flávio Desgranges e Maysa Lepique (2012). De todo modo, abriu-se a trincheira para a discussão da função social da arte, alimentada por um imaginário quanto à oposição ao pensamento neoliberal. Via a Lei do Fomento3, que instalou o Programa Municipal de Fomento ao Teatro na cidade de São Paulo, o Estado passou a financiar, via editais públicos, projetos teatrais com continuidade artística e relevância social. O período ficou conhecido como um momento de “renovação” do teatro de grupo devido ao seu processo de politização. Em Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo, contudo, principalmente nos textos de Paulo Arantes – A lei do tormento, José Fernando Azevedo – Uma trajetória na intermitência (notas à procura de um esquema), Luiz Carlos Moreira – There is no alternative e em Conversa de bastidor – debate entre Marco Antonio Rodrigues e Sérgio de Carvalho, as contradições e limites tanto do Arte contra a barbárie e da Lei de Fomento ao teatro na cidade de São Paulo são apresentadas a partir de uma revisão histórica e política. Paulo Arantes, por exemplo, chama a atenção, recuperando um texto de Sérgio de Carvalho, quanto às condições dessa retomada Para começar, nunca será demais relembrar que a Lei de Fomento foi paradoxalmente arrancada do establishment numa hora de refluxo social em todas as frentes. Inexplicável demonstração de uma força que em princípio não poderíamos ter, salvo aquela peculiar dos afogados. Pairava, no entanto, no ar uma sensação indefinida de virada política iminente, que de fato ocorreu no ano seguinte ao da aprovação da lei, porém num rumo totalmente inesperado, por maior que fosse o ceticismo a respeito. Como o momento era de fadiga do ajuste estrutural que há oito anos infelicitava o país – era recente a memória ressentida de descaso social sistemático, ilustrada de modo superlativo, por exemplo, pelo episódio do Apagão −, tivemos a chance de reagir ao descalabro justamente quando a maré eleitoral principiava a beneficiar o outro polo da concertação informal que nos rege há quase duas décadas. Creio, no entanto, que no fundo ninguém se iludia. Em primeiro lugar, quanto à natureza preponderantemente reativa do atual ciclo de politização do teatro brasileiro – artisticamente relevante, é claro. Para ser exato, o terceiro, na periodização muito sugestiva de Sérgio de Carvalho. Seria o caso de acrescentar, para melhor ressaltar a novidade do presente, que os dois ciclos precedentes de radicalização da prática teatral – o auge modernista dos anos 30, ainda que “virtual”, como observa Sérgio, pois a estética antiburguesa sequer chegou às salas de espetáculo; e a realização parcial daquele mesmo programa de refuncionalização do teatro, pela geração artística que o golpe de 64 decapitou – respondiam, nos seus 3 Segundo Alexandre Mate (2012), “a lei que institui o Programa Municipal de Fomento entra em vigor no segundo semestre de 2002 e até o fim de 2011 contou com dezenove edições de seleção”. (p.75). A citação foi retirada do livro Teatro e vida pública: o fomento e os coletivos teatrais de São Paulo. 14 próprios termos, a um impulso de reviravolta social no horizonte. Hoje a expectativa não é mais de ruptura (o que dirá utópica, como é o caso da gravitação do imaginário modernista em torno de uma outra civilização), não há sequer “horizonte”, obliterado por uma queda euforizante no Presente, no presente de um capitalismo de novo em marcha forçada, como nos tempos do Milagre (...) Daí a nota dissonante do período: o atual terceiro ciclo de politização é menos uma reação ofensiva, do que uma maneira radical de sobreviver na adversidade. (ARANTES, 2012, p.203-204) A ideia de uma retomada do teatro de grupo − implícita nesta denominação a politização dos coletivos teatrais − é, também, problematizada por Gustavo Assano (2011) em Périplo de ajuntados: um esboço da trajetória de grupo teatral Folias D’arte, por ser demais imprecisa e imprópria, uma vez que as condições daquilo que ficou como conhecido pelo trabalho de teatro de grupo na década de 60, experimentalismo unido à pesquisa de uma arte nacional-popular segundo Sérgio de Carvalho, não estava dado aos grupos que se formaram entre fins de 1980 e durante 1990. Para Assano O que marca o campo teatral do período é justamente a denúncia de uma completa ausência de estrutura material e unidade conceitual que permitisse a atuação de trabalhos esteticamente mais ambiciosos, que articulasse algum tipo de proposta sobre suas especificidades enquanto campo de atividade artística para a categoria. (ASSANO, 2011, p.182) De todo modo, aparentado na disposição coletivizadora e distante da “refuncionalização emancipadora” de 1960, e mais ainda da “revolucionária” de 1930, pois tratavam-se de outros momentos políticos (e tal momento se dá a ver na imprecisão terminológica entre teatro de grupo, processo coletivo, colaborativo ou de criação coletiva, categorias que invariavelmente dizem respeito mais às condições de criação dos artistas do que aos sentidos políticos que orientam os grupos e artistas), não há como negar que a formação de novos grupos teatrais mudou a feição da cena teatral paulistana, frisando, claro, uma “simples” questão de sobrevivência. Também José Fernando Azevedo faz coro às condições que geraram e principiaram a renovação teatral Para muitos, o motivo é, na maior parte das vezes, econômico. Seria mais fácil, diante de todas as dificuldades de produção, começar associando expectativas – o que talvez justifique a quantidade de filiações na Cooperativa Paulista de Teatro, com suas cinco centenas de grupos (...) O fato é que hoje, “formar” um grupo é algo mais ou menos natural, e o Arte contra a Barbárie, como muita coisa em nossa história, já ganhou contornos míticos. Faço parte de um grupo formado naquele momento, e resulta desse percurso a sensação de que, no melhor dos casos, insistimos martelando uma 15 pauta que não soubemos aprofundar, de modo que não deveria causar espanto, a não ser por excesso de autoilusão, a desconexão alarmante desses “novos” grupos em relação àquele ideário que animou a leva imediatamente anterior (...). A Lei forçou intensificar na experiência do teatro de grupo contradições até aqui incontornáveis. O grupo como força produtiva desenvolve-se a partir de um impasse – até segunda ordem, um impasse que indica uma chance histórica. Os artistas apresentam-se como donos de sua força de trabalho; negada a figura do empresário, o grupo não é, todavia, inteiramente dono de seus meios de produção. Resulta que a continuidade do trabalho – baseada na intermitência, inclusiva da Lei – se dá ao custo de negociações e vínculos precários (o que vai desde as condições para a manutenção de um espaço de trabalho, em geral alugado, até as condições mínimas de produção e circulação, muitas vezes sob o signo da submissão). Tais negociações e vinculações quase sempre conformam um campo meramente econômico, restrito a necessidades imediatas de sobrevivência. O que, portanto, está em jogo, é o teor da negociação e do vínculo, ou a capacidade dos grupos de os converterem em alianças, definindo nesse movimento quais são seus aliados (...) Na dificuldade interna ao movimento de decidir-se para além do campo teatral, o passo seguinte foi uma espécie de recuo. Isto posto, se quisermos ainda verificar processos de politização e aprofundamento da pauta anterior, teremos de ir à singularidade dos grupos, e interrogar de perto sobre a maneira como se excedem em cena. (AZEVEDO, 2012, p.212-214) Recorrendo a essa breve apresentação do que significou, politicamente, o Arte contra a barbárie, fica claro que o que está em jogo é a construção de um pensamento anticapitalista, talvez a pauta que os grupos não conseguiram aprofundar quando se aventou a oportunidade de manutenção de sua existência via lei de fomento. Com as contradições da própria permanência do teatro de grupo, como salienta José Fernando Azevedo, seria uma tarefa identificar a singularidade estética no encaminhamento de tal questão, uma vez que os grupos não conseguiram avançar com a pauta para além do campo teatral, e talvez, precariamente, no próprio campo. A partir dessa breve apresentação das condições históricas no qual se formam os coletivos teatrais paulistanos da década de 90, apresento os pressupostos do presente trabalho. Os pressupostos básicos Ao iniciar o presente estudo não me estavam claras as bases nas quais poderia encaminhar o projeto de pesquisa, embora soubesse que centraria a análise na produção teatral da Companhia do Latão, grupo teatral paulistano identificado à pauta anticapitalista do Arte contra a barbárie. Tinha certa pretensão em compreender a representação sobre a realidade brasileira através das obras não apenas do Latão, como é conhecido, mas de outros grupos teatrais, numa espécie de identificação do projeto teatral que estava em curso quando se 16 poderia ter uma proposição unificadora em andamento assemelhada ao que ocorreu em 1960 (devo lembrar o último item do manifesto: Este texto é expressão do compromisso e responsabilidade histórica de seus signatários com a ideia de uma prática artística e política que se contraponha às diversas faces da barbárie – oficial e não oficial – que forjaram e forjam um País que não corresponde aos ideais e ao potencial do povo brasileiro) – e minha admiração ao movimento teatral paulistano não me permitia enxergar todos os senões expostos acima. Ficou mais claro, então, a partir desses comentários, e reduzida a empolgação com o Arte contra a barbárie, o que significam obras de relevância artística circunscritas a uma condição “reativa”. Tendo ponderado – e devo muito às observações dos professores Maria Elisa Cevasco e André Bueno no exame de qualificação da tese − a impossibilidade de levar adiante a ideia original, o trabalho realizado satisfaz, em parte, esse impulso inicial ao localizar o Latão entre os grupos teatrais identificados pelo projeto de construção de um imaginário anticapitalista. Coube, então, tentar verificar como o projeto ideológico4 da Companhia, que tem na figura do diretor e dramaturgo Sérgio de Carvalho o seu principal locutor, se apresenta, ou se equilibra, com seu projeto estético. Ressalvo que esta é, quando muito, uma tentativa de leitura quanto ao modo como o Latão operacionaliza aquilo que tem como perspectiva ideológica; a tentativa final é a de examinar como a reação ao estado de coisas geral, alimentando um imaginário anticapitalista via construção cênica, se concretiza em sua composição teatral – e por mais um rearranjo do estudo, que não conseguiu manter o impulso inicial, a análise se dirige a apenas uma peça, Ópera dos vivos. Demais obras do grupo serão apresentadas, com algumas notas pessoais, a partir da análise de outros autores. 4 Aqui cabe um breve apontamento sobre como o conceito “ideologia” será utilizado no presente trabalho. Em Marxismo e literatura, Raymond Williams (1979) demarca que o conceito de ideologia não se origina no marxismo e nem a ele se limita. Após uma breve explicação de três variações conceituais (i. um sistema de crenças característico de uma classe ou grupo; ii. um sistema de crenças ilusórias – ideias falsas ou consciência falsa – que se pode contrastar com o conhecimento verdadeiro ou científico; iii. o processo geral de produção de significados e ideias) o crítico identifica que o termo criado em fins do século XVIII, pelo filósofo francês Destutt de Tracy, tinha uma conotação marcadamente antimetafísica ao considerar que não há ideias no mundo senão as dos homens, ao mesmo tempo em que excluía qualquer dimensão social ao retirar o modelo de homem e o mundo das relações sociais. Segundo Williams, em A ideologia alemã, Marx e Engels introduzem, no ataque aos seus contemporâneos alemães, a compreensão de que encontrar causas primárias nas ideias foi considerado um erro básico (...) Mas já nessa fase havia complicações óbvias. “Ideologia” tornou-se um apelido polêmico para todos os tipos de pensamento que negligenciavam ou ignoravam o processo material de que a “consciência” era sempre uma parte (p.36). Das diversas e variadas definições que o conceito pode abarcar, Terry Eagleton (1997) sugere que muito da tradicional conversa sobre ideologia foi formulada em termos de “consciência” e “ideias” – termos que têm seus usos adequados, mas que tendem a nos empurrar na direção do idealismo sem percebemos (p.171). Pois bem, para não avançar nos emaranhados desse debate, nos afastando do propósito do estudo, pois central do ponto de vista da análise do projeto da Companhia do Latão, não o é do ponto de vista conceitual, utilizo como ideológico uma ideia, ponto de vista, visão de mundo, que demarca um campo de construção de ideias e significados, em disputa, porem. 17 É claro que na própria organização da obra, independente da vontade de seu criador, se apresenta uma visão de mundo; contudo é fato que desde o modernismo brasileiro da década de 20, a crítica que se faz sobre o procedimento estético, como salienta João Luiz Lafetá em seu estudo sobre a literatura e a crítica no modernismo de 1920 e 1930, reconhece um procedimento autorreflexivo na construção da linguagem, o que faz com a própria crítica se reposicione: Em épocas de grandes revisões de procedimentos literários, de mudanças radicais nas concepções estéticas, o papel da crítica é fundamental; no caso contemporâneo esse papel cresce de importância, já que se trata de uma literatura que assume a posição crítica como elemento constitutivo, que se constrói a partir da crítica constante à sua própria linguagem, a revisão da obra fazendo-se no interior da própria obra. Com efeito, na medida em que o ato criador incorpora a metalinguagem – provocando dessa maneira a ruptura com uma estética da ilusão – a literatura se pensa e se critica. Que resta então fazer? Que sobrará para a “velha crítica”, aquela que exerce de fora da obra e que pretende ser seu conhecimento e sua avalição? (...) acrescenta-se-lhe uma nova tarefa: já que a literatura moderna se faz como exercício de sua própria crítica, como reflexão sobre sua própria linguagem, à “velha crítica” incumbe dizer e explicitar se a obra consegue realizar essa ultrapassagem de si mesma. Em outros termos: a ela cabe exercer, no mais alto grau, a consciência da linguagem. (FAFETÁ, 2000, p.37) Utilizamos do estudo de João Luiz Lafetá a compreensão de que os projetos teatrais forjados pelos grupos renovadores do cenário paulistano estão dispostos a fornecer peças críticas; elas mesmas se fazendo recurso ideológico-reflexivo na formação de um imaginário anticapitalista, construindo, portanto, em cena, uma reflexão dos expedientes teatrais que reforçam o imaginário, e a prática, capitalista. Em 1930: a crítica e o modernismo, João Luiz Lafetá, desenvolve o estudo sobre “a tensão entre o que chamamos projeto estético (a consciência da linguagem e a ruptura com as formas tradicionais de representação literária) e o que denominamos projeto ideológico (a proposição de participar socialmente através da literatura)” (LAFETÁ, 2000, p.252). Para tanto, analisa a produção crítica de Agripino Grieco, Tristão de Athayde, Mário de Andrade e Octavio de Faria, descrevendo nesse percurso a alienação da crítica quanto ao modernismo estético vanguardista harmonizado à alienação política (Agripino Grieco), a obsessão política de timbre ordeiro e católico obliterando, conscientemente, a avaliação e crítica da estética modernista (Tristão de Athayde), a consciência lúcida “das contradições entre um projeto estético avançado e a necessidade de se criar uma literatura para o país subdesenvolvido e culturalmente atrasado” (p.255) (Mário de Andrade) e, finalmente, a prática de uma crítica 18 nitidamente antimodernista tendo em vista a posição política direitista e a instalação de um novo debate ideológico (Octavio de Faria). Ainda que utilizando as categorias do crítico, é consequente deixar claro que não conseguimos percorrer o mesmo itinerário. Desse ponto de vista, seria necessário percorrer a produção teatral crítica de mais de um grupo paulistano e buscar descrever suas especificidades ou ainda caberia percorrer o caudaloso e ainda quase inexplorado “sistema teatral”, e examinar experiências teatrais diversas que reforçaram o imaginário anticapitalista pela periodização, por exemplo, sugerida por Sérgio de Carvalho5. Como tal tarefa, para mim, não foi possível no presente estudo de doutorado, assumo que os projetos críticos anticapitalistas do campo teatral, fazem frente, obviamente, a todas as formas estéticas produtivistas que tendem a enredar o espectador no consumo facilitado da cena, o que só reforça seu comportamento em outras esferas da vida social – a perspectiva mais rasteira −, mas também, e principalmente, a uma certa perspectiva teatral que tende a mistificar o trabalho do artista e por isso abusa da capacidade intelectual de qualquer indivíduo ao manter uma comédia ideológica com ares de grande arte. Sabendo do risco “coloco no mesmo saco” todas as iniciativas que mantém a perspectiva individualizada e sentimentalizável, com o pressuposto da esfera privada em suas encenações, o que faz, pelo outro lado, em considerar que o projeto ideológico anticapitalista se faz por uma cena aberta ao “processo social” que busca tornar estranhável àquela a que se opõem. Nesta arena, teríamos como antagonistas, teoricamente, o drama burguês e o teatro épico. Num olhar de “sobrevôo”: não é incomum aos grupos teatrais paulistanos o recurso do teatro épico aliado àqueles assuntos tão custosamente identificados a respeito da cultura do país. Uma parte do que se tem produzido em teatro nos dias que correm busca lançar questões, a partir dos assuntos das peças, sobre o período da ditadura e sobre a formação do 5 Tal questão enveredaria, se realmente responsável, pela historiografia do teatro brasileiro. A título de nota, trago uma observação de Iná Camargo Costa, “as poucas tentativas de historiar as experiências de nossos dramaturgos com o drama tendem a sugerir, por um lado, uma espécie de incapacidade congênita em alcançar resultados comparáveis aos europeus. Por outro lado, a importação das novidades modernas, com seus resultados mais ou menos prontos para o consumo, trouxe-nos a confortável palavra de ordem da abolição das formas do passado – o drama seria uma delas. Como de hábito, nós passamos para novas modalidades teatrais mais up to date sem fazer o necessário acerto de contas com os gostos e convicções da véspera.” (p. 36-37). Assim, para a pesquisadora, como para Roberto Schwarz, antes mesmo de concretizar uma experiência intelectual e seu esgotamento crítico, intelectuais e artistas saem à procura do que está na pauta de países “que nos servem de modelo”, resultando a “impressão – decepcionante – da mudança sem necessidade interna, e por isso mesmo sem proveito” (2006, p. 30). “Percepções e teses notáveis a respeito da cultura do país são decapitadas periodicamente, e problemas a muito custo identificados e assumidos ficam sem desdobramento que lhes poderia corresponder” (p.31). Parece ser este o movimento empreendido pelo cenário teatral brasileiro, mas haveria algo de falso em não abordar, analiticamente, o que significa a comédia ligeira, a revisitação dos clássicos – se olharmos para as estreias dos últimos anos, constantemente são encenadas tragédias gregas, com ou sem inovações de palco -, as novas “teatralidades” e todas as renovações teatrais, em seus resultados estéticos. 19 Brasil, desde o período colonial, como se pode observar nas peças dos coletivos teatrais: Terror e Miséria no Novo Mundo, da Companhia Antropofágica; Pálido Colosso, da Companhia do Feijão; Orfeu mestiço, uma hip-hópera brasileira, do Núcleo Bartolomeu; Milagre Brasileiro, do Coletivo Alfenim entre tantos outros; conjugado por discussões sobre a estética teatral; parte movida pelo reencontro da temática brasileira e articulação com demandas populares, caso da Brava Companhia ou do questionamento das formas representacionais, caso da Companhia do Latão. Como estudo, a partir desses pressupostos de trabalho – e tendo como dimensão extra“discursiva” o que não se concretizou na tese − proponho apresentar algumas questões relacionadas ao trabalho da Companhia do Latão, que aqui é compreendida assemelhada à prática crítica de Mário de Andrade; para recuperar as categorias de João Luiz Lafetá: “consciência é aqui a palavra-chave” (p.154). Aproximando a percepção do crítico à prática da Companhia do Latão penso que o grupo trabalha através de uma consciência da obra de arte como fato estético; consciência do teatro como resultante de experiências coletivizadoras; consciência da necessidade de participação do intelectual na vida de seu tempo; consciência da função social da arte.6 Para apresentar essa perspectiva, no presente estudo, utilizo depoimentos, entrevistas e artigos dos integrantes do grupo, em especial de Sérgio de Carvalho, considerando que neles registra-se uma perspectiva crítica sobre o seu próprio trabalho que ademais sintetiza uma perspectiva ideológica, pois feita no campo da “representação teórica”, e que condensa seu projeto ideológico (uma crítica anticapitalista), que se complementa com reflexões de pesquisadores e intelectuais que dialogam com a Companhia e que por ela são acionados. Em um segundo momento, como anunciado, apresento a resenha das obras de autoria do grupo e de Sérgio de Carvalho e Marcio Marciano, entre os anos de 1998 a 2004, utilizando estudos e reflexões feitas por estudos acadêmicos. A terceira seção da tese se debruça na peça Ópera dos vivos, e em sua construção tento deixar claros os modos pelos quais a peça equilibra, como crítica, o projeto ideológico e o projeto estético que, assim como demais peças do Latão, agrupam pelo assunto semelhantes e pela temática diversa, a consciência da linguagem 6 Sobre Mario de Andrade, João Luiz Lafetá escreve: “consciência é aqui a palavra-chave: consciência da obra de arte como fato estético; consciência do poema como resultante das projeções de experiências individuais, às vezes obscuras e enraizadas no eu-profundo; consciência da necessidade de participação do intelectual na vida de seu tempo; consciência da função social da arte. O pensamento de Mario de Andrade se estende por sobre todos esses aspectos, detalha-os, busca os meandros de cada um deles, vai atrás de suas implicações mutuas, simplicaos, complica-os, tenta a síntese. Do esforço para abrange-los nasce sua obra – por vezes confusa, arbitrária, dilacerada entre tantos rumos, mas sempre incansável na pesquisa da solução clara, lavra paciente nos mistérios da criação e de seus destinos. E sobretudo – precisemos bem esse ponto – uma obra que se desenha sobre o fundo nítido da consciência da linguagem (p.154). 20 teatral e crítica anticapiltalista. Seguem as notas finais, que menos um ponto de chegada, me parece, demonstra como o grupo configura, desde sua formação, um trabalho em processo, que se renova e se alimenta de experiências acumuladas, de análise e síntese de descobertas cênicas e políticas. Ao final do texto, em anexo seguem imagens do espetáculo Ópera dos vivos, e trechos da peça – inédita −, citadas pelo estudo. 21 NÃO SE PODE ULTRAPASSAR O FIM A NÃO SER RECUANDO Deducimos nuestra estetica, al igual que nuestra moral de las necesidades de nuestro combate. Bertolt Brecht Já se disse, com vontade de diminuir, que a Companhia do Latão tinha a mania do ensaio. De fato, ela apresenta seus trabalhos como ensaios, aproximações, experimentos. Em uma cultura que cada vez mais apresenta veleidades como obras primas, apresentar trabalhos caprichados como ensaios é um choque. Denuncia, até sem querer, o estágio mais atual da comédia intelectual brasileira: duas ou três mistificações, mais um assessor de imprensa fazem um luminar das letras, artes ou ciências. A circulação tornou-se definitivamente um fim em si mesma. É contra este estado de coisas que a Companhia do Latão ensaia: contra o fetiche do produto, mesmo suas peças mais acabadas se expõem como trabalhos, aproximações. Acho que nisso se exprime tanto a sua vontade de reorientar a dramaturgia para as questões que de fato interessam, quanto a consciência de que esse objetivo, o mais simples e difícil de todos, é inimigo jurado das mistificações José Antonio Pasta É no quadro cultural e político desesperador identificado pelo Arte contra a barbárie que se organiza o coletivo teatral Companhia do Latão. A equipe reunida por Sérgio de Carvalho em 1996, quando o grupo ainda não tinha sido “nomeado”, era composta por artistas egressos da universidade. Segundo Sérgio de Carvalho, num primeiro momento, à equipe interessava a pesquisa sobre a linguagem cênica, tópico muito comum no meio universitário e também nas experimentações estéticas que orbitavam a década de 90 em busca de uma “identidade artística”. Sérgio de Carvalho, jornalista, crítico teatral e dramaturgo – uma das primeiras incursões na dramaturgia ocorreu em Paraíso Perdido, encenado pelo Teatro da Vertigem em 1992 – convidou alguns artistas para a pesquisa em torno de A morte de Danton, de Georg Büchner. O primeiro experimento foi dimensionado para atender a uma necessidade de “teatro de pesquisa artística” e que em certa medida contemplava configurações esteticistas acadêmicas. Parte da memória de formação do grupo pode ser recuperada nos textos publicados em Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão, organizado por Sérgio de Carvalho, especificamente na entrevista de Márcio Marciano, Trabalhadores do teatro, dramaturgo que assina, junto a Sérgio de Carvalho e colaboradores, as peças da Companhia até 2006. Nessa publicação podemos encontrar artigos que tentam 22 trazer as questões do trabalho articulado da Companhia, na esfera dos espetáculos e também na formação cultural do público. A experiência em torno de A morte de Danton gerou inquietações que foram dirigidas ao projeto seguinte, de ocupação artística do Teatro de Arena Eugênio Kusnet, com a pesquisa em teatro dialético. É elucidativa a explicação: Entre as várias questões que tem na peça, você tem um debate sobre a crise da representação e a gente lia como crise do próprio teatro. Então no Ensaio sobre Danton a gente falava, meio filosoficamente: seja o que for essa peça, ela tem que partir do desengano, a gente não pode querer enganar ninguém, ela tem que assumir o fracasso da representação. Isso gerava experiências teatrais muito interessantes. Houve uma grande reflexão sobre linguagem teatral. A peça acontecia como uma peça-ensaio dentro do teatro revelando a máquina do teatro; se a gente não assumir que é mentira a gente não avança sobre a mentira. Era mais ou menos isso o campo do debate [...] Uma atriz perguntou pra mim no meio dos ensaios: Sérgio, eu estou entendendo tudo, mas a gente está a favor ou contra o Danton? E eu me dei conta de que eu não tinha pensado sobre o assunto da peça até aquele momento. E eu percebi uma coisa óbvia: a gente estava discutindo pesquisa de linguagem e reflexão formal sem pensar na interação disso com o assunto da peça, a matéria. Eu percebi que a gente não tinha um ponto de vista sobre a matéria histórica da peça, o que naquele caso virava um disparate. No projeto seguinte a gente não podia fazer só pesquisa de linguagem abstrata, a gente tinha que pensar o que a linguagem induz, contém, problematiza ponto de vista sobre a matéria da peça. Como eu penso a relação da forma e assunto. A gente começa a estudar Brecht como alguém interessado na crítica dos modelos convencionais de dramaturgia. Ler o Brecht, antes de ler como um autor social e político, ler como alguém capaz de desmontar a política na forma. Como alguém capaz de desvendar a ideologia na forma. Brecht faz perceber que as formas são ideológicas, que as formas têm um ponto de vista7. Influenciados por Bertolt Brecht, na pesquisa em teatro dialético mencionada, o grupo começa a conduzir seu método de trabalho. É interessante notar, contudo, que se a motivação inicial de Sérgio de Carvalho esteve centrada, como nos anos iniciais de interesse por Bertolt Brecht no Brasil8 − o grande teórico sobre teatro épico − na inovação teatral do dramaturgo alemão, é no enfrentamento produtivo com o legado brechtiano que se dá a observação de que a atuação estética em Brecht perpassa a discussão política: isso faz com que o itinerário de 7 8 Debate realizado na PUC- Rio de Janeiro em junho de 2011. Gravação, transcrição e edição da autora. Na apresentação do livro Brecht no Brasil (1987) Wolfgang Bader salienta que a produção brechtiana foi no Brasil introduzida por três vias distintas: pela tradução de obras iniciada nos anos 1940; pelas atividades teatrais desenvolvidas especialmente em São Paulo por alemães exilados e pelo contato com as montagens teatrais do dramaturgo pelos profissionais do teatro brasileiro em viagem à Europa. A nova concepção teatral de Brecht era o assunto que unia os profissionais e intelectuais à época e até 1958 era matéria para especialistas. 23 politização do grupo tenha se iniciado pela percepção de que o fato artístico, como linguagem esteticamente organizada, não se limita à expressão neutra, e que a modelagem, arquitetada pelo artista, é feita conforme seu ponto de vista. Na palestra realizada por Sérgio de Carvalho no 14º Simpósio Internacional de Brecht, realizado em maio de 2013 em Porto Alegre, o dramaturgo e diretor “organiza” o trabalho da Companhia. Para Sérgio de Carvalho, “o trabalho é mais importante do que a obra. A ideia de trabalho em processo artístico é um conjunto de atividades”. A partir dessa premissa, o dramaturgo apresenta a trajetória de trabalho. O primeiro espetáculo da Companhia, Ensaio sobre o latão, como coletivo, é uma peça-ensaio baseada no estudo do texto de Brecht conhecido como A compra do latão. O primeiro experimento é ensaio “no sentido teatral e teórico filosófico”. Nesse sentido, a primeira referência de trabalho foi construída a partir das contradições formais: “Eu diria que esse foi o primeiro ponto importante de contato com o Brecht: perceber que a forma é produtiva na medida em que ela expõe suas contradições e ela instaura um trabalho no espectador. Essa questão da contradição formal se dá em todos os níveis e pra nós tem um aspecto central”. Nasce do contato com o legado de Brecht a consciência de que “qualquer aproximação útil e atual sobre Brecht não tem que se aproximar de um estilo brechtiano. Interessa nele uma atitude do trabalho, e essa atitude nasce do desenvolvimento das contradições, que incidem também nas formas”. Resulta dessa consciência a identificação das tendências formais dominantes do trabalho teatral e um procedimento comum nas peças é coloca-las em estudo, em cena. “Um segundo passo, além dessa primeira influência brechtiana, foi perceber que a atualidade de Brecht exigia uma consciência do que significa o capitalismo na versão brasileira (...) Adotar o ângulo da periferia do capital e das suas formas de representação dominantes para poder entender qual o sentido de uma crítica anti-dramática na atualidade”, quando passou a ser importante compreender as feições da racionalidade burguesa na estruturação das formas dominantes de representação. “Os trabalhos seguintes da Companhia do Latão são trabalhos que enfrentam em dois níveis a questão brasileira: no nível das formas de representação e no nível da tentativa de representar o aburguesamento contraditório que ocorreu na nossa história. E lidando com esse fato fundamental que a ideia de individuo é uma ausência histórica até muito recentemente no imaginário coletivo”. O terceiro aspecto realçado pelo dramaturgo incide sobre a própria crítica ao conceito de cultura: “Parte dos trabalhos do Latão começou a tratar da questão da representação e da ideologia da representação, como tema. A própria questão do artista, a função do artista como abastecedor do aparelho da cultura nos termos que o Brecht já descreveu no passado, na atualidade. Passou a ser importante a partir daí descobrir formas atuais de representar isso, e o Latão 24 iniciou uma pesquisa sobre a ideia de um narrador desconfiável. Nós começamos a fazer peças que o espectador deveria desconfiar do espetáculo e da ideia de espetáculo. É como se a ideologia fosse um problema a ser enfrentado pelo espectador”. A partir da sua exposição tendo a considerar por procedimentos de trabalho: o primeiro contato com o legado do dramaturgo alemão se deu como uma necessidade de fundo representacional: a falência da forma dramática, como já intuída no Ensaio sobre Danton leva a equipe a estudar o mais significativo dramaturgo que teorizou sobre a construção de uma cena não-dramática. Após o primeiro impulso, de ordem estética, a proposta brechtiana é estudada como uma forma que contém um pressuposto anticapitalista, o que faz com que a equipe comece a também estudar as formas do capital no Brasil, com grande influência de outros campos de conhecimento, como os estudos de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre e também no campo da crítica literária, com os estudos de Roberto Schwarz, e junto a isso, o interesse em “desmontar”, ou melhor, problematizar, as formas recorrentes do teatro brasileiro. Num “terceiro momento”, acumulado um repertório de trabalho de processos e espetáculos teatrais, bem como a investida a outros públicos que não frequentam as salas de espetáculo, a Companhia desenvolve e amplia seu estudo para outras áreas artísticas, na esfera do audiovisual e da música (o trabalho com a função da canção já estava presente desde o início do grupo), buscando o que Sérgio de Carvalho nomeia como a crítica do conceito de arte e cultura; a questão da representação e da ideologia da representação9. Ainda que seja uma ordenação incompleta, deixa entrever como a relação do Latão com o método brechtiano se move e é constantemente reavaliada nos termos de busca por sua atualidade; obviamente não no sentido de uma reutilização esteticista, e sim de uma refuncionalização do teatro em época e local diverso. Neste sentido, já na primeira peça de sua autoria, como coletivo, o grupo demonstra saber que horas são. No prólogo de O nome do sujeito, que teve sua estreia em São Paulo em 1998, o personagem Regente avisa que o teatro, como o público percebe, se encontra em total escuridão. O personagem retorna, ao final do espetáculo, explicando que passou todo o tempo da apresentação tentando encontrar a causa do “apagão” e o que encontrou foi um fio desencapado; como não soube resolver a pane elétrica tentou desesperadamente encontrar um especialista para tal fim, afinal, como homem comum, apenas conseguiu identificar o problema. Não o encontrou e, sozinho, questiona o público: o que fazer? 9 A transcrição desta apresentação de Sérgio de Carvalho no 14º Simpósio Internacional de Brecht pode ser consultada nos anexos. 25 A pergunta, escapando à peça, foi feita a Alfred Döblin, citado por Walter Benjamin no ensaio O autor como produtor, sobre a posição do intelectual engajado às necessidades da classe operária, em uma sociedade em transformação. A resposta dada, conforme a compreensão de Benjamin, diz que cabe ao intelectual se colocar como um protetor, um mecenas ideológico da classe operária, posição que é refutada ao ser comparada às proposições brechtianas10. Para Brecht, a refuncionalização teatral é direcionada para uma inteligência progressista e, portanto, interessada na liberação dos meios de produção, a serviço da luta de classes. Brecht foi o primeiro a confrontar o intelectual com a exigência fundamental: não abastecer o aparelho de produção, sem o modificar, na medida do possível, num sentido socialista. (BENJAMIN, 1994, p.127) Retomando a peça do Latão, que esclarece sua função no meio teatral, a pergunta o que fazer, mais do que uma questão apresentada pelo assunto da peça, também é um questionamento para os artistas. O que fazer quando artistas creem estar produzindo algo funcionalmente novo, quando, no muito, estão reproduzindo uma imagem caduca? De ser um especialista da arte supondo isento de qualquer determinação? No texto Na contramão da forma-mercadoria, transcrição de um depoimento no seminário “Teatro de grupo: reinventando a utopia”, realizado pelo grupo Tribo de Atuadores Ói Nóis aqui Traveiz, em novembro de 2005, Sérgio de Carvalho explicita as condições e pressupostos políticos do Latão: Como todos que precisam trabalhar para viver numa sociedade organizada pelo capital, os integrantes do nosso grupo perceberam que a decisão de exercer o teatro como profissão configura uma entrada direta num mundo, o da mercadoria, que organiza a vida de qualquer trabalhador. O desafio, diante disso, seria não sucumbir à lógica mercantil. Seria expandir as brechas, procurar margens do mercado, o que exigiria de nós uma consciência prática sobre os meios de produção capaz de modificar a nossa inserção no aparelho teatral, e quem sabe um dia, mudar o próprio aparelho teatral. Ainda acho que o teatro, sem deixar de reconhecer a época em que se insere, só faz sentido quando nos faz ver o que está para além do mundo do capital, na contramão dos padrões convencionais de circulação. A nossa atuação procurou sempre enfrentar essa ambivalência. Na história da Companhia do Latão, só viemos a vislumbrar um modo real de tensionar nossa relação com o sistema das artes quando nossa vida artística nos levou a 10 Há que se considerar, também, que reverbera pelo questionamento o título de famosa reflexão, com acentuação prática, proposta por Vladimir Lênin, em Que fazer? As questões palpitantes do nosso movimento, publicado em 1902. Para Lênin, nas conclusões do referido texto, é preciso recuperar um marxismo militante, “contra um burocratismo revolucionário e uma tendência pueril em brincar com as formas ‘democráticas’” (p.97) a que estavam identificadas o movimento social-democrata russo. In: LENIN, Vladimir. Que fazer? As questões palpitantes do nosso movimento. www.marxists.org. Acesso em 30 de outubro de 2013. 26 dialogar com públicos que não iam ao teatro para “consumir” cultura. Com plateias que têm uma relação mais funcional com a arte, como por exemplo, os integrantes do MST (...). Por outro lado, esse contato com grupos que também trabalham na contramão da ideologia dominante, só nos confirmou a sensação de que é muito importante que o pensamento de esquerda ocupe núcleos centrais de irradiação do imaginário. (CARVALHO, 2009a, p.147148) Entre o trabalho feito em assentamentos e sindicatos, como foi o caso durante o processo de encenação de Santa Joana dos Matadouros em 1998, texto de Brecht de 1929, e a montagem de A comédia do trabalho em 2000, ou ainda com o intenso envolvimento com o projeto Brigadas de teatro, fomentando oficinas e experimentos junto a movimentos sociais como o MST, o Latão mantém uma ocupação dos “teatros convencionais”, buscando “refuncionalizá-los”, sabendo do caráter relativo dessa tentativa. Então, tornaram-se importantes duas coisas: produzir processos teatrais que sejam referências para a discussão do que significa produzir um teatro crítico (oferecendo novos modelos para aqueles que estão formulando o imaginário coletivo), a ponto de entrar em atrito com a expectativa do aparelho. E, ao mesmo tempo, dialogar com novos públicos que estão à margem do mercado. Toda vez em que levamos um espetáculo complexo do ponto de vista da invenção estética a uma plateia popular, não procurando mascarar a diferença de perspectiva poética que embute diferenças de classe, e podemos, ao mesmo tempo, debater a experiência com os espectadores, refletir sobre os temas anticapitalistas da peça, uma contradição se torna produtiva. Toda vez que parte das cadeiras de um grande teatro burguês é ocupada, nas nossas apresentações, por espectadores do MST, que ali foram espontaneamente porque acompanham o trabalho da Companhia do Latão, essa contradição se torna produtiva. Nesses dois casos surge uma tensão de pontos de vista na plateia que tem efeitos simbólicos. (CARVALHO, 2009a, p.149-150) Como é possível constatar, as bases nas quais se assenta o trabalho do Latão convergem para a explicitação das contradições e antagonismos de classe, que obviamente não habitam apenas a esfera teatral. Dessas contradições se busca retirar um aprendizado, ou ainda, algo produtivo, tanto para o grupo quanto para os espectadores. O Latão mantém uma intensa produção, incluindo uma formação pedagógica através de ciclos e palestras com pesquisadores das mais diversas áreas, buscando neles interlocutores de trabalho. Todo o empenho se dirige para uma “provocação” de questionamentos, de público e artistas, tendo como pano de fundo a convicção de que só é possível continuar trabalhando se constantemente as condições do trabalho no mundo do capital forem problematizadas. Ao que parece, o teatro não se tornou algo completamente dispensável na 27 luta anticapitalista, pois por sua excepcional feitura artesanal, de explícito trabalho dos atores em cena, ainda pode contribuir na formação de um imaginário coletivo de superação dessa condição. Não é irrelevante, também, anotar como a produção intelectual acadêmica, junto à prática teatral com público variado, repercute no trabalho da Companhia. Uma das influências na formação do grupo advém do estudo de José Antonio Pasta Jr sobre o trabalho de Brecht. Segundo Sérgio de Carvalho Ao estudar como Brecht foi capaz de converter a “falta de imediatidade” em gesto produtivo, José Antonio Pasta parecia buscar, naquele início da década de 1980, um modelo de ação intelectual em meios culturais hostis a qualquer contestação do ideário liberal-conservador. Assim como Anatol Rosenfeld lhe ensinou que o esforço clássico é sempre uma luta contra os “poderes noturnos”, este livro nos transmite um modelo de superação de uma impossibilidade que Brecht chamava de “grande desordem”. Talvez por isso sua primeira edição tenha inspirado o trabalho de alguns jovens grupos de teatro de São Paulo, entre os quais a Companhia do Latão, que deve sua origem à influência inventiva desta obra. (CARVALHO apud PASTA, 2010) Em Trabalho de Brecht, breve introdução ao estudo de uma classicidade contemporânea, José Antonio Pasta Júnior analisa a composição do trabalho brechtiano pelo “seu desejo de nascer como clássico, sem aguardar o trabalho do tempo”. Segundo o autor Fazer-se clássico (...) significa postular, basicamente, o mesmo valor de referência monumental e incontornável, os mesmos alcance coletivo e influência modelar – valor de paradigma −, contando, para isso, apenas com a força de seu próprio trabalho em marcha, com a capacidade de organizá-lo e potenciá-lo para a consecução de um fim que, por definição, parece exceder desmedidamente o seu alcance, por maior que ele seja. É evidente que tal projeto implica desenvolver e exercitar uma agudíssima autoconsciência do fazer poético (PASTA, 1986, p.23). A análise abriga o trabalho de Bertolt Brecht como composição que se dá no diálogo com os clássicos, contrapondo-os e assimilando-os, na problematização do campo modelador como um campo de luta. A análise da obra de Brecht problematiza os riscos da intenção paradigmática quando mesmo a obra está em processo de composição deixando rastros de sua incompletude, assumindo-os como registros de autorreflexão que se chocam para o intento primeiro de constituição de um campo organizativo da cultura. A obra brechtiana “não se deixa perder na conflagração das contradições que aciona e dos embates que produz; ela os 28 organiza, a esses embates, e se organiza através deles, espécie de objeto estável e conflagrado”. (p.24) A falta de imediatidade – condição imposta pelo exílio e suas consequências no trabalho – exigirá uma resposta radical do dramaturgo alemão: “ele irá trazê-la para o centro problemático de sua produção. A distância, o descentramento e o risco de desagregação a que era submetida, a produção de Brecht irá internalizá-los, transformando-os dialeticamente em seu próprio motor”.( PASTA, 1986, p.178) A ausência do imediatismo político utilizada para se pensar o projeto clássico da obra brechtiana, é articulada aqui para a análise do projeto do Latão. Pasta, por exemplo, compõe o seu argumento, também, a partir da aproximação entre Brecht e Maiakovski e ressalta os distintos momentos das suas produções. A consequência do exílio na obra de Brecht não corresponde à produção ritmada pela marcha da revolução como em Maiakovski, em que não há separação entre sua obra e o seu exterior; “sente-se o seu percurso como consubstancial ao percurso da Revolução e, neste sentido, mesmo a sua morte, em circunstâncias de endurecimento e refluxo, sente-se quase como um símbolo” (PASTA, 1986, p.179). O artista revolucionário russo elabora uma teoria do imediato, produzida no fluxo revolucionário. A Alemanha na qual Brecht poderia conduzir-se na indistinção obra e conjuntura, elaborando seu trabalho conforme as necessidades imediatas e respondendo-as imediatamente, “via-se transformar na pátria da contra-revolução” (PASTA, 1986, p.178). As contradições do exílio de Brecht impulsionaram um trabalho que internalizou a falta de imediatidade, “analisando-a, examinando-a sob cada um de seus aspectos, verificando o seu sentido sob diversos ângulos e interrogando suas causas e suas consequências na esfera estética e social” (PASTA, 1986, p.182). Mais do que produzir um discurso sobre a distância entre obra e condições reais para a revolução, a obra brechtiana incorporou-a como assunto. A vida de Galileu, peça de Brecht, é a obra por excelência da separação; assim como as personagens cindidas, que não produzem uma consciência de si, de Mãe Coragem; O Sr. Puntila e seu criado Matti; e A alma boa de setsuam. Em Brecht a falta de imediatidade incorporada pela composição artística deveu-se ao exílio diante a ascensão nazista que o obrigara a se afastar da Alemanha por 15 anos, de 1933 a 1948, e às suas consequências no mundo do trabalho teatral e o ascenso da indústria cultural, contribuindo para um refluxo produtivo de seu engajamento político para os temas de suas peças. O projeto do Latão em muito articula o princípio organizador da obra de Brecht, como apresentado por Pasta (1996) 29 Perdida a imediação, mais feliz, de que desfrutava, a obra de Brecht não ficará presa a sua impossibilidade. O gesto literário que não mais pode se conectar com o contexto imediato, a que se integra e de que se realimenta, passa agora a desferir-se no âmbito da própria obra, na qual se conecta, construindo-a como conjunto integrado, “domesticum”. A obra – e o trabalho de fazê-la – passa a ser, em certa medida e num sentido novo, o contexto de sua própria produção. Que nela própria conecta e integra ao mesmo tempo que nela retoma alento e impulso de auto-superação. Devendo, num certo sentido, bastar-se, a obra suscita um mundo, que ao mesmo tempo a constitui, a sustenta e lhe permite avançar. (PASTA, 1986, p.180) O princípio organizador de trabalho do Latão é uma tentativa de compreensão inteligível dos processos sociais pela formalização artística, coisa que parece não fazer sentido aos que acreditam que a arte, ou o teatro, não se constitui como uma produção, ou por outro lado, não se constitui como uma esfera de representação ideológica. De um lado, a busca em narrar o mundo como transformável é representado pelas contradições do próprio pensamento comprimido pela distância das condições reais de transformação e por isso o empenho da Companhia circunscreve-se num imaginário dialético que põe em perspectiva as representações hegemônicas e as desloca, acionando temas em torno da formação capitalista no Brasil, para o exame crítico representacional do consumo de imagens, naquilo que Sérgio de Carvalho chamou de confrontação dos padrões ideológicos representacionais com as práticas materiais. Em algumas peças, é no tema trabalho intelectual que reside a potência simbólica da produção do grupo e a internalização de sua consciência sobre a não imediatidade de sua proposição. Como se não bastasse essa consciência, porém advinda dela, o campo de construção dramatúrgica é colocado em suspeição já que reconhece as circunstâncias dramáticas, com personagens com integridade psicológica, insuficientes para a representação dos mecanismos de formação capitalista na sociedade brasileira. Há que se considerar que os ensaios cênicos e a produção teórica do Latão, registrado no livro Introdução ao teatro dialético, além da publicação da Revista Vintém (oito edições entre 1997 e 2013) e do Jornal Traulito (oito edições entre 2010 e 2013), juntamente com a publicação de suas peças nos dá a medida de seu empenho em partilhar e tornar claros seus pressupostos de trabalho. Retomo, brevemente, buscando apresentar a produção intelectual do grupo, e como se dá o diálogo de forma produtiva, o debate entre Roberto Schwarz e Sérgio de Carvalho, pautada por dois artigos. O artigo Altos e baixos da atualidade de Brecht, de Roberto Schwarz, resulta da transcrição de uma palestra realizada em 1997, após a leitura de Santa Joana dos matadouros, promovida pela Companhia, com algumas alterações. O artigo 30 Questões sobre a atualidade de Brecht de Sérgio de Carvalho é uma transcrição de sua intervenção durante a homenagem à Schwarz, promovida pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 2004. O estranhamento, ferramenta estético-política teatral que por Brecht foi amplamente utilizado para possibilitar o distanciamento crítico do espectador, é um dos elementos tratados, neste debate, para se pensar a atualidade de sua proposta. Ambos buscam problematizar seu alcance e eficácia no mundo contemporâneo. Roberto Schwarz aponta na palestra realizada após a leitura de Santa Joana que a A técnica do distanciamento, que vocês viram usado aqui nessa encenação, o que é que ela faz? O ator em lugar de se identificar ao seu papel – papel que corresponde mais ou menos ao funcionamento normal e corrente da sociedade – o ator toma distância dele e mostra esse papel ao público, mostra esse papel a uma outra classe social, com interesses contrários, eventualmente mostra esse papel a si mesmo. Ele não se identifica, ele guarda distância, ele guarda um espaço de liberdade em relação ao seu papel, em relação à ordem social que está sendo mostrada ali em cena, e com isso, ao se desidentificar dessa ordem, ele aponta para a possibilidade de uma outra ordem, dando acesso ao novo (...). Bem, esse horizonte realmente encheu de entusiasmo a minha geração (...) Esse sistema de expectativas ou esse horizonte deixaram de existir. A data brasileira de mudança foi 1964, ou 68, conforme o ponto de vista. Hoje isso tudo funciona de outra maneira. E uma encenação atualizada de Brecht tem que levar em conta essas mudanças (SCHWARZ, 1998, p.30)11. Para o crítico, as mudanças de conjuntura da sociedade brasileira, comparada a expectativa revolucionária dos anos 60 e os dias que correm, comprovam que não basta a apresentação, ou ainda, o conhecimento, seja do público ou do palco, quanto à naturalização de condições que não são naturais e sim sociais, para que mudanças sejam efetivadas. Sérgio de Carvalho, salvo engano, parece caminhar para uma reflexão sobre, também, a eficácia da técnica, contudo, como recurso simbólico, Está longe de ser de conhecimento geral que as representações humanas não são naturais. Os véus ideológicos contemporâneos são muito fortes e elásticos, e mesmo que não sejam mais baseados nas crenças tradicionais (ou no idealismo clássico) continuam hábeis em eternizar as dinâmicas totalizantes do capitalismo em imagens de aparência eterna. (...) É um outro estágio do processo de naturalização, em que o conhecimento de que o dinheiro não é a alma das coisas do mundo pouco pode diante da sua violência material quando diz que é (CARVALHO, 2009a, p.50). 11 Revista Vintém, nº 1, 1998. 31 Para confirmar o argumento, Sérgio de Carvalho destaca a trajetória da peça Santa Joana dos Matadouros, e ao fazer isto reforça um elemento importante na construção da obra, o trabalho do espectador. Sobre a proposta brechtiana, continua Seu método de geração de produtividade não pode ser julgado como uma configuração absoluta, puramente dependente do engajamento, pois sua qualidade fundamental é a exigência dialética de atualização. Nenhum dos gestos materializados nas peças existe sem a relação com o que está fora dele, o que nos sugere que a validade da estratégia de desautomatização depende do modo com que a dialética da cena (a “imagem praticável do mundo”) modifica a função convencional do teatro. Mas é claro que pensar a relação possível entre pesquisa da vida contemporânea, reflexão estética e radicalização política depende de uma disposição à luta anticapitalista, que hoje procura suas novas formas (CARVALHO, 2009a, p.53). Vejamos que Sérgio de Carvalho não assenta a produtividade da obra de Brecht naquilo à que habitualmente é reconhecida, a saber, no engajamento. Para o dramaturgo, o método do trabalho de Brecht − que na identificação de José Antonio Pasta é vislumbrado pela falta de imediatidade, sem contudo através de sua poética buscar o impulso de autosuperação − exige que a crítica anticapitalista se faça a partir da materialização das contradições em cena, articulada e problematizada à expectativa convencional do teatro. Por isso que a própria crítica precisa “atualizar” Brecht. Portanto, deste encontro, e debate, destaco a observação de Schwarz quanto a uma outra condição histórica: Como sabem os tradutores, a linguagem nua dos interesses e das contradições de classe, que imprime a nitidez sui generis à literatura brechtiana, não tem equivalente no imaginário brasileiro, pautado pelas relações de favor e pelas saídas da malandragem. A inteligência de vida que está sedimentada em nossa fala popular tem sentido crítico específico, diferente da gíria proletária berlinense, educada e afiada pelo enfrentamento de classe. Conforme um descompasso análogo entre as respectivas ordens do dia, o nosso zé-ninguém precisava ainda se transformar em um cidadão respeitável, com nome próprio; ao passo que para Brecht a superação do mundo capitalista, assim como a disciplina da guerra de classes, dependiam da lógica do coletivo e da crítica à mitologia burguesa do indivíduo avulso. Em suma, as constelações históricas não eram iguais, embora a questão de fundo – a crise na dominação do capital – fosse a mesma, assegurando o denominador comum (SCHWARZ, 1999, p. 121). O debate intelectual gera produção – não gratuitamente uma das investigações do Latão procurou enveredar pelo nome do sujeito. No início de seu projeto estético, quando o Latão se apoia no método brechtiano, tateando-o, um dos maiores críticos literários brasileiros desfere um raio num céu sem nuvens e começa sua palestra com observação: “quero começar 32 explicando o ponto de vista segundo o qual Brecht hoje não tem atualidade nenhuma” (SCHWARZ, 1999, p.113). E de certo modo, a provocação inicial reverbera como produção intelectual, dramatúrgica e cênica, rastreando temas em que a crítica anticapitalista se faz pelo entendimento das condições do capitalismo no Brasil, que se apresentam, objetivamente, pela reflexão da própria forma de representação. Como peças-ensaios, cada objetivação dada pela representação recebe tratamento específico. As peças de autoria da Companhia – assinadas pelos dramaturgos Sérgio de Carvalho e Marcio Marciano que dão o tratamento final, ou ainda, responsáveis por sua composição − foram organizadas, no volume Companhia do Latão 7 peças, publicação de 2008, em três sessões: I. Imagens do Brasil, com O nome do sujeito, A comédia do trabalho e Auto dos bons tratos; II. Cenas da mercantilização, com O mercado do gozo e Visões siamesas e III. Releituras, com Ensaio para Danton e Equívocos colecionados. Não à toa que os textos foram assim posicionados: se olharmos em seu conjunto há uma poética em formação que em muito se organiza pela problematização das formas representacionais eleitas, pela problematização das contradições precipitadas na forma; divididas pelos assuntos caros ao Latão (Imagens do Brasil e Cenas de Mercantilização), oferecem uma leitura organizada, e pedagógica, sobre a matéria social. Segundo Maria Silvia Betti O mapeamento crítico resultante permite tratar de questões desafiadoras, dotadas de ampla envergadura histórica, crítica e figurativa. É a sua realização que dá margem à representação de aspectos cruciais do processo histórico brasileiro, como os mecanismos pelos quais a intelectualidade do país racionaliza e justifica o ato de se deixar instrumentalizar pelo poder, ou de aspectos inerentes ao capitalismo contemporâneo, como a impregnação dos bens simbólicos e das relações sociais pela lógica da mercadoria, e o contraste entre o desmonte do trabalho e a multiplicação mercadológica de empreendimentos culturais geridos por industriais e banqueiros. A forma como o Latão realiza o processamento dramatúrgico e cênico de questões de tão amplo espectro histórico e densidade conceitual é ímpar, no teatro brasileiro, como trabalho efetivamente épico e dialético (BETTI, 2010, p.183) Na publicação das peças, Sérgio de Carvalho apresenta os textos, de assunto originado coletivamente, como o resultado de um aprendizado comum que, em certa medida, registra a herança intelectual e estética de George Büchner e Bertolt Brecht. Para Carvalho, as peçasensaios, frutos dos “anos de aprendizagem”, procuram demonstrar uma produção de tentativas, pesquisas, experimentos sobre uma teatralidade em que os padrões ideológicos da representação são confrontados com as práticas materiais, com experiências vivas dos atores e dos espectadores a 33 respeito das formas atuais da mercantilização e da luta de classes (CARVALHO, 2008, p.11). No prefácio da publicação, Iná Camargo Costa afirma que a Companhia do Latão “nunca se enganou sobre as condições em que desenvolve o seu trabalho nem sobre os seus limites, embora desde o início seja visível seu empenho em confrontá-los e, sempre que possível, ultrapassá-los” (COSTA, 2008, p.15). Trocando em miúdos, a Companhia sabe que produz um teatro crítico em condições hostis e incorpora, em seu trabalho, essa consciência. O projeto do Latão só pode ser responsável ao compreender e empreender em sua obra seus próprios limites afirmando que a reflexão estética e histórica tem alguma produtividade se encarar, sem mistificações, seu próprio trabalho diante de uma situação ideológica que reiteradamente desqualifica o próprio pensamento12. Em um breve texto de 2003 intitulado Por um teatro materialista, Sergio de Carvalho e Marcio Marciano13, apresentam suas reflexões sobre a utilidade do grupo como produtora de representações, deixando claro que buscam uma oposição “aos modos hegemônicos da atividade artística”. (CARVALHO, 2009a, p.165). Os autores defendem a construção de um teatro que já na sala de ensaio supere as especializações, transplantando para o palco, e talvez para o público, um processo coletivizante de trabalho e nessa perspectiva reative criticamente o debate sobre a função da arte tendo como fim último a produção de “formas capazes de incluir a sociedade como um todo numa perspectiva revolucionária, num projeto coletivo anticapitalista”. (CARVALHO, 2009a, p.167). Compreendido como um texto-manifesto, publicado originalmente na revista O sarrafo, de organização do grupo Folias D’Arte, os dramaturgos problematizam a produção cultural na sociedade capitalista e buscam um debate sobre os limites e possibilidades de construção de um imaginário a partir de uma dialética que gera o futuro e flagra as condições do presente. Inserida no debate sobre dramaturgia e teatro brasileiro, o projeto em construção, com algo do impulso organizativo, integra pesquisa estética e política; propõe assuntos que escapam ao interesse dramático, hegemônico, e com isso interfere pedagogicamente pela torção da formalização adotada. 12 Na resenha O elogia da dialética: algumas observações sobreo teatro engajado da Companhia do Latão, Gabriel Alves de Campos (2011) identifica a dramaturgia do Latão como um trabalho de pesquisa que opera na contramão ao “processo de modernização conservadora; utilizando-se do mecanismo de distanciamento, a cena contrasta com a harmonização das diferenças do mundo mercantil e lança a pergunta no seio da evidência fazendo pulsar as contradições que a ideologia procura manter em repouso”. In: Revista Crioula. São Paulo, n.10, novembro. 2011. 13 Marcio Marciano dedica-se desde 2007 ao projeto do Coletivo Alfenim desvinculando-se do Latão. 34 Do ponto de vista teórico, portanto, é possível perceber a clareza dos procedimentos que nutrem a prática teatral, contudo se faz interesse do presente estudo compreender como o projeto ideológico, compreendido como a crítica de caráter anticapitalista de fato se materializa nas peças, em específico, em Ópera dos vivos. Passo, então, a alguns apontamentos sobre suas peças, utilizando como referências outros estudos acadêmicos e muito das observações de Iná Camargo Costa registradas no prefácio da publicação das peças de autoria do grupo, e com mais detalhamento, adiante, à peça Ópera dos vivos − tal escolha, a de debruçar com mais precisão na encenação estreada em 2010, justifica-se por oportunidade de pesquisa – enquanto definia o projeto de doutoramento o grupo estreia no Rio de Janeiro – e, obviamente, por interesse específico – construída ao longo de três anos de pesquisa, pode ser lida como o “acúmulo” de experimentos e estudos realizados em treze anos de formação. Para a abertura da publicação de uma entrevista que Iná Camargo Costa realizou com Sérgio de Carvalho em 2008, publicada na Revista Crítica Marxista14, a crítica faz uma observação que cabe a atuação do Latão até o presente o trabalho de 1997, Ensaio sobre o latão, contém algumas das questões que ainda hoje norteiam os experimentos da companhia: possibilidades e limites do trabalho teatral em tempos de total colonização da sensibilidade e imaginário pela indústria cultural; desafios práticos e teóricos postos desde sempre aos que se dispõem a fazer teatro ou qualquer modalidade de arte consequente no Brasil; e, sem esgotar a pauta, a busca de uma cena em que as formas da sociabilidade brasileira possam ser examinadas sem complacência (COSTA, 2008, p.168). Não foi possível, ainda que entenda os limites de tal opção, desenvolver análises sobre as produções do grupo em materiais audiovisuais, como poderia encaminhar as discussões sobre os vídeos do DVD duplo Experimentos videográficos da Companhia do Latão, ou ainda nos estudos que são feitos em cena, sobre o uso da canção – o Latão produziu dois CD’s contendo as canções dos trabalhos teatrais. Breves notas sobre esses procedimentos irão aparecer no presente estudo. Além disto, indico que serão contempladas na tese as peças publicadas em Companhia do Latão: 7 peças, sem considerações sobre as representações de peças que não são de autoria do grupo ou dos dramaturgos Sérgio de Carvalho e Marcio Marciano − Santa Joana dos Matadouros e O círculo de giz caucasiano, ambos de Bertolt Brecht, estreadas pelo Latão em 1998 e 2006, respectivamente; salvo a última peça, O patrão 14 Revista Crítica Marxista nº 26, 2008, p. 168-174. 35 cordial (2012), que tendo como ponto de partida a peça O Senhor Puntila e seu criado Matti, é identificada como um “roteiro escrito com base em improvisação de atores”. Antes de iniciar a próxima seção, faço uma última ressalva: ausentam-se considerações sobre a peça Ensaio para Danton, por ter sido considerada o “pré-projeto” da Companhia, como identificado nas entrevistas de Sérgio de Carvalho, embora tenha sido anotado no primeiro experimento da equipe o impulso do que seria o seu projeto estético (e no volume Companhia do Latão: 7 peças, o texto foi apresentado da seguinte forma: Ensaio para Danton estreou no Teatro Cacilda Becker, São Paulo, em 18 de outubro de 1996, pela Companhia do Latão). Segundo Iná Camargo Costa, as intervenções dos artistas brasileiros no material de Georg Büchner mostraram o interesse pelas contradições reais da Revolução Francesa. Uma delas faz referência à forma como os personagens que abrem e fecham o espetáculo são os excluídos das conquistas revolucionárias. A outra diz respeito a desmascarar a contradição pressuposta no discurso burguês sobre os direitos (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.24). A peça foi novamente encenada em 1999 (o texto publicado refere-se a essa versão), e quando de sua temporada, Marcelo Coelho anota o efeito cômico e a relevância política advindos da subversão do texto original. Tal questão, a do efeito cômico, não foi levantada por críticas feitas durante a primeira encenação, a saber, de Mariângela Alves de Lima e Carmelinda Guimarães e as observações se referem mais aos temas teatrais contemporâneos – solidão, desesperança − e ao sentimento de fracasso coletivo. Fica a impressão, através das críticas jornalísticas, que após o contato com o método brechtiano em 1997, como dito pelo diretor da Companhia, o material tenha sofrido modificações cênicas buscando o tensionamento entre texto e cena e se voltando, com mais força contraditória, à relação palco e plateia15. 15 As críticas podem ser acessadas no site da Companhia: www.companhiadolatao.com.br. Acesso em 28 outubro de 2013. A crítica de Mariângela Alves de Lima, Peça discute revolução impossível, foi publicada jornal O Estado de São Paulo em 8 de novembro de 1996. A crítica de Carmelinda Guimarães, O prazer poder recomendar um bom espetáculo, foi publicada no jornal A Tribuna de Santos em 01 de novembro 1996. de no de de 36 É TEMPO DE DESTRAMBELHAR A primeira peça de autoria do coletivo teatral após o estudo em teatro dialético, O nome do sujeito, teve sua estreia em 9 de outubro de 1998, no Teatro de Arena Eugenio Kusnet. Segundo Marcio Marciano, após três trabalhos feitos a partir de intervenções em materiais pré-existentes − Ensaio para Danton (1996), Ensaio sobre o Latão (1997) que tratarei nas notas finais, e Santa Joana dos matadouros (1998) −, o grupo teve necessidade de “tentar uma intervenção mais direta na realidade social brasileira a partir de uma dramaturgia própria” (MARCIANO, 2009, p.185). Em nota da publicação16, soma-se à leitura do poema dramático Fausto de Goethe, materiais recolhidos de Assombrações do Recife Velho de Gilberto Freyre para a composição da peça. Ainda Márcio Marciano lembra que a equipe percebeu, ao estudar o Recife antigo, que o processo de modernização que abria a cidade às inovações técnicas dadas pelo sistema escravista se assemelhava ao projeto econômico do então presidente Fernando Henrique Cardoso, nas mesmas bases conservadoras17. Há dois prólogos na peça: o primeiro ocorre na rua, tendo como personagens o Bonequeiro e Ludwigo e outro, como citado anteriormente, se dá no teatro. Nessa articulação de dois prólogos, a problematização do “mito do palco”, como diz o dramaturgo Márcio Marciano, se faz já na rua, sem meias palavras, através do boneco Ludwigo: interessa ao público apenas um tema universal, o dinheiro. Claro que a lembrete dirigido ao espectadorburguês, feita por um boneco irônico, produz riso no público, constituindo uma primeira tensão na representação. Aparece uma oposição entre os artistas da rua – miseráveis e sem nenhum recurso – e o “templo” teatral, supostamente mais rico, questão que será desmentida pela “falta de luz” no recinto. Ainda é interessante observar que na publicação da peça, a epígrafe de Louis L. Vauthier, diga sobre a miséria do teatro. “Miséria”, em O nome do sujeito, cênica, por levar ao palco tão poucos recursos ilusionistas, ricos, entretanto, em tentar produzir uma nova relação com o espectador; “miséria teatral”, por perceber as condições de trabalho dos artistas à época em que o projetista do Teatro Santa Isabel, anotou em seu diário 16 CARVALHO, Sérgio e MARCIANO, Marcio (orgs). Companhia do Latão 7 peças. São Paulo: CosacNaify, 2008. As citações de trechos das peças fazem referência a essa publicação. O livro é prefaciado por Iná Camargo Costa. 17 Ressalta Rodrigo de Freitas Costa (2011) que à época o Latão estudava o livro Tudo que é sólido desmancha no ar, de Marshall Berman, o que conferia à peça um sentido de compreensão sobre a modernidade, questão que procurará rastrear nas peças do Latão, especificamente em O nome do sujeito e O mercado do gozo (a peça estreia em 2003), por esta fazer referência a um poema de Baudelaire. 37 em 15 de outubro de 1849 e também em 1998, bem como de todos os personagens que serão vistos em cena. Segundo Iná Camargo Costa Uma das maiores virtudes de O nome do sujeito é aquele enquadramento: enquanto o narrador introduz e especifica o ponto de vista a partir do qual o espetáculo está sendo apresentado. São intervenções que mostram que o espetáculo não tem pretensão de ser o que não é. De início ele assume o ponto de vista da obscuridade e no final tem aquela cena da fotografia em que alguém diz: eu preciso de luz. E aí se apaga tudo. Eu não consigo imaginar maior consciência de ponto de vista. Quando não se participa de um movimento coletivo, o importante é tentar entender o que se passa. E não fazer de conta que está acontecendo alguma coisa que não está18. Também à época, conforme anotação de Margarete Maria de Moraes, o Latão realizava leituras cênicas de João Fausto. O experimento baseava-se no texto do libreto de Johann Faustus, ópera do compositor alemão Hanns Eisler, colaborar de Bertolt Brecht. Para fins dessa breve apresentação do conteúdo da peça, utilizo as considerações de Iná Camargo Costa, situada no Recife do século XIX, a peça incorpora a visita do Imperador, o anúncio de empréstimos internacionais ao país, a vida popular na feira e, principalmente, expõe a fáustica trajetória do intelectual a favor, que nem ao menos se dá conta da contradição entre ser humanista e ter escravos, sem falar na quantidade de serviços sujos que presta a seu grão-senhor que, em decisão política do texto, não comparece em pessoa à cena, configurando pela ausência uma de suas maiores verdades. O herói de nossas letras (ou da burocracia, tanto faz) compra escravos, arregimenta jovens para serem exploradas sexualmente, compra o silêncio da testemunha do crime do Barão e assim por diante. Ao final cuida ainda de sua sucessão, ao aliciar o trabalhador português, que começou a entender melhor a regra do jogo quando vendeu o seu silêncio, para trabalhos de maior responsabilidade, como promover incêndios que podem beneficiar a causa da especulação imobiliária aliada à limpeza-étnica. A trajetória deste trabalhador, de semiescravo do comerciante a assecla do Barão, por sua vez, serve ao Latão para iluminar, tanto no sentido próprio (da cena), quanto no figurado, uma face até hoje pouco explorada da constituição da classe trabalhadora brasileira e a necessidade de se recorrer às melhores técnicas de iluminação, tanto do nosso passado quanto do nosso presente, se o objetivo for mostrar o mundo como transformável. (COSTA, 2008, p.26) A partir das considerações de Iná é possível perceber alguns temas do espetáculo: a constituição da classe trabalhadora brasileira, no jogo de favores, junto à própria dimensão do trabalho intelectual, também a serviço do capital. Vejamos, então, as duas questões que 18 A citação foi retirada do site: www.itaucultural.org.br. Acesso em 27 de outubro de 2013. Segundo informações do site, o texto de Iná Camargo Costa pode ser encontrado em Por um teatro épico. Vintém, São Paulo, ano 2, n.3, p.12-17. 38 rondam esse primeiro experimento autoral da Companhia: uma que diz respeito à sua própria condição de artista, e do teatro em fins da década de 90 e outra, que a reboque da primeira, faz referência ao contexto político e econômico da época estudada. Em busca de tentar compreender a formação brasileira, o grupo se aproximou das condições de “formação do sujeito burguês” em meados do século XIX. Como o conteúdo e os temas da peça estão esclarecidos pelas citações, faço, entretanto, um acréscimo do ponto de vista formal, semelhante às observações de Marília Carbonari em Teatro épico na América Latina: estudo comparativo da dramaturgia das peças Preguntas Inutiles, de Enrique Buenaventura (TEC-Colômbia), e O nome do sujeito de Sérgio de Carvalho e Márcio Marciano (Cia do Latão-Brasil), dissertação de mestrado defendida em 2006. Parece que em O nome do sujeito o encadeamento das cenas, de forma épica, problematiza as relações comerciais, afinal seu pano de fundo é o mercado das artes. Como salientou Rodrigo de Freitas Costa, “as cenas se passam em locais diversos, como ruas, praças, igreja, casas comerciais e no teatro Santa Isabel” (COSTA, 2012, p.215). Há que se observar que em todas as cenas, diga-se de passagem, citadinas, local privilegiado das relações comerciais, o aspecto da negociata, da troca de mercadorias, está em evidência. Reproduzo, a título de exemplificação, a cena 8, na qual Margarida aceita um presente do Barão, enviado por Wagner (o personagem que Iná considerou o humanista intelectual): MARGARIDA – O que é? WAGNER – Pediu-me que lhe entregasse. MARGARIDA – Quem é ele? WAGNER – Aceite. MARGARIDA – Nem me conhece. WAGNER – É um Barão, e quer lhe mostrar o mundo. Mas como são perfumadas essas goiabas. Aceite. MARGARIDA – O que ele quer comigo? WAGNER – Sente que a senhorita é um espírito livre. Já foi ao teatro? MARGARIDA – Teatro. WAGNER – É uma maravilha, senhorita. MARGARIDA – O que tem lá. WAGNER – Lugares e mais lugares. MARGARIDA – Tem bonecos articulados? WAGNER – Abra a caixa. MARGARIDA – Eu vi um boneco. 39 WAGNER – É uma jóia. MARGARIDA – Era muito engraçado. WAGNER – Aceite. MARGARIDA – Como é? WAGNER – Um broche delicado. Numa haste de prata, uma flor de pequenos rubis. Ela pega o estojo. MARGARIDA – O Barão é velho? WAGNER – Diga “sim” e ele virá a seu encontro. MARGARIDA – Aqui? WAGNER – Onde quiser. MARGARIDA – O que é um espírito livre? BRANCA (Grita de fora.) – Margarida! MARGARIDA – Agora não, tia. Estou com a Mãe Preta. Tirando a roupa (A Wagner.) No teatro? CORO (Canta.) Quero me acabar no sumidouro. Quero me acabar. Lamba de vinte dias Êeh lamba... (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p. 59-60) Há na sobreposição das falas a aproximação da compra de Margarida pelo Barão – que é feita em tom sincero por Margarida quando diz que está tirando a roupa (do varal) e o público “lê” com ironia a situação, pois reconhece o teor de negociação − à venda de produtos pelo teatro, embora se tenha a impressão que lá se produzam, ainda, algo livre da determinação do capital. A menção aos bonecos articulados se dá por uma apresentação feita na praça, em cena anterior. Margarida acompanhou uma apresentação de artistas populares, que tem na sua encenação suas próprias contradições: o apresentador do espetáculo, Charlatão, pede o pagamento antecipado para que ela assista à encenação e diante da falta de pagamento, pois ela tem curiosidade e não dinheiro, se abrem as cortinas para o número de Papardelle, um trovador, encomiasta, epitalamista e crítico literário (!) e Ludwigo, o boneco endiabrado. Pelo teor da fala, qualquer suposição de heroicização idealista do artista de rua cai por terra. Na dinâmica da peça, as situações conduzidas pela narrativa cênica apresentam, em graus diferentes, as relações entre os personagens que se definem por aquilo que possuem de 40 valor: o corpo, sua força de trabalho, ou sua posição social. Dessa forma, poderíamos ler a peça a partir da análise do processo de trocas da mercadoria empreendida por Karl Marx19. No início do espetáculo é dito que todos estão em busca do equivalente geral com função especificamente social da mercadoria, a saber, o dinheiro; as cenas da peça, através das ações individuais dos personagens no cálculo do valor de suas mercadorias, como proprietários no processo social, irão incidir na análise marxista de troca direta, tal como a forma natural do processo de intercâmbio, segundo Lukács, representando “muito mais a transformação inicial dos valores de uso em mercadorias” (LUKÁCS, 2012, p.195). O problema da mercadoria, na peça, é investigado em sua estrutura de relação mercantil, para se tentar aproximar as formas da objetividade às formas correspondentes de subjetividade na sociedade burguesa, nos termos do “nome do sujeito”. A ausência do Barão – e também do Imperador e dos grandes senhores de engenho − em cena se dá pois ele seria o personagem que não estaria na relação de troca consentida (e numa forma objetivada em cena), e de fato, a comparação à ele é feita pela aparição da Besta, o grande proprietário, ou ainda o Capital, à personagem de Branca. Os demais negociam o 19 “Não é com seus pés que as mercadorias vão ao mercado, nem se trocam por decisão própria. Temos, portanto, de procurar seus responsáveis, seus donos. As mercadorias são coisas; portanto, inermes diante do homem. Se não é dócil, pode o homem empregar força, em outras palavras, apoderar-se dela. Para relacionar essas coisas, umas com as outras, como mercadorias, têm seus responsáveis de comportar-se, reciprocamente, como pessoas cuja vontade reside nessas coisas, de modo que um só se aposse da mercadoria do outro, alienando a sua, mediante o consentimento do outro, através, portanto, de uma ato voluntário comum. É mister, por isso, que reconheçam, um no outro, a qualidade de proprietário privado. Essa relação de direito, que tem o contrato por forma, legalmente desenvolvida ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica. O conteúdo da relação jurídica ou de vontade é dado pela própria relação econômica. As pessoas, aqui, só existem, reciprocamente, na função de representantes de mercadorias, e, portanto, de mercadorias (...) Cada proprietário de uma mercadoria só a cede por outra cujo valor-de-uso satisfaz necessidade sua. Assim, a troca é, para ele, processo puramente individual. Além disso, quer realizar sua mercadoria como valor, em qualquer outra mercadoria do seu agrado, com o mesmo valor, possua ou não sua mercadoria valor-de-uso para o proprietário da outra. A troca passa então a ser, para ele, processo social. Mas não há possibilidade de o mesmo processo ser simplesmente individual e ao mesmo tempo simplesmente social e geral, para todos os proprietários de mercadorias. Todo possuidor de mercadoria considera cada mercadoria alheia equivalente particular da sua, e sua mercadoria, portanto, equivalente geral de todas as outras mercadorias. Mas todos os possuidores raciocinam do mesmo modo. Assim, não há equivalente geral, e o valor relativo das mercadorias não possui forma geral em que se equiparem como valores e se comparem como magnitudes de valor. Não se estabelecem relações entre elas, como mercadorias, confrontando-se apenas como produtos ou valores-de-uso. Em sua perplexidade, nossos possuídos de mercadorias pensam como Fausto: “No princípio era a ação.” Agem antes de pensar. As leis oriundas da natureza das mercadorias revelam-se através do instinto natural dos seus possuidores. Só podem estabelecer relações entre suas mercadorias, como valores e, por conseguinte, como mercadorias, comparando-as com qualquer outra que se patenteie equivalente geral. É o que nos mostrou a análise da mercadoria. Mas apenas ação social pode fazer de determinada mercadoria equivalente geral. A ação social de todas as outras mercadorias elege, portanto, uma determinada para nela representarem seus valores. A forma corpórea dessa mercadoria torna-se, desse modo, a forma de equivalente com validade social; ser equivalente geral torna-se função especificamente social da mercadoria eleita. Assim, ela vira dinheiro. “Todos eles têm um mesmo desígnio, e entregarão sua força e seu poder à besta. E que só possa comprar ou v eender quem tiver o sinal, a saber, o nome da besta ou o número do seu nome.” (Apocalipse) (Marx, 2011, p.109-111). 41 que possuem, não somente “mercadoria-objetos”, como no caso de Carneiro, comerciante português, mas ainda Antonio Lyra que vende sua força de trabalho, seu único “bem” – a “mercadoria subjetivando-se”. Os personagens-proprietários estão em um grande “mercado”, e a peça busca complexificar, e demonstrar, os valores-de-uso que define para sua mercadoria cada proprietário. A escrava Graça, ela própria a primitiva forma dinheiro, será àquela que tragicamente não perpetuará a relação, cometendo suicídio. Por essa breve exposição, parece ser a peça um “tratado” de economia política, o que está longe disso. Há um grande engenho de composição dramatúrgica que promove a compreensão sobre estes aspectos, sem resvalar, maquinalmente a um julgamento de caráter dramático. O espectador compreende as relações em jogo e por isso não é facilitada, por exemplo, a condenação de Margarida quando esta estrangula seu filho recém-nascido, gerado pelo estupro do Barão, à maneira como se mata uma galinha. Nessas relações burguesas se vê a venda do intelectual, alusão ao artista por uma questão extra-teatral dada pelo ponto de vista anunciado como o seu “apagão” através do narrador (Regente), que sem “contradições” – ainda que lhe doa a cabeça − anuncia e festeja o vento liberal, de grandes transformações em busca da superação de um atraso que apenas se dá com a marcha irrevogável do desenvolvimento, que deixa para trás, e também para o futuro, a reposição da violência. Por esse ângulo de análise, a primeira peça de autoria do grupo materializa questões do capitalismo brasileiro tendo como referência a “abertura” desenvolvimentista ficcionada na peça e também as condições repostas pela “reabertura”, em termos neoliberais, na década de 1990. A figura de Wagner, o intelectual que fica à sombra do Barão (um homem erudito, de espírito elevado) dá a cara à elite brasileira (em cena da compra de uma colônia na venda de Carneiro, Wagner reclama: Não! Quero algo mais insinuante. Algo que traduza melhor minha personalidade. Carneiro: Tenho uma água de Colônia – produzida em Portugal – mas de alma prussiana. Vou mostrar). Ontem e hoje, “de passagem fica claro quanto era estreita e provinciana a nossa ideia de modernização, para a qual o problema não estava na marcha do mundo, mas apenas em nossa posição relativa dentro dela” (SCHWARZ, 1999, p.161). Em sua última fala Wagner declara ao tomar posse, na Câmara dos deputados: WAGNER – Srs. Deputados, um grande homem não deve se abrasar com o mal que lhe dirigem. Mas cabe a seus seguidores evitar a propagação de fagulhas perigosas. Sobretudo quando a chama da maldade ameaça se alastrar aqui e ali, anônima, crepitando na voz seca da arraia miúda, ou se erguendo em labaredas das colunas de jornais inexpressivos. Acusam o sr. Barão de mandar tocar fogo em mocambos. Seria um mal usar de todos os 42 meios para limpar o terreno onde será cultivado um progresso que fará bem a gerações? Acusam o sr. Barão de pactuar com o capital estrangeiro. Seria um mal se sujeitar aos juros do dia, quando serão inomináveis os dividendos da noite? No aniversário da grande Aliança, eu lhes garanto: daqui a cem anos Pernambuco será uma sociedade mais justa e feliz. E por enquanto não me venham com simplificações maniqueístas entre Bem e Mal. (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p. 81) Apenas a título de exemplificação, reproduzo um trecho do discurso do intelectual Fernando Henrique Cardoso, ao tomar posse como Presidente da República, no Congresso Nacional, em 1º de janeiro de 1995. Por algum tempo, na Presidência de Juscelino Kubitschek, o futuro nos pareceu estar perto. Havia desenvolvimento. O Brasil se industrializava rapidamente. Nossa democracia funcionava, apesar dos sobressaltos. E havia perspectivas de melhoria social. Mas a História dá voltas que nos confundem. Os “anos dourados” de JK terminaram com inflação e tensões políticas em alta. Vieram, então, anos sombrios, que primeiro trouxeram de volta o crescimento, mas sacrificaram a liberdade. Trouxeram progresso, mas para poucos. E, depois, nem isso, mas somente o legado – este, sim, para todos – de uma dívida externa que amarrou a economia e de uma inflação que agravou as mazelas sociais na década de 1980 (...) Para os jovens de hoje, que pintaram a cara e ocuparam as ruas exigindo decência dos seus representantes, assim como para as pessoas da minha geração, que aprenderam o valor da liberdade, ao perdê-la, a democracia é uma conquista definitiva (...) Recuperamos a confiança no desenvolvimento. Não é mais uma questão de esperança, apenas. Nem é euforia passageira pelos dois bons anos que acabamos de ter (...) Hoje não há especialista sério que preveja para o Brasil outra coisa que não um longo período de crescimento. As condições internacionais são favoráveis. O peso da dívida externa já não nos sufoca. (...) As raízes – as pessoas e as empresas que produzem riqueza – resistiram aos rigores da estagnação e da inflação. Sobreviveram. Saíram fortes da provação. Nossos empresários souberam inovar, souberam refazer suas fábricas e escritórios, souberam vencer as dificuldades. Os trabalhadores brasileiros souberam enfrentar as agruras do arbítrio e da recessão e os desafios das novas tecnologias. Reorganizaram seus sindicatos para serem capazes, como hoje são, de reivindicar seus direitos e sua parte no bolo do crescimento econômico (...) Mais importante: hoje nós sabemos o que o Governo tem que fazer para sustentar o crescimento da economia. E vamos fazer. Aliás, já estamos fazendo.20 Na peça seguinte de autoria da Companhia do Latão − e após cinco anos de governo FHC − os não personagens de O nome do sujeito aparecerão em A comédia do trabalho (2000): os banqueiros, gêmeos, Leonid e Creonid (na encenação, ganha muita graça o fato dos gêmeos serem, fisicamente, muito diferentes). 20 http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/Discursos_fhc.pdf. Acesso em 31/07/2013. 43 Segundo as informações da publicação, A comédia do trabalho, roteiro para um espetáculo de intervenção popular, estreou no Teatro SESC-Anchieta em São Paulo no dia 03 de agosto de 2000, após ensaios abertos na cidade de Santo André, São Carlos, Taubaté e no assentamento Ireno Alves do MST em Rio Bonito do Iguaçu, Paraná (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.88). Em estilo de farsa de agit-prop, logo no início da peça temos a indicação, através da Atriz-politizada, que a montagem trata do capitalismo financeirizado. Segundo Iná Camargo Costa, Para começar, definiu como estratégia que o objeto de riso seriam os representantes da classe dominante e seus emissários políticos e ideológicos e que a classe trabalhadora, em estágio terminal de desagregação, mas ainda assim responsável pelo maior pesadelo dos dominantes (a Revolução), formularia os grandes problemas verdadeiramente humanos da peça, como a tentativa de suicídio de um desempregado, a reivindicação reprimida através de violência cidadã, a violência que se instala nas famílias sem renda, a busca desesperada por qualquer tipo de qualificação de trabalho, e assim por diante. A classe dominante, na figura dos gêmeos banqueiros, por sua vez, barbariza promovendo demissões a torto e a direito, patrocinando empreendimentos de auto-ajuda, como o genial grupo de “reconstituição do universo simbólico” e, sobretudo, tomando as providências cabíveis para socializar seus prejuízos financeiros, isto é, obrigando o Estado a facilitar a venda do banquinho ao grande capital. Como nas comédias o final feliz é uma exigência, esta se encerra com a festa promovida pelos ex-banqueiros que agora vão se dedicar ao financiamento de empreendimentos culturais (COSTA, 2008, p.28) Pela dinâmica da peça, as ações dos personagens se fazem ora no escritório da Léo & Créo & Companhia, e ora nas ruas e praças da “fictícia” Tropélia. Os personagens, como dito por Iná Camargo Costa, podem ser divididos entre a classe dominante e a classe trabalhadora em estágio terminal de desagregação; contudo implica observar melhor o que significa, para o Latão, considerar sua obra como uma farsa. Pela aparência de uma peça de agitação e propaganda, que tem rendimento expressivo quando feita a uma plateia organizada, a farsa da comédia de agitprop diz tanto sobre a tragédia de tal desorganização na vida social brasileira, como também à vida artística, daí da observação de Sérgio de Carvalho, este mundo para quem sente é uma tragédia, para quem pensa é uma comédia21. 21 O trecho foi retirado de uma entrevista de Sérgio de Carvalho ao Jornal Diário do Pará, em junho de 2004. A entrevista está disponível no blog da Companhia do Latão – www.companhiadolatao.com.br. 44 A comédia do trabalho, realizada após a encenação de Santa Joana dos Matadouros para públicos “novos”, como movimentos populares, MST e sindicatos, recupera, segundo Márcio Marciano, um alto de grau de comunicação com o espectador, que ficara restrito, ou confinado, pelo espaço teatral convencional e sutilezas de cena e dramaturgia de O nome do sujeito, e foi pensada, também, para ser realizada em lugares não convencionais para apresentação teatral – a peça foi apresentada em sindicatos, por exemplo. Com certa influência de A ópera dos três vinténs, de Brecht, quanto aos procedimentos formais – e de composição da desagregação dos trabalhadores − , que buscam utilizar uma forma conhecida para fazê-la trabalhar, em atrito, como “esquema estranhado”, A comédia do trabalho dá tratamento cômico aos banqueiros, numa verdade posta em Brecht: o que é um assalto a um banco comparado à fundação de um banco? e nessa percepção se materializam as complexas relações trabalhistas e a grande dificuldade, no presente, de formação de uma consciência de classe. Em crítica feita por Fernando Peixoto22 A opção pela comédia, que pode parecer um paradoxo, é a deliberada busca de uma linguagem cênica capaz de levar o espectador a uma compreensão mais aprofundada e reveladora de muitos problemas trágicos de nossa realidade cotidiana. Esta é efetivamente a "tragédia do trabalho": capitalismo e bancos em crise, investidores estrangeiros prontos para dominar, desemprego, miséria, governos corruptos e violência policial contra manifestações populares. E até mesmo, quase no centro da estrutura do texto, em meio a tantos conflitos e contradições coletivas, a presença de um violento e dramático conflito individual: um empregado que, depois de ter sido demitido, decidiu suicidar-se. As cenas se sucedem de forma sempre surpreendente, surgem novos personagens operários e capitalistas, todas as sequências são tratadas com espírito de comicidade, mas dialeticamente fazendo pensar e repensar múltiplos aspectos das relações trabalhistas e da luta de classes. Realizando mais um estudo, assim como foi O nome do sujeito, o Latão representa a dificuldade da organização coletiva da classe trabalhadora. Demonstra a dificuldade de organização política quando mesmo as classes passam por transformações que não “definem” sua posição na luta de classes; não à toa, então, que também estão em cena Mendigos e Pedintes em discussão sobre a desunião da Categoria de miseráveis (!). Se a radicalização do ponto de vista da luta de classes se faz na luta ideológica pela consciência, pelo desvelamento ou dissimulação do caráter classista da sociedade, segundo Lukács (2012), no caso da peça a chave comicamente trágica é o modo de dialogar com o público para ativação 22 O trecho foi retirado de crítica feita por Fernando Peixoto e disponível no blog da Companhia do Latão – www.companhiadolatao.com.br. 45 dessa consciência. Muito do movimento da peça, talvez, acompanhe as observações de Fernando Haddad, convidado pela Companhia do Latão para realizar uma palestra em abril de 2000, sobre a redefinição contemporânea das classes sociais. Segundo Haddad Além da classe trabalhadora que vende sua força produtiva para o capital (esteja ela empregada, subempregada, precarizada ou não), e que constitui o chamado proletariado tradicional, − e penso que hoje nós temos mais chances de contar com ela, justamente pelas derrotas que vem acumulando −, o processo gerou outras duas classes que não são desprezíveis: a primeira é a do lúmpem moderno. Não o da época do Marx. O lúmpem moderno é fruto da putrefação das atuais classes e não das antigas. É a classe do indivíduo que não tem mais a expectativa de se ver reinserido na sociedade de mercado. E há uma outra classe, contratada pelo capital, não para produzir, mas para criar, para pesquisar, para inovar. Aquela tarefa que antigamente era da burguesia, e que foi delegada a uma classe contratada para gerar lucros superiores ao lucro médio da economia. (Vintém, nº4, p.17) Em estudo desenvolvido por Walmir Barguil Pavam, A dramaturgia do trabalho no teatro paulistano contemporâneo, dissertação de mestrado defendida em 2009, A comédia do trabalho, junto às peças Bartolomeu, que será que nele deu?, de Claudia Schapira e Borandá, de Luis Alberto de Abreu, é analisada a partir do tratamento da temática trabalhista. Especificamente sobre o A comédia do trabalho, o autor, apoiando-se nas estratégias narrativas, incluindo os coros e as metáforas espaciais (alto do prédio, com antenas de televisão e pássaros voando e a rua, com tumulto, pobreza e desemprego. Para tal comparação, o autor utiliza a cena da peça reproduzida adiante) considera Na peça da Companhia do Latão, os personagens demonstram, individualmente, constante e cômica contradição nas suas ações e discursos, quando da relação com sua classe social ou categoria trabalhista; formam coros contraditórios, mais ou menos desarticulados em sua própria classe ou categoria (elite, funcionários, desempregados). No entanto, a luta de classes, mesmo sem discursos e práticas uníssonas, ainda continua, e forte, o que é evidenciado pelas constantes metáforas espaciais de alto e baixo. A alusão ao passado serve para constatar que, mesmo com as mudanças nas formas de produção, há incríveis semelhanças na intensidade de exploração que o capital mantém no país desde a colonização; além disso, o enfoque temporal mostra que os anos de labuta não levam a um presente bem-sucedido, mesmo com o discurso de recompensa pela produtividade e a flexibilização da produção nas empresas atuais. Mas a estratégia negativa do grupo – com forte carga irônica e satírica – mostra que não há superação nas diferenças de classe no mundo contemporâneo, mesmo com supostos discursos conciliadores da elite, nem a possibilidade idealista de uma completa organização dos trabalhadores; apesar de tudo, dialeticamente, enxerga-se a resistência das classes baixas ao final da peça, com uma pedra atirada a uma 46 festa das elites: a contradição leva a uma possível transformação (PAVAM, 2009, p. 121-122). Para Pavam, portanto, embora reconhecida a dificuldade na organização coletiva da classe trabalhadora, de um ponto de vista temático, a luta de classe se dá por um recurso formal, no qual as metáforas espaciais ganham destaque na representação. Nestas condições, insere-se a precarização das condições de trabalho dos artistas. Núlio, o desempregado que tentará o suicídio, narra – fazendo coincidir assunto e forma: ATOR QUE REPRESENTA NÚLIO – Dentro de instantes, os senhores me verão representar Núlio, o suicida. Como estudo para uma personagem tão triste, pensei em minha própria situação e compus os seguintes versos. Permitam-me declama-los. Sou um ator de teatro. Apesar do amor ao ofício As contas de casa não pago com isso. Tenho saudades do dia Em que era um ator-mercadoria. Fazia anúncios, vinhetas, reclames Vendia carros, viagens, salames E tudo fazia sentido Porque meu cabelo não tinha caído. Pensei mesmo que a vida era bela Quando fiz um garçom numa telenovela. Alguém aí tem outro emprego Que volta a me dar sossego? No mundo da mercadoria Coisa má é não ser mercadoria. Obrigado. (Curva-se para agradecer os aplausos.) Voltemos à peça. (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.118-119) Entre a constatação dolorosa, há o cinismo do ator que se curva, para agradecer os aplausos imaginários, e também à “verdade” do Capital. Em outra cena, os Manifestantes oscilam entre a compreensão da necessidade de mudança, que virá apenas a partir da organização da classe trabalhadora, em contradição à subsunção dos indivíduos pelas condições de vida “predestinadas”. Ao ser questionado pelo sentido da vida, Núlio anuncia a canção (cena mencionada no desenvolvimento espacial alto/baixo, segundo Walmir Pavam): Eu não sabia que a vida tem um sentido Inevitável, perpétuo, inflexível Para baixo, para baixo, para baixo Para baixo, para baixo, para baixo Para baixo, para baixo, para baixo (Narrado) Pensei na morte então como um alívio 47 Porque para baixo de sete palmos de terra Meu corpo não desceria. Mas logo vi o patrão feito um diabo Gritar meu nome e apontar o itinerário. Para baixo, para baixo, para baixo Para baixo, para baixo, para baixo No oitavo mês de desemprego Núlio poderia ter dito Que andando pelas praças Ouviu muitas histórias, de vidas começadas na esperança Quando os homens ainda têm bons estômagos E as mulheres não ensaboam os cabelos nas águas da sarjeta Poderia ter dito que viu abrir-se à sua frente um abismo profundo e imenso E via a si próprio Agarrado às paredes escorregadias Dobrando os dedos para que as unhas não quebrassem. E percebeu que todos os dias Fez tudo o que diziam ser certo Até a exaustão. Talvez tenha sido este o seu engano: Pensar que sofria sozinho Que o trouxe tão baixo no fundo do abismo. Núlio poderia ter dito, mas não disse. (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.134-135) Núlio não disse − embora tenha dito para o público −, pois a constatação individual não chegou a alcançar um aprendizado político, tampouco uma formulação coletiva. As condições reais da luta de classes não se davam na conjuntura brasileira no início do século XXI nos termos de consciência de classe, tal como desejada idealmente. A verdade era elemento fundamental para tentar estudar o estágio da acumulação capitalista em tempos de capitalismo financeirizado, que na aparência prescinde do trabalho − o que é uma verdade localizada − e consequentemente do trabalhador, e o tratamento cômico demonstra a apresentação de tal abordagem como reificação. Pelos esboços que enquadrei as duas peças, percebe-se àquilo que tentei identificar como um dos procedimentos do trabalho da Companhia do Latão: estudar as relações capitalistas em solo brasileiro, tendo como pressuposto um impulso anticapitalista, que se traduz, entre outros recursos, no tensionamento das formas representacionais: um espetáculo que é montado para o espaço teatral convencional tenta demonstrar sua realidade comercial, outro que é pensado no diálogo com públicos populares, busca rastrear a decadência da organização política da classe trabalhadora. Ambas construções negativas, do ponto de vista dramatúrgico, que interferem nas “expectativas positivadas”, tendo em vista os lugares de encenação, do espectador. A peça seguinte do Latão, também identificada a este acento crítico, irá problematizar o tema da formação capitalista, ainda no período colonial. 48 A peça Auto dos bons tratos, estreada em 20 de abril de 2002, no Teatro Cacilda Becker, publicada na seção Imagens do Brasil, utiliza como material de estudo fatos históricos reais relatados no processo movido contra o donatário Pero do Campo Tourinho (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.200). Segundo a Companhia, a ideia da encenação provém de um estudo do livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, feito pela Companhia do Latão no ano de 2001 e da leitura do ensaio “Atribulações de um donatário”, de Capistrano de Abreu, em Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. Durante o processo de ensaios foram consultados diversos relatos de viajante do período, entre os quais o livro de Hans Staden, Duas viagens ao Brasil e cartas jesuíticas. A obra de Luiz Felipe de Alencastro, O trato dos viventes, inspira alguns pontos de vista e o titulo da peça (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.200). O espectador acompanha as ações autoritárias do donatário Pero do Campo Tourinho, um senhor que buscava imprimir uma prática protestante de trabalho, segundo Sérgio de Carvalho, e nisso entrou em conflito com as práticas da Igreja católica. A crítica feita à peça, como a de Valmir Santos, identifica como tema a formação da personalidade autoritária no Brasil, quando o pano de fundo retrata fatos reais do processo de inquisição a qual foi submetido o donatário da Capitania de Porto Seguro, em 1546.23 Segundo Iná Camargo Costa À parte a exposição sem complacência da impossibilidade material de se falar em liberdade em qualquer de suas figuras na chamada época colonial, ou época de ouro do empreendimento-Brasil (Pero do Campo Tourinho, a figura emblemática da peça, é tutelado pela Coroa e pela Igreja), o Latão examina principalmente a contradição mais fértil: aquela que opôs igreja e empreendedores na disputa pela mão-de-obra de nativos escravizados. No caso específico de Tourinho, o empreendedor que se imaginava livre leva a pior por não se dar conta da capilaridade do poder de Igreja (as redes, inclusive de intriga) e é entregue, após um julgamento preliminar, aos tribunais europeus. Ironia final: quando de seu embarque, são anunciados tempos de paz entre escravizadores, pois os africanos começam a ser embarcados para o Brasil. Estas contradições dão régua e compasso a todas as demais, até as mais sutis, como a transformação de um nativo em ator num auto de Anchieta, falando em latim, ou a filha de Tourinho ser mais fluente em tupi do que em português. Como os acontecimentos são expostos na forma dos autos do processo instaurado contra Tourinho, o Latão encontrou material para ficcionalizar uma das figuras ainda correntes de trabalhador intelectual entre nós: Camelo ao mesmo tempo é o escrivão do processo que, formalmente, responde por parte da narrativa e, nas horas 23 Crítica publicada no jornal Folha de São Paulo em 27 de março de 2002: Inquisição da cordialidade. Acesso em www.folha.uol.com.br, 13 de agosto de 2013. 49 vagas, contratado por Tourinho, prepara um poema épico sobre seus feitos (COSTA, 2008, p.25) É interessante notar que a pesquisadora Margarete Maria de Moraes em O Auto dos bons tratos, da Companhia do Latão: dramaturgia de raízes fincadas na realidade brasileira, dissertação de mestrado defendida em 2005, aproxime a forma da peça não aos autos do processo do donatário, como se o texto colocasse em cena os fragmentos de um processo jurídico, mas aos autos dos dramas litúrgicos. Os autos, conforme a autora, passaram com o tempo a se coadunar a temas profanos: os espetáculos profanos eram levados em praça pública, sobre carroças ou palcos improvisados. As diversas representações dos autos exibem dois aspectos fundamentais. O primeiro corresponde à mudança de local em que se davam: de início, encenados apenas nas igrejas e suas imediações – ou seja, em solo sagrado −, passaram também a ocorrer nas praças públicas, abrindo-se, assim, para os espaços profanos. O segundo aspecto notável é o progressivo estreitamento da relação entre os autos e as festas populares, como é o caso, apontado por vários críticos, das procissões de Corpus Christi, oficializadas em 1624 pelo papa Urbano VI, que logo se transformaram em concorridas festividades profanas (MORAES, 2005, p.65). Continua a autora, então, apresentando a ampliação de elementos cênicos, incluindo personagens, a mudança de local de apresentações e seus temas populares, que os autos conquistaram o público entre as camadas pobres. Ainda aproxima Brecht e Gil Vicente, do ponto de vista formal, e também do padre José de Anchieta24. Da mesma forma como percebemos o relacionamento Brecht – Gil Vicente, podemos afirmar um relacionamento Brecht – Anchieta. Mais que qualquer outro teórico teatral, Brecht propôs um teatro didático. E é por meio dessa linha teórica que se dá a aproximação dos três dramaturgos. No entanto, uma diferença tornará completamente diversos os caminhos de cada um. Gil Vicente está sujeito ao poder político da realiza, e Anchieta está sujeito ao poder político-religioso da Igreja. Ambos escrevem de forma convencional, na medida em que estão envolvidos pelo poder que os sustenta e condiciona (...). Brecht vai se distinguir de ambos pela nova visão incorporada à sua teoria do distanciamento. Enquanto autor e teórico, o dramaturgo alemão propõe uma nova postura, a qual chamamos não convencional, pois busca a eliminação do processo catártico de sua plateia (MORAES, 2005, p.69-70). 24 É interessante notar que, embora Margarete Maria de Moraes apresente questões sobre o teatro épico (distanciamento) a partir da leitura de Anatol Rosenfeld, não o faça quanto à aproximação do teatro épico e do teatro medieval. Embora o autor faça uma advertência quanto ao propósito do livro O teatro épico, o de não se constituir como uma história do teatro épico, Rosenfeld ilustra, como diz, “mediante vários exemplos, alguns momentos em que o teatro épico se manifestou em toda a sua plenitude: o teatro medieval e as diversas correntes do teatro épico moderno” (2008, p.11). 50 Em sua argumentação, num primeiro momento a autora procura ver os rendimentos de aproximações formais entre o teatro brechtiano e a forma dos autos, religiosos e profanos, e, pelo conhecimento da utilização do método brechtiano pela Companhia do Latão, aproximaos de Auto dos bons tratos. É interessante notar as duas considerações, tanto de que a dinâmica cênica materializa a estrutura de um processo judicial quanto aos fragmentos – vários cenários e situações − se insinuando como um recurso cênico que não é limitado a uma forma-política. Tenho, contudo, a ponderar que como destaca o Latão na publicação do texto, que conta ainda com uma cena não levada ao palco pela Companhia, o fato de todos os títulos serem anunciados por narradores, com marcas temporais (por exemplo, a primeira cena após o prólogo de João de Tiba, um traficante de escravos índios: 11 de novembro de 1545. O capitão e donatário de Porto Seguro, Pero do Campo Tourinho, invade a igreja, interrompe a missa de São Martinho e arrasta os homens ao trabalho. No dia seguinte, o vigário Bernard de Aureajac hesita entre salvar os humildes e abater os ímpios) leve, apropriadamente, à proposta de interpretação de Iná Camargo Costa. Como foi observado pela crítica, e também nas referências acima mencionadas, a peça tem a dizer sobre a formação, em tempos coloniais, da impossibilidade de exercício da liberdade por qualquer um dos personagens em cena. Ainda segundo Iná, talvez a contradição mais frutífera, entretanto, se dê naquela que opõe igreja e empreendedores na disputa pela mão-de-obra de nativos escravizados. No prólogo da peça, temos o enquadramento do que vem a ser esta afirmação: Prólogo no teatro Os atores se põem diante dos espectadores. ATRIZ – Senhores espectadores, bem-vindos! Esta peça é uma fábula aos pedaços. Imaginem um elefante e um rinoceronte Postos a duelar em praça pública pelo capricho de um rei antigo. Imaginem agora a multidão de centopeias, minhocas, lacraias E toda a plebe dos bichos, esmagada sob as patas dos monstros em luta. O resultado disso é uma peça despedaçada. Que a nossa ruína se complete Com a simpatia de sua imaginação. (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p. 148) Como um auto, que contém as peças do processo inquisitorial, a apuração das denúncias contra Pero do Campo Tourinho estarão à disposição do espectador ao longo da 51 peça, não apenas pela representação dos “fatos” e “atos” cometidos pelo donatário, mas também pelos diálogos dos demais personagens que narram, a partir de seus pontos de vista, suas ações; assim o espectador, logo na primeira cena, percebe a justificativa do comportamento violento pela fala do juiz Escorcyo, ou de sua reprovação por parte de João de Tiba, traficante de escravos índios que teve entre às suas mercadorias quatro escravos “surrupiados” por Tourinho para o trabalho em seu engenho. Acontece que, como o espectador acompanha, nenhum ato de Tourinho se assemelha a algo bom: ele é extremamente violento com todos, de escravos a homens livres que para ele trabalham, ou ainda com sua mulher, Ignez, e filha, Leonor. A violência de Tourinho, e de toda a escravidão, pode ser sintetizada numa cena de seu processo de inquirição na qual é lembrada, pelo padre Bernard de Aujerac, do mando do donatário em cravar uma ferradura nos pés de um índio. O padre pergunta ao ferreiro Douteiro, “me diga, senhor ferreiro, por que tantas crueldades a abominações, por que fazer de um homem com alma, um animal quadrúpede?” a que Douteiro responde: “qual o problema, vigário? Ele serviu de exemplo para que outros não fugissem. E já era uma besta de carga antes da ferradura”(CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.173). Como é possível observar, a naturalização da violência é dada em chave crítica para a análise do espectador. Mas então, qual o rendimento de dizer sobre os bons tratos, se em nenhum momento a peça dá mostras disso, pelo menos através do personagem de Tourinho? O anúncio, logo no prólogo da peça, para que o espectador perceba “a plebe de bichos, esmagada sob as patas dos monstros em luta”, parece ser a possibilidade de observação de tal procedimento. Mas eles também não praticam ou recebem bons tratos, estão, no muito, tentando arranjar formas de sobreviver. Quando Tourinho está preso, em conversa com Biela, um empregado de Tourinho, Maria Machado, taberneira, degradada, diz: “não vê que precisamos da proteção deles? Sem um tipo de Tourinho, capaz de arrancar a cabeça de um índio na faca, nós seríamos massacrados pelos tapuias. E mesmo se as tribos nos deixassem em paz, El-Rei mandaria uma esquadra de Portugal para que os canhões nos lembrassem que é o dono da terra” (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.182). Daí a conclusão de Manivela, outro trabalhador livre: “vamos para Pernambuco, onde Duarte Coelho governa a ferro e fogo. Quem sabe ganhamos o seu favor” (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.183). Por essa abordagem, muito da consideração de Roberto Schwarz sobre a política de favor e as saídas da malandragem a que estavam condicionados os homens “livres” interfere no material, como comportamento social para a manutenção da vida, do homem livre, no período escravista. Como observa Rodrigo de Freitas Costa (2012), o fator essencial valorizado logo no início da trama diz respeito ao título da peça na primeira cena com João de Tiba. O traficante diz sobre 52 os bons tratos como a melhor forma de relação entre os poderes na colônia, trato que não é, afinal, a prática de Tourinho. Utilizando informações do historiador Pedro Puntoni, entrevistado pela Companhia no processo de elaboração da peça e disponível em vídeo25, a peça coloca em cena “tecnologias de mando”: de um lado Tourinho tenta instalar uma perspectiva de mando de fundo protestante, de outro, a forma usual “brasileira”, que faz mercancia sem usar de violência (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p. 148). Duas formas para a manutenção de poderes, e também, de propriedades. Assim como ocorre nas peças anteriores, os personagens recebem um tratamento “negativizado” para que o público tenha condições de verificação quanto a, obviamente improvável, bondade no Brasil colonial. Do ponto de vista dramatúrgico, a análise requer, entretanto, que se perceba que o personagem de Tourinho não se apresenta nos termos da cordialidade de Sérgio Buarque de Holanda, muito pelo contrário. Ele não faz uso da “máscara da bondade”, ou dos bons tratos, como recurso de mando, o que acaba lhe rendendo o processo de inquisição. Segundo Gabriela Malta “o personagem de Tourinho é recriado na peça como um reflexo invertido desse conceito, uma vez que ele não camufla o seu autoritarismo, desafiando as regras cordiais que regem a sociedade” (MALTA, 2010, p. 46). A formação da cordialidade como forma de exploração aclimatada ao solo brasileiro é dada, somente, em uma das últimas cenas da peça: A voz da santa ecoa na cabeça de Tourinho TOURINHO (Estranha.) − De quem é essa voz? VOZ DE SANTA LUZIA – Sou eu, Santa Luzia. E vim te dar uma lição, pois desperdiças no cativeiro a chance de ser novo senhor. TOURINHO – Gregório, para com isso, maldito. SANTA LUZIA – Tinhas uma função na vida, mandar em gente. E nela fracassaste. Surge a imagem fantástica de Santa Luzia aos olhos de Tourinho. TOURINHO − Meu Deus. SANTA LUZIA (Ensina, hierofânica) − Jamais serás um bom senhor se não aprenderes o trato correto. TOURINHO – Gregório, tira-a daqui. 25 EXPERIMENTOS videográficos da Companhia do Latão. Produção: Companhia do Latão. São Paulo, 2009, 2 DVD. 53 SANTA LUZIA - Mistura alívio ao cativeiro, deixa que adorem os santos, e dá-lhes dias de dança e folguedo. TOURINHO – Ei, me desculpe, Luzia, eu não fiz por mal. SANTA LUZIA - O bom senhor apazigua a escravaria, com seu humano coração. E faz com que esta morte em vida se pareça um pouco mais com vida. TOURINHO – Meu Deus, ela é sábia. Estou vendo luzes. (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p. 185) Há que se levar em conta, portanto, que a ideia de encenação que provém de um estudo do livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, incide no conceito mais conhecido, o de homem cordial, pelo resultado cênico das personagens livres, e não pelo “protagonista” Tourinho. O tratamento será invertido na última peça do Latão, O patrão cordial, que será analisada na seção Epílogo. Vale ressaltar, então, que à época de Auto dos bons tratos o Latão estudava O sr. Puntila e o seu criado Matti, de Bertolt Brecht, como diz a atriz Helena Albergaria em entrevista a Gabriela Villen Malta: Eu entrei substituindo na Comédia do Trabalho e a gente estava trabalhando o Sr. Puntila e o seu criado Mate. Quanto eu entrei, estava tendo um trabalho de realismo: estudar Stanislaviski e a peça do Sr. Puntila. Aí, abandonou-se essa ideia do Sr. Puntila para fazer uma dramaturgia própria que voltasse a pensar o Brasil (MALTA, 2010, p.97). Para se pensar, nos termos de hoje, a cordialidade - que Anatol Rosenfeld nomeou a respeito da peça de Brecht, O Sr. Puntila e seu criado Matti, a cordialidade puntiliana − o Latão recuperou os princípios da formação da sociedade brasileira em sua já entrada como periferia do capitalismo. Mantinha o interesse em problematizar formas de se fazer a crítica anticapitalista por meio do ensaio teatral, e talvez, mas não apenas − e isso serve como especulação, que ademais rende como narrativa para presente estudo −, o grupo “retornará” ao texto brechtiano em fins de 2012 como processo de trabalho sobre a formação da ideia de indivíduo, sujeito burguês, em solo brasileiro articulando-o a ideia de cordialidade, mas fazendo-o de um ponto de vista identificado às ações dos personagens. A peça O mercado do gozo, estreada em 2002 pela Companhia, se vincula a um novo procedimento: a de estudos sobre o caráter “estranhável” do narrador; no caso, a fruição do espectador deve à composição reconhecível dos mecanismos da construção cênica, ou ainda, na demonstração da manipulação da função narrativa, que de certa forma já aparecera em O nome do sujeito e Auto dos bons tratos como assunto de estranhamento via “quebra” 54 dramática. Em O mercado do gozo, contudo, a “indistinção” da narrativa ficcional e do espaço teatral se dá logo no prólogo. Segundo Iná Camargo Costa, na condição de figurantes de um filme e da história como um todo, os espectadores acompanham a difícil construção de uma figura de herdeiro burguês, muito recalcitrante, que aprende a golpes de drogas, experimentos eróticos e bons exemplos de outros empreendedores, a tomar conta dos seus interesses. Quanto ao filme, no qual atuamos como figurantes, este conta a história da prostituta que, ao tentar escapar do controle de seu proprietário, acabou desfigurada e entregue à luta pela sobrevivência na rua. A mensagem do filme, legítimo produto da indústria cultural, é clara: no mundo da mercadoria, o pior que pode acontecer a alguém é não ser mercadoria (COSTA, 2008, p.27). Em 2003, Mariângela Alves de Lima em artigo sobre a peça identificou o procedimento de demonstração da manipulação da função narrativa. Ao iniciar a crítica lembrando que a história é contada invariavelmente pela ótica dos vencedores, e organizando o argumento a partir da constatação de que historiadores e artistas estão sempre pesquisando, resgatando e se esforçando para devolver ao sistema venoso da cultura as epopeias suprimidas dos movimentos populares, Mariângela sugere que o grupo centra-se não mais no fato histórico - a greve geral de 1917 na cidade de São Paulo – mas no enquadramento, reexamimando o modo como se reintegra à consciência coletiva, por meio da arte, o lado recalcado da história. Pela sequência das cenas, o lado recalcado da história, a greve geral de 1917, aparece pela primeira vez na cena 6 – Intermezzo de agit prop: declaração de greve geral, com a seguinte rubrica Um coro de atores assiste à projeção de imagens históricas da greve de 1917 em São Paulo. A cena é um corpo estranho na narrativa do espetáculo. Não deve ser harmonizada ao conjunto. É como se fizesse parte de um estudo preparatório que foi banido do roteiro do filme. (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p. 220) Ora, pelo roteiro do filme, o espectador vê em processo de ensaio e filmagem desde o Prólogo na porta do teatro, que o material da greve não cabe na incursão dramática cinematográfica. Como se estivesse interessado em produzir um filme, os personagens de O mercado do gozo vão sendo apresentados para o espectador. Burgó, herdeiro de uma fábrica de tecidos, em leve crise identitária, mantém relações com o cáften Bubu e com a prostituta Rosa Bebé, que por sua vez mantém sob seu domínio os desejos de ascensão da empregada 55 Cafifa e da operária Getúlia. Se retirássemos as inserções que inserem a greve de 1917, o espectador iria acompanhar, via o roteiro do filme, o “esbanjamento mundano” de Burgó − que percebe melancolicamente que todos, incluído os espectadores do teatro e os operários de sua fábrica de tecidos, não passam de bonecos sem fio − mantendo “relações” com personagens “marginais”, até seu desenlace harmonicamente classista de retomar a direção da fábrica herdada de seu pai após a morte de Getúlia, uma “ex-operária” transformada em profissional do sexo (antes Getúlia fazia programas ocasionais) pelas mãos de Rosa Bebé. Dada as circunstâncias do filme em processo de montagem, o diretor/ensaiador, que é intuído pelas marcas de cena e nunca aparece, vai dando os contornos do ponto de vista de como as cenas devem ser encaminhadas. Getúlia é a personagem que liga os dois mundos, dos operários do material rejeitado e da construção da imagem fílmica. Ela é para o primeiro, contudo, contraditória em suas relações de classe, e, também, pela transformação operada por Rosa Bebé, dentro do filme, um “espelho” do burguês que contempla, em cena que reproduz a sessão em um estúdio fotográfico, a manutenção do desejo: quando a mercadoria conhece sua função ela sabe que àquele que observa “não quer ser tocado, não quer ser saciado, só quer manter aceso um desejo após o outro” (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.231). É nessa sentença, dada por Rosa Bebé, que as relações do burguês são construídas com os demais personagens. Pelo roteiro do filme, então, são dadas as condições de trabalho extremamente precárias e desumanizadas dos personagens. Acontece que como observou Iná Camargo Costa o filme, ao final, irá contar a história da prostituta, elemento que será dado em uma das últimas cenas da peça: O diretor de cinema agradece o trabalho dos figurantes Num estúdio de cinema, Burgó, que também é o diretor do filme, dirige-se ao público BURGÓ – Serei o melhor dos patrões, conselheiro e guia, padrinho e amigo. Não cumprimento pessoalmente cada um de vocês, mas sintam-se colaboradores desse projeto. Nosso objetivo é fazer um bom produto, que toque o coração do público. Minha assistente fará um resumo. Em três minutos começamos. (Sai.) ASSISTENTE DE DIREÇÃO (Afetada.) – Boa noite. Para que os senhores compreendam o que vai se passar a partir de agora, saibam que é a história de uma prostituta libertária, que no começo do século, em meio a agitações políticas, lutou sozinha contra um sanguinário cafetão. O contexto histórico é apenas pando de fundo para a vida dessa heroína que foi perseguida, humilhada e queimada. Uma mártir. Os senhores estão aqui para contribuir com esta obra de arte social. Por favor, me acompanhem: a cena se passa do lado de fora. (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p. 261) 56 A cena, portanto, compõe, em atrito, com a fala do Ensaiador ainda no prólogo da peça, todo o material que foi visto pelo público. Como figurante do processo de ensaio, de “recolha” e utilização do material que será utilizado no filme, no final, o espetador se dá conta que restará apenas a imagem melodramática da prostituta libertária perseguida e humilhada. Tudo àquilo que foi dramatizado anteriormente era material de estudo para o filme, desde as inserções dos coros proletários, antecipadamente rejeitados, às cenas no opiário de Papoula, ou ainda de espancamento de um mendigo que aceita, no final da cena, as moedas de Burgó. Cada cena, obviamente, mantém suas próprias relações com o tema da peça – que segundo Iná demonstra “com extremo rigor a constituição do terreno sobre o qual germina a matéria-prima da prostituição e de sua exploração em escala industrial, isto é, a indústria cultural, aqui exposta em sua componente cinematográfica” (COSTA, 2008, p.26) – mas é a partir da narração acima mencionada que todo o material antecedente pode ser recomposto, a partir da informação de que o diretor do filme é afinal, Burgó. Independente de sua ligeira crise, que pode se assemelhar a uma ligeira crise criativa e de tentativas de narração, o filme assumirá o ponto de vista “na produção de bens de consumo de massas, que se alimentam do repertório do melodrama” (COSTA, 2008, p. 26) É com essa imagem, de Bubu queimando o rosto de Rosa Bebé quando esta grita eu sou só tua, que o espectador deixa a sala. Vejamos, então, que há uma mediação interna, desse material que está sendo testado para chegar a compor o filme no qual se desdobra a problematização da manipulação da função narrativa - é claro que com o conhecimento de que o diretor do filme é o burguês, trata-se de uma função de um ponto de vista de classe. A narrativa cênica vai operando como se o espectador pudesse julgar as ações de Burgó no registro dramático de caráter individual, que por parte dos bem intencionados é condenado; nestes termos é de fácil reconhecimento por parte do público uma construção dramática que é tensionada pelos registros épicos de recondução da história via inserção dos coros proletários. A construção do anti-herói burguês, vinda da crítica às suas ações, é feita pelo mesmo registro dramático, que tem na heroicização de Rosa Bebé, na cena final de filmagem, seu correlato melodramático. Mas não é por acaso que Valmir Santos, em matéria para o jornal Folha de São Paulo em 13 de agosto de 2003, observa que em O mercado do gozo o espectador tenha o seu próprio papel colocado sob suspeita. É uma peça radical na relação do palco e plateia que desde o princípio tensiona o prazer estético ao componente, e uso, como espelho pela indústria da cultura, onde o desejo se vê e se reconhece como objetivo (HAUG, 1997, p.77). 57 Muitos dos procedimentos utilizados pelo Latão durante a peça, como o movimento de interrupção de ações e sua retomada, a partir de indicações dramáticas distintas, que se dão a conhecer através de rubricas − o que faz com que o espectador veja o procedimento sem lhe conhecer as “causas” − causa um princípio de reconhecimento, por parte do espectador familiarizado às peças do Latão, de uma prática teatral feita pela crítica à linguagem; mas há uma dificuldade maior, colocada pela narração do diretor ao final do espetáculo, pois em jogo está o desejo desse espectador. Tal procedimento, entretanto, não se assemelha a uma prática, mais ou menos comum, no teatro contemporâneo de embaralhar àquilo que supostamente o espectador tenderia a esperar e se aproxima muito mais a um experimento sociológico, em termos brechtianos. A nota é altamente negativa e põe no sentido contrário à manipulação da função narrativa a expectativa do espectador, numa contradição prática, experiência teatral que guarda certo parentesco com a peça Ópera dos vivos, objeto do presente estudo, que será detalhada na análise desta peça. A peça, também incluída na seção Cenas de mercantilização junto a O mercado do gozo, Visões Siamesas, estreou em 21 de outubro de 2004. Segundo nota da publicação, parte do argumento de Visões siamesas se inspira no conto “As academias de Sião”, de Machado de Assis (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.327). Além do estudo de Machado de Assis, o Latão estudou escritos da literatura clássica oriental e utiliza fragmentos de poemas anônimos de Escadaria de jade: antologia de poesia chinesa: século XII a.c.- século XVIII, entre outros materiais de pesquisa. Visões siamesas, produção contemporânea de Equívocos colecionados, em muitos aspectos dá continuidade às reflexões críticas de A comedia do trabalho e de O mercado do gozo. Em parte porque, tudo somado, a temática geral dos trabalhos do Latão é recorrente. Digamos que o objetivo enfocado é que varia. Como esta peça começou a ser ruminada a partir de uma reflexão sobre a obra de Machado de Assis, no clima em que se desenvolveram as pesquisas de Equívocos colecionados, foi quase por atração temática que se estabeleceu o interesse pelo conto machadiano As academias do Sião. Constatando nesta obra o alto desapreço do escritor pelos intelectuais (o poder descobre que, como categoria, os intelectuais se consideram a luz do mundo e individualmente, acham que todos os demais são imbecis), o Latão, em sintonia com os tempos que correm, em que ninguém mais se preocupa com o que eles possam ter a declarar, resolveu dedicar a estes sacerdotes da ideologia apenas o tempo indispensável para ridicularizar seu discurso abertamente adesista e confina-los no templo onde ficarão adorando o deus-capital. E, interessado na esquizofrenia que move a classe trabalhadora identificada com o discurso hegemônico, aproveitou a deixa do conto sobre o intercâmbio de almas apara apresentá-las em suas desesperadas tentativas de evadir-se da miséria. Como a saída é individual, o resultado é apenas o acúmulo da miséria, sofrimento e morte. Temos então uma síntese da história da classe trabalhadora brasileira, que entra em cena 58 quando sai o latifundiário deixando os camponeses a Deus-dará. Forçada a migrar para a cidade, submete-se aos mais variados tipos de exploração, sempre movida pelo sonho do sucesso (no caso, cifrado na operação da troca de alma com o rei). Vai cumprindo a curva descendente, sempre apostando em melhores dias, até passar pela miséria máxima, literalmente no lixo e, como última tentativa, a emigração que tem como desfecho a morte no deserto (COSTA, 2008, p. 28 -29). A síntese da história da classe trabalhadora brasileira, como indica Iná, é dada em uma das últimas falas de Kinara, talvez a personagem, dentre essas peças, mais “ingênua” do Latão: Por que só me ensinaram a sonhar no singular? – contudo, o “sonho” de Kinara passa por um processo concreto, no qual ela vê obliteradas suas chances de composição de um projeto coletivo, pois suas relações com demais personagens no mundo do trabalho vão sendo esgarçadas, assim como esse mundo, e a própria dramaturgia. A peça, como indica a pesquisadora, retoma questões críticas de A comédia do trabalho e de O Mercado do gozo, mas de certa forma opera uma “surpresa” ao construir uma fábula que se situa em Sião, onde vive a jovem camponesa Kinara, personagem que será “acompanhada” em seu desenvolvimento “pseudo” dramático. Segundo Gabriela Malta Kinara é a heroína às avessas, como não poderia deixar de ser, tendo em vista a matéria histórica da qual se origina. Ela sonha com a presença salvadora do rei, figura mítica de sua infância, enquanto acompanhamos a degeneração de sua existência psíquica e física (MALTA, 2010, p.65) Cabe, aqui, uma observação em relação à peça: Visões siamesas tem um nível de exigência de interpretação dos atores, já delineado em O mercado do gozo, que deixa mais marcas no texto, com grande apuro literário, embora o enredo seja muito simples. As rubricas, que dizem de ações e também algo da “sensibilidade” das cenas como modelo de atuação para os atores, são indicações de como se intui a função da ingenuidade, de um lado potencialmente positivada, buscando sua eficácia teatral na relação com o espectador, embora o recurso dramático de uma “ingenuidade individual” seja negativizado, uma vez que todas as ações da personagem só a levam para mais miséria e sofrimento. É precisamente a ingenuidade na representação de fenômenos simples que dá uma vantagem ao teatro nãoprofissional − (profissional no sentido convencional, tradicionalista e não-profissional feito por atores e encenadores operários, no caso de Wekwerth) (WEKWERTH, 1997, p.37). Ao tentar escapar da exploração, há um processo de desidentificação a partir da transmutação de Kinara em Rei Kalafanko, que a princípio, nos sonhos da personagem, a salvaria. Nos momentos de alucinação nos quais ainda dialoga com o Rei Kalafanko, rei mítico do Sião, o 59 personagem do Rei é num primeiro momento desempenhado pelo Sr. Tchong, um latifundiário de arroz, depois pelo Marinheiro, que queria favores sexuais de Kinara e por Jung, filho de Mamuang, um velho comprador de papel, que na rubrica da peça aparece como alguém “largado, como tivesse se drogado”. São sobreposições de personagens “perversos”, que nada têm em comum com o mito do Rei do Sião, embora guardem semelhanças a um registro dramático, ao passo que quando Kinara se transforma no Rei Kalafanko, o próprio drama se desfaz e a peça oscila entre o registro épico e lírico, como observa Gabriela Malta. A idealização, de subjetividade lírica e inoperante, se choca com a realidade concreta, de caráter histórico e social, e que é de conhecimento do público e não da personagem, fazendo com que a dramaturgia inverta o sentido ideológico da saída individual num sistema capitalista − a aprendizagem, nesse sentido, é do espectador e não do personagem. A encenação exigirá do ator o abandono de registros teatrais “tradicionais”, que na maioria das vezes opera entre a eloquência e a contenção subjetivista-psicanalizada, dada já pela estrutura do texto. Como assistente de Brecht, Manfred Wekwerth diz sobre a encenação simples Todavia, isso exige atores que – pode parecer grotesco – tornem novamente o teatro mais simples (o que não é fácil). Atores que percebam que o convívio perceptivo entre as pessoas é mais interessante que a vida interior: que não mergulhem nos abismos impenetráveis da alma, mas que observem e representem as relações explicáveis que os homens estabelecem uns com os outros. Atores que não destilem um tipo sem falhas, mas que representem simplesmente as rupturas, isto, as contradições de suas ações como elas são: contraditórias. Atores que se contentem em sugerir os traços que interessem ao personagem, quando se trata de aludir os grandes traços da fábula. Em suma: precisamos de atores que compreendam que o ser social determina a consciência. E que possam, no palco, representar o mundo exatamente desta forma (WEKWERTH, 1997, p.40-41). Cabe aqui uma breve digressão quanto ao trabalho de “formação de atores” na composição das peças do Latão. Os atores, muito ao gênero de “teatro de grupo” não reduzem seu trabalho à decoração de falas de personagens, ou trabalhos de mesa, ou ainda a “composição de personagens” numa atitude individualizada, buscando incorporar, ou construir, a história do personagem de um ponto de vista personalista – questão que pode vir após o conhecimento histórico da peça, como salienta o ator Ney Piacentini: “os trabalhos mais individualizados com personagens só ocorrem depois que a base histórica, seus processos contraditórios, foram debatidos. Aí surgem diálogos mais particularizados entre atores e direção” (ALBERGARIA; PIACENTINI, 2009, p.93). Os atores do grupo assumem funções diversas, relacionadas não apenas a composição de figurinos, adereços, cenografia, 60 mas também como dramaturgos em cena, e, em sala de ensaio. Isso faz com que cada ator, necessariamente, e ainda que pelo breve tempo em que se incorpora a um processo de trabalho específico, tenha como processo de aprendizado uma forma de trabalho que exige uma atitude diferenciada e reverbera na composição de personagens em uma “atitude realista”. A atitude realista, como Helena Albergaria define, além da percepção de detalhes de composição via abordagem stanislavskiana, que precisa de uma relação real entre os atores em cena, é também para mim um componente fundamental do trabalho realista do grupo. Mas o foco está na personagem, não no “jogo do ator”. E está nas personagens pensadas em relação às forças políticas que atuam na história da peça, e dentro dela. Nesse sentido, é muito materialista o modo de pensar o realismo dentro do Latão. Deve haver essa atitude realista mesmo em situações de quebra épica, pois você está sempre se relacionando com alguém. Seguindo a ideia do Brecht de que a mínima unidade política são dois homens que se encontram, acho que a cena pode também ser pensada assim. Mesmo a personagem sozinha em cena estabeleceu anteriormente uma relação. Ou vai estabelecer depois. Além da relação que o ator estabelece com o público. O foco das relações contribui para que as cenas nunca sejam pensadas abstratamente, de forma genérica, o que é o mais importante. Romper com o estado abstrato de representação é um conceito de Stanislavski. Mesmo Brecht, que nunca trabalhou para o ilusionismo, detestava abstrações ideológicas (ALBERGARIA; PIACENTINI, 2009, p.88). Muito do resultado das peças do Latão precisa do trabalho desalienante do ator em ensaio; dele advém as relações materiais postas em cena; o personagem teatral, como Anatol Rosenfeld (2007) afirma, funda, onticamente, o próprio espetáculo (através do ator). Nesse sentido, diferentemente da abordagem cinematográfica e literária, os personagens teatrais fundam a ficção na sua objetivação subjetiva, sendo que nas outras abordagens possam até “desaparecer” por certo tempo; o palco, entretanto, não pode permanecer “vazio”; sem o ator, obviamente, não existe teatro. Mas também não é “qualquer trabalho” de ator. Quando Helena Albergaria diz da atitude realista e ainda menciona o estudo de Constantin Stanislavski que se processa na “formação de atores” do Latão, parece que há algo da observação de Manfred Wekwerth quanto ao método de Stanislavski O ator em busca de detalhes realistas deve representar com extrema precisão as numerosas pequenas ações da fábula, antes de investir pensamentos e sentimentos. Com isso evita que sejam representados aleatoriamente quaisquer ideias ou lugares-comuns, em vez das próprias situações concretas. O que para a vida é o último, para o ator é o primeiro. Por isso ele 61 deve fazer o contrário do que faz na vida: como personagem, deve agir antes de pensar (WEKWERTH, 1997, p. 141) Feito esses apontamentos, o alcance das questões problematizadas nas peças do grupo estão relacionadas ao “manejo de interpretação” conquistado durante o processo de ensaio e a cada apresentação do espetáculo. Há que se considerar, portanto, o grande empenho do Latão na formação de atores-dramaturgos, sem, contudo, fetichizar a relação grupal como “garantia estética”, considerando também o trabalho minucioso de composição da dramaturgia, feita, a essa época, por Sérgio de Carvalho e Márcio Marciano, principalmente. A encenação de Visões siamesas, portanto, assim como de outras peças, é um grande desafio para os atores, pois soam simplórias as sequências dramáticas que parecem flertar com um pathos trágico, que tem uma parcela de verdade no “movimento esquizofrênico da classe trabalhadora”. Há que se considerar que Visões siamesas, assim como Equívocos colecionados, peça publicada na seção Releituras, e estreada no mesmo ano da primeira, têm em comum o “sentimento” do grupo quanto ao período histórico, que nas palavras de Gabriela Malta, diz se não de um pessimismo desesperado, de um grande, enorme, rebaixamento de expectativas. Sobre Equívocos colecionados, Iná Camargo Costa considera Equívocos colecionados tem, por assim dizer, um ponto de partida histórico e três culturais. Historicamente, o Brasil passou a integrar oficialmente a era da contra-revolução com o golpe militar de 1964. Depois de vinte anos de contra-revolução armada e, assegurada a fidelidade civil à ordem capitalista, entramos na era, ainda vigente, da contra-revolução civilizada. Quanto às referências culturais, a brasileira é o filme Terra em transe, de Glauber Rocha, e as alemãs são Heiner Müller e a peça didática de Brecht, em especial A decisão. De olho no pântano sociológico da pequena burguesia, a matéria prima retirada do nosso clássico da autocrítica do intelectual, do artista e do sindicalista que fazem política de costas para as reivindicações da classe trabalhadora, é processada através de recursos formais forjados por Brecht e explorados por Heiner Müller. A peça instala um tribunal em que as figuras acima, mas a de um estudante engajado, todos definidos como cadáveres, ou espectros que continuam nos assombrando, são submetidos a um curioso processo: na ausência do promotor e do advogado de defesa, eles apresentam seus próprios argumentos apologéticos. Na ausência de uma acusação formalizada, os espectros oferecem as mais variadas justificativas por terem sonhado o que sonharam, por terem aceito as regras do jogo e, inconscientes de sua condição de espectros, continuam reivindicando o seu direito a um lugar num mundo onde parece não haver lugar para eles, sem se dar conta de que estão completamente integrados. A coreografia e o bateboca vão se intensificando até culminarem em violenta troca de acusações quando, instado a se pronunciar, o Juiz (uma suspeita mistura de Brecht e Chaplin) prefere suspender o juízo, remetendo a sentença para os espectadores aos quais ainda pede empatia. Nesta peça, é particularmente 62 relevante a dialética do ser e do nada, pois a ausência de acusação formal explica o caráter auto-referido dos temas e justificativas e o empenho de cada um em se defender (COSTA, 2008, p.27 e 28). Muito do processo de construção dramatúrgica dessas duas peças pode ser recuperado no texto de Marcio Marciano (2009), Formas de uma dramaturgia do limite: Equívocos colecionados e Visões siamesas. Gostaria, entretanto, de retomar apenas uma questão apontada por Iná sobre Equívocos colecionados em diálogo ao que nos conta o dramaturgo: Comparados aos textos anteriores do grupo, podem gerar certa estranheza (...) Ao leitor desavisado, o roteiro de Equívocos pode sugerir o abandono de um projeto dramatúrgico pautado pelo princípio de inteligibilidade da cena como forma de representar criticamente as contradições do método predatório com que as elites brasileiras vêm impondo à força o que elas mesmas chamam de nossa “modernização”, com seu corolário supostamente civilizador e progressista, mas marcado pela pior espécie de degradação humana que é aquela que subtrai de gerações inteiras seu “direto ao futuro”, para usar os clichês com que essas mesmas elites se congratulam nos banquetes da filantropia e do voluntariado (MARCIANO, 2009, p.232-233). É de total conhecimento do dramaturgo que o público familiarizado com as peças do Latão estranhe a forma lírica que, com as vozes que em nada se assemelham a uma certa trajetória cênica, diz respeito às manifestações da inconsciência. Em estudo para a composição da peça, o pensamento de Heiner Müller foi um gatilho provocativo posto por Hans Thies-Lehmann quando o grupo participou de uma oficina com o crítico em setembro de 2003 (o experimento estreia em 22 de abril de 2004 no Instituto Goethe de São Paulo e, segundo Marcio Marciano, foi criado em três semanas, como roteiro para uma leitura encenada). No debate que encerrou a oficina, com trechos publicados na revista Vintém n.5, Lehmann diz sobre a poética mülleriana A alteração poética do tempo tem um papel importante no teatro de Müller porque sua composição dramatúrgica em forma de “paisagem” instaura um ritmo de fantasia. Como no sonho, não existe a lógica do tempo linear. Passado, presente, futuro se misturam. Ele procura produzir essa colagem temporal nas suas peças. Por isso, seu teatro Müller é comparável a uma pessoa no momento em que ela acorda e tenta entender o seu próprio sonho. O texto é o sonho, a cena é a interpretação do sonho. E aí novamente aparece o diálogo. É uma resistência contra a cultura capitalista que só conhece o presente, para quem só existe o tempo presente (...) A essa forma de teatro, que já não é um texto tipicamente teatral, eu daria o nome de um teatro pósdramático (VINTÉM, 2005, p.45-46). 63 Há uma grande inserção do debate, no campo de estudos teatrais, da ideia de uma pósdramaticidade. Essa proposta baseia-se em certa medida, do ponto de vista teórico, no inventário da produção teatral europeia dos anos 1970 aos anos 1990, realizado por HansThies Lehmann e publicado em livro no Brasil em 2007 (Teatro pós-dramático), no qual a categoria pós-dramático abarca as experiências cênicas que escapam à construção sobretudo da fábula e as unidades dramáticas normatizadas pelo drama burguês. Para tentar entender a aproximação feita pelo crítico na palestra em relação ao teatro mülleriano, recorro a alguns apontamentos do argumento presente no livro em relação ao pós-dramático. Lehmann considera que o discurso teatral produzido entre os anos 1960 e 1990, principalmente, se emancipou da literariedade, ou seja, não tem como pressuposto o texto dramático, se aproximando mais da superficialidade e da velocidade em seus aspectos cênicos. Daí a ressalva feita por Luiz Fernando Ramos (2010), em O Pós-dramático ou Poética da Cena?, de que a acepção pós-dramático trata de um novo paradigma que se impôs ao longo do século XX, que apresenta a tensão entre uma poética do espetáculo e uma poética do dramático do que propriamente um desenvolvimento histórico do dramático. Para Lehmann, o teatro não se constitui mais como um meio de comunicação de massa em um mundo de consumo passivo de imagens e informações, mundo que enfraquece a capacidade de liberação de energias e fantasias, entendido, talvez, como o rebaixamento da capacidade imaginativa dos indivíduos. No seu argumento comparece a compreensão de que a comercialidade e a rentabilidade cultural imprimem grandes dificuldades ao teatro, produto com especificidades que esbarram na facilidade dos suportes audiovisuais. Para corroborar a sua argumentação, Lehmann elenca as dificuldades materiais de se produzir teatro: manutenção de equipamentos culturais, administração de todo o aparato teatral e custos relacionados ao trabalho dos artesãos. Tendo em vista este cenário, o que está em pauta para o autor é a investigação das produções que utilizam os signos teatrais em confrontação ou conformidade com as tendências modernas de autorreflexão, no questionamento mesmo dessas condições, naquilo que projetam sobre “novas possibilidades de pensamento e representação para o sujeito humano individual” (LEHMANN, 2007, p.20). Como processo histórico, as inovações teatrais atenderam a uma necessidade política de representação e não, exclusivamente, opção estética e é exatamente essa perspectiva que se apresenta de forma contraditória por Lehmann. Ao final do livro, o autor faz um balanço sobre a interface teatro pós-dramático e política, apontando que já passou o tempo do teatro como um lugar em que conflitos de valores sociais e fundamentais eram exibidos e tematizados (LEHMANN, 2007, p.409). Para o autor, “o conflito político tende a escapar à 64 apreensão imediata e à representação cênica (...) nessas circunstâncias, a única coisa que ganha algo como um apreensibilidade direta é a interrupção dos comportamentos normatizados, jurídicos, políticos, portanto o não-político” (LEHMANN, 2007, p.407- 408). Segundo Sílvia Fernandes (2010) na tentativa de encontrar conotações políticas no teatro pós-dramático, o ensaísta afirma que o político desse teatro é o político da percepção. Seu engajamento, portanto, não se situa nos temas, mas na revolução perceptiva que promove com a introdução do novo e do caótico na percepção domesticada pela sociedade de consumo e pelas mídias de informação. A proposta de depreender o político da hermenêutica das formas, de tendência eminentemente adorniana, soa como tentativa forçada de alçar o teatro pósdramático à categoria de prática revolucionária. O pós-dramático não precisa dessa justificativa. Mantém-se na integridade de suas formalizações transgressoras como desejo insistente de superar o teatro. (LEHMANN, 2007, p.30) Se seguirmos o argumento de Lehmann, de fato, todas as possibilidades de compreensão do teatro como uma esfera pública foram banidas restando apenas seu lugar como resíduo de uma prática que outrora teve alguma importância como espaço de reflexão e debate políticos, se assemelha muito mais a uma prática transgressora do que política, ou revolucionária, conforme Fernandes. De todo modo, é válida a afirmação de Lehmann de que não é pela tematização direta que o teatro se torna político (...) “mas como prática, representa exemplarmente uma ligação de elementos heterogêneos que simboliza a utopia de uma “outra vida” (...). Portanto, o teatro é virtualmente político segundo a concepção de sua prática” (p.414). Problematizando o alcance das iniciativas de teatro político – que parece ser o incômodo de Lehmann: quando o teatro se autodenomina “político”, ou ainda, revolucionário, ou ainda tenha alguma pretensão extra-estética, ou que revele que o mundo não se encerra na arte, muito pelo contrário (em sua época de mais vitalidade, dos agitprops, peças didáticas e teatro de tese durante a República de Weimar) o autor reproduz o que é de senso comum que na maior parte das vezes, “o teatro político não passava de um ritual de confirmação para aqueles que já estavam convencidos” (LEHMANN, 2007, p.409). A afirmação, que pode ser feita a qualquer tipo ou gênero teatral e literário, pois alia uma convenção estabelecida à expectativa do público, sem a mediação prática, nega qualquer possibilidade de diálogo criativo entre público e palco. Deste modo, suas “reservas” se dirigem à produção teatral que não se furta de explicitar seu ponto de vista no conteúdo tematizado pela forma. Contudo, para ele, como Brecht também afirma, o que é efetivamente político em teatro está explícito (e 65 não implícito como quer o autor) no modo de representação. Para Lehmann, o modo de representar se refere apenas ao espetáculo apreciado pelo público, sua teatralidade − visto que o seu percurso de construção do inventário de novas formas, por um lado, é o resultado direto da não problematização da indústria da cultura em sua dimensão espetacular e que pelo mesmo movimento defende a descentralidade do texto no fazer teatral −, ao passo que Brecht opera com a representação pela literatura dramática – daí seu debate com Lukács, por exemplo – e também pelo palco – e são inúmeros exemplos deixados por Brecht em seus escritos teóricos e poemas sobre a arte da representação, dirigidas a atores e diretores e o espantoso legado dramático, com peças constantemente reescritas para que a composição dramática pudesse atritar com as expectativas do público em suas convenções, desmontando as ideologias precipitadas no modo de representar. Para citarmos mais um equívoco de Lehmann sobre o teatro de Brecht, Maria Silvia Betti argumenta que no livro Escritura Política no Texto Teatral, publicado no Brasil em 2009, “ele se esquece de um detalhe crucial, que é um fato que o Fredric Jameson trata com tanta ênfase em O método Brecht, de que o que está alegorizado no trabalho brechtiano não é a fábula ou o conteúdo da fábula, e sim o raciocínio de análise que se apresenta a partir dela” (JORNAL TRAULITO, 2010, p.16) Se no debate com as proposições brechtianas há confusões ainda a serem explicitadas, e em todo o argumento sobre a capacidade da fabulação responder aos questionamentos humanos, o que está em pauta, de fato, é a capacidade de inteligibilidade do mundo atual pela arte e pelo teatro, que necessariamente caso consequente, tem de passar pela crítica à colonização cultural, para falar com Iná Camargo Costa, promovida pela indústria da cultura. Invertendo um célebre texto de Brecht, pelo pós-dramático, só poderemos descrever o mundo atual para o homem atual na medida em que o descrevermos como um mundo sem qualquer possibilidade de modificação. A estética pós-dramática o faz exemplarmente através de uma cena que reivindica o ritual religioso ou a presença-performance-a-histórica, na qual há “a convergência do passado que já se foi, construção de um futuro que virá operando sobre um presente que se vive. Retomamos a cena como gesto, campo de experiência, que rompe com a ideia de representação que remonta a algo do passado, a algo dado”26. Equivocadamente, parece que a ficcionalização só existe como um suporte artístico e não como uma condição constitutiva do homem que através da linguagem artística, por ser 26 Palestra realizada por Carlos Camargos Mendonça no evento Cenas transversais: artes em trânsito, realizado pela Escola de Comunicação, curso Direção teatral, da Universidade Federal do Rio de Janeiro em novembro de 2012. 66 linguagem, própria do ser humano, constrói uma compreensão da realidade e nisso produz sentido, manipulado e manipulável, obviamente. Claro está que as formas artísticas são alteradas na medida em que a realidade também se modifica, contudo, celebrar a incapacidade de tornar inteligível o mundo só pode estar baseado em uma renúncia de qualquer intenção produtiva que ademais congratula com a expectativa espetacular mercantilizada. A busca de algo que é incognoscível e sua celebração pelo teatro mistifica o trabalho artístico, glamouriza o desconhecimento e a incompreensão e nega a capacidade de algo ser produtivo. Especificamente sobre o teatro de Heiner Müller, o crítico diz: é inconfundível: na hora dos fantasmas se trata do tempo do inconsciente, da fantasia, do surreal. E assim um tempo que deve estar fora e dentro do tempo: eu o chamo, com Wener Hamacher, de contre-temps – não tempo. Assim como o tempo cria consciência, o não tempo marca a retirada dos significados, que do seu lado também são o deslocamento da chegada do futuro. Para Müller isto é o tempo da história (LEHMANN, 2009, p.305306). E talvez aqui a observação de Iná quanto à inconsciência das “personagens” da peça do Latão, de sua condição de espectros que “continuam reivindicando o seu direito a um lugar num mundo onde parece não haver lugar para eles, sem se dar conta de que estão completamente integrados”, deva ser lembrada. O que as experiências pós-dramáticas, como esta estranhada em Equívocos colecionados, não se dá conta é que ela está totalmente integrada à expectativa da indústria da cultura. Para um teatro dialético, que se pretende fazer de um ponto de vista historicizado, a maior traição, que é assunto da peça e faz com que as vozes sejam auto-referentes, é permanecer no imbróglio reificado da “paisagem” e do “sonho”, sem passado, presente ou futuro. Talvez, por essa questão que fica em aberto em Equívocos colecionados, faz com aproximadamente seis meses depois, o Latão estreie Visões siamesas, próxima ao argumento do experimento anterior, que trabalha com restos e vestígios humanos, mas dramaturgicamente oposta, com uma fábula que se despedaça na medida do estrangulamento do sujeito, portanto colocando-a como processo, não um estado. O pressuposto adorniano da impossibilidade de representação é então tensionado com a figura reconhecível do inumano, em seu desenvolvimento, e, não no seu acabamento. O retorno à fábula, tortuosamente dramática, é a tentativa de inteligibilidade desse processo e não de sua reiteração – contudo, o debate com os mortos da história, ou seja, com os vencidos, continuará como provocação na peça Ópera dos vivos. Em 2005 o grupo excursiona por 10 cidades do interior paulista apresentando as peças do repertório, além de manter as atividades de cunho teórico formativo, como a publicação da 67 revista Vintém. Em 2006 a Companhia recebe suporte financeiro por meio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro na cidade de São Paulo para desenvolver o projeto Companhia do Latão 10 anos: memória, estúdio, pesquisa. Nesse período o grupo reúne, organiza e divulga a sua produção teatral, gerando as publicações mencionadas: Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão (2009), Atuação crítica: entrevistas da Vintém e outras conversas (2009), ambos pela Editora Expressão Popular e Companhia do Latão 7 peças (2008), editada pela CosacNaify, além do DVD duplo Experimentos videográficos do Latão, contendo oito documentários e experimentos de ficção (2009) e o CD Canções de cena II (2009) - o primeiro CD com canções do grupo foi lançado em 2004. Segundo informações disponíveis no site da Companhia, Por 18 meses, a equipe composta por Sérgio de Carvalho, Helena Albergaria, Martin Eikmeir, João Pissarra, Márcio Marciano, Ney Piacentini, Caetano Gotardo, Diogo Noventa, Marco Dutra, entre tantos outros colaboradores dedicou-se ao trabalho de documentação e criação de materiais artísticos e pedagógicos capazes de expressar e tornar transmissível a experiência em teatro dialético do grupo. Essas atividades foram desenvolvidas no escritório localizado na pequena sede da rua Iperó, que agora se transfere para novo endereço. Ainda em 2006 o grupo estreia O Circulo de Giz Caucasiano, de Brecht, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e também no SESC Avenida Paulista em São Paulo. Em 2006, o grupo é contemplado, via edital, pelo Programa Petrobrás Cultural e dá início a pesquisa e estudo que resulta na peça Ópera dos vivos. A partir de 2006 o grupo intensifica estudos e experimentos em processos de criação audiovisual; em 2007 inaugura o Estúdio do Latão, uma realização histórica para o grupo. É um espaço que permite a difusão do Projeto Companhia do Latão 10 anos bem como condições inéditas para o desenvolvimento de sua pesquisa cênica e estreia o telefilme Srta. L (Valor de troca) uma co-produção com a TV Cultura de São Paulo. Em 2008 estreia o experimento Entre o céu e a terra, que combina as linguagens de vídeo, música e teatro. Segundo informações no site da Companhia: Sobre a projeção de imagens inspiradas no conto “A cartomante”, uma trilha sonora é executada ao vivo enquanto os atores do grupo enunciam textos poéticos e teóricos que comentam a narrativa. Os escritos são baseados em fragmentos de Machado de Assis e do crítico Roberto Schwarz. Foi apresentado apenas duas vezes no Teatro SESC Consolação, em São Paulo, em 22 e 23 de outubro de 2008.Gravado em locações na Vila Maria Zélia, no 68 Museu da Caixa Econômica Federal e no Teatro SESC Anchieta, o vídeo "Entre o Céu e a Terra" é um filme mudo que conta com a participação de mais de 20 atores convidados, entre eles integrantes da Companhia do Latão e do grupo XIX. Foi todo feito a partir de cenas improvisadas pelos atores, constituindo-se num trabalho de dramaturgia e direção coletivas, sob a coordenação de Sérgio de Carvalho.27 Em 2009, estreia ainda outro experimento audiovisual, Ensaio sobre a crise, uma coprodução da Companhia do Latão, TV Brasil e Brigada Audiovisual da Vila Campesina. Em 2010 o grupo abre o processo do projeto Opera dos vivos no SESC Santana, em São Paulo, organizando debates, apresentação de cenas comentadas, e oficina de criação coletiva tendo como tema o “módulo” televisão de Ópera dos vivos, entre março e abril. 27 A informação pode ser consultada em www.companhiadolatao.com.br. Acesso em 07/08/2013. 69 OS MORTOS OBSTACULIZAM A FELICIDADE DOS VIVOS Todo lo que se diga sobre cultura desde um puto de vista más distante, más genérico, sin tener em cuenta la práctica, no es más que uma idea también y tiene, por tanto, que ser comprovada primero em la práctica. Bertolt Brecht Quer dizer, ninguém escapa da forma-mercadoria e ninguém pode agir como se estivesse fora dela. As soluções têm que ser achadas a partir dela e não a partir da ausência dela. Roberto Schwarz A peça Ópera dos vivos estreou no Rio de Janeiro em setembro de 2010. Em 2011, fez temporada na cidade de São Paulo e no mesmo ano, em 2012 e 2013 excursionou por diversas cidades do país, contando com uma apresentação em Portugal28. O crítico Luiz Fernando Ramos considerou a peça a mais ambiciosa da Companhia; ambiciosa por se organizar em quatro atos com aproximadamente quatro horas de duração, e talvez pelo tema por ele eleito – ânsia do grupo por uma maior politização do teatro. Para Maria Eugênia de Menezes, Ópera dos vivos é uma obra bela e necessária, que “estabelece pontos com o cinema, a música popular e a televisão. Tudo isso para lançar luzes sobre os modos de criação artística e o impacto que os anos de ditadura militar ainda exercem nessa seara, um espetáculo entre outros para se guardar na lembrança, e de tempos em tempos, para se revisitar”29. A peça gerou, ainda, discussões informais e um ciclo de debates promovido pelo SESC Belenzinho e pela Companhia em sua temporada nessa unidade na cidade de São Paulo. Feita na sala de ensaio, com Sérgio de Carvalho como dramaturgo e diretor, e em suas apresentações, com amplo estudo sobre a cultura brasileira no período da ditadura instalada em 1964 (entrevistas com artistas e intelectuais adensaram o trabalho de pesquisa) a dramaturgia cênica apresenta as marcas do trabalho coletivizado, de interpenetração da literatura dramática e do convívio dos atores com o público. 28 Em algumas cidades somente o primeiro ato foi encenado, pelos obstáculos da própria montagem – pelo menos duas salas são ocupadas. Isso faz com que as observações anotadas por este trabalho precisem ser mediadas quando se tem a informação que o espectador possa ter assistido apenas ao primeiro ato, ou ainda, quando a encenação se dê em espaços não-convencionais, como a que ocorreu na Escola Nacional Florestan Fernandes em 12 de novembro de 2011, na Mostra de Cultura. Nesta ocasião foi encenado o primeiro ato de Ópera dos vivos. 29 A crítica de Luiz Fernando Ramos foi publicada no jornal “Folha de São Paulo”, em 14 de outubro de 2010. Maria Eugênia de Menezes escreveu para o jornal O Estado de São Paulo em 26 de dezembro de 2011. 70 O presente estudo buscou problematizar a composição da peça a partir de sua relação com o público e a alguns aspectos extra-teatrais.30 Assisti a apresentações no Rio de Janeiro (Centro Cultural Banco do Brasil) e também em São Paulo (SESC Belenzinho e Teatro de Arena Eugênio Kusnet) – e soma-se como material de análise o texto ainda não publicado pela Companhia e impressões geradas pela cena. Acentuo esta questão pois ao longo da trajetória de apresentações, Ópera dos vivos sofreu alterações dramatúrgicas e ajustes, somados a necessidades distintas de reconfiguração espacial tendo em vista a arquitetura dos teatros31. Dadas as condições que geram o presente trabalho, começo com uma questão evidente: Ópera dos vivos não é um drama tradicional, assim como nenhuma peça do Latão. Sua forma ordenadora é épica. Afirmar isso faz com que as categorias e aspectos de análise da forma dramática (exposição, tensão dramática, personagens-sujeitos conscientes em momentos de decisão e outras formas de abordagem do drama em sua acepção tradicional) não lhe sejam totalmente “aplicáveis”. Pela organização geral da peça em quatro atos – cada um utilizando materiais específicos, podendo facilmente ser reconhecidos como “peças” dentro da peça − procurei adotar como princípio de análise a exposição dos recursos formais de cada ato e uma possível articulação entre eles. A disposição dos materiais promove os primeiros apontamentos de análise para que se possa chegar a uma aproximação seu fio condutor: o trabalho do artista. Do princípio: Ópera dos vivos insinua a encenação de um gênero teatral que une música, drama e espetáculo. A deixa, antes de exigir a execução de um gênero através de normas precisas, completa seu sentido ao contrastar com o título dos atos, que serão aqui compreendidos como “cenas-caso” ou variações de sua ideia geral. À maneira brechtiana, cada variação se situa em uma dimensão material de relações de trabalho e meios de produção: televisão/morrer de pé (quarto ato), música popular/privilégio dos mortos (terceiro ato), cinema/tempo morto: um filme sobre o golpe (segundo ato), teatro/sociedade mortuária: uma peça camponesa (primeiro ato). A cada ato há a ficcionalização de uma situação específica – teatro, cinema, show, televisão – no qual a relação central, morte e vida, é estudada a partir das relações dos personagens como veículo de formação representacional. 30 Em conversas informais, Sérgio de Carvalho reitera que não procura, ao dirigir e ser o principal dramaturgo da Companhia do Latão, um público de forma abstrata. Mas é necessário reconhecer que Ópera dos vivos, pela sua engenhosa montagem, exige um espaço teatral tradicional, frequentado, essencialmente, pela classe média. No caso da Companhia, como demais outros coletivos, há um público assíduo de estudantes e intelectuais, de classe média, de esquerda. 31 Agradeço à Companhia do Latão, em especial a Sérgio de Carvalho, pelo total acolhimento de minhas solicitações quanto ao texto e pelos momentos preciosos de conversas e discussões. A versão dramatúrgica utilizada data de 11 de setembro de 2011. A peça não foi, até o momento, publicada. 71 Não há uma fábula específica que conduza a ação, tampouco personagens desenhados pela orientação dramática clássica. Não se desenha uma história, mas a história recente do país, tendo como “protagonistas” os artistas e as formas representacionais. Em última instância, os personagens de Ópera dos vivos são os próprios integrantes da Companhia do Latão demonstrando as condições e relações de trabalho em distintos meios de produção, por isso, a cada ato, são acionadas histórias e personagens que dizem respeito a esses meios. Mas como não se trata de uma colcha de retalhos, a narrativa cênica trata de tentar conduzir um fio por fragmentos: a estrutura deixa entrever os expedientes artísticos afetados pelo golpe militar de 1964, como as experimentações do teatro de agitação e propaganda dos Centros Populares de Cultura, assim como os procedimentos do cinema novo e da canção tropicalista, até chegar à hegemonia do suporte televisivo. A fragmentação cênica sugere os impasses e contradições do processo cultural brasileiro e dos posicionamentos artístico-intelectuais frente a novas condições e formas de produção. Desta forma, a ideia é vinculada pelo assunto (teatro engajado, cinema, canção popular, televisão) numa narrativa cênica que sobrepõe uma compreensão histórico-crítica e o questionamento, em cena, de expedientes formais, inserindo o debate sobre as realizações estéticas, no presente dramático em confluência com o passado histórico; para utilizar um termo de Paulo Arantes, uma das lições possíveis de Ópera dos vivos é dar a ver uma “herança sem testamento”, através dos “escombros colecionados” (2012, p.204). Tal composição produz uma reflexão, num fluxo das formas representacionais, sobre a coletivização em arte – coletivo compreendido como a articulação entre artistas e realidade social −; a ruptura de tal processo e a sensibilidade da desobrigação impressa por novas condições de trabalho geradas pela indústria da cultura. Nessa breve exposição, os termos de Ópera dos vivos podem ser simplificados, mas haveria algo de falseamento caso cada módulo não gerasse suas próprias relações. A proposta cênica incide na relação entre o que é dramatizado e o público, trabalhado como mais um elemento da narrativa; ele, em última instância é também produtor. “O público é sempre a herança mais decisiva, em qualquer arte. O modo como as pessoas aprenderam a ver e a reagir é o que cria a condição essencial para o teatro” segundo Raymond Williams (2010, p.221). Suponho que há um princípio pedagógico no tema-ideia colado à perspectiva de como as pessoas aprendem a ver e a reagir, exigindo um espectador produtor das articulações. É na relação espectador e cena que muito das questões trabalhadas na presente análise irão incidir, relação esta que se dá, pelos termos apresentados por Williams, a condição essencial para o teatro. Mas tal relação é problematizada a partir do arranjo cênico, ou seja, por sua forma de narrar o trabalho dos artistas. Talvez o maior rendimento da peça se apresente em sua modelação: para contar o 72 trabalho dos artistas nas condições atuais, de fragmentação e precarização das relações de trabalho, foi necessário recuperar o movimento histórico que gerou tal situação. Mas como há uma concepção material do tempo que perpassa a construção da narrativa, cada ato, e a organização final da peça, busca apresentar materiais que permitam ao espectador compreender as condições dadas a cada momento e suas consequências estéticas. Presente dramático – arranjo cênico em atos – e História narrada − as relações de trabalho dos artistas – chocam-se como “demonstrações” do trabalho dos artistas. O Latão-narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada por outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes (BENJAMIN, 1994, p.201). É claro que seu arranjo impõe algumas dificuldades de apreensão e de certa forma, os atos funcionam com rendimentos distintos quanto à compreensão dramática e a estética gerada pelo momento selecionado. Em Sociedade mortuária: uma peça camponesa, epiciza-se o trabalho teatral, em Tempo morto: um filme sobre o golpe epiciza-se o expediente alegórico cinematográfico. Nos dois primeiros atos, a autorreflexão, ou estranhamento sobre o recurso utilizado – teatro e cinema – gera sentidos sobre o trabalho do ator e a relação dos meios de produção; em Música popular: privilégio dos mortos – o material é organizado para demonstrar a precipitação ideológica representacional através de um show musical, ou seja, àquilo que foi intuído na epicização do cinema – o produto final sem participação do espectador – soma-se ao sistema cultural em termos de imposição de relações de trabalho sem “liberdade” artística, mas ainda em níveis incompletos. O quarto e último ato, Morrer de pé, põe em curto-circuito a teorização prática proposta nos atos anteriores, recuperando cenas e imagens, no qual o trabalho do artista materializa a ideologia da indústria cultural, automatizando-a em sua relação: a “ideologização”, que se foi adensando através dos suportes eleitos, guarda suas relações com as condições de trabalho intelectual do período a que se referem ao mesmo tempo que dizem da ideologia anticapitalista do presente. Em Ópera dos vivos, o trabalho dos artistas na atualidade é visto pela análise daquilo que é passado político-histórico, fazendo-o dentro da uma trajetória identificada a uma formação de esquerda artística e intelectual, epicizando-a – a Companhia do Latão não se vê herdeira ou mantenedora da trajetória dos artistas de esquerda da década de 60, seus contextos são diversos – uma herança sem testamento −, mas é possível que algo do projeto de superação que se depreendia das experiências teatrais do passado alimente parte do imaginário do grupo no sentido de fortalecimento de seu trabalho teatral – talvez por isso da indução do comentário de Luiz Fernando Ramos quanto ao objetivo da peça. Quer dizer que, 73 como produtores de um trabalho cultural que não separa arte e política – o projeto ideológico é estético assim como seu contrário −, e consciente da perspectiva ideológica precipitada na representação artística, talvez a influência mais decisiva de Brecht no trabalho do grupo, o Latão em Ópera dos vivos revira nosso passado artístico para pôr em movimento o trabalho teatral, em termos ideológico-intelectuais, nos termos de hoje. Para falar do estado de coisas – do fetiche da mercadoria e da reificação em termos sociais e da precarização e fragmentação do trabalho, incluído o dos artistas − foi preciso recuperar o passado histórico do trabalho artístico, intuindo que se o fizesse apenas pelo recurso da demonstração da alienação dos personagens do ponto de vista dramático, numa negativização absoluta do presente, o fenômeno teatral poderia se constituir como uma forma reificadora e, portanto, a-histórica. No artigo Para que serve o teatro político?, Maria Elisa Cevasco (2012) inicia suas considerações sobre a função social do teatro de hoje com a apresentação do ensaio de Roberto Schwarz Cultura e Política, 1964-1969, descrevendo-o como um estudo multifacetado que demonstra como se pode ler a História de um período nas suas manifestações culturais (p.129). A conhecida influência intelectual do crítico na produção do Latão, em especial nesta peça, produz em Ópera dos vivos um itinerário analítico que parte de suas considerações sobre as manifestações da época mencionada, 1964-1969, através do estudo da teoria sedimentada sobre o teatro épico, utilizando como suporte a sua própria prática, ou seja, é uma obra que tenta ler a História, fazendo convergir no presente cênico uma consciência de que o tempo obviamente passou e, também não passou, pois muito daquilo que foi esmagado com o golpe reverbera como ruído para os artistas e mantém contradições sociais na vida brasileira, potencialmente superáveis antes da ditadura. Na dialética que aproxima os dois primeiros atos em relação ao terceiro, quando a sociedade do espetáculo se anuncia e quarto, no qual há um acúmulo do capital que tudo irá transformar em mercadoria, há uma consciência de que o trabalho teatral precisa ser ressignificado enquanto espaço formulador de percepção e consciência histórica. Em seu arco geral, o trabalho imaterial de produção simbólica se desenha como um projeto ideológico anticapitalista de ocupação de espaços de hegemonia burguesa. Trata-se da tentativa de narrar um processo histórico, com grande senso prático pra falar com Benjamin, sobre a produção artística engajada de 1960 à contemporaneidade; dessa forma a peça, como um “balanço” do projeto artístico do grupo, tem uma dimensão utilitária que enfeixa sua potência na consciência sobre seu lugar no cenário teatral contemporâneo: com alguma influência entre àqueles que procuram formalizar artisticamente saídas à mercantilização da cultura e quase inoperante diante da fetichização e despolitização da arte e do trabalho intelectual, condições obviamente extra-teatrais. Por isso, 74 a aposta se dá no diálogo com o espectador, numa pedagogia estética. O recurso é variado entre os atos, entretanto, nos três primeiros há maior evidência entre as situações dos personagens em constante fricção com os modos de produção e as modelagens da forma social. A análise do trabalho representacional deriva de uma compreensão específica sobre a realidade brasileira, muito influenciada, também, pela abordagem de Roberto Schwarz quanto à modernização conservadora operada, com a desfaçatez que lhe é peculiar, também no meio teatral. A partir dessas vias de compreensão na análise sobre a peça, em um primeiro momento, exponho como a narrativa cênica dispõe os materiais a cada módulo. Em específico, como se apresentam os “personagens em relação”, deixando como resultado a problematização do assunto atritado à percepção proposta pela encenação. Num segundo momento, tento apresentar alguns desdobramentos dessa disposição quanto a ideia ordenadora da peça que, salvo engano, são articuladas pelo último ato. A categoria de análise, “consciência” dos personagens – o personagem estar em “conformidade” ou não nas relações e situações propostas pela dramaturgia cênica, ou seja, como elas agem e se comportam em diferentes situações − está diretamente relacionada à compreensão teórica do teatro dialético de Bertolt Brecht. É de amplo conhecimento os estudos de Brecht quanto a teoria marxista. Pela apresentação do dramaturgo, é possível perceber como a análise da estrutura teatral se assemelha a observação empírica, nos termos marxistas, em contraposição prática à filosofia alemã – no caso da do dramaturgo, em contraposição prática à ideologia dramáticanaturalista. Em A ideologia alemã, Marx e Engels consideram: a produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de seu comportamento material. O mesmo vale para a produção espiritual, tal como ela se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante, mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas (...). Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. No primeiro modo de considerar as coisas [a filosofia alemã de Feuerbach] parte-se da consciência como do indivíduo vivo; no segundo, que corresponde à vida real, parte-se dos próprios indivíduos reais, vivos, e se considera a consciência apenas como sua consciência. Esse modo de considerar as coisas não é isento de pressupostos. Ele parte de pressupostos reais e não os abandona em nenhum instante. Seus pressupostos são os 75 homens, não em quaisquer isolamento ou fixação fantástica, mas em seu processo de desenvolvimento real, empiricamente observável, sob determinadas condições (2009, p. 93-94). A dramaturgia moderna apresenta a consciência da personagem como dado pois refere-se a um mundo conformado pelo diálogo, no qual os personagens são circunscritos ao mundo por ele composto. A abordagem naturalista, que possui conexões históricas íntimas com o socialismo, segundo Raymond Williams, embora constituída como um movimento contra versões idealistas da experiência humana, acabou por ser visto como equivalente ao que ele contestava: uma mera produção, ou a reprodução como um cenário, como um disfarce, para as mesmas histórias antigas idealizadas ou estereotipadas. Na prática, havia coisas que o teatro naturalista, mesmo em seu próprio interesse, não podia realizar. Quanto mais ele encenava a realidade cotidiana, menos ele podia mover-se seja para o pensamento não dito, seja para ação além dos locais selecionados. De forma peculiar, ele foi capturado pela armadilha dos cômodos nos quais as pessoas olhavam para fora pelas janelas ou ouviam gritos vindos das ruas.” (2011, p.119). Segundo Raymond Williams, o naturalismo burguês – a dramaturgia moderna − trouxe grandes transformações ao incorporar em sua forma o material contemporâneo – em oposição à matéria lendária ou histórica−; uma forma da fala cotidiana como fundamento para a linguagem dramática; a extensão social – alargando a caracterização dos personagens que não eram apenas de “nível social elevado”; e uma exclusão de todas as agências sobrenaturais ou metafísicas da ação dramática. “O drama deveria agora ser, de modo explícito, uma ação humana exercida em termos exclusivamente humanos.” (WILLIAMS, 2011, p.77). As conquistas do naturalismo burguês, como as destacadas pelo crítico, foram incorporadas de maneira cada vez mais ampla, transformando-se em um hábito naturalista. É interessante notar, portanto, que para Raymond Williams, ao fazer Brecht a distinção entre o teatro épico e o teatro aristotélico, esteja este se referindo ao teatro naturalista e sua implicação empática em relação ao público. De todo modo, fica nítido pela abordagem de Williams que a transformação histórica passa a ser convenção dramática, e contra esta estabilização do procedimento que podemos compreender as propostas brechtianas. No estudo empreendido por Peter Szondi em Teoria do drama moderno [1880-19050], podemos encontrar a análise de obras sobre a crise da forma dramática nesses termos. Para Peter Szondi, “o drama da época moderna surgiu no Renascimento. Ele representou a audácia espiritual do homem que voltava a si depois da ruína da visão de mundo medieval, a audácia 76 de construir, partindo unicamente da reprodução das relações intersubjetivas, a realidade da obra na qual quis se determinar e espelhar.” (2001, p.29). Quando o drama passa a ser uma regra de composição, peças “mal sucedidas” eram equívocos ocasionados por materiais mal escolhidos. O pesquisador irá analisar peças que funcionam na contradição entre a “regra dramática” e materiais “mal escolhidos” para lançar luz sobre a “’antinomia interna” que, em cada obra em particular, estabelece-se entre o “enunciado da forma” e o “enunciado do conteúdo”. Ambos, assim, criticam-se um ao outro, apontam um no outro os limites próprios, e, dessa forma, reciprocamente se historicizam.” (PASTA apud SZONDI, 2001, p. 13). Segundo Iná Camargo Costa, “com base nas especificações de Diderot, pode-se dizer que a criação do drama correspondeu a uma espécie de expulsão da esfera pública do âmbito do teatro, marca registrada do teatro grego e popular, e mesmo da tragédia neoclássica (1998, p.62). Então como poderia ser formalizado um pensamento não dito, uma ação para além dos locais selecionados? Brecht, então, utiliza a perspectiva científica marxista, estudando as relações dos homens em cena, fazendo com que a consciência de suas personagens esteja evidenciada a partir de suas relações concretas, ou seja, restaura a esfera pública mesmo quando o faz de uma perspectiva individual. Dessa forma, o teatro épico deduz os caracteres das ações porque, ao invés de olhar o indivíduo isoladamente, olha para as grandes organizações de que estes são parte; enquanto o drama se interessa por acontecimentos ‘naturais’, de preferência situados na esfera da vida privada, o teatro épico tem interesse em acontecimentos de interesse público (mesmo os da vida privada), de preferência os que exijam explicação por não serem evidentes nem naturais; enquanto o drama se limita a apresentar seus caracteres em ação, o teatro épico transita dessa apresentação para a representação e desta para o comentário, tudo na mesma cena. (COSTA, 1998, p. 72-73). Como vimos anteriormente, o drama burguês passa a ser regra de composição teatral – “expulsando” prólogos e coros, por exemplo − e assim é que seu pressuposto, o amálgama da classe à consciência da personagem, entrevista como “o” mundo”, é passível de comentário, de suspeita como expressão ideológica para o teatro brechtiano; uma “forma da crise” se usarmos a categoria de Szondi. Em 30 de março de 1947, Brecht anota no Diário de trabalho que no naturalismo a sociedade é vista como um pedaço da natureza, através de pequenos mundos independentes (família, escola, unidade militar), ao passo que no realismo a sociedade é encarada historicamente, através dos pequenos mundos que se percebem como setores de linha de frente nas grandes lutas (2005, p.293). 77 Brecht utiliza a ideia de realismo não como um estilo representacional, mas uma forma de aproximação da realidade. Quando do debate sobre o expressionismo alemão no início do século XX, as divergências entre uma arte sem prescrições quanto à estética e à linguagem aglutinaram intelectuais de esquerda em posições discordantes à vanguarda artística. Nesse debate, Brecht afirma que “transformar o realismo numa questão formal, ligá-lo a uma e apenas uma forma (ainda por cima velha) é esterelizá-lo. A escrita realista não é uma questão de forma. Temos de eliminar todos os aspectos formais que nos impeçam de apreender a fundo a causalidade social; temos de lançar mão de todos os aspectos formais que nos ajudem a apreender a fundo a causalidade social” (BRECHT apud MACHADO, 1998: 241). O dramaturgo lança mão de procedimentos que auxiliem nessa apreensão e não deprecia procedimentos vanguardistas como faz Lukács (fluxo de consciência, multiperspectivismo, montagem, estranhamento). Segundo Anatol Rosenfeld, “Brecht rejeita a doutrina de Lukács porque este associaria o estilo realista a uma forma envelhecida e estéril, quando o que atualmente se impõe ao realista é fazer uso de todos os processos artísticos que facilitem a profunda ‘penetração na causalidade social’”. (2012, p.67) 32. Ao contrário do que se pode supor, portanto, ao utilizar a categoria “consciência” não se trata de uma análise psicológica de personagens de enquadramento dramático, mas de construção da narrativa cênica. El mundo es transformable porque es contradictorio. Em las cosas, gentes y sucesos, hay algo que los hace como son y, al mismo tempo, algo que los hace diferentes. Porque cosas, gentes y sucesos evolucionam, no permanecem estáticos, se transforman hasta volverse irreconocibles. Y las cosas tal cual son ahora continenen em si – así, em forma “irreconocible” -, otras cosas, anteriores, em pugna com las actuales (BRECHT, 1970c, p.195) Como o teatro épico não trata de ideias, mas de comportamentos, de relações humanas, o ponto de partida de análise é o personagem em relação. Nele deve se perceber algo de estranhável, de incompleto. Tudo começa pelo estudo do assunto da peça. No fragmento Estudio del papel, o autor salienta: El personaje surge de la suma de sus relaciones com otros personajes. El el arte dramático de la vieja escula, el actor creaba el personaje para luego 32 Ainda no texto publicado no Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, em 3 de fevereiro de 1968, Rosenfeld chama a atenção para o fato de que Brecht não publicou as suas observações sobre as teses de Lukács no período do debate: “Brecht não desejava provocar um conflito aberto numa ocasião em que a vitória do fascismo impunha uma atitude discreta para não aumentar as divergências no campo antifascista.” (2012, p.69). 78 estabecer su relacioón com las demás figuras. De ese personaje inventado extraía luego los festos y la forma de pronunciar las frases. La figura surgia de la visión panorâmica de labora. Em el teatro épico se procede de manera diferente. El actor épico no se preocupa por el personaje. Parte de cero. Conduce todas las situaciones de la manera más espontânea y pronuncia las oraciones uma después de la outra, pero como si cada uma de ellas fuese la última. Para encontrar el gestus – es decir la actitud essencial que subyace em toda grasse o alocución – que apoya las frases, ensaya otras frases, más vulgares, que no dicen exatamente lo mismo que disse el texto, pero que contiene el gestus... (...) Al mismo tempo que muestra la fidelidade de um personaje, puede mostar sua ambición; puede conferir um tinte de sabiduría al egoísmo de outro; puede exponer las limitaciones del amor a la libertad de um terceiro. De esa manera, al construir su personaje, va creando los puntos de contradicción que el personaje necessita (BRECHT, 1970b, p. 13-14). Vejamos que estas são lições para um ator que está estudando uma dramaturgia “acabada” que deve receber um tratamento diferenciado para demonstrar o ponto de vista que se precipita na forma. Está na mira do dramaturgo peças dramáticas “naturalistas” – de um modo geral, no caso do drama, a consciência das personagens está em conformidade à posição que ocupam na estrutura social − que serão modeladas conforme interesses épicos. Como é de conhecimento, as peças do Latão se fazem na sala de ensaio com tratamento da dramaturgia no processo de composição, e, também, com os ajustes finais do dramaturgo. Dessa forma, supõe-se que já em sala de ensaio a peça Ópera dos vivos, assim como as demais obras, foram pensadas, antes mesmo da conclusão dos estudos, de forma a buscar esses elementos. Isso faz com que a engrenagem da obra, ou seja, a relação entre atores ↔ personagens ↔ situações dramáticas ↔ cenário ↔ figurinos ↔ dramaturgia cênica ↔ espectadores seja o terreno a ser considerado para o presente estudo como a demonstração do projeto ideológico se fazendo estético33. 33 Não é demais reforçar que este é um esquema interpretativo proposto pelo presente estudo. Se tivéssemos outros objetivos em relevo, como o trabalho de formação de atores no interior do grupo do Latão e métodos utilizados para tal procedimento, ou ainda, as estratégias usadas, individualmente, para produzir “uma narrativa do personagem” que auxilia a fábula, haveria de considerar, por exemplo, o texto Kusnet hoje de Ney Piacentini sobre a utilização do método de formação proposta por Eugenio Kusnet. Segundo Ney Piacentini: “Kusnet foi, segundo o depoimento de todos os profissionais que entrevistei para a pesquisa, um ator rigoroso consigo mesmo e aplicado, dentro e fora das salas de ensaios e espetáculos. A partir destas constatações não tive como não mudar o meu comportamento em relação ao trabalho, tentando melhorar a minha disposição para os ensaios e apresentações, aproveitando melhor o tempo dedicado aos processos. Passei a estudar em casa o máximo possível de referências sobre o tema em processamento, escrevendo sobre os personagens sob minha responsabilidade, refletindo acerca dos papéis, não apenas sobre as cenas da dramaturgia que vinham ganhando vida ao longo do projeto de Ópera dos Vivos, mas também sobre os episódios que estariam antes das ações vividas no espaço cênico, como uma espécie de preparo para que as cenas da peça contivessem mais elementos quando fossem executadas. Para mim, retomar o hábito de imaginar e escrever outras cenas, além daquelas mostradas ao público, só fez aumentar o meu envolvimento com o contexto dos personagens e da fábula propriamente dita. Como exemplo, relembro a cena do começo de Sociedade Mortuária, primeiro módulo de Ópera dos Vivos, no qual um dos meus personagens da obra, o latifundiário Capitão Quirino, vai ao encontro dos filhos de um seu empregado recém falecido. Além de repassar cotidianamente – antes de se iniciarem as sessões 79 Ópera dos vivos propõe um estudo em cena; a dramaturgia cênica foi pensada a partir da demonstração de tais contradições tendo em vista uma relação nova com o público. Exatamente no seu arranjo contraditório que se impõe certa atitude do espectador, necessariamente interessada. O conhecido efeito-d, efeito de distanciamento, ou ainda de estranhamento foi o instrumento teorizado por Brecht e por ele praticado em suas peças para distinguir momentos nos quais o espectador identifica-se com determinado personagem, através da empatia causada pelo arranjo cênico e dele se distancia para compreender as situações que circunscritas pelo palco fazem referência a relações extra-estéticas, ainda que participantes, contraditoriamente, da própria fábula. Tal procedimento também deve ser adotado pelos atores na composição de personagens e, em atitude interessada, pelo espectador. Brecht registra em 2 de agosto de 1940 que o efeito de distanciamento é um efeito artístico e também redunda numa experiência teatral. Busca-se mudar a natureza da relação entre palco e plateia; entre o entretenimento, a diversão, o novo espectador também se coloca como produtor, assim como os atores. Tanto no palco quanto na plateia “repete-se o ato original de descoberta” (p.98), buscando um teatro que tenha no “argumento dialético” um potencializador de apreciação e intervenção do público. Brecht pretendia que seu teatro, o teatro dialético, fosse uma teoria praticada. No Diário de trabalho, Brecht faz a seguinte anotação em 20 de dezembro de 1940 Claro que o teatro do distanciamento é um teatro da dialética. No entanto, até agora, não vi nenhuma possibilidade de usar o material conceitual da dialética para explicar esse teatro: seria mais fácil para a gente de teatro entender a dialética aproximando-se dela por meio do teatro do distanciamento do que entender o teatro do distanciamento partindo da dialética. Por outro lado, provavelmente será quase impossível exigir que a realidade seja representada de maneira a poder ser dominada, sem indicar o caráter contraditório e corrente de condições, acontecimentos, figuras, pois a realidade só pode ser dominada se se reconhece sua natureza dialética. O efeito-d possibilita representar essa natureza dialética, é para isto que ele existe; isso é o que o explica. Mesmo quando se tem de decidir sobre os títulos que determinam a organização dos blocos, não basta, por exemplo, exigir apenas uma qualidade social; os títulos devem também conter uma para o público – o episódio em que Quirino justifica sua ausência no velório do pai de Aristeu e Marivaldo, inventei um fragmento no qual o Capitão conversaria com a sua esposa – que sequer se sabe se existe, pois está ausente na encenação – sobre porque ele deveria ir cumprimentar os filhos de seu ex-marceneiro José. Para Quirino, ter que dar explicações aos filhos de um empregado, mesmo morto, era desnecessário, afinal ele era o senhor das terras e de tudo que acontecia no engenho. No diálogo imaginário com a mulher eu ouvia coisas do gênero: “Além de não ter comparecido ao velório, não vai dirigir uma palavra sequer aos filhos do morto?”. Atendendo à mulher, mesmo contrariado, o Capitão deixa a casa da sede da fazenda e se dirige à marcenaria para ter com os jovens. Aí então se inicia a cena da peça. Para mim, aquecer-me, fazendo esta pré-cena, deixou-me melhor preparado para “entrar” na ficção. Ao longo das temporadas, continuei a me exercitar neste sentido, inspirado no exemplo de Kusnet.” In: Revista do Centro de Pesquisa de Experimentação Cénica do Ator, ECA/USP, maio/outubro, 2012. 80 qualidade crítica e anunciar uma contradição. Devem ser plenamente adaptáveis; assim, a dialética (contraditoriedade, o elemento do processo) deve poder se tornar concreta. Os mistérios do mundo não são solucionados, são demonstrados. (BRECHT, 2002, p.151) Em Ópera dos vivos, a principal amarração prática, advinda do estudo sobre as relações de trabalho dos artistas, reflui em seu ensaio teatral teorizante sobre as manifestações artísticas engajadas da década de 60 fazendo trabalhar as consciências e discursos que as forjaram e que ainda operam no imaginário coletivo sobre as relações entre o artista e a realidade, arte e política, pensamento e ação − de crítica anticapitalista. Passo, então, a expor os elementos que me permitiram pensar as questões acima apresentadas. No primeiro ato a cenografia sugere um teatro em obras; o público está bem próximo ao espaço reservado para encenação e desde o princípio o aparato teatral está à mostra. Os atores entram em cena; estão todos de frente para o público. Vestem o personagem Pai. O público está diante da encenação de um velório. O ato, Teatro, Sociedade mortuária: uma peça camponesa, delineia o processo de organização de trabalhadores rurais para a formação das Ligas Camponesas. A encenação da peça camponesa funciona, numa primeira mediação, como alusão sobre os embates colocados ao teatro produzido na década de 1960, quando a sociedade em ebulição e os posicionamentos políticos e ideológicos repercutiam, nas experiências estéticas, o imediatismo proto-revolucionário. No passado, a disputa pela hegemonia mundial durante a Guerra Fria e sua “versão brasileira”, o golpe de 1964, significou para muitos artistas brasileiros, entre 1950 e 1960, posicionamentos e engajamentos na disposição de orientar a cultura politica do país. Segundo Roberto Schwarz Unindo o que a realidade separa, a aliança de vanguarda estética e cultura popular meio iletrada e socialmente marginal, além de mestiça, é um programa antigo. Ensaiada pelo modernismo carioca nos anos 20 do século passado, em rodas boêmias, e retomada pela bossa nova nos anos 1950, ela ganhou corpo e se tornou um movimento social mais amplo, marcadamente de esquerda, nas imediações de 1964. Sob o signo da radicalização política, que beirou a pré-revolução, o programa tinha horizonte transformador. Em especial as artes públicas – cinema, teatro e canção – queriam romper com a herança colonial de segregações sociais e culturais, de classe e raça, que o país vinha arrastando e reciclando através dos tempos, e queriam, no mesmo passo, saltar para a linha de frente da arte moderna, fundindo revolução social e estética (...) Estimulada pelo avanço da luta de classes e do terceiromundismo, uma parte da intelligentsia passava a buscar o seu sentido – e o salto qualitativo em seu trabalho intelectual – na associação às necessidades populares. Orientada por esse novo eixo e forçando os limites do convencionado, a experimentação avançada com as formas tornava-se parte 81 e metáfora da transformação social iminentes, que entretanto viria pela direita e não pela esquerda (SCHWARZ, 2012, p.56). O agitado período não permitiu aos que estavam minimamente interessados em uma inserção no debate esquivas numa tarefa modeladora no campo cultural e foi, com a lucidez do momento, anterior e posterior ao golpe civil e militar que os artistas brasileiros se envolveram calorosamente na discussão sobre a função da arte. O estudo de Iná Camargo Costa em A hora do teatro épico no Brasil esquadrinha os avanços e recuos formais da dramaturgia brasileira. Em específico sobre a produção do Teatro de Arena de São Paulo e do CPC, analisa peças como Eles não usam black-tie, Revolução na América do Sul e A maisvalia vai acabar, seu Edgar, respectivamente de Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal e Oduvaldo Vianna Filho. À época, os artistas de teatro assumiam como tarefa descobrir e compreender a realidade brasileira elegendo temas populares e com isso questionaram as ferramentas formais de que dispunham para problematizar a realidade – foi quando as primeiras experiências deixaram visíveis os limites do drama burguês praticado. Segundo Iná, “a novidade era que Black-tie introduzia uma importante mudança de foco em nossa dramaturgia: pela primeira vez o proletariado como classe assume a condição de protagonista de um espetáculo” (1996,p.21), entretanto o novo protagonista foi “enformado” por uma estrutura dramática, incapaz de comportar um assunto épico como uma greve, tema articulador de toda a peça (de acordo com o estudo, apoiando-se em depoimento do autor, a dramaturgia parecia não apresentar, inicialmente, nenhum caráter partidário-programático que a subsidiasse, embora a autora chame a atenção ao fato de ser, Guarnieri e também Vianinha, militantes do Partido Comunista Brasileiro e que Black-tie, por sua composição em curtocircuito entre forma dramática e assunto épico, “registra, com mais verdade do que seria de supor, o vigoroso ascenso das lutas dos trabalhadores ao longo dos anos 50 (...) ascenso que significou a ocupação pelos trabalhadores organizados de importantes espaços na cena política e social do país, acompanhado das dificuldades dos artistas e intelectuais (...) que não estavam esteticamente à altura do momento histórico” (p.38)). Em sua análise, a autora busca compreender as obras teatrais em um movimento historicizante, retomando as condições de sua produção e suas possibilidades estéticas em atrito com a matéria social. Registro da procura em fundir revolução social e estética e do embate dentro do próprio campo de esquerda pode ser identificado nos textos de intervenção de Oduvaldo Vianna Filho e Augusto Boal, artistas do Teatro de Arena de São Paulo. Vianinha, no mesmo 82 ano de estreia de Eles não usam black-tie, escreve, em 1958, Momento do Teatro Brasileiro34, provocando os demais artistas na busca de uma definição para o teatro. Seu incômodo quanto às positivas e novas realizações cênicas alcançadas no período alia-se ao desejo de ver “a ligação imediata do teatro com a vida” (1983, p.24). O artista percebia um movimento contraditório entre as realizações cênicas melhoradas e a diminuição de suas pretensões. Para Vianinha Eles não usam black-tie era o símbolo de todo um movimento de afirmação do teatro brasileiro. Seus textos, reunidos no livro Vianinha: teatro, televisão, política, organizado por Fernando Peixoto em 1983, compõem um importante e imprescindível depoimento das questões em pauta e do intenso debate que agitava o meio teatral e político. Como o organizador apresenta, os textos revelam posturas individuais que se confundiam, em alguns casos, com o projeto dos grupos artísticos que o dramaturgo participou, em especial, do Teatro de Arena e do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE). As experimentações teatrais em busca de um teatro nacional que refletisse demandas populares, em estética pautada pela agitação e propaganda, foi radicalmente proposta pelos cepecês distribuídos pelo país, tendo como centro “aglutinador” o CPC do Rio de Janeiro. O movimento criado pelo CPC da UNE mobilizou centenas de jovens em todo o país, não ficando restrito ao seu núcleo mais famoso no Rio de Janeiro. Havia cepecês em diversos estados, como Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, ligados à União Estadual dos Estudantes (UEE). Eles integravam um movimento mais amplo que envolvia também universidades, governos estaduais, municipais e mesmo o governo federal, por meio do Ministério de Educação e Cultura. Até a Igreja, com o Movimento de Educação de Base (MEB), participava de um grande esforço nacional para “educação e conscientização” das camadas populares. Finalmente, os analfabetos e excluídos são chamados a ocupar de fato a cena principal da política brasileira (CAMENIETZKI, 2006, p.64) A interrupção do amplo movimento pela transformação social se deu com o golpe e não foram poucos estudos e críticas das décadas seguintes que tentaram identificar a ingenuidade de um imediatismo político que produzia arte sem mediações, transpondo questões do campo econômico e político para a cultura, como um fator ideológico que obliterou a percepção do quão distante estavam os sonhos emancipatórios. 34 Segundo Fernando Peixoto, organizador do livro Vianinha: teatro, televisão e política, compilação de textos de Oduvaldo Vianna Filho, certamente o texto destinava-se a publicação, contudo nada confirma sua edição. Entretanto é relevante observar que o Teatro de Arena mantinha grande discussão interna sobre sua produção dramatúrgica e interpretativa, e a perspectiva do autor em muito contribuía para sua formação e debate com outros dramaturgos. Utilizamos o texto mais como registro da época, de um debate interno, do que necessariamente de algo público, embora outros textos publicados corroborem as problematizações do autor. 83 Pois bem, parte do material utilizado no primeiro ato busca a sensibilidade e impulso emancipador anterior ao golpe militar e tem a função de introduzir o tema da peça. A utilização da peça camponesa35 como conteúdo dá suporte ao esquema geral pois a totalidade dramatúrgica sempre faz referência à fratura e incompletude do processo iniciado e interrompido nesse período, do ponto de vista da história do país e de sua especificidade na luta de classes e serve de apoio para o debate sobre a aprendizagem política necessária ao fortalecimento de uma demanda coletiva, como manifestação social e artística. A condução narrativa do primeiro ato é dada pela composição da personagem Professora e, desempenhada pela mesma atriz, a Narradora. A Professora é personagem central para demonstrar o conteúdo: no velório, a comunista, da classe média urbana, se apresenta ao grupo de campesinos e os convida para o ingresso na Sociedade Mortuária, organização de ajuda mútua dos trabalhadores, além de ser a responsável pela alfabetização dos camponeses através do método de Paulo Freire. A ação dramática é interrompida pela indicação, em cenas narrativas, de que estamos diante de um ensaio de um grupo que se questiona sobre a forma de representação e de politização do teatro e que utiliza as experiências e temas do passado se perguntando até que ponto são, ainda, válidas. Nas palavras de Roberto Schwarz (2008), no citado ensaio Cultura e Política, 1964-1969, havia um princípio de síntese no método Paulo Freire no qual a oposição entre os termos, arcaísmo da consciência rural e a reflexão especializada de um alfabetizador, não era insolúvel, ou seja, pelo menos o impulso se direcionava para a superação da modernização conservadora, assim como as experiências teatrais poderiam intuí-la. Representar o momento em que esta situação se colocava, pelo menos, supostamente superável, e sua interrupção, parece ser o princípio organizador do ato revelador da “função interessada” do espectador. Na peça camponesa, através do tema trabalhadores do campo o grupo problematiza as condições de produzir arte pelos trabalhadores da cultura. O ato se organiza como se fosse um ensaio teatral: cenas da peça em montagem são entrecortadas por narrações sobre o ensaio ou ainda sobre o enquadramento adequado de personagens. As relações de trabalho coletivizadas do primeiro ato são as que o próprio Latão experencia em sua prática − constroem juntos o mundo ficcional. A modelagem da ideia central, entretanto, poderia estar atrelada a qualquer outra peça em ensaio pelo grupo de atores. Uma questão que importa, portanto, como primeiro movimento da obra, é reconstruir um imaginário político sobre a luta de classes que tinha na relação camponeses e proprietários de terra sua definição e outra, por 35 A peça camponesa, principalmente pelas personagens de Élia e a Mãe, se dá por uma estrutura dramática que tende ao clássico, fazendo com que as personagens avancem, conscientemente, conforme a ação. 84 ela conduzida, é fazer trabalhar, incluindo os artistas, as representações tributárias dessa luta e demonstrar suas ideologias, no passado e no presente. Funcionalmente, todas as personagens da peça do primeiro ato representarão um gesto de aprendizagem: é um grupo de camponeses que começa a se organizar para exigir condições de trabalho e logo enfrenta violenta repressão. A Cena da Professora sintetiza o processo de aprendizagem: a suposta detentora do conhecimento amplia as dificuldades desse processo, compartilhadas que são com o público, que também está ali em uma posição de aprendiz para uma montagem que exige sua participação. O espectador, ainda àquele que não tem um repertório “informativo” sobre os Centros Populares de Cultura, o método alfabetizador de Paulo Freire ou sobre as Ligas camponesas − procedimento comum ao teatro épico, já que as interferências se dão para além do mundo representado − é inserido na trajetória desses personagens, atores do drama, como aprendizes e interlocutores. O trabalho, categoria central para se pensar a peça camponesa, é figurado materialmente; é posto em cena, como atividade dos trabalhadores rurais; somado ao trabalho dos atores durante o ensaio teatral, e, se propõe, simbolicamente, em relação ao espectador nos momentos nos quais os artistas interrompem o drama camponês e se questionam sobre as possibilidades de representação. O gesto que define o posicionamento do espectador no primeiro ato é o movimento do aprendizado: A CENA DA PROFESSORA Um banco a frente. Atriz entra com um vaso de flores. Senta-se de costas para o público, vira-se para falar PROFESSORA – Eu sou uma professora, devo alfabetizar homens adultos. Mas antes de ensinar o alfabeto, quero que entendam que são sujeitos, que estão no mundo e com o mundo, aprendendo com ele e transformando-o com seu trabalho. Quando do barro fazem um vaso, transformam a natureza, e quando têm a necessidade de enfeitá-lo com flores continuam a transformálo, produzindo cultura. Por isso, o vaso, a flor, as letras devem ser de todos. Dois atores se aproximam da professora. PROFESSORA – (para os alunos) O mundo é seu também. O seu trabalho não é a pena que você paga por ser homem, mas um modo de amar, de ajudar o mundo a ser melhor. ATRIZ QUE FAZ A GRÁVIDA – Senhora, para que meu trabalho seja amor e não pena, eu tenho que melhorar as condições dele e dividir os frutos dele com todos. Para isso nós precisamos aprender a confrontar aqueles que se dizem donos do nosso trabalho. Isso a senhora pode ensinar? 85 PROFESSORA (para o público) – Eu olhei para ela e assustada pensei: o que eu ainda devo aprender? ALUNO – Uma lição. Todos se juntam. Professora à frente segura a lousa com o desenho de dois homens fazendo um vaso de barro virado para o público. MARIVALDO – Eu sei fazer um vaso igual a esse aí, mesmo sem a giradeira, dá para fazer a forma na mão com o barro cru, depois é só queimar. PROFESSORA – Olha bem a imagem. Você acha que eles fazem o vaso para quê? MARIVALDO – Pela alegria. VITORINO – Mas as caras dos homens estão sérias. MARIVALDO – Então é para vender. Se fosse para eles mesmos estavam rindo. VITORINO – Mas vender pode ser alegre. MARIVALDO – Deve ter um patrão escondido dentro, por isso ninguém pode abrir a boca. Todos se despedem da Professora e saem. Dona Élia se aproxima. VITORINO – Até logo Professora. DONA ÉLIA – Esse negócio de ler e escrever é bom para menino. Eu aprendi tudo no juízo. Um lápis na minha mão pesa mais que uma enxada. Ao virar-se para o público, a Professora, ao interpelar o espectador, o coloca na mesma situação da personagem, assim como esta personagem está na mesma situação dos camponeses (a Professora não é uma intelectual que está ali para organizar os trabalhadores, mas está junto deles; ela não ganha nem doa nada, aprende. É o trabalho do ator que ainda pode gostar do que faz). Em nenhum momento a Professora dá respostas mas faz o público trabalhar numa atitude básica de quem se dispõe a aprender. A consciência, coletivizada, é trabalho, processo. Conciliado à representação adotada, conteúdo se precipita na forma. A consciência dos personagens quanto à sua opressão avança conforme o progresso da ação dramática; a ação dramática caminha de um problema familiar para um conflito coletivo. As imagens se acumulam para recompor o processo de organização: Aristeu, que desde o início desconfia da Sociedade Mortuária, próxima às Ligas Camponesas (A eleição das Ligas Camponesas como pano de fundo orienta a história sobre as lutas de classe no 86 Brasil) na cena Advertência avisa que o Capitão Quirino determinou seu fim. Destelhamento de casas e morte de animais ameaçam os trabalhadores. A ação é interrompida para o confronto final, quanto Marivaldo e Aristeu vão à casa do Capitão e o drama camponês mostra de forma não dramática a morte de Aristeu pelo Filho do Capitão. Não há a encenação do destelhamento das casas, tampouco da morte de Aristeu. As cenas epicizadas são exatamente as que poderiam envolver sentimentalmente o espectador convencendo-o da inevitável derrota. Nesses instantes a parcela de futuro que foi enterrada com os mortos se presentifica, se torna imagem praticável do mundo através do trabalho coletivo historicizado: cena que nega a dramatização para deixar o público construir, simbolicamente, outro mundo. Não há confinamentos fatalistas: o mundo é seu também; pode ser mudado. A cena A reunião camponesa implica ainda mais o público nessa construção e é um índice importante para o desenvolvimento da peça. ATRIZ (narra)– Dona Odete ocupa o centro da sala com um papel na mão. MÃE – (mulheres se juntam) Uma pessoa sozinha nesse mundo não vale nada. Quero pedir licença para ler uma carta que eu e as outras mulheres escrevemos na escola. (abre o papel) Nós, mães, esposas e filhas De Bom Jardim Em nome da Associação de Lavradores Antiga Sociedade Mortuária de Bom Jardim Aprendemos no último ano Uma coisa que sabíamos desde sempre Que somos explorados Mas só aprendemos o que já sabíamos Quando dissemos a palavra em voz alta Explorados Agora o que nós queremos saber dos aqui presentes É quem está conosco na hora sem volta Que ergam os braços. Dona Odete ergue a mão, as mulheres a seguem. Em seguida os homens acompanham. CANÇÃO EU NÃO SOU DAQUI MÃE – Essa terra é minha, essa terra é sua Eu não sou daqui Eu quero que o senhor me diga Onde foi que eu estava ontem Onde foi que eu estava ontem CANÇÃO DA FOME DE MÁRIO DE ANDRADE Fome de fome 87 Fome de justiça Fome de equiparação Fome de pão Fome de pão VITORINO – É a hora do tombo do pau. NARRADORA – Nós gostaríamos que as transformações que se reclamam em praça pública Se processassem de maneira pacífica, Mas a reação daqueles que têm tudo é violenta A reação dos donos dos grandes latifúndios Dos bancos Das fábricas Dos comércios E dos meios de comunicação É isso que nos leva ao desespero E nos chama para uma luta nova. Francisco Julião, 1963. MARIVALDO – Organizaremos uma marcha, uma multidão, somos muitos, temos bocas, temos olhos, somos feitos da matéria da terra. Os atores, perfilados e de punhos cerrados, interpelam o público diretamente, num gesto de co-responsabilização. A música se intensifica a partir da canção Eu não sou daqui, porém a narração ao localizar temporalmente o fato, 1963, suspende, ainda que também por instantes, o presente dramático e alivia a tensão, recolocando o espectador numa posição distanciada, consciente que se trata de uma encenação. O ato termina com uma narração que quase resume a peça camponesa No tempo em que a acumulação de riqueza Conheceu seus limites nas zonas mais atrasadas do país A burguesia do Nordeste, sob o influxo do capitalismo mundial, Expulsou os camponeses de suas terras E aumentou o valor de seu sobre-trabalho na tentativa desesperada de elevar a taxa de lucro. Foi nesse contexto que a ordem agrária entrou em colapso E aquele semicampesinato se tornou o principal ator político Da história da luta de classes no país, com o nome de Ligas Camponesas. Dramaturgia e encenação, princípio narrativo e técnica teatral são complementares. A perspectiva dramática clássica não suporta os aspectos históricos e é estranhado pela narrativa sobre o ensaio teatral; o drama não é negado mas problematizado. Primeiro ato, portanto, exemplar na construção do teatro épico: os camponeses como citações dos atores, mediação interna, avançam a imagem para a atualidade teatral sem deixar de indicar os momentos e processos históricos diversos. Durante a narração, os atores se posicionam como se 88 estivessem rompendo uma cerca, na alusão do enfrentamento interrompido pela cena da morte de Aristeu. A atualidade aqui, e o distanciamento crítico, é a lembrança da imagem do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra registrada por Sebastião Salgado. A imagem é desfeita e o ato termina com uma canção em coro, com os atores de frente para o público: Está/O que não estava lá/A palavra faz ver/O olho produz/O novo nome /Do barro/É vaso/O novo nome /Do buraco /é flor/Está/O que não estava lá/Até ser nomeado /O nome produz. A exposição do primeiro ato nomeia as classes no Brasil ao falar sobre o latifúndio e sua inscrição na ordem capitalista e os trabalhadores rurais, que ainda numa tentativa de organização, se não expulsos das áreas produtivas, foram assassinados, e identifica o sistema escravista como a origem da luta de classes brasileira, com todos os contornos da cordialidade como tecnologia de mando. Figura, ainda, a identificação do trabalho manual do camponês ao trabalho artesanal dos atores, ainda num momento em que estes são detentores dos meios de produção, afinal estão num ensaio teatral definindo os rumos do seu processo, condição de alguns grupos teatrais contemporâneos. A carpintaria do trabalho camponês é análoga ao trabalho crítico e intelectual, numa sensibilidade singular na criação de imagens empáticas à identificação do público sem prejuízo do olhar estranhado. Na relação com o espectador, que pode estar esperando pelo conflito final, reverberam os impasses e dúvidas, dialetizando suas expectativas, num movimento de contenção e questionamento sobre o futuro dessas personagens, atores do drama. O desenvolvimento da peça camponesa lembra algo do processo de conscientização de Pelagea Wlassowa de A mãe (1931) de Brecht. Em Notas sobre a peça A mãe, Brecht informa que esta foi escrita no estilo das peças didáticas, mas que ao contrário de suas peças de aprendizagem, exige em sua encenação, atores. “Esta arte dramática, empenhada em ensinar ao espectador um determinado comportamento prático, com vista à modificação do mundo, deve suscitar nele uma atitude fundamentalmente diferente a que está habituado” (2005, p.47). É claro, portanto, uma positivação da experiência de aprendizagem coletiva para a formação do movimento cultural e político. Mas voltemos a uma observação crucial para a composição das variações e rendimentos: como ilustração, a peça demonstra as condições sociais que influenciam na vida das personagens, e numa mediação historicizante, na vida política do país36. Sem essencializações na composição das personagens, sem definição do 36 As personagens do drama são estranháveis, o que colabora para a ausência de celebração e virtudes messiânicas: Alice, a voluntária americana dos Corpos da Paz, é um pouco ingênua e insatisfeita com o modo de vida estadunidense – o antiimperialismo raivoso não comparece, é ironizado; Marivaldo, àquele que enuncia com mais consciência a opressão dos trabalhadores e apresenta o ímpeto em querer saber sobre o mundo e, sobretudo, saber compreendê-lo, entre frases bíblicas, sonha com Nova Iorque, porque lá é uma cidade que fala, 89 conflito intersubjetivo, a peça camponesa é um exercício de teatro épico e ao mesmo tempo a demonstração dos limites de tal militância cultural em sua vertente de agitação e propaganda. Lembremos que no momento de maior solicitação de “envolvimento” – ou identificação − do público, quando todos os atores estão de punhos cerrados e demandam uma posição do espectador, suspende-se tal agitação pela lembrança de época. Seguindo o argumento de Iná Camargo Costa em A hora do teatro épico no Brasil, após a análise das condições sociais e políticas que geraram tanto o acúmulo de consciência crítica quanto às formulações estéticas do Teatro de Arena e do CPC da UNE como a estarrecedora autocrítica realizada por parte de seus integrantes quanto à validade de suas propostas, ao tratar de um modo geral dos momentos do teatro de agitação e propaganda em situações diversas, como na União Soviética, Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, o caso brasileiro, longe de desautorizar a experiência, passa de um interesse de estudantes e intelectuais simpatizantes da causa socialista para a derrota, sem ter conhecida e levada a cabo o segundo momento: os trabalhadores das mais variadas profissões aderindo em grupos e se multiplicando geometricamente (1996, p.96). Os dois momentos, como é possível observar, estão explicitados na análise crítica do ato. Foi necessário recorrer ao passado, em chave problematizada, pois não está em cena uma peça do CPC ou do Teatro de Arena, para repensar o trabalho teatral atual. A refinada dramaturgia cênica epicizante demostra as atuais conquistas técnicas e estéticas, mas qual situação social lhe é correspondente? O Latão parece apresentar a afirmação de Brecht quanto à eficácia do teatro épico que pressupõe um certo nível técnico e um poderoso movimento social que esteja interessado em discutir problemas vitais. No primeiro ato, os recursos estéticos podem gerar estranhamento temático e distanciamento crítico para o drama camponês, integrando-o à memória das lutas coletivas e diante de um certo acúmulo como o observado no cenário teatral paulista, tais recursos ainda funcionam e oferecem modelos para aqueles que estão formulando o imaginário coletivo, mas o poderoso movimento social requisitado comparece como miragem – a cerca rompida pelos camponeses. Por questões do aparelho teatral, a “agitação e propaganda” é suspensa e permanece o “desejo de superação” como como aprendizado estético, ademais consciente do não imediatismo político. Assim, tentando sistematizar os termos que percorrem o trabalho teatral conversa, é vida; a Professora, a líder comunista, embora sem situação definida após o destelhamento de casas ARISTEU – Eu tinha avisado, Mãe. (Representa a cena da Professora.) A professora tinha colocado a cabeça cortada da cabra no chão, começou a cavar com as mãos. Dona Élia ajudou, fez piada com sangue nas mãos. Porque eu não ajudei? Porque vocês acham que eu não ajudei? Pensam que agora a professora está lá, lendo jornal com as mãos brancas cheias de sangue. Nossa casa destelhada. O céu devassado. Será que vale a pena? – demonstrava sinais de cansaço. 90 do primeiro ato: a relação com o espectador, feita por cenas não dramáticas, resultado de um trabalho teatral épico, implica sua imaginação na construção de uma imagem praticável de uma luta “comum”, advinda de uma relação produtiva cenicamente coletivizada: subjetividades que se objetivam e objetivam o mundo e feito isso, como experiência estética que apela à simbologia do gesto, pelo sinal inverso dado pelo conteúdo ficcional, o do teatro em construção/teatro épico, cai por terra certa ilusão – ou seria ideologia? − de um mundo real compatível a expectativas estruturantes coletivizadoras, que ademais estão circunscritas pelo aparelho teatral, não correspondente, portanto, ao momento histórico caso o próprio teatro épico falseie essa relação. A peça camponesa, primoroso exercício épico, amplia a percepção histórica da luta política derrotada, inserindo-a na memória coletiva sem pretensões edificantes, analisando-a e estudando-a. A pedagogia estética é a demonstração do trabalho coletivo como uma narrativa positivada, desdramatizada, principalmente, a possibilidade de seu consumo – que é o impulso atual. Tal elemento é fundamental para a continuidade da peça e dos elementos reflexivos que ela aciona, afinal, os atos seguintes irão incidir exatamente no refluxo do trabalho coletivo e no domínio da técnica, especialização das funções e equipamentos como constructos da realidade. Na “segunda variação”, o ato Tempo morto, o espectador se dirige a outra sala para sua audiência. Durante o trajeto depara-se com a projeção de imagens da União Nacional dos Estudantes (UNE) incendiada. A intimidade propiciada pela aproximação plateia-palco como ativador da desdramatização é desativado pela apresentação de um filme. Experiências distintas colocadas em sequencia ampliam o atrito e trazem para a experiência, inconveniente e necessária, a sensação de ruptura. A sequência do filme pode ser assim resumida: Bloco 1: Júlia numa ponte. Sons e ruídos. Apresenta-se o filme. Em sequência apresenta-se a imagem de Paulo Funis em frente a um mural, reproduzindo o gesto da pintura. A câmera registra a entrada de Governador Magano e Bárbara. Ela toma nota do discurso do Governador que parece ser a justificação de uma decisão política. 91 92 Bloco 2 – Inicia-se o fragmento com a legenda: Cabedal, nação periférica. Um ano antes do golpe. Paulo olha para um imenso relógio que registra a data: 12 de março. Paulo, Bárbara e Magano confraternizam. Brindam a abertura da nova agência bancária e a decisão de Paulo por comandá-la. Ele assume seu compromisso matrimonial com Bárbara. Paulo segue por uma rodovia a caminho da província de Santo Mar. Imagens da mata tropical. Logo em seguida anda por um cais carregando uma imagem religiosa com a mão decepada. Pequeno altar na praia. Bárbara dá um escapulário a Paulo. Ele passeia pelos corredores do banco. Focam-se mãos de trabalhadores do banco. 93 Bloco 3 – Com a legenda O banqueiro financia os meios de comunicação, apresenta-se Paulo Funis visitando a gráfica do Jornal O Todo para negociar com o jornalista Ribeiro sua sociedade com empresários americanos para a formação da TV O Todo. Quando Paulo chega, Ribeiro está inquirindo seus funcionários sobre as Ligas Camponesas. Conversam sobre a situação do país, que segundo o jornalista está sendo ameaçado pelos comunistas. Para ele, é necessário tomar uma posição. Jornais são impressos. Em seguida, Paulo tranquiliza o jornalista quanto à negociata com os empresários norte-americanos e à situação política de Cabedal. 94 Bloco 4 – Anuncia-se a cena com a legenda: Um grupo de teatro politizado. Chega Júlia. Os atores cantam a canção Tempo morto: O capital é trabalho morto/que só se reanima/sugando o trabalho vivo/à maneira de um vampiro/que sangra da veia/seu tempo limite/ e tanto mais o morto é vivo/quanto mais trabalho suga. A atriz, olhando diretamente à câmera – tendo uma legenda que a identifica: Júlia, uma atriz - declama um texto retirado de Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. 95 Bloco 5 – Paulo Funis conhece a atriz, segundo a legenda. A atriz, incomodada, tentará vender o filme ao banqueiro. Segundo seu produtor/diretor o filme é um épico terceiro mundista. Os artistas exibem o filme para o banqueiro nas dependências do banco Patriota. A produção necessita do investimento do banqueiro para sua circulação. Paulo Funis questiona: Você acha que essa forma de imagem atinge o grande público? Para a atriz, mais do que 96 pensar se o filme atinge o grande público, interessa saber as questões por ele levantadas – a violência de classe. Bloco 6 – O cenário é um bar. Artistas cantam Odete. Ao iniciar a letra, apresenta-se a cantora através da legenda Miranda, uma cantora. Paulo acompanha Júlia e seus companheiros. Os atores, junto com o banqueiro, conversam sobre Cuba e alfabetização de adultos. 97 98 Bloco 7 – Imagens do encontro entre Funis, Ribeiro, Mr. Hobarth e o Embaixador dos EUA são entrecortadas com cenas de Bárbara e Grã-fina tentando convencer os empresários de Cabebal a financiarem o golpe militar. Há também a inserção, ao final da cena, da imagem de empresários tentando convencer o Governador Magano a intervir e se aliar aos militares no golpe. Todo o bloco é altamente teatralizada e finaliza com um discurso dirigido diretamente à câmera por Magano: falta realismo nesse melodrama de armas e sangue. (para Industrial). Não haverá golpe. O presidente é um João bobo. Apenas balança de um lado ao outro. 99 Bloco 8– A câmera foca no cantor da canção Babalú, que canta para Júlia. Estão no teatro. No cenário, baldes suspensos como luminárias, assim como aconteceu no fragmento 4. Júlia e Paulo conversam sobre o ensaio do grupo teatral. Há a problematização sobre a concepção dramática de personagens. Os dois estão sentados em uma escadaria. Bloco 9 – Com a indicação da legenda a alta sociedade se organiza para a luta sons de tiros. Mulheres da “alta sociedade”, numa piscina vazia, praticam tiro ao alvo, conduzidas pelos militares. A trilha sonora, assim como aconteceu no fragmento 7, parece uma valsa patética. Com a mudança da trilha, imagem de uma grande torre de televisão é projetada. A cena termina com Ribeiro falando diretamente à câmera sobre seu possível fuzilamento. Funis está ao seu lado e discursa, também diretamente à câmera: temos que confiar nas forças que regem as contradições. Após uma dança coreográfica de Mr. Hobarth, Ribeiro olhando de cima para toda a cidade, exclama: é meu! 100 Bloco 10 – Apresenta-se a legenda: O último carnaval. Fevereiro de 1964. Um homem negro, posto em close, canta a canção de Waldick Soriano, Eu também sou gente. Atrás dele, dois cartazes. Um com a frase: Batucada do povo brasileiro, o outro é a imagem conhecida de Che Guevara. 101 Bloco 11 – Funis venda os olhos de Julia com as mãos. Segue o seguinte diálogo: Funis: Eu sou uma idealista porque sou uma atriz e tudo posso transformar na minha imaginação (ele retira as mãos, ela continua de olhos fechados). Julia: Posso usar a minha voz, as minhas mãos, todo o meu corpo no que imagino (abre os olhos), acredito, desejo. Mas isso não pode ser um privilégio de classe. Bloco 12 – Carnaval de Rua. Júlia está mascarada e com Paulo acompanha o bloco de rua. A câmera a foca e ela aparece, como no fragmento 10, diante do cartaz de Che Guevara, em transe. Paulo observa o desfile do bloco. 102 Bloco 13 – Paulo e Júlia estão no apartamento do banqueiro. Há algo de teatralizado no comportamento dos dois, como se esperassem a aproximação da câmera para iniciar o diálogo. Paulo e Júlia declamam o trecho inicial de A flor e a náusea de Carlos Drummond de Andrade. A câmera acompanha Bárbara que chega ao apartamento. Ela exige que Paulo assuma seu compromisso de classe. O fragmento termina com Bárbara discursando diretamente à câmera: a luta de classes existe, imbecil, de que lado você está? 103 104 105 Bloco 14 – Novamente se projeta a imagem de Júlia na ponte. Ela faz um discurso, diretamente à câmera, sobre o erro ideológico da conciliação de classes. A trilha sonora é de cantos africanos misturados ao som de violinos. A imagem é encadeada por cortes que inserem outras imagens: Júlia discursando – observada por Paulo -, um funcionário da gráfica 106 de Ribeiro mostra uma imagem, carnaval na praça. Paulo e Bárbara, num salão escuro com velas espalhadas encerram o seguinte diálogo: Paulo: Me ajude. Serei outro. Bárbara: Já és outro. Que morra o outro para viver o mesmo. Promete? Paulo: Prometo que vivo. Bárbara: Pois então morre. 107 108 Bloco 15 – Um monomotor em vôo é a primeira imagem do fragmento, com a legenda: Os proprietários de Cabedal apoiam o golpe. Magano e militares estão em um hangar. O Governador ainda tem dúvidas quanto ao golpe e é assediado pelos militares. Está planejando uma fuga. Em outra cena, Bárbara e Paulo se encaminham para o encontro com o Governador. Ele, com uma arma dada por seu motorista, segue pela estrada com Bárbara saudando o golpe. Encontram-se no hangar e após um longo abraço no tio Governador, a câmera detém-se em Bárbara, de um ângulo contra plongèe. Paulo se posta ao seu lado com a arma em punho, para o alto. Corte para close de Júlia. 109 110 Ainda que esta breve descrição do filme – para a exposição em fragmentos utilizei mudanças na trilha sonora e informações dadas pelas legendas das cenas − auxilie em sua compreensão, são necessários alguns apontamentos: o espectador, no início, não tem informações sobre o personagem que dita o discurso, ou mesmo sobre Paulo Funis ou Bárbara. Eles serão apresentados somente quando estiverem juntos, num grande salão, confraternizando a nomeação de Paulo como vice-presidente do banco Patriota. É Magano quem os apresenta, pelo diálogo, para o espectador. As informações sobre a estória de Tempo morto e seus personagens se dão quase em saltos narrativos para construir a diegese sobre o golpe num país denominado Cabedal. Pela sua condução, quase não há avanço narrativo em relação ao primeiro ato, mas a ele se soma na composição dramatúrgica. Tempo morto, como acima descrito, narra a estória de acontecimentos e dos agentes envolvidos na concretização de um golpe de Estado. Elege como protagonista um banqueiro e trabalha para demonstrar as forças envolvidas na conspiração golpista. Segundo Maria Elisa Cevasco, “ele traz, ainda, ecos do sentido que se dá ao termo em cinema e em jogos eletrônicos, como o momento da narrativa em que nada acontece, um tempo em que foi barrada uma continuidade narrativa” (2012, p.143-144). Estabelece-se uma relação com o ato anterior, interrompida a narrativa e também como proposta independente, aproximando-se referencialmente do filme Terra em transe (1967), de Glauber Rocha e evidenciando ainda mais as problematizações formais de Ópera dos vivos. Nas duas vias de diálogo, eleitas aqui como elementos de análise sobre a composição teatral do filme, Tempo morto torna problemática a montagem alegórica. A tensão se dá internamente pelo conflito abordado pela narrativa e sua forma e entre essa composição e a linguagem do primeiro ato. Segundo Ismail Xavier (2005), em A alegoria histórica Desde o início dos anos 1970, quando as ideias de Walter Benjamin sobre a modernidade ganharam papel proeminente na teoria literária e nos estudos cinematográficos, a reavaliação da alegoria – não apenas como um tropo linguístico, mas, sobretudo, como uma noção central na caracterização da crise da cultura na modernidade – tornou-se um importante tópico de pesquisa e debate cultural. A teoria contemporânea estabeleceu uma relação essencial entre a alegoria e as vicissitudes da experiência humana no tempo. (...) A cultura moderna, perseguida por uma noção radical de instabilidade, parece condenada a explorar as implicações do fato de que os significados – notadamente nos novos contextos culturais de combinação de signos − podem ser esquecidos, deslocados e retorcidos em face das forças históricas e sistemas de poder. Essa nova consciência da instabilidade reforça uma antiga percepção do caráter problemático dos processos de significação – percepção que atualmente nos distancia do paraíso perdido das linguagens transparentes. A alegoria ficou em evidência, e uma das principais razões para seu ressurgimento nos tempos modernos é o fato de que ela sempre 111 constituiu o processo de significação que mais se identifica com a presença da mediação, ou seja, com a ideia de um artefato cultural que requer sistemas de referência específicos para ser lido, estando, portanto, distante de qualquer sentido do “natural”. (...) As alegorias normalmente surgem de controvérsias (XAVIER, 2005, p. 339-340). Parece ser a alegoria recurso linguístico que permite representar uma sensibilidade moderna de indeterminação do sujeito diante da história. Como recurso, formaliza as tensões e choques entre tradições, tradição e modernidade, razão e sensibilidade, representação e verdade, identidade e alteridade. Problematiza-se ao demonstrar a percepção linear da história, dada amplamente pelo discurso vencedor. Como o autor sublinha, a noção de alegoria é muito versátil, que muda de definição e valor de acordo com o contexto cultural (XAVIER, 2005, p.344). O conceito, então, assume diversas feições quanto as suas consequências: como recurso narrativo que oculta intencionalmente um significado poderá implicar em uma complexidade de decodificação que é dada somente a iniciados, protegendo a “verdade” (tal rendimento é analisado, principalmente, na teologia), ou ainda em momentos de censura em conjunturas específicas (XAVIER, 2005, p.355). Ainda segundo Ismail Xavier Nos tempos modernos, os críticos vêem com suspeita a utilização de alegorias calculadas quando elas resultam em fábulas didáticas e óbvias, das quais o leitor pode derivar facilmente uma lição moral convencional. Sua objeção à alegoria é ainda mais forte quando o disfarce e a opacidade são vistos como uma mera questão de retórica que não oferece nenhum desafio ou dificuldade. Com exceção daquelas ocasiões nas quais um motivo político claro justifica tal tipo de alegoria como uma forma de resistência à opressão, o feito da mensagem codificada se enfraquece, particularmente nos casos em que a única intenção óbvia é o ornamento. Distante dos desafios imediatos da arena política, a retórica da alegoria pedagógica corre o risco de reduzir a arte a uma ilustração esquemática, embora elegante, de ideias preestabelecidas, um objeto que mobiliza nossos sentidos para então comunicar ideias desgastadas ou teorias abstratas (XAVIER, 2005, p.355). Como é possível observar, a forma alegórica na cultura moderna é dada pelo seu uso ou rendimento. Na presente análise corresponde ao uso adotado por Ismail Xavier em seu estudo sobre o cinema moderno no Brasil, em específico o de Glauber Rocha de Terra em transe. Tal escolha advém, como já mencionado, da explícita referência a esta obra em Tempo morto. O cinema novo, principalmente o de Glauber Rocha, muito se valeu dessa organização formal para responder ao processo político nas décadas de 60 e 70 e da crise cultural, em âmbito nacional, além, obviamente, de se constituir como movimento estético decorrente da 112 consciência das condições de produção cinematográfica no Brasil. Segundo Ismail Xavier (2012) em Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal os filmes do período entre 1967 e 1970 tiveram, em comum com o teatro e as artes visuais, o senso de uma provocação ao espectador, a ruptura com o regime de contemplação (museológica) ou de consumo (industrial) das imagens e encenações, afirmando o imperativo de participação que, nas artes visuais, significou uma ruptura com a superfície da tela, a passagem ao gesto, a provocação comportamental, desconcertos. No teatro, rompe-se o contrato da “boa condução” do espetáculo e da delimitação clara dos contornos da obra. O cinema, que tinha de trabalhar dentro dos limites da tela-superfície, define novas relações e requer novos modos de constituir seus efeitos apoiados na fragmentação, colagem, justaposição e nos gestos que quebram o protocolo, desorientam (XAVIER, 2012, p.30-31). Foi um momento no qual se desenhou, para a sensibilidade das perdas mas também das esperanças alimentadas no início de 60, a provocação do espectador por meio do distanciamento como ato agressivo; a necessidade de reposicioná-lo era urgente para um dos cineastas mais expressivos dessa época, Glauber Rocha. O cinema novo − e seu mais reconhecido cineasta −, determinado pelo desenvolvimento da produção cinematográfica e do contexto de seu surgimento, impregnou o imaginário cultural, e também a “crítica especializada”, como recurso exemplar para demonstração das contradições sociais, culturais, políticas, econômicas e psicológicas. Segundo Ismail Xavier (2012) o princípio formal de Terra em transe, que governa a narração, é dado pela montagem que expõe a subjetividade do poeta Paulo Martins interpolado por uma presença externa, expresso pela operação da subjetiva indireta livre A rigorosa organização do flashback ao longo do filme reforça a presença de uma instância externa que atua por trás da consciência agonizante e que se vale da mediação do poeta na recapitulação, mas se reserva o direito de operar, quando interessa, por conta própria (...) Parcialmente identificadas, as duas mediações – Paulo e a instância exterior – interagem de modo a impedir que se diga com precisão quando e onde começam e terminam os movimentos de subjetividade do protagonista ou os comentários “externos” (aqui se encaixam os desmascaramentos, os flashes reveladores). Do início (antes do flashback) ao final (incluído o epílogo), Terra em transe exibe uma uniformidade de textura essencial para a interpenetração que observo, pois seus efeitos dependem do fato de haver entre as duas instâncias atuantes uma identificação de perspectiva diante do processo político e uma identidade de tom, de estilo, de sua abordagem (XAVIER, 2012, p.80) Terra em transe propõe um princípio de coerência, de identificação, entre a subjetividade do protagonista Paulo Martins e da instância externa, que, ressalvado pelo 113 autor, não o identifica com Glauber, mas como instância narrativa imanente ao próprio filme, uma invenção entre outras do cineasta (p.81). Tempo morto, visto como ato independente, é pastiche ou paródia do estilo de Glauber pois demonstra uma crítica quanto à textura alegórica como expressão consequente da cultura contemporânea e na distensão da imprecisão procura um caráter de precisão quanto à ideologia da narrativa horizontal em conflito com a ideologia da narrativa vertical; não usa como recurso o discurso indireto e procura tirar proveito do choque entre dois discursos “diretos”: o do das imagens e sons (narrativa vertical) e do discurso de seu protagonista (narrativa horizontal). Tal crítica se materializa, na diegese do filme, numa operação que coloca de um lado a ordem do vencedor, o protagonista “essencial” – o golpe burguês e não a subjetividade do protagonista – aproximando-se e também interpelando a instância externa, que é, em última análise, o outro narrador e o espectador que por ela é perscrutado. Esse dado é crucial para identificar as aproximações, mas também os distanciamentos em relação ao “modelo” de Tempo morto. Se por um lado o filme adota a textura da fala alegórica – o traço que Fletcher acentua como próprio à alegoria é o caráter descontínuo da organização das imagens. Segundo ele, o discurso tipicamente alegórico apresenta brechas, lacunas, e tal particularidade “tende a colocar o receptor numa postura analítica em que qualquer enunciado fragmentado assume a aparência de mensagem cifrada que solicita o deciframento”. (XAVIER, 2012, p.446). −, ao retirar a instância subjetiva uniformemente identificada ao protagonista – instância que desmascara mas também que se aproxima e revela formalmente as contradições, que no caso de Tempo morto seria a do burguês − , estuda a relação entre assunto e forma, pois em última instância é a narrativa que se observa na operação da câmera que é problematizada. Nesse sentido, Tempo morto não internaliza formalmente o ponto de vista subjetivo do protagonista e o faz, principalmente, por um registro quase documental – assim como o fez o cinema novo −, permitindo que a consciência de pertencimento a uma classe, na estilização das cenas do burguês, ou a câmera na mão das cenas popularescarnavalescas, organize a história num processo que caminha para um fim, afinal, apresentado no início do filme: o golpe direitista em Cabedal. A consciência dos personagens, revelado por suas falas, organiza suas ações e a narrativa cênica. Paulo Emílio Salles Gomes (2007) em A personagem cinematográfica salienta “que durante os primórdios do cinema falado, a tendência foi empregar a palavra apenas objetivamente, isto é, sob a forma de diálogos através dos quais as personagens se definiam e complementavam a ação” (p.108). Na composição horizontal, da ação dramática, vão se delineando os comportamentos dos personagens diante da situação do conflito 114 iminente: qual posição irão assumir no momento do golpe. Numa composição vertical, feita de imagens e sons, esses comportamentos são ora demonstrados, ora tensionados até mesmo pela fala dos personagens. Os vetores que conduzem o filme chocam-se, se contradizem, para que a narrativa fílmica seja desmontada em seu princípio e é na articulação com um tempo ficcional idêntico ao do primeiro ato que residem seus maiores rendimentos. O filme começa com a imagem, em plano médio, de Júlia, a atriz politizada: sons de trem correndo nos trilhos. Ela está em uma ponte olhando para o horizonte. O espectador tem como referência a lembrança da Narradora e Professora do primeiro ato, interpretada pela atriz Helena Albergaria. Em contraste com a imagem, e com a trilha sonora, muito mais incisiva, a figura do banqueiro Paulo, interpretado por Rodrigo Bolzan, Aristeu da peça camponesa. De braços para o alto, como que carregando algo em suas costas, está em frente a uma tela de trabalhadores com enxadas e sacos nas mãos. A montagem é fundamental: Paulo Funis assumirá como sua a tarefa de construir o futuro da nação, é a burguesia nacional, e do ponto de vista dramatúrgico é a reivindicação do “herói melodramático” em alinhar sua ordem ao destino da nação – sua certeza se revela em frases como já no final do filme, no longo abraço dado em Magano: o raio ordenador nos atingiu e o melhor é transmiti-lo a terra para que cesse a febre e o mundo pare de tremer sob os nossos pés. Menos do que estabelecer um gênero, questão que não está em pauta quando se trata das interpenetrações textuais e cênicas no teatro épico, a caracterização do herói com tintas melodramáticas funciona como antagonismo cênico à caracterização de Júlia e dos artistas de esquerda37. Voltando a sequencia inicial do filme, a câmera se aproxima e incide sobre o Governador Magano ditando um discurso que Bárbara, a militante de direita, toma nota. É o discurso que justificará o golpe no país imaginário: Por influências de inspirações estranhas e propósitos subversivos, são revertidas a hierarquia e a disciplina necessárias ao progresso econômico. Não podemos permitir, entretanto, que as reformas sirvam de pretexto para 37 Jean-Marie Thomasseau (2005) apresenta em O melodrama imprescindível contribuição sobre as características do gênero e seu desenvolvimento, buscando desconstruir os enganos e preconceitos erigidos pela “crítica especializada” quanto a esta forma popular. Para a afirmação de que Paulo Funis caracteriza-se como um “herói” melodramático, adoto a seguinte observação: Quando a história literária fala do melodrama e de suas origens, ela o faz, frequentemente, m termos de esclerose e decadência, explicando certas vezes o nascimento do gênero como uma degenerescência da tragédia. É verdade que a tragédia, sobre a qual Voltaire tentou provocar e teorizar as transformações, pouco a pouco, ao longo do século XVIII, abandonou suas dimensões metafísicas, substituídas por conflitos psicológicos e debates morais, e escolheu uma estrutura romanesca mais patética que trágica (p.18). O autor também não deixa de ressaltar seu parentesco com a teoria do drama burguês. Sentimentalidade e apagamento da luta de classes rendem nas teorizações sobre o drama burguês, como observou Sérgio de Carvalho no prefácio para Teoria do drama burguês, de Peter Szondi (2004). Paulo Funis movimenta, em sua composição, elementos sentimentais atrelados ao destino trágico. 115 as ameaças à paz pública. Inquietação, desordem, erosão do regime democrático. As radicalizações ideológicas, sobretudo quando a ideologia inspiradora é incompatível com o que há de mais entranhado na formação do povo. A resistência ao comunismo, nessa área do mundo, é decisiva para o próprio destino do mundo. O discurso inspira-se na declaração de 30 de março de 1964 do então Governador do Estado de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto, um dos articuladores do golpe brasileiro. Em seguida, no flashback que retorna um ano a narrativa, Paulo percorre corredores do banco, com uma voz em off de Magano brindando à brisa da manhã! A voz se conecta a imagem dos três – Paulo, Bárbara e Magano – confraternizando a posição de Paulo como vice-presidente do banco do tio-governador e de Bárbara como sua futura esposa. Enquanto Paulo solicita a Magano sua permissão para dirigir o banco na Província de Santo Mar, sua fala será reiterada por imagens de santos. Eu agradeço muito, com inquietude sincera do meu coração, mas preciso fazer um pedido meu tio. Santo mar, a agência planejada, ali o banco vai expandir seu horizonte, inaugurar um instante novo. A cultura do país está toda ali. O senhor mesmo já deu esse passo ao se encaminhar para a política. O banco só vai deixar de ser regional se conquistar Santo Mar. Temos um país por inventar. É a nossa missão. Fica sob nossa responsabilidade conduzir a luz. A trilha sonora grave o acompanha em quase todas as suas aparições enquanto ele ainda não conheceu a atriz Júlia. O banqueiro circula entre os funcionários do banco e, por um corte com uma legenda sobreposta à tela, indica-se que o banqueiro irá financiar os meios de comunicação. Não há a voz over em off de Paulo como que relatando os acontecimentos, como aparece em Terra em Transe. As cenas são montadas para que o espectador acompanhe por diferentes enquadramentos as forças empreendidas no golpe: aliança do poder econômico controlado por Paulo, dos meios de produção midiática-ideológica, controlada por Ribeiro, dono do Jornal O Todo em negociata para a formação da TV O Todo e o poder político, representado por Magano, orquestrado pelos interesses do Embaixador Americano, dos Industriais e Militares. Junto a isso, recupera-se a tentativa de produção artística da esquerda e a imagem do grupo teatral ensaiando a peça camponesa. O tempo é como que restaurado para o ensaio do grupo teatral do primeiro ato. Os dois fragmentos – ensaio do grupo e as imagens de Paulo, em montagem alternada − são complementares temporalmente e acumulam uma leitura sobre a desigualdade das forças em luta; não à toa em uma das cenas no apartamento de Paulo, Júlia ameaça os militares com um vaso e logo é ameaçada com uma arma, aspecto que tem rendimento para esclarecer a narrativa cênica e também para “avaliar” 116 uma suposta isenção de ponto de vista do trabalho documental: assim como a câmera acompanha Paulo na “sociedade de conchavos” também está presente nos momentos de ensaio do grupo teatral. É interessante notar que a equiparação do tempo através do ensaio do grupo dentro do filme e da demonstração, pelo outro lado, do arranjo conservador entre a elite econômica e política de Cabedal coloca em fricção uma dialética temporal que tem na posição do espectador alguns frutos, afinal não é o tempo fictício do enredo que organiza sua participação, mas o tempo empírico que também está ali formalizado. Durante o ensaio teatral do filme, Júlia olha diretamente à câmera e declama trechos do livro A Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire com a indicação de que se trata da problematização do futuro. Para o educador, ensinar exige a consciência do inacabamento; “meu destino não é um dado mas algo que precisa ser feito, cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Daí insista tanto na problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade” (2002, p.22). A realidade do golpe – história conhecida e formalizada pela eleição do banqueiro como protagonista – e o discurso de problematização do presente do grupo teatral que é dado como campo de possibilidades atrita-se com as imagens da tela que pelo outro lado mostram a articulação do golpe. No movimento oposto, a legenda, a problematização do futuro, diz respeito ao tempo ficcional instalado pela narrativa − a do passado – e, também, do tempo atual. É um fragmento que dialoga diretamente com o espectador, apelando para sua consciência no presente. Tempo morto perscruta na ficção, quando utiliza a autorreflexão sobre o filme terceiro mundista levado pelo Cineasta e por Julia para o banqueiro buscando sensibilizá-lo para o financiamento para sua circulação, sobre a própria produção cinematográfica, também condensada em seus resquícios amadores, artesanais, num movimento que deixa evidente a carência de recursos, negando as exigências do cinema nos moldes industriais. Glauber Rocha em Revolução cinematográfica, publicado em Revolução do cinema novo, apresenta as condições necessárias para que seja possível um cinema revolucionário, opondo-o ao cinema americano, hegemônico na educação moral e estética. Parte de que o cinema é um método e uma expressão internacional e portanto “a luta dos verdadeiros cineastas independentes é internacional (...) a finalidade dos cineastas independentes deve ser a de conquistar o poder da produção e da distribuição em todos os países” (2004, p.101). A distribuição é o ponto pernicioso de qualquer produção cinematográfica e identifica que para que ocorra um cinema revolucionário os cineastas precisam se transformar em produtores e distribuidores. Opõe-se no filme à necessidade do Cineasta recorrer ao Banco Patriota. O diálogo em Tempo morto 117 demonstra a “ingenuidade” do Cineasta, tentando convencer o banqueiro quanto ao alcance do filme para o grande publico – desmentido por Júlia − e a intenção do banqueiro, mais interessado na circulação da mercadoria e introduzindo o equivalente na representação da imagem televisiva. O filme “terceiro mundista” produzido pelos atores está aprisionado ao caráter mercadológico da produção de imagens. Retornando aos rendimentos estéticos do filme, ao ficcionalizar um momento histórico brasileiro a partir de um ponto de vista ambíguo, pois ainda que o protagonista seja o banqueiro ele é “ironizado”, somado ao acúmulo de discussões críticas sobre o período que se fizeram no decorrer dos anos, demonstra a representação alegórica em oposição à proposta realista do teatro épico do primeiro ato. Com o golpe, a força da coletivização derrotada e do avanço das reformas socialistas é absorvida pela estratégia alegórica; esta, contudo, entendida apenas em sua estrutura formal, garante uma resposta lúcida quanto à experiência contemporânea? Como bem observou Ismail Xavier, Quando inserido numa perspectiva política, enquanto manifestação de conflito de poderes em circunstâncias históricas determinadas, o caráter cifrado da alegoria é astúcia diante da censura, solução de compromisso para dizer, com todo cálculo, o proibido sob o manto do permissível. Nesse particular, os exemplos são inúmeros e as estratégias variadas, os agentes da intenção podem ter diferentes naturezas conforme o nível em que se dá o jogo e o conflito de forças (XAVIER, 2012, p.447-448). Deve-se ter em conta, portanto, que o estudo em Tempo morto sobre o procedimento alegórico insere-se em condições distintas em relação ao procedimento engendrado nas condições políticas das décadas de 60 e 70. Há que se reforçar, entretanto, que ao parodiar o filme de Glauber faz uma “retomada avaliativa” da experiência alegórica dos cineastas desse período deslocando seu rendimento para a produção cultural atual. Os personagens de Tempo morto não são releituras ficcionais de Terra em transe, embora retirem deles aspectos performativos. Paulo Funis, assim como Paulo Martins, constitui a ponte entre as diferentes ordens que atuam no processo político (XAVIER, 2012, p.108) e assemelha-se em um certo idealismo político, com sinais opostos. Não é o poeta em crise que se percebe em meio ao jogo, mas o banqueiro que representa uma classe e no momento de crise a ela se alia para a concretização do golpe. A contradição comportamental de Martins o inscreve no descaminho das mudanças estruturais de Eldorado, ao passo que é o destino de Cabedal que, parece, estar nas mãos de Funis, embora para ele não esteja implicado agir ou não agir, e sim aprovar ou não aprovar. Numa imbricação de Julio Fuentes, 118 Paulo Martins, Vieira e Porfírio Diaz, Paulo Funis, ao mesmo tempo em que se aproxima, sentimentalmente, de Júlia e financia um filme experimental de esquerda, avaliza e articula o golpe civil que se materializa no golpe militar. Os fragmentos apresentam o percurso de Paulo Funis, através de montagem alternada, e mostram como ele, e a câmera, habitam e circulam entre dois mundos, assim como apresentado no programa da peça: por razões sentimentais, ele se aproxima da arte anticapitalista num momento de acirramento da luta social. Torna-se um mecenas de esquerda, ao mesmo tempo em que financia parcerias internacionais para a fundação de uma televisão. A ligeira crise afetiva e pessoal serve para acentuar o compromisso com sua própria classe. Torna-se, assim, um militante do processo de modernização conservadora que se materializa no golpe militar. Para Sérgio de Carvalho, tal enquadramento do personagem é responsável pelo teor crítico quanto à retórica lírica derramada do burguês, que num idealismo individual legitima o golpe. O recurso que torna patético seu protagonista é utilizado como alegoria ilustrativa, assim como a relação com outros personagens – Ribeiro e não Marinho, proprietário do Jornal Todo, e não Globo. A alegoria da narrativa interna é retórica e bem humorada e por isso deliberadamente óbvia e facilmente assimilada, e registra um modelo explicativo sobre a sociedade brasileira: ausência de uma burguesia-civilizatória forte, capaz de ser classe dirigente (CHAUÍ, 1983, p.66). Embora apareça como retórica, de fato, na diegese de Tempo morto, seu cinismo individual irá colaborar para a efetivação dos anseios de ordenação, incluindo-o a uma ordem cósmica − na cena do bar, um dos atores comenta sobre Paulo Funis: Rei Midas, tudo que ele toca vira ouro. Com um olhar um pouquinho mais cuidadoso, a ordem cósmica é o capital que coordena suas peças conforme um jogo de xadrez. No caso brasileiro, o patético dos banqueiros é acreditar que como indivíduos (personagens) podem suspender ou não o avanço do capitalismo. É pela militante de direita, Bárbara, no apartamento de Paulo Funis, enquadrada no centro da imagem, que fala diretamente à câmera, que as forças em luta estão postas: a luta de classes existe imbecil, de que lado você está? A personagem de Bárbara, portanto, ganho os contornos mais nítidos do idealismo burguês. O evidente discurso político interpela o narrador vertical (imagens e trilha), e a reboque, o próprio espectador. A cena do bar, no qual confraternizam o banqueiro e o os artistas de esquerda, dá mostras do trabalho cultural nessa chave É como o momento que a lua nova e a lua velha não se distinguem. Elas se misturam. É isso! Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai compreender o sentido da palavra contradição. 119 A fala e o enquadramento da imagem colocam a Estudante de Dialética em primeiro plano e ao fundo o burguês banqueiro Funis, Júlia, os Cineastas Brasileiro e o Cubano alegremente conversando. A fala da estudante comenta a imagem e por ela é, ambiguamente, legitimado. A constatação goza a indistinção e o movimento da câmera com ela se identifica; está livre, fluida, assim como a trilha que retoma a canção Odete do primeiro ato. Os atores riem, brincam, brindam e Funis apresenta o desconforto quando é confrontado com sua suposta traição de classe ao se relacionar com Júlia e patrocinar o filme de esquerda. Nesse pequeno fragmento a imagem comenta e reforça o discurso. Na entrevista realizada pelo Latão com o crítico Ismail Xavier em 2006, publicada no livro Atuação crítica, a posição do grupo quanto ao recurso alegórico fica evidente pelo teor provocativo dos entrevistadores. Perguntado quanto à reflexão histórica abstrata presente na experimentação alegórica de Glauber, além de uma ambiguidade que poderia revelar um caráter ideologicamente regressivo, os entrevistadores perguntam: “você não acha que isso está na base do procedimento alegórico: esse descolamento da história põe a forma numa zona de indefinição trans-histórica, que pode endossar uma imagem de imutabilidade das condições, gerar fatalismo melancólico?”(CARVALHO, 2009b, p.71). O fatalismo melancólico e a imutabilidade das condições foram deslocados para a composição do burguês pela narrativa horizontal; a paródia do filme de Glauber, apresentada em tom jocoso busca demonstrar a reificação da textura de fala alegórica, mas como salienta Ismail Xavier na citada entrevista, Existe uma consciência muito forte no cinema novo de que a representação de certos problemas sociais já tratados pela literatura ganha um impacto diferente pelo próprio fato de surgir na imagem cinematográfica. O cinema seria um fator diferencial no que se refere ao significado político imediato, criando a possibilidade, ainda que assumida então de forma ingênua, de atingir os espectadores a quem aquele debate dizia respeito. A convicção de que se conseguiria alguma coisa de efeitos políticos imediatos animou Deus e o diabo. Já em Terra em transe, Glauber não tem mais a mesma ilusão: é um filme feito para um público específico do cinema novo, estudantes universitários, professores, público urbano, e aí ele prefere adensar a violência simbólica dirigida a uma plateia de esquerda – um convite à autocrítica (CARVALHO, 2009b, p.73). Em tempo outro, o filme do Latão não tem o rendimento crítico semelhante ao tempo de Glauber pois não leva às últimas consequências uma especificidade de Terra em transe, a saber, o solavanco provocativo – que é dado pela voz over de Paulo Martins − , pois ironiza 120 antecipadamente o público burguês − sem um sistema de referência específico − que frequenta o teatro, embora o sentido do tom degradado se justifique confrontado ao primeiro ato38. Nos termos básicos do conflito até agora apresentado, a fratura golpista não permite que a narrativa avance, como já intuído pelo espectador entre os atos. Ao manter essa chave de análise – a “comparação” do conteúdo com o filme de Glauber −, ao burguês caberá o chavão melodramático, mas ainda falta seu “antagonista” – o povo. Segundo Gilda de Mello e Souza, o povo de Glauber, dentro de seu processo habitual de caracterização da personagem, já apontado, é ao mesmo tempo plural e singular. É a massa compacta que ovaciona Vieira e que a câmara apreende em panorâmicas estupendas; mas é sobretudo o pobre operário (ou posseiro?) a que Flávio Migliaccio empresta a sua fisionomia torturada. A concepção cruel e desmistificadora está aqui bem longe da que Boal-Guarnieri utilizam em sua última peça. A do teatro, personificada em Tiradentes, procura elevar à categoria artística o chavão patriótico dos livros de leitura e do quadro de Bernardelli. É o povo na sua concepção mais melodramática, eu diria mesmo a mais Kitsch, de herói, que renasce eternamente das suas mil mortes. A concepção de Glauber é a do deserdado, do João Ninguém (MELLO e SOUZA, 2008, p.236) O filme inverte a caracterização e aplica ao burguês o chavão patriótico e heroico: Paulo e Bárbara estão num salão iluminado com velas, logo após a decisão dele de retornar à Extração para convencer Magano quanto à inevitabilidade do golpe. O diálogo pressupõe o eterno retorno do herói: Paulo: Me ajude. Serei outro. Bárbara: Já és outro. Que morra o outro para viver o mesmo. Promete? Paulo: Prometo que vivo. Bárbara: Pois então morre. E qual caracterização é reservada ao operário-trabalhador (não é o povo em abstrato que comparece em Tempo morto)? Em sua apresentação, logo após o negócio entre Ribeiro e os empresários norte-americanos ser concretizado (fragmentos 10, 11 e 12) sua imagem pode ser assim descrita: O último carnaval. Fevereiro de 1964. Em off: Amanha eu vou embora, vou por este mundo afora percurando um grande amor. 38 Como apresentei no início do estudo, a avaliação sobre as conquistas estéticas do Arte contra a barbárie deveria percorrer a produção cênica dos grupos envolvidos na construção da crítica anticapitalista. Apontado anteriormente, não me foi possível percorrer este itinerário. Se o fizesse, a título de nota, penso que o maior rendimento da discussão sobre o recurso alegórico, e o fato do Latão problematizar este expediente, está na observação de Ismail Xavier: a paródia de Glauber convida demais grupos de esquerda à autocrítica. Parece que muito do que vem sendo produzido em teatro por parte dos grupos paulistanos utiliza o expediente alegórico, com rendimento trágico ou tropicalista, como recurso que em si contém a crítica, sem mediações históricas. Evidencio, portanto, que as consequências sobre a ideologia representacional presente tanto no segundo ato como no terceiro residem, essencialmente, no debate com a produção de outros coletivos teatrais, em especial, aos signatários do Arte contra a barbárie. 121 Imagem de um homem negro. Atrás dele, dois cartazes: “Batucada do povo brasileiro” e de “Che Guevara”. O homem, não numa fisionomia torturada, mas empobrecida, canta: Toda gente nesse mundo tem direito a ser feliz, porque que eu não sou. Nem que morra de tristeza, nem que morra de saudade, vou fugir deste lugar para ver alguém no mundo, desprezado que nem eu, um alguém para amar. Eu também sou gente, eu também mereço, eu também sou gente para encontrar alguém para amar. Cena de Júlia e Funis. Ele venda os olhos dela com as mãos. Funis: Eu sou uma idealista porque sou uma atriz e tudo posso transformar na minha imaginação (ele retira as mãos, ela continua de olhos fechados). Julia: Posso usar a minha voz, as minhas mãos, todo o meu corpo no que imagino (abre os olhos), acredito, desejo. Mas isso não pode ser um privilégio de classe. Batucada. Ela mostra um relógio pra ele. Bloco de rua de carnaval. Os dois estão pulando. Ela está mascarada.Corta para imagem de Júlia, aparentemente bêbada, em frente ao pôster de Che Guevara, assim como o homem que canta. Corte para tamborins, Funis ao fundo da cena. Há, também, uma inversão na cena conhecida de Terra em transe. Ao invés de tapar a boca do sindicalista Jerônimo, os olhos da atriz são vendados. A aparição do “povo” representado pelo ator Flavio Migliaccio não se dá após uma provocação agressiva como feita por Paulo Martins (está vendo quem é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder?) ou seu enforcamento, mas logo após a negociata de Ribeiro. Ele está na mesma posição de Júlia (em frente aos cartazes) e no mesmo ambiente carnavalesco, “empobrecido”, como disse anteriormente, junto com uma esquerda em transe. A cena é seguida do fragmento 13, no qual Paulo e Júlia discutem: PAULO - Você e eu somos da mesma classe JÚLIA - Não, eu não sou dona de nada. PAULO - É uma artista que idealiza o povo. JÚLIA - Eu não idealizo, eu trabalho, por minha conta. PAULO - Você acredita mesmo nisso? JÚLIA - E você, idealiza o quê? Ao tapar os olhos da atriz, bloco 11, a crítica se concentra quanto às idealizações da esquerda em sua “construção de uma arte nacional e popular” e Júlia será aquela que 122 discursará sobre seus desenganos. Em 1980, em suas considerações sobre o “nacional” e o “popular” na cultura brasileira, Marilena Chauí, analisando as publicações Cadernos do Povo Brasileiro e o Manifesto do CPC, indica que quem relê os atos do Congresso, jornais, livros, discursos e panfletos dos anos de 1961 a 1964, encontra em abundância duas expressões: “a vontade do povo” e “os magnos interesses da Nação”, ou suas variantes, “a consciência popular” e os verdadeiros interesses nacionais” (...) e todos reivindicam o direito de serem “os legítimos representantes do povo” e dos “legítimos interesses da nação”. (CHAUÍ, 1982, p. 63-64). Antes de iniciar sua análise sobre as publicações, consideradas representações da conjuntura e portanto, fatos históricos, a autora faz breves comentários sobre a política de Juscelino Kubischek – de caráter desenvolvimentista nacionalista anticomunista, no qual o subdesenvolvimento decorre da desigualdade entre nações e não como determinação interna e portanto a garantia da ordem (progresso) se daria com forte ligação com o capital internacional, de Jânio Quadros – de caráter desenvolvimentista nacionalista anticolonialista, no qual uma ideologia terceiro-mundista interpreta que a miséria interna se dá pela dependência externa (EUA) e desenvolve uma política voltada para reformas institucionais que beneficiem a coletividade, embora esta ainda não alcançada pela incapacidade de mediações representativas (partidos, facções) de organizar o “povo” e de João Goulart − de caráter democrático popular, ou de um “nacionalismo populista”, tentando conciliar os interesses do capital nacional-internacional e os direitos dos trabalhadores − o governo de João Goulart recebia críticas da direita, por sua guinada comunista e à esquerda, por seu reformismo continuísta. Ao analisar e indicar a heterogeneidade dos Cadernos, Marilena Chauí conclui que o “povo” não comparece concretamente nas discussões pois a consciência lhe viria necessariamente de fora, tornando a massa em uma força material (1982, p.85) e sobre o Manifesto do CPC − que de teor maniqueísta não percebe que as obras culturais são também esforços de compreensão da experiência ou ainda circunscritas a campos também por ela definidos − demonstra apenas o jovem herói do CPC (p.92). A filósofa indica que num país como este, “o fato que por um breve momento os dominados tivessem feito uma aparição na cena da “grande política”, criou à direita e à esquerda a expectativa da revolução – a primeira para reprimi-la, a segunda, para dirigi-la”. (CHAUÍ, 1982, p.66). Em O cinema novo e a aventura da criação, Glauber Rocha (2004) identifica no impulso dirigente nossa cultura caudilhista – o texto foi escrito em 1968− típica das chamadas 123 artes nacionalistas, idealizadora de tipos populares e produtora de uma arte facilitada, empenhada na comunicação, quando, por outro lado, o cinema novo está preocupado e discute o problema da criação. Para o cineasta a revolução operaria quando o criador aprende enquanto faz e o público, que sabe ver outro tipo de cinema, se vê acossado na sala de projeção, obrigado a ver um novo tipo de cinema: tecnicamente imperfeito, dramaticamente dissonante, poeticamente revoltado, sociologicamente impreciso como a própria sociologia brasileira oficial, politicamente agressivo e inseguro como as próprias vanguardas políticas brasileiras, violento e triste, muito mais triste que violento, como muito mais triste que alegre é o carnaval (ROCHA, 2004, p.133). Logo após a cena de Bárbara, Júlia ocupa a tela, na imagem da ponte do início do filme em sua construção de um povo imaginário, pronto para a revolução. Seu discurso também se dirige à câmera: Chegamos ao auge da esperança reformista baseada na conciliação de classes. Isto é um equívoco. (atrás dela, um cartaz: O Petróleo é nosso). Dessa burguesia que aí está não se pode esperar nada. São nacionalistas de ocasião, pregam sempre uma revolução pelo capitalismo. Estamos vivendo um erro ideológico, mas antes que o nosso tempo acabe, passemos à luta. Morte à conciliação! Viva a revolução popular anticapitalista! Alegres na vanguarda! E aqui a dramaturgia cênica surpreende o espectador. Reaparece o discurso de Francisco Julião do primeiro ato, feito agora por Júlia em praça pública; ela assume a luta armada. Um coro proletário acompanha o discurso e tensiona uma leitura psicologizante do personagem − sua fala desencantada ocorre logo após o rompimento do romance − afinal o filme tematiza o conflito de classes no qual procura implicar a aproximação dos artistas ao trabalhador. Há, na composição, algo da sensibilidade de Sérgio de Carvalho que a “retomada” do, assim chamado, teatro de grupo em meados da década de 90, “tem pouquíssimas ou nenhuma ligação com o antigo projeto de arte nacional-popular e de teatro coletivo dos anos 1960 e 1970; o antigo desejo de aproximar o experimentalismo e “pesquisa de uma arte nacionalpopular” pouco sobreviveu à enxurrada liberal-conservadora dos anos 1980” (2008, p.157158) e parece que a produtividade da “paródia” da fala alegórica diz mais da percepção de um certo formalismo integrante do sistema de artes no Brasil. A internacionalização do capital financeirizado – com base em mais um ciclo de crises, foi contemporânea de uma onda de importação cultural nos países periféricos: por aqui foram copiados os modelos dos grandes encenadores artistas plásticos, aqueles praticantes das chamadas tendências pós-dramáticas, reprodutores da ideologia do pós-estruturalismo artístico, 124 artistas de ares neo-expressionistas mas com temática universalista, mitizante, abstracionista, enfim, baseadas numa recusa a qualquer conteúdo social manifesto ou em formalizações baseadas em narrativas críticas (CARVALHO, 2009a, p.158) A “porta de entrada” do capitalismo financeirizado já está dada pelo tema do filme, e a “alegoria trágica” se presta, atualizada, a uma funcionalidade cultural: dar ares de paralisia diante da História, ou ainda de uma percepção da vitalidade de fim de linha, para usar a expressão de Paulo Arantes sobre a renovação do “teatro de grupo” em meados da década de 1990. Tentando sistematizar os termos até o momento apresentados: Tempo morto é um filme de “tese” que procura dar conta de uma crítica quanto à textura da fala alegórica e para isso utiliza dois níveis de narração: horizontal, no qual o drama é dado pela ação e conflito do seu protagonista e vertical, com a composição de imagens e da trilha; os dois níveis se estranham e deixam entrever a desconfiança quanto seus próprios discursos. A forma do filme como um operador de sentido carrega um ponto de vista e o espectador pode a ele aderir ou dele desconfiar. Em alguns momentos, as imagens que comentam os discursos se faz como expressão no qual a lógica dos vencedores se efetiva como explicação histórica irresistível pois está inteiramente à vontade com o princípio narrativo, representacional: Funis, em suas ações, é enquadrado diante da mata tropical, dos edifícios da cidade. Na cena da possível vitória golpista, em câmera baixa, Bárbara e Paulo são quase monumentos. Em contraposição, em seu discurso final, Júlia aparece em primeiro plano, sem nenhuma multidão, quase sem interlocutores. A autocrítica implicada na configuração de Terra em transe é revista pelo teor melancólico da cena, condizente com o afastamento do artista e “povo” em tempos atuais, o que traz como consequência uma despolitização da cena. Esses enquadramentos são friccionados nas imagens do grupo de teatro, ou ainda na cena do bar, que por retirarem sua força do passado remete o espectador ao tempo ficcional do primeiro ato buscando aí sua historicidade dado pela fricção. Na dialética entre primeiro e segundo ato há contradição na unidade. Há no primeiro ato a problematização do teatro épico e no segundo, da alegoria trágica. É somente na relação com o seu contrário - causado pelo estranhamento proporcionado pela paródia em tom jocoso − que a afirmação positivada do primeiro ato encontra seu pleno sentido. Na fricção dessas duas formas de representação se movimenta o trabalho da cultura ao lado da recepção, pois em última instância é o espectador que faz suas articulações. O relógio balançado por Júlia 125 em frente a Paulo revela a pergunta, afinal, que horas são? Brecht (2005), exilado na Suécia, faz a seguinte anotação em seu Diário de trabalho, em 07 de dezembro de 1939 Aqui há constantes discussões estéticas acerca de estilo e conteúdo nos suplementos literários. Não compreendem que não se pode isolar efeitos estéticos. Estes podem emanar das combinações mais díspares. Por outro lado, jamais ocorrem sem alguma mistura de matéria inartística. Cientificamente se obtém a melhor solução quando se observa a atitude da pessoa que está dando forma, narrando, cantando, fazendo música, atuando. O relacionamento, por exemplo o relacionamento que o narrador tem (e pensa que tem) com os seus ouvintes, o nível cultural em que se acha toda pessoa participante do ato de contar história etc. A noção do ato artístico é em si mesma muito produtiva. Se eu opto por uma certa atitude narrativa (talvez fosse melhor dizer: se me vejo compelido a adotar uma certa atitude narrativa), então só certos efeitos muito precisos me são franqueados, meu assunto se organiza espontaneamente numa determinada perspectiva, meu material verbal e meu material imagético estendem-se numa determinada linha, procedentes de um determinado acervo, uma certa quantidade (e não mais) da imaginação do meu ouvinte está ao meu dispor, compete a mim apelar para suas experiências até um ponto específico, suas emoções podem ser disparadas nesta ou naquela direção etc. A atitude, é claro, não é uma coisa unificada, ou constante, ou destituída de contradições. (BRECHT, 2005, p.48-49) E ainda, em 31 de janeiro de 1940: “Está na hora de se começar a deduzir a dialética da realidade, em vez de deduzi-la da história das ideias, e usar exclusivamente exemplos selecionados da realidade” (p.61) Na dialética primeiro e segundo ato, a verdade do compromisso entre artistas e movimento social, é validada pelo seu contraditório, das forças contrárias e nesse processo busca-se retirar exatamente da realidade já conhecida e esquadrinhada os aspectos contraditórios que culminaram no golpe de 1964. Tais aspectos já se fizeram conhecidos através de amplos estudos sobre a modernização brasileira no período, na qual uma possível superação do atraso advindo do passado escravista, identificado como aspecto arcaico, se daria pelo desenvolvimentismo operado no fortalecimento da indústria, num nacionalismo simples da modernização. Segundo Roberto Schwarz Sumariamente, era o seguinte: o aliado principal do imperialismo, e portanto o inimigo principal da esquerda, seriam os aspectos arcaicos da sociedade brasileira, basicamente o latifúndio, contra o qual deveria erguer-se o povo, composto por todos aqueles interessados no progresso do país. Resultou, no plano econômico-político, uma problemática explosiva mas burguesa de modernização e democratização; mais precisamente, tratava-se da ampliação do mercado interno através da reforma agrária, nos quadros de uma política externa independente. No plano ideológico, resultava uma noção de “povo” 126 apologética e sentimentalizável, que abraçava indistintamente as massas trabalhadoras, o lumpenzinato, a intelligentsia, os magnatas nacionais e o exército (SCHWARZ, 2008, p.76) Como o acúmulo de críticas já sedimentou, a tentativa de superar o arcaico-rural através do moderno-urbano – ressalto a ressonância de tal procedimento na eleição de camponeses para a composição do drama do primeiro ato em contraste com o meio urbano do segundo − contribuiu para o processo de modernização conservadora. O engano de grande parte do marxismo partidário-oficioso, mais anti-imperialista do que anticapitalista, povoou a pauta do presidente João Goulart e se constitui como um vasto movimento ideológico e teórico (SCHWARZ, 2008, p.75). A leitura desdentada do marxismo, operado em grande medida pelo Partido Comunista Brasileiro, também foi a chave ideológica de muitos artistas do período − talvez a peça que apresente com mais consequência essa questão seja Revolução na América do Sul (1961), de Augusto Boal. Visto desarticulado, como filme independente, Tempo morto reforça uma perspectiva formalmente ideológica, como toda representação; complementares, os atos buscam identificar as forças sociais e formas representacionais que gestadas no passado operam na cultura e na política atual brasileira; agem diretamente na percepção do espectador sobre os meios de produção representacional – artistas, relações de produção e suporte estético. Em Diário de trabalho, em 27 de março de 1942 há uma anotação de Brecht muito interessante sobre como o público interfere na produção teatral e o quanto o cinema prescinde dessa relação. O dramaturgo deixa registrado que o espectador de teatro regula a representação e nisso ajusta o trabalho do ator. Ao contrário, o espectador de cinema está diante de um produto final, “realizado em sua ausência” (2005, p. 82). A oposição do ensaio teatral do primeiro ato, necessariamente processo de produção e o filme do segundo conformam-se ao assunto: coletivização do trabalho em bases mais ou menos artesanais e sua supressão diante do aparato industrializado do cinema. Tal condução da peça coloca em sequência dois veículos de produção cultural que têm modos de produção não equivalentes, sendo que o cinema acentua a inserção da discussão que passará a organizar a narrativa da peça. Como observou Maria Rita Khel39 em texto publicado pela Revista Traulito n.4, quando eu saí do teatro e discuti com pessoas que mal tinham compreendido do que se tratava, eu disse: “mas a peça não é nem sobre o campo, nem sobre a ditadura.” A minha impressão geral é que Ópera dos vivos é uma reflexão 39 O texto publicado na revista foi editado a partir da apresentação de Maria Rita Khel no Ciclo de debates Opera dos vivos, organizado pelo SESC Belenzinho de São Paulo, em parceria com a Companhia do Latão. Foram quatro encontros ocorridos nos dias 16, 17, 23, 24 de fevereiro de 2011, durante a primeira temporada paulistana do espetáculo. 127 sobre o trabalho de representação. Do ator, do teatro. Do que é possível ainda dizer na medida em que o Brasil fez esse caminho, a partir dos anos 1960, desde o momento pré-golpe militar, quando ainda era possível haver uma mobilização no campo de baixo. (REVISTA TRAULITO, 2011, p.11) Pelo conteúdo, os dois primeiros atos fazem referência ao movimento cultural histórico de artistas interessados em tematizar e influenciar a realidade social, embora os resultados estéticos apresentem suas diferenças. As oposições vão para além dos suportes – teatro e filme – e da eleição, por parte da narrativa cênica, dos pontos de vista. Do primeiro, o ponto de vista da superação via coletivização, do segundo, da paralisia diante da derrota, funcionando, portanto, como partes contraditórias no encadeamento da peça, revelando aspectos do mesmo processo, quando a produção cultural mobiliza do ponto de vista ideológico a subsunção do indivíduo; quadro que ficará mais evidente com a encenação do terceiro ato, Privilégio dos mortos. O show narrativo se abre, então, por detrás da tela e começa com atores ao lado do público. A primeira fala demonstra o contínuo ambíguo do processo (tempo morto este em que a ditadura não acaba, nunca acaba, de passar), mas agora a peça se volta para a canção popular. Numa caracterização formal sintetizadora das amarrações estéticas engendradas, o discurso do Comitê de Caça aos Comunistas é feita junto ao espectador: CCC - Estamos à espera que o espetáculo chegue ao fim, para atravessarmos o palco, invadirmos os camarins e espancarmos os atores. CORO – A peça nos parece suja. Vivência dos contrários CCC – E estamos trêmulos com a expectativa do combate, atentos à carne dos atores. Temos barras de ferro escondidas e armas de fogo no peito. CORO – Devíamos arrebentá-los já, à vista de todos. CCC – Mas nosso ato performático precisa da plateia vazia, depois dos aplausos. CORO – Desordem! O cenário surge “magicamente” e a assunção dos atores na cena estabelece um salto no qual o período histórico refere-se ao pós-golpe (informação dada pela canção inicial), no qual se estabilizou uma representação, deixando para os atores uma escolha performativa. No terceiro ato, Miranda, cantora de protesto que aparece no filme, ficou três anos em coma, e reaparece em um show em sua homenagem. Os cantores estão mais interessados no entretenimento do que em um discurso politizado e o estranhamento se dá pela incompreensão 128 de Miranda quanto à situação de seus companheiros, imprimindo no recurso formal − o coma − o estranhamento da nova situação política. É pela contradição entre Miranda e o Apresentador/Benzinho, seu companheiro, que o Privilégio dos mortos será conduzido. Quando o ato começa, Miranda, como um espectro, canta: Vultos distantes/Teatro em obras/Atores com armas na mão/Braços pra cima/De punhos fechados/Enxadas, caixotes, ação/Mas daqui onde estou/Eu ouço apenas /Uma canção feliz/Perna de pau, uma atriz mascarada/Cartola estrelada, Tio Sam/Na madrugada, assembleia/Meninas, cartazes/Guevara, nação/Mas daqui onde estou/Eu ouço apenas/Uma canção feliz/Virada de março/Rajada de fogo/Acordo de um golpe no chão/Barricada, incêndio/O céu do Aterro/Uma faixa estendida: Revolução. Revolução. A letra da canção lembra o grupo de atores do primeiro ato, principalmente a atriz Júlia (uma atriz mascarada), agora desaparecida política – homenageada em outra canção − e as imagens do incêndio criminoso da sede da União Nacional dos Estudantes, situada no Aterro do Flamengo do Rio de Janeiro, em um dos primeiros atos do golpe militar. Miranda e os dois atores, uma Militante e o Ator desempregado, que estão junto à plateia, moribundos e derrotados, “ouvem uma canção feliz”. O apresentador, Benzinho, irresistivelmente canalha, anuncia que o show é uma homenagem à Miranda; Miranda, essa cena é sua, eu nada fiz que não fosse em seu benefício. Ouviu minha querida, com você voltamos à luz. Receba a homenagem dos seus amigos. O cenário é composto por uma escadaria no final do palco, tecidos pretos e painéis de cores fortes, luzes, microfones, amplificadores, guitarras, bateria – luz fria para forma ultramoderna − e uma vitrolinha, no proscênio – foco em tom âmbar −, acionada bem no início do ato pela Militante. Miranda usa um vestido branco, os cantores do grupo Os Intactos, Lot, Maní e Cao, usam roupas brilhantes, Luiz Flávio, sapatos de salto alto. Durante o show dos Intactos, Lot e Mani farão sua performance com parangolés. A composição contrastada, Miranda e Os Intactos, busca afirmar tempos e contextos diversos. Ela, dona da cena, está completamente deslocada neste cenário, assim como seus fãs, o Ator e a Militante, que estão na plateia, junto ao espectador. Todo o aparato do show é de um novo mundo que se estrutura sobre o velho. A figura ainda em “transição”, Bebelo, amigo de Miranda e parceiro antigo em canções de protesto, veste uma camisa em tom pastel, calças de veludo, sandálias de couro e colares de miçangas. Ele, ideólogo do novo momento cultural no qual os Intactos são seu resultado, traz em seu figurino a marca de seu passado, no qual Miranda é apenas espectro que insiste em reaparecer. Cenários e figurinos imprimem o espetáculo da cultura de massa, eletrônica e industrialmente real. Os artistas são produto dessa engrenagem que pouco podem diante dela. A consciência dos personagens − 129 organizadas pela narrativa cênica e por ela conduzida como ocorreu nos dois primeiros atos – começará a se mostrar “inoperante” diante da engrenagem e das novas relações de produção – e de fato acomodada à nova situação cultural – se no primeiro ato as consciências vinham de uma prática emancipadora, a consciência dos personagens do terceiro estão “à vontade” com a indústria cultural, principalmente para Os Intactos. As tentativas de Miranda – e cabe ao espectador perceber sua incompreensão, uma autoconsciência desarticulada que é a contradição da nova situação − em manter um discurso articulado e coerente com o que pensa e sente sobre a nova situação política e cultural será constantemente interrompido por Benzinho para que o show continue. Atua em Privilégio dos mortos a alternância entre uma quase ação dramática – o diálogo entre Bebelo, a Militante de esquerda e o Ator desempregado, e a narrativa cênica − o discurso de Miranda e as canções, ora de Bebelo ora dos Intactos. O show abre com Bebelo e Os Intactos exaltando a oportunidade de voltar para uma revolução de corações individualmente sujos. Miranda assume o palco e declara: o meu benzinho não queria que eu cantasse nada de protesto, mas eu sei que vocês estão aqui porque gostam de mim, do que eu sou ou me tornei. Então eu insisti para começar com uma velha canção. Desperta antes da noite aberta Acorda antes da hora escura Volta, querido, vai e volta logo Toma um pedaço do meu tempo torto Juntos fazemos Muitas coisas mais Antes, depois, vai e volta logo Chacoalha, respira por conta própria Acorda agora de um sono forçado. Eu tenho pena de morrer, deixar Odete Eu tenho pena de Odete me deixar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo Quando eu morrer o mundo pode se acabar. Quando tu dormes com a boca aberta A traição procura seu momento E se faz caso da vida ainda, Luta, agora, luta, agora, luta. Nem todo grito encontrará ouvido Nem todo esforço modifica a história Mas como a vida sopra e ultrapassa Nosso destino precisa de nós. Nosso destino precisa de nós. 130 A canção, do passado de Miranda, também solicita o espectador do presente, ele também é espectador de um show no qual a cantora se tornou um vulto de valor simbólico. A canção Odete, introduzida no primeiro ato e reiterada no segundo lembra que aquele mundo acabou. E agora, resta algum ouvido? Pela dramaturgia cênica, Privilégio dos mortos é o ato mais dolorosamente festivo – voltarei à significação desta operação − ; certo da engrenagem hegemônica dos mass media e perverso em relação às figuras espectrais, demonstrando uma funcionalidade dentro da temática da peça através de sua fachada caricatural. Tanto a canção que abre o terceiro ato quanto sua narrativa pode caracterizar o período dos festivais musicais da TV Record na década de 1960 – e é impossível não deixar de pensar na canção Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, divulgada em um festival em 1967. Nessa leitura, muito das impressões do terceiro ato assentam na figura mais emblemática do tropicalismo musical, Caetano Veloso, e todas as discussões que em torno de sua persona habitam a cultura brasileira; tal encaminhamento também dado pelos nomes dos personagens e do grupo musical – Cao (Gal e Caetano) e Os Intactos (Os Mutantes). Embora a dramaturgia cênica promova a leitura do ato na direção de identificação precisa quanto ao momento “inaugural” da canção tropicalista, Maria Rita Khel sugere que o terceiro ato comenta um momento posterior, no qual seu “desbunde” deu a tônica à cultura brasileira. Penso que a aproximação de Privilégio dos mortos, do ponto de vista histórico, se dê com a significação do desenvolvimento, no meio teatral, de uma cena “engajada” em outros termos, no qual o contrário do burguês para fins de contestação política não se materializou no “personagem” proletário, e sim no “artista” boêmio, como identificado por Iná Camargo Costa. Resgatando um pouco do argumento da autora, em 1967 o teatro Oficina estreia a peça de Oswald de Andrade, O rei da vela. Não cabe aqui retomar as discussões sobre o texto de Oswald de Andrade, que nas palavras de Iná, é um panfleto stalinista, mas deixar anotado a publicidade gerada em torno de sua estreia pelo Oficina a estreia do Rei da vela foi cercada de uma espalhafatosa campanha publicitária, contando até com anúncio no jornal O Estado de São Paulo que prometia “três estilos num só espetáculo: realismo, revista, ópera e ainda Missa Negra para exprimir o surrealismo brasileiro” (...) Assim foi vendido e assim foi comprado O rei da vela. Produziu-se na critica uma tal unanimidade em torno dos avanços por ela introduzidos no teatro brasileiro que as poucas vozes discordantes (Décio de Almeida Prado e Alberto D’Averssa) mal se fizeram ouvir e, quando ouvidas, foram rápida e levianamente descartadas (COSTA, 1996, p.170) 131 Para Iná Camargo Costa, o texto de Oswald materializou em 1967 no Oficina a identificação destes com o ponto de vista dos vencedores golpistas pela inversão acima menciona – boêmios no lugar de proletários. Articulando o texto e cena teatral da década de 50 e 60, a autora faz o seguinte comentário: Arena conta Tiradentes dera início à temporada de críticas ao suposto papel conspirativo desempenhado pelas esquerdas em 1964. Aproveitando a deixa, O rei da vela, reivindicando para o Oficina aquela revolução teatral iniciada em 1958 (Black-tie) e sustada por um incêndio em 1964 (Os Azeredos mais os Benevides)40 deu muitos passos nesse novo caminho. Ao se resolver por encenar uma peça cujo arcabouço dramático é constituído por um socialdemocrata armando às escondidas um golpe para derrubar um “comunista” e ocupar o seu lugar nos negócios e na família burguesa, tudo temperado por aquele tipo de humor tão bem diagnosticado por Alberto D’Aversa, o Teatro Oficina cumpriu rigorosamente a agenda da reação intelectual em andamento no país. Identificando-se aos vencedores, o Oficina tripudia grosseiramente sobre os vencidos (cena adicionada ao texto original) depois de tê-los responsabilizado pela própria derrota. (...) O Teatro Oficina e seus fãs, adotando e exacerbando a perspectiva áulica da peça, acreditavam-se um grupo de “marginais” criticando a sociedade burguesa. (COSTA, 1996, p.174). Para não deixar dúvidas quanto ao valor cultural dado ao momento histórico por alguns protagonistas desse movimento, reproduzo depoimentos: soma-se à encenação já citada de O Rei da vela, a exposição de Hélio Oiticica, Tropicália, e a exibição de Terra em transe de Glauber Rocha. Caetano Veloso anota em Verdade tropical que depois de assistir ao Rei da Vela, Zé Celso se tornou um artista grande como Glauber (...) A peça continha os elementos do deboche a mirada antropológica de Terra em transe. (...) Eu tinha escrito “Tropicália” havia pouco tempo quando O Rei da vela estreou. Assistir a essa peça representou para mim a revelação de que havia de fato um movimento acontecendo no Brasil. Um movimento que transcendia o âmbito da música popular. (VELOSO, 1997, p.244) Reproduzo a percepção de Zé Celso registrada por uma entrevista de 1968: o grande aspecto novo, quem percebe é quem está criando arte neste país. Assim, o pessoal do cinema novo, da música brasileira vê e revê O rei da vela, incorpora a nossa experiência em suas realizações, sem seus projetos. Eu ouço as músicas, vejo e revejo os filmes e vou descobrindo que alguma coisa nova está nascendo no país (MARTINEZ CORRÊA, 1998, p.112). 40 A peça de Oduvaldo Viana Filho estava em processo de montagem pelo CPC da UNE do Rio de Janeiro quando o prédio foi incendiado. 132 Em outra entrevista, ainda, mas de 1980, Zé Celso constata: nunca houve um “movimento tropicalista”. Isso foi o jeito que encontraram para batizar a revolução cultural que se impunha. O que houve mesmo foi toda uma série de recusas sociais, uma série de manifestações sociais que foram entrando no corpo da gente, como no corpo dos outros, baixando uma coragem imensa. A coragem de O rei da vela, a da guitarra elétrica, a da câmera de um jeito que ninguém tinha feito antes (...) A gente se sentia ligado no mesmo pólo, ou melhor, a gente foi se sentindo ligado no mesmo pólo (MARTINEZ CORRÊA, 1998, p.305). O entrevistador de 1980, José Arrabal, cita então uma crítica ao projeto de Zé Celso feita por Anatol Rosenfeld, considerando a encenação de Roda viva feita pelo diretor como uma experiência que leva o público ao conformismo. Sem identificar tal citação à peça de Chico Buarque, em O teatro agressivo, Anatol Rosenfeld (2009) expôs as semelhanças e diferenças entre o teatrólogo Antonin Artaud, conhecido pelo seu empenho em imprimir um teatro “como espelho do inconsciente coletivo, capaz de libertar os recalques a ponto de, tal como a peste, impelir o espírito para a fonte originária dos conflitos” (p.49) e Bertolt Brecht. Em ambos há uma tendência em refutar o teatro culinário e estabelecer uma nova relação palco e plateia. “O que, no entanto, os separa radicalmente é o racionalismo crítico do primeiro e o irracionalismo incandescente do segundo. Brecht criou um teatro sócio-político, de tendência imanentista, Artaud imagina um teatro essencialmente metafísico” (p.49). Continua o crítico, em sua exposição sobre o teatro agressivo, exemplificado pela encenação O rei da vela, e por entrevistas e manifestos do diretor, que este pretende “um teatro anárquico, cruel, grosso como a grossura da apatia em que vivemos” (p.50). Tal concepção, iniciada por Zé Celso no período com certa influência do pensador francês, dá a tônica de suas realizações até os dias de hoje. À época, Anatol considerou, a despeito de sua noção de justiça e pathos de sinceridade presente em sua cena e em seus manifestos, reconhecer a eventual viabilidade estética de um teatro agressivo e violento, assim como os motivos frequentemente justos da sua manifestação, porém, não implica, acreditar, desde logo, no seu valor geral e na sua eficácia necessária, no sentido de abalar o conformismo de amplas parcelas do público. O mérito de José Celso no terreno artístico é indiscutível. Mas fazer da violência o princípio supremo, em vez de apenas elemento num contexto estético válido, afigura-se contraditório e irracional. (ROSENFELD, 2009, p.56). 133 Conclui Anatol, que a despeito de José Celso conseguir efetivar o que ele pretende em seus manifestos teóricos, que este teatro não passaria de neoculinário, pois a violência em si se torna clichê, constituindo-se de fato como descarga gratuita, aliviando o público e o confirmando em seu conformismo, uma vez que este paga para se colocar em uma situação sadomasoquista; “agradavelmente esbofeteado, purificado de todos os complexos de culpa e convencido de seu generoso liberalismo e da sua tolerância democrática, já que não só permite, mas até sustenta um teatro que o agride” (p.57). Para Zé Celso, tanto as observações de Anatol Rosenfeld quanto de Roberto Schwarz registradas em Cultura e política – “ao que pude observar, passa-se o seguinte: parte da plateia identifica-se ao agressor, às expensas do agredido. Se alguém, depois de agarrado, sai da sala, a satisfação dos que ficam é enorme” (SCHWARZ, 2008,p.104) −, não passam de críticas acadêmicas, e reserva ao segundo o comentário de que o crítico não entende de teatro. Quanto à Anatol, o próprio Zé Celso retirou seus óculos em uma apresentação. O encenador não viu uma violência à pessoa, mas ao retirar os apetrechos de uma personagem – como óculos e o guarda-chuva – retirava, também, sua máscara. Retomando, então, o argumento de análise de Privilégio dos mortos, este se faz, incrivelmente, dolorosamente festivo para seus fãs. Muito dessa percepção deve à compreensão crítica de que após o golpe os primeiros resultados artísticos “festejaram”, no espaço reservado ao teatro, uma percepção histórica que não mais correspondia à realidade social. Parte dessa discussão foi apresentada no ensaio mencionado de Roberto Schwarz, Cultura e política, e retomado por Nicholas Brown (2007) em Tropicália, pós-modernismo e a subsunção real do trabalho sob o capital da seguinte maneira: A meu ver, existem duas formas de avaliação dessas experimentações completamente ambíguas. O critério da primeira seria brechtiano: a superação da atitude contemplativa, que caracteriza a corrente dominate da estética europeia, em favor do valor político da solidariedade de classe. Dessa perspectiva, a coesão política mínima mantida pelas produções do Arena é preferível à completa “desintegração da solidariedade” do Oficina. O critério da segunda é a verdade (no sentido adorniano): a “mônada sem janelas” que incorpora as estruturas sociais sem necessidade de representálas. Sob esse ponto de vista, a abordagem do Arena se torna simplesmente uma mentira – a continuição de uma ideologia populista de esquerda após a ilusão que a sustentava ter deixado de fundar em aparências -, enquanto as produções do Oficina, em toda a sua brutalidade, de fato prevêem a brutalidade realda da ditadura (e o pior dela ainda estava por vir), bem como a complacência generalizada diante dela. O ponto aqui não é escolher entre uma ou outra. Tal, escolha, de todo modo, não poderia ser absoluta, mas deveria depender da situação política de cada um e de como ela é interpretada (BROWN, 2007, p.297-298). 134 Vejamos o procedimento de Privilégio dos mortos: há a dura crítica quanto aos expedientes tropicalistas, encenados de forma “estereotipada”, que ao contrário do que Nicholas Brown afirma considerando os rendimentos históricos, produz, hoje, no lugar de uma dessolidarização41 de classe, o seu contrário. O espectador de Ópera dos vivos, ligado mais à esquerda, não deixa de regozijar-se, assim como fez o público do Teatro de Arena no show Opinião, àquilo que é posto em cena (!). Trocam-se os expedientes artísticos para a permanência do valor político, atualizando pelo resultado a sensibilidade da época e se acompanharmos a crítica de Nicholas Brown, também no presente. Penso que outros materiais teatrais da época auxiliam essa percepção, do ponto de vista do espectador quanto à sua posição e também à crítica quanto ao processo cultural levado em cena. Enquanto ocorre a performance dos cantores no palco, a Militante de esquerda distribui panfletos à plateia. Em um: Lutar com palavras/parece sem frutos/ Não têm carne e sangue.../Entretanto, luto, de Carlos Drummond de Andrade; no outro: Há fases em que os sonhos/não se convertem em planos/nem as intuições em conhecimentos/nem a nostalgia nos incita/a nos movimentarmos./Esses são maus tempos/para a arte, de Bertolt Brecht. Durante a encenação de Roda Viva, de Chico Buarque, caracterizada como comédia musical em dois atos, encenada pela primeira vez no Teatro Princesa Isabel no Rio de Janeiro em janeiro de 1968, com direção de José Celso Martinez Correa (e não com os integrantes do grupo) panfletos também eram jogados no público, mas com teor diverso: Todos ao palco!! Abaixo o conformismo e a burrice – PEQUENOS BURGUESES! Tire a bunda da cadeira e faça uma guerrilha teatral, já que você não tem peito de fazer uma real, PÔRRA!!! 42 Tentando tirá-los da passividade burguesa e confrontando-os aos seus valores, o Teatro Oficina realizava uma proposta agressiva e solicitava seus espectadores no mesmo diapasão. Ora, os textinhos do terceiro ato não tem nada de agressivo, muito pelo contrário. Privilégio dos mortos não joga com a “agressividade” tropicalista, joga com o espectador e sua percepção 41 A marca na dramaturgia sobre o processo de dessolidarização é dada na seguinte passagem: logo após a discussão entre Bebelo e o Ator desempregado, inicia-se a cantiga com a melodia ao fundo: Oi quem tem pemba/ Risca agora/ Maré, maré/ Maré, maré/ Os companheiros/ Vão embora/ Maré, maré/Maré, maré. MILITANTE – O quadro atual: intervenção nos sindicatos, terror na zona rural, rebaixamento geral dos salários, expurgo nos baixos escalões das forças armadas, inquérito na universidade, invasão da igreja, economia em alta, garantindo a expansão da forma mercadoria. Isso não é luta de classes? No palco. Coreografia da Maré dos Parangolés. Entra Miranda conduzida. APRESENTADOR – Vamos chamá-la. Senhoras e senhores, enquanto funcionem nossas vísceras, com vocês a voz e a carne de Miranda. 42 Em A reificação do teatro político: Roda viva, Asdrúbal Trouxe o trambone a gênese do besteirol, Rafael Litvin Villas Bôas coloca em epígrafe o conteúdo da filipeta jogada pelo Oficina. O texto integra a publicação Revista Cerrados, do Programa de Pós-graduação em Literatura do Departamento de Teoria Literária e Literatura da Universidade de Brasília, vol 19, n.29. 135 quanto ao momento de inserção decisiva da lógica pós-moderna na cultura brasileira. Roberto Schwarz (2012) em Verdade tropical: um percurso de nosso tempo apresenta a sugestão de Nicholas Brown quanto às implicações da vitória da contrarrevolução em 1964-70 com a decorrente supressão das alternativas socialistas, [a vitória golpista] havia propiciado a passagem precoce da situação moderna à pós-moderna no país, entendida esta última como aquela em que o capitalismo não é mais relativizado por um possível horizonte de superação. Em linha com esse esquema, a bossa nova seria um modernismo tardio, e a tropicália um pósmodernismo de primeira hora, nascido já no chão da derrota do socialismo (SCHWARZ, 2012, p.79-80). A narrativa cênica de Privilégio dos mortos retoma através de seu arranjo a inserção decisiva, nestes termos, do pós-modernismo: MANI - Vocês querem o quê? Rimar horário com o operário? Patrão com exploração? Isso aqui é poesia, é a dimensão estética. ATOR DESEMPREGADO– (na plateia) Isso não é poesia, é purgante para as elites! LUIZ FLÁVIO – É preciso acabar de vez com as imagens de um tempo que já não nos diz respeito. CAO – Vamos superar a utopia revolucionária e o luto por suas derrotas. Unhas e dentes, diante da oportunidade que nos é dada a brilhar dentro do desencanto. MANI – Alguém aqui atingiu o socialismo, adentrou na Era de Aquarius, ascendeu ao reino do Espírito Santo?! CAO – Precisamos aprender a encarar a ditadura como uma expressão profunda deste país. De todo modo, portanto, interrompidas as condições sociais que promoviam uma ligação outra entre artistas e compromisso social, o compromisso do teatro passa a ser dirigido, nesse caso, a contestar a “validade” e complacência burguesa de seu público frequentador, em bases estéticas distintas ao trânsito palco e plateia. A agressividade da ditadura é dirigida, nos mesmos termos, ao público, burguês, do teatro. Recuperando, em parte, a significação desse período, recusando entretanto este efeito teatral – da agressão se passa à felicitação −, Privilégio dos mortos mantém a brincadeira de salão tal qual as grandes agências nacionais venderam a Tropicália como sinal de época, fazendo coincidir o momento de produção artística à esfera de consumo do espectador. 136 Num diálogo entre Perene e Bebelo, quando esse deixa o palco, o sinal de um inconformismo impotente é claro: PERENE – Ei Bebelo, acho que agora eu entendo, você ainda é um subversivo, está fazendo agora essa música vulgar porque não pode mais cantar à porta das fábricas. BEBELO – Aquilo era uma fase ilusória. PERENE – Compreendi a estratégia, por dentro da arte comercial veicular conteúdos da luta social. BEBELO – Estúpido. A velha política da luta de classes, da esquerda e da direita acabou. Vai ser como na América, minorias lutando por direitos civis. Este é o quadro atual. MILITANTE DE ESQUERDA: O quadro atual: intervenção nos sindicatos, terror na zona rural, rebaixamento geral dos salários, expurgo nos baixos escalões das forças armadas, inquérito na universidade, invasão da igreja, economia em alta, garantindo a expansão da forma mercadoria. Isso não é luta de classes? (Enquanto narra, é acompanha pela cantiga Maré: Oi quem tem pemba/Risca agora/Maré, maré,/Maré, maré/Os companheiros /Vão embora/Maré, maré/Maré, maré). Claro que o diálogo pretende esclarecer os pontos de vista e também provocar o espectador e “na superfície assistimos à irritação e à luta entre as personagens, que entretanto – olhando melhor – estão todas expressando diferentes aspectos de um mesmo processo” (SCHWARZ, 2012, p.196). A citação, retirada da análise que Roberto Schwarz faz do ensaio Teatro ao sul de Gilda de Mello e Souza sobre a peça A moratória de Jorge Andrade cabe perfeitamente à caracterização dos personagens de Privilégio dos mortos. A ensaísta ainda define na peça de Jorge Andrade, que tematiza as mudanças estruturais no Brasil de 1930 através da decadência econômica de um grande proprietário de terras e os conflitos familiares gerados pela nova situação econômica, que “pai e filho não se opõem propriamente, antes se complementam: são a mesma personagem tomada em dois momentos diversos da história do grupo” (p.138). Difere da peça de Jorge Andrade a realização num mesmo cenário, sem o artifício de dois planos, dado em Ópera dos vivos pelos primeiros atos, o que embaralha, dramaticamente, e ao mesmo tempo acentua, narrativamente, o processo. Assim como Bebelo, como a figura que carrega as marcas do passado, ele também artista do projeto coletivo emancipatório, quando era possível mudar profundamente a ordem das coisas (primeiro ato) percebe que a atualidade não mais corresponde e tenta se salvar; continuou compondo, apresentando-se em shows, fazendo novas parcerias. O Ator, num diálogo com a Militante, 137 ainda não fez essa “passagem”, mas sabe que se não trabalhar para a televisão será esquecido, não terá outra possibilidade de trabalho. Situação terrivelmente dolorosa para os artistas sem lugar nesse novo mundo, agarrado por outros que viam nele sua nova tarefa. Como Júlia, alguns artistas encaminharam-se para a luta armada, viveram clandestinos, como a Militante, outros se adaptaram forçosamente e outros, ainda, confortavelmente. Como a narrativa cênica irá demonstrar, a engrenagem começa a operar prescindindo da consciência dos personsagens dando sinais de sua impotência; após esse diálogo, o cantor retornará à cena apenas no final do ato, dando voz à sua posição. Ficam no palco Miranda e Os Intactos, esses produtos da indústria cultural e da lógica pós-moderna. A via mais facilitada para o espectador é dirigida à crítica à engrenagem ideológica neoliberal e, assim como ocorreu nos dois primeiros atos, Privilégio dos mortos encena as contradições da época para fazer trabalhar a ideologia representacional. Encena a ambiguidade do ponto de vista do espectador de hoje (!) do “aderir, criticando; criticar, aderindo” e do ponto de vista da cena, nos termos de Schwarz em Notas sobre vanguarda e conformismo43: produzir consumindo, consumir produzindo, (...) o aspecto-mercadoria passa para o primeiro plano e tende a governar o momento da produção (p.49). O show feito para a transmissão televisiva é a apresentação do processo de produção da mídia da brincadeira de salão – lembro de todos os apetrechos dos Intactos e a inoperância e impotência das oposições – e a máquina de produção de ídolos que se traduz pelo tratamento caricatural. Em A compra do latão, Brecht (1999) indica algumas possibilidades de utilização da caricatura pelo teatro épico: a caricatura é a forma em que aparece a crítica na representação que pretende a identificação. Nela o actor faz a crítica da vida, e o espectador identifica-se com a sua crítica e avalia que o procedimento avança quando as caricaturas aparecem então como máscaras num baile de máscaras representado no palco, mostrando o ato de caricaturar. Uma vez que cada manifestação de cada figura é acentuada, é também necessário que a representação flua, progrida, se movimente em frente (mas sem arrastar o espectador), que sejam acentuados também o decurso, as relações e os processos subjacentes a todas as manifestações. Uma verdadeira compreensão e uma verdadeira crítica só são possíveis quando se podem compreender e criticar tanto o particular como o geral, e também, para cada situação, as relações entre o particular e o geral. As manifestações dos homens são necessariamente contraditórias; é portanto necessário dispormos da contradição por completo (BRECTH, 1999, p.112). 43 Agradeço a professora Iná Camargo Costa pela sugestão de leitura do artigo de Roberto Schwarz. 138 Em Privilégio dos mortos, a lógica da indústria da cultura, afinal trata-se de um show, agride Miranda e tudo o que ela representa (projeto coletivo derrotado, impulso dialético de superação) e festeja os performers; os performers são colocados por dentro da situação dramática conscientes de sua função: diversão é o nosso negócio. Caberá ao espectador a percepção da contradição dada pelo código cênico cínico dos performers e pelo registro sincero de Bebelo. O efeito de tal procedimento no espectador, que se identifica com determinado personagem dada à provocação inicial da ação dramática (o diálogo entre Bebelo e Ator desempregado) que tem seu valor ao demonstrar a impotência do discurso no encadeamento da ação – afinal, o show, o aparelho não se importará muito com o debate dos artistas − pôde ser sentido através das críticas especializadas. À época da estreia da peça Bárbara Heliodora44 fez o seguinte comentário: Composto por quatro unidades independentes, o mais recente espetáculo da Companhia do Latão, “Opera dos vivos”, é voltado para a política e a crítica social, como todo o seu trabalho desde que o grupo foi criado, há mais de uma década. O primeiro segmento é o mais bem armado, e reflete a imensa influência do teatro épico de Erwin Piscator e Bertolt Brecht sobre sua concepção cênica, sua estrutura e seu conteúdo, composto fielmente sobre o modelo dos Lehrstücke de Brecht, com a ação situada no período final do conflito de 1914-18 e no pós-guerra, com ênfase na politização. Se o resultado é um tanto rígido, isso é parte do modelo em si. A segunda etapa, em que se realiza um filme, teria intenções semelhantes, mas é muito menos clara e, além do mais, depende de um domínio ainda precário da linguagem cinematográfica, sofrendo por não alcançar a qualidade da cena anterior. O mais fraco dos quatro elementos componentes é o terceiro, que busca ambiente e roteiro circenses e, na verdade aquele em que o conteúdo político se apresenta de forma mais fraca. O último episódio volta a uma posição crítica clara, porém em tom de ressentimento, com alvo específico que fragiliza o que seria o conceito básico que orienta o grupo. Comentário elucidativo do quanto está distante o raciocínio dialético na crítica brasileira, e que é muito revelador para a composição geral da peça. O discurso altamente ideologizado dos personagens impulsiona e tem alto valor de mobilização para o espectador. O terceiro ato, “circense”, é aquele em que o espectador ri e diverte-se com o conteúdo explicitamente ideológico e ao confrontar-se com a sua identificação, com um pouquinho mais de trabalho, percebe àquilo que lhe cabe. O ato mais ideologicamente provocativo é aquele que está interessado, à maneira brechtiana, de dividir o público, fazendo-o de um ponto de vista moral, deixando evidente, por um lado, o antagonismo de classe, e por outro, para àqueles que se identificam à esquerda, o gosto amargo de um “todo coletivo” – o que já 44 A crítica de Bárbara Heliodora foi publicada no jornal “O Globo” em 18 de outubro de 2010. 139 observamos no primeiro ato – que se limita à autocelebração de uma “vitória”, entretanto, ideológica. Na análise da caricatura tropicalista, a dualidade arcaico e moderno, nasce “dessa tendência de superar nosso subdesenvolvimento partindo extamente do elemento ‘cafona’ da nossa cultura, fundido ao que houvesse de mais avançado industrialmente, como as guitarras e as roupas de plástico”, segundo Caetano Veloso (apud FAVARETTO, 1996, p.24); os diálogos mais explicativos tentam desmonstrar a caricatura programada tropicalista de então, o que implica numa intenção de tornar familiar o debate da época pelo seu discurso, revelando “que progresso técnico e conteúdo social reacionário podem andar juntos” (SCHWARZ, 2008, p.47). É com notável consciência, que fez parte do discurso tropicalizado, que o exartista-de-esquerda-agora-músico-tropicalista, Bebelo, fala da situação geral e de seu propósito ao final do ato: são mais frequentes do que se imagina os casos em que ser mercadoria salva!, que em muito lembra o discurso de Gilberto Gil sobre a relação do tropicalismo com a indústria da canção na verdade, eu não tinha nada na cabeça a respeito do tropicalismo. Então a imprensa inaugurou aquilo tudo com o nome de tropicalismo. E a gente teve que aceitar, porque tava lá, de certa forma era aquilo mesmo, era coisa que a gente não podia negar. Afinal, não era nada que viesse desmentir ou negar a nossa condição de artista, nossa posição, nosso pensamento, não era. Mas a gente é posta em certas engrenagens e tem que responder por elas.(GIL apud FAVARETTO, 1996)45 Assim como ocorreu nos outros atos, é possível uma leitura de Privilégio dos mortos como ato independente, que age pela caricatura para dar contornos precisos à polarização ideológica dos artistas e peça articulada que tem nas condições da sociedade do espetáculo sua “forma exemplar”. Na performance dos Intactos, com Bebelo exibindo seu corpo magro para o público, Cao narra: A única chance do subdesenvolvido é negociar o espetáculo de sua miséria. Era criança, quando chegou em minha cidade o faquir Elói. Num armazém de secos e molhados, ele exibia a glória de seu corpo desprovido de carnes. E sempre me pareceu de genial desfaçatez que, num país de famélicos ele cobrasse, ainda que pouco e de poucos, pelo espetáculo de sua fome, deliberada. No ato performático enterra-se a projeto coletivo do início da década de 60 e sob seus escombros nasce a nova realidade, sem nenhuma pretensão de síntese, “que se reproduz em 45 Depoimento de Gilberto Gil em Historia da Música Popular Brasileira, São Paulo, Abril Cultural, 1971, fasc.30, p.10. Apud Favaretto, p. 21. 140 lugar de extinguir” (SCHWARZ, 2008, p.91). Fixa a imagem reificada, que registra a condição de periferia do capitalismo, que mesmo Caetano Veloso tem consciência: “era a não-explicação do inexplicável” (apud Favaretto, p.80), “operando com os resulados do golpe de direita, indicando o escândalo, de forma interessante e importante, mas (que) não buscava formas de superação”, segundo Roberto Schwarz em trecho de entrevista publicado no programa da peça. Segundo Caetano Veloso (2005) a tropicália derivou seu nome de uma instalação do artista plástico Hélio Oiticia, inspirou-se em algumas imagens do filme Terra em transe, de Glauber Rocha, dialogou com o teatro de José Celso Martinez Corrêa, mas centrou-se na música popular. A canção-manifesto “Tropicália”, homônica da obra de Oiticica, termina com o brado “Carmen Miranda da-da-dada”. Tínhamos descoberto que ela era nossa caricatura e nossa radiografia. (VELOSO, 2005, p.75) Os reconhecidos avanços comercialmente estéticos do movimento tropicalista da década de 60 em busca da modernidade deslocaram os temas para os processos construtivos da canção, “numa relação entre fruição estética e crítica social” (FAVARETTO, 1996). Celso Favaretto em Tropicália, alegoria, alegria, desenvolve a argumentação a oposição entre música de protesto (que pode ser pressentida, na peça, pela presença de Miranda) e canção tropicalista nos seguintes termos: Surpreende-se na canção de protesto uma separação da forma e conteúdo; não se percebem nela exigências quanto à linguagem para que se supere a distância entre intenção social e realização estética; esta distância é suprida pelo envolvimento emocional do ouvinte (...) Em suas intenções conscientizadoras, a música de protesto não passa de fala-para-o-operário. Ao falar da miséria proletária, esses artistas, através de um jogo de espelhos, afirmam-se em sua condição, de modo que a música resulta em mecanismo de compensação (...) A este fenômeno pode-se aplicar a expressão de Caetano Veloso: “folclorização do subdesenvolvimento” (...) Essa caracterização da música de protesto ressalta por oposição a atitude de ruptura do tropicalismo. Este, superando a dicotomia forma-conteúdo, a intencionalidade e a expressividade, instaura uma nova forma de canção ainda não praticada no Brasil (FAVARETTO, 1996, p. 128-130) Nos termos de Caetano, o tropicalismo não merece a importância que lhe atribuem. Em Diferentemente dos americanos do norte46, conferência de Caetano Veloso realizada em 26 de outubro de 1993 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o músico busca construir um discurso revisor quanto à perspectiva crítica, sedimentada, do viés pessimista do 46 Agradeço o prof. Walter Garcia pela sugestão de leitura do referido artigo. 141 tropicalismo, reafirmando como uma verdade da época – nós, os tropicalista, éramos pessimistas, ou pelo menos namoramos o mais sombrio pessimismo (p.50) – porém com resultados estéticos que escaparam, também à época, de sua própria percepção. Caetano, então, relata um encontro ocorrido em 1969 em Portugal, a convite de um amigo, Roberto Pinho, a um “alquimista”, responsável pelos cuidados de um castelo medieval de Sesimbra. O amigo solicitou que cantasse Tropicália ao português e para a surpresa do músico, “tudo na letra era tomado ao pé da letra e valorado positivamente (...) Nenhum traço de ironia era notado, nenhum desejo de denúncia do horror que vivíamos então” (p.52). Na imagem propositadamente paradoxal que constrói Caetano sobre sua persona, em seguida afirma Naturalmente, eu entendi que ele estava certo de conhecer melhor as intenções da minha composição do que eu. Isso não era novidade para mim: eu já sabia então que as canções têm vida própria e que outros podem revelar-lhes sentidos de que seu autor não teria suspeitado. E, mais que isso, eu não era inocente do fato de que toda paródia de patriotismo é uma forma de patriotismo assim mesmo. (VELOSO, 2005, p.53) Em seu depoimento segue a lembrança de que o interesse que unia Roberto Pinho e o suposto alquimista era o professor português Agostinho da Silva, responsável pela disseminação de um “sebastianismo erudito de inspiração pessoana” (p.54). Reproduzo o trecho para estruturar o argumento: Não foi sem pensar neles que eu inclui a declamação de um poema de Mensagem, de Fernando Pessoa, no happening que foi a apresentação da canção “É proibido proibir” num concurso de música popular na televisão em 1968. Um dos pontos mais ricos em sugestões para o estudo do tropicalismo foi essa apresentação de uma composição primária em que eu, por sugestão do empresário Guilherme Araújo, repetia a frase que os estudantes franceses do maio de 68 tomaram aos surrealistas, acompanhado do conjunto de rock mais moderno do Brasil de então (e o mais e melhor influenciado pelos Beatles) – os Mutantes -, com uma introdução planejada pelo músico erudito Rogério Duprat inspirada na música de vanguarda. Eu usava uma roupa de plástico brilhante verde e preta e colares de correntes e tomadas, e meu cabelo parecia uma mistura do de Jimi Hendrix com o dos seus acompanhantes ingleses no Experience; no meio do número, eu gritava o poema de Pessoa: Esperai! Caí no areal e na hora adversa Que Deus concede aos seus Para o intervalo em que esteja a alma imersa Em sonhos que são Deus. Que importa o areal e a morte e a desventura Se com Deus me guardei? É O que eu me sonhei que eterno dura, É Esse que regressarei. 142 Mas eu não tinha embarcado na viagem desses sebastianistas, bem como estudioso nem como, digamos assim, militante. Apenas me parecera interessante que houvesse gente falando no Reino do Espírito e numa futura civilização do Atlântico Sul numa época em que todo mundo falava em mais-valia e nas teses científicas de transformar o mundo através da classe operária. Essas coisas me atraíam não por místicas (tenho um espontâneo horror de misticismo), mas por excêntricas. (VELOSO, 2005, p.55) O excêntrico (de) Caetano buscava produzir uma distinção identificatória ao que ele reconhecia como uma esquerda festiva boba e buscando salvar (!) àqueles que ele considerava bobos mas ao menos artísticos, de sua própria derrocada, parodiava-os: “nós queríamos trazer a tudo que disse respeito à música popular a luz da perda da inocência e, para isso, fizemos muitas caretas e usamos muitas máscaras” (VELOSO, 2005, p.49). Após um grande apanhado de referências, a palestra retoma o tom Depois de tanto falar, e com tanta pose, fica-me faltando explicar por que disse ter sido ou ser o tropicalismo superestimado (...) Uma vez, respondendo a uma minha provocação irresponsável, José Guilherme Merquior nos chamou, a mim e a todos os componentes do mundo do espetáculos, de subintelectuais de miolo mole. Sempre achei essa expressão bem cunhada. A meu ver ela não perde sua força cômica por eu ser capaz de escrever assim. Mas o que me leva a reafirmar que houve uma superestimação do tropicalismo é a certeza de que, apesar da boutade de Merquior, há um consenso hoje, no Brasil, a respeito da grandeza do que fizemos quando nada fizemos além de chamar atenção para o fato que temos um dever de grandeza. (VELOSO, 2005, p.72) Ora, não é do “dever de grandeza” que Privilégio dos mortos tece sua crítica, reforçadora do mito tropicalista – O mytho é o nada que é tudo./O mesmo sol que abre os céus/É um mytho brilhante e mudo/O corpo morto de Deus,/Vivo e desnudo (Fernando Pessoa, Mensagem) – na qual a exibição do corpo magro de Bebelo deixa evidente a crítica quanto à mitificação artística. Certo que o ato acentue, entretanto, o lugar privilegiado da canção como movimento estético que aglutinou o debate pós-64 relativizada pelo sentido político de uma nova expressividade. E por motivos óbvios, o próprio Caetano abre mão em sua autobiografia, Verdade tropical, do “impulso negativo” da Tropicália. Roberto Schwarz, no ensaio já citado, conclui Escrito com distância de três décadas, em plena normalização capitalista do mundo nos anos 1990, Verdade tropical recapitula a memorável efervescência dos anos 1960, em que o tropicalismo figurava com destaque. Bem vistas as coisas, a guerra de atrito com a esquerda não impediu que o 143 movimento fizesse parte do vagalhão estudantil, aanticapitalista e internacional que culminou em 1968. Leal ao valor estético de sua rebeldia naquele período, Caetano o valoriza ao máximo. Por outro lado, comprometido também com a vitória da nova situação, para a qual o capitalismo é inquestionável, o memorialista compartilha os pontos de vista e o discurso dos vencedores da Guerra Fria. Constrangedora, a renúncia à negatividade tem ela mesma valor de documento de época. Assim, a melhor maneira de aproveitar este livro incomum talvez inclua uma boa dose de leitura a contrapelo, de modo a fazer dele uma contraposição histórica: de um lado o interesse e a verdade, as promessas e as deficiências do impulso derrotado; do outro, o horizonte rebaixado e inglório do capital vitorioso. (SCHWARZ, 2012, p.109-110) O recurso caricatural de Privilégio dos mortos, antes de se constituir pela negação dos expressivos resultados estéticos do tropicalismo de 67 e 68 se aproxima dos expressivos resultados mercantis no passado e, também, no presente e se faz necessária sua leitura, assim como observou Roberto Schwarz sobre o livro Verdade tropical, a contrapelo – material estudado pela Companhia durante o processo de ensaio, como salientou Helena Albergaria. Assim, a ironia do ato, que tem sua verdade explicitada em relação ao projeto anticapitalista de Ópera dos vivos, se assemelha a uma motivação identificada por José Antonio Pasta Júnior sobre a Ópera dos três vinténs, de Brecht. Brecht trabalhou deliberadamente na Ópera uma superposição entre o que chama caráter culinário do teatro e a crítica desse mesmo caráter. Isto aparece em suas “notas sobre a Ópera dos três vinténs” como uma proposta de apresentar ‘uma espécie de relatório do que o espectador deseja ver na vida do teatro’ e assim ir ao encontro da demanda do espectador e “saciála”, mas, ao fazê-lo, levando-a à liquidação, à hipérbole, à derrisão, ao esgotamento; em suma, criticando-a ao mesmo tempo que a satisfaz. (p.61) O “escandaloso”, e programado, caricatural do ato, recupera para o momento de produção o inventário do gosto-dramático do público, propondo-se a criticá-lo, incorporando como um elemento essencial seu caráter de mercadoria. Se o espectador cair na tentação de tentar identificar os personagens no seu correlato histórico, buscando os traços pessoalizados dos músicos tropicalistas, é garantido o reconhecimento, e julgamento, de um ponto de vista moral, sobre as opções “ambíguas” dos artistas de esquerda após o golpe de 64, reforçando desse lado, “o modo como as pessoas aprenderam a ver e a reagir”, para lembrar Raymond Williams. Nesse caso, a “alegoria tropicalista”, recurso que se assentou como regra no campo das artes no Brasil, de crítica anticapitalista, é saboreado pelo espectador, a partir de sua expectativa dramática. Assim é que o uso da ironia – que foi tão bem assimilada pela 144 indústria da cultura, como salienta Vladimir Saflate47 − invade o ato na última fala: se você não juntou as partes até agora não desista. Tudo fará sentido em: Morrer de pé. Não se preocupem com o carro no estacionamento, não se preocupem com o horário do metrô, não se preocupem a radial alagada, não se preocupem com a fome, com a distribuição de renda (os atores saem). Nesse sentido, os diálogos abertos pelo Privilégio dos mortos se dão ora com o espectador que observa e interage com o show, consumindo-o em seu momento explícito de produção, num movimento de prazerosa desresponsabilização (afinal não se preocupem com nada, nem com a fome ou a distribuição de renda; afinal a contradição está aí explícita), como elemento que só pode ser pensado a partir dos expedientes cênicos engendrados pelo próprio ato, ordenado pela brincadeira programada e pela liberdade nova (lembro que o distanciamento e a textura em preto e branco do filme Tempo morto se opõe ao colorido e engraçado caricatural de Privilégio dos mortos) e na confluência com os atos anteriores e o último e quarto ato. Ressoa em Privilégio dos mortos a desobrigação do artista e da nova liberdade trazida pelo tropicalismo. Para o primeiro, os Intactos constituem um núcleo muito divertido, inocente e inocentado pela nova conjuntura, que por seu lado faz com que a plateia se divida quanto a um suposto revanchismo. Na articulação com os atos anteriores, de tematização sobre a relação entre artistas e povo, ou demandas populares, e do tenso envolvimento entre artista e política que resultou no desaparecimento de Júlia e no golpe, o espectador também vivencia uma nova liberdade − algumas plateias vaiam e jogam papeizinhos no palco. Tudo é permitido, do anunciado espancamento dos atores ao riso do espectador e nisso mesmo a plateia “politicamente engajada” que se vê identificada à crítica quanto aos “personagens tropicalistas” é tratada como cúmplice da derrota sofrida. Em Sociedade mortuária a consciência dos personagens entra em acordo com o avanço da narrativa cênica, coerente entre àquilo que representam e a estória que narram, o enunciado formal corresponde ao enunciado do conteúdo; em Tempo morto, as forças em luta se abrigam na textura alegórica da narrativa vertical, ao mesmo tempo em que expõe seu conteúdo ideológico; a partir do terceiro ato, a forma representacional conduzirá o enunciado do conteúdo, ou seja, os personagens irão, aos poucos, introjetar a ideologia da forma em seu comportamento, e o discurso passa a ser cada vez mais ideologizado. Em Privilégio dos mortos a automação ainda é recusada por Miranda e problematizada por Bebelo, em Morrer de pé, entretanto, é devastadora e deixa apenas “vestígios humanos”. 47 SAFLATE, Vladimir. Cinismo e falência da crítica. São Paulo: Boitempo, 2008. 145 Muito do exposto sobre a análise de Ópera dos vivos, como dito anteriormente, exige um espectador interessado. O espectador solicitado por Brecht, “que aprecia ver o homem em situações que não resultam lógicas e claras à primeira vista” (1970a, p.56), teve à sua disposição materializações de compreensão e distanciamento crítico, cenas em que pôde comparar os pontos de vista dos personagens, de ligação com um mundo e intenções derrotadas, estranhamento de formas e procedimentos culturais habituais. No desencontro, nos atritos encenados, a articulação dos atos e das narrativas cênicas buscou representar a trajetória da cultura brasileira de forma clara, com calma épica. Foi recuo necessário para que a negativização do último ato não fosse apanhado como mera reiteração de uma tese conhecida, tese anunciada pela primeira fala da Narradora: No tempo em que as mercadorias desenvolveram alma, conheceram também o medo da morte. Música épica. (entra trilha Fassbinder ao piano) Ato final da Ópera dos Vivos. Um teatro de nômades, de gente em trânsito para gente que vagueia, feito para um tempo que é dinheiro. Ele será breve, reconhecível, espetáculo da mutilação intelectual. Não deixará ninguém doente, porque estamos em fuga, de sintoma para sintoma48. O homem tem que se desumanizar para continuar vivo. Simples. Não há nada de novo. Na operação, Morrer de pé é aparentemente dispensável por representar questões consensualmente comuns, de integração entre o trabalho alienado da indústria televisiva, relações de trabalho hierarquizadas, empregos subalternos destinados aos negros. Dito no início deste estudo, o último ato articula uma ideia da peça: o trabalho de artistas, mas é claro que Morrer de pé é o mais vazio e mais lúcido quando se verifica a impotência das consciências desalienadoras em um momento de total alienação. O ponto de vista do Latão sobre a narrativa cênica chega ao mais alto nível de solicitação dos atores no último ato: o tom irônico de algumas falas, as nuances entre a representação e a narração crítica não se faz através de ferramentas clássicas, mas na modulação de gesto e fala. Exige-se dos atores que a contradição entre o que está sendo dito e encenado e o ponto de vista crítico sobre o material se dê para além dos grandes engenhos da dramaturgia. Apuro técnico que advém do trabalho dos atores como, também, dramaturgos e demonstração, em cena, de que o teatro épico não é um estilo representacional, mas um trabalho coletivo de composição. Escreve Brecht em Diário de trabajo, em 25 de dezembro de 1952 48 O texto é retirado dos Diários de Trabalho de Bertolt Brecht, nos anos 1942, quando estava exilado nos Estados Unidos e registra seu grande desconforto com a vida estadunidense. 146 visto en forma objetiva, eso que yo he llamado actuación épica es una forma de actuar en la cual la natural contradicción entre el intérprete y el personaje teatral representado por él se expresa de una manera muy precisa. entra em juego la crítica (social) del intérprete respecto a la figura que él, por cierto, debe materializar de manera cabal. porque las opiniones, las pasiones, las experiencias y los intereses del personageje no son los del intérprete, y éste también debe manifestar los suyos en su representación. (!eso ha sucedido siempre, en forma espontanea, aunque por lo general insconsciente!).en este aspecto, como en tantos otros, la introducción de la dialétictica en el teatro ha provocado una evidente conmoción, aun en quienes admiten la dialéctica en otros terrenos. (BRECHT, 1979, p.329) Em Morrer de pé o espectador se dirige a outra sala – não somente há uma disposição diferenciada, mas em virtude dos recursos cênicos do quarto ato, é necessário seu deslocamento. O cenário representa um estúdio de televisão. Interessante notar que o público é disposto em ambos os lados, conectados pela grande tela ao fundo da cena. O corredor produzido por essa disposição, espaço da representação, confronta o público, produzindo uma sensação de que somos observadores privilegiados nos bastidores de um programa televisivo. Se nos momentos anteriores ao golpe civil-militar havia alguma forma de vivência coletiva para que as transformações exigidas em praça pública fossem efetivadas, tendo como suporte articulador o empenho de intelectuais e artistas, os sintomas não deixam dúvidas de que o presente não mais carrega tal percepção. A teatralização do último dia de gravações de um caso especial sobre a relação amorosa entre uma estudante, irmã de uma militante torturada, e um delegado é entrecortada por cenas de outros programas televisivos. Perene, o Delegado, propõe uma mudança para o fim de seu personagem na minissérie; há um embate entre a recusa do suicídio como final dramático, que se vale também da experiência do ator militante durante a ditadura militar, e a incompatibilidade de mudança em virtude do roteiro pré-estabelecido. A incompreensão da equipe de filmagem não se dá por uma opção consciente das questões levadas à cena, a ditadura e a possibilidade de um torturador se arrepender de seus atos, que no caso televisivo teria até respaldo por uma verossimilhança dramática bem construída − imagem que pelo outro lado reorienta o romance entre Júlia e o banqueiro Paulo dentro do filme “cinemanovista” do Latão do segundo ato, um exemplo por dentro das possibilidades de representação e ainda retorna, tematicamente, à crítica quanto a realidade tropical que apresenta os conflitos de forma insuperável que se esboçou no terceiro ato −, mas pela linha de produção que deve ser mantida como engrenagem da produção televisiva. A possibilidade de compreensão dos sentidos do último ato é apanhada em contraste com as representações anteriores: 147 NARRADOR – Oh grande tela, revelai seus segredos intactos. Belo neste mundo é tudo o que pode ser reproduzido pela câmera. Que se veja uma gigantesca torre e se intua seus sinais invisíveis convertendo-se em ideais no céu da cultura. Inicia-se a jornada de trabalho na maior emissora do país: a TV Todo. (os atores preenchem o espaço segundo suas funções, tal como estátuas clássicas) Maquinistas, maquiadores, carregadores de cenário, enroladores de cabo, rebobinadores de fitas magnéticas, seus músculos, suas veias e pelos eriçados nos aparecem como numa batalha campal. Que se vislumbre mais ao fundo a estrutura de uma cozinha industrial. Abrem-se as portas de uma grande geladeira frigorífica. Na cozinha, reparem, uma mulher observa a própria imagem refletida na superfície de numa panela de aço inox. A batalha campal, suspensa, do fim primeiro ato, de camponeses em luta por melhores condições de trabalho, foi aprisionada pela imagem (estátuas clássicas) do mundo da mercadoria. Claro está que a maior emissora do país, a TV Todo, é a TV Globo; alusão feita no segundo ato, Tempo Morto. Na trama do filme realizado pelo Latão, a ditadura militar e a formação de um conglomerado midiático não deixam dúvidas quanto aos elementos que promoveram o sucesso golpista: dinheiro estrangeiro para fortalecimento do bloco capitalista na América do Sul e conservadorismo nacional diante da ameaça vermelha. Não há lugar para todos em uma sociedade capitalista e através da peça arma-se uma consciência histórica sobre as anomalias sociais do país como elemento indispensável à expansão capitalista. A memória recuperada no primeiro ato é o esquecimento necessário no quarto. O colapso da modernização, como bem salientou Maria Elisa Cevasco (2012) devastador no campo da cultura, institui uma “linha de produção” que engole qualquer debate criativo, resquícios de utopia, possibilidades de mudança. o comentário mais sugestivo, porque deixado inteiramente a cargo do espectador que precisa atar os fios da peça, é o da presença de D. Elia, personagem feita pela mesma atriz do primeiro ato. Agora D. Elia trabalha na cozinha e é humilhada pela responsável pelas refeições. A mesma atriz faz a figurante da cena do suicídio. Em resposta ao técnico que lhe pede que passe seu texto para testar o aparelho de som ela diz: “Eu não tenho fala”. A distância que move o que nos disse D. Elia no primeiro ato dá mais uma medida do rebaixamento das possibilidades abertas aos de baixo em nossos dias. Mas é a atriz que faz Elia que tem a última frase da peça. Ela nos conta que a moça da cozinha espera por um ônibus que não vêm possivelmente por ter sido queimado em protestos noticiados pela TV. Ela lembra uma canção antiga, que fecha a peça: Mesmo sem vento/O remo empurra/Contra a maré/A maré/Canoa boa/A onda cruza/Contra a maré/A maré. (CEVASCO, 2012, p.148) 148 No primeiro ato a personagem Élia fala de seu processo de alfabetização - eu digo que o que eu aprendi já mudou o meu corpo, que os meus olhos já fazem falar as letras, que o destino do meu esforço me pertence enquanto seguirmos juntos, como uma forma de resistência à ameaça dos donos da terra. Maria Elisa confronta essa perspectiva aos dados de pesquisa de Walquíria Leão Rego sobre camponesas nordestinas que receberam o bolsafamília: Maria Lucia Matias da Silva, casada e mãe de 7 filhos e com marido desempregado, uma das 12 milhões de chefes de família que recebem o auxílio governamental fala dos seus benefícios: “Acho ótimo. Ave Maria, eu acho muito bom. Porque é uma ajuda pra gente. E para muitos que necessitam. Para mim foi muito bom ter esse dinheiro. Se acabar isso, não tem mais jeito da gente viver nesse mundo. É uma ajuda grande”. Desse ângulo fica evidente o rebaixamento dos horizontes. (CEVASCO, 2012, p.140) Os atos, na composição dialética porque concentram contraditoriamente e buscam sintetizar as experiências artísticas brasileiras, são montados por uma estrutura que revela o processo de nossa formação cultural na mesma chave de análise da acumulação capitalista e seu processo desigual e combinado, montando e desmontando a ideologia que lhe serve de antagonista. Se como disse Michael Löwy em A teoria do desenvolvimento desigual e combinado, não foi possível a discussão de tal consideração teórica, nesses termos, em Marx pois ele não tinha condições de analisar a expansão mundial do capital Pode-se encontrar, no entanto, em alguns de seus escritos, pistas interessantes sobre a maneira pela qual uma forma de produção dominante exerce a sua hegemonia sobre as outras. É o caso, notadamente, de uma célebre passagem da Introdução à crítica da economia política (1857): “Em todas as formas de sociedade, é uma produção específica que determina todas as outras, são as relações engendradas por ela que atribuem a todas as outras o seu lugar e a sua importância. É uma luz universal onde são mergulhadas todas as outras cores e que as modifica no seio de sua particularidade. É um éter particular que determina o peso específico de toda a existência que aí se manifesta”. (LÖWY, 1995, p.73) Nos termos da encruzilhada de se produzir teatro crítico na esfera capitalista, quais procedimentos estéticos se valem os artistas para representar a realidade e como, esses procedimentos, revelam a própria compreensão da esfera ideológica se seus valores e importância são determinados por essa produção? No quarto ato, a forma fria de entusiasmo e de ênfase brechtiana, que de início procura afastar qualquer sentido fatalista ao que se produzirá em cena, sublinha a questão: os 149 ideais no céu da cultura apresentam o grau máximo de acumulação de capital, tornadas imagens, conforme a análise Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo, pois belo nesse mundo é tudo o que pode ser reproduzido pela câmera. Na situação atual, a desumanização das peças da engrenagem televisiva reafirma os limites anteriormente arrolados e representa as relações fetichizadas. Num momento de inocente desmascaramento da lógica capitalista, apresentam-se os bastidores de gravação de um programa infantil, Jardim das finanças, dando potência à crítica quanto ao aspecto reificador de graça irônica dos mecanismos de “formação” capitalista para o público, o consumidor potencial. A apresentadora do programa se entusiasma por estar contribuindo: é como se nos tivéssemos uma responsabilidade moral: preparar os homenzinhos para a realidade do mercado de capitais, muito diverso da responsabilidade da Professora da peça camponesa: Eu sou uma professora, devo alfabetizar homens adultos. Mas antes de ensinar o alfabeto, quero que entendam que são sujeitos, que estão no mundo e com o mundo, aprendendo com ele e transformando-o com seu trabalho. Quando do barro fazem um vaso, transformam a natureza, e quando têm a necessidade de enfeitá-lo com flores continuam a transformá-la, produzindo cultura. Por isso, o vaso, as flores, as letras têm de ser de todos) e suas ferramentas de composição do mundo. A potência de todo ato está em formalizar o impasse, os percursos de representação no esforço de alcançar o movimento do real. O realismo da peça é operado pelo estranhamento da fragmentação, “buscando um meio mais totalizante de ver o fenômeno” (JAMESON, 2010, p.261). O salto no último ato se faz a partir da aproximação com os atos anteriores que jogam o espectador para dentro da montagem, pois não há como não comparar o imediatismo político que impregna a composição artística e social nos diálogos do primeiro ato e a falta de propósito no mundo atual. Um novo realismo, que parece ser a resposta estético-produtiva do Latão, na acepção dada por Jameson (1999) que desconfia do hábito da “nova” estética em “recompor uma razão dessacralizada ou desumanizada” (p.262). A operação lembra muito as considerações de Jameson (2010) Uma vez que a estrutura fundamental da “totalidade social” é um conjunto de relações de classe- uma estrutura antagônica de tal modo que as diferentes classes sociais definem a si mesmas em termos daquele antagonismo e por oposição umas em relação às outras – a reificação necessariamente obscurece o aspecto de classe daquela estrutura e é acompanhada não apenas por anomia, mas também por uma crescente confusão com relação à natureza ou mesmo à existência de classes sociais, o que pode ser observado em larga escala em todos os países capitalistas “avançados” hoje. Se o diagnóstico estiver correto, a intensificação de uma consciência de classe será menos uma questão de exaltação populista e operária de uma classe 150 específica por ela mesma, do que uma questão de reabertura enérgica de acesso a um sentido de sociedade como totalidade e de reinvenção das possibilidades cognitivas e perspectivas que permitem ao fenômeno social se tornar mais uma vez evidente, como momentos de uma luta entre classes. (JAMESON, 2010, p.262) O quarto ato registra, porque o espectador pôde acompanhar o desenvolvimento histórico, precisamente a totalidade histórica. Logo após o Narrador, na cena seguinte, quando toda equipe está posicionada, o Diretor da minissérie pergunta: estamos por quem? A resposta pode se abrir, de um lado, caso a pergunta seja interpretada como “estamos esperando por quem”, afinal a cena é nomeada “Á espera do ator Perene”, pelo artista. Perene é a resposta, mas ele não responde aos chamados de telefone e afinal, chega atrasado. Ao comparecer, como Perene faz quando finalmente chega à gravação, é a caricatura do artista vencido, com uma peruca ridícula que provoca riso no público. Mas se a imagem não fosse recomposta pelos questionamentos de Perene, muito pouco, ou quase nada sobraria para o projeto teatral e, em consequência, para o trabalho dos artistas. Verdadeira ao não falsear as condições de fazer arte no tempo presente, melancólica ao constatar e apresentar essas condições, historicizante porque antes do último ato foi possível compreender os processos e forças implicadas no estado de coisas geral, Morrer de pé contribui para desmistificar o trabalho artístico e desmente, por sua própria existência, qualquer sentimento fatalista quanto ao sentido histórico. O movimento espiralado suprime o negativo da imagem derrotista do quarto ato, mesmo que reconheça os limites de tal movimento. Perene, afinal, cometerá o suicídio: por um lado, há a representação do drama social no qual o indivíduo impotente encontra como saída sua morte, por outro, num rendimento político, pois o espectador acompanhou a trajetória do artista derrotado, não há heroicização da esquerda, tampouco dos artistas. Mas, voltemos à condução da narrativa cênica: a pergunta do Diretor fica sem resposta imediata e assim que a faz, conforme a rubrica da cena, os atores fazem um vocalize que se confunde com o barulho de uma sirene e acompanha a imagem projetada da Moça da Cozinha. A Moça da Cozinha é aquela que apenas aparece como imagem, sem sustentação dramática, e que mantém, também, a estrutura funcionando. São os operários retirados, barrados de um espaço público – é um momento da luta de classes − que terão na composição de Anita, a Assistente, algum elemento de “sobrevida” dentro da narrativa cênica, embora seja ela que produza, com mais precisão, o fetichismo do capital. Continua a rubrica: são interrompidos pelo sinal da Assistente. 151 ASSISTENTE – Sou a assistente. Os técnicos montam o cenário. Último dia de gravação de um caso especial sobre o amor entre um delegado e uma jovem estudante nos anos 1960. É véspera de carnaval. Eu caminho pelo Estúdio e percebo a equipe inquieta com o fim do processo. Quando alguém pergunta estamos por quem, eu sempre penso que estamos por mim. A cena solicita uma identificação por parte do público com a Assistente – lembro que anotei que os espectadores estão nos bastidores da emissora, talvez esperando para entrar em cena. Nas palavras de Schwarz (2008) em sua compreensão sobre as diferenças entre o princípio organizador de síntese de Paulo Freire e a alfabetização de camponeses ou ainda o impulso revolucionário que produziu alguns dos melhores filmes brasileiros, pouco antes e pouco depois do golpe, a oposição entre os termos não é insolúvel, assim como o princípio que parece organizar o Latão que busca sua força e modernidade na etapa presente da vida nacional, compondo uma cena humanizada, através da apresentação em contraste de imagens que alfabetizam, ora pelo avesso, negativizando a representação mistificada que através de expedientes cênicos paralisantes em busca de uma sensibilidade diferenciada a aprisionam no absurdo da representação. Nos termos: Perene chega para gravar. Ele reconhece que não tinha lido o roteiro e discorda quanto ao final de seu personagem, o suicídio. Para ele, não se deve humanizar um torturador. A Assistente narra: nessa crise haverá reviravolta. O desenvolvimento dramático resulta da ação imediatamente anterior, e não da ideia do todo. O Diretor mantém o diálogo com o Ator dizendo que a minissérie é um caso de amor, fala de pessoas e não de ideias. A esquerda e a direita são duas pontas de uma mesma ferradura, portanto o torturador é mostrado da mesma forma que os guerrilheiros. O Ator pergunta por Dora Helena, sua companheira de cena. Ela saiu para tomar um remédio. A Figurante avisa para a Assistente que irá embora assim que terminar seu horário/diária. O Ator então improvisa, ensaia, sua fala com a Assistente. Ela fica extremamente irritada e lembra que todos estão esperando por ele decidir fazer a cena. A Assistente nega a sugestão do Ator quanto a mudar o final da minissérie, assim como o Diretor, o Câmera e o Contra-regra. Ficam em cena a Assistente, o Câmera e o Contra-regra. O Câmera narra para o publico: artistas acham que é preciso ter amor pelas coisas. Por acaso uma fábrica precisa do amor dos operários? Retorna o Ator. A Assistente está no centro do palco. Segue o seguinte diálogo: ATOR – Anita, eu conheci sua mãe. Era a melhor atriz que eu já vi no palco. 152 ASSISTENTE – O senhor não quer mesmo fazer a cena? ATOR – Júlia era uma aparição, se ela tivesse continuado no teatro não teria sido presa. Arte é uma coisa, política é sempre arriscado. ASSISTENTE – Eu estou francamente cansada dessa conversa, ditadura, repressão, tortura. ATOR – Era um tempo em que tudo podia acontecer, um raio podia cair de um céu azul. ASSISTENTE – Termina logo com isso. ATOR – Você não entende. Não entende. ASSISTENTE - (para o público) Eu não suporto a melancolia dessa geração. Sempre o passado era melhor. Tem nostalgia de uma ideia. Me olham como se eu não estivesse fazendo a minha parte, como se nós fôssemos sombras, como se eu fosse conformada. Só que eu não sou conformada, sou estupidamente sozinha. Não sou? Canção Vultos Distantes ao piano. O Ator dá as costas. Júlia aparece como um espectro: MÃE - Filha, por que você está sempre à espera? Aqui, é preciso ser mais Brecht do que Stanislavski. Não podemos só sentir, temos que tentar compreender. Você tem que exagerar a dor que sofre. Em parte será verdade, em parte fingimento. Exagera, viu? E não confesse nada. Tem gente que confessa um pouquinho pensando que vão parar com a tortura, mas o pouquinho só piora. O melhor é não confessar nada. Você me entende? Já tomou café? O foco é retirado de Júlia- Mãe. A luz cai, mostra-se novamente um vídeo da Moça da cozinha cortando carne. Todos os atores estão em cena. Começam a fazer gestos desencontrados. Uma das atrizes, no microfone, diz sobre a utilização da arte para a criação de animais: Veja bem, vivemos numa época insensível. Todos nós precisamos de “experiências” intensas. Se o porquinho está relaxado na hora da morte, distraído com a projeção de um bom filme – o que importa são as imagens em movimento – sua carne fica mais molinha. O problema da sociedade ocidental é que não estamos preparados para a morte. O fragmento é didático: a interrupção de Anita fala de como se encadeia um drama clássico: as ações limitam o reconhecimento do espectador no mundo conformado. Uma coisa leva a outra. Além disso, o Diretor anuncia como as personagens são compreendidas: interessa seu comportamento individual e não as situações e relações que a eles correspondem. Por outro lado, encena-se uma representação “pós-moderna”: uma paisagem 153 lírica dada por comportamentos desconjuntados, aleatórios, indicando muito mais o estado interior das personagens. A forma dramática não sustenta a realidade atual e apela-se para o expressionismo subjetivista. Ambos, independentes dos estilos fixados, dizem de formas representacionais que ora apelam para a sentimentalidade ou por ela expressam a inadequação dos sujeitos. Entre elas, o diálogo de Perene e a Assistente e a aparição da Mãe. Pelo programa da peça, sabe-se que sua narração inspira-se numa passagem do livro de Augusto Boal sobre sua prisão e tortura, Milagre no Brasil. Boal relata, possivelmente, o encontro com sua assistente, Heleny Guariba, quando os dois foram presos em 1971. Segundo ele, a amiga queria amenizar seu sofrimento e lhe disse aquelas palavras antes de desaparecer. A narração aprofunda a compreensão sobre a ditatura militar brasileira, toda a barbárie cometida em nome de uma suposta ordem e ilumina ainda mais o processo alienador atual, na qual a desumanização produz apenas vultos, como Anita, que ao contrário de se ver como conformada, se vê sozinha. Àquela que mais rigorosamente explicitou os mecanismos de produção da sociedade atual – Anita é esquecimento em ato e é Odete sozinha, Júlia despolitizada, Miranda conformada – é a personagem restrita à operação da máquina, articuladora dos demais personagens (e também o próprio espectador, que alimenta a engrenagem). O diálogo entre Perene e Anita é dramático: divergem pois ele fala do passado, ela do presente e convergem no presente da ação (tempo e lugar); a cena é interrompida por uma memória involuntária – a narração da Mãe : o passado, então, se introduz por uma esfera além do diálogo intersubjetivo, como uma interrupção da própria possibilidade de diálogo entre o passado e presente. Não só Anita assiste o passado, mas o espectador, no tempo presente, como uma reminiscência incorporada à forma épica. Reminiscência ordenada pelos atos anteriores, pelo projeto interrompido que não pode ser recuperado pelo drama, mas retorna como ação dos atores em convulsão. Duas elaborações, portanto: a primeira, a aparição de Júlia, fruto da repressão de Anita – do tempo presente, preenche a reposição infinita de posições antagônicas, impondo sua presença reveladoramente constrangedora; memória viva daqueles que sofreram diretamente a repressão militar. A segunda, a cena de ação convulsiva, é ato, repetição nauseante em que se mostra a tentativa desesperada dos artistas por uma “experiência intensa” e reatualiza verdadeiramente a função dramática em tempos pósdramáticos, produto do processo interrompido dentro do esquema proposto por Ópera dos vivos como percepção da desobrigação e morte do compromisso coletivo. Citado por Jeanne Marie Gagnebin (2010) em O preço de uma reconciliação extorquida, Adorno, quando retorna de seu exílio imposto pelo nazismo, escreve uma 154 conferência intitulada O que significa: elaboração do passado. Para ele, segundo Jeanne Marie, as tentativas forçadas de esquecimento do passado alemão estimulou um otimismo sob o manto do sucesso econômico (semelhanças com o presente brasileiro?). Adorno não advogará, porém, pela “comemoração incessante nem uma heroicização das vítimas, mas uma atividade comum de esclarecimento, isto é, em termos mais freudianos, um trabalho de elaboração e de luto contra a repetição e o ressentimento” (GAGNEBIN, 2010, p.183). Perene decide realizar a cena do suicídio. A última cena da peça é a imagem projetada no telão de Perene, Dora Helena e o Moço da Cozinha no lugar da personagem empregada, pois a Figurante foi embora assim que sua diária terminou. Lélia dos Santos, a cozinheira, que interpretaria a empregada se recusou a entrar em cena. Retomo o diálogo: DORA HELENA – Lélia dos Santos. Você vai gostar disso aqui. Todo dia uma novidade. (o Contra-Regra oferece um café à Atriz) Tira esse café da minha frente. (para o Ator) No neo-realismo italiano eles adoravam misturar gente do povo com atores de verdade, pena que eles já não existem. PERENE – Quem? O povo? DIRETOR – Estamos por quem? ASSISTENTE – Falou alguma coisa? (para a Maquiadora) Põe logo a tiara. Ritualização da entrada da tiara (com música): a maquiadora traz a touca como se fosse uma coroa. LÉLIA – Eu não vou colocar isso. ASSISTENTE – Calma. Você não precisa fazer nada. É só abrir a porta. LÉLIA – Eu não quero aparecer desse jeito. ASSISTENTE – Por quê? LÉLIA – Tenho trinta quilos de carne para temperar. Eu vou embora (Sai correndo). ATRIZ – Imoral! Imoral! A pergunta do Diretor retorna: estamos por quem? Aproxima-se a imagem da peruca de Perene à tiara da Empregada (ressalto a rubrica: a maquiadora traz a touca como se fosse uma coroa). Se não estamos esperando pelo artista-herói, tampouco é o “povo” romantizado − embora com sinais trocados, pois se contrapõe o ridículo da peruca de Perene ao constrangimento doloroso de Lélia. Ouvimos o estampido do tiro e não sua representação. O 155 mundo já desmoronou, pelo menos para àqueles que não se veem desobrigados de alguma tarefa de alteração das coisas, que Roberto Schwarz nomeou como dessolidarização social. Como ato independente, visto desarticulado, a constatação melancólica, feita em parte por uma consciência autoirônica, fica procurando formas de representar tal situação, próxima a uma observação naturalista, na qual “o estabelecimento da causalidade social tem início com descrições de situações em que todas as ações humanas são puras reações” – a memória involuntária e as ações desconjuntadas não passam de reações e como correlato o drama social da minissérie −; “o meio social tem o caráter de um fetiche, é destino” (BRECHT, 2002, p.150). Há que se levar em conta, portanto, que Morrer de pé se mantém no limite da autoidentificação com as figuras automatizadas, pois ao mesmo tempo que demonstra a alienação artística não deixa de identificar os mecanismos por onde ela opera e o elemento ativo se introduz a força. Parece que a fresta, idealmente composta e exigente de uma condição extra-teatral, está na sobreposição do projeto artístico e da matéria social, na última cena da peça: Vê-se os três em plano aberto. Ouve-se o tiro. Sai projeção da cena. Entram imagens de um ônibus pegando fogo e do camponês Marivaldo. NARRAÇÃO – A Moça da Cozinha, numa rua vazia, a espera de um ônibus que não vem, relembra uma cantiga de sua avó. Canção Mesmo sem vento O remo empurra Contra a maré A maré Canoa boa A onda cruza Contra a maré A maré. A projeção que traz Marivaldo, camponês, do primeiro ato, o ônibus em chamas, sobrepostas aos atores perfilados reconhecem que o projeto do Latão apenas é virtualmente alcançado. Segundo Sérgio de Carvalho49 A recusa do ator Perene em filmar a cena de morte motivada por um idealismo fora de lugar (ou por um mínimo de coerência dramática), perturba um aparelho produtivo exaurido e à beira de uma crise gerada pelo esfolamento da mão de obra. A abstração das relações é completa. E o estrago pessoal é enorme, ao mesmo tempo em que uma luta interna pelo não-esquecimento é travada, em bases ambíguas. Anita é filha da atriz Júlia e Perene se formou no teatro político do passado. E até mesmo o Produtor oculto da emissora. Mas ninguém pode se juntar, pois não há mais lugar, 49 Blog de Sérgio de Carvalho. www.sergiodecarvalho.com.br. Acesso em 22 de abril de 2013. 156 nesta modalidade de trabalho de cultura, para o aprendizado político, para a história, para a relação desalienante. Resta o tiro no ouvido, quando, a rigor a peça acaba. Por rigor artístico deveria acabar ali, na imagem do suicídio. A canção ambígua do Contra a maré, apresentada como epílogo, faz lembrar o primeiro ato. Dialetiza-se ao surgir na voz da Moça da cozinha, personagem à espera de um ônibus que não vem. Dialetiza-se pela imagem do fogo no veículo, supostamente queimado num protesto na favela. Renova seu sentido, ainda ao se aliar à imagem projetada do grande artista João das Neves, participante do CPC, que surge na representando o camponês Marivaldo na velhice. Mas a rigor, é uma canção ideológica. Por quê? Porque o grupo de artistas da Companhia do Latão, sabendo que Ópera dos Vivos é também uma peça sobre o futuro, assim escolheu, numa assembleia. Porque era preciso, nesse caso, em favor da verdade que se realiza fora do palco, idealizar. Interessante notar que Sergio de Carvalho reitere que a peça é sobre o futuro. A estética praticável está na consciência da impraticabilidade do imediatismo político, sem obliterar a capacidade de autodeterminação do homem (lembremos Anita: quando perguntam estamos por quem sempre penso, estamos por mim). A idealização contida no epílogo afirma que a verdade, para o Latão, se opera no atrito e trânsito da composição simbólica entre palco e plateia. A aposta dialética está na experiência coletiva − como afirma Fredric Jameson em O método Brecht (1999), no trabalho do dramaturgo alemão “intelectual” gradualmente vai se transformar em “coletivo” − e no movimento da análise crítica das formas utilizadas, historicamente e atualmente, para a compreensão do mundo e por isso, portanto, Ópera dos vivos vai buscar nas representações do passado – no teatro, no cinema e na canção – formas para compreender o presente e projetar o futuro. Muito se deve à perspectiva brechtiana de buscar uma forma que não “enforme” uma experiência, mas que a dialetize, no desmonte da lógica de qualquer representação. A notoriedade da proposta do Latão, apropriação brechtiana, é também de deixar exposta a sua própria lógica. A fricção entre os procedimentos estéticos estimulam um olhar distanciador, não mais circunscrito à constatação de que a injustiça é social, e não natural (esclarecimento dualista da mola econômica), operação por demais desgastada como bem observou Schwarz (1999), mas de que as formas deixam ver, também, historicização (atividade, trabalho vivo) e que são, elas mesmas, produção ideológica. Suponho que na articulação dos atos e principalmente na encenação do quarto ato, há a vibração das considerações de Brecht (1970a, p.187) sobre dialética e distanciamento 1. Distanciamiento como compreensión (compreender - no compreender – compreender), negación de la negación. 157 2. Acumulación de lo incompreensible, hasta que se abre passo la compreensión (transposición de lo cuantitativo y lo cualitativo). 3. Lo especial em lo general (el processo em sua calidad de único, original y, al mismo tempo, típico). 4. Momento del desarollo (el passaje de unos sentimientos a sentimientos de carácter opuesto, posición crítica e identificación a la vez). 5. Paradoja (¡este hombre es estar circunstancias, estas consecuencias de esta actitud!) 6. Lo uno se comprende a través de lo outro (la escena, cuyo sentido em primera instancia es independiente, a traés de sua relación com otras escenas resulta ser parte de outro sentido). 7. El salto (saltus naturae, el desarrollo épico se cumple a saltos). 8. Unidade de las contradicciones (em la unidad se busca la contradición; madre e hijo constituyen una unidad hacia afuera, pero lucham entre sí por el salario em La Madre). 9. La practicabilidad de la sabiduría (unidad de teoria y prática). É na relação com o seu contrário que a aprendizagem política coletiva é positivada através da consciência de seus limites. A superação da contradição apenas avançará ao estabelecer uma nova consciência, que não é dada pela peça, mas pelo desenvolvimento da sociedade. Ambas possuem suas contradições internas que não deixam de carregar, mediados por aquilo que foi visto em cena, uma verdade: do projeto ideológico anticapitalista como princípio do projeto estético, que apenas consegue, nos termos atuais, mobilizar simbolicamente o espectador. Retomando um argumento exposto no princípio dessa análise, de que Ópera dos vivos “retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada por outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”; a sabedoria – o lado épico da verdade – conforme Benjamin (1994), demonstra sua praticabilidade. O último ato de Ópera dos vivos mostra as obras políticas como politicamente mortas, “onde se funde a ideia de impotência com a consciência crepuscular da paralisação em riste da política” (ADORNO, 1991, p.71), mas o pensamento é reorientado, afinal a essa paralisia é que desfere o epílogo da peça, associando apenas na imagem final, com atores em cena e o passado projetado, na reconstrução de uma história política. Roberto Schwarz teceu um comentário em uma conversa sobre Ópera dos vivos: do ponto de vista do espectador, o problema maior é como articular os quatro atos, e isso faz 158 que a ideia da peça seja inteiramente não dogmática, porque a peça não diz nada de como articular os quatro, isso cabe inteiramente ao espectador, então é uma concepção de conjunto que sugere a formação de uma consciência histórica sem dar nenhuma dica sobre como formar, então realmente é uma coisa muito não dogmática, e muito acertada em relação ao estado geral da consciência contemporânea. Então, você dá parte de um processo dos últimos cinquenta anos e o espectador é que se arranje pra pegar esse significado. Então, mal ou bem, a coisa mais exigente da peça é discutir um pouco essa evolução.50 Hipoteticamente, a articulação pode se dar pelo assunto – o golpe de 1964 e a derrota do projeto emancipador da esquerda – ; pelo drama – afinal a peça começa com um grupo de teatro ensaiando e aos poucos ele desaparece da narrativa, assim como Júlia; pelas manifestações artísticas – diferenças entre teatro, cinema, show; e os pontos de vista que as modelam. Ópera dos vivos é uma obra irregular e desarticuladora, o que lhe garante seus maiores efeitos. Num arco geral, o espectador mais “capacitado”, ou melhor dizendo, frequentador de teatro, fica obliterado pelo discurso ideológico do segundo e principalmente do terceiro ato que através da paródia dá mostras de como se constitui um pensamento hegemônico, não afeito às materialidades, tampouco à relações extra-teatrais, que quando são feitas, não passam de reiterar conceitos que às formas hegemônicas teatrais correspondem, o que deixa mais evidente o antagonismo de classe. As críticas publicadas em jornais foram elogiosas, e imprecisas, restritas a considerações sobre a peça, sem articulações com o sistema teatral ou do país. A peça gerou encontros informais, como o realizado por um grupo de intelectuais e professores de São Paulo do qual extrai a observação de Roberto Schwarz acima apresentada e entre eles, um dos participantes perguntou: o que a peça prova? Espremendo a laranja, qual seria o propósito de Ópera dos vivos? Certamente a questão não deveria ser dirigida apenas a uma peça do Latão. Como um grupo de intensa atividade dramaturgicamente pedagógica, Ópera dos vivos deveria ser articulada, em relação aos seus rendimentos, a trajetória do grupo e a como, de certa forma, ela revisa e põe acentos no percurso de estudos da Companhia. Iniciei o presente estudo com a pretensão em desenvolver uma análise pormenorizada das peças do grupo em seus 13 anos de atividades (quando Ópera dos vivos estreia) que deveria buscar estabelecer um, entre outros possíveis, propósito pedagógico no “desmonte” moderno das ideologias representacionais que, com nuances várias, se apresenta em todas as suas peças. O desejo inicial, infelizmente, não se concretizou – o que pode ser percebido pelas resenhas apresentadas anteriormente 50 Agradeço o prof. Roberto Schwarz por autorizar a gravação da conversa, bem como a utilização de trechos no presente trabalho. A transcrição e edição foram realizadas pela autora. 159 sobre as outras peças do grupo. Mas como nota diante da provocação da pergunta sobre a peça e tendo, ainda que reduzida, a pretensão de análise exaustiva, sou tentada a respondê-la tendo em vista uma aproximação àquela que nomeou a Companhia, Ensaio sobre o latão. Ensaio sobre o latão estreou no Teatro de Arena Eugênio Kusnet em agosto de 199751 e fez parte do projeto Pesquisa em teatro dialético. Publicado em Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão, o texto é apresentado, junto a O grande circo da ideologia, na seção Peças teorizantes. Utilizou-se como material de pesquisa o texto teórico A compra do latão, de Bertolt Brecht, escrito entre os anos 1939 e 1955, além das observações dos integrantes do grupo nas ruas do centro de São Paulo. Em 12 de fevereiro de 1939, Brecht faz a seguinte anotação em seu diário Um bocado de teoria em forma de diálogo em Der Messingkauf [A compra do cobre] (estimulado a usar essa forma pelos Diálogos de Galileu). Quatro noites. O filósofo insiste no teatro do tipo-p (tipo-planetário, em vez do tipoc, tipo-carrossel) simplesmente para fins didáticos, movimentos de pessoas (também mudança de emoções) organizados como meros modelos para finalidades de estudo, a fim de que a sociedade possa intervir. Os desejos dele se transformam em teatro, já que podem ser executados no teatro. A coisa toda concebida de modo a poder ser realizada, com experimentos e exercícios. Centrada no efeito-d. (BRECHT, 2002, p.24) De caráter teórico, os textos reunidos também poderiam ser encenados, assim como se propôs em seus diálogos. O Filósofo, que inicialmente vai à procura dos atores interessado nos comportamentos humanos que por eles são representados, sugere exercícios cênicos para demonstrar sua “teoria”. Àquilo que começa como sugestão teórica, passa a ser esteticamente experimentação52. Os textos de Brecht, segundo os tradutores da versão portuguesa, Urs Zuber e Peggy Berndt foram escritos e deixados em quatro maços, o primeiro e o segundo em envelopes de tamanho médio que contêm folhas estreitas e recortadas, o terceiro e o quarto em pastas de cartolina de tamanha maior; todos identificados com etiquetas com o título “A compra do latão”; o quarto maço adicionalmente com a referência “peças individuais/folhas individuais” (1999, p.178). 51 Direção de Sérgio de Carvalho e Márcio Marciano, com música de Walter Garcia, preparação musical de Fernando Rocha, iluminação de Wagner Pinto e Paulo Heise, cenografia e figurinos criados coletivamente, com os seguintes atores: Edgar Castro, Gustavo Bayer, Maria Tendlau, Ney Piacentini, Otávio Martins, Vicente Latorre. Particpações eventuais de Deborah Lobo, Francisco Bruno e Georgette Fadel, e Heitor Goldflus na temporada de 2000 (CARVALHO, Sérgio (org). Introdução ao teatro dialético, São Paulo: Expressão Popular; Companhia do Latão, 2009, p 265). 52 O Berliner Ensemble encenou A Compra do latão em 1963, como Noite brechtiana n. 3. 160 Percebe-se, portanto, a estrutura fragmentada dos escritos, feita em “fases” distintas de trabalho. Essa forma gera uma dificuldade de compreensão ao mesmo tempo que revela o incessante trabalho de revisão, acréscimo, modificações de Brecht em seus materiais. De todo modo, como afirma os tradutores, o princípio estruturante nas diferentes fases de trabalho são as quatro noites (p.178). Compõe o diálogo os personagens: O filósofo deseja utilizar sem limitações o teatro para os seus fins. Este deve fornecer imagens fiéis dos processos entre os homens, e permitir uma tomada de posição dos espectadores. O actor deseja expressar-se. Quer ser admirado. É para que lhe servem a fábula e os caracteres. A actriz deseja um teatro com uma função social de caráter educativo. Ela é politizada. O dramaturgista põe-se à disposição do filósofo e propõe-se pôr as suas capacidades e conhecimentos à disposição para a conversão do teatro no taetro do filósofo. Espera uma revivificação do teatro. O maquinista do teatro representa o público novo. É o operário e está descontente com o mundo. (p.12) Durante as quatro noites o Filósofo irá contrapor o seu ponto de vista sobre arte às expectativas e pontos de vista dos demais personagens, esclarecendo seus propósitos e opiniões sobre o naturalismo, realismo, marxismo, técnicas de representação. Temas e assuntos vários que se dão por meio de diálogos e também demonstrações. Segundo Brecht, o Pequeno organón para o teatro é um breve resumo da A compra do latão tesis principal: que um determinado aprender es el mayor placer de nuestra época, de modo que debe desempeñar um papel importante em nuestro teatro. de esa manera pude tratar el teatro como uma empresa estética, lo cual me facilita la descripción de las diversas novidades. queda borrada así la mácula de abstracta, negativa, no-artística, que la estética imperante há impresso a esa actitude crítica respecto al mundo social. (BRECHT, 1979, p. 163) A estrutura teatral de A compra do latão é mantida na peça do Latão, assim como trechos dos diálogos, com algumas alterações; os personagens da peça brasileira são: Dramaturgista, Diretor, Ator-Hamlet, Atriz-Ofélia, Ator-Polônio, Assistente de televisão, Iluminador e Sandra. Como no material de Brecht, logo no início do texto, a rubrica expõe os traços dos personagens. Em Ensaio sobre o latão, ainda no saguão do teatro, o espectador é concebido como ator. Convidado pelo Dramaturgista, o público entra no teatro. Em cena o Diretor dá marcas de encenação ao Ator-Hamlet. Interrompe o “ensaio” e diz ao público 161 Senhores novos atores, bem-vindos. Nesta primeira noite de ensaio espero que não estranhem nosso método de trabalho, embora deva ser estranhável. Dentro de algumas semanas, vamos estrear um espetáculo, baseado num texto clássico, empreitada para a qual necessitamos da colaboração dos senhores. Os experimentos que vamos realizar durante o período de ensaios diferem um pouco desse, que os senhores acabaram de presenciar, e serão nossa matéria de transformação até o dia da estreia. DRAMATURGISTA – Senhor, que tipo de experimentos vamos fazer? DIRETOR - Todo tipo. DRAMATURGISTA – Antigos e novos? DIRETOR – Antigos e novos. (CARVALHO, 2009a, p.269) E assim se encadeia a peça: ensaiando Hamlet, as cenas são comentadas e ideias são explicadas. Algumas narrações dão conta da passagem do tempo e, como consequência, dos ensaios, que invariavelmente terminam com discussões entre os personagens. É possível uma leitura com a seguinte estrutura: na primeira noite de ensaios o público espectador da peça é convidado a ser também ator. Quando entra no teatro o espectador é confrontado com a cena – em ensaio – cena II, do ato I de Hamlet. Muda-se a luz para a narração do Ator-Polônio “naquela primeira noite de ensaio, os atores da companhia realizaram uma série de experimentos com personagens clássicas. O Diretor, não satisfeito, insistia na importância dos acontecimentos, o que gerou uma reação por parte de alguns atores” (CARVALHO, 2009a, p.272) O Diretor, após o debate com o Dramaturgista e o Ator-Polônio, dá a explicação do experimento (tanto dos ensaios, quanto do Ensaio). DIRETOR – Imaginem um comerciante de latão que um dia vai visitar uma banda de música. [Tira som do objeto de bronze.] Ele vai lá, não para comprar um instrumento, mas o latão. O instrumento é feito de lata, mas há pouquíssima chance do instrumentista querer vende-lo pelo preço do quilo do latão. Eu, assim como esse comerciante, estou aqui à procura da matéria dos acontecimentos que se produzem entre os homens (...) Tenho uma curiosidade infinita pelo homem. Vê-lo, ouvi-lo. Me interessa a forma com que os homens se tratam. O modo como vendem cebolas, como planejam suas guerras, como decidem seus casamentos. Como observam o céu. Como se enganam, como se exploram, se julgam. Porque me pergunto como devo eu me comportar para ser tão feliz quanto possível. E sei que isso depende também da forma com que os outros se comportam. Por isso me interessa também a possibilidade de influir sobre os demais. (CARVALHO, 2009a, p.273) 162 Na segunda noite, anunciada pelo Ator-Hamlet como tendo passado semanas, em ensaio, a cena é confrontada com material de pesquisa de rua, quando o Fantasma do Rei Hamlet, da Dinamarca, pai de Hamlet equipara-se a um catador de latas numa praça. Pelo diálogo, não se “misturam” o material clássico e a observação de rua e um elemento entra em choque com o outro. A cena I, do terceiro ato de Hamlet sofrerá o mesmo tratamento, quando a Atriz-Ofélia e o Ator-Hamlet são aproximados a uma adolescente vulgar e um rematado canalha53. A Atriz-Ofélia narra pedagogicamente ao público: “do ponto de vista de uma bola que está num jogo qualquer, as leis do movimento são praticamente inconcebíveis” (CARVALHO, 2009a, p.278). Nessa pequena declaração, presente no texto de Brecht Poderá o mundo de hoje ser representado pelo teatro?, no qual o dramaturgo afirma, mais uma vez, a necessidade de não mais representar o homem como uma vítima, como objeto passivo de um ambiente desconhecido, imutável, reforçando que a reprodução do mundo pelo teatro é de ordem social, o mundo é concebido como suscetível a modificação, a narrativa prepara o espectador para a cena em pantomima, de rua54. Nela, os pontos de vista são modificados e do atropelamento de um ancião trôpego passa a ser encenado outra possibilidade de compreensão do ocorrido – de trôpego ele é apresentado mais “libidinoso” e outros personagens entram em cena demonstrando os seus pontos de vista. Tudo acontece em cena, sem palavras, com os gestos dos atores. Ao final o Diretor explica: Esse teatro de todos os dias, que tem na rua o seu palco! [Ouve-se a banda de música oriental, com a qual ele dialoga.] O homem na calçada, vejam: está mostrando como o acidente ocorreu. Ele submete o motorista à sentença da multidão, pela maneira como vai ao volante. E agora faz o papel do atropelado, pelo visto um ancião. De um e de outro ele só diz o indispensável. E dá a entender que ambos poderiam ter evitado o acidente. E o acidente é compreendido embora incompreensível, pois tanto um como outro bem poderia ter agido de outra forma. Em seu testemunho ocular ele não atribui a sorte dos mortais a estrela alguma, mas às próprias falhas. (CARVALHO, 2009a, p.281) 53 No texto, quando há a inserção de falas retiradas diretamente do clássico Hamlet, o personagem é assim identificado. Quanto há alterações, o personagem é identificado como Ator-Hamlet, assim como os demais personagens. 54 No ensaio, Brecht coloca a questão a partir de sua experiência no Berliner Ensemble e das transformações em operação na Alemanha Oriental. Acho oportuno deixar registrada a passagem: Já há muitos anos que venho mantendo esta opinião, e moro atualmente num país onde está se efetivando um esforço gigantesco para modificar a sociedade. Podem condenar os meios e os processos – espero, aliás, que os conheçam de fato, e não por intermédio de jornais -, podem rejeitar este ideal específico de um mundo novo – espero também que o conheçam -, não hão, porém de pôr em dúvida que, no país onde vivo, se trabalha para a modificação do mundo, para a modificação do convívio dos homens. E talvez concordem comigo em que o mundo de hoje precisa de uma transformação (2005, p.21). 163 A narrativa é esclarecedora pois afirma que a forma de se contar uma história implica o público em determinado julgamento; se a encenação mostra um motorista desatento é possível à multidão atribuir-lhe uma sentença (nesse primeiro contato com o Brecht se anuncia uma forma de trabalho que estará presente nos demais espetáculos da Companhia: a encenação precisa demonstrar que está apresentando ao espectador um ponto de vista). Embora demonstrada, ainda o Ator-Polônio questiona os propósitos do Diretor. A terceira noite é anunciada pelo Dramaturgista: haverá um teste de elenco com os atores, feito pelo Assistente de televisão, procurando tipos que representam o padrão nacional. Os testes que procuram o physique du rôle para os personagens televisivos são feitos pelos atores utilizando o material clássico, numa outra experimentação do curto-circuito de materiais e expectativas. Após os testes, penso que a principal sugestão de Ensaio sobre o latão, insinuada já no início do espetáculo, é explicitada. O Assistente de vídeo deixa a cena: a música do gamelan encerra a sequencia de testes. O espaço é preparado para mais um debate. ATOR-POLÔNIO [Narra] Naquela terceira noite de ensaio, após os testes, os atores se envolveram em mais uma discussão. DRAMATURGISTA [Em crise] O nosso espetáculo está à beira de estrear e eu me pergunto: para quê? ATOR-POLÔNIO – Como para quê? DRAMATURGISTA – O espectador de hoje não está satisfeito com o que assiste. O teatro perdeu a capacidade de convencimento. ATOR-POLÔNIO – Sempre existiram espectadores descontentes. DIRETOR - Eu não tenho a menor dúvida que é para eles que nós devemos nos dirigir: aos descontentes. DRAMATURGISTA – Talvez a saída seja retornar ao que é exclusivo do teatro: um homem em cena representando para outro homem. ATOR-POLÔNIO – Nesse momento eu digo a ele que não tenho dúvida disso. É preciso retornar ao essencial, aos valores eternos do ser humano. DIRETOR – Eu não acredito. ATOR – Em quê? DIRETOR – Nesses valores eternos. ATOR-POLÔNIO – E acredita em quê? 164 DIRETOR – Que tudo se transforma e é próprio apenas de seu tempo. Acredito nas sentenças dos homens efêmeros, nos acontecimentos da história. ATOR- POLÔNIO – Lá vem ele com os tais acontecimentos. Diretor – Representados como se pudéssemos escrever a data em cima. Mesmo o que se passa agora, quando nós conversamos, deveríamos considerar como um quadro, como um quadro histórico. [Pausa. Faz-se um silêncio mais profundo.] DRAMATURGISTA – Eu então pergunto ao diretor; Como perceber nos acontecimentos seu caráter histórico? Como fazer para traçar o sentido dessa confusão em que vivemos? DIRETOR – E eu respondo: a primeira coisa que nós atores devemos aprender é a arte da observação. A observar, atentamente, o rosto de cada um. E esse aprendizado deve começar lá fora. Na rua, em casa, no metrô. Observar o estranho como se fosse conhecido, o conhecido como se fosse estranho. Para observar é preciso comparar. E para comparar, é preciso já ter observado. Mas a arte da observação, aplicada aos homens, é só um ramo da arte de agir sobre os homens. E é nisso que estamos interessados: na arte de agir sobre os homens. ATOR-HAMLET [Anuncia como um narrador] Quarta noite de ensaio: véspera da estreia. Os técnicos do teatro fazem os últimos ajustes na iluminação. O olho produz. Belo é resolver dificuldades. ILUMINADOR [Representada pelo mesmo ator que fez o Assistente de vídeo, ele manipula uma escada] Sou o ator que vai representar o iluminador, mas vou logo dizendo que não tenho todo o tempo do mundo para fazer essa luz (CARVALHO, 2009a, p.291-292). No debate busca-se esclarecer o espectador quanto ao ponto de vista desse coletivo teatral, que começa a construir um projeto estético: o Latão não parece ser um grupo que buscará levar a cena “valores eternos” e possivelmente, nessa escolha, não atingirá espectadores “contentes”. Como pretende fazer isso? Assim como exige de seus atores a “arte da observação”, o espectador que se aproxima do ator também é solicitado a observar, em comparar, em estranhar àquilo que é lhe familiar e fazer familiar àquilo que lhe estranho. Para esse espectador descontente, belo não é ver uma cena bem-feita, acabada, mas estar disponível para “resolver dificuldades”. Qualquer cena, ou peça, se propõe a isso? Obviamente que pela assunção do Assistente de vídeo como Iluminador, na última noite de ensaios, está claro que não. A nomeação do personagem determina uma função na produção cultural e esta é, ou não, desempenhada por àquele que a assume. Entrar em contradição com aquilo lhe é designado como função e a dificuldade, limites, obstáculos de formação de tal 165 ambiguidade, de uma certa forma, será o assunto das peças da Companhia. É a modelação mais madura por permitir observar as contradições do processo cultural, pois não incide num julgamento individualizante e moralizador ao mesmo tempo que abre a percepção para a historicização! O Iluminador, no Ensaio, é uma personagem contraditória, que no topo da escada, observando a cena do ensaio de Hamlet e marcando os momentos passo a passo, dando a eles o tom desejado, sofrerá um “choquinho de 220 volts”. Como observou Marcelo Coelho na crítica da peça publicada na Folha de São Paulo em 15 de setembro de 1999, o Iluminador é autoritário, objetivo, técnico, ele quebra não só a dramaticidade do texto shakespeariano como também as inquietações teóricas em que se debate a companhia. Naquele momento, ele rege o espetáculo. Seu repentino poder se choca, entretanto, com a materialidade do ofício: ajustando uma lâmpada, sofre um acidente cômico. (CARVALHO, 2009a, p.213-14) Com o black-out, os atores começam a encenar, narrativamente, um material de rua, uma conversa em um bar com uma prostituta. Após a cena de Sandra, feita pelos atores AtorPolônio, Ator-Hamlet e Diretor, exercício cênico de alto grau de estranhamento, o Dramaturgista anuncia a noite de estreia. Na estreia, ainda, o Diretor muda uma cena da peça e retira o estilo heroicizante de anúncio do exército de Fortimbrás e altera seu sentido. O Ensaio tem seu fim com uma fala do Ator-Iluminador: [Para a cabine] Iluminador, um pouco mais de luz sobre o palco. Nós precisamos de espectadores despertos e atentos. Faça-os sonhar em pleno dia (p.300). Vamos aos termos, retomando o rendimento do Iluminador, a partir do comentário de Marcelo Coelho: como primeiro experimento do Latão como coletivo, esboça-se uma compreensão sobre o método de Brecht: o teatro épico não é um estilo de cena, tampouco uma técnica – o Iluminador pode ser autoritário, objetivo e técnico – mas um exercício de composição que busca retirar de um sentido, que deve estar explícito para o espectador – a mudança da compreensão do exército de Fortimbrás (retirado o tom heroico percebem-se uns maltrapilhos em busca de pão) – sua consequência esclarecedora. A técnica, pedagogicamente realizada na cena de Sandra, deixa, por sua vez, um efeito técnico, ainda que pela exímia execução a humanidade da personagem se deixe perceber pela performance de três atores – em plena atividade a consciência da linguagem. Em paralelo, uma cena distanciada executada com muita precisão (no vídeo Brecht na Companhia do Latão é possível recuperar o exercício) e outra que deixa em relevo a alteração a partir da compreensão da equipe sobre o seu sentido – em plena atividade a consciência política. Não 166 se quer evidenciar com o paralelismo a melhor escolha para a composição do teatro dialético, mas são exercícios diferentes que produzem, obviamente, resultados que lhe correspondem. Se tomo “apenas” o trabalho técnico do estranhamento, questão muito comum em cursos e oficinas teatrais para atores e também recorrente na crítica e análise acadêmica, o rendimento estará na esfera da realização cênica, com alguns comentários sobre o ineditismo ou não da proposta ou o virtuosismo dos atores; se tomo o trabalho dialético como um exercício de produção de sentido, ou sensibilidade, ou ainda de produção simbólica, muito provavelmente o rendimento será de ordem social, ou nas palavras de Brecht, com sexto sentido para a história. Ambos são frequentemente usados pela Companhia e por outros coletivos que se aproximam de Brecht e é curioso que no primeiro experimento do Latão estejam apresentados em sequência. Cabe aqui uma última nota sobre a e A compra do latão, antes de comentar a aproximação de Ensaio sobre o latão e a Ópera dos vivos, Na quarta noite, entre os diálogos do Filósofo, Actor e Dramaturgista sobre a pertinência de representação de velhas obras-primas, o Filósofo apresenta a seguinte imagem A atitude clássica mostrou-ma um velho operário de uma fábrica de fiação que uma vez viu, em cima da minha secretária, uma faca muito antiga, parte de um faqueiro de camponeses, que utilizava como corta-papel. Pegou o belo objeto com a sua mão e enorme e cheia de gretas, examinou de olhos semicerrados o pequeno cabo de madeira dura incrustado de prata e a lâmina fina, e disse: Então já naquele tempo, em que ainda acreditavam em bruxas, foram capazes de fazer uma coisa assim. Vi perfeitamente como sentiu orgulho por este trabalho cuidado. Hoje em dia já fazem aço melhor, continuou, mas como nos fica na mão! Hoje fazem facas que parecem martelos, já ninguém equilibra o cabo e a lâmina. É verdade, se calhar alguém trabalhou nisto durante dias. Hoje em dia fazem-nas em menos que nada, só que o resultado poderia ser melhor. (BRECHT, 1999, p.112) Para Brecht, a representação necessariamente prazerosa é aquela que “cabe na mão” e produz, tem utilidade para também um público “determinado”, o Maquinista do teatro, aquele que representa o público novo, o operário que está descontente com o mundo. O realismo brechtiano é feito para este público. Na terceira noite se dá o seguinte diálogo que pode esclarecer minha afirmação: ACTOR – Estás a compreender, o público vê acontecimentos perfeitamente íntimos sem que ele próprio seja visto. É exatamente como se alguém observasse pelo buraco da fechadura uma cena entre pessoas que não têm a mínima ideia de não estarem sós. É claro que, em realidade, arranjamos tudo de tal maneira que tudo possa ser visto sem dificuldade. Simplesmente, este arranjo é ocultado. 167 FILÓSOFO – Ah, sim, então o público admite tacitamente que não se encontra no teatro, uma vez que aparentemente sua presença não é registrada. Fica a ilusão de estar em frente do buraco de uma fechadura. Mas então deveria esperar e só bater palmas quando estivesse no bangaleiro. ACTOR – Mas o público, com as suas palmas, confirma exatamente que os actores conseguiram representar como se ele não estivesse presente! FILÓSOFO – Temos mesmo necessidade deste complicado acordo secreto entre ti e os actores? MAQUINISTA – Eu não preciso dele. Mas talvez os actores? ACTOR – Acha-se que é necessário para uma representação realista. MAQUINISTA – Eu sou a favor da representação realista. FILÓSOFO – Mas também é uma realidade que se está num teatro e não em frente de um buraco de uma fechadura! Como pode ser realista escamotear este facto? Não, queremos deitar abaixo a quarta parede. O acordo fica então sem efeito. No futuro, não tenham problemas em mostrar que tudo é arranjado para nos facilitar ao máximo a compreensão. (BRECTH, 1999, p.110) O primeiro desmonte deve partir da cena. A encenação é a produtora primeira da relação e se os seus produtores desconhecem tal relação apenas reproduzem o aparato técnico do qual fazem parte sem saber que o fazem – próximo à ação do Assistente de vídeo. A partir do momento que compreendem que mantém uma relação “romantizada”, ou automatizada, como no caso do Assistente, passa a se ter um real interesse pela verdade das coisas. A mudança, ainda no Ensaio, está em processo, e, em experimentação e me parece que o Latão desconfia, também, da sua capacidade de iluminação. É a contradição posta em cena, sem as certezas que Brecht depositava no Maquinista do teatro; mas é claro que o Iluminador, operador do capital, pode recuperar o sexto sentido para história. Como estudo do material de A compra do latão, o projeto estético do Latão se esboçava em torno da perspectiva de trabalho poético de Brecht: incluir a crítica estética à linguagem representacional utilizada − o teatro brechtiano não é um teatro não dramático, não cômico, não operístico ou qualquer negação outra que se queira delimitá-lo; é um teatro dramático, cômico, operístico quando lhe convém e que deixa à mostra sua funcionalidade em cena. Ensaio sobre o latão é um experimento sobre a forma, devedora muito dos temas da A compra do latão: as cenas de rua e a relação com os clássicos. Para a primeira, algumas falas reproduzidas acima dão conta da compreensão de Brecht sobre o “material de rua”; sobre os “clássicos”, numa conhecida passagem de Brecht em A obra clássica intimidada 168 Cada vez mais, a bem dizer por desleixo, tomba maior quantidade de pó sobre as grandes obras da pintura antiga, e, quando se fazem reproduções delas, reproduzem-se também, mais ou menos diligentemente, as manchas de pó. Perde-se, assim, sobretudo, a frescura original da obra clássica, o caráter que possuía outrora, surpreendente, novo, criador, e que era uma das suas características essenciais. A forma de representação tradicional coaduna-se ao comodismo dos encenadores, dos atores e do público, simultaneamente. Substitui-se a profunda emotividade das grandes obras por um mero temperamento dramático, e o processo de cultura a que se submete o público, é, em contraste com o espírito combativo dos clássicos, tíbio, acomodatício e com fraco poder de intervenção. (BRECHT, 2005, p.122) Penso que a mesma postura solicitada por Brecht em relação aos clássicos é assumida pelo Latão em relação à Brecht, o que faz com que o acione exatamente para compor uma cena não conformada, que apresenta problemas e não soluções. Aproximei Ensaio sobre o latão à Ópera dos vivos por alguns motivos óbvios: alguns materiais são revisitados, com outros enquadramentos, como o questionamento de Júlia em conversa com Paulo Funis sobre os motivos que levam os atores a encenar personagens clássicos (segundo ato), ainda quando um dos panfletos jogados a plateia no show narrativo foi retirado de A compra do latão (há fases em que os sonhos/não se convertem em planos/nem as intuições em conhecimentos/nem a nostalgia nos incita/a nos movimentarmos./Esses são maus tempos/para a arte), ou ainda quando, no diálogo da quarta noite, se diz sobre as condições do trabalho dos artistas que se não percebem como trabalhadores também se alinham ao que resta de ilusório: o amor ao trabalho. Na Compra do latão o Maquinista do teatro é o único a ter certeza que essa é uma exigência ruim. Em Ópera dos vivos ela é dada, com algumas alterações, por Dora Helena quando esta conversa com o Moço da cozinha: NARRAÇAO – Na cozinha. DORA HELENA – (sobe no cubo, do lado oposto à imagem, com uma cenoura na mão) Isso é para o Ivan? Ivan? É um cavalo marrom, com uma estrela branca na testa. MOÇO DA COZINHA – (do lado oposto à Atriz, junto com a Moça da Cozinha com uma faca) Mais um copinho? DORA HELENA– Não, eu estou bem. (tapa os olhos com medo) Moça, você não tem medo de cortar o dedinho na faca? É, é o seu trabalho... E você é feliz com ele? Quem é, não é? Tanta gente trabalhando. A gente esquece que para as coisas funcionarem precisa de tanta gente. Mas seria bom que todos amassem o que fazem. Quem ama, não é? MOÇO DA COZINHA – (para a Moça) Ela é esquisita, mas é viva). Se no Ensaio sobre o latão, a encenação deixava compreensível uma postura solicitada ao espectador pela sua “identificação” como atores, mas ainda distanciada pois os mecanismos eram, passo a passo, exemplificados e explicados, desmontando-os de um ponto 169 de vista formal, nesses anos de estudo e experimentos cênicos, que Ópera dos vivos é uma “avaliação”, o espectador é posto pra dentro da encenação, como se não bastasse mais a apresentação dos pontos de vista formais; o espectador precisa tomar parte do processo da cultura e perceber os pontos em que ela também é produção ideológica que se faz com a sua participação. Em Ópera, narra-se a história do país e ao fazê-lo, da forma como elegeu o Latão, o espectador necessariamente precisa fazer parte como trabalhador (lembro que na Compra do latão o Maquinista é o público descontente, o operário; no Ensaio sobre o latão, o Iluminador é o ator e o Latão não o compara com o público); de um certo “didatismo” necessário no primeiro Ensaio, o espectador de Ópera é, antecipadamente, àquele que “opera”, materializa também a cena e tem todas as condições de compreender sua posição. Tal mudança, obviamente, minimiza a dúvida quanto à função “esclarecedora” que cabe, também obviamente em parte, ao trabalho teatral. Como se na fala do Moço da cozinha também estivesse uma verdade sobre o Latão: ela é esquisita, mas é viva. Retomo, então, o comentário de Roberto Schwarz: As quatro partes são independentes, como vocês mesmo dizem no programa, cada uma é muito elaborada (...) Do ponto de vista do espectador, o problema maior é como articular os quatro, e isso faz que a ideia da peça seja inteiramente não dogmática (...) Então é uma concepção de conjunto que sugere a formação de uma consciência histórica sem dar nenhuma dica sobre como formar (...) e muito acertada em relação ao estado geral da consciência contemporânea. Então, você dá parte de um processo dos últimos cinquenta anos e o espectador é que se arranje pra pegar esse significado. Então, mal ou bem, a coisa mais exigente da peça é discutir um pouco essa evolução. E aí eu acho que tem um pouquinho o problema, porque como vocês explicam no programa também, as peças não são sobre a realidade, as peças são sobre a linguagem. É arte sobre arte, não é arte sobre processo histórico, é arte sobre arte e através do arte sobre arte há uma sugestão do que seria realmente o processo histórico. (...) E isso faz também com que o espetáculo seja muito intelectualizado, porque ele requer para uma boa apreciação alguma reflexão sobre todas essas matérias que foram tratadas por outros artistas. De certo modo, a melhor maneira de ver a peça requer que se saiba o que foi o CPC, que se saiba o que foi Terra em Transe, quer dizer, a matéria não se apresenta de maneira imediata; a matéria se apresenta através do tratamento que outros artistas deram dela. Como é muito acertado a peça não falar do arco geral dos últimos cinquenta anos e deixar para o espectador, onde ela trabalha mesmo sobre a linguagem, se coloca um pouco a questão: e o que eu aprendo? Busquei na análise de Ópera dos vivos traçar os rendimentos da “dialética de superação”, da “paródia glauberiana”, da “caricatura tropicalista” e do “fragmento televisivo” 170 como formas ideológicas em operação em contraste com as condições extra-teatrais (como disse anteriormente, penso que há uma provocação incisiva à outros coletivos e grupos teatrais, signatários do Arte contra a barbárie, ou simpatizantes a seus pressupostos, que utilizam os recursos alegóricos e tropicalistas como modelações per si críticas. O trabalho da linguagem, em certa medida, dialoga com estes grupos. No presente estudo, priorizei o diálogo com o espectador). Tentei analisar o que eu aprendi ao ser confrontada com esses “pastiches” e talvez caiba aqui uma última observação de tentativa de compreensão da forma de Ópera dos vivos e que de fato é sua ideia ordenadora. A primeira “dimensão” da peça é a do enfrentamento entre proprietários de terras e trabalhadores rurais, a última, no quarto ato, a do fetichismo do capital. Tanto a primeira quanto a última são apresentadas de formas estéticas negativas − aliás os atos são todos “negativos” em sua composição dramática, pois revelam a todo instante os seus limites: da alegoria trágica, e mesmo do teatro épico. Parece que o percurso representacional de Ópera dos vivos formaliza as condições mesmas do capitalismo atual, no qual o jogo é a “dinâmica destrutiva e excludente do fetichismo do capital” (SCHWARZ, 1999). No prefácio ao livro de Robert Kurz, O colapso da modernização, Roberto Schwarz faz o seguinte apontamento a crise do capitalismo se aguça no momento mesmo que a classe operária já não tem força para colher os seus resultados. A versão última do antagonismo não será dada pelo enfrentamento entre burguesia e proletariado, mas pela dinâmica destrutiva e excludente do fetichismo do capital, cuja carreira absurda e m meio aos desabamentos sociais que vai provocando pode ser acompanhada diariamente pelos jornais. O movimento vai em direção de uma nova idade das trevas, de caos e decomposição, embora o processo produtivo, considerado em sua materialidade e envergadura planetária, e apartado da carapaça concorrencial, exiba os elementos de uma solução, que o autor valentemente chama pelo nome de comunismo. (SCHWARZ, 1996, p.14) Na peça do Latão acompanhamos um desenvolvimento “dramático”, das relações entre os personagens, análogo ao de decomposição, como uma sugestão do que seria o processo histórico. Por este prisma crítico, conforme Schwarz, “o Marx da crítica ao fetichismo da mercadoria será mais atual que o da luta de classes” (p.15). Lembro, então, que a crítica de Roberto Schwarz foi escrita em 1992, quando o livro foi publicado no Brasil. Na versão publicada em Sequencias brasileiras, o texto que serviu como prefácio ao livro inclui um trecho de outro trabalho: Ainda o livro de Kurz, de 1993. 171 O livro de Kurz procura adivinhar e construir o movimento do mundo contemporâneo, que trata de colocar em forma narrativa. Esta se vale de operações intelectuais díspares, sem nada de épico em si mesmas, das quais entretanto depende a força do andamento de conjunto – como aliás ocorre no romance moderno (...) Por um lado, a multiplicidade dos procedimentos, cada qual dependente de disciplina intelectual e estilo literário próprios, atende a esta noção de um presente complexo. Por outro lado, ela configura a promiscuidade (no bom sentido) em que vivem o jornalista, o filósofo, o economista, o historiador, o literato, o agitador etc. no interior do sujeito que busca fazer frente à experiência do tempo, por escrito e para uso do próprio. Diferentemente da epopeia de Marx, que saudava a abertura de um ciclo, a de Kurz é inspirada pelo seu presumido encerramento. Se em Marx55 assistimos ao aprofundamento da luta de classe, onde sucessivas derrotas do jovem proletariado são outros tantos anúncios de seu reerguimento mais consciente e colossal, em Kurz, cento e cinquenta anos depois, o antagonismo de classe perdeu a virtualidade da solução, e com ela a substância heroica. A dinâmica e a unidade são ditadas pela mercadoria fetichizada – o anti-herói absoluto – cujo processo infernal escapa ao entendimento de burguesia e proletariado, que enquanto tais não o enfrentam. (SCHWARZ, 1999, p.188) A representação teatral materializa a perspectiva crítica sobre o impasse no avanço da luta de classes, a que sustenta que a crítica deve ser feita a partir do fetichismo da mercadoria. Parece ser esse também o movimento da peça, e a “solução” dada pelo epílogo, idealmente e ideologicamente composta, é o contraponto a essa perspectiva, o que não deixa de confrontar, sem solucionar, as formas da crítica anticapitalista na atualidade; a dramaturgia cênica, que materializa o processo histórico como a desintegração do antagonismo de classe rumo ao fetichismo da mercadoria, é confrontada, com o epílogo “extra-teatral”. A poética alcança a crítica da ideologia próxima aos termos do método da crítica à religião em Marx: a alienação é compensada por uma ilusão de um ser, Deus, que objetiva as qualidades humanas, fazendo, entretanto que sucumba a essa ilusão, sem deixar de ser uma expressão da miséria real. Segundo Peter Bürger O modelo marxista da crítica dialética da ideologia foi transposto, entre outros, por Georg Lukács e por Theodor W. Adorno para a análise de obras individuais e de conjunto de obras. (...) Aquilo que Lukács e Adorno adotam do modelo de Marx é a análise dialética do objeto ideológico. Este é apreendido como contraditório, sendo tarefa da crítica expressar essa contraditoriedade em conceitos. No entanto, pelo menos duas diferenças essenciais podem ser constatadas com relação ao procedimento do jovem Marx. Para ele, crítica da religião e crítica da sociedade coincidem de modo geral. (...) A relação entre crítica da ideologia e crítica da sociedade é, em Lukács e Adorno, francamente diversa da encontrada no jovem Marx. (...) A análise crítico-ideológica de obras se distingue ainda do modelo de Marx 55 Roberto Schwarz, em passagem anterior, aproxima a composição narrativa do livro de Robert Kurz ao 18 brumário de Luís Bonaparte, de Karl Marx. 172 num outro aspecto: pela ampla renúncia à apreensão da função social do objeto ideológico. Enquanto Marx, além do caráter contraditório da religião, discute ainda o caráter contraditório da função social da religião (que é consolo e, com isso, ao mesmo tempo impede a ação transformadora da sociedade), na análise individual, tal como a exercitam Lukács e Adorno, a problemática da função social desvanece-se consideravelmente. Esse desvanecimento requer com mais razão ainda uma explicação, se considerarmos que o aspecto da função é inerente ao modelo de Marx. A renúncia de Lukács e Adorno a uma discussão da função social da arte tornase compreensível, ao nos darmos conta de que ambos fazem da estética da autonomia – não importa quão modificada – o ponto de fuga de suas análises. Ora, na estética da autonomia está implícita uma determinação da função da arte. Ela é concebida como aquela esfera social que se destaca do cotidiano burguês, ordenado segundo a racionalidade de fins, achando-se, justamente, por isso, em posição de criticá-lo. “É social, na arte, seu movimento imanente contra a sociedade, não sua tomada manifesta de posição [...]. Tanto quanto se possa predicar das obras de arte uma função social, esta só pode ser sua carência de função56” (BÜRGER, 2012, p.31-34) Na medida em que a peça avança de um ponto de vista histórico a acompanha a crítica anticapitalista que se faz a partir do fetiche da mercadoria. De certa forma, a dinâmica da peça estrutura o reconhecimento do fetichismo da mercadoria se repondo conforme a “neonaturalização” do capital, portanto, a imagem espetacular que a montagem deixa acumular se revela como a objetivação do fetiche da mercadoria – e também revela sua função social −, esta uma representação ideológica crítica, contudo, para o Latão, uma “falsa consciência” – vejamos, então, que o Latão está mais próximo do jovem Marx do que de Adorno e Lukács. Em Morrer de pé, por exemplo, a alienação é compensada – é consolo também do ponto de vista crítico − pelo reconhecimento do espectador: temos consciência que a telenovela e os subprodutos televisivos são ideologicamente orientados; temos consciência que os negros ocupam postos subalternos; temos consciência que o mundo do trabalho produz sujeitos doentes. Para Brecht, “basta perguntar: o momento de realidade em questão está suficientemente exposto ao exame causal ou não?”. (BRECHT, 2002, p.161), porém, mesmo em Brecht, o que fazer quando não houver mais nada para desmascarar... Usando a sugestão de Peter Bürger sobre a coincidência entre a crítica da religião e crítica da sociedade, a crítica à ideologia anticapitalista sobre o fetichismo se fez coincidindo à organização do trabalho produtivo e produção de mercadorias, se tornando a ideologia principal anticapitalista no mesmo movimento da ideologia principal do capitalismo moderno, segundo Roberto Schwarz (2008, p.141). O que essa “ideologia conceitual”, a que derrota a luta de classe como possível superação, diz aos artistas do Latão no início do século XXI? Jorge Grespan, em entrevista realizada pelo coletivo em 2007, foi assim questionado: 56 Citação feita pelo autor de Teoria estética, de Theodor Adorno. 173 A ênfase no tema do fetichismo, tal como feita por parte da escola de Frankfurt, quando diz que somos todos funcionários do capital e que o “o sujeito está esmagado” não pode levar, no limite, a uma neonaturalização do capital, àquela perspectiva fatalista de que nada se pode fazer em relação aos processos capitalistas? (VINTÉM, 2007, p.19) A rigor, se a peça acaba com o suicídio de Perene pelo movimento da crítica anticapitalista advinda da ideia de fetichização da mercadoria, cabe uma outra análise crítica no sentido de problematizar, materialmente, os conceitos utilizados pela crítica – e a verdade épica de Ópera dos vivos é problematizar, depurar, e, principalmente, funcionalizar a crítica anticapitalista. Em última análise, a formalização se contrapõe à crítica dos ideólogos do “fim da luta de classes”. O procedimento demonstra um “sistema ideológico” do ponto de vista de outro, que subjaz à toda a peça, mas que é retomado como força deslocada através do epílogo. A contradição das duas construções analíticas, harmonizadas, é a contradição de base de Ópera dos vivos, no seu movimento histórico. Salvo engano, se em Ensaio sobre o latão – e em demais peças − como afirmei anteriormente, é a construção de personagens em contradição com sua função que permite a historicização o mesmo procedimento é utilizado em Ópera dos vivos para a funcionalidade da crítica anticapitalista. A questão é que a crítica ao fetiche da mercadoria produz, no máximo, o “aborto” de qualquer tentativa de desalienação. Para lembrar Roberto Schwarz: “quer dizer, ninguém escapa da formamercadoria e ninguém pode agir como se estivesse fora dela. As soluções têm que ser achadas a partir dela e não a partir da ausência dela”. Como “síntese” do trabalho do Latão, pelas palavras de Sérgio de Carvalho: Como alguém interessado nas particularidades vivas do mundo real, como alguém que encontra no trabalho coletivo de arte um indício simbólico da realização de uma vida menos alienada e pré-determinada, eu não consigo achar que vale a pena uma perspectiva crítica em que o rigor analítico não se conjuga ao gosto pela produção viva, em que a lucidez sobre o que é não mobiliza a invenção do que podia ser. E não considero verdadeira uma visão de mundo que parece estabilizar o processo da dominação capitalista ao decretar como absoluto o esmagamento do sujeito, desconsiderando o sentido político da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção. Já vi, no campo da arte, isso redundar em neonaturalização do capital (convertido na famosa imagem da “máquina-cega”) ou um fetichismo estético, que aposta no simbolismo da liberdade criativa em abstrato, como se a arte fosse um lugar do puro sensível que não se contamina pelas formalizações da vida (CARVALHO, 2009a, p. 47-48). 174 Mas é claro que há no “desenvolvimento teatral” a percepção da ausência de um “correlato social” que “assuma” o epílogo como o personagem-sujeito histórico, por isso ele apenas comparece como idealização – que não encerra no palco, nem através do epílogo, muito menos nos atos, uma verdade completa. Muda-se a função convencional do teatro, nos termos de hoje acomodada entre fruição e consumo, alterando, também, a função do espectador. Mas o que esperar dessa burguesia – essa que frequenta o teatro? Seu limite está no limite de ordem social. No atrito do palco-plateia, a peça-estudo sintetiza o movimento da ideologia de crítica ao capitalismo, como que apontando para a continuidade histórica que se dá via a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção – por isso das imagens sobrepostas ao final do espetáculo. Há que se reforçar, então, a nota quanto à “eficiência simbólica” de Ópera dos vivos: o estudo implica na análise das formas culturais de produção ideológica: teatro, cinema, canção e televisão são meios pelos quais se produz e reproduz uma sensibilidade sobre a realidade. Assim, estão dispostas, como estudo, em suas materializações. O estudo de Paula Kropf, em Poderá ser o mundo de hoje representado pelo teatro? – algumas experiências no Brasil, dissertação de mestrado defendida em 2011, sobre a Ópera dos vivos reforça essa chave de análise. No primeiro ato a disposição do teatro épico trabalha, assemelhado ao período em que relata, um modo de pensar questões coletivas. O filme, no segundo ato, “mostra um movimento de expansão dos meios de divulgação e produção cultural, a esfera da circulação, a partir do grupo de teatro comunista, do jornal, o filme e os shows em bares” (KROPF, 2011, p.123). O terceiro, a partir de uma observação de Roberto Schwarz sobre o Tropicalismo, na qual a “ambiguidade análoga aparece na conjugação de crítica social violenta e comercialismo atirado, cujos resultados podem facilmente ser conformistas, mas podem também, quando ironizam o seu aspecto duvidoso, reter a figura mais íntima e dura das contradições da produção intelectual presente” (SCHWARZ, 2008, p.89), faz com que parte do público, novamente semelhante ao período evocado, julgue-o e o considere “escandaloso”, não pelo seu lado irreverente, mas deliberadamente político. E no último e quarto ato: Ao expor ao público os bastidores do funcionamento da emissora, se evidencia igualmente as relações de trabalho no marco de um capitalismo maduro. A dimensão coletiva do trabalho cultural, presente no momento anterior, se enfraquece ao longo dos anos e se dissipa, sucumbindo aos princípios de uma lógica dominante (KROPF, 2011, p.126) Inserindo o estudo, em cena, sobre pesquisa estética e política, a peça registra formas operativas dentro do campo crítico de projeto anticapitalista, percorrendo a encruzilhada de 175 produzir representações que desarticulam as ideologias, ressaltando as condições sociais mesmas que lhe eram, e, são correspondentes. Nesta demonstração de como as produções culturais manipulam conteúdos ideológicos, a crítica à ideologia representacional se assemelha a um experimento sociológico – nos termos apresentados por Brecht em Processo dos três vinténs − reapresentando transformações sociais e de critério quando, olhado pela atualidade, o teatro épico, a alegoria “trágica” ou ainda “tropicalista” – e o arranjo em atos é o achado para tal perspectiva, pois o desenvolvimento da história se deixa ver em fragmentos – nos conta a história dos vencidos e, também, dos vencedores. Do estudo a que me propus, de tentar demonstrar os mecanismos e procedimentos pelos quais o Latão equilibra, ou articula, o projeto ideológico ao projeto estético, a encenação de Ópera dos vivos é exemplo de como reverbera o estudo sobre a produção ideológica cultural e a realidade, num amplo experimento nos quais as práticas culturais estão à disposição para a observação do espectador, arriscando e confrontando-o às suas próprias expectativas. A semelhança à significação do que foi a filmagem e conflito com a empresa “detentora dos direitos” de a Ópera dos três vinténs, dramatizado como observou José Antonio Pasta em O processo de três vinténs, o Latão põe em causa o seu próprio trabalho, levado a uma situação-limite de produção na esfera capitalista, que tem como recurso último a aguda demonstração de que se constitui, também, como prática ideológica. Já em Ensaio sobre o latão, a ambiguidade do Iluminador, que de tão tecnicamente perfeito precisou levar um choque de “materialidade” indicou em seu projeto estético a consciência de tornar o projeto ideológico uma ferramenta de trabalho e inserção no campo acirrado de formação simbólica e talvez nenhum outro coletivo em atividade no teatro brasileiro a anuncie com tanta lucidez em suas encenações. 176 EPÍLOGO Soube que vocês nada querem aprender Então devo concluir que são milionários. Seu futuro está garantido – à sua frente Iluminado. Seus pais Cuidaram para que seus pés Não topassem com nenhuma pedra. Neste caso Você nada precisa aprender. Assim como é Pode ficar. Havendo ainda dificuldades, pois os tempos Como ouvi dizer, são incertos Você tem seus líderes, que lhe dizem exatamente O que tem a fazer, para que vocês estejam bem. Eles leram aqueles que sabem As verdades válidas para todos os tempos E as receitas que sempre funcionam. Onde há tantos a seu favor Você não precisa levantar um dedo. Sem dúvida, se fosse diferente Você teria que aprender. Bertolt Brecht Ao iniciar este estudo, ambicionava comparar o projeto estético do Latão em duas frentes, opostas, porém. De um lado, a uma certa “cena contemporânea” que tem na construção de uma “nova dramaturgia” baseada mais nos clichês e lugares comuns do gênero dramático, uma estética acabada e bem-feita e, desta forma, acomodada em seu fetiche como mercadoria, ou por oposição, mas com o mesmo sentido político, as experimentações performáticas que guardam semelhanças distantes com certo expressionismo subjetivista. Possivelmente, contudo, renderia muito mais uma outra “intuição” inicial do presente estudo: comparar a produção do Latão a outros grupos, ou peças, com semelhante pressuposto ideológico, em seus rendimentos estéticos. Assistindo a peças de companhias e artistas que assumem em seu discurso um projeto anticapitalista, percebo – e são, de fato, impressões − um registro esteticizado que se basta como crítica, como se, diante da neonaturalização do “sem sentido”, os expedientes estéticos reiterassem os limites da constatação e estarrecimento. Por esse vetor comparativo, as paródias da alegoria trágica e tropicalista – que se servem alguns coletivos teatrais − que estão presentes na composição de Ópera dos vivos sustentariam a análise sobre seu uso em experiências contemporâneas, muito próximo ao que observou Anatol Rosenfeld sobre a poesia de Brecht no uso da paródia: quando a inovação transforma-se em “tesouro nacional” seu sentido é coagulado, “sem sentir-lhe o significado” 177 (2012, p. 63). Mas também como é muito fácil verificar, não foi possível resgatar, estudar, os projetos estéticos de outros grupos ou artistas, questão que este estudo se ressente. Nessa nota final, não pretendo recuperar o que foi discutido nas seções anteriores de forma pormenorizada. Espero que pelo andamento por mim proposto, tenha esclarecido os termos pelos quais analisei as peças do Latão; em específico Ópera dos vivos, com o projeto ideológico de crítica anticapitalista se fazendo forma pela condução da narrativa durante os quatro atos, bem como, numa outra mediação, pelo assunto do primeiro e do último, e em uma terceira mediação, ainda, das abordagens “alegóricas” com resultados mais curtos no filme e evidentemente mais expressivos no show narrativo, como formas de estudo e ensaio quanto à prática teatral – por essa via, o expediente alegórico é posto em tensão com o projeto anticapitalista e registra, em oposição, seus limites. Recuperando o comentário feito no início desta tese: a) o grupo trabalha através da consciência do teatro como resultante de experiências coletivizadoras – experiências experimentadas em sala de ensaio e principalmente, na relação com o público que é convidado a participar ativamente da construção simbólica da fábula; b) consciência da necessidade de participação do intelectual na vida do seu tempo – participação feita por meio do próprio fazer artístico, com peças apresentadas como ensaios, e ensaios críticos, intervenções públicas, publicações de dramaturgia e crítica como formas de intervenção na realidade brasileira; c) consciência da função social da arte – função compreendida como o tensionamento entre o aparelho teatral e a expectativa por ele gerada, como espaço de produção simbólica em desacordo com aquilo que lhe corresponde e d) consciência da obra de arte como fato estético – exigente, portanto, do mais alto nível da consciência da linguagem. A última seção deste trabalho se volta para as impressões da última peça do grupo, O patrão cordial57, que estreou em julho de 2013, após várias apresentações e estudos cênicos conduzidos desde agosto de 2012, no Rio de Janeiro no Centro Cultural Banco do Brasil, que parece novamente tensionar a relação palco e plateia nos termos “suspensos” e abertos por Ópera dos vivos. Como “trabalho em processo”, baseada no texto O Sr. Puntila e seu Criado Matti, de Bertolt Brecht, escrito em 1940, a peça é uma montagem que expõe o procedimento de trabalho do Latão sobre teatro dialético, tanto na leitura do assunto ligado à luta de classes, quanto na crítica à ideologia da forma dramática. O roteiro de O Patrão cordial, ainda segundo o programa da peça, foi escrito com base em improvisação dos atores e se baseia, 57 Agradeço a Companhia do Latão por fornecer o texto, inédito, de O patrão cordial. Utilizo a versão datada de julho de 2013. 178 também, no estudo do livro Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda. A estrutura dramatúrgica de O Sr. Puntila e seu Criado Matti é mantida e busca na identificação da propriedade – sugerida pela inversão do O Homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda – como motor da cordialidade, que dá mola às relações de trabalho na realidade brasileira. Segundo Anatol Rosenfeld, tratando da peça de Brecht Seu motivo central, ao mesmo tempo jocoso e profundo, já fora explorado anteriormente por Chaplin (Luzes da Cidade) a quem Brecht muito admirava. Não é portanto novo o caso dos dois caracteres de Puntila, homem afetuoso quando embriagado, homem egoísta enquanto sóbrio. Nova é a maneira de como Brecht aproveita a curiosa duplicidade que desintegra a personalidade do fazendeiro. A partir dela analisa a dialética inerente às relações entre senhor e criado – tão bem exposta por Hegel – e, concomitantemente, procura elucidar certos aspectos da sociedade de classes. (BRECHT, 2008, p.167) Segundo Anatol Rosenfeld, Brecht constrói uma peça episódica, “sem unidade de ação, continuidade de intriga a desenvolver-se até o desenlace final” (ROSENFELD, 2008, p.167). É saboroso o modo como apresenta Puntila, de modo hilariante e irônico, “com uma ordem puntiliana que consagra a desordem, já que o seu comportamento humano, em vez de fazer parte da normalidade das instituições, surge apenas como capricho pessoal, como adorno que enfeita a dura realidade” (ROSENFELD, 2008, p.172). A relação com seu motorista, “Matti, criado cético, solidário com os seus colegas, que tem a sabedoria e um pouco a esperteza dos oprimidos” (ROSENFELD, 2008, p.173), é de desconfiança, embora embriagado tenda a trata-lo, como demais empregados, de forma “humanizada”. Brecht não visa a apresentar com Puntila um homem mau ou um homem bom, mas simplesmente um fazendeiro que, para ele, representa uma organização social. É um “modelo” proposto para demonstrar exemplarmente a atitude do superior que, não importa se com sinceridade ou para disfarçar a realidade, “concede” ao inferior ocasionais benefícios, enquanto de fato, como vimos, tudo fica na mesma (ROSENFELD, 2008,p.172) Na comédia do Latão, de certa forma a relação Puntila-Matti é mantida, e, é considerável a alteração cênica, que agora incide mais na relação Puntila-Eva, filha de Puntila na igual tentativa de deixar expostos aspectos da sociedade de classes. Eva (Vidinha, no Patrão) é apresentada, pela encenação, com contornos de farsa dramática – farsa porque 179 deixa explícita, a todo momento, a romantização operada pelo mais baixo “dramalhão”, fazendo com que a redenção amorosa re-signifique a utilidade do realismo psicológico − que tensiona a estrutura épica da peça – épica no sentido de Brecht, que ao contrário de Erwim Piscator, procura apresentar seus traços na interpretação dos atores, exigindo deles a capacidade crítica daquele que se deixa mostrar como intérprete. Se pudesse sugerir algo do rendimento do espetáculo, a modernização do teatro, com o qual também dialoga a estrutura dramatúrgica que faz a crítica da linguagem, é traduzido na inserção da “personagem dramática”, ao contrário da observação Eva feita por Anatol Rosenfeld: “Seria difícil chamar de “enredo” o noivado precário de Eva, filha de Puntila, com o adido diplomático – realmente o único esboço de um argumento contínuo” (ROSENFELD, 2008, p.167). A Vivi, ou Vidinha, de O patrão cordial sugere a relação que pode se estabelecer com o espectador caso haja alguma identificação deste com a personagem. No início da peça, há a seguinte narração: No Brasil não foi formado o individuo moderno. Mas só quando existe diálogo entre indivíduos é que a desigualdade aparece como resultado da dominação de classe. É preciso determinar, junto ao rendimento da peça, um sentido para a narração inicial. Há que se considerar que Cornélio (Puntila em Brecht) e Vitor (Matti) são estruturas sociais encenadas – patrão e empregado. Mesmo quando Cornélio, a exemplo de Puntila, utiliza a embriaguez como forma de “escapar” de sua função como proprietário, operando a conhecida “cordialidade”, a violência da estrutura capitalista está à mostra nas ações do personagem. As relações entre patrões e empregados ganham completa demonstração na encenação, que também se desdobra com os demais personagens da peça: empregados na fazenda de Puntila e trabalhadores “livres” que o servem em outros ambientes, como no bar ou no Mercado de Trabalhadores. A situação fica um pouco mais complicada quando se observa as relações entre pai e filha, que se dão também, no eixo da propriedade. O sentimentalismo de Vidinha, que não está interessada em seu noivo Hélio, mas no motorista Vitor é uma das chaves para perceber o estrago das relações de propriedade que se faz em âmbito individual. Na cena 5, intitulada: Na fazenda, a necessidade do escândalo, muito do efeito hipnótico do teatro tradicional enreda o espectador, embora a cena comece com uma narração de Vivi: Um aposentado grego de 77 anos se suicidou ontem nas proximidades da parlamento do país, dizendo ser esse o único fim digno possível para ele, numa Grécia que atravessa severa crise. “Não quero deixar dívidas para os meus filhos” gritou segundo testemunhas, antes de atirar na própria cabeça, debaixo de uma árvore. Escreveu num bilhete: antes de começar a procurar comida no lixo. 180 A narração é entrecorta com a chegada de Luís Carlos, ex-trabalhador da fazenda, demitido por ser comunista e que retorna à fazenda, no momento “cordial” de Cornélio. A “imagem” do aposentado grego vai se desfazendo na medida em que a cena avança e tenta ser “re-ativada” pela apresentação de outras relações da “fábula”: nela acompanhamos, via narração, a surra que Descalcinho leva do patrão, que estando sóbrio desfaz os acordos prévios com o novo trabalhador, ou ainda acusa Vitor de roubo, por este estar com sua carteira, quando foi o patrão que lhe deu quando ébrio. Vidinha observa a cena e pergunta a Vitor: VIVI: Por que não se defendeu? Todo mundo sabe que quando papai bebe dá a carteira pros outros, para não ter que mexer com dinheiro. VITOR: Os patrões não gostam de quem se defende. VIVI: Santinho do pau oco. Já me bastam os meus problemas. VITOR: O noivado é amanhã, né? Bonito. VIVI: Quem te pediu opinião! VITOR - É bom, quando a noiva e o noivo tem afinidade. VIVI - O Hélio é uma pessoa sensacional, o problema é ser mulher dele. VITOR: Quem escolheu foi a senhora. VIVI - É, uma coisa que nem todos têm, livre arbítrio, (Vinheta musical, todos ficam de pé) sabe o que quer dizer: capacidade de decidir a própria sorte. Eu sempre tive, papai me disse que, se eu quiser me caso com qualquer um, até com você (Vinheta musical. Dançam pelo espeço e se posicionam). Mas não podemos romper o noivado. Papai não é homem de voltar atrás com a palavra. “o pico do Itatiaia pode...”Ah é isso. VITOR - É, uma boa encrenca. VIVI - Não sei por que eu me abro em assuntos tão íntimos. VITOR - Isso de se abrir demonstra humanidade VIVI – O que eu faço, você pode me ajudar. (Vivi se joga aos pés de Vitor) Foco para Descalcinho e Hina que comentam a cena DESCALCINHO – Tudo é tão delicado, me ajuda? E ele disse: mostre ao noivinho que você é uma mulher perdida, que trata um empregado como eu com uma intimidade perigosa. HINA – Eles se beijaram? 181 DESCALCINHO – Os dois entraram juntos no banheiro. (Casal corre para o banheiro ao fundo da cena. Descalcinho olha pela fresta) VIVI – .. uma mulher perdida, uma ordinária, uma vagabunda? VITOR – é preciso organizar o escândalo. VIVI – Tudo bem, eu topo. Mas não abusa de mim. (Ele mostra o baralho) Pra que o baralho? VITOR – (Embaralha as cartas) A coisa pode demorar, melhor manter as mãos ocupadas. VIVI – Eles nunca vão acreditar que estamos fazendo essas porcarias a essa hora do dia. VITOR – Ah, vão, é só gemer bem alto. Pode cortar. Acompanhamos nessa cena como a violência das relações de trabalho vão deixando o terreno para a construção da necessidade do escândalo, que do ponto de vista dramatúrgico coincide com a construção da ação dramática. Nenhum dos personagens que estão sendo coagidos e violentados pelo patrão está em registro sentimentalmente “dramático”, ao passo que quando começa a falar de sua infeliz vida, Vivi começa a conduzir a história e o espectador é enredado na ficção esperando a solução do escândalo: se o noivo ficará ofendido ou não, se desmanchará o noivado ou não. Mas o que será mais escandaloso para o espectador: saber do suicídio de um trabalhador pois considerava indigno comer restos de comida ou ver a construção de uma farsa sexual – ser falsamente abusada pelo Motorista – para desfazer um casamento? O que é mais usual na construção teatral: a tentativa de esclarecimento quanto às relações que determinam, de fato, a vida dos sujeitos e como estes se movimentam diante desta ou daquela situação ou o enredamento nas situações dramáticas cotidianas, sem contudo, articuladas às relações que as condicionam? É claro que o encadeamento da cena de forma cômica faz com que, pelo sentimentalismo de Vidinha na narração, a boa consciência, que pode ser até empregada pelo drama social, possa muito pouco por colocar um problema que se estrutura do ponto de vista individual. Em O patrão cordial, a farsa-dramática de Vidinha – e é muito interessante o modo como o realismo psicológico fica a meio caminho, sendo o achado para a problematização da cordialidade − é o recurso que permite a interpenetração do estudo épico e dramático, no qual a luta de classes fica explícita pela ameaça de que o empregado compartilhe, ou “barbaramente invada” o espaço do patrão, derrubando qualquer véu ideológico, como posto pela cordialidade e em consequência formal, pela ótica dramático-burguesa. E o recurso 182 dramatúrgico-cênico presente em O Sr. Puntila e o seu criado Matti, mantido pelo Latão em O patrão cordial é muito potente: quando de fato se avizinha a intimidade, o tapa dado por Vitor na bunda de Vivi após uma cena na qual ela tenta convencê-lo de que é um “bom partido” para o motorista novamente retoma o eixo da propriedade através do “gestus” (VIVI − não te autorizo a me encostar um dedo). Segundo Fredric Jameson O gestus envolve claramente todo um processo no qual um ato específico – na verdade, um fato particular, situado no tempo e no espaço vinculado a indivíduos concretos específicos – é assim identificado e renomeado, associado a um tipo mais amplo e mais abstrato de ação em geral, e transformado em algo exemplar. (JAMESON, 1999, p. 143) É exemplar, portanto, que a representação diga a todo momento das relações de propriedade determinantes nas relações de trabalho, e também familiares. É assim que esta chave é retomada com a cena de strip-tease de Vivi para o pai, quando ela canta: Enquanto se divertem na quadra de bocha Talvez ainda faça um jogo diferente Mas quando eu fizer não me siga não Pois meu coração pertence - ao papai Se eu convidar um garoto uma noite Fazer uma boquinha e chubirubirubi Mesmo que seu tamanho me satisfaça Mas o meu coração pertence ao papai O tema da propriedade é levado até a última cena, numa sensibilidade derramada de Cornélio (muito próxima a cena do monte Hatelma em Brecht, que segundo Anatol Rosenfel, dá a medida da suspeita do amor à natureza). Segundo Anatol Rosenfeld Só depois de estabelecida a justiça social podem revelar-se o amor e a bondade na sua pureza e autenticidade. Toda a ênfase de Puntila é humanista. No horizonte da obra, não visível mas onipresente, espécie de imagem sugerida no universo ambíguo da peça, pressente-se um mundo mais generoso em que Puntila pode ser bom e Matti, seu amigo. (ROSENFELD, 2008, p.176) O mundo generoso de Brecht, tal como pressentido por Anatol Rosenfeld, é pressentido ambiguamente na peça do Latão, por isso da observação final de Luís Carlos: Quando virá o tempo em que um realismo do tipo que a dialética poderia viabilizar será realmente possível? Temos a todo instante que idealizar, já que a todo instante temos de declarar nossa posição, e portanto fazer propaganda. 183 A peça retoma uma característica das peças didáticas brechtianas. Em Notas sobre a peça A mãe, que tenta apresentar características do teatro épico pensado em sua composição, como também em sua primeira encenação ao lado da “desastrosa” experiência realizada pelo Theatre Union em Nova Iorque, Brecht faz a seguinte observação: A estética aceita hoje em dia, ao exigir um efeito imediato, exige também, da obra de arte, um efeito que supere as diferenças sociais e as restantes diferenças que existem entre os indivíduos. Este efeito de superação dos antagonismos de classe é ainda conseguido atualmente por dramas de dramática aristotélica, se bem que os indivíduos cada vez tenham mais consciência das diferenças de classe. E mesmo quando o antagonismo de classes é o tema desses dramas, ou quando neles se toma posição em favor desta ou daquela classe, tal efeito não se deixa de produzir. Seja qual for o aso, cria-se entre os espectadores um todo coletivo, surgido a partir do “humano universal, comum a todo o auditório, durante o tempo da fruição estética. A dramática não-aristotélica, do tipo da de A mãe, não está interessada na produção deste gênero de coletivismo e, muito pelo contrário, divide o seu público (BRECHT, 2005, p.62). A título de exemplificação sobre esta questão e como ela é trabalhada em O patrão cordial, reproduzo a crítica de Bárbara Heliodora e a observação de quem sofre as “intempéries” do mundo do trabalho: Norteada pelas obras de Piscator e Brecht, tudo isso resulta, em “O patrão cordial”, em uma obra antiquada, de ideologia e estética claramente da primeira parte do século passado, que não leva em conta tudo o que mudou – e se tornou muito mais complexo – no mundo real.58 Ao contrário do texto de Brecht, que se passa na Finlândia, “O Patrão Cordial” se situa no Brasil, no Vale do Paraíba, nas encostas da Serra da Mantiqueira, no início dos anos 1970. Mantendo como foco principal as relações cordiais entre patrão e empregados, dentro de uma família não muito convencional em seus comportamentos sociais e afetivos, convida os espectadores a buscar uma reflexão própria sobre a peça que quebra as expectativas produzidas de acordo com o padrão estabelecido e cristalizado por nossa sociedade (...) Destacamos cada abordagem apresentada na peça, presente e viva nos tempos atuais. Em nosso trabalho diário, Leonardo, guarda-municipal, percebe a aproximação da população, após cometerem infrações no trânsito, solicitam retirar tal infração, em troca de favor. Thiago, corretor de seguros, recebe diariamente vários e-mails do diretor, que trabalha em outro Estado, com palavras ofensivas e xingamentos, direcionados a ele e a outros funcionários no Brasil. Porém, logo depois, o diretor os trata como se nada tivesse ocorrido, como uma troca, em que uma imposição crie expectativas de melhores resultados. Walter, funcionário das 58 Crítica da especialista Barbara Heliodora publicada no Segundo caderno do Jornal O Globo, em 07 de julho de 2013. Acesso em institutoaugustoboal.org em 09 de agosto de 2013. 184 forças armadas, é constantemente abordado pelo seu superior, que chega com cordialidade para impor, que aceite trabalhar em dia de sua folga já acordada. Ou seja, o tema abordado na peça (há anos atrás ) e o que vivemos hoje, mostra uma dualidade que não se opõe, coloca-se em evidência o elo entre a tradição e a modernidade, diretamente relacionada em nossa sociedade.59 Vê-se, portanto, a eficácia do teatro épico em desmontar a homogeneização que pode percorrer uma encenação quando ela é feita para tal fim. O patrão cordial, pela quase ausência de recursos cênicos e pela disposição do grupo em apresenta-la em escolas e cooperativas de trabalhadores retoma a perspectiva funcional do teatro épico, embora o grupo tenha consciência de que o faz em termos outros do período no qual Brecht atuava. Brecht anota em Diário de trabalho em 15 de março de 1942 Ontem à noite na casa de Bergner após conversa iniciada à tarde sobre teatro épico. Ela é a mas bem-sucedida expoente do teatro reinante. Por isso interessa conhecer sua reação. Ela gosta de Um homem é um homem e detesta as notas que acompanham a peça. Desaprova Wedekind que determinava que uma pai tivesse algo a dizer ao filho o dissesse à plateia. Trato de explicar que Wedekind apenas precisava de um efeito-d e o criou de modo um tanto primitivo. O principal obstáculo, obviamente, reside no fato de que ela não vê a plateia como um conjunto de pessoas que desejam mudar o mundo, escutando o informe sobre o mundo. Assim o tom básico desse tipo de teatro lhe é estranho, o gesto de começar, o entusiasmo por um novo milênio, a paixão pela pesquisa, a vontade de desencadear a criatividade de todos. Ela vê a coisa toda como um novo “estilo”, uma questão de moda, um capricho, e não reconhece que o que ela mesma faz é apenas um “estilo” etc (...) (BRECHT, 2005, p.70). Não é gratuita, portanto, a última observação da peça, logo após Descalcinho dar um sugestivo chute em Vítor quando este decide ir embora da fazenda de Cornélio: LUIZ CARLOS – Se estivéssemos num teatro, eu veria o público como um conjunto de pessoas que quer mudar o mundo para melhor. Mas não é teatro. É vida e dura pouco. 59 Reflexão apresentada por alunos do curso noturno da Faculdade de Letras/UFRJ, na disciplina Fundamentos da Cultura Literária Brasileira, após assistirem ao espetáculo. Agradeço Leonardo Ferreira, Thiago Machado e Walter Neto por autorizarem a inclusão da reflexão neste trabalho. 185 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Companhia do Latão CARVALHO, Sergio e MARCIANO, Marcio. Companhia do Latão: 7 peças. São Paulo: Cosac Naify, 2008. CARVALHO, Sergio (org.). Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão. São Paulo: Expressão Popular; Companhia do Latão, 2009a. ______ Atuação crítica: entrevistas da Vintém e outras conversas. São Paulo: Expressão Popular; Companhia do Latão, 2009b. DVD Experimentos videográficos da Companhia do Latão. Revista Vintém COSTA, Iná Camargo. Por um teatro épico. Vintém, São Paulo, n.3, p.12-17. GRESPAN, Jorge. Formas da crise capitalista. VIntén, São Paulo, n. 6, 2007, p. 17-23. HADDAD, Fernando. Uma oportunidade para a esquerda. Vintém, São Paulo, n. 4, p. 14-19, 2003, p. 18. LEHMANN, Hans-Thies. No coração das trevas. Vintém, São Paulo, n.5, p. 44-46, 2005, p.45. LIMA, Mariângela Alves de. Latão cria inquietante jogo de ilusão. Vintém, São Paulo, n.5, p. 56-58, 2005, p.56. Revista Traulito BETTI, Maria Silvia. As confusões do pós-dramático. Revista Traulito, nº 3, 2010. REVISTA TRAULITO. São Paulo, n.4, p. 09-12, 2011, p.11. Sobre a Companhia do Latão CARBONARI, Marília. Teatro épico na América Latina: estudo comparativo da dramaturgia das peças Preguntas Inutiles, de Enrique Buenaventura (TEC-Colômbia), e O Nome do Sujeito de Sérgio de Carvalho e Márcio Marciano (Cia do Latão – Brasil). Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina) – Universidade de São Paulo, 2006. COSTA, Rodrigo de Freitas. Brecht nosso contemporâneo? O engajamento como prática intelectual e opção artística da Companhia do Latão. Tese de doutorado (Doutorado – Programa de Pós-graduação em História) - Universidade Federal de Uberlândia, 2012. 186 KROPF, Paula dos Santos. Poderá o mundo hoje ser representado pelo teatro? – algumas experiências no Brasil. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011. MALTA, Gabriela Villen Freire. Comunicação e contra-hegemonia: o palco de intervenção política da Companhia do Latão. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Universidade de São Paulo, 2010. MORAES. Margarete Maria. O auto dos bons tratos, da Companhia do Latão: dramaturgia de raízes fincadas na realidade brasileira. Dissertação (Mestrado em Literatura brasileira) – Universidade de São Paulo, 2005. PAVAM, Walmir Barguil. A dramaturgia do trabalho no teatro paulistano contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Artes) Universidade Estadual Paulista, 2009. Artigos disponíveis na internet (http://companhiadolatao.com.br) PEIXOTO, Fernando. Do riso ao mundo selvagem. Revista Bravo!, set. 2000. Críticas disponíveis (http://oglobo.com.br) na internet (http://folha.com.br), (http://estadao.com.br), HELIODORA, Barbara. À sombra de Brecht e Piscator. Jornal O Globo, out, 2010. MENEZES, Maria Eugênia. 2011 chega ao fim com brilhantes realizações no teatro. Jornal O Estado de São Paulo, dez., 2011. RAMOS, Luis Fernando. Ópera para vivos-mortos. Jornal Folha de São Paulo, out, 2010. SANTOS, Valmir. Inquisição da cordialidade. Jornal Folha de São Paulo, mar., 2002. SANTOS, Valmir. Notícias do subterrâneo. Jornal Folha de São Paulo, ago., 2003. Bibliografia geral ALBERGARIA, Helena e PIACENTINI, Ney. Sobre a atitude realista. In: CARVALHO, Sergio (org.). Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão. São Paulo: Expressão Popular; Companhia do Latão, 2009. ADORNO, Theodor W. Notas de literatura. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1991. ARANTES, Paulo. A lei do tormento. In: DESGRANGES, Flávio e LEPIQUE, Maysa (orgs.). Teatro e vida pública. São Paulo: Hucitec: Cooperativa Paulista de Teatro, 2012. 187 AZEVEDO, José Fernando. Uma trajetória na intermitência (notas à procura de um esquema). In: DESGRANGES, Flávio e LEPIQUE, Maysa (orgs.). Teatro e vida pública. São Paulo: Hucitec: Cooperativa Paulista de Teatro, 2012. BADER, Wolfgang. Brecht no Brasil. Experiências e influências. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987. BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. In:____. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 120-135. ____. O narrador. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet In:____. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 197-220. BETTI, Maria Silvia. Observações sobre o épico na dramaturgia da Companhia do Latão. In: GOMES, André Luis (org). Leio teatro. São Paulo: Editora Horizonte, 2010. BRECHT, Bertolt. Escritos sobre teatro, vol 1. Seleção e tradução: Jorge Hacker. Buenos Aires: Nueva Visión, 1970a. ____. Escritos sobre teatro, vol 2. Seleção: Jorge Hacker. Tradução: Nélida Mendilaharzu de Machain. Buenos Aires: Nueva Visión, 1970b. ____. Escritos sobre teatro, vol 3. Seleção: Jorge Hacker. Tradução: Nélida Mendilaharzu de Machain. Buenos Aires: Nueva Visión, 1970c. _____. Diario de trabajo. Tradução: Nélida Mendilaharzu de Machain. Buenos Aires: Nueva Visión, 1979. ____. A compra do latão. Tradução: Urs Zuber, Peggy Berndt. Lisboa: Vega, 1999. ____. Estudos sobre teatro. Tradução: Fiama Pais Brandão.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. ____. Diário de trabalho, vol. 1: 1938-1941. Tradução: Reinaldo Guarany e Jose Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. ____. Diário de trabalho, vol. 2: América, 1941-1947. Tradução: Reinaldo Guarany e Jose Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. ____. O debate sobre o expressionismo. In: MACHADO, Carlos Eduardo Jordão. Um capítulo da história da modernidade estética: debate sobre o expressionismo. São Paulo: Fundação Editora UNESP: 1998. BROWN, Nicholas. Tropicália, pós-modernismo e a subsunção real do trabalho sob o capital. IN: CEVASCO, Maria Elisa e OHATA, Milton (org.). Um crítico na periferia do capitalismo: reflexões sobre a obra de Roberto Schwarz. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 295-310. BÜRGUER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: CosacNaify, 2012. 188 CAMENIETZKI, Eleonora Ziller. Poesia e política: a trajetória de Ferreira Gullar. Rio de Janeiro, REvan, 2006. CEVASCO, Maria Elisa. Para que serve o teatro político? In: DESGRANGES, Flávio e LEPIQUE, Maysa (orgs.). Teatro e vida pública. São Paulo: Hucitec: Cooperativa Paulista de Teatro, 2012. CHAUÍ, Marilena. Seminários sobre o nacional e o popular na cultura. São Paulo: Brasiliense, 1982. COSTA, Iná Camargo. A hora do teatro épico no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. ____. Sinta o drama. Petrópolis: Vozes, 1998. ____. Experimentos cênicos: um enredo. In: DESGRANGES, Flávio e LEPIQUE, Maysa (orgs.). Teatro e vida pública. São Paulo: Hucitec: Cooperativa Paulista de Teatro, 2012. ____. O nome do jogo. In: CARVALHO, Sérgio e MARCIANO, Márcio. Companhia do Latão: 7 peças. São Paulo: Cosac&Naify, 2008. COSTA, Iná Camargo e CARVALHO, Dorberto. A luta dos grupos teatrais de São Paulo por políticas públicas para a cultura: os cincos primeiros anos da lei de fomento ao teatro. São Paulo: Cooperativa Paulista de Teatro, 2008. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. FAVARETTO, Celso. Tropicália: alegoria, alegria. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. FERNANDES, Sílvia. Teatros pós-dramáticos. In: GUINSBURG, Jacó e FERNANDES, Silvia (orgs). O Pós-dramático. São Paulo: Perspectiva, 2010. GAGNEBIN, Jeanne Marie. O preço de uma reconciliação extorquida. In: TELES, Edson e SAFLATE, Vladimir (orgs). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. GOMES, Paulo Emílio Salles. In: A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 103-119. HAUG, Wolfgang Fritz. Crítica da estética da mercadoria. Tradução: Erlon José Paschoal; colaboração Jael Glauce da Fonseca. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. JAMESON, Fredric. O método Brecht. Tradução: Maria Silvia Betti; revisão técnica Iná Camargo Costa. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1999. _____. Reflexões para concluir. Tradução: Ana Paula Pacheco e Betina Bischof. Revista Literatura e Sociedade, nº13, 2010, pp. 248-263. LAFETÁ, João Luiz. 1930: a crítica e o Modernismo. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000. 189 LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. _____. Escritura política no texto teatral: ensaios sobre Sófocles, Shakespeare, Kleist, Büchner, Jahnn, Bataille, Brecht, Benjamin, Müller, Schleef. Tradução: Werner S. Rothschild e Priscila Nascimento. São Paulo: Perspectiva, 2009. LÖWY, Michael. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Trad. Henrique Carneiro. In: Revista Actuel Marx, 18, 1995. LUKÁCS, György. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. Tradução: Rodnei Nascimento. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012. MARCIANO, Marcio. Formas de uma dramaturgia do limite: Equívocos colecionados e Visões siamesas. In: CARVALHO, Sergio (org.). Introdução ao teatro dialético: experimentos da Companhia do Latão. São Paulo: Expressão Popular; Companhia do Latão, 2009. MARTINEZ CORRÊA, José Celso. Primeiro ato: cadernos, depoimentos, entrevistas (1958 1974). Sel., org. e notas de Ana Helena Camargo de Staal. São Paulo: Ed. 34, p. 1998. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. Tradução: Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: livro I. Tradução: Reginaldo Sant’Anna. 29ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. PASTA, José Antonio Pasta. Trabalho de Brecht: breve introdução ao estudo de uma classicidade contemporânea. São Paulo: Ática, 1986. PEIXOTO, Fernando. Vianinha, teatro, televisão, política. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1983. RAMOS, Luis Fernando. Pós-dramático ou poética da cena? In: GUINSBURG, Jacó e FERNANDES, Silvia (orgs). O Pós-dramático. São Paulo: Perspectiva, 2010. ROCHA, Glauber. Revolução do cinema novo. São Paulo: CosacNaify, 2004. ROSENFELD, Anatol. Literatura e Personagem. In: A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 9-49. _____. Prismas do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. _____. Teatro moderno. Organização: Nancy Fernandes e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2008. _____. Brecht e o teatro épico. Organização Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2012. SCHWARZ, Roberto. Que horas são: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 190 ______. Um livro audacioso. In: KURZ, Robert. O colapso da modernização. Da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial. 4ª edição. Tradução Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. ______. Sequências brasileiras: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. ______. O pai de família e outros estudos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. ______. Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. SOUZA, Gilda de Mello e. Teatro ao sul. In: Exercícios de leitura. São Paulo: Duas cidades; Ed. 34, 2008. P. 131- 140. SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). Tradução: Luiz Sérgio Repa. São Paulo: CosacNaify, 2001. THOMASSSEAU, Jean-Marie. O melodrama. Tradução: Claudia Braga e Jacqueline Penjon. São Paulo: Perspectiva, 2005. VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. ____. Diferentemente dos americanos do norte. In:____ O mundo não é chato. Organização Eucanaã Ferraz. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 42-72. XAVIER, Ismail. A alegoria histórica In: RAMOS, Fernão Pessoa (org.). Teoria contemporânea do cinema. Vol. 1. Pós-estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: Editora Senac Sâo Paulo, 2005, p. 339-379. ____. Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal. São Paulo: CosacNaify, 2012. WEKWERTH, Manfred. Diálogos sobre a encenação. Um manual de direção teatral. Tradução: Reinaldo Mestrinel. 3ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1997. WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Trad. Wlatersin Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. ____. Drama em cena. Trad. Rogério Bettoni. São Paulo: Cosacnaify, 2010. ____. Política do modernismo. Trad. André Glaser. São Paulo: Editora UNESP, 2011. 191 ANEXOS 192 ANEXO 1 Apresentação de Sérgio de Carvalho no 14º International Brecht Society Symposium. O evento ocorreu entre os dias 20 e 23 de maio de 2013 em Porto Alegre. Transcrição da apresentação inicial. Gravação e edição da autora. A primeira coisa importante pra nós e talvez seja um conceito brechtiano de fundo de experiência do Latão é a ideia de que para um grupo como o nosso, o trabalho é mais importante do que a obra. A gente trabalha com a ideia de trabalho em processo artístico em que o trabalho não é só o espetáculo teatral, mas um conjunto de atividades. Essa ideia está na origem do próprio grupo. A Companhia do Latão nasceu de um estudo do Brecht chamado A compra do latão. De início era um grupo de artistas que se reuniu pra estudar esse texto e tentar fazer uma encenação a partir do material teórico. O primeiro trabalho do Latão é uma peça-ensaio. Ensaio no sentido teatral e teórico filosófico. Essa peça ensaística foi uma peça que aconteceu entre a teoria e a prática e ela estabeleceu uma primeira referência pra gente: o trabalho sobre contradições formais. Eu diria que esse foi o primeiro ponto importante de contato com o Brecht: perceber que a forma é produtiva na medida em que ela expõe suas contradições e ela instaura um trabalho no espectador. Essa questão da contradição formal se dá em todos os níveis e pra nós tem um aspecto central. Qualquer aproximação útil e atual sobre Brecht não tem que se aproximar de um estilo brechtiano. Interessa nele uma atitude do trabalho, e essa atitude nasce do desenvolvimento das contradições, que incidem também nas formas. O que passou a ser importante para nós: examinar as tendências formais dominantes no nosso trabalho teatral, anterior ao nosso contato com Brecht. A gente, a título de contradição, na sala de ensaio começou a praticar uma busca realista. O grupo estava interessado em desmontar a tendência à abstração da mesma forma quando percebíamos que em nós existia uma tendência ao drama; isso era combatido com experimentações com a dimensão narrativa. Isso era importante, pois rompia com o drama social que por vezes aparecia no nosso trabalho. Um segundo passo, além dessa primeira influência brechtiana, foi perceber que a atualidade de Brecht exigia uma consciência do que significa o capitalismo na versão brasileira. É como se fosse importante adotar o ângulo da periferia do capital e das suas formas de representação dominantes para poder entender qual o sentido de uma crítica anti-dramática na atualidade. O que eu quero dizer é o seguinte: no Brasil, um país de passado escravista tão recente, em que os modelos da racionalidade burguesa ocorre em padrões distintos dos modelos de racionalidade burguesa europeia a ponto de uma forma como o drama não existir na tradição literária brasileira até os anos 60 do séc. XX – é como se o 193 drama fosse uma forma impossível desde sempre no Brasil na medida em que você não tem o conceito de indivíduo formado do ponto de vista social – nesse sentido passava ser importante compreender que feições a racionalidade burguesa assume na estruturação das formas dominantes de representação. Os trabalhos seguintes da Companhia do Latão são trabalhos que enfrentam em dois níveis a questão brasileira: no nível das formas de representação e no nível da tentativa de representar o aburguesamento contraditório que ocorreu na nossa história. E lidando com esse fato fundamental que a ideia de individuo é uma ausência histórica até muito recentemente no imaginário coletivo. Um terceiro aspecto importante foi pensar que era necessário, além de estudar as contradições formais e de tentar descolar o campo para um olhar sobre o capitalismo brasileiro atual, passava a ser importante também fazer a crítica da representação dentro do campo da cultura. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: era importante fazer peças em que fosse temático a crítica ao próprio conceito de cultura e de arte. Parte dos trabalhos do Latão começou a tratar da questão da representação e da ideologia da representação, como tema. A própria questão do artista, a função do artista como abastecedor do aparelho da cultura nos termos que o Brecht já descreveu no passado, na atualidade. Passou a ser importante a partir daí descobrir formas atuais de representar isso, e o Latão iniciou uma pesquisa sobre a ideia de um narrador desconfiável. Nós começamos a fazer peças que o espectador deveria desconfiar do espetáculo e da ideia de espetáculo. É como se a ideologia fosse um problema a ser enfrentado pelo espectador. 194 ANEXO 2 Imagens retiradas da gravação em vídeo realizada por Luiz Gustavo Cruz do primeiro ato da peça Ópera dos vivos, Sociedade mortuária – uma peça camponesa. O VELÓRIO DO MESTRE CARPINTEIRO Palco vazio. Contra-regragem nas lateriais. Dois cavaletes segurando uma estrutura de madeira do lado direito. Atores entram e se espalham pelo espaço. O ator que representa o Morto ocupa o centro da cena. O Funcionário da prefeitura com um caixão ao fundo. Entra Aristeu. MARIVALDO – Começo de canto é assobio. (Segue assobiando. Entra música). Uma menina veste o Morto. (...) ARISTEU – Mãe! MÃE – Então, filho. ARISTEU – Não teve jeito. MÃE – O que ele disse? ARISTEU – Bati na porta, disseram que o Capitão está doente, agarrado ao lençol, não pode. MÃE - Ele gostava de seu pai, elogiava o serviço. ARISTEU – Mandou os pêsames. MÃE – Disse que você mesmo construía? 195 ARISTEU – Nem me recebeu, mãe. MÃE – Só umas quatro tábuas. ARISTEU – A serraria está fechada. De luto. (Olha o pai) Pelo Mestre. Marivaldo assopra o crucifixo do rosário da mão do Morto. NARRADORA – Podem lembrar os feitos, podem esquecer os feitos. Não podem ajudar um homem morto. *** A CENA DA PROFESSORA Um banco a frente. Atriz entra com um vaso de flores. Senta-se de costas para o público, vira-se para falar. PROFESSORA – Eu sou uma professora, devo alfabetizar homens adultos. Mas antes de ensinar o alfabeto, quero que entendam que são sujeitos, que estão no mundo e com o mundo, aprendendo com ele e transformando-o com seu trabalho. Quando do barro fazem um vaso, transformam a natureza, e quando têm a necessidade de enfeitá-lo com flores continuam a transformá-la, produzindo cultura. Por isso, o vaso, as flores, as letras têm de ser de todos. Dois atores se aproximam da professora. PROFESSORA (Para os alunos) - O mundo é seu também. O seu trabalho não é a pena que você paga por ser homem, mas um modo de amar, de ajudar o mundo a ser melhor. 196 ATRIZ QUE FAZ A GRÁVIDA – Senhora, para que meu trabalho seja amor e não pena, eu tenho que melhorar as condições dele e dividir seus frutos com todos. Para isso nós precisamos aprender a confrontar aqueles que se dizem donos do nosso trabalho. Isso a senhora pode ensinar? PROFESSORA (Para o público) – Eu olhei para ela e assustada pensei: o que eu devo aprender? ALUNO – Uma lição. Todos se juntam. Professora à frente segura a lousa com o desenho de dois homens fazendo um vaso de barro virado para o público. MARIVALDO – Eu sei fazer um vaso igual a esse aí, mesmo sem a giradeira, dá para fazer a forma na mão com o barro cru, depois é só queimar. PROFESSORA – Olha bem a imagem. Você acha que eles fazem o vaso para quê? (...) *** A FESTA DA SOCIEDADE MORTUÁRIA. Cena do teatro de mamulengo. Os três atores que fazem os bonecos se preparam ao fundo e seguem até o palco, representado por um pano segurado pelos dois atores que fazem as falas. Canção Odete Eu tenho pena de morrer Deixar Odete Eu tenho pena de Odete Me deixar Eu tenho pena De morrer Deixar o mundo Quando eu morrer O mundo pode se acabar. 197 ATOR: Me dá uma bitoquinha, vesguinha! OUTRO ATOR - (a parte) Tenho dúvidas sobre isso. ATOR - Um cheirinho só! OUTRO ATOR - Algo bole dentro de mim. ATOR - Ô vesguinha! Me aconchega! Barulho de batida na porta. OUTRO ATOR - Ô de casa! ATOR - Quem é? OUTRO ATOR - Sou eu, o capitão! (Atriz que representa o boneco coloca e tira a cabeça de dentro do pano.) ATOR - Ih! O capitão já veio. O capitão vem chegando. Senhor capitão, fez boa viagem? OUTRO ATOR - Fiz. Como é que está a situação do trabalho? ATOR - Ah, capitão, a situação do trabalho está boa. Botei foi dois moradores para fora. Ah! Ah! Ah! Foi pau! Mas deixaram foi tanta coisa para nós capitão! Deixaram mandioca, milho e outras leguminosas, deixaram tudo plantado. Estamos no lucro, capitão. OUTRO ATOR - Mas quem mandou fazer isso, seu truculento? (Coronel bate na cabeça do empregado e lhe arranca o chapéu.) Agora eu sou o presidente de honra da Sociedade Mortuária. ATOR - Vixi Maria, capitão mais os pobres! Atores desmancham o teatro de bonecos. A professora, Marivaldo e Vitorino penduram a faixa da Associação dos Lavradores de Bom Jardim à esquerda, atrás. Aristeu conserta a cruz a frente. Odete e Dona Élia atravessam o palco em diagonal. MÃE – Quer ajuda aí, professora? PROFESSORA – Eu dou conta. DONA ÉLIA – É mungunzá que não acaba mais. Está precisando namorar, hein, Odete. Quem tem veia, tem pulsação. MARIVALDO – Festa de rico é luxo. Festa de pobre é bucho. VITORINO – Associação não é uma palavra esquisita, professora? NARRADOR – Os atores procuram um realismo que seja ruptura. Discutem se é possível imitar um mundo que desmorona. Experimentam com formas populares e descobrem novas relações de trabalho em arte. ATOR – Por que tratar desse assunto tanto tempo depois? ATRIZ – Porque os mortos dessa luta estão vivos. 198 CEGO – (sentado num caixote à direita do palco, fala a Vitorino. Músicos acompanham) Nunca estive nessa igreja Nunca teve a porta aberta Qual a reza benfazeja Que pagou a vossa festa VITORINO – (do alto da escada.) É a Sociedade Beneficente dos Mortos, Seu Cego. Inspirada nas Ligas Camponesas. E será batizada hoje: (lê a faixa.) Associação dos Lavradores de Bom Jardim. CEGO – E por que é que batem o martelo, moço? ABDIAS – É a nova cruz, doada pelo Capitão. Tem uma faixa no alto. A igreja vai ser reformada. Tudo conquista nossa. VITORINO – Conta para ele como foi a entrega da carta ao capitão. ABDIAS – Fomos em cinco ao Bom Jardim, engenho do capitão Quirino. Eu e Vitorino na frente. O rascunho da carta está com a senhora, professora? PROFESSORA – Está aqui. ABDIAS – Lê a senhora para o cego. PROFESSORA (lendo) – Prezado Capitão: A Sociedade Mortuária de Bom Jardim pede vênia para comunicar a Vossa Excelência que em sua Assembleia Geral, com o comparecimento de 123 associados.. CEGO – 123? É gente! PROFESSORA – Por unanimidade de votos foste eleito presidente de Honra da Sociedade Mortuária. ABDIAS – (interrompe a leitura) Quando eu vi nós cinco no pé daquela varanda, o homem lendo a nossa carta, nervoso com a nossa presença, alguma coisa estava mudando. Vamos representar! Marivaldo e Vitorino, venha cá. Vocês fazem a gente. Eu faço o capitão. (Para o cego) Assiste dali, Seu Cego. Abdias representa o Capitão com a carta na mão. Dá dois passos, entra música. MARIVALDO – Mas o cego não está vendo nada! ABDIAS – Ele imagina. *** 199 PROCURA DO BARRO O SOL EM PERNAMBUCO (JOÃO CABRAL DE MELO NETO) O sol em Pernambuco Leva dois sóis Sol de dois canos de tiros repetidos O primeiro dos dois O fuzil de fogo Incendeia a terra Tiro de inimigo Tiro de inimigo O segundo dos dois Um fuzil de luz Revela real a terra Tiro de inimigo Transição para translado da estrutura do cenário. Marivaldo, Dona Odete e Dona Élia fazem um coro, virados para a plateia: Revela real a terra. Tiro de inimigo. Dona Odete, a Professora e Marivaldo. Dona Élia observa a cena do fundo a esquerda. MÃE – Aqui é o açude, professora. Podemos pegar mais barro. (Professora agacha, com a cabeça entre as mãos. Dona Odete a observa.) O que a senhora tem professora? PROFESSORA – Nada. Estou cansada. Só isso. MARIVALDO – Dá para passar o cansaço para uma pedra. Unta de saliva, esfrega no calcanhar e joga para trás bem longe, sem olhar. Vai tudo para a pedra. DONA ÉLIA - Ô, atoleimado. Professora, depois eu faço um chá de ervas. 200 Mãe caminha em direção ao açude. PROFESSORA – Não se incomoda Dona Élia. A senhora vai entrar na água? MAE – A gente não entra! MARIVALDO – Naquela casa de pedra, os pretos eram jogados no açude. PROFESSORA – Os escravos? MARIVALDO – Os escravos. As águas são pesadas, puxam para o fundo. É por isso que não se pode nadar aí. ATRIZ – Ele riscava no ar desenhos que ela não entendia. Dava explicações mais complicadas do que os enigmas de que falava. DONA ELIA (canta para Marivaldo) – Vou me embora pra Luanda Que a vida lá é melhor. Escalé de doze remo, Meia lua e meio sol. MÃE – Meu marido, o finado José, me dizia: “Odete seja mansa, tua raiva com os senhores não leva a nada”. Ele não me deixaria freqüentar escola, quanto mais participar de política. MARIVALDO – Todas as coisas deste mundo falam, mas ninguém compreende. *** A REUNIÃO CAMPONESA Canção Eu não sou daqui. Sons de assembleia. Vitorino entra correndo na frente, os outros com um sino nas mãos. VITORINO – Vamos minha gente. Eles exigem o fim da associação. Deram vinte e quatro horas. E o recado veio com assalto, destelhamento, lavoura arrasada. ATRIZ – As pessoas chegam aos grupos para a reunião. É preciso representar a dificuldade de estarmos juntos. Ator se senta ao lado da cena e assiste a tudo insatisfeito. ABDIAS – Quando eu entrei na sociedade era por melhoria: escola, reforma da igreja, posto de saúde. Não era por propriedade, não sei se nos temos força para isso. ATRIZ – Ensaiávamos discutindo a diferença entre a nossa situação e a dos artistas dos anos 1960, retomávamos um tema que foi deles nos perguntando até que ponto ainda é nosso. ABDIAS – Bem que eu queria nessa vida um pedaço de mundo. Mas não é assim. MARCELINO – Eu vim travar conhecimento. Acho bom criticar, mas eu não dou um passo contra a lei. GRÁVIDA – Essa lei é deles, não é nossa. 201 ATOR – Eu acho justo saber para que nós estamos aqui. VITORINO – É nosso direito nos juntarmos para fazermos o que quisermos. Enterrar morto, jogar cartas, ir para a escola, ninguém tem que se intrometer nisso. GRÁVIDA – Quem não estiver aqui para lutar pela Associação pode pegar as coisas e ir embora. Mas quem permanecer deve mexer os braços e fechar a boca. DONA ÉLIA – Se estiver precisando de ajuda, eu tenho uma panela cheia de mungunzá que eu posso enfiar goela abaixo. ATOR (que estava sentado) – Eu me sinto desconfortável com uma demarcação tão nítida do conflito. Para mim o teatro devia ser para unir. ATRIZ – Uma atriz lembra das cinco dificuldades de se dizer a verdade, de Brecht. A primeira: ter coragem para dizer a verdade. DONA ÉLIA – Eu digo que o que eu aprendi fez mudar o meu corpo. Os meus olhos já fazem falar as palavras. O meu destino e o meu esforço me pertencem enquanto seguirmos juntos. MÃE – O que nós fizemos não pode morrer. ATRIZ (Narra) – Dona Odete ocupa o centro da sala com um papel na mão. MÃE – (Mulheres se juntam) Uma pessoa sozinha nesse mundo não vale nada. Quero pedir licença para ler uma carta que eu e as outras mulheres escrevemos na escola. (Abre a carta.) Nós, mães, esposas e filhas De Bom Jardim Em nome da Associação de Lavradores Antiga Sociedade Mortuária de Bom Jardim Aprendemos no último ano Uma coisa que sabíamos desde sempre Que somos explorados Mas só aprendemos o que já sabíamos Quando dissemos a palavra em voz alta Explorados Agora o que nós queremos saber dos aqui presentes É quem está conosco na hora sem volta Que ergam os braços. Dona Odete ergue a mão, as mulheres a seguem. Em seguida os homens acompanham. CANÇÃO EU NÃO SOU DAQUI MÃE – Essa terra é minha, essa terra é sua Eu não sou daqui Eu quero que o senhor me diga Onde foi que eu estava ontem Onde foi que eu estava ontem Essa terra é minha essa terra é sua CANÇÃO DA FOME DE MÁRIO DE ANDRADE 202 Fome de fome Fome de justiça Fome de equiparação Fome de pão Fome de pão VITORINO – É a hora do tombo do pau. NARRADORA – “Gostaríamos que as transformações que se reclamam em praça pública Se processassem de maneira pacífica, Mas a reação daqueles que têm tudo é violenta A reação dos donos dos grandes latifúndios Dos bancos Das fábricas Dos comércios E dos meios de comunicação É isso que nos leva ao desespero E nos chama para uma luta nova.” Francisco Julião, 1963. MARIVALDO – Organizaremos uma marcha, uma multidão, somos muitos, temos bocas, temos olhos, somos feitos da matéria da terra. *** 203 IMAGEM DO GRUPO DE TRABALHADORES Todos em cena. Imagem da cerca sendo derrubada. NARRADORA – No tempo em que a acumulação de riqueza Conheceu seus limites nas zonas mais atrasadas do país A burguesia do Nordeste, sob o influxo do capitalismo mundial, Expulsou os camponeses de suas terras E aumentou o valor de seu sobretrabalho na tentativa desesperada de elevar a taxa de lucro. Foi nesse contexto que a Ordem agrária entrou em colapso E aquele semicampesinato se tornou o principal ator político Da história da luta de classes no país, com o nome de Ligas Camponesas. Desfaz-se a imagem da cerca. Todos os atores de frente para o público cantam a Canção da professora CANÇÃO DA PROFESSORA Está O que não estava lá A palavra faz ver O olho produz O novo nome Do barro É vaso O novo nome Do buraco é flor Está O que não estava lá Até ser nomeado O nome produz 204 Cena do filme Tempo morto – um filme sobre o golpe, segundo ato de Ópera dos vivos. Bloco 7 Corta para torre de antenas. FUNIS - Eu avalizo. Cabedal tem uma elite atrasada, mas que justamente por isso honra suas dívidas. Corta para Bárbara. GRÃ-FINA em off – A tradição dos setores industriais é a participação. BÁRBARA – A democracia precisa de verba. Doutrinação. Propaganda em jornais, televisão. Corta para a torre. RIBEIRO – Não é só dinheiro Paulo. É ordem. Ordem. Corta para Bárbara. BÁRBARA – É infinito o trabalho de repor o idealismo no cenário político e criar um clima propício à intervenção militar. Corta para Industrial e Empresário de Extração e Governador Magano. EMPRESÁRIO (para o Governador) – O futuro político de Cabedal é que permitirá definir ao homem de empresa se ele deve ou não entrar em novos negócios. Corta para ajudante de Ribeiro, fumando um cigarro. 205 INDUSTRIAL DE EXTRAÇÃO em off – Essa incerteza, insegurança. EMPRESÁRIO – Empresário: hiper-inflação, estatização, reforma agrária. Corta para Industrial e Empresário e Governador. EMPRESÁRIO- A salvação é o estado. Intervenção. MAGANO: Mas por quê? A propriedade privada está longe de ser ameaçada. INDUSTRIAL: Problema sindical. Invasão de fábricas. Depredação de máquinas. EMPRESÁRIO: O mercado tem medo. Estamos inseguros. MAGANO: Parecem todos marxistas! Sempre o primado do dinheiro. Há um ano que se fala no golpe dos esquerdistas e do nosso contra golpe. Todos os dias. (para a câmera) Falta realismo nesse melodrama de armas e sangue. (para Industrial). Não haverá golpe. O presidente é um João bobo. Apenas balança de um lado ao outro. 206 Imagens retiradas da gravação em audiovisual realizada por Luiz Gustavo Cruz do terceiro ato da peça Ópera dos vivos, Música popular – privilégio dos mortos. CANÇÃO Vultos distantes Vultos distantes Teatro em obras Atores com armas na mão. Braços pra cima De punhos fechados Enxadas, caixotes, ação. Mas daqui onde estou Eu ouço apenas Uma canção feliz. Perna de pau, uma atriz mascarada Cartola estrelada, Tio Sam Na madrugada, assembleia Meninas, cartazes Guevara, nação. Mas daqui onde estou Eu ouço apenas Uma canção feliz. Virada de março Rajada de fogo Acordo de um golpe no chão. Barricada, incêndio 207 O céu do Aterro Uma faixa estendida: Revolução. Revolução. No palco. APRESENTADOR – (ao microfone) Ela não morreu. Está viva como nunca. O terrível espetáculo do seu internamento acabou. Era o tempo da espera. Ela imóvel num leito de hospital, sua carne atravessada por aparelhos, e eis que ela se ergue no terceiro ato, depois de três anos em coma. (a Miranda) Miranda, essa cena é sua, eu nada fiz que não fosse em seu benefício. Ouviu minha querida, com você voltamos à luz. Receba a homenagem dos seus amigos. Entra Bebelo entra e toma o microfone. BEBELO – Eu vim aqui hoje, como vocês, para celebrar a volta de uma grande alma. Devo a ela... Tão diferente de mim, ter me tornado um artista. E nossa história teve o seguinte começo... Cao, a frente de Bebelo, começa a dança de forma casúlica, e aos poucos se transforma na atriz da grande tela. Parangolés indicam o casulo de Cao. Continuam dançando nas laterais do palco. 208 *** 209 Canção Humanamente Real Humanamente real Eu estou me tornando. Humanamente real Eu estou me tornando. Os mitos caíram. Eu estou me tornando... (Queira a metamorfose) Despojadamente Sintético Real... Eu estou me tornando. CAO – Alacasam. Xasam. Evoé. Sem cor, sem linhas, sem forma, sem nada. BEBELO – A história dessa música: um dia, durante o coma de Miranda fui visitá-la e percebi em sua palidez cadavérica a conexão entre os aparelhos hospitalares e a carne. A velocidade da máquina deixava a água escorrer, e era preciso um faxineiro que limpasse o chão. No mesmo movimento, o arcaico e o moderno. Cheguei ao estúdio para gravar e olhei para o alto e vi um espírito, e foi a Cao quem me falou. CAO – Sabe esse fantasma que você vê atrás das paredes envidraçadas? BEBELO – O que é? CAO – O espírito do subdesenvolvimento. Fuja, seja real. 210 211 *** *** 212 Canção Júlia Foi quando uma aparição Júlia Sobre o teto do automóvel Seu punho contra o ar Gritou ignorada voz Reconheço essa cara Júlia Nos andaimes de um teatro Na peça de um homem desmontado Tomba agora na calçada Júlia Sou eu Espancada e arrastada Eu corro atrás Eu perco a vista Seu corpo, meu corpo Seu corpo, meu corpo. APRESENTADOR – Agora uma cançao mais alegre, voltada para o futuro. Ela dá as costas à platéia por alguns instantes. Quando volta, toma o microfone e começa a discursar. MIRANDA – O benzinho para eu não discursar, mas eu não gosto desse sapato. (Miranda senta no palco e tira o sapato) Dá para parar um pouco. (Para os músicos) Esse negócio de televisao, toda essa estrutura, e a gente meio que vai virando parte dela. Sabe o que é, a nossa voz é o nosso instrumento de luta, por isso... (Pausa) Tá bom, vamos cantar...(Retomam a música) Era para eu dançar nessa hora. Miranda canta. Música Na metade esprimida da laranja Eu vejo a feira Dois por um Dois por um Eu vejo a feira 213 *** *** 214 *** 215 Imagens retiradas da gravação em vídeo realizada por Luiz Gustavo Cruz de Morrer de pé, quarto ato de Ópera dos vivos. *** *** 216 *** (...) CAPTADOR DE SOM – (Para a Figurante) Você pode passar o seu texto para mim? FIGURANTE – Eu não tenho fala. CAPTADOR – Isso é bom. Dos quietos será o reino dos céus. *** 217 NA COZINHA Projeção de cenas da cozinha. Trilha da Cozinha ao piano. Assistente de direção acompanha com vocalize. Atores narram de posições diferentes do palco. CONTRA-REGRA – (Na frente da tela, para o público) – Oh grande tela, mostrai-nos agora seu movimento contínuo. Pois só a vitória universal da produção e reprodução é a garantia de que nada neste mundo surgirá que não seja capaz de se adaptar. Que se veja o fogo aceso da cozinha operária (aparece a imagem) As panelas fumegando, a matéria prima das carnes e plantas à espera da transmutação. MOÇA DA COZINHA – (Do lado oposto a imagem) – Carne, peixe, frango, tanto faz. O conteúdo não importa. Igual novela. Entram o Moço da Cozinha e Dona Morita do lado oposto à Moça. MOÇO DA COZINHA – Eu falei para ela: “já tem frango xadrez para a mistura, não descongela outra coisa sem consultar.” Mas vai dar tudo certo. MOÇA DA COZINHA – A senhora falou: “carne”. DONA MORITA – Você acha que eu tenho dinheiro para jogar fora? (Para o público) Algum funcionário aqui me ouviu falar a palavra “carne”? MOÇO DA COZINHA – Eu ouvi frango. MOÇA DA COZINHA – A senhora podia lembrar a ordem que dá. DONA MORITA – Eu vou lembrar: só vai sair daqui quando tiver refogado, desfiado e colocar tudo na geladeira lá de baixo. Ouviu, Dona Élia? Ninguém é bonzinho comigo, ninguém. Para quem não quer trabalhar tem uma fila aí fora. Eu vou passar o carnaval pensando nessa carne. Eu vou sonhar com ela apodrecendo. (Sai) MOÇA DA COZINHA – Quem não precisa trabalhar? MOÇO DA COZINHA – Você é teimosa demais. Enquanto não aprender a se adaptar, a vida vai ser dura com você. Nunca ouviu falar do karatê? Se o sujeito não se dobra como a vara de um bambu, ele quebra a espinha. *** 218 *** 219 220 *** *** CAPTADOR – Me faz um favor, me ergue? Deixa eu subir nas suas costas? CÂMERA – Está doido? CAPTADOR – Depois eu te deixo ouvir, vale a pena. CÂMERA – Vai (Captador sobe) Está ouvindo? CAPTADOR – Quieto. Sumiu. (pausa) Espera. Projeção de João das Neves. Off - Foi encontrado vagando na fronteira do Chile, o trabalhador rural brasileiro Marivaldo dos Santos, natural de Bom Jardim, Pernambuco. Dado como desaparecido há dois anos, ele declarou que sua intenção era voltar a pé para Havana, segundo ele “uma cidade que fala, conversa, é vida. CÂMERA – Então? CAPTADOR – Um camponês, na fronteira. Igual o Homem que enfrentou o capeta quarenta dias no deserto. (...) *** 221 *** *** 222 *** A DECISÃO Projeção do olho do cavalo, depois, rosto do Ator. Paredão de técnicos ao lado do Diretor na frente da imagem. DIRETOR – Olha só a cara dele: nenhuma beleza, mas a imagem parece bela. Será que ele não percebe que isso não é um troço feito em série. (Para a Assistente) Anita, o que você faria no meu lugar? ASSISTENTE – Chamaria as instâncias superiores. FIGURANTE – (para o Câmera) Você me conhece, não conhece? Há quantos anos eu faço figuração aqui? Depois vão dizer que eu não sou profissional. DIRETOR – O que deu nele? ASSISTENTE – De repente, se lembrou dos mortos. DIRETOR – Não, é uma criança. De manhã, na cama, a cabeça pesa, ele luta para organizar o dia, mas só encontra desordem. Quando chega a noite, ele se mete num canto de bar, enche a cara de uísque, porque aí ele espera a desordem, mas o que vê é o tempo passar uniforme nas risadas e caretas da mesa ao lado. Eu entendo, sou um pouco assim. Mas eu vou mudar, eu sei, eu tenho tempo. O Diretor se separa do Coro e caminha em direção ao Ator e para em sua frente. ATOR – O diretor me diz: eu te entendo, nós artistas somos sensíveis. CORO – Nós artistas somos sensíveis. O Diretor joga o roteiro no chão e se ajoelha. 223 ATOR – Todos temos nossos calabouços e masmorras. CORO – Todos temos nossos calabouços e masmorras. ATOR – E eu respondo a ele: “por que é tão difícil mudar uma história?” O Coro se aproxima do ator. CORO – É difícil mudar uma história. CAPTADOR - Sons de armaduras rangendo. Todos olham para o alto. Sons acompanham. O Produtor, de terno e chapéu, passeia pelas ameias do teatro acompanhando de sua secretária. CÂMERA - No alto, vemos a silhueta do produtor caminhando sobre as ameias do estúdio. Todos olham para o alto atônitos. FIGURANTE - Ouçam agora o que a figurante pensou e não disse: “este bloco sai sem mim, o meu não” DIRETOR – Dr. Lamaso, tudo bem com o senhor? Quanta elegância hein. (o Produtor o faz sinal para que o Diretor suba) O senhor quer que eu suba? Desculpa senhor, eu não entendi. (o Produtor sai, a secretária faz o último sinal) Entendi. Diretor sai. Ator volta ao estúdio. Todos sentados assistem a cena. ATOR (a Assistente) – O Lamaso, produtor, fez teatro comigo e com a sua mãe. Ela dizia dele: “esse, tem o senso da adequação” Será que ela se orgulharia de mim e de você aqui? ASSISTENTE – Ela se orgulharia de eu pagar as minhas contas. ATOR – Desse jeito? 224 ASSISTENTE – De que jeito? ATOR – Esquecendo. ASSISTENTE – Eu entendo o que você quer dizer, mas isso não muda nada. Eu não me junto a você. (vai sair, e volta.) E para de falar da minha mãe. A Assistente chora. O Contra-Regra a consola. Atriz canta o choro ao fundo. CARLINHOS – Calma Anita. É só um trabalho. A Atriz entra pela porta do cenário. Ao longo a fala os atores se levantam, conforme sua fala os inclui. ATRIZ - Eu vi o cavalinho, você é igual a ale, a mesma recusa, o mesmo não. Eu que sempre disse sim, agora entendi a jogada toda. Para que representar? Para falar o quê? Seu gesto é lindo. Você se revoltar aos 60 anos porque viu que eles precisam de nós. Com etiqueta e tudo. Podem pegar outras máquinas de carne, pôr rugas em volta dos olhos, mas só um velho tem o olhar de um velho. ATOR – O que você está dizendo? ATRIZ – Eles vão te respeitar, não vai te faltar papel. Se fosse uma mulher era mais difícil lutar contra... (chora) Uma atriz velha não vale nada, mas um homem é um homem. Não pode ser desmontado. Você é um símbolo de resistência ao sistema. ATOR – Cala a boca! Eu não sou nada. (Para todos, decidido) Anita. ASSISTENTE – Fala Perene. ATOR – Eu vou morrer. Chama o diretor. Eu vou fazer a cena. Quero pedir desculpas a todos por não saber onde estou. O Ator pega a arma e põe a peruca à espera da preparação do set. ASSISTENTE – Ele vai morrer, ele vai morrer! Vamos gravar! ***** 225 EPÍLOGO
Download