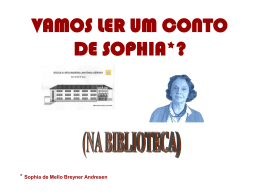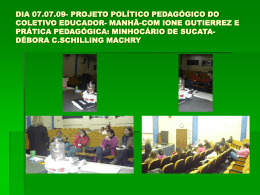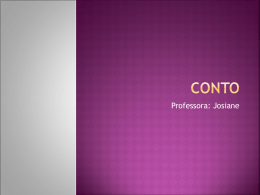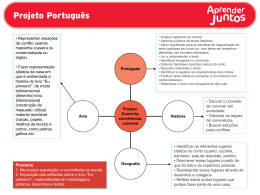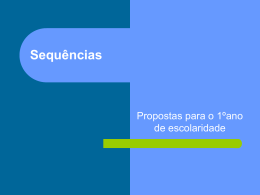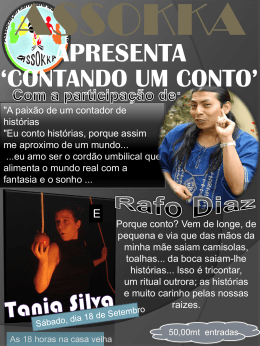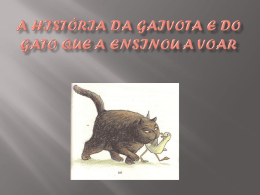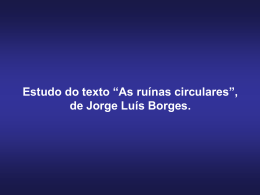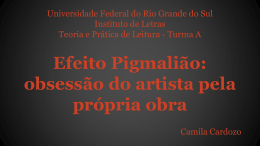Polifonia PERIÓDICO DO Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem-Mestrado Número 16 – 2008 – issn 0104-687X ESTUDOS LITERÁRIOS POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 1-156 2008 issn 0104-687x MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO Reitora Maria Lúcia Cavalli Neder Vice-Reitor Francisco José Dutra Souto Pró-Reitora Administrativa Valéria Calmon Cerisara Pró-Reitora de Planejamento Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça Pró-Reitora de Ensino de Graduação Myrian Thereza de Moura Serra Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação Leny Caselli Anzai Pró-Reitor de Pesquisa Adnauer Tarquínio Daltro Pró-Reitor de Vivência Acadêmica e Social Luis Fabrício Cirillo de Carvalho Diretora do Instituto de Linguagens Rosângela Cálix Coelho da Costa Coordenadora do Mestrado em Estudos de Linguagem Cláudia Graziano Paes de Barros Coordenadora da Editora Universitária Elizabeth Madureira Siqueira Conselho Editorial Ana Antônia de Assis-Peterson – UFMT António Manuel de Andrade Moniz - Universidade Nova de Lisboa Cássia Virgínia Coelho de Souza – UFMT Célia Maria Domingues da Rocha Reis – UFMT Cláudia Graziano Paes de Barros – UFMT Daniel Faïta – IUFM/FR Diana Boxer – University of Florida Elias Alves de Andrade – UFMT Enid de Abreu Dobránsky – USF Franceli Aparecida da Silva Mello – UFMT Helena Nagamine Brandão – USP Lúcia Helena Vendrúsculo Possari – UFMT Ludmila de Lima Brandão – UFMT Manoel Mourivaldo Santiago Almeida – USP Marcos Antônio Moura Vieira – UFMT Maria Inês Pagliarini Cox – UFMT Maria Rosa Petroni – UFMT Marilda C. Cavalcanti – UNICAMP Mário Cezar Silva Leite – UFMT Nancy H. Hornberger – University Of Pennsylvania Piers Armstrong – Dartmouth College Rhina Landos Martinez André – UFMT Roberto Leiser Baronas – UFSCAR Simone de Jesus Padilha – UFMT Sônia Aparecida Lopes Benites – UEM Stella Maris Bortoni – UnB Vera Lúcia Menezes de O. e Paiva – UFMG Editores Executivos Célia Maria Domingues da Rocha Reis Maria Inês Pagliarini Cox Organizadores Célia Maria Domingues da Rocha Reis Rhina Landos Martínez André Polifonia PERIÓDICO DO Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem-Mestrado Número 16 – 2008 – issn 0104-687X ESTUDOS LITERÁRIOS POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 1-156 2008 issn 0104-687x Universidade Federal de Mato Grosso Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n Campus Universitário Gabriel Novis Neves CEP: 78.060-900 – Cuiabá-MT – Brasil Fones: 0XX-65-3615.8408 – Fax: 3615.8413 Polifonia Periódico do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem – Mestrado Instituto de Linguagens Universidade Federal de Mato Grosso Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n Campus Universitário Gabriel Novis Neves CEP: 78.060-900 – Cuiabá-MT – Brasil Fones: 0XX-65-3615.8408 – Fax: 3615-8418 e-mail: [email protected] Ficha Catalográfica - Biblioteca Central Polifonia. Periódico do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem - Mestrado [do] Instituto de Linguagens, Universidade Federal de Mato Grosso - Ano 10. nº 16. (2008). Cuiabá: Editora Universitária, V. I; 22,5 cm 129p. Semestral I. Universidade Federal de Mato Grosso Capa, Editoração e Projeto Gráfico: Candida Bitencourt Haesbaert Av. Fernando Corrêa da Costa s/nº. Fone: (65) 3615 8322 – fax: (65) 3615 8325 Coxipó da Ponte – Cuiabá – MT – 78.060-900 [email protected] ISSN 0104-687x SUMÁRIO ARTIGOS Linguagem, Ciência e Transdisciplinaridade................................... 1 António Manuel de Andrade Moniz Conto: Círculo, Circuito............................. 25 Mauricio Salles Vasconcelos Clarice Lispector e Elena Garro: dois retratos de mulher............................ 45 Regina Lúcia Pontieri O Oriente de Os Lusíadas, de Camões: representação épica e discurso do gênero................................................................. 59 Pedro Carlos Louzada Fonseca O diálogo epistolar entre Mário de Andrade e Murilo Rubião.......... 71 Suzana Yolanda Lenhardt Machado Canovas A narrativa expressionista de Ricardo Guilherme Dicke............................ 87 Célia Maria Domingues da Rocha Reis La función comunicativa en el discurso estético contemporáneo....... 107 Marilys Marrero Fernández INSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO PERIÓDICO POLIFONIA......... 117 CONTENTS ARTICLES Language, Science and Transdisciplinarity 1 António Manuel de Andrade Moniz Story: Circles and Circuits....................... 25 Mauricio Salles Vasconcelos Clarice Lispector and Elena Garro: Two Portraits of Womanhood........................... 45 Regina Lúcia Pontieri The Orient in Camões’ The Lusiads: Epic Representation and Gender Discourse..... 59 Pedro Carlos Louzada Fonseca Epistolary Dialog between Mário de Andrade and Murilo Rubião..... 71 Suzana Yolanda Lenhardt Machado Canovas The Expressionist Narritive of Ricardo Guilherme Dicke............................ 87 Célia Maria Domingues da Rocha Reis The Comunicative Function in Contemporary Aesthetic Discourse..... 107 Marilys Marrero Fernández INSTRUCTIONS FOR AUTHORS TO SUBMIT A PAPER TO THE JOURNAL POLIFONIA........... 117 APRESENTAÇÃO Com a publicação deste volume 16 da Revista Polifonia, o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem – Mestrado, área de concentração em Estudos Literários, dá continuidade ao seu propósito de fomentar discussões em torno da literatura e divulgar trabalhos elaborados por pesquisadores deste e de outros Programas de Pós-Graduação. Laborando com diferentes métodos e objetos, os artigos apresentam questões conceituais de gênero literário – conto, romance, crônica, epopéia, poema-, discutindo as suas versões clássica, contemporânea, seu eixo transdisciplinar, o processo de hibridização por que passam, a migração de códigos, e que refletem condições sociais, históricas, tecnológicas. Tendo como base para discussão textos literários de vária proveniência – internacionais, nacionais, regionais -, alguns articulistas abstraem deles discussões crítico-teóricas; outros centram-se propriamente na análise do constructo literário, revelando o percurso estético e humano que ali se coloca. Há ainda aquele que, sem ter em perspectiva uma obra específica, envolve-se com a crítica e a estética literárias. Nesse sentido, o Prof. António Moniz faz um estudo diacrônico minucioso, arrolando número expressivo de autores e obras, para refletir sobre linguagem, ciência e transdiciplinaridade, sobre o papel dialético da crítica literária, nas relações que permeiam escrita, mundo e público, no âmbito da condição polissêmica da linguagem literária. Denuncia o ilhamento científico e a arte formalista - que apresenta pouca preocupação com o conteúdo humano-, o distanciamento entre a atividade estética e as ciências naturais e humanas, favorecido pelo Positivismo do século XIX e acentuado pela cultura da especialização do século XX. Em decorrência, afirma a necessidade da parceria dos Estudos Literários, sem desconsiderar a sua especificidade, com as ciências sociais e humanas, centradas nas múltiplas faces do Homem, humanizando as outras ciências afetadas pela hegemonia econômico-tecnológica. Mauricio Salles Vasconcelos faz reflexões sobre as trans- formações do conto, o caráter híbrido que esta modalidade literária tem ganho na contemporaneidade. Para tanto, procede ao estudo dos narradores de contos de Edgar Poe, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Gilberto Noll, autores que tecem reflexões sobre novos descortinamentos do mundo, sobre a possibilidade de, na própria narrativa, experienciar a escrita narrativa, sobreposição de camadas que vão indicando as concepções de cada um, o modo como mantêm ou não a tradição e como cada qual revitaliza este gênero. Sob o ponto de vista do discurso de gênero, temos os artigos de Regina Lúcia Pontieri e de Pedro Carlos Louzada Fonseca. O primeiro aproxima Clarice Lispector à mexicana Elena Garro. Focalizando as protagonistas de um conto de cada uma, a analista estuda a sua problemática condição feminina, nas semelhanças que as constituem – vivem numa sociedade de valores dominantemente patriarcais, são casadas -, e nas diferenças – culturais, consciência social, entre outras. Para refletir sobre este último aspecto da produção das autoras, Pontieri faz referências de domínio extra-literário, reportando-se às experiências biográficas e culturais de Lispector e Garro, como fatores determinantes do conteúdo de sua produção. O escopo do artigo de Fonseca é o de, pela análise dos recursos do plano da expressão e do plano do conteúdo, esteticamente articulados, e do discurso de gênero, considerados numa perspectiva cultural e geográfica, observar como a epopéia de Camões, Os Lusíadas, expressa o discurso europeu hegemônico, patriarcal, androcêntrico, impondose sobre o Oriente, representado artisticamente na obra de maneira feminil e fragilizada. Nesse sentido são observadas figuras como as metáforas, ideológicas, que compõem os discursos, os ardis da conquista, as descrições, os personagens, heróicos e submissos, divinos e humanos, viris, seu erotismo e sensualidade, a sua indumentária, outros elementos componentes do cenário épico como as embarcações, a premiação dos heróis portugueses no episódio da Ilha dos Amores etc, que vão projetando as imagens paradoxais de poder-submissão do masculino ocidental sobre o feminino Oriente. Suzanna Yolanda Lenhardt Machado Cánovas analisa a correspondência entre Mário de Andrade e Murilo Rubião, gênero que proporciona uma abertura para falar dos sentimentos particulares dos artistas, sentimentos camuflados ou explícitos nas suas obras. Nessa perspectiva, aborda idéias e crenças dos autores em relação à literatura – a vocação, motivação, desejos, compromissos do escritor com o seu tempo e o domínio da técnica e da linguagem –. Considerando que a produção de ambos os artistas são transgressoras das normas estéticas estabelecidas à sua época, a autora analisa também, nas cartas, alguns elementos vanguardistas de ruptura e releitura da tradição brasileira. Versando sobre literatura mato-grossense, Célia Maria Domingues da Rocha Reis apresenta algumas considerações sobre o estilo literário de Ricardo Guilherme Dicke, que se revela expressionista na composição do romance Cerimônias do esquecimento, e sobre a questão da apreciação estética, à medida que o autor, bastante afinado com outras linguagens artísticas, faz da apreciação um dos eixos do enredo e estimula o leitor à fruição das obras. Marilys Marrero Fernández, na perspectiva estética e semiótica, tece algumas reflexões sobre o texto literário, ambíguo e auto-reflexivo, resultado do trabalho especial com a linguagem, provocando nela desvios. Tais desvios são produtores de um tipo de função comunicativa que expressa os códigos de uma linguagem inédita e, em decorrência, uma nova visão de mundo. Apresentados os trabalhos, esperamos que seja profícuo o diálogo entre as instâncias mediadoras do imaginário – artista, analista, leitor -, que, considerados na sua individualidade, cumprem função recíproca entre si: todos são leitores, analistas e recriadores de realidades com base na substância literária que tomam para a leitura. Célia Maria Domingues da Rocha Reis LINGUAGEM, CIÊNCIA E TRANSDISCIPLINARIDADE António Manuel de Andrade Moniz1 RESUMO: A articulação entre linguagem, ciência e transdisciplinaridade é o objectivo deste trabalho. Não existe ciência nem pensamento sem linguagem, como esta não é independente dos sistemas de conhecimento. A sua função é servir de veículo de comunicação humana, enquanto a ciência utiliza uma metodologia específica e um código expressivo próprio. A transdisciplinaridade permite ultrapassar os limites de cada ciência, como caminhada da análise para a síntese. Para a concretização do nosso estudo, utilizaremos textos tanto de autores clássicos como da Literatura Portuguesa de Viagens. PALAVRAS-CHAVES: Linguagem, ciência, transdisciplinaridade, estudos literários. ABSTRACT: The aim of this essay is to link language, science and scientific interaction. There is neither science nor thought without language; the latter not being independent from knowledge systems. Its function is to serve as a vehicle of human communication, of which science employs a specific methodology and code of expression. Transdisciplinarity allows each science to supercede its limits, as a path from analysis to synthesis. In this study we shall refer to texts from classic authors as well as those of what is known as Portuguese Travel Literature. KEYWORDS: Language, science, transdisciplinarity, literary studies. 1 Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade Nova de Lisboa. Coordenador do CECLU (Centro de Estudos de Culturas Lusófonas). [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 1-23 2008 issn 0104-687x Linguagem e Ciência constituem um binómio de estreita articulação. Com efeito, não existe ciência sem linguagem, como não existe pensamento sem linguagem. Esta, por sua vez, não é independente daqueles sistemas de conhecimento. Ela existe precisamente como veículo de comunicação humana, não representando um fim em si mesma, mas tão simplesmente um meio. Por outro lado, cada ciência dispõe de um código expressivo próprio, tal como utiliza uma metodologia específica. Então, por quê a Transdisciplinaridade? Devido à limitação epistemológica de cada ciência. A fragmentação do conhecimento não responde às carências humanas. A necessidade moderna da especialização e subespecialização científicas corresponde tão-somente à complexificação crescente do conhecimento, à carência de aprofundamento das questões e à limitada resposta de cada indivíduo neste sentido. A Transdisciplinaridade representa, então, um meio cada vez mais imperioso de ultrapassar a fragmentação e o limitado enfoque de cada ciência, como caminhada da análise para a síntese. 1. A linguagem Existe uma profunda relação entre a linguagem, o pensamento e o mundo, sendo a comunicação um sistema de signos operatórios que codificam e descodificam mensagens simbólicas que, por sua vez, traduzem uma determinada mundividência ou cosmovisão. Entre os clássicos, enquanto Parménides relaciona a criação do ser com o seu nome (DIHEL, Fragmento 19, apud ROCHA, 2005) e Sófocles coloca a “fala e o alado pensamento” (Coro da Antígona2 (1992, p. 352) entre as normas da civilização que fazem parte da aprendizagem humana, a diversidade das línguas é já atestada em A Ilíada3 (Il., IV, v. 437-8) e em Teócrito4 (Idílios, XV, vv. 92-3). Diodoro Sículo5 interliga o progresso da humanidade com a evolução das línguas e da escrita (Liv. I, 8), relação que culmina com a Sofística, cujo 2 Século V a. C. 3 Poema épico atribuído a Homero, que narra o décimo ano da guerra de Tróia. Ignora-se com precisão a data da sua composição (século IX ou VIII a. C.). 4 Século IV a. C. 5 Século I a. C. 2 eco os diálogos platónicos registam. Desta educação fazem parte o trívio e o quadrívio, sendo a gramática, a retórica e a dialéctica as disciplinas constitutivas do primeiro. No Crátilo6, discute-se o carácter desta relação, se natural (posição de Crátilo), se convencional (posição de Demócrito). A fascinação da palavra é passada aos helenistas de Roma como uma indeclinável herança cultural. A ars dicendi, segundo Cícero, não deriva da fluência verbal ou do estilo da construção frásica, mas da sábia articulação entre forma e conteúdo, entre significante e significado (Cf. Do Orador, I, 6. 20). A admiração ciceroniana pela cultura grega não dispensa, todavia, a apologia da língua latina, que considera “mais rica do que a grega” (De Finibus, I, 3. 10). Lucrécio, por sua vez, falando da origem da linguagem, encontra na natureza animal a razão de ser da comunicação afectiva, não sendo, por isso, de admirar que o homem, dispondo de língua e de voz, nomeie as coisas com vozes próprias, isto é, com a comunicação verbal (Cf. Da Natureza das Coisas, V, 1057-61). A cultura judaico-cristã, expressa na Bíblia, valoriza a Palavra como instrumento demiúrgico por excelência. É a Palavra que cria o Universo, no Livro do Génesis: “Faça-se a luz!” (Gén., I, 3); “Façamos o homem”(Gén., I, 26). É a Palavra divina que se revela a todos os patriarcas e profetas, identificada pela figura alegórica da Sabedoria, que “apregoa pelas ruas, / nas praças levanta a voz: / grita nas encruzilhadas, / e nas portas da cidade anuncia” (Prov., I, 20). Ela é o pão que alimenta o espírito humano (Cf. Deut., VIII, 3). Não admira que Deus seja revelado como Verbo (Lógos), no Novo Testamento (Cf. Jo. I, 1), o “Verbo que se fez carne / e habitou entre nós” (Jo., I, 14), Palavra que é “Boa Nova a anunciar aos pobres e oprimidos” (Luc., IV, 18), na sequência de Isaías (Cf. Is., LXI, 1-2). Herdando da Patrística, sobretudo de Orígenes, a tríplice leitura dos signos (sentido literal, tropológico ou psíquico, e alegórico ou místico), Santo Agostinho, com base na cultura estóica e neoplatónica, funda uma teoria semiótica: “O signo é o que nos faz vir à mente algo que está para além da impressão que a coisa provoca nos sentidos” (De Doctrina Christiana, 6 Século V-IV a. C. 3 II, 1,1). O texto sagrado surge, assim, no dizer de Orígenes, como uma labiríntica floresta de sentidos (Cf. Ez., 4). Dividido entre a fascinação labiríntica do livro sagrado e a necessidade de nele encontrar o princípio do sentido único, que nasce da intenção do seu autor divino, o hermeneuta medieval responde com uma solução final com que pretende dirimir as dúvidas levantadas. Na Epístola XIII, Dante retoma a teoria dos quatro sentidos, ultrapassando o sensus spiritualis de S. Tomás. Ao promover a defesa da língua vulgar, considera a linguagem do quotidiano como o fogo através do qual o homem forja o instrumento necessário para criar o seu mundo (Cf. Convívio, I, XIII, 4). E Guilherme d’Ockham relativiza a realidade dos universais, com a sua postura nominalista, que reduz ao singular o conhecimento do existente por via empírica (Cf. Ordinatio, Prol. 1). Chamando a atenção para a flexibilidade semântica das palavras, de acordo com o contexto (Epistularum Libri, VIII, II vol), Leonardo Bruni relaciona a riqueza linguística com a necessidade de responder com agilidade e prontidão às interpelações da vida (Cf. Oratio in Funere Nanis Strozae). A relação entre linguagem e pensamento atinge uma expressão elucidativa com a identificação, por Policiano, da função do filósofo com a do intérprete (Cf. Le Selve e la Strega.): o gramático ou professor de língua é um intérprete, isto é, aquele que identifica, num contexto linguístico, os significados das palavras. E, para Lorenzo Valla, o pensamento depende da linguagem, como a filosofia tem de transformarse em retórica (Cf. De Voluptate, I, 10, 3). Ao contrário de Descartes, que retirou a filologia, a história, a retórica e a poesia do âmbito da filosofia, Gracián (século XVII) e, mais tarde (século XVIII), G. B. Vico, mantêm viva a relação entre linguagem e pensamento, através da teoria do engenho e da agudeza. Com Novalis, Schlegel e Schelling, a filosofia alemã retoma tal relação a partir da valorização da função social e mitológica da poesia, declarando Hölderlin, poeta e romancista alemão, que filósofos sem sentido estético são os burocratas da filosofia. Semelhante problemática é desenvolvida em Inglaterra, com Shaffesbury e Coleridge. Com o Positivismo, no final do 4 século XIX, assistimos, porém, à separação entre linguística e filosofia, passando a anti-retórica a dominar os romances do realismo europeu. Será necessário chegarmos ao século XX para que a filosofia anglo-saxónica se centre na revalorização da filosofia da linguagem. A fenomenologia de Husserl surge como uma superação do empirismo e do idealismo extremos, propondo, em oposição a Descartes, um reencontro entre sujeito cognoscente e mundo pensado (cogitatum), como os pólos de uma relação dialéctica. Merleau-Ponty interliga o sentido das coisas com a sua realidade, através da metáfora da alma e do corpo (1945, p. 369). Wittgenstein demarca os limites da linguagem com os do seu mundo (Cf. Tractatus..., 1962, ed. cast. 1973, VIII, 5.6). Não é apenas uma relação biunívoca entre linguagem e pensamento, ou acto linguístico e acto perceptivo, que está em jogo no processo de conhecimento, mas uma relação triádica: linguagem/pensamento/mundo. Daqui a complexidade e o polimorfismo desta relação: “Comprendre un mot. C’est une chose d’une incommensurable diversité” (Gram. Ph., 79. cf. 105. 122). Daqui o primado da linguagem em tal processo: “Tout se passe dans le langage” (Gram. Ph., 95). Mercê da sua irredutível singularidade, a obra de arte, enquanto metáfora epistemológica do mundo, oferece, pela sua abertura, um diálogo entre o artista e o seu público, permitindo a este a tarefa de o completar, como intérprete. É em virtude desta abertura que a crítica literária, através de uma multiplicidade de leituras, procura detectar na variedade genológica, temática e estrutural de um texto o fio condutor que fornece a chave descodificadora da sua unidade. Ganha, então, sentido a mensagem poliédrica de Voltaire: “il y a cent poétiques contre un poème” (TADIÉ, 1987, p. 231). Apoiada numa poética, na linguagem de Todorov (1971), que lhe fornece um aparelho teórico descritivo, a leitura crítica, ao dar-se conta de que o texto literário é construção e “busca da verdade”(Cf.TODOROV, 1984), ultrapassa, de certo modo, os modelos de qualquer esquema formalista para, numa macro-sintaxe e numa megafrase, descobrir um sentido coerente para uma determinada cosmovisão. 5 Henri Meshonnic, porém, critica esta orientação restritiva da poética, na óptica de Todorov, à gramática do texto7. Ressalvando a filiação da poesia na prática (1970, p. 7), esta crítica, apostada em desmontar falsas dicotomias, como cientismo/subjectivismo e formalismo/tematismo, contrapõe a Todorov a lucidez de Iouri Lotman8. Fazendo corresponder o abandono do etnocentrismo pela linguística ao abandono do logocentrismo pela poética, incumbe a esta a tarefa de substituir dois mil anos de pensamento ‘dualista’ e ‘espiritualista’ por uma linguagem crítica ‘monista’ e ‘materialista’, no sentido não ideológico mas dialéctico, entre a escrita e o mundo9. Dando-se conta deste postulado fundamental da obra de arte, como linguagem polissémica, os intérpretes alegóricos dos poemas homéricos aduzem sentidos plurais quer das suas personagens, quer dos seus episódios. Assim, para os Cínicos, a figura de Ulisses é arquetípica do ideal da virtude, na linha de Antístenes, apontada por Diógenes Laércio: lutando contra uma multidão de inimigos, libertando-se dos encantos mágicos de Circe e das sedutoras promessas de imortalidade por parte de Calipso, fintando o Ciclope e as sereias, mendigando no seu próprio palácio, é modelo da via ascética para a felicidade (Cf. DIÓGENES LAÉRCIO, VI, 27). Herdeiros dos Cínicos, os Estóicos enfatizam a resistência e o desprezo de Ulisses em relação quer à dor, quer ao prazer. Plutarco, comparando-o a Aquiles, faz contrastar a fortuna deste herói, pródiga em beleza física, força guerreira, descendência divina, nobreza pátria, com a inteligência e a fortaleza de alma daquele (Cf. PLUTARCO10, Vie et Poésie d’ Homère, 1896, p. 136). Quanto ao episódio das sereias, por exemplo, o seu canto representa para Plutarco a poesia com a magia dos seus encantos, sobretudo para a juventude (Cf. PLUTARCO, De Edu7 “C’est un rétrécissement à une syntagmatique qui fait partie de la poétique, mais n’en est pas le tout” (MESHONNIC, 1970, p. 148). 8 “Cette poésie plie les oeuvres à sa théorie, au lieu de se plier aux oeuvres [...]. Iouri Lotman [...] est le seul qui semble tracer à la poétique un champ d’ exploration qui soit tout le fait littéraire, vers une méthodologie des sciences humaines [...]: A la différence des systhèmes sémiotiques de type linguistique, l’ étude séparée du plan du contenu et du plan de l’ expression en art est impossible” (LOTMAN, 1960, p. 43, apud MESHONNIC, 1970, p. 149.). 9 “La poétique, après sa période formaliste, de créer un langage critique qui soutienne la tension du conflit qu’ est un texte, sans rien en réduire” (LOTMAN apud MESHONNIC, 1970, I, p. 15). 10Século I-II d.C. 6 catione Pueorum, 8 b, 1972), e, para Clemente de Alexandria, a música (Cf. Stromata, I, 10, 1996); para Porfírio, além da poesia, também abrange a sedução dos prazeres da gula, da luxúria, da intemperança (Cf. PORFÍRIO, Vie de Pythagore, 3 g, 1982); para Cícero, simboliza a atracção do prazer de saber e aprender (Cf. CÍCERO, De Finibus, V, 49,1955). Aos Estudos Literários, no século XXI, compete aprofundar esta herança da potencialidade plurissignificativa da linguagem literária, recebida dos hermeneutas alegóricos da Cultura Clássica, numa superação de fronteiras formalistas, através da articulação entre forma de conteúdo e forma de expressão. 2. A ciência A Ciência, palavra scientia, de origem latina, cognata do verbo scire, saber, encontra o correlato sentido de incidência sobre algo, estudo ou aplicação, no étimo grego epistêmê11. A tradicional dicotomia entre Ciências da Natureza e Ciências Humanas só no século XIX encontrou a sua demarcação epistemológica, já que até então conviviam harmoniosamente. Exemplo ilustrativo deste convívio é a chamada literatura de viagens, enquanto expressão da experiência humana de deambulação e de encontro físico e cultural com a pluralidade de espaços, vocacionada, mais do que qualquer outro género ou subgénero, para o diálogo intercultural com todas as ciências. Ela própria, no cruzamento entre o real e o imaginário, mas sempre na esfera do vivido, institui a descrição do mundo percepcionado, a physis e o ánthropos. Esta descrição não é feita com critérios científicos, mas o objecto representado reenvia elementos de convergência com o da natureza das várias ciências, numa espécie de paraciência. Vejamos como a literatura de viagens portuguesa articula informações que tocam o binómio Natura/Cultura, no âmbito do citado convívio. Na linha da revolução epistemológica operada pelo Renascimento, D. João de Castro, Pedro Nunes, Duarte Pacheco Pereira, Fernando Oliveira, Francisco Rodrigues, João de Lisboa, André Pires, Manuel Álvares, Bernardo Fernandes, Pêro Vaz Fragoso, Gaspar Moreira são alguns 11Do verbo εφιστηµι. 7 dos nomes portugueses que contribuíram como pioneiros da intercomunicação científica planetária, a par das navegações dos seus compatriotas, realizando a “metamorfose do impossível em possível, do desconhecido em conhecido” (BARRETO, 1987, p. 10). Os livros de marinharia, os tratados técnicos sobre construção naval e a cartografia são os domínios desse pioneirismo12. A arte náutica, como os principais problemas ocorrentes e respectivas propostas de solução, a orientação geográfica no espaço marítimo e terrestre, o exotismo dos países tropicais, como a sua fauna e flora singulares, a prática medicinal da época, são algumas das vertentes interactuantes da literatura de viagens dos séculos XVI e XVII, designadamente do complexo texto dos relatos de naufrágios, inscrito na matriz cultural do Humanismo renascentista. Conhecer para deleitar (delectare), instruir (docere) e edificar (mouere) constitui um imperativo que, na pluralidade de funções que a retórica antiga consagrou, visa a integralidade do ser humano: razão, instinto, emotividade, acção. Inserida no fenómeno da maior mutação do espaço humano, operada no século XVI13, a literatura da Expansão, desde a cronística e historiográfica, de João de Barros a Diogo do Couto e António Bocarro, à épica e à sátira, nas quais avultam Os Lusíadas (CAMÕES, 1572) e a Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto (edição póstuma de 1614), como astros de primeira grandeza, passando pelos relatos de naufrágios, explicita, como nenhuma outra, a abertura científica, cultural, política e económica da Europa ao Mundo. Em todos os textos, desfila aos olhos do leitor atento a unidade naval quinhentista, nau ou galeão, com os seus elementos estruturais e acessórios, de proa a popa, do porão ao convés, não esquecendo a armação do velame, com mastros, enxárcias e vergas14. Aparelhos e instrumentos de marear, manobras 12“A grande contribuição dos Portugueses vai ser traduzir pela primeira vez num sistema de cartografia científica do Índico e o Extremo Oriente” (V. GODINHO, 1990, p. 77). 13“Le XVIe siècle c’est d’abord, de notre point de vue, la plus grande mutation de l’espace humain. Le désenclavement de tous les espaces maritimes s’opère en trente ans. […] Il a fallu quinze ans, à peine, aux Portugais, pour contrôler l’ensemble de l’océan Indien. […] En cinquante ans, le monde s’est soudé au sommet […]. La conquête spirituelle du XVIe siècle connaît des précédents, mais celle est, à proprement parler, sans équivalent » (CHAUNU, 1969, p. 7-8). 14Cf. V relato da História Trágico-Marítima, coligida por Bernardo Gomes de Brito, 1735, T. I, passim). 8 de navegação, acções de recurso e tentativas de ultrapassagem de acidentes completam o quadro representado, numa linguagem que combina o rigor do objecto visualizado com a expressividade da vivência do sujeito. Um dos primeiros textos da literatura portuguesa de viagens do século XVI é o Esmeraldo de Situ Orbis, de Duarte Pacheco Pereira, no qual se confrontam os dados do saber antigo e os da experiência nova15. A rota (derrota) da viagem e torna-viagem, na Carreira da Índia, é sempre devidamente assinalada com rigor geográfico, registando os relatos as calmarias na costa da Guiné16, causa de graves doenças, ou os ventos contrários na costa de São Tomé17, ou, ainda, os abrolhos na costa do Brasil18, não deixando de expor os inconvenientes de cada uma das rotas a seguir, após a passagem do cabo da Boa Esperança, por dentro ou por fora da ilha de São Lourenço, actual Madagáscar. A costa do Natal é chamada pelo padre Gonçalo da Silveira o adro das naos que se perdem19, enquanto a ilha de Moçambique é tristemente conotada por João de Barros como o cemitério de muitos Portugueses20, não evitando a viagem por fora as doenças, como o expressa o Roteiro, de D. António de Ataíde (1631, apud BOXER, 1959, p. 100). No diagnóstico das causas dos naufrágios, ocupa lugar de destaque a referência às condições e corte das madeiras21. 15“[...] e como que en tam pouco tempo vossa alte-/za descubrisse quasy mil e quinhentas leguas / alem de todolos antiguos e modernos as quaes nun-/ca foram sabidas nem nauegadas de nenhumas / nasçoẽs deste nosso oucidente agora por moor se-/guransa desta nauegaçam comvem que vossa / alteza mande tornar a descubrir e hapurar es-/ta Costa do Ilheo da Cruz em diante” (PEREIRA, Esmeraldo de Situ Orbis, “Porllogo”, fol. 4,1.25-31, ed. B. de Carvalho, p. 175). 16“[...] meteo-fe tanto na terra da Còfta de Guinè, que eftivemos muito perto de acabar aqui todos, por fer Inverno nefta paragem, e partirmos tarde de Portugal, e virmos aqui ter na força delle, onde faõ tudo ventos do mar, que correm a terra, Sul, Suduèfte e Sufuduèfte, taõ rijos e de tantas chuvas e trovoadas, que andàmos nefta paragem, bordo ao mar, bordo à terra, bons tres mezes, com nos adoecer toda a gente; com que paffámos muitas, e muy grandes enfermidades, e enfadamentos” (VI relato da História Trágico-Marítima, op. cit., T. I, p. 359). 17Cf. III relato da História Trágico-Marítima, op. cit., T. I, 1736, p. 172. 18Cf. VIII relato da História Trágico-Marítima, op. cit., T. II, 1736, p. 69. 19Cf. Documenta, VI, in A. da Silva Rego, “Viagens portuguesas à Índia em meados do século XVI”. In: Anais da Academia Portuguesa da História, II Série, V, 1954, p. 99. 20“Cá [na ilha de Moçambique], depois que nefta viagem a India foi descuberta té ora, poucos annos paffaram que á ida, ou á vinda que não invernaffem alli as noffas náos, e alguns invernou toda huma Armada, onde ficou fepultada a maior parte da gente por caufa da terra fer muito doentio” (BARROS. Da Ásia, Déc. I, I Parte, L. IV, Cap. IV, 1978, p. 297). 21“A madeyra colhida verde conuerte o çumo em podridam, porq. A humidade he causa de corrupção em especial se he crua e indigesta então faz pior podridam e mays asinha se a retem mesturada cõ materea tenra, como he a das aruores no tempo do verão [...]. O tempo do inuerno nestas partes he nos meses do natal e janeyro e feuereyro, nos quaes aqui se deue cortar a madeyra pera os nauios, ainda que feuereyro jaa quasi he do veram, e nam muyto auto para cortar toda madeyra porque algua arrebenta jaa entam, senam for em terras mays frias, onde os inuernos sã mayores e aws aruores sorodeas” (OLIVEIRA. Arte da Guerra do Mar, Coimbra, 1555. In: Arquivo Histórico da Marinha, Lisboa, 1937, p. 38). 9 No campo das invenções técnicas, Frédéric Mauro (1983, p. 59) evidencia o anel graduado de Pedro Nunes, o instrumento sem nome de João Baptista Lavanha (c. 1600) e a armilha náutica de Simão de Oliveira (1606). O significativo número de 32 cartógrafos portugueses do século XVI, entre os quais Jorge Reinel, D. João de Castro, Gaspar Correia, Fernão Vaz Dourado, Fernão de Oliveira, Pêro de Magalhães de Gândavo, Manuel Mesquita Perestrelo e João Baptista Lavanha, só por si constitui um expressivo indicador do contributo nacional para este domínio científico, que se cruza necessariamente com a literatura de viagens, contando-se alguns destes e outros nomes no elenco dos escritores desta área da escrita. No âmbito da botânica exótica, o tratado dialógico de Garcia de Orta, Colóquio dos Simples e Drogas e Cousas Medicinais da Índia (Goa, 1563), ainda que fundamentado em Dioscórides e Plínio-o-Velho, representa um notável documento que só a literatura de viagens poderia inspirar, não deixando de referenciar-se o contributo de Tomé Pires e Duarte Barbosa para o registo da flora e fauna chinesas, ou de Frei João dos Santos (Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente, 1609), no que se refere à costa oriental do continente africano. O século XVIII viria a enriquecer o trabalho dos escritores quinhentistas e seiscentistas com trabalhos sobre Moçambique, como o de Manuel Galvão da Silva (1783), ou sobre a Cochinchina, como o do jesuíta João de Loureiro (1717-1791). Dos relatos da História Trágico-Marítima (Cf. MONIZ, 2001) avultam a descrição do exotismo brasileiro no XI relato, do jesuíta Gaspar Afonso, e o da ilha de Ceilão, no registro do padre Manuel Barradas. O poder de metamorfose cromática do genipavo, a ironia jocosa ao invertebrado chamado Preguiça, a sedução narcótica do tabaco, a atracção da palmeira, de cor dourada perene, e o convívio com a fauna selvagem são alguns dos exemplos de tais registos. N’ Os Lusíadas (Cf. MONIZ, MONIZ e PAZ, 2001), poema da viagem por excelência, não podemos deixar de assinalar a descrição de fenómenos atmosféricos, como o chamado Fogo-de-santelmo e o da tromba marítima, bem como a expressiva caracterização da vulgar doença náutica do escorbuto. A representação da máquina do mundo, ainda 10 que inspirada nos geógrafos gregos e latinos, não deixa de representar a astronomia da época, se bem que ultrapassada pelas descobertas de Galileu e Copérnico. A própria Ilha de Vénus, alegoria da glória dos viajantes lusos, embora produto da imaginação poética, não deixa de reflectir a experiência do autor com a realidade botânica oriental. Se as ciências naturais são contempladas na literatura de viagens, na medida em que os espaços marítimo e terrestre, para não falar do aéreo, constituem um ponto fulcral do seu objecto, as ciências humanas não o são menos. Com efeito, a poética do espanto e do deslumbramento não se limita ao exotismo do espaço, já que a descoberta de alguém, ao mesmo tempo semelhante e diferente, representa algo que fascina culturalmente o homo viator. Neste sentido, a literatura de viagens constitui um precioso etnotexto22, algo que interliga as ciências humanas e as da vida, a chamada Nova História e a das mentalidades, algo centrado no homem existencial, que busca resposta a interrogações profundas, no equilíbrio psico-cultural entre matéria e espírito23. Numa relação interdisciplinar com a antropologia, a etnologia, a geografia humana e a psicologia social, os textos da literatura de viagens confrontam o sujeito, individual e colectivo, com a problemática central da identidade/alteridade. Não se trata, como é óbvio, de uma visão estritamente científica do Próprio e do Outro, mas uma representação literária, logo subjectiva, de tais imagens culturais. Por isso, é necessário ultrapassar a dicotomia contemporânea do etnocentrismo versus relativismo, proposta por Todorov, quando abordamos textos de séculos anteriores. De resto, é o próprio analista e teorizador que apela para a virtude da sabedoria na aprendizagem das relações humanas, em face da complexidade da vida humana, ao evocar o pensamento de Montesquieu e de Rousseau24. 22“[...] des textes littéraires ou d’ archives témoignant les humbles réalités quotidiennes “(LE GOFF, 1978, p. . 230). 23“Cette histoire qui le prend tout entier en charge dans as durée séculaire, qui l’éclaire sur les permanences et des changements, lui offre l’équilibre entre les éléments matériels et spirituels, l’économique et le mental, lui propose des choix sans les lui imposer » (LE GOFF, 1978, p. 236).. 24“C’est qu’ils savaient que, même si l’équité, le sens moral, la capacité de s’élever au-dessus de soi sont le propre homme (contrairement à ce qu’affirment d’autres penseurs, pessimistes ou cyniques), le sont aussi l’égoïsme, le désir du pouvoir, le goût des solutions monolitiques. Les « défauts » de l’individu comme de la société en sont des caractéristiques aussi intrinsèques que leurs plus grandes qualités […]. La sagesse n’est ni héréditaire ni contagieuse […]. Le meilleur régime du monde n’est jamais que le moins mauvais, et même si l’on y vit, tout reste encore à faire. Apprendre à vivre avec les autres fait partie de cette sagesse-là“ (TODOROV, 1989, p. 436-7). 11 De modo similar, neste diálogo intercultural, que representa uma longa e multissecular aprendizagem, importa notar a dicotomia racionalismo versus empirismo, que opõem os antropólogos relativamente à cultura, (Cf. LEACH, 1980, pp. 8-13), tendo, todavia, em conta que tal conceito, independentemente da existência ou não de uma nítida linha de demarcação entre Natureza e Cultura (Cf. “Etnocentrismos”. In: Enciclopédia Einaudi, 1985, p. 139), aponta sempre para a inter-relação humana, logo, para a estreita ligação entre razão e experiência. Assim, a literatura de viagens, mesmo a etnocêntrica, configura sempre uma certa busca, ainda que instintiva, de aculturação, correspondendo, afinal, a uma exigência natural da condição humana, decorrente da sua caracterização social, como reconhecia Aristóteles. Na Crónica da Tomada de Ceuta (1450, 1ª ed. Lisboa, 1644) e na Crónica dos Feitos da Guiné (1453, 1ª ed. Paris, 1841), Gomes Eanes de Azurara introduz o exotismo na literatura portuguesa, através da representação do Outro: os estranhos costumes dos habitantes das Canárias; a terna compaixão do narrador em relação aos escravos da Guiné, cuja partilha aguardam lacrimosamente. A Carta, de Pêro Vaz de Caminha, na frescura da novidade do achamento da Terra de Vera Cruz, patenteia o primeiro registo antropológico dos Ameríndios (a cor, o rosto, o nariz, a nudez, os beiços furados, os cabelos, a cabeleira de penas, a habitação, a alimentação, a língua, a religião), de acordo com o objectivo: conhecer para cristianizar. Outros textos continuarão este retrato, na relação intercultural com os Europeus, como os de Pêro de Magalhães de Gândavo, dos padres Fernão Cardim, Manuel da Nóbrega e Anchieta. Em relação ao Extremo Oriente, vários textos são representativos de relações interculturais. Mas a Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, institui-se, desde logo, como texto cimeiro e singular dessa representação. Em consonância com uma maturação humana e cristã, o sujeito da escrita, identificando-se com o protagonista da história (pelo menos, em parte), dispõe-se a partilhar com os seus compatriotas, em especial o dedicatário familiar, o resultado da sua aprendizagem em 21 anos de peripécias pelo Extremo Oriente (prisão, escravatura, tortura, perseguição), fazendo um exame de 12 consciência da identidade e do comportamento colectivos (o sábio chinês e a ideologia/práxis ou fé/vida), a reputação de choramingas (a farsa palaciana na corte do Bungo) – irracionalidade versus contenção (moderatio ou symphrosynê). Em contraste com a severidade da auto-análise, a descoberta fascinante do Outro (disforia versus euforia, xenofobia versus aculturação) origina o exemplum do exótico: a teosofia oriental, como mensagem intemporal; a civilização chinesa e a Metrópole do Mundo (Pequim); o despojamento interior – idolatria e ascese, carma e nirvana (Cf. MONIZ, 1999). A ventura e lamentação, epopeia e sátira, crónica e mística, eis os principais ingredientes desse “livro do deslumbramento”, como lhe chamou Eduardo Lourenço (1991, p. 60-1). No século XIX, dois romances ocupam posição cimeira na ribalta da temática da viagem: Viagem na Minha Terra (1846), de Almeida Garrett, e Os Maias (1888), de Eça de Queirós. Em relação a este último autor, merecem também destaque, pela tónica exótica, A Relíquia (1887), sobre o Próximo Oriente, e O Mandarim (1880), sobre a China. Garrett, problematizando a questão do Portugal novo, saído da revolução liberal, deambula pela arte, pela literatura, pela filosofia e pela história, com o à-vontade das viagens nacionais, em relação ao estrangeiro cosmopolita. Instaurando-se como intérprete privilegiado e guardião das tradições do povo, a quem considera a poesia da nação, em oposição à prosa dos barões materialistas (Cf. cap. XLII), denuncia a insensibilidade e a inconsciência perante o património nacional, apelando poética e pateticamente à exsurgência de Santarém, na linha salmódica e profética, segundo o paradigma de Jerusalém (Cf. cap. XL). N’ Os Maias, Eça, apesar da sedução parisiense e do exotismo das civilizações orientais, ergue, afinal, a genuinidade da identidade colectiva como bandeira contra a imitação grosseira do gosto estrangeiro, expressa nas botas “aguçadas e reviradas como proas de barcos varinos” (s.d., cap. XVIII, p. 702). N’ A Cidade e as Serras (1901, ed. póstuma), o protagonista Jacinto acaba por descobrir, tal como Carlos da Maia, o encanto da serra portuguesa, em contraste com o enfado que a tecnologia oitocentista de Paris lhe proporcionou. De modo 13 análogo, o Gonçalo, d’ A Ilustre Casa de Ramires (1897, publicada na Revista Moderna e em 1900, ed. póstuma), lembra a João Gouveia o velho Portugal: “Até aquela antiguidade de raça, aqui pegada à sua velha Torre, há mil anos… Até agora aquele arranque para a África… Assim todo completo, com o bem, com o mal” (1945, cap. XII, p. 457). Com idêntico espírito nacionalista, o autor d’ A Relíquia, apesar do magnetismo luxuriante do Egipto e da sedução das velhas pedras da Palestina, contrapõe, no prefácio do seu belo romance, tais encantos com a superioridade da paisagem portuguesa25. E, ao contrário de Fernão Mendes Pinto, na novela fantástico-satírica sobre o dinheiro, O Mandarim, perpassa nas suas páginas uma imagem negativa da China26. No século XX, a literatura de viagens vem recuperando nos últimos decénios o lugar preponderante que os séculos precedentes lhe haviam conferido, notando-se uma particular atenção por parte dos estudos académicos e da crítica literária neste domínio. Na narrativa, destacamos, além do romance de Fernando Campos, A Casa do Pó (1986), sobre a viagem de Frei Pantaleão de Aveiro à Terra Santa, Mau Tempo no Canal (1980), de Vitorino Nemésio, e Memorial do Convento (1983), de José Saramago, como obras de assinalável incidência sobre o tema da viagem. No romance de Nemésio, este tema conduz o leitor da pequenez insular açoriana à imensidão planetária (Europa, América, Extremo Oriente), ocupando a circum-navegação do imaginário e a metáfora da viagem (transformação do tópos em trópos, isto é, do real no imaginário – a referência normal do ser, do estar e do agir: “E todos riam, felizes daquela inesperada segurança de navio que atravessa a espessura de um tufão e se aguenta num resto de mar bravo, com algumas vigias partidas e os cabos derramados” (1980, p. 256). 25“De resto, esse país do Evangelho, que tanto fascina a humanidade sensível, é bem menos interessante que o meu seco e paterno Alentejo: nem me parece que as terras, favorecidas por uma presença messiânica, ganhem jamais em graça ou esplendor... [...] O Jordão, fio de água barrento e peco que se arrasta entre areais, nem pode ser comparado a esse claro e suave Lima que lá baixo, ao fundo do Mosteiro, banha as raízes dos meus amieiros: e, todavia, vede! Estas meigas águas portuguesas não correram jamais entre os joelhos de um Messias, nem jamais as roçaram asas de anjos, armados e rutilantes, trazendo do Céu à Terra as ameaças do Altíssimo!” (Prefácio do Autor). 26“Pequim é um monstro”, como uma “formidável cidade da Bíblia, Babel ou Nínive”, onde se apinha, junto ao Templo do Céu, uma legião de mendigos”, onde as mulheres “roíam ossos tranquilamente” e “cadáveres de crianças apodreciam ao lado, sob o voo dos moscardos” (O Mandarim, s.d., p. 98, 95, 94). 14 No romance de Saramago, além do espaço que as notícias do mundo setecentista, a Ocidente e a Oriente, ocupam na economia da narrativa e além da importância da permanente deambulação das personagens, a passarola do padre Bartolomeu Lourenço representa o sonho arquetípico de voar, na imagem metafórica da construção humana de um projecto, a partir da dialéctica do desânimo e do júbilo perante as dificuldades e as vitórias, inspirada no intertexto camoniano: “é como se finalmente tivessem abandonado o porto e as suas amarras para ir descobrir os caminhos ocultos, por isso se lhes aperta o coração tanto, quem sabe que perigos os esperam, que adamastores, que fogos de santelmo, acaso se levantam do mar, que ao longe se vê, trombas de água que vão sugar os ares e o tornam a dar salgado”(1983, p. 201). 3. A Transdisciplinaridade A Transdisciplinaridade volta a ser uma meta do esforço científico integrado e globalizante, ameaçado desde o Positivismo do século XIX e a tendência de especialização e subespecialização que o século XX acentuou. Assim, a dicotomia entre a cultura literária e a técnicocientífica, responsável por soluções extremistas, foi denunciada, já em 1969, por C. P. Snow, como geradora de um isolacionismo científico que não favorece o diálogo interdisciplinar: de um lado, uma poética e uma arte formalistas, sem grande conteúdo humano; do outro lado, as ciências naturais e sociais, mais centradas em esquemas de formulação abstracta do que na relação homem-natureza e sua problemática concreta. Por sua vez, Mikaïl Baktine, reagindo contra o formalismo abstracto e o ideologismo na arte literária (1978, p. 81 e 85), diagnostica a causa profunda de tais males na falsa e exagerada antinomia da actividade estética em relação às ciências naturais e humanas27. Neste sentido, criticando a superficialidade de qualquer ciência quando mergulhada 27“L’activité esthétique ne crée pas une réalité entièrement nouvelle. `A la différence de la connaissance et de l’ acte, qui créent la nature et l’ humanité sociale, l’ art célèbre, orne, évoque cette réalité préexistante de la connaissance et de l’ acte – la nature et l’ humanité sociale – les enrichit et les complète et, avant tout, créent l’ unité concrète, intuitive de ces deux mondes, place l’ homme dans la nature, comprise comme son environnement esthétique, humanise la nature et ‘naturalise l’ homme’ » (BAKTINE,1978, p. 44). 15 no isolacionismo, preconiza o diálogo interdisciplinar como uma necessidade absoluta, já que as leis da estética não são suficientes. Como exemplo demonstrativo da mais natural incidência transdisciplinar, apontamos a Cultura Clássica. Com efeito, desde os poemas homéricos, a literatura grega representa a condição humana na sua íntima relação com a physis e a pólis. A partir do século VI a.C., a própria exegese desses poemas recorre à interpretação alegórica para explicar o sentido e a máquina do Universo cosmológico e a aventura pitagórica da metempsicose. Tais interpretações são particularmente relevantes com o filósofo Porfírio, no seu tratado Antre des Nymphes, do século III da nossa era, e com o neoplatónico Proclo28, nos seus comentários à República, de Platão, no século V da nossa era. Assim, por exemplo, Calipso (“aquela que recobre”), filha de Atlas, simboliza para Eustates de Tessalónica29 a astronomia e a astrologia, enquanto, para Porfírio, o antro das Ninfas no qual Ulisses esconde os presentes dos Feaces, representa o mundo (PORFIRIO, 1989, 5-9). Na poesia lírica arcaica, a par de uma visão onírica do Universo, encontramos uma representação física dos fenómenos naturais, como o eclipse do Sol, em Arquíloco30, ou uma representação da alma humana, como a referência de Xenófanes à teoria pitagórica da metempsicose31. A Filosofia, a História, a Geografia, a Física, a Matemática, a Geometria são particularmente estudadas nas obras dos seus autores tutelares, naturalmente. Mas, na poesia, épica, lírica ou dramática, tais disciplinas interagem significativamente, constituindo facetas poligonais de uma espécie de prisma do saber. Dificilmente encontraremos melhor retrato da psicologia humana do que aqueles ícones que a literatura grega, designadamente no teatro trágico, nos apresenta, a partir 28Filósofo neoplatónico do século V d. C. (410 ou 412 – 485 ou 487), que escreveu os seus Memoranda, ou comentários de diálogos platónicos, Theologia Platonica, Chrestomatheia, Hymni, Epigrammata e outros textos. 29Falecido c. de 1198. Cf. Eustates, Commentarii ad Homeri Iliadem, 229, I s. 30“Não há coisa inesperada, nem que se jure não existir, / nem que seja de espantar, desde que Zeus, pai dos Olímpicos, / do meio do dia fez noite, ocultando a luz / do Sol que brilhava” (DIHEL, Frag. 74, 1952 apud PEREIRA, 2005) 31Pitágoras, “Diz-se que uma vez, passando por um cão a quem batiam, / o lamentou, proferindo tais palavras: / ‘Pára, não batas mais, porque é a alma de um amigo / que reconheci, ao ouvir a sua voz” (DIHEL, Frag. 7, 1952 apud PEREIRA, 2005). 16 dos mitos arquetípicos da sua cultura, como o conjunto de tensões que envolve a luta ou agõn da subsistência ou da sobrevivência humana32, a luta pelo poder33, pelo conhecimento34, a guerra e a paz35, o amor conjugal36, o amor filial e fraternal37, a utopia da civilização38. O mythos e o lógos são dois pólos complementares de realização humana. Ao integrá-los em harmonioso convívio dialéctico, a Cultura Clássica esboça e configura uma rede complexa de tensões e conflitos que reflectem a profunda ambiguidade da condição humana. A multiplicidade teogónica representa antropomorficamente essa visão poliédrica da sociedade e do 32Héracles, Ulisses, Sísifo são heróis arquetípicos dessa luta. Viver é retomar incessantemente a estrada da ascese humana, animado pela esperança, o único dom que resta da caixa de Pandora, em ordem à consecução de um determinado objectivo, vulgarmente chamado ideal. 33A luta pelo poder, inerente à socialização e à organização da pólis, é expressivamente representada pela competição assassina entre os irmãos Atreu e Tiestes, através da qual este chega à vergonhosa cilada de cozinhar os sobrinhos e servi-los ao irmão, labéu que marcará indefectivelmente a série de dramas trágicos da família dos Atridas. Por sua vez, a luta por um estatuto de privilégio, abuso inerente à esfera do poder, é simbolizada pela cólera de Aquiles em relação a Agamémnon e, por extensão a todos os Aqueus, impasse substancial na vitória sobre os Troianos, objecto épico da Ilíada. A mesquinha disputa da escrava Briseide, despojo de guerra de Aquiles, pelo chefe dos Aqueus, na sequência da perda da filha do sacerdote de Apolo, Crises, e da peste desencadeada pelo deus da adivinhação, tem efeitos político-militares decisivos em face da recusa de combater por parte do maior guerreiro grego. 34O castigo infligido pelo roubo do fogo sagrado do Olimpo, representativo da ciência divina, marca fortemente, tanto na cultura grega como na judaica, o despeito divino em relação à pretensão humana, considerada hybris, ou arrogância, de disputar o conhecimento. 35A guerra e a paz, duas faces da civilização humana, já indiciadas na união entre Ares e Afrodite, estão desenhadas na écphrasis homérica do escudo de Aquiles: “Forjou também duas cidades [...]. / Numa havia bodas e festins [...]. / Em volta da outra cidade, estavam dois exércitos de homens, / com armas ofuscantes” (Il., XVIII, 490, 491, 509-510). 36O amor conjugal, sublimado na relação entre Ulisses e Penélope, contrasta com o adultério de Clitemnestra, agravado com o assassínio do marido, numa diversificação de situações que são timbre de todas as épocas e povos. A sagacidade feminina, bem expressa no ardil da manta de Penélope, em defesa da fidelidade conjugal, também se articula com os ícones da sedução erótica, como Circe, Calipso ou as sereias. A própria antítese mítica entre Afrodite e Ártemis simboliza duas vias de realização humana: uma, através de éros, a energia física, sexual; outra, através da philia e da agapé, a energia espiritual. 37O amor filial, propugnado por Telémaco, Orestes, ou mesmo Antígona, também se completa com o amor fraternal, como o de Antígona e Polinices. 38A utopia da civilização, que os Feaces representam, em oposição à incivilização dos Ciclopes, entronca, afinal, na mentalidade decadentista configurada no mito das idades, de Hesíodo, à medida em que a harmonia política é considerada um ideal utópico só conseguido na mítica idade do ouro: “Os Feaces não se importam com arcos nem com aljavas, / mas com mastros e remos e com navios seguros, / com que percorrem, felizes, o mar pardacento” (Od., VII, 270-2). Fora do pátio, cerca das portas, um grande jardim / de quatro jeiras; cerca-o uma sebe a toda a volta. / Aí crescem altas árvores viçosas, / palmeiras e romãzeiras, e macieiras de frutos luzidios, / doces figueiras e oliveiras frondosas. / Nunca o seu fruto se perde ou deixa de produzir, / quer seja inverno ou verão; duram sempre. [...] Tais eram as dádivas esplêndidas dos deuses a Alcínoo” (Od., VII, 112-8, 132). “De ouro foi a primeira raça dos homens dotados de voz, / que os imortais criaram, eles, que são habitantes do Olimpo. [...] A segunda raça a vir, a de prata, bem pior que a anterior, / fizeram-na os deuses que habitam no Olimpo. [...] Zeus pai modelou ainda uma terceira raça / de homens dotados de fala: a do bronze – nada semelhante / à da prata. [...] Depois que a terra encobriu esta raça, / Zeus Crónida modelou ainda uma quarta / raça divina de heróis, chamados semideuses, / a geração anterior à nossa na terra sem limites. [...] Quem dera que eu não vivesse no meio dos homens / da quinta raça, que morresse antes, ou vivesse depois! / Agora é a raça de ferro. Nem cessam, de dia, de ter trabalhos e aflições, nem de noite, de serem consumidos, / pelos duros cuidados que lhes oferecem os deuses” (In: Hesíodo (século VIII a. C.). Trabalhos e Dias, 2002, p. 109-10, 127-8, 140-5, 156-160, 174-8). 17 universo. O próprio Zeus grego apresenta uma pluralidade de rostos e de funções, numa fusão multicultural39. Na literatura latina, são muitos os exemplos da articulação transdisciplinar: com a Economia40, a Agricultura41, a Geografia42, a Astronomia43, a Sociologia e Psicologia social44, o Direito Civil45 e Constitucional46, a História47. Considerações finais À semelhança da Cultura Clássica, os Estudos Literários são interpelados a um esforço não apenas de transdisciplinaridade, mas também de parceria interdisciplinar com as outras ciências, designadamente as chamadas sociais e 39“Mais le Zeus grec n’est pas seulement le dieu indo-européen ; il a rencontré d’autres divinités mâles, en particulier un dieu crétois des cavernes avec lequel il a fusionné. […] Zeus est le ciel brillant ; mais il est aussi, d’une certaine façon, le ciel nocturne ; maître de la lumière, il se révèle dans et par la lumière, mais il a le pouvoir aussi de la masquer. […] Cette puissance souveraine de Zeus revêt, pour ceux qui la subissent, un caractère double et contradictoire. D’une part cette puissance qu’incarne le ciel, avec ses mouvements réguliers, le retour périodique des jours et des saisons, signifie une souveraineté juste et ordonnée. D’autre part, il y en a en elle un élément d’opacité, d’imprévisibilité. […] Dans la puissance de Zeus il y a à la fois un aspect de régularité, de constance et un aspect d’imprévisibilité, du bénéfique et du terrifiant. Envisagé comme ciel, Zeus se présente donc déjà sous une forme complexe et ambiguë : diurne et nocturen, faste et néfaste .” (VERNANT, 1974, pp. 104, 105, 107). 40“Fúrio, a vossa casinha não está exposta / ao sopro do Austro nem do Favónio, / nem de Bóreas cruel ou do Afeliota, / mas ao de quinze mil e duzentos sestércios. / Oh! Que vento horrível e pestilencial” (CATULO (século I a. C), 2006, XXVI, 1.5). “Houve em Roma durante muito tempo o doce hábito consagrado / de se acordar para abrir a casa desde manhã, explicar o direito aos clientes, / e colocar o dinheiro a bom recato em seguros registos, / de ouvir os mais velhos, de ensinar os mais novos / a aumentar os bens, a diminuir a ruinosa ambição” (HORÁCIO (século I a. C)., Epístolas, II, 1 (ano 20 ou 19 a. C), 2008, p. 103-7). 41“Por isso, escreverei para ti três livros, que serão um manual para consultares se, em qualquer assunto, procurares saber de que modo deves actuar e o que fazer no trabalho dos campos” (VARRÃO (século I a. C), Vida Rural, I, 1,4, 1978). 42“Para quê lembrar o Adriático e o Tirreno que a banham? / Ou lagos tão numerosos? A ti, Lago do Como, o maior, ou a ti, / Lago de Garda, que ergues as tuas ondas com frémito marinho?” (VIRGÍLIO (século I a. C.), Geórgicas, II, 1998, p. 158-160). 43Cf. Geórgicas, I, 351-5. 424-6. 44“O povo romano detesta o luxo dos particulares, mas aprecia a sumptuosidade em público; não gosta da prodigalidade nas refeições, mas menos ainda da sordidez e grosseria. Sabe distinguir, tendo em conta os deveres e as oportunidades, a alternância do trabalho e do prazer” (CÍCERO, Defesa de Murena, 36.76). 45“É inacreditável como todo o Direito Civil, para além do nosso, é rude e quase ridículo” (Id., Do Orador, I, 197). 46“O que eu entendo, o que eu sinto, o que eu afirmo é que não há, de entre todas as formas de governo, nenhuma que, pela sua Constituição, separação de poderes ou regulamentação, possa comparar-se com a que os nossos pais nos deixaram, depois de lhes ter sido transmitida pelos antepassados” (Id., A República, I, 70). 47“Na paz e na guerra cultivavam-se os bons costumes; a concórdia era máxima e mínima a avareza; entre eles, o direito e o bem não valiam mais pela força das leis do que pela da natureza. Disputas, discórdias, rixas, exercitam-nas com os inimigos; os cidadãos lutavam uns com os outros em valor; nas acções de graças aos deuses eram magníficos, parcos em casa, leais para com os amigos. Com estas duas qualidades, a audácia na guerra, a justiça, quando a paz sobrevinha, cuidavam de si e do Estado. De tais factos tenho eu as maiores provas, a saber: que na guerra foram mais vezes castigados aqueles que haviam lutado com o inimigo contra as ordens, e aqueles que haviam tardado a retirar-se do combate, apesar de chamados, do que os que tinham ousado desertar ou forçados, abandonaram o seu posto; porém, quando em paz, o facto de exercerem a sua autoridade mais pelos benefícios do que pelo medo e, quando recebiam uma ofensa, preferirem perdoar a perseguir” (SALÚSTIO, Catilina. IX, 1-5). 18 humanas, que têm como objecto nuclear o Homem, nas suas múltiplas vertentes, sem descurar o seu contributo específico para este domínio do saber. Num mundo globalizado, tão afectado pela supremacia económica e tecnológica, só as Ciências Humanas poderão humanizar as outras ciências, através da transmissão cultural de uma matriz multissecular de valores essenciais à felicidade humana. Na ânsia de tudo contabilizar em termos de competitividade e rendibilidade económicas, importa reinvestir na investigação do amplo e riquíssimo património das Ciências Humanas, tão pródigo na Antiguidade Clássica e no Renascimento europeu. Neste sentido, a articulação entre Linguagem, Ciência e Transdisciplinaridade é um imperativo categórico para o século XXI, se quisermos ser fiéis ao essencial da condição humana. Referências ATAÍDE, António de. Roteiro. In: BOXER, Charles Ralph. The Tragic History of the Sea - 1589-1622. London/Cambridge: Hakluyt Society/Cambridge University Press, 1959. AZURARA, Gomes Eanes de. Crónica da Tomada de Ceuta. Lisboa, 1916. _______. Crónica dos Feitos da Guiné. Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1949. BAKTINE, Mikaïl. Esthétique et Théorie du Roman. Paris: Gallimard, 1978. BÍBLIA DE JERUSALÉM. Tradução portuguesa. São Paulo: 1985. BARRETO, Luís Filipe Barreto, Os Descobrimentos e a Ordem do Saber. Uma análise sociocultural. Lisboa: Gradiva, 1987. BARROS, João de. Da Ásia. Lisboa: Livraria Sam Carlos, 1973. BRITO, Bernardo Gomes de. (compilador). História Trágico-Marítima. Lisboa: Congregação do Oratório, Livraria d’ Alcobaça, 1735. BRUNI, Leonardo. Epistularum Libri, VIII. Roma: Studi Storici, 1980. II vol. _______. Oratio in Funere Nanis Strozae. CAMINHA, Pêro Vaz de. Carta a El.Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil. Lisboa: IN-CM, 1974. CAMÕES. Os Lusíadas. Coimbra: 1961. CAMPOS, Fernando. A Casa do Pó. Lisboa: Difel, 1986. 19 CATULO. Poésies. Paris : Les Belles Lettres, 2006. CHAUNU, Pierre. Conquête et Exploitation des Nouveaux Mondes. Paris: PUF, 1969. CLEMENTE de Alexandria.Stromata de notas Gnósticas segundo a Verdadeira Filosofia Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1996. _______. De Finibus. Paris: Les Belles Lettres, 1955. _______. Defesa de Murena. (Pro Murena). London-Massachussets: Havard University Press, 1996. _______. A República,(De Re Publica). London-Massachussets: Havard University Press, 1994. DANTE. Convívio. Opere di Dante Alighieri, a cura di Fredi Chiappelli. Milano: Ugo Mursia editore, 1978. DESCARTES. Discurso do Método. Lisboa: Èulogos, 2007. DIHEL, Ernestus. Anthologia Lyrica Graeca. 3ed. 1952. In: PEREIRA, M. H. Rocha (Tradutora). Hélade. Antologia da Cultura Grega. Porto: ASA, 2005. DIODORO SÍCULO. Biblioteca Histórica. Livro I. Madrid: Gredos, 2001. DIÓGENES LAÉRCIO. Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. VI, 27. Trad. port. Mário da Gama Kury. Brasília: Editora UnB, 1977. D’OCKHAM, Guilherme. Ordinatio. In: Opera Theologica II. St. Bonaventure, N. Y. : Ed. S. Brown, adlaborante G. Gál. Cura Instituti Franciscani, Universitatis S. Bonaventure, 1970. ENCICLOPÉDIA EINAUDI.Trad. port. nº 5. Lisboa: IN-CM, 1985, p. 139. EUSTATES de Tessalónica. Commentarii ad Homeri Iliadem. Leipzig: 1827. GARRETT, Almeida. Viagem na Minha Terra. Lisboa: 1964. GODINHO, Magalhães. Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de Navegar. Lisboa: Difel, 1990. GRACIÁN. Agudeza y Arte de Ingenio. Madrid: Ediciones Moncayo, 1988/ IZUZQUIZA, Ignácio. Baltasar Gracian. CAI, 1998. HESÍODO. Les Travaux et les Jours. Paris : Les Belles Lettres, 2002. HORÁCIO. Epístolas. Madrid: Gredos, 2008. HÖLDERLIN. Hölderlin, Sämtliche Werke ed. Norbert von Helligrath, Ludwig von Pigenot and Friedrich Seebass. Berlin: Propyläen Verlag, 1913-23. 6 vols. 20 HOMERO. Ilíada (Iliade). Paris: Les Belles Lettres, 1998. HUSSERL. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. Third Book: Phenomenology and the Foundations of the Sciences. Klein, T. E., and Pohl, W. E., translators. Dordrecht: Kluwer, 1980. LEACH, Edmund. L’Unité de l’Homme et d’autres Essais. Paris : Gallimard, 1980. LE GOFF, J. La Nouvelle Histoire. Paris : Seuil, 1978. LOTMAN, Iouri. Lektsii po Strukural’noi Poetike. Vvedenie : Teoria Stikha, 1975. LOTMAN, Jurij M.; Uspenskij, B.A.; Ivanov, V.V.; Todorov, V.N. and Pjatigorskij, A.M. 1975. Theses on the Semiotic Study of Cultures (as Applied to Slavic Texts). In: SEBEOK,Thomas A. (ed.). The Tell-Tale Sign: A Survey of Semiotics. Lisse (Netherlands): Peter de Ridder, 57–84. Providence, Rhode Island: Brown University Press, 1960. LOUREIRO, João de. Flora Cochinchinensis..... 2 Tomos. Lisboa: Academia Real das Ciências, 1790. LOURENÇO, Eduardo. O Livro do Deslumbramento. In: Oceanos, Lisboa, nº 7, CNCDP, p. 60-61, 1991. LUCRÉCIO. Da Natureza das Coisas. Paris: Flammarion, 1997. MAURO, Frédéric. Le Portugal, le Brésil et l’ Atlantique au XVIIe siècle (1570-1670). Paris : Centre Culturel Portugais, Fondation Calouste Gulbenkian, 1983. MESHONNIC, Henri. Pour la Poétique I. Paris: Gallimard, 1970. MERLEAU-PONTY. Phénoménologie de la Perception. Paris : Gallimard, 1945. MONIZ, António. Para uma Leitura da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Lisboa: Editorial Presença, 1999. _______. A História Trágico-Marítima. Identidade e condição humana. Lisboa: Edições Colibri, 2001. MONIZ, António; MONIZ, M. Celeste; PAZ, Olegário. Dicionário Breve de “Os Lusíadas”. Lisboa: Editorial Presença, 2001. NEMÉSIO, Vitorino. Mau Tempo no Canal. 6ed. Lisboa: Bertrand, 1980. OLIVEIRA, Fernão de. Arte da Guerra do Mar. Coimbra, 1555. In: Lisboa: Arquivo Histórico da Marinha, 1937. ORTA, Garcia de. Colóquio dos Simples e Drogas e Cousas Medicinais da Índia. Goa: Academia das Ciências de Lisboa, 1563. (ed. fac-similada) 21 PEREIRA, Duarte Pacheco. Esmeraldo de Situ Orbis. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991. PINTO, Fernão Mendes. Peregrinação. Lisboa: IN-CM, 1994. PLATÃO. Crátilo. Lisboa: Instituto Piaget. 2002 . PLUTARCO. Vie et Poésie d’ Homère. Leipzig : ed. Bernardakis, 1896. _______. De Educatione Pueorum Œuvres Morales), I. Paris : Les Belles Lettres, 1972. POLICIANO. Le Selve e la Strega, Opera. Lyon: Seb. Greyff, 1546. PORFÍRIO. Vie de Pythagore. Paris : Les Belles Lettres, 1982. _______. Antre des Nymphes. Paris, Lagrasse : Verdier, 1989. PROCLO. In Rempublicam. Lepzig, Teubner: Ed. G. Kroll, 18991901. 2 vols. QUEIRÓS, Eça de. A Relíquia: sobre a nudez forte da verdade - o manto diaphano da phantasia.1ed. Porto: Typ. de A. J. da Silva Teixeira, 1887. Porto: Ed. Lello & Irmão, 1966. _______. A Relíquia.: sobre a nudez forte da verdade - o manto diaphano da phantasia.1ed. Porto: Typ. de A. J. da Silva Teixeira, 1887. Porto: Ed. Lello & Irmão, Porto, 1966. _______. O Mandarim. 1ed. Porto: Livr. Chardron, 1880. Lisboa: Edição Livros do Brasil, s.d. ________. A Cidade e as Serras. 1ed. Porto: Livr. Chardron, 1901. Lisboa: Ed. Livros do Brasil, s.d. _______. A Ilustre Casa de Ramires.1ed. Porto: Livr. Chardron, 1900. Porto: Ed. Lello & Irmão, s.d. REGO, A. da Silva. Documenta, VI. Viagens portuguesas à Índia em meados do século XVI. In: Anais da Academia Portuguesa da História, II Série, V. Lisboa: Academia Portuguesa de história, 1954. SARAMAGO, José. Memorial do Convento. 6ed. Lisboa: Editorial Caminho, 1983. SALÚSTIO. Catilina (La Conjuration de Catilina). Paris : Les Belles Lettres, 1999. SÃO TOMÁS DE AQUINO. Verdade e Conhecimento. São Paulo: Martins Fontes. SANTO AGOSTINHO. De Doctrina Christiana. Oxford: Oxford Early Christian Studies. Paris: Desclée de Brouwer, 1949. Ed. Bilíngüe (latin-français). SANTOS, Frei João dos. Etiópia Oriental e Vária História de Cousas 22 Notáveis do Oriente. 1609. Lisboa: ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999. SILVA, Manuel Galvão da. Diário ou relação das viagens filosóficas, nas terras da jurisdição de Tete e em algumas dos Maraves. 1783. In: Anais da Junta de Investigações do Ultramar. v.9, t.1. p. 311-319. _______. Diário das viagens feitas pelas terras de Manica por Manuel Galvão da Silva em 1790. In: Anais da Junta de Investigações do Ultramar. v.9, t.1. p. 321-332. SNOW, C. P. As duas culturas. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1969. SÓFOCLES. Antígona. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 3ed. Coimbra: INIC, 1992. TADIÉ, Yves. La Critique Littéraire au XXème Siècle. Paris: Belfond, 1987. TEÓCRITO. Idílios (Idylles). Paris: Les Belles Lettres, 2009. TODOROV. Poétique de la Prose. Paris: Seuil, 1971. _______. Critique de la Critique. Paris: Seuil, 1984. _______. Nous et les Autres – la réflexion française sur la diversité humaine. Paris: Seuil, 1989. VALLA, Lorenzo. De Voluptate, I, 10, 3. Paris: in Aedibus Ascenianis, 1512. Opera (Basle, 1540). VAHLEN, Laurentii Vallae. Opuscula tria. Vienna: 1869. VARRÃO. Vida Rural. (Économie Rurale). Paris: Les Belles Lettres, 1978. VERNANT, Jean-Pierre. Mythe et Société en Grèce Ancienne. Paris: Editions La Découverte, 1974. VICO, G. A Ciência Nova. Rio de Janeiro: Record, 1999. VIRGÍLIO. Geórgicas. (Géorgiques). Paris: Les Belles Lettres, 1998. WITTGENSTEIN. Tractatus Logico-Philosophicus, 1961. D. F. Pears and B. F. McGuinness (transl.). New York: Humanities Press...,1962. Ed. cast. Editorial Tecnos, 2007. VIII. _______. Philosophical Grammar. R. Rhees (ed.). A. Kenny (transl.). Oxford: Blackwell, 1974. 23 Conto: Círculo, Circuito Mauricio Salles Vasconcelos1 RESUMO: O artigo estabelece uma reflexão sobre as mutações do conto, focalizando o narrador nos escritos de Poe, Rosa, Lispector e Noll. PALAVRAS-CHAVE: Conto, narrador, maelström ABSTRACT: This article traces a reflection on the mutations of the short-story, focusing on the narrator in the writing of Poe, Rosa, Lispector and Noll. KEY-WORDS: Short-story, narrator, maelström. Muitos são os percursos tomados, ao longo do tempo, pelo conto, esse gênero “tão pouco classificável”, como diz Cortázar (1974, p. 150), avizinhado ora da poesia, ora reduzido às proporções mínimas de relato. Gênero que na contemporaneidade cruza, de modo híbrido, com a música, o cinema, mesmo com o vídeo e outros meios técnicos capazes de lançar a forma curta, constituinte do conto, a experimentações incalculáveis. A diversidade por que vem passando o conto, quanto à sua caracterização, observandose o contágio por modos outros e cada vez mais breves de narrar, poderia defini-lo, assim como as suas variantes, sob a designação geral de “formas narrativas curtas”. Com perspicácia, Flora Sussekind observou tal tendência de minimização do relato, de modo a denominar os novos contos de “narrativas em miniatura” (1996, p. 7). Nota a estudiosa a variedade da ficção recente no Brasil em direção ao que chama de “compressão narrativa” (ibid), um movimento contrário ao das décadas de 70 e 80, nas quais o romance vigorou a ponto de tornar-se uma forma fixa, gradativamente destituída de crítica e poder de invenção (restrita, em sua maioria, já nos anos 90, à prática do romance histórico ou policial, e na mistura previsível de ambos). O 1 Professor-Doutor da USP/FFLCH, área de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. Realizou Pós-Doutoramento na University of New York (2000-2001). [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 25-43 2008 issn 0104-687x que podemos chamar de “relatos mínimos” e “híbridos” constitui as narrativas de Zulmira Ribeiro Tavares e Vilma Arêas, os mini-contos de Dalton Trevisan, Modesto Carone e Horácio Costa, assim como os relatos acionados por uma sensibilidade cinematográfica, caso de João Gilberto Noll em O Cego e a Dançarina (1980), um autor que cultua os fundamentos do conto moderno ao mesmo tempo em que os combina, de modo sempre surpreendente, com as formas do espetáculo. Sua produção mais recente – Mínimos Múltiplos Comuns (2003) –, só faz consolidar tal orientação, num direcionamento simultaneamente miniaturista e expandido para as muitas frentes desbravadas por todo um conjunto ficcional. É o que se observa nas muitas seções – índices macro-cósmicos de um repertório temático –, contidas em seus relatos mínimos. Há dois pontos, porém, que devem ser destacados no estudo das formas curtas e contemporâneas de narrar. O primeiro é que a narrativa breve, brevíssima, como a de hoje, e marcada pela relação com as outras artes e outros modos/meios técnicos de narração, não se desfaz de um núcleo mínimo de “tensão conflitiva”, de acordo com os termos de Benedito Nunes em análise dos contos de Clarice Lispector (1973, p. 79). Há um “episódio único” (ibid), por mais fluido e imaterial que seja (como aqueles ocorridos em planos psicológicos, sensitivos e espirituais), a garantir nestes relatos a unidade indispensável a qualquer forma narrativa. É a existência de tal núcleo de tensão (conflito ou contato entre um personagem e outro, entre o personagem ou voz narrativa e um objeto, seja este abstrato ou real, inorgânico ou vivo) que sustenta a construção de um relato, enquanto forma realizada de narrar. Realização comum a todo relato, em qualquer modulação, do conto mais longo – como o que realiza Guimarães Rosa em Sagarana (1946) –, ao micro-conto, concebido por Dalton Trevisan, em sua fase atual, como haicai. Outro ponto diz respeito ao diálogo mantido pelo conto contemporâneo com as fontes primitivas de relato, com a significação primeira do contar, que vem do latim computare (enumerar, relatar), e se refere não apenas ao ato de relatar acontecimentos ou ações, como observa Nádia Gotlib, em 26 Teoria do conto: “Pois relatar implica que o acontecimento seja trazido outra vez, isto é: re (outra vez) mais latum (trazido), que vem de fero (eu trago)”(1985, p. 12). É este o sentido encontrado nas comunidades arcaicas, onde os relatos obtêm sua continuidade por meio da “experiência que anda de boca em boca”, segundo Walter Benjamin, e “é a fonte onde beberam todos os narradores” (1980, p. 58). Os primeiros contos – e determinar sua origem seria se perder no tempo cada vez mais remoto da história da cultura humana –, são marcados pelo caráter da oralidade, pelo testemunho do narrador realizado a uma audiência, seja através da tradição ou da experiência. Eram marinheiros, viajantes ou mestres volantes de artesanato (já na Idade Média) os narradores primitivos. Recolhido por velhos camponeses ou artesãos sedentários, indispensáveis artífices, o relato garantia, assim, sua permanência, passando a se unir, de acordo com o ensaio citado de Benjamin, ao conjunto das narrativas básicas incorporadas à memória coletiva. Vindo de longe, desfiado ao longo do caminho, o conto-experiência do visto e do vivido nas viagens representava, para as comunidades em que conseguia se preservar, o registro de um acontecimento narrado ao vivo. É a perda desse valor testemunhal, da transmissão de um saber adquirido por experiência, que Benjamin assinala ao estudar as narrativas modernas. O que ocorre primeiramente no romance, gênero, segundo ele, do indivíduo em sua solidão, individualização imposta, por um lado, pela palavra escrita, pelo livro e pela invenção da imprensa, que promoveu a difusão popular do gênero. Envolvido com os processos de tal individualização e o tipo de personagem que daí desponta – um “herói problemático”, como o define Georg Lukács em Teoria do romance (2006), o narrador está incapacitado para “exprimir-se exemplarmente sobre seus interesses fundamentais, pois ele mesmo está desorientado e não sabe mais aconselhar” (BENJAMIN, 1980, p. 60). O ensaísta alemão estende sua observação sobre a mudança do estatuto do narrador à formação da short-story, que fugiu à tradição oral e não permite mais aquela lenta superposição de camadas finas e transparentes, 27 que oferece a imagem mais exata da maneira pela qual a narrativa perfeita emerge da estratificação de múltiplas renarrações. (BENJAMIN, 1980, p. 63) A despeito da dissolução do circuito da oralidade (o contar e o recontar do relato favorecendo o aprendizado e a renovação da experiência primeira, original de narrar) no tempo, o conto moderno (short-story) não deixa de fazer alusão à tradição oral, mais precisamente ao caráter de busca e revelação de uma experiência. Mesmo quando se considera que, no século XIX, o conto define-se por sua qualidade técnica de gênero narrativo caracterizado pela “unidade de efeito ou de impressão” (nos termos de Edgar Allan Poe, contista exemplar e autor de “A primeira teoria do conto”, (1974, p. 14) e passa, por força de sua brevidade e intensidade (categorias ressaltadas pelo estudo de Poe), a circular em jornais e revistas, valorizado exatamente por ser uma narrativa abreviada. Ou seja, por toda uma tendência que Benjamin critica como própria do homem moderno, que descarta a lenta maturação das narrativas primitivas, e suas renarrações, em favor do imediatismo da informação: “O homem de hoje não trabalha mais naquilo que não pode ser abreviado” (BENJAMIN, 1980, p. 63). Não se pode esquecer, entretanto, que a matriz do conto – computus –, diz respeito não apenas à recapitulação ou ao restabelecimento de um fato, como pensa o crítico argentino Mario A. Lancelotti: Cômputo – que, além do mais, é calculus – conduz-nos naturalmente à “conjetura”, que é a segunda acepção (...) busca da Verdade que Poe postulava como um dos agentes formais do conto. (1968, p. 8) É justamente Edgar Poe, teórico e praticante do conto em uma acepção moderna, que vai tornar sua forma um espaço de especulação, possível de aproximar a ficção das diversas áreas do conhecimento, em busca da compreensão de uma realidade tornada mais e mais complexa. É vivo em todo texto de Poe seu grande interesse pelo entrelaçamento entre arte e ciência. O contista passa a lidar com seus próprios enigmas, aqueles que ele investiga na interioridade dos personagens – como um verdadeiro experimentador da psicologia e dos planos mais ocultos do inconsciente, nos 28 domínios do sensitivo, do espiritual –, e nos ambientes mais diferenciados do mundo moderno. Investe-se do lugar de detetive com relação à grande cidade, que já se tornava populosa nos Estados Unidos (país do contista) e na Europa, na primeira metade do século XIX, de onde surge, em meio à multidão, o personagem que nesta se esconde, como o criminoso, ou o andarilho urbano, que vive, à deriva, dentro dela. Enfim: “O homem da multidão”, tal como está exposto, desde o título, em seu grande conto. Ou o homem-multidão, que o contista estuda à maneira de um pesquisador das novas formações humanas e urbanas. Surge da variada modulação do gênero nas mãos de Poe alguns relatos tornados populares tais como o conto policial, o conto de mistério, o do terror, assim como experiências próximas a uma espécie de conto ensaístico-científico, nada distante, porém, do poético e de uma poética do gênero. É o que ocorre em relatos do nível de “Uma descida no maelström” (1944), no qual Poe lida com a mais livre fantasia e, ao mesmo tempo, com a investigação do psiquismo e da percepção, seja no plano de uma fenomenologia, seja na observação de uma ordem cósmica. O conto é construído como uma narrativa fidedigna, com todo o detalhismo e o poder descritivo de um verdadeiro narrador, sobre o estranho fenômeno marinho, ocorrido nas regiões nórdicas, o maelström (turbilhão, redemoinho gigantesco ou vórtex), possibilitando também sua inscrição no gênero do conto de aventura. Mas por outro lado, “Uma descida no maelström” possui uma visível complexidade devido ao seu caráter mesmo de peça elaborada, calculada de escrita, que não consegue deixar de impor seu caráter de construção. E isto se percebe por mais que a narrativa pareça se esgotar no simples ato de sua enunciação, como se pudesse se bastar no relato (e no que aí envolve precisão, cientificidade) do acontecimento em si. Já em seu início, o conto dispõe da figura de um velho narrador, de forma a manter um vínculo entre o que será narrado e a experiência do personagem, que vivenciou o maelström, assim assinalando a raiz primitiva, oral, do relato. 29 Tínhamos agora atingido o cume do mais alto rochedo. Durante alguns minutos, o velho pareceu demasiado exausto para poder falar. - Não há muito – disse ele, afinal – teria eu podido guiálo nesta estrada, tão bem como o mais moço de meus filhos; mas há cerca de três anos, aconteceu-me uma coisa tal que nenhum homem jamais a ela sobreviveu para contá-la; e as seis horas de mortal terror, que eu então senti, me abateram de corpo e alma. O sr. me considera um homem muito velho; mas não sou. Bastou menos de um dia para mudar estes cabelos, dum negro brilhante em cabelos brancos, para enfraquecer minhas pernas e relaxar meus nervos, de modo que tremo ao menor esforço e tenho medo até de uma sombra. Sabe que mal posso olhar por sobre este pequeno penhasco, sem que logo sinta vertigens? (POE, 1944, p. 90) O contista leva o leitor, pelas mãos do velho narrador, até as imediações do lugar de surgimento do maelström, com uma força de reconstituição do acontecimento que funciona como um testemunho realmente experimentado. Mas, por outro lado, a narrativa deixa-se fascinar pelo próprio fenômeno que observa – o tenebroso turbilhão marítimo da costa norueguesa. Sem perder sua unidade de efeito e impressão, o conto parece desorientar-se pelo que está fora de suas margens. Interessa ao contista captar a força desmesurada, com algo de não-natural, presente no maelström. Interessa-lhe captar a vertigem (a voragem da natureza), aquele ponto em que a concisão própria do conto não se dissolve, ao alongar-se por várias páginas, em sua mescla de observação científica, que é também imersão nas regiões pouco exploradas do psiquismo, e imaginação literária. Pode parecer que me esteja gabando, mas o que lhe digo é verdade. Comecei a refletir que coisa magnificente era morrer de tal maneira, e que loucura era a minha de preocupar-me com uma coisa de tão vulgar interesse, como era a minha própria vida, diante de tão maravilhosa manifestação do poder de Deus. Acredito que corei de vergonha, quando esta idéia me cruzou o pensamento. Pouco depois, fiquei possuído da mais aguçada curio30 sidade pelo próprio turbilhão. Sentia positivamente um desejo de explorar-lhe as profundezas, mesmo ao preço do sacrifício que ia fazer; e meu principal pesar era jamais poder contar a meus amigos, na praia, os mistérios que iria conhecer (POE, 1944., p. 100) Apesar da construção bem acabada do conto, sem prejuízo do interesse do leitor e do efeito de surpresa, Poe aponta para uma sensibilidade já bem distante do universo do relato primitivo. A ele interessa menos a ordenação cronológica, sucessiva, dos fatos, tal como consegue empreender, dentro de sua lógica e de sua experiência, o velho narradorpersonagem de “Uma descida no maelström”. O mais importante para Poe é o encontro com as forças inexplicáveis, desestabilizadoras, promovidas no contato com o vórtex, às quais se dedica como um explorador de fenômenos. Uma escrita surgida deste contágio do relato por uma “verdade” mantida em suspenso, aterradora, colhida em regiões pouco exploradas do universo e da psiquê humana, é o que, enfim, acaba por valer. E, assim, se encerra o conto: Fui levado violentamente para o canal do Strom e em poucos minutos vi-me precipitado na costa, dentro das perspectivas dos pescadores. Um bote me recolheu, exausto de fadiga e (agora que o perigo estava passado) sem fala, à lembrança de seu horror. Os que me recolheram a bordo eram meus velhos companheiros cotidianos, mas me conheceram menos do que se eu fosse um viajante do outro mundo. Meu cabelo que fora negro como a asa do corvo, no dia anterior, estava tão branco como o que o sr. agora vê. Eles dizem também que toda a expressão de minha fisionomia tinha mudado. Contei-lhes minha história... Eles não acreditaram. Conto-a, agora, ao senhor. E mal posso esperar que o sr. lhe dê mais fé, do que o fizeram os alegres pescadores de Lofoden. (POE, 1944, p. 105) A reflexão oferecida pelo conto de Poe é a de que, mesmo não pertencendo ao tempo da oralidade, a short-story não prescinde do ato de narrar como experiência e transmissão, mesmo que o tecido do texto não provenha da “lenta superposição de camadas finas e transparentes”, obtida pelas 31 “múltiplas renarrações”, segundo Benjamin. Por mais que o ato de relatar manifeste sua própria crise, seu enfrentamento com aquilo que excede a própria narrativa, o conto moderno não fica sem encenar a ausência do centro coeso, aglutinador, representado pelo saber do narrador primitivo. Trabalha com os dados do não-saber e a inexistência de crédito quanto ao que é narrado, como se observa no encerramento de “Uma descida no maelström”, e retira daí a sua força. O conto literário, tal como produzido a partir de Poe, vive da busca da experiência, em um tempo pobre em experiência, como é a modernidade, segundo a leitura de Benjamin, consistindo esta busca no próprio significado do que se lê, de modo tenso ou problemático, auto-reflexivo ou aberto à mais livre imaginação. A “verdade” sobre um acontecimento, porém, nunca é inteiramente dita. O conto vive da arte da sugestão e da incompletude quanto a um juízo último, definitivo, a ser encontrado, em seu final. Não há moral da história neste sentido (nos melhores contos, o sentido de moral e de história constituem, inclusive, um ponto indagativo básico da narração). Mas, tão somente, a busca de experiência que o narrador incita, ao estender sua escrita, ora sugestiva, ora enigmática, à participação do leitor. A forma breve do conto mostra-se perfeita para a captação da momentaneidade dos acontecimentos. O conto, de Poe a Tchecov, de Kafka a Clarice Lispector (um grande referencial do gênero no Brasil), pode variar quanto à extensão, mas manterá sua finalidade em ser uma escrita do flagrante, do instante. E o instante, o momento que diz respeito ao episódio único ou centralizador dos interesses narrativos do conto, pode se prolongar, como sucede em torno do maelström, aparição instantânea (este fenômeno marinho caracteriza-se por sua inesperada e velocíssima irrupção), desenvolvida, contudo, em um conto longo. A imagem apresentada pelo conto de Poe demonstra que existe um foco central de irradiação em torno do qual toda a construção do texto gravita. O vórtex não aparece como uma idéia apenas catalizadora, mas um núcleo construído a partir da velocidade de idéias, e também de temas e imagens, que não param de surgir e fornecer informação/ 32 significação, em um trânsito constante, capaz de ir do horror até a “impressionante sensação de novidade, que confunde o observador” (POE, 1944, p. 93): Fomos descendo, a girar cada vez mais, não com um movimento uniforme, mas em volteios entontecedores e pulos, que nos impeliam, às vezes, apenas a poucas centenas de jardas e doutras quase faziam o circuito completo do turbilhão. (............) Olhando em torno de mim para a vasta imensidão de ébano líquido, sobre a qual éramos assim transportados, notei que o nosso barco não era o único objeto envolvido no turbilhão. Acima e abaixo de nós viam-se fragmentos de navios, grandes massas de traves e troncos de árvores, com muitos objetos menores, tais como pedaços de mobílias de casas, caixotes quebrados, barris a aduelas. Já descrevi a curiosidade anormal, que substituíra meus terrores primitivos. Parecia aumentar, à medida que me aproximava cada vez mais de meu terrível destino. Comecei então a observar, com estranho interesse, as numerosas coisas, que flutuavam em nossa companhia. Devia estar delirante, pois buscava mesmo diversão em adivinhar as velocidades comparadas dos seus vários movimentos de descida, na direção da espuma, lá em baixo (...) Afinal, depois de fazer várias verificações desta natureza e de ter-me enganado em todas, este fato, o fato do meu invariável engano, colocou-me num curso de reflexões, que fizeram minhas pernas tremerem de novo e meu coração bater pesadamente, ainda mais uma vez. Não era um terror novo que assim me afetava, mas o raiar de uma esperança mais excitante. Essa esperança brotou parcialmente da memória e parcialmente da observação do momento. (POE,1944, p. 102-103) Uma concepção de conto muito próxima da de Poe pode ser observada em “Amor”, um “clássico” de Clarice Lispector, antologizado e estudado como peça fundamental do gênero e da autora. “Amor” é, de fato, um marco do conto no Brasil, certamente ao lado dos textos reunidos no pioneiro Sagarana, de Guimarães Rosa, do qual “São Marcos” poderia se 33 aproximar, pois ambos os contos apontam para sua moderna tradição, vinda de Poe, desbravando no Brasil sertanejo (Rosa) e urbano (Lispector) uma vertente dentro do gênero, que alia o traço de revelação instantânea, atribuível à epifania – conceito estudado por muitos críticos no James Joyce de Dublinenses (publicado em 1914) e, também, em Bliss (publicado em 1920), de Katherine Mansfield-, àquele de uma ordem especulativa. Dentro desta modulação, o conto é concebido como uma espécie de cápsula de experimentação em tempo breve: gênero que tanto serve à reflexão científica (Poe deve ser lido como um inventor, também, nesse sentido de hibridização do discurso da ficção com outros discursos, e o da ciência, sobretudo) quanto à indagação de cunho filosófico (expressiva em Clarice e Rosa). Nesses autores, cumpre-se o objetivo maior que todo conto legítimo possui, o de exercer sobre o leitor seu poder de atração e intensidade, durante o tempo da leitura exigido pelo gênero (de uma ou duas horas, no máximo, nos contos mais extensos, como estabelece Poe em sua famosa teorização, quando da resenha a Twice-Told Tales, de Hawthorne, em 1842). Como no conto citado de Poe, “Amor” trata de um acontecimento básico, que atrai a atenção do narrador, de modo obsessivo, quase fatal. “Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava chicles” (1960, p. 20). Extraída do curso da vida cotidiana, do trajeto do bonde que conduz Ana, a protagonista de “Amor”, até o Humaitá (RJ), a imagem do cego que masca chicles, parado no ponto do bonde, – “A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado”(ibid.) –, irá se constituir em um motivo reiterado ao longo do conto. Sua breve aparição não evita que a narrativa se encaminhe, e se desencaminhe, a partir deste mínimo acontecimento: o ato de ver mesmo (“Então ela viu...”) o que não pensava existir – como sucede na descida ao maelström -, e Ana passa, então, a vivenciar, ao perder a rota de casa e dirigir-se para o reino obscuro e fascinante do Jardim Botânico. “E vi por vezes aquilo que o homem acreditou ver!”, diz um verso do “Bateau ivre” (“O barco bêbado”), de Rimbaud (escrito em 1871), poeta francês influenciado por contos de Poe, como por exemplo, “Uma descida no maelström”. 34 E é bem uma incursão em um universo nunca provado – aquele visto pela perspectiva de um cego –, a que se lê em “Amor”. Através de uma espécie de iniciação nas trevas (que ocorre também em “São Marcos”, de Rosa), Ana vê/ revê o mundo. O conto, para Clarice, vale por seu caráter de transcurso vertiginoso, surpreendente, como o é no caso de Ana. Se o fio da narrativa não se deixa desfazer, assim como os fios que sustentam a rede do saco de tricô tecido pela protagonista – a teia de sua atividade cotidiana –, se o conto se mantém integrado e interessado no diálogo com o leitor até seu instante final, não se pode omitir que é urdido em função do acontecimento e de outros que se desdobram de modo nada retilíneo (na contracorrente da lógica de uma causa e de um efeito), como se não obedecessem a um traçado exterior. A força de Clarice está, assim como nas ficções de Poe e Rosa –, em encontrar para o conto (para cada conto, seria o caso de se dizer) o seu próprio cálculo. Cada contista reinventa o gênero, é o que se deixa ver desde sempre. O conto não é uma fórmula a ser copiada. Não são iguais Maupassant, Maura Lopes Cançado, Donald Barthelme. A lógica de sua construção, e construção de um impacto (dado técnico fundamental ao gênero), pode acontecer sem que seja previamente demarcada (tal como propunha o método rigoroso de Poe). Com seu tanto de cálculo e outro tanto de livre exercício da imaginação (mesmo quando ancorado na ciência, e numa ciência do gênero, caso de Poe), o conto, quando é conto para valer, capaz de manter a surpresa, a potência de um nocaute, lembra-nos Cortazar (1974), quando impactante, não nega o traço de sua elaboração. Como reflete este escritor argentino, em “Alguns aspectos do conto”, a partir da teoria de Poe, o conto, por mais criativo que seja, não pode abstrair-se da intensidade, que pontua seu ritmo do início ao fim, e da tensão, reveladora de seu significado desde a primeira frase. E isto pode ocorrer através da economia de meios, de palavras, com que os acontecimentos são dinamicamente apresentados, ou por um processo de interiorização, gerador de um ritmo mais lento e de uma extensão mais longa (caso de Clarice e, sobretudo, de Rosa 35 em Sagarana, autores interessados na ação e também na reflexão), o que conduz cada conto a buscar seu próprio timing. É nessa linha que lemos “São Marcos”, de Guimarães Rosa, um conto marcadamente escrito, tanto por seu grau de elaboração quanto pela experimentação, que o torna capaz de orientar-se no terreno livremente poético (pois o personagem, além de narrador, escreve poemas). E, ainda assim, trata-se de uma narrativa dotada de recursos bem peculiares ao relato curto, ao universo dos narradores orais, inclusive. Não surpreende que seja em torno da imagem do cego, que Guimarães Rosa e Lispector construam seus contos. E que estes se tornem passíveis de uma leitura dentro do que chamou Mordecai Marcus de “uma história de iniciação”. A viagem – feita pelo protagonista-narrador de “São Marcos” a pé pela mata mineira; de bonde, e depois a pé, pela pequena heroína de “Amor” –, mostra o vínculo com a passagem, o transcurso de uma condição inicial para uma outra, na qual os personagens já se encontram transformados, mais experientes, dotados de uma “sabedoria” sobre o próprio processo. Um rito de passagem, que não diz respeito apenas aos adolescentes rumo à maturidade, com a adoção dos códigos da vida adulta (os valores tribais, segundo os estudos antropológicos). Um rito, que em Clarice, refere-se à adolescência (“A mensagem” pode ser um exemplo, consistindo ao mesmo tempo, na amostra expressiva de uma anti-iniciação), mas se estende também aos velhos (“Viagem a Petrópolis”). Isso para não falar de toda sua obra, de romances que executam rituais transformadores com a maioria de seus personagens adultos e complexos, como, por exemplo, os de A paixão segundo G.H. (1964). Mas, mesmo no espaço narrativo breve do conto, Clarice e Rosa viabilizam aos personagens percursos inteiros, processos de conhecimento de si e da ordem, sempre surpreendente, do universo. Através da figura do cego é que a iniciação se realiza nos contos “exemplares” dos autores. Izé, narrador e protagonista de “São Marcos”, obtém consciência de si e sobre o enfeitiçamento de que é vítima, ao perder-se, como em um buraco negro, no sertão em 36 trevas. Torna-se cego antes de poder contemplar as “três qualidades de azul” (1976, p. 255) da paisagem. Enquanto Ana, em “Amor”, reaprende sobre seu próprio caminho de ser entre outros seres (para além da função de mãe e esposa), no trânsito de uma grande cidade, a contar do cego que masca chicles. Também é em torno do cego, que um autor contemporâneo como João Gilberto Noll constrói o eixo temático (e imagético) de O cego e a dançarina (1980). Se a proximidade entre sua ficção e a de Clarice já se fazia notar à leitura de alguns contos, torna-se explícita no artigo “E agora uma estrela” (1987), escrito por ele em homenagem à autora de A hora da estrela. Ali, Noll manifesta muito dos seus princípios ficcionais que, mais tarde, serão dispostos no pequeno ensaio sobre o ritmo na ficção, produzido por encomenda para a Folha de São Paulo, em dezembro de 1987. O contista destaca na obra de Clarice justamente o corte feito a “intenções programáticas” (1987, p. 29), seja no plano das motivações psicológicas e contextuais, seja no plano da composição. O que Noll observa a respeito dos romances – especialmente em A paixão segundo G.H. -, é válido com relação à forma do conto. Segundo ele, Clarice ...estonteia, funde gêneros, abraça o miniatural com estatura épica – ou seja, o intimismo desvencilhado dos adereços psicológicos mirando de frente a ordem inaugural das coisas. (1987, p. 29) Sua escrita tem mais a ver com o que se pode chamar de a literatura como evento do que com a mera técnica de saber narrar e construir um conto. Na visão de Noll, todo o poder indagador, inaugural, da palavra desta autora, que “desprograma a prosa brasileira”, pois “escreve o único...”, não atende a um intuito “salvacionista, como se soubesse de coisas que nós não poderíamos saber sem ela – isso jamais em Clarice” (ibid., p. 29). O caráter de conhecimento, possível de ser transmitido por suas narrativas, vem, para o ficcionista gaúcho, “do obstinado atrito com o instante no ato da criação...” (ibid., p. 29.). E este é um ponto essencial para o compreensão não só da contística de Clarice, mas também de O cego e a dançarina. 37 No conto que dá título ao volume é o próprio narrador que está em causa, que está em cena. Alternando-se a reflexão sobre o conto que está sendo construído e a ação, na qual participa como personagem, o narrador de O cego e a dançarina empreende, desde o início, a busca de uma escrita à altura dos acontecimentos, um “fato cruento que exaure todas as demais possibilidades. Pois é um fato cruento” (NOLL, 1980, p. 132). A alternativa inicial para a linguagem do conto, no confronto com a realidade cruenta – “Há um sensacionalismo nordestino nessa terra assim ferida...” (p. 133) –, seria aquela que o narrador expõe como “palavras em pássaros”, tema obsessivo desenvolvido desde o início do texto: ... as palavras em pássaros me atacam freqüentemente e voam sem deixar que a minha língua possa freá-las. Por isso vejo os vermes no interior da mulher que dança e vejo o cego no olhar do adolescente. E sobretudo quando escrevo e a língua permanece em seu natural repouso, sinto que dedilho na máquina não as teclas, mas palavras insuspeitadas até ali, coisa que se parece mais com a música do que com a comunicação verbal, e tanto isso é verdade que muitas vezes tenho a sensação nítida de estar dizendo em andantino, em presto, em adágio. (NOLL, 1980, p. 33) Não se deve esquecer que a procura de uma prosa com qualidade musical está na matriz da modernidade poética: a tradição do poema em prosa, vinda com Baudelaire e Rimbaud. No prefácio de Spleen de Paris (Pequenos poemas em prosa), indaga o primeiro, poeta pioneiro na invenção de formas para a escrita em prosa: Qual de nós, em seus dias de ambição, não sonhou com o milagre de uma prosa poética, musical sem ritmo e sem rima, bastante maleável e bastante rica de constrastes para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da consciência?” (BAUDELAIRE, 1995, p. 277). Em seu artigo sobre o ritmo na ficção, João G. Noll dialoga com essa tradição, acrescentando elementos importantes, que, sem dúvida, vêm de sua experiência com uma 38 prosa – seja no conto ou no romance –, sintonizada com o ritmo – “Os atritos com o instante geram tantos ritmos...” -, com o movimento musical, de forma que o canto não seja “privilégio restrito às formas eminentemente poéticas...” (BAUDELAIRE, 1992, p. 6). Se O cego e a dançarina não perde sua força narrativa, ao engendrar uma ação atrativa ao leitor, na qual o efeito final e a unidade do todo acabarão por se revelar, mostra-se também conduzido por tudo o que parece contrariar o cálculo. Pela musicalidade, inicialmente, com que o texto lança o narrador-personagem em direção ao que vai interromper a ação e pulsar em um andamento puramente experimental, fazendo despontar imagens e analogias mais próprias do texto poético. Mas também, é experimentação pelo fato de se tratar de uma ficção ensaística ou, melhor dizendo, um ensaio produtivo de ficção, que amplia a linha explorada por Poe. O contista narra ao mesmo tempo em que mostra, ou melhor, em que apresenta sua ficção – “Sabem?// Tudo se deu numa pequena casa de fim de estrada. A Loura e eu, tudo lembrando um ensolarado anêmico...” (NOLL, 1980, p. 132) – à maneira de uma demonstração, mas com a autonomia de um acontecimento (cruento, que seja). Não por acaso vem, em acréscimo às reflexões sobre as “palavras em pássaros”, no corpo do mesmo parágrafo, o comentário sobre o cinema nessa busca de linguagem compatível com a dimensão do instante e do evento, para o conto. Por isso de uns tempos para cá o cinema tem me seduzido tanto, pois ele não seria uma espécie de pele naturalista sem vôos musicais (embora tantos filmes neguem isso)? Queria olhar e registrar com uma câmera paciente que aguardasse os sinais visíveis dos vermes e da cegueira. (NOLL, 1980, p. 132) O cinema propicia ao conto de Noll não somente o ritmo que acompanha o mambo interminável da dançarina, através do ir-e-vir das imagens captadas pelo narrador, entre o contar e o mostrar a realidade cruenta do Nordeste, realidade dinâmica e desafiadora ao testemunho da escrita. Propicia também ao narrador apreender o ritmo cego do desejo, contido no adolescente extasiado em ver a dança 39 de uma mulher empenhada na sedução, “e aturdida por vermes” (p. 133). Se antes o ritmo oferecia a musicalidade, o andamento poético do texto, agora fornece o pulsar eminentemente cinematográfico de imagens que se montam umas às outras, de modo a alcançar uma dinâmica musical própria à visualidade (a “música das imagens”, perseguida pelo cineasta Jean-Luc Godard). Tanto é que o fato cruento acaba por ser relatado, enfim, numa seqüência onde o adolescente toma a palavra e comete a morte do narrador. Morte “espetacular”, por sinal. Para falar de uma “pátria sem fronteiras”, como diz a letra do mambo interminável, deste lugar descaracterizado, tomado de cores quentes, “- não é folclore, é a pura realidade” (p. 134), em que o rosa-choque de um “presépio do sertão” (p. 133) se constrói como cenário de filme americano, o narrador atua no sentido de produzir a imagem correspondente ao universo do “cego” e da “dançarina” (universo, que também é, do “som” e da “imagem”). Entra em cena e morre, num efeito final de grande impacto, como se presume de um conto autêntico, aqui também realizando sua definição como gênero eminentemente combinatório, capaz de compor a música e a imagem nascidas dos “atritos com o instante”. Noll aposta na forma curta e híbrida do conto para a restituição do acontecimento, do gesto épico perdido na modernidade, de acordo com a leitura de W. Benjamin. O conto adquire, assim, o poder não apenas de recriar, mas o de suscitar acontecimentos, provocando a experiência arriscadamente plena de narrar. O contista, esse construtor de miniaturas, descreve a passagem do narrador, tomado enquanto entidade suprema da escrita, a sua dissolução no corpo vivo, rítmico e fílmico do relato contemporâneo. Não vem mais do narrador a palavra final. Se tenta dizêla, ele se enreda no seu próprio fim, através de um gesto de desaparição visível ao leitor. Deixa, porém, à mostra a imagem nada fixa da Loura que o obsedia, como a dançarina que seduz o adolescente. Ambos, vítima e assassino, narrador e adolescente fazem uma cruenta iniciação aos mistérios do real e da narrativa. O testemunho final é o de um cego. E o conto encena esse fechar de olhos do narrador, como um efeito ci40 nematográfico que recorre aos fins dos filmes de Orson Welles (cineasta citado no conto, e em outros do volume), entre a sugestão da palavra final (Rosebud, como ocorre em Cidadão Kane (1941) e a impossibilidade de vê-la esclarecida, no momento da morte. Evoca, também, os finais de Acossado/À bout de souffle (1960), de Godard e de O estado das coisas (1982), de Wenders. “Mas agora eram os meus olhos que não viam mais, não viam ao menos os olhos da Loura para que eu pudesse obter a resposta.(ibid., p. 135). A partir da leitura de Poe, Rosa, Clarice e Noll, a arte do conto possibilita alguns percursos, que vão da primeira teorização do gênero à sua invenção enquanto construção narrativa aberta a discursos outros que não apenas o literário, e a desdobramentos poéticos, fílmicos e musicais. Forma, aliás, propícia à intervenção no instante e em seus variados ritmos. As modulações do conto ou do curto, é o que se lê na passagem do escritor americano ao autor de O cego e a dançarina, tendência que encontra eco na atualidade em diversas manifestações criadoras voltadas para a miniaturização. Tendência ao micro, observável na arte/ indústria do vídeo clip, composto de música-narratividadevisualidade, e também nos vídeos de um minuto, produzidos mundialmente e tema de um festival no Brasil. O universo em micro nas telas da informática. Ritmos/melodias/montagens de cenas e gestos, a uma velocidade crescente, nos vídeos e nas páginas dos mais novos narradores. De acordo com o escritor argentino Ricardo Piglia, em suas Teses sobre o conto: ... um conto sempre conta duas histórias... A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Uma história visível esconde uma história secreta, narrada de um modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na superfície. (1994, p. 37) A primeira tese de Piglia deveria ser acrescida, a partir dos contistas aqui estudados, de uma terceira história no que se refere ao jogo de ocultamento e revelação, tornado mais visível com o efeito de surpresa obtido pelo conto. Todo conto narra a problemática de sua transmissão, e inclui a 41 dissolvência do narrador enquanto instância soberana do saber, mais e mais acentuada no corpo da narrativa desde a modernidade. Isso ocorre sem a perda da aura quanto ao poder luminescente, revelador, de um gênero pulsante, portátil, produzido em função do tempo breve. De modo que seja efetuado o trânsito do sentido, o trânsito do instante, sobre qualquer palavra final, prevista antes da escrita, sendo esta compreendida não como retransmissão (conto primitivo), mas como afrontamento e reinvenção incessantes da atividade de narrar. Na remissão ao circuito do narrador e seu relato, o conto sempre produz uma outra, iterativa, dobra. No conto praticado a partir de Poe, todo narrador apresenta e cifra seu texto, a um só tempo, mas se expõe ao desafio de revelá-lo com a força do instante, com o poder de um acontecimento. Todo narrador conta sua históriapercurso pelo que não se vê, como na aventura de descida hipnotizante ao maelström: iniciação pelo desvio (ausência de visão, vertigem), em Rosa e Clarice; relato sobre um fato cruento e a morte do narrador, caso de O cego e a dançarina. Conta essa outra, terceira história, ainda mais oculta pelas camadas pouco transparentes da escrita. História essencial, contudo, ao mínimo traço de conhecimento, de sabedoria, contido em todo relato, no decorrer do ato problemático de sua transmissão e duração. Referências BAUDELAIRE, C. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. BENJAMIN, W. O narrador. In: Os pensadores. Benjamin et alii. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 57-74. CORTÁZAR, J. Alguns aspectos do conto. In: _______. Valise de cronópio. Trad. Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Perspectiva, 1974. p. 147-163. GOTLIB, N. B. Teoria do conto. São Paulo: Ática, 1985. LANCELOTTI, M. De Poe a Kafka. Para una teoría del cuento. 2ed. Buenos Aires: Eudeba Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968. LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G. H. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1964. 42 LUKÁCS, Georg. Teoria do romance. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas Cidades/34, 2006. MARCUS, M. What is an Initiation Story?. In: MAY, Charles E. (Org.) Short Story Theories. Athens: Ohio University Press, 1976. p. 189-201. NOLL, J. G. O cego e a dançarina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. _______. Agora uma estrela. Leia Livros, nº 110, p. 28-29. dez./1987. _______. Atritos com o instante geram incontáveis ritmos. A arte da ficção/6. Ritmo. In: Folha de São Paulo. Letras. p. 6. 4/1/1992. _______. Mínimos, múltiplos, comuns. São Paulo: Francis, 2003. NUNES, B. Leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Quíron, 1973. PIGLIA, R. Teses sobre o conto. In: _______. O laboratório do escritor. Trad. Josely Vianna Baptista. São Paulo: Iluminuras, 1994.p. 37-41. POE, E. A. Descida no maelström. In: Obras escolhidas. Vol. 1. Trad. Oscar Mendes e Milton Amado. Porto Alegre: Globo, 1944. p. 90-105. _______. A primeira teoria do conto. Letras de Hoje. nº 18. PUC/ Rio Grande do Sul. P. 14-16. dez. 1974. ROSA, J. G. Sagarana. 18 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. SÜSSEKIND, F. Narrativas em miniatura. Jornal do Brasil. Caderno Idéias, p. 7. 16/3/1996. 43 CLARICE LISPECTOR E ELENA GARRO: DOIS RETRATOS DE MULHER1 Regina Lúcia Pontieri2 RESUMO: Este ensaio compara dois contos: um, intitulado “Amor”, é da ficcionista brasileira Clarice Lispector; o outro, “La culpa es de los tlaxcaltecas”, é de sua contemporânea Elena Garro, uma importante escritora mexicana. Em ambas as histórias somos apresentados a mulheres casadas cujos problemas se relacionam a sua condição feminina, tanto quanto a seu status conjugal, numa sociedade fortemente patriarcal. As similaridades da situação de base das duas personagens principais - Ana, em “Amor”, e Laura, em “La culpa es de los tlaxcaltecas” – torna possível também perceber muitas diferenças entre elas. Tais diferenças podem se vincular a distintas experiências biográficas e culturais que Lispector e Garro viveram e que formularam em sua ficção. PALAVRAS-CHAVE: Literatura Comparada, ficção, conto, Clarice Lispector, Elena Garro. ABSTRACT: This essay makes a comparison between two short stories: one, titled “Amor”, was written by Brazilian fictionist Clarice Lispector; the other, “La culpa es de los tlaxcaltecas”, by her contemporary, Elena Garro, an important Mexican writer. In both stories we’re introduced to married women whose problems are related to their feminine condition, as well as to their conjugal status, in a strongly patriarchal society. The similarities of the situation in which the two main characters – Ana, in “Amor” and Laura in “La culpa es de los tlaxcaltecas” - find themselves makes it possible to also perceive many differences between them. These differences can be ascribed to distinct biographical 1 Pós-Doutora. Professora de Graduação e Pós-Graduação do Depto. de Teoria Literária e Lit. Comparada da FFLCH/USP. E-mail: [email protected] 2 Este trabalho foi apresentado como conferência, intitulada “Les voix de l’alterité chez Clarice Lispector et Elena Garro”, no seminário “Mémoires, Identités, Territoires” do Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches sur les Amériques (LIRA), tendo sido parte das atividades de docência e pesquisa que desenvolvi como professora convidada da Chaire des Amériques, do Institut des Amériques (IDA) da Universidade de Rennes 2 (França), de janeiro a março de 2008. POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 45-57 2008 issn 0104-687x and cultural experiences that Lispector and Garro had in their lives, which formulated in their fiction. KEYWORDS: Comparative Literature, fiction, short story, Clarice Lispector, Elena Garro. A mexicana Elena Garro, pouco conhecida no Brasil, ocupa, entretanto, lugar de destaque na ficção que o México produziu no século XX. Como muitas escritoras de sua época, Garro deu relevo à questão feminina, enfocando com freqüência conflitos vividos por mulheres, como conseqüência de sua situação de subalternidade numa sociedade fortemente patriarcal. Nesse sentido, parece particularmente produtivo aproximar sua experiência ficcional da de Clarice Lispector, com a qual a mexicana tem mais de um ponto de contato, além do interesse em pesquisar os problemas femininos próprios de seu tempo. Nascidas em data próxima, Garro em 1916 e Lispector em 1920, ambas destacaram ficcionalmente também sua experiência pessoal de desarraigamento. Garro, por ser filha de pai espanhol estabelecido no México, onde constituiu família. Lispector, por descender de imigrantes judeus, chegados ao Brasil em 1920, dois meses depois de seu nascimento. Além disso, ambas viveram experiência matrimonial semelhante, ao se casarem com diplomatas, cujas carreiras as obrigariam a deixar seu país e, principalmente, a subordinar seu talento ficcional às injunções da vida doméstica. Para comparar essas escritoras, escolhi dois contos semelhantes no que se refere a sua situação de base, uma vez que ambos apresentam mulheres casadas cujas experiências se relacionam a sua condição de mulheres e de casadas. Em ambos, a identidade feminina se constrói como alteridade, uma vez que em sua posição subalterna que lhe limita as experiências de vida, a mulher aparece como o “outro” do homem. Entretanto, esta similitude inicial abre espaço para diferenças relacionadas tanto a distintos aspectos da vida pessoal, como a diferenças culturais às quais se ligam distintas formas de encarar a alteridade feminina. O conto de Lispector é o muito conhecido “Amor”, publicado em 1960, em Laços de família. O de Garro, cujo título 46 revela de imediato o assunto, chama-se “La culpa es de los tlaxcaltecas ». A história foi publicada em 1964, no volume La semana de colores, título que era também o de um dos contos aí incluídos. Ao que parece, “La culpa es de los tlaxcaltecas” fez tal sucesso no México que, a partir de 1989, o volume passou a ser reeditado com seu nome. “Amor” conta a história de Ana, mulher casada e dona de casa perfeitamente integrada a sua condição de esposa e mãe, numa família de pequena-burguesia carioca dos anos 1950. No início da história, ela é vista num bonde, ao voltar para casa após as compras. Enquanto o bonde se movimenta, ela pensa na vida doméstica, avaliando-a de modo inteiramente positivo: Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. [...] O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. (lispector, 1973, p. 17-18) É, aliás, por sua total identificação com a condição de esposa e mãe que Ana é apresentada como uma “mulher”: Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher (Lispector, 1973, p. 19). o que permitiria compreender tal comportamento “antifeminista”, como indício da posição bastante crítica da própria Lispector com relação a certo tipo de feminismo. Entretanto, logo veremos pela experiência que a escritora impõe à sua personagem, que ela também questiona a ilusão de certo tipo de mulher que crê possível uma domesticidade ao abrigo dos terremotos constitutivos da vida. Mesmo fortemente identificada com sua condição, Ana não pode deixar de perceber, por baixo deste solo, sentido como estável e harmonioso, os indícios da existência de uma corrente vital subterrânea desestabilizadora, cuja manifestação ela tenta sistematicamente impedir: Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores 47 que plantara riam dela. [...] Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela... (Lispector,1973, p. 18-19). E ela reconhece, no passado de sua juventude, o tempo de instabilidade que recusa e que assim caracteriza: Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha – com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. (Lispector, 1973, p. 18-19). Subitamente, Ana vê na rua, parado no ponto do bonde, um cego. Tal visão será o catalisador de um processo de perda total de parâmetros, em conseqüência do desmoronamento, pedra a pedra, do edifício vital que ela fabricara para si: A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. (Lispector,1973, p. 21). A imagem do cego é signo denso de significações, mas é, antes de mais nada, o que permite que a narrativa supere o estágio inercial a que aportara e retome o movimento que a encaminhará ao clímax. Depois de descer do bonde e ainda perturbada pela visão do cego, Ana se descobre diante do Jardim Botânico. Aí se completa a desconstrução de sua vida cotidiana pela proximidade da matéria prima simbolizada pela vida encerrada nesse jardim: árvores, folhas e frutos, a terra, os pequenos animais. A figura do cego é também importante no plano simbólico. Pode-se interpretá-la como imagem da cegueira da 48 própria Ana, isto é, de sua recusa consciente em admitir a existência do outro tempo, o da juventude. Esse aparece como tempo de caos, pois que é referido como “a íntima desordem” (Lispector, 1973, p.18). E uma vez que o cotidiano é vivido como o mundo da ordem humana, na medida em que resulta do trabalho pessoal de Ana (“Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos [...]” (Lispector, 1973, p.18), o tempo da vida orgânica que espreita Ana no jardim, por estar distante da ordem humana, pode ser aproximado da “íntima desordem” vivida na juventude. Ao mesmo tempo que serve a Ana como espelho de sua inconsciência, o cego denuncia-a, pela ironia do riso involuntário produzido pela mastigação de um chicle. E esta denúncia é insuportável: O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir – como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. (Lispector, 1973, p.20) Além disso, como se trata de um cego a denunciar o não-reconhecimento do passado e como a narrativa alude, de modo muito ambíguo, aliás, ao destino feminino de Ana, não se pode deixar de pensar em Tirésias desvelando a Édipo (SÓFOCLES, 2001) sua cegueira e desmesura, a ousadia de pretender criar seu destino com as próprias mãos. No caso de Ana, sabemos que por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. [...] Assim ela o quisera e escolhera. (Lispector, 1973, p.18-19) Sobretudo, pode-se considerar o cego como alguém que desempenha, neste outro tempo onde Ana entra ao vê-lo, um papel paralelo e oposto àquele que, na vida organizada do cotidiano, é desempenhado pelo marido: enquanto aquele ameaça e causa a perda, esse atrai e protege. Ambos, porém, encarnam a natureza dúplice da própria Ana. 49 Tal desdobramento do feminino é, aliás, um tema freqüente na ficção de Lispector. Às vezes, trata-se, como em Ana, de uma divisão interna, ao nível psíquico. O mesmo se dá com Laura, a heroína do conto “A imitação da rosa”(LISPECTOR, 1973). Aqui também comparece um psiquismo fraturado, mas no estágio mais avançado da psicose. Outras vezes, como é o caso de Joana, heroína de Perto do coração selvagem (LISPECTOR, 1974), a mulher inteligente, dotada para as atividades do espírito, vê-se como incompleta. Por isso, percebe em outras mulheres o que lhe falta, isto é, a dimensão de fêmea, inteiramente adaptada ao papel biológico. Esse tipo de mulher é muitas vezes identificado com galinhas, personagens constantes na ficção da autora onde entram como alegoria da mulher reprodutora da espécie. Em todos esses casos, a mulher se cinde, percebendo-se como outra diante de si mesma. Idêntica fratura se encontra no conto de Elena Garro “La culpa es de los tlaxcaltecas”, mas aqui de maneira mais clara que em Lispector, sobretudo com uma dimensão social e cultural mais evidente. Trata-se da história de Laura, uma mexicana do século XX, casada com um descendente dos espanhóis colonizadores do México. No início, antes mesmo da primeira aparição de Laura, encontramos Nacha, a indígena que trabalha como cozinheira na casa de Laura: Nacha oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavia llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre. – Señora!... – suspiró Nacha. (garro, 2006, p.27) Laura acaba de chegar a casa, tarde da noite, depois de ter saído sem avisar ninguém e, sobretudo, sem dizer nem onde nem com quem estaria. Nacha então lhe diz que todos já a imaginavam morta e que seu marido estava muito irritado com ela. Como única explicação, Laura diz: « - Sabes, Nacha ? La culpa es de los tlaxcaltecas ». Cito o diálogo que se segue por sua importância como definição, desde o início, do núcleo básico de tensão do enredo:- No estás de acuerdo, Nacha ? 50 - Sí, señora… - Yo soy como ellos: traidora… - dijo Laura con melancolía. […] - Y tú, Nachita, eres traidora? La miró con esperanzas. Si Nacha compartía su calidad traidora, la entendería y Laura necesitaba que alguien la entendiera esa noche. Nacha reflexionó unos instantes, se volvió a mirar el agua que empezaba a hervir con estrépito, la sirvió sobre el café y el aroma caliente la hizo sentirse a gusto cerca de su patrona. - Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita.(garro, 2006, p.27) Pelo diálogo entre as duas mulheres, sobretudo, será explicado o drama vivido por Laura. Casada com um descendente de espanhóis, ela recebia há já dois meses, a visita noturna do homem a quem se refere como seu “primeiro marido”. Para melhor explicar a Nacha o que lhe havia acontecido, ela se lembra de sua viagem recente, da cidade do México até Guanajuato, em companhia de Margarita, sua sogra. No meio do caminho, uma pane no motor do carro obriga Margarita a sair em busca de ajuda, deixando Laura só, parada exatamente no meio de uma ponte. É então que, pela primeira vez, ela vê se aproximando seu “primeiro marido”. Na passagem que cito a seguir, note-se a descrição de uma metamorfose do espaço-tempo que acompanha o reencontro: ...yo me quedé en la mitad del puente blanco, que atraviesa el lago seco con fondo de lajas blancas. La luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la vuelta completa…[…]. Así llegué en el lago de Cuitzeo, hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes, cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos.[…] Yo, en ese momento, miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante, también recordé la 51 magnitud de mi traición, tuve miedo y quise huir. Pero el tiempo se cerró alrededor de mí, se volvió único y perecedero y no pude moverme del asiento del automóvil. […] Lo terrible es, lo descubrí en ese instante, que todo lo increíble es verdadero. Allí venia el, avanzando por la orilla del puente, con la piel ardida por el sol y el peso de la derrota sobre los hombros desnudos.[…] …por la herida del hombro le escurría una sangre tan roja, que parecía negra. No me dijo nada. Pero yo supe que iba huyendo, vencido.[…] También yo siempre lo quise, Nachita, porque él es lo contrario de mí: no tiene miedo y no es traidor. (garro, 2006) Como Ana, Laura vive dois tempos; para ela, porém, o tempo anterior é o mais forte, aquele ao qual ela se sente mais ligada. Mas a maior diferença entre ambas é a natureza desses dois tempos. Enquanto para Ana se trata de dois tipos de experiências psíquicas, para Laura essas experiências estão ligadas a duas cronologias e principalmente a duas situações políticas e culturais afastadas temporalmente uma da outra, embora ligadas causalmente. Esse “primeiro marido” é um indígena que, no México do século XVI participara, com os aztecas, da guerra contra o invasor espanhol Hernan Cortez. É justamente a esse século e a essa situação que Laura retorna quando reencontra seu marido. Diz ela: “volvi a oír los gritos del combate y salí corriendo en medio de la lluvia de piedras” (garro, 2006, p. 30). E quando, ao voltar, revê a cidade do México, olha-a com os olhos que haviam testemunhado aquela guerra: Al anochecer llegamos a la ciudad de México. Como había cambiado, Nachita, casi no pude creerlo! A las doce del día todavía estaban los guerreros y ahora ya ni huella de su paso. Tampoco quedaban escombros. Pasamos por el Zócalo silencioso y triste; de la otra plaza, no quedaba nada! (garro, 2006, p. 31) Essa coexistência de duas cronologias é o que faz deste conto um exemplar do fantástico praticado por Garro. Como explica Lucía Melgar, estudiosa da obra garriana, a originalidade do fantástico em sua ficção se relaciona com traços peculiares. Segundo Melgar: 52 nesses mundos sombrios não acontece nenhum fato sobrenatural; há, em contrapartida, uma violência quase inexorável.(melgar, 2006, p. 12) E para melhor marcar a diferença entre o fantástico da mexicana e o de García Marques, Carpentier e Borges, Melgar acrescenta que esse fantástico não é um simples jogo de incertezas, nem está numa visão mágica da América Latina, e também não significa uma intenção de surpreender, pela integração artificiosa do inexplicável com o cotidiano. Ele tem relações, sem dúvida, com os parâmetros e a lógica do maravilhoso e do realismo mágico e por isso Garro foi considerada – a justo título –, como precursora do realismo mágico ou bem de seu apogeu com Cien Años de soledad, de 1967. E, no entanto, seu conceito do fantástico e do mágico vem de outras fontes...[...] liga-se muito estreitamente com uma percepção da palavra como criadora do mundo [...] e também vem tanto de uma cosmovisão indígena do mundo como do teatro espanhol do Século de Ouro. (melgar, 2006, p. 12-13).No que concerne à comparação com Lispector, note-se que, se bem que a literatura da escritora brasileira não seja “fantástica”, no sentido que o conceito tem para Todorov (1972), o estilo carregado de metáforas inusitadas, muitas até mesmo herméticas, relaciona-se a uma visão do trabalho artístico como pesquisa dos meios pelos quais a linguagem possa aceder ao momento de nomeação criadora do mundo. Isto é algo muito próximo do que Melgar aponta em Garro. Outro aspecto importante em « La culpas es de los tlaxcaltecas » é a presença muito evidente do que Melgar chamou de cosmovisão indígena do mundo (MELGAR, 2006, p. 13). Vimos que se trata da história de uma mexicana cindida, por causa de sua dupla pertença: à cultura do invasor espanhol, o vencedor, e à dos aztecas vencidos. Tal duplicidade e tal fratura são também as da cultura mexicana como um todo. A esse propósito, o mexicano Carlos Fuentes, no romance La muerte de Artemio Cruz diz: Siempre los dos tiempos, en esta comunidad jánica, de rostro doble, tan lejana de lo que fue y tan lejana de lo que quiere ser. (fuentes, 1973, p. 151) 53 Mas a fratura não está só: ela é sobrecarregada com o peso da culpa. Para melhor suportá-lo, Laura precisa do apoio de Nacha que funciona como seu duplo, uma vez que também a cozinheira se declara traidora. Assim, o conto recupera a figura histórica de Malinche, ícone da traição feminina inaugural do México moderno. Indígena de alta linhagem, já que filha de cacique, Malinche foi oferecida a Cortez como escrava 3. Tornou-se célebre na história da conquista mexicana, enquanto intérprete dos espanhóis no contato com os indígenas. Malinche conhecia a língua dos mexicanos, a dos maias, além do espanhol. Francisco Clavijero, historiador da conquista, diz que ela foi muito fiel e útil aos espanhóis, ajudando-os não só em seus contatos com os mexicanos, mas também prevenindo-os e aconselhandoos. Tornou-se mulher de Cortez, com quem teve um filho (Clavijero, 1971, p.300). Mas Cortez recebeu também outros apoios em sua tentativa de conquistar a cidade do México, o coração do império azteca. Um deles lhe veio da república de Tlaxcala. Os tlaxcaltecas eram inimigos dos aztecas que impunham seu domínio às tribos vizinhas, obrigadas a lhes pagar pesados tributos. Vemos, então, que esta Laura-Malinche tenta purgar sua culpa, primeiro imputando-a aos tlaxcaltecas; depois, confessando-a à cozinheira. Finalmente, abandonando o marido espanhol para voltar ao “primeiro marido”. Quanto a Nacha, cabe-lhe encerrar a história, depois de tê-la aberto. Dizendo que « la señora Laurita no era de este tiempo, ni era para el señor”, ela também abandona a casa para sempre “hasta sin cobrar su sueldo” (GARRO, 2006, p. 40) Os dois contos terminam de maneira bastante ambígua. Quanto a Ana, de volta ao lar, pouco a pouco ela consegue recuperar a calma da vida doméstica. Mas, diferentemente do que acreditava antes – lembremo-nos de que ela se dissera que o que lhe tinha acontecido antes do casamento estava “para sempre fora de seu alcance”-, depois da experiência no Jardim Botânico ela se dará conta de que calma e harmonia 3 Para maiores esclarecimentos sobre esse importante momento da história mexicana, veja-se em particular o item intitulado “Noticias de la célebre doña Marina”, na p. 299 da Historia Antigua de México, de Clavijeto (referências ao final). Remeto também para o muito interessante ensaio de Octavio Paz, “Los hijos de la Malinche”, sobre as repercussões da figura da Malinche na vida mexicana contemporânea (referências ao final). 54 são só transitórias. Ela saberá que seu destino depende, em larga medida, de injunções que a ultrapassam. E aqui é preciso acrescentar que o narrador em terceira pessoa permitiu a Lispector criar um plano acima da personagem que funciona como uma espécie de providência. Por isso há algo de irônico no fato de Ana, acreditando inteiramente na estabilidade e imobilidade de sua vida, encontrar-se, entretanto, em movimento já no início da história, no mesmo movimento do bonde que a carrega. No que diz respeito a Laura, aparentemente ela consegue o que queria: purgar o pecado de traição, voltando ao primeiro marido. No entanto, o ponto de vista de sua sogra e de seu marido permite ver o preço que ela paga pela vitória. É, aliás, por esse ponto de vista que a história, que havia começado como “fantástica”, aproxima-se do “estranho”, para retomar os termos de Todorov, se bem que o problema seja mais complexo. Sua sogra considera-a e a trata como doente e mesmo como louca; ao que seu marido acrescenta suspeita de adultério, já que ela não consegue lhe dar explicações plausíveis para suas fugas. Ambos falam do indígena, que sabiam estar assediando Laura, como um “siniestro individuo de aspecto indígena”, ou um “sádico” e, mesmo, um “asesino” (Garro, 2006, p. 35-36). O que significa que, desse ponto de vista, talvez Laura esteja pagando a vitória com o preço de sua saúde mental. E se eu disse acima que a questão é mais complexa do que só a escolha entre fantástico e estranho, é porque do ponto de vista da indígena Nacha, o homem que seguia sua patroa e por quem ela sabe que Laura está apaixonada é um “brujo” (Garro, 2006, p. 36). Por onde se vê que Garro, por seu lado, é inteiramente vitoriosa ao preservar a força da cultura mexicana autóctone, uma vez que a explicação “racional” dos acontecimentos não é de modo algum considerada como a única possível, nem é a mais forte. Sobretudo, essa lógica racional, que se poderia chamar de “espanhola” ou “européia”, nem é a que preside o fechamento do conto. Como se viu, a última frase mostra Nacha que também abandona a casa “hasta sin cobrar su sueldo”, o que significa que, no desejo de identificação com a patroa, ela recusa a relação mercantil com o patrão espanhol. 55 A esta altura, seria importante acrescentar mais algumas observações sobre certas particularidades biográficas das duas escritoras, que ajudam a compreender o peso que atribuíram à figura do feminino como o “outro”, com relação sobretudo ao masculino, mas não só. Para ambas, as personagens femininas lhes permitiram pensar o problema de todos os que são considerados como inferiores, ou que estão à margem da sociedade. Não é por acaso que em sua ficção encontram-se, ao lado de mulheres, crianças em geral, mas principalmente meninas, além de pessoas pobres e animais. Quanto aos indígenas, em Garro eles são numerosos. E se Lispector só dedicou um único conto a esse tipo de personagem, aqui quantidade não tem nada a ver com qualidade. Pois em “A menor mulher do mundo” (LISPECTOR, 1973) ela criou não somente uma de suas melhores obras mas também uma de suas personagens mais notáveis: uma mulher africana de quarenta e cinco centímetros, oriunda de uma tribo de um estágio cultural muito rudimentar, muito próximo dos animais. É preciso ainda observar que Garro e Lispector nasceram em países periféricos mas tiveram, ao longo de suas vidas, relações bastantes estreitas com outros países, sobretudo centrais. Vimos que Garro era filha de mãe mexicana e pai espanhol estabelecido no México. E que Lispector nascera em família judia. Desde o início de sua carreira no Brasil, ela se ressentiu da condição de “estrangeira”, modo como alguns a consideravam. Ela punha empenho em reafirmar que se sentia inteiramente brasileira, sublinhando principalmente o que lhe era mais caro: que sua língua era o português. Garro e Lispector, como vimos, casaram-se com diplomatas, cujas carreiras exigiram que elas abandonassem seu país, para viver sobretudo nos Estados Unidos e Europa. O casamento lhes trouxe dificuldades em manter a atividade ficcional. Ou seja: ambas sentiram na pele os limites da condição feminina. Ao lado de tais semelhanças, cumpre mencionar as diferenças biográficas. A mais importante se liga ao engajamento delas na vida política de seus países. Lispector se manteve à distância da atividade política em sentido estrito, o que não significa de modo algum que lhe faltasse 56 interesse pelos graves problemas oriundos das imensas desigualdades da sociedade brasileira. Não por acaso uma de suas mais notórias personagens, Macabéa, é o retrato de tal situação. Quanto a Garro, durante os anos 60, isto é, antes de seu auto-exílio do México em 1972, ela se ligou à luta de camponeses pobres e fez parte do grupo de Carlos Madrazo, conhecido político que pertenceu ao PRI, o mais importante partido do país. Pode-se dizer que estas diferentes maneiras de encarar a atividade política aparece também em sua ficção, como se pode ver na comparação entre «Amor» e «La culpa es de los tlaxcaltecas». O que não significa absolutamente diferença de valor estético. Os dois contos são exemplos claros da importância das autoras para a literatura e a cultura latino-americana. Lispector já tem hoje razoável presença em vários países e Garro começa a conquistar o lugar que lhe é devido. Sobretudo, é preciso que o Brasil a conheça melhor: este texto espera ter contribuído para isso. Referências Clavijero, Francisco Javier. Historia Antigua de México. México: Porrua, 1971. FUENTES, Carlos. La muerte de Artemio Cruz. México: Fondo de Cultura Econômica, 1973 (Coleccion popular). Garro, Elena Cuentos. Obras Reunidas I. México: Fondo de Cultura Econômica, 2006. LISPECTOR, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Sabiá, 1973. _______. Perto do coração selvagem. 5ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1974. Melgar, Lucía Introducción a Elena Garro. In: Cuentos. Obras Reunidas I. México: Fondo de Cultura Econômica, 2006, p. 11 a 23. PAZ, Octavio. Los hijos de la Malinche. In: El laberinto de La soledad. México: Fondo de Cultura Económica, p.72-97. SÓFOCLES. Édipo Rei. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2001. Todorov, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. Trad. Silvia Delpy. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1972. 57 O ORIENTE DE OS LUSÍADAS DE CAMÕES: REPRESENTAÇÃO ÉPICA E DISCURSO DO GÊNERO Pedro Carlos Louzada Fonseca1 RESUMO: O fazer literário representa geografias e paisagens culturais de outras localidades, alheias à sua própria realidade e contexto, de forma retórica, imaginária e simbólica. As bases ideológicas, de ordem política e cultural, dessa representação, consubstanciam-se nos recursos formais e expressivos que constituem o tratamento estético. Tendo por base essas noções, este artigo propõe examinar Os Lusíadas (1572), de Luís Vaz de Camões, como obra comprometida com traços do complexo etno-cultural-androcêntrico característico da tradição ocidental, os quais podem ser examinados sob as lentes do seu discurso ocidental do gênero, ideológica e politicamente informado. PALAVRAS-CHAVE: Gender, épica, Camões. ABSTRACT: Literary work represents cultural geographies and landscapes of other places, strange to its own reality and context, in a rhetorical, imaginary and symbolic way. The ideological foundations of that representation, which are of a political and cultural order, are consubstantiated by means of formal and expressive techniques that constitute esthetic treatment. Based on these premises, the article proposes to examine The Lusiads (1572) of Luís Vaz de Camões as a work bound to marks of the Western ethno-culturalandrocentric complex, which can be examined under the lenses of its discourse of gender, and which is ideological and politically informed. KEYWORDS: Gender, epic, Camões. Engendering um discurso, isto é, conferir-lhe uma óptica sexualizadora, pode ser um dos mais influentes aspectos na produção, circulação e consumo da literatura 1 Pós-doutor em Línguas e Literaturas Românicas e Literatura Portuguesa. Professor Titular de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás-Goiânia. [email protected] POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 59-70 2008 issn 0104-687x (RUTHVEN,1984, p.9; SHOWALTER, 1994, p.1-23). Na cultura ocidental tradicional, o falogocentrismo, ou seja, a centralização do logos no poder simbólico do phallus (CUDDON, 1992, p.34), indica um sistema binário de imposição do masculino (considerado como matriz universal) sobre o feminino (considerado como uma derivação particular dessa matriz) (SHOWALTER, 1994, p.20). E essa superposição dominante do masculino identifica uma postura ideológica organizada em termos sociais e culturais (KAPLAN, 1986, p.148), significando, assim, a idéia do gênero como ordem política imposta por força (MACKINNON, 1987, p.82). Para o que é proposto examinar nesse trabalho, qual seja, a visão da paisagem cultural e geográfica do Oriente visitado pela épica lusíada de Camões, o que Helgerson estuda como formas de nacionalidade da cultura ocidental (1992, p.6) é de significativa importância. Desse modo, o trabalho visa examinar como o nacionalismo épico camoniano expressa, em termos de forma, conteúdo e discurso do gênero, a imposição do masculino (Ocidente) sobre o feminino (Oriente) numa perspectiva cultural e geográfica. Uma das primeiras noções para sintonizar essa prerrogativa androcêntrica do Ocidente deve ser buscada ao tradicional conceito de paterfamilias. Provindo da tradição romana, esse conceito servia para expressar a prerrogativa do pai como chefe e proprietário do clã, não só em termos de posse material, mas também no sentido moral e espiritual (STOLTENBERG, 1990, p. 68). As civilizações periféricas e estrangeiras que falhavam na dotação desse atributo patriarcalista eram aferidas em termos de inferioridade social e cultural. Nesse caso, por uma espécie de injunção de fatores, o patriarcal acaba sempre se associando ao épico e à virilidade na legitimação do domínio do Ocidente sobre a periferia Oriente, geralmente equacionado a atributos preconceituosos para identificar a natureza do feminino. Dentre tais atributos, encontrase aquele que projeta o Oriente como um espaço desconhecido e misterioso, cujo desvelamento pelo homem do Ocidente funciona como um rito de passagem a alegorizar os feitos da sua estatura heróica e viril (SHOHAT, 1994, p. 146). Dos muitos exemplos clássicos dessa situação, David Quint destaca a Eneida, de Virgílio (70-19 a. C.), um dos 60 textos fundadores da história e da cultura do Ocidente, provavelmente escrito entre 29 a 19 a. C., onde a sua ética androcêntrica se expressa em relação ao Oriente, cuja civilização e cultura desde sempre constituíram, para o mundo greco-latino, uma realidade desafiadora. Um dos exemplos exponenciais desse pensamento pode ser conferido na batalha de Actium (Ácio) ocorrida na Grécia em 2 de setembro de 31 a. C., durante a guerra civil romana entre Marco Antônio e Octaviano, mais tarde conhecido como César Augusto. A frota de Marco Antônio foi apoiada pelos barcos de guerra da rainha Cleópatra, do Egito, sua amante na ocasião. Os consorciados amantes foram derrotados. Nessa batalha, é sintomático o fato de Apolo aparecer como god of Western rationality, and his decisive intervention in the battle is apparently a reaction to the confusion and destructive bred by the Furies of War, Disorder, and Strife. But, because it is the Eastern troops of Cleopatra who panic at Apollo’s appearance, they become the embodiment of disorder and violence of Warfare... the Western soldier should be seen as instrument not of the war but of order and pacification (1993, p. 28)2. Essa construção ideológica e política da conquista, baseada no discurso do gênero, pode ser analisada na própria maneira ideologicamente histórica e ocidental com a qual os descobridores de Os Lusíadas são retratados frente à realidade alienígena visitada. Nesse sentido, além dos artefatos e dos símbolos civilizacionais que esses descobridores carregam consigo, a própria imagem ostensiva da sua embarcação, aportada nas terras orientais, serve ainda para se referir à idéia da superioridade e do poder do conquistador, à medida que indica a facilitação da expansão da hegemonia européia. Aqui, torna-se interessante ainda comparar a imagem dessa incisiva embarcação, sob o controle da virilidade androcêntrica, com a imagem do deambular de Cleópatra sobre as águas do Nilo, referido naquela batalha de Actium. 2 Tradução do autor: “deus da racionalidade ocidental, e a sua decisiva intervenção na batalha é aparentemente uma reação à confusão e destrutiva criação das Fúrias da Guerra, Desordem, e Luta. Mas, porque são as tropas orientais de Cleópatra que entram em pânico diante do aparecimento de Apolo, elas se tornam a corporificação da desordem e da violência da Guerra... Os soldados Ocidentais deviam ser vistos como instrumento não da guerra mas da ordem e da pacificação.” 61 Quint observa que a imagem de Delos – a ilha grega sagrada flutuante, sede de nascimento de Apolo e Artemis, filhos de Lete com Zeus – vagando sobre os mares é, de fato, repetida na fuga de Cleópatra da batalha de Ácio, quando ela convoca os ventos para que os seus navios possam ser impulsionados. Com Cleópatra, a oposição entre o Oriente e o Ocidente torna-se explicitamente caracterizada em termos de gênero, sendo o Oriente, evidentemente, representado como feminino. O recurso retórico do ventus vocavit [invocação dos ventos] da rainha do Egito associa-a a Juno que, no início da Eneida, consegue que Eolo sopre seus ventos tormentosos para colocar em confusão os navios de Enéias. Na tradição alegórica, Juno ou Hera era a deusa do ar, estando, portanto, particularmente associada com o vento. Na religião romana, Juno também representava um princípio universal feminino. Essa associação figurativa de Juno com Cleópatra confere ao Oriente a imagem do feminino para simbolizar as suas forças anárquicas. E a metaforização de rainha como uma embarcação desarvorada expressa a idéia do feminino como passividade, barco à deriva, incapaz de dirigir o seu próprio destino, sujeito aos mutáveis ventos das circunstâncias. Dessa forma, conclui Quint que, By inference, the womanish Easterners cannot rule themselves and require the masculine government of their European masters.... Woman’s place or displacement is therefore in the East, and epic features a series of Oriental heroines whose seductions are potentially more perilous than Eastern arms: Medea, Dido, Angélica, Arminda, and Milton’s Eve. Virgil’s epic depicts imperial victory as the victory of the principle of history – a principle lodged in the West, where identity and power are transmitted across time in patrilineal succession – over the lack or negation of historical identity that characterizes the ever changing, feminized East” (1993, p. 28-30).3 3 Tradução do autor: “Por inferência, os efeminados orientais não podem governar a si próprios e requerem o governo masculino dos seus mestres europeus... O lugar ou o deslocamento da mulher é, portanto, no Este, e a épica apresenta uma série de heroínas orientais, cujas seduções são potencialmente mais perigosas que as armas orientais: Medéia, Dido, Angélica, Arminda e a Eva de Milton. A épica de Virgílio representa a vitória imperial com a vitória do princípio da história – um princípio arraigado no Oeste, onde a identidade e o poder são transmitidos através dos tempos em sucessão patrilinear – sobre a falta ou negação da identidade histórica que caracteriza o inconstante, feminizado Leste”. 62 Esse efeito épico, característico do discurso colonialista, retoriciza, em termos promocionais, a conquista com imagens erótico-sexuais, à medida que o desejo do Ocidente envolve-se com metáforas de escrutínio, penetração e consumo erotizados. Em Os Lusíadas, essa estratégia de submissão e de controle do espaço, assim tendenciosamente feminizado, projeta a expectativa desejosa do ocidental em esperar do Oriente uma receptividade passiva, desnuda de atitudes viris próprias e contrapositivas. Exemplo disso é descrição que Camões faz, no Canto Sétimo (s.d., p. 95-102), do encontro de Vasco da Gama com o Samorim, governador de Calicute, nas Índias. Nesse encontro, o Oriente, alegoricamente assim personificado, jaz emoliente em luxuosos adornos feminis, à espera do militante, severo e aguerrido Ocidente representado pelo conquistador português (CAMÕES, s.d., p.95-102). O que se destaca, nesse e em outros episódios do discurso épico camoniano, é a imagem da centralidade de poder, característica de uma antiga monarquia. E quanto mais concentrado esse poder, mais exclusivista ele se torna em termos de aceitação do outro enquanto raça e cultura (HELGERSON, 1992, p. 297-98). Correspondentemente, para o discurso camoniano, por meio de uma correspondência de motivos ideológicos, a outridade do Oriental torna-se a outridade do próprio segundo sexo (QUINT, 1993, p. 29). Essa busca por um ponto central enquanto loci de razão e de moral históricas e culturais (SHOHAT, 1994, p. 141), inerentes à lusitanidade heroicizada por Camões, irracionaliza e desmoraliza as periféricas regiões orientais, as quais passam a ser projetadas como lugares de impulsos, instintos violentos e de lascívia anárquica (SHOHAT, 1994, p. 141), a requererem o controle e o domínio do conquistador europeu. A discriminação do espaço oriental, qualificado com imagens derrogatórias do feminino, integra a ordem ideológica e política da profusa história da misoginia praticada na cultura ocidental. Dentre as prevenções antifeministas, com as quais a aventura épica masculinista metaforiza o Oriente, destacam-se, principalmente, aquelas que se 63 referem à sua exuberância sensorial ou mesmo à sua luxúria. Tais aspectos do sensualismo oriental, próprios do paganismo ou dos costumes dos infiéis, estariam prontos para seduzir e corromper o conquistador europeu cristão na sua apetência em desvendar o exótico que, nesse caso, compromete-se com o erótico. Entretanto, frente a esse espaço provocador, o conquistador e o explorador ocidentais se concedem certos momentos de deslize rumo às prazerosas atrações orientais, apesar de tenderem à preservação das suas androcêntricas prerrogativas culturais e de procurarem estender os seus topoi de racionalidade e de moralidade ao desordenado espaço do Oriente. Toda essa configuração paradoxal de refreamento e de concessão, expressa na disposição épica de Os Lusíadas, leva à constatação de que, constituinte do monologismo épico idealizado pelo ocidental nas suas aventuras no Oriente, existe uma ansiedade desejosa do outro, para além de um encontro de razão. Daí apresentar-se o Oriente como uma força magnética a inspirar os europeus a criarem ou recriarem um Leste que combine com o que o Oeste quer que esse Leste seja: misterioso, maravilhoso, bizarro e, talvez, mesmo imoral (CUDDON, 1992, p. 664). Em Os Lusíadas, essa temática dos encantos sedutores do Oriente é bastante recorrente, sugerindo, em várias passagens, a sua vertente corruptora. No Canto Segundo (p. 52-60), a natureza feminizada dessa sedução é personificada por Vênus, que representa um tipo de força propiciadora para a orientalização dos portugueses. Isto porque é através da intervenção dos poderes dessa deusa do amor pagão que a expedição de Vasco da Gama resulta bem sucedida no plano mitopoético, o qual, conjugado ao histórico, apresenta-se como ingrediente próprio das epopéias ao feitio da tradição clássica. A transferência espacial e temporal de Vênus para reger o aspecto sedutor do Oriente não parece ser uma incongruência, uma vez que a deusa, símbolo protótipo da sedução na cultura ocidental, agora corresponde ao espaço e à paisagem orientais feminizados pelo desejo do europeu, dialeticamente emparelhado com a disposição épica de fazer história. 64 O entorno oriental para a figuração de Vênus não poderia ser mais imagisticamente apropriado enquanto espaço e paisagem de atuação. Primeiramente a deusa e, depois, o irresistível séquito feminino das ninfas amorosas de Tétis, no Canto Nono (p. 110-18), que relata o episódio da Ilha dos Amores, constituem a metáfora do Oriente identificado ao erótico e sexual. É conhecida a passagem em que a deusamãe da raça lusitana, no Canto Segundo (p. 52-60), preocupada com as artimanhas de Baco para abortar a viagem do Gama às Índias, lança mão dos encantos da sua infalível beleza e nudez eróticas, quando, maliciosamente sedutora e insinuante, apresenta-se a Júpiter, para que ele interceda em favor dos portugueses, amainando, assim, as adversidades do mar tormentoso e dos agressivos gentios orientais: E como ia afrontada do caminho, Tão formosa no gesto se mostrava Que as estrelas e o céu e o ar vizinho E tudo quanto a via, namorava. Dos olhos, onde faz seu filho o ninho, Uns espíritos vivos inspirava Com que os polos gelados acendia, E tornava do fogo a esfera, fria. ........................................................... Os crespos fios de ouro se esparziam Pelo colo que a neve escurecia; Andando, as lácteas tetas lhe tremiam, Com quem Amor brincava e não se via. Da alva petrina flamas lhe saíam, Onde o Minino as almas acendia; Pelas lisas colunas lhe trepavam Desejos, que como hera se enrolavam. C’um delgado cendal as partes cobre De quem vergonha é natural reparo; Porém nem tudo esconde nem descobre O véu, dos roxos lírios pouco avaro; Mas, para que o desejo acenda e dobre, Lhe põe adiante aquele objecto raro. Já se sentem no Céu, por toda a parte, Ciúmes em Vulcano, amor em Marte. .............................................................. 65 E destas brandas mostras comovido, Que moveram de um tigre o peito duro, Co’o vulto alegre, qual, do Céu subido, As lágrimas lhe alimpa e, acendido, Na face a beija e abraça o colo puro. De modo que dali, se só se achara, Outro novo Cupido se gerara. (CAMÕES, s.d., p. 54-55) Na figuração da conquista amorosa, miticamente vazada nas imagens de Vênus e de Cupido, o que tradicionalmente aparece como impugnado, em termos de culpabilidade, ao deus-menino, em Camões, é dirigido à responsabilidade da deusa-mãe, reforçando-se, dessa forma aquela discriminatória visão patriarcalista que, em momentos mais virulentos concebia, na cultura ocidental principalmente latina, a mulher sob a derrogação de valores misóginos. Aquela mesma frugalidade evanescente das vestes da divindade feminina de Eros é reduplicada nas seminuas ninfas da Ilha dos Amores, cobertas “da lã fina e seda diferente / Que mais incita a força dos amores” (p. 114). Entretanto, a voz poética, com a consciência moral da sua formação cultural e cristã, refreia o envolvimento das excitações orientais e pagãs, censurando, quase que com pouca vontade, as corrupções do amor venéreo, cuja passionalidade nefanda o torna responsável por milhares de desconcertos e tragédias da humanidade. Conforme sugerido anteriormente, esse tropo da desenfreada licenciosidade amorosa do Oriente representa, no discurso camoniano, um dos aspectos estratégicos do eurocentrismo da época, empenhado na subalternalização cultural e moral do outro em referência ao Oriente. Essa atribuída efusão amorosa oriental acaba por sucumbir, discriminatoriamente, o seu espaço a um tratamento figurativo e retórico que reduz – parafraseando-se, aqui, o que longamente discorre Ella Shohat sobre o assunto no capítulo “Tropes of Empire” – o seu mundo ao natural e ao biológico, associando-o antes com o vegetativo, o instintivo e o material cru, que com o instruído, cultural e manufaturado, realizando, aqui, o que se conhece, no discurso colonia66 lista, por tropologia da naturalização do colonizado (1994, p.137-75). Por esse ângulo analítico, a sexualização venérea do Ocidente pode ser tomada em correspondência crítica com o androcentrismo que, de forma prototípica para a época, caracteriza a épica histórica de Os Lusíadas como forma de expressão do logocentrismo cultural do Ocidente. Essa problemática, formalizada pelo discurso do gênero, configura-se na tentativa camoniana de nacionalizar a sua epopéia com base na supervalorização hierárquica das formas patriarcais da sua realidade pátria e ocidental, em contraste com a subserviência, e mesmo denegação, das formas de expressão ginocêntrica da feminilidade oriental. Na Ilha dos Amores, por exemplo, Tétis e as suas ninfas servem, sobretudo, como obedientes e gentis troféus de refrigério erótico para recompensarem o honorável desempenho dos viris e épicos portugueses na conquista do caminho marítimo para as Índias. A mítica e luxuriosa ilha oceânica, presente de Vênus, funciona como um verdadeiro locus amoenus que, reminiscente da tradição dourada da antigüidade clássica, a ele adiciona o império do prazer e da sensualidade. E, na espécie de graciosa orgia que se segue na paradisíaca ilha paganizada, mesmo Lionardo, um dos soldados do Gama, que “tinha já por firme prossuposto / Ser com amores mal afortunado”, consegue o seu prêmio, quando, finalmente, a sua negaceadora ninfa oceânica “Toda banhada em riso e alegria, / Cair se deixa aos pés do vencedor, / Que todo se desfez em puro Amor” (p. 116). Entretanto, essa maravilhosa realidade mítica não tarda em ser desfeita pelo tom moralizante que, caracteristicamente, se sobressai em vários momentos-chave do poema. Afinal de contas, a Ilha não passa de um símbolo muito nítido para figurar as recompensas sublimes que a Honra – princípio tão caro à patriarcalidade ibérica, de primaz importância à correta ordenação das suas relações sociais (WILSON, 1969, p. 43) – havia reservado para os valorosos portugueses. Esse complexo da superioridade psico-cultural do europeu, referido à realidade ibérica, com a finalidade de emancipar-se semanticamete em outros níveis, vale-se ain67 da do topos do hieros gamos, ou casamento sagrado, para se expressar com maior abertura mitopoética. Esse expediente teogônico do mundo antigo supunha a necessidade de o rei se casar com uma deusa para lhe ser permitido governar, refletindo uma época em que as mulheres eram as que possuíam terras, propriedades e domicílios, os quais passavam, por direito, aos homens depois do casamento (WALKER, 1988, p. 182-83). Em Os Lusíadas, esse topos do hieros gamos ilustra figurativamente a ideologia do poema. Ambos, ideologia e figurativização se consorciam muito bem para cumprir a finalidade de sancionar os valores ímpares dos navegadores portugueses. E isso se realiza não só no nível da referencialidade histórica, mas também do seu discurso poético. No nível da estrutura motivacional e estilística, o poema de Camões se qualifica como modalidade ultimada do épico que, consubstanciado nos valores heróico e históriconacionais da raça lusitana, representa-se masculinamente. Em vista disso, a simbologia do hieros gamos, anteriormente referido, tradicionalmente caracterizado como a figura de preservação da regência do princípio do feminino, apenas aparentemente indica uma contradição. Isto porque tal contradição se desfaz se for observado que, na economia episódica do enredo do poema, esse topos funciona como uma espécie de emblema figurativo para simplesmente significar o consórcio dos portugueses com as divindades, as quais não passam de troféus merecidamente a serem auferidos pelos valorosos guerreiros. Aqui, o que fica estabelecido é a idéia de que a imagem do feminino, conotada em referência oriental, reforça, uma vez mais, a supremacia do masculino ocidental. Tal ideologia androcêntrica pode ser ainda mais explicada se for considerado o fato de o desejo dos portugueses em levar as suas ninfas-troféu para Portugal representar, claramente, não só um mecanismo de rapto e de apropriação do natural (isto é, da naturalidade mítica), mas também um mecanismo de reificação dessa desnuda realidade mitológica que se torna coisificada ao se transformar em dados culturais alocêntricos. Nesse ponto, pode ser mesmo argumentado se tais ninfas, erradicadas do seu habitat, não seriam, 68 em Portugal, ainda vítimas de um processo de objetificação na condição de mulheres úteis para a finalidade única de serem simplesmente usufruídas como amantes, visto que, para qualquer outro mister, a sua natureza e retratação dificilmente poderiam servir. Na esteira dessa interpretação, podem ser explicadas as seguintes e deslumbradas palavras do soldado Veloso, da expedição de Vasco da Gama, ao se referir às ninfas, apesar da referência ao antigo costume do rito sacrifical das deusas da floresta, como objeto de caça: “‘Senhores, caça estranha’, disse, ‘é esta! / Se inda dura o gentio antigo rito, / A deusas é sagrada esta floresta’” (p. 115). Conforme pode ser percebido, o assédio sexual, ainda que descrito como desejado pelo objeto da sua provocação, e o resgate amoroso, não passam, no discurso da conquista e da exploração ultramarinas, como no caso de Os Lusíadas, de Camões, de metáforas ideológicas do discurso europeu dominante, construídas em correspondência estratégica com a sua política sexual de controle e de dominação das terras descobertas. Referências BERGER, J. Ways of Seeing. London: BBC and Penguin, 1977. CAMÕES, L. V. de. Os Lusíadas. Rio de Janeiro: Editora Tecnoprint S. A., s.d. (Edição crítica de Francisco Silveira Bueno). CUDDON, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. New York: Penguin Books, 1992. HELGERSON, R. Forms of Nationhood: The Elizabethan Writing of England. Chicago and London: University of Chicago Press, 1992. KAPLAN, C. Sea Changes: Culture and Feminism. London: Verso, 1986. MACKINNON, C. Feminism Unmodified. Cambridge: Harvard University Press, 1987. MONTROSE, L. The Work of Gender and Sexuality in the Elizabethan Discourse of Discovery. In: STATON, D. C. (Org.) Discourses of Sexuality: From Aristotle to Aids. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992. QUINT, D. Epic and Empire: Politics and Generic Form from Virgil to Milton. New Jersey: Princeton University Press, 1993. 69 RUTHVEN, K. K. Feminist Literary Studies: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. SHOHAT, E. and STAM, R. Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. London and New York: Routledge, 1994. SHOWALTER, E. Introduction: The Rise of Gender. In: SHOWALTER, E. (Org.) Speaking of Gender. New York: Routledge, Chapman and Hall, 1994 STOLTENBERG, J. Refusing to be a Man: Essays on Sex and Justice. New York: Meridian/Penguin Books, 1990. WALKER, B. G. The Woman’s Dictionary of Symbol and Sacred Objects. San Francisco: Harper and Row, 1988. WILSON, M. Spanish Drama of the Golden Age. Oxford: Pergamon, 1969. 70 O DIÁLOGO EPISTOLAR ENTRE MÁRIO DE ANDRADE E MURILO RUBIÃO Suzana Yolanda Lenhardt Machado Canovas1 RESUMO: Este trabalho analisa a correspondência trocada entre Mário de Andrade e Murilo Rubião, publicada sob o título de Mário e o pirotécnico aprendiz: cartas de Mário de Andrade e Murilo Rubião, obra organizada por Marcos Antonio de Moraes. Há, sobretudo, a preocupação de ver os dois autores como figuras humanas e escritores de vanguarda, que romperam com a tradição literária nas respectivas épocas em que viveram. PALAVRAS-CHAVE: Mário de Andrade e Murilo Rubião, figuras de ruptura, cartas. ABSTRACT: This study analyses the correspondence between Mário de Andrade and Murilo Rubião, published under the title of Mário e o pirotéccnico aprendiz: Mário de Andrade’s and Murilo Rubião’s letters, a work organized by Marcos Antonio de Moraes. There is, above all, the preoccupation of seeing both authors as human figures and writers of the vanguard, who broke with literary tradition in the respective times they lived in. KEYWORDS: Mário de Andrade and Murilo Rubião, figures of rupture, letters. Este trabalho tem como objetivo analisar a correspondência entre Mário de Andrade e Murilo Rubião, publicada em livro sob o título de Mário e o pirotécnico2 aprendiz: cartas de Mário de Andrade e Murilo Rubião, organizado por Marcos Antonio de Moraes (1995). A publicação é resultado do esforço conjunto do Centro de Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG com o IEB-USP em torno das figuras dos seus notáveis e respectivos conterrâneos – Murilo Rubião e Mário de Andrade. 1 Docente do curso de graduação e pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Goiás. [email protected] 2 O adjetivo faz alusão ao conto de Murilo Rubião “O pirotécnico Zacarias”. POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 71-86 2008 issn 0104-687x O diálogo epistolar ocorre entre dezembro de 1939 e dezembro de 1944, e finaliza pouco antes da morte de Mário de Andrade. A correspondência tem início a partir da viagem do autor modernista a Minas, em 1939, convidado pelo Diretório Central de Estudantes para inaugurar o programa de difusão cultural do DCE mineiro. O poeta viaja pelo Noturno da Central, desembarcando num sábado, 11 de novembro, às dez horas da manhã. A despeito do desejo do escritor de abrir mão de uma recepção de cunho oficial, acorrem a sua chegada a Belo Horizonte vários intelectuais de renome – João Alphonsus, Cyro dos Anjos, José Carlos Lisboa, etc. – e, entre eles, estava o jovem e então desconhecido jornalista Murilo Rubião que, como redator da Folha de Minas, deveria entrevistar Mário de Andrade. Daí surgiria um artigo intitulado “Mário de Andrade, Minas e os mineiros” que o “aprendiz de pirotecnias” publicou na revista Tentativa (Belo Horizonte, 1939). Murilo Rubião enviou um exemplar para o ilustre visitante, acompanhado de um cartão, dando início à correspondência entre eles (MORAES, 1995, p. 35-44). Trata-se de um pequeno conjunto de treze correspondências, nove cartas de Mário de Andrade e duas de Murilo Rubião, além de um cartão e um bilhete. Tão pequeno número de missivas de Murilo Rubião deve-se ao fato de Mário de Andrade ter lacrado sua correspondência passiva, e disposto em testamento que o pacote só deveria ser aberto cinqüenta anos após sua morte, que ocorreu em 25 de fevereiro de 1945. Mas parte dessa correspondência passiva não foi incluída no pacote lacrado. Segundo Moraes (1995, p. 48-49), “Mário conservou as cartas e o bilhete junto dos contos que recebeu, [...]. O cartão foi colocado no conjunto de cartões de visita que Mário acumulava desordenadamente em uma caixa de papelão”. Essas cartas apresentam um diálogo meio truncado, pois é só depois da segunda viagem de Mário de Andrade a Minas, quando o colóquio epistolar está próximo a se encerrar, que os laços de amizade entre os dois escritores parecem ter-se estreitado de modo mais profundo. Lidando com o gênero epistolar, sentimo-nos livres para falar no ser humano que palpita por trás do escritor famoso. 72 Afinal, cartas pessoais são trocadas entre amigos e estão centradas em homens que se desvendam através delas. Primeiramente falaremos de Mário de Andrade e, a seguir, de Murilo Rubião, detendo-nos no que esses escritores revelam de seus sentimentos pessoais, diretamente ou nas entrelinhas do texto, e como abordam temas referentes à literatura – a vocação de escritor, as ânsias da criação, o compromisso com a realidade do seu tempo, o tipo de literatura produzida –, e o que se refere ao domínio da técnica e da linguagem. Por fim, procuraremos detectar elementos vanguardistas de ruptura e releitura da tradição brasileira, pois tanto os escritos de Mário de Andrade como os de Murilo Rubião constituem momentos significativos de transgressão às normas literárias vigentes em épocas diferentes. Buscando traçar um retrato de Mário aos cinqüentanos, confirmamos o que este homem multifacetado diz de si mesmo num poema: “Eu sou trezentos, sou trezentos e cinqüenta” (ANDRADE, 1976, p. 50). Ele pode ser apreendido de vários ângulos – crítico, ensaísta, professor, conhecedor de música e artes plásticas, folclorista, poeta e ficcionista – e sua obra converge para uma preocupação única com a cultura brasileira. Além disso, ele é dotado de um fôlego extraordinário para redigir cartas. É conhecido o grande número delas que trocou com escritores famosos e, na última que escreve a Murilo Rubião, datada de 2 de dezembro de 1944, diz já ter escrito catorze naquele dia (MORAES, 1995, p. 92). Destacase na correspondência a sua maneira descontraída de lidar com as palavras: “[...] é que tenho a mania de escrever cartas muito de pijama demais [...] Porque o meu ‘pijama’ epistolar, está claro que não se refere a ‘lavores de estilo’” (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 18, grifos do autor). Há a marca do modernista que se preocupa com a língua falada, tomando liberdades de estilo, que o organizador da edição da obra, com muita razão, preservou: “si”, “milhor”, “sinão”, “arre”, “ara praquê” etc. Nessas cartas temos um perfil diferente daquele do jovem recebendo vaias e insultos da burguesia enfurecida – incapaz de compreender a arte de vanguarda – nas escadarias do 73 Teatro Municipal de São Paulo, nos idos de 22. Delineia-se aqui o retrato de um cinqüentão que, tendo praticamente perdido o contato com os intelectuais de sua geração, se singulariza pelo convívio permanente com grupos de jovens intelectuais e aprendizes de escritor, dos quais se torna uma espécie de mentor, de professor ou de mestre. Possuidor de imensa cultura, homem de outra geração, oferece-lhes a mão generosa, aponta-lhes o espinhoso caminho da criação e faz-lhes honestas e pertinentes críticas ao trabalho que realizam. Esse contato que tanto o alentou, sobretudo nos últimos anos de sua curta, mas fecunda, existência, valeulhe também um desgosto muito maior do que o causado pelos insultos nas escadarias do Teatro em 22 (lá ele era um destemido jovem, senhor de suas convicções). Sabemos, por meio de fontes colhidas por Moraes, que Mário de Andrade entendia seu relacionamento com jovens como uma espécie de sacerdócio de cunho sacrifical. Em carta a Moacir Wernek de Castro, datada de 1942, ele afirma: [...] me desmilingüi com outros, este derramado coração mole. Principalmente com rapazes muito novos, gentinha me escrevendo e a que, positivamente, uma certa moralidade messiânica, muito minha mesmo, me permitia não me contar senão naquilo em que eu podia ser lição, e não um espírito rebaixado e sem forças bonitas – que é o que eu estava. Espécie de sacrifício muito cristão, “este é o meu corpo, este é o meu sangue, alimentai-vos” que se não me engano, me fez muito bem (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. XIX, grifos do autor). O artigo “Drácula, a literatura e a guerra” (O jornal, 1944), do jornalista José César Borba, desvirtua o que o escritor entendia como missão: [...] que outra classificação [Drácula] merecem esses escritores de cincoenta anos sempre projetados sobre a veia literária dos novos, e que acabam cognominados de “mestres”? Mestres Drácula! É para eles uma necessidade vital acompanhar os rapazes, nunca se desgarrar dos discípulos, tê-los sempre à altura da sua presença e do seu contacto, não de uma maneira esclarecedora e leal, mas como um meio de amparar a própria deca74 dência. [...] porque o essencial é que haja rapazes, é que haja discípulos por esses caminhos, e que os caminhos estejam recendendo a sangue moço. É tão sutil o afago desses “mestres”, tão refrescante a sua proximidade, tão suave o sussurro da sua conversa!”(BORBA apud MORAES, 1995, p. XXX). O artigo do pernambucano de 23 anos cala fundo no escritor, porque distorce o que para ele consistia no projeto de uma vida inteira. Os valores invertem-se, desvirtuam-se suas ações, que assumem um aspecto de “corrupção moral” (MORAES, 1995, p. 30). O autor busca o amparo dos amigos, e para a “irmã idealizada” Henriqueta Lisboa, ele revela a angústia infernal que sente ao se debater nessas “perversidades pequeninas” (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. XXXI). Assim, como depreendemos das cartas, Mário de Andrade dá uma conotação messiânica ao diálogo com jovens intelectuais e aprendizes de escritor que lhe mandam seus textos para uma apreciação (entre eles, Murilo Rubião). No período em que escreve a Murilo Rubião, ele está vivendo os últimos cinco anos de sua vida. É um escritor que já pertence ao domínio público, produz muito, não deixa de participar das atividades da intelectualidade do seu tempo, cria, faz conferências e colabora em periódicos. Deixando entrever a sua enfermidade em alguns trechos das cartas, e utilizando, por vezes, um tom melancólico, percebemos, como um pano de fundo, a doença que se instala e a morte que o espreita. Da figura humana de Mário de Andrade, ficamos conhecendo a afabilidade, a cordialidade e a camaradagem do homem que, detestando elogios e tratamentos cerimoniosos, diz a Murilo Rubião na primeira carta que lhe escreve, datada de 13 de janeiro de 1940: Já os elogios, franqueza: me desagradaram um bocado, porque me repuseram em mim, no literato conhecido, de que muita gente fala e já não se pertence mais a si mesmo. Isto é pau, Murilo, é muito pau. Mas muito obrigado assim mesmo e por tudo. Você tem aqui em São Paulo ou no Rio[...], não o “caro prof. Mário 75 de Andrade” que você nomeou no seu cartão, mas simplesmente o Mário de Andrade muito seu amigo, despreocupado, sofredor, agüentador, lutador e camarada[...] (ANDRADE apud MORAES, 1995, p.11, grifo do autor). Com relação aos seus sentimentos pessoais, torna-se claro o quanto Mário de Andrade necessita do porto seguro representado pela casa da Rua Lopes Chaves no centro de São Paulo. Exilado no Rio, quando adoece, corre para a sua “casa de verdade”, lugar que o “defende” e o “moraliza no mais vasto sentido desta palavra” (MORAES, 1995, p. 14). Ainda que a figura da mãe não seja mencionada uma única vez nas cartas, sabe-se, por esclarecimentos de Eneida Maria de Souza – escritora e professora da UFMG, autora do texto introdutório de Mário e o pirotécnico aprendiz – que ele muito necessita da “guardiã dos objetos pessoais que costura o texto familiar” do escritor e “preserva a memória da tradição da casa, metamorfoseando-se nela própria” (SOUZA apud MORAES, 1995, p. 14-15). É interessante observar que, no seu conhecido conto “O peru de Natal”, de cunho autobiográfico, a mãe da personagem é mencionada com intensidade. O protagonista Juca, após a morte do pai, ocorrida cinco meses antes, “de quem sempre gostara apenas regularmente [...] mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor” (ANDRADE, 1991, p. 75), aproveita sua fama de “doido” no ambiente familiar e promove uma ceia de Natal plena da mais genuína felicidade doméstica, onde avulta a importância da mãe – “finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dois dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada” (ANDRADE, 1991, p. 77). Ligada à questão da casa/mãe, que evoca a idéia de útero/proteção, está a confissão que Mário de Andrade faz a Murilo Rubião, em carta de 5 de outubro de 1944, do seu “desamparo vital”, voltando de sua última viagem a Minas, precisamente quando se está encerrando o diálogo epistolar e a Mãe Terra está para sugá-lo definitivamente: É curioso como eu sou um sujeito desamparado de si mesmo, absurdamente desprovido de defesa pessoal e elementos de luta [...] Descansei em você, me entreguei 76 com garantia absoluta e um egoísmo um pouco desavergonhado (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 73). Além disso, assumem relevância nas cartas a concepção de Mário de Andrade sobre a criação artística com seus componentes de dor e de prazer, a ênfase que dá ao aprimoramento da técnica e à busca de uma expressão própria, bem como ao papel social do escritor. Acreditamos que suas reflexões sobre a produção literária não envelheceram nesses sessenta anos e podem ser consideradas pelos jovens escritores de hoje como verdadeira arte poética. Mesmo confessando-se despojado de elementos para empreender uma apreciação da narrativa insólita de Murilo Rubião, que não chega sequer a apreciar, Mário de Andrade faz relevantes considerações sobre a sua produção, alertando-o para uma semelhança com a obra de Kafka, da qual o escritor mineiro diz só ter tomado conhecimento a partir da carta do amigo. Fica-nos a interrogação sobre o porquê de o então estreante no gênero fantástico temer produzir uma narrativa simbólica semelhante à de Kafka, reação do autor mineiro que sobreviverá ao tempo. Diz ele, na carta de 23 de julho de 1943: Ando com um medo pavoroso de estar caindo na habilidade, no simbólico. Li O processo, de Kafka, para o qual você me chamou a atenção em sua carta. E estou apavorado, sentindo a influência dele sobre os temas que estou urdindo (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 42-43). Os relatos “estranhos” de Murilo Rubião representam uma ruptura tão grande com a tradição literária brasileira, que nem ele próprio sabe como classificá-los, aspecto que Mário de Andrade comenta: (Vamos pra todos os efeitos, nesta carta, chamar de fantasia, o que você mesmo numa das suas cartas ficou sem saber como chamar, si “surrealismo”, si “simbolismo”, a que se poderia acrescentar “liberdade subconsciente”, “alegorismo” etc. Fica aqui “fantasia”) (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 55, grifos do autor). Quando Murilo Rubião lança seu primeiro livro – estréia que Mário de Andrade não chega a presenciar – um 77 traço recorrente da crítica é precisamente a diversidade de denominações com que os autores buscam enquadrar a produção literária do escritor. Além disso, Mário de Andrade aponta-lhe certos perigos na construção de seus relatos, tais como a escolha de elementos e o risco de incorrer na sua banalização, e apreende o essencial no tipo de literatura cultivada por Kafka e por Murilo Rubião, afirmando na carta de 27 de dezembro de 1943: [...] talvez seja mesmo desta contradição entre um afastamento em princípio da lógica realista e a obediência, dentro da ultra-lógica conseguida,de uma nova lógica realística, o que faz o encanto estranho e a profundeza dramática, sarcástica, satírica, trágica, da ficção “fantasia” (ANDRADE apud MORAES, 1995, p.57, grifo do autor). Paradoxalmente, o vanguardista de 22, o inovador da linguagem da narrativa e da poesia, fica desorientado ante a ruptura com a tradição literária vigente estabelecida por aquelas narrativas insólitas. O paulistano primou pela honestidade intelectual e pela acuidade crítica, manifestandose num impasse em face do novo e temendo aniquilar a criação arrojada com um instrumental teórico inadequado. Enfim, as críticas de Mário de Andrade às narrativas de Murilo Rubião, ainda que se constituam apenas em apontamentos de leitura, antecedem os críticos do momento da estréia. Mesmo que elas não se revestissem de importância, teriam, no mínimo, uma relevância histórica. Por razões já mencionadas, Mário e o pirotécnico aprendiz fala muito mais do homem e do artista Mário de Andrade do que de Murilo Rubião. No entanto, detectamos aspectos significativos do escritor mineiro no que ele escreve ou nas respostas de Mário de Andrade às cartas a que não tivemos acesso. Ficamos sabendo, por meio da carta de 23 de julho de 1943, que sua infância foi povoada de medos: “[...] agora que a minha infância, cheia de sombras tenebrosas, de excessiva religiosidade, de fetichismo e terrores inexplicáveis, está me voltando, subindo à minha imaginação” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 42). Podemos pensar no pequenino lugar denominado Silvestre Ferraz (hoje Carmo de Minas), da primeira metade do século, de onde o escritor saiu em 1923, 78 aos sete anos de idade. Mesmo sem conhecê-la, podemos imaginá-la envolta por uma atmosfera nebulosa, com procissões de Semana Santa, cheiro de incenso, desvãos escuros, ruas estreitas e beatas vestidas de preto. Numa entrevista concedida a Literatura Comentada (1982) muitos anos mais tarde, instado a falar da sua religiosidade, devido ao uso constante que faz de epígrafes bíblicas, o escritor dirá: “o catolicismo está muito mais ligado à morte do que à vida, e transforma mesmo a vida em morte” (RUBIÃO, 1982, p. 4). Noutra entrevista, ele volta ao mesmo assunto, afirmando que jamais conseguiu se libertar do problema da eternidade e que, na infância, chegou a ser religioso e místico. O ateísmo, que posteriormente se converteu em agnosticismo, provocou nele uma ruptura violenta (RUBIÃO, 1977, p. 4). Do homem, sabemos ainda que ele utiliza uma imagem de Mário de Andrade – o jogador que joga tudo o que tem e se suicida em seguida (ANDRADE apud MORAES, 1995, p.76) – a propósito da sua produção literária, e, invertendo a ordem, diz que “primeiro se suicidou pra em seguida jogar” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 92). Ao mencionar essa frase de forma invertida, ele está se referindo a uma renúncia do amor enquanto elemento psíquico da vida e experiência psicológica do viver (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 91). Mário de Andrade o censura com firmeza, alertando-o de que “jamais o exercício duma vocação artística deverá renunciar ao amor (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 91) e que o artista “[...] não deve fugir a nenhuma experiência vital” (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 91). O escritor paulistano chega a falar numa possível repercussão desse posicionamento infeliz no trabalho do escritor: “[...] não será disso que lhe virá a sua insuficiência? a sua incapacidade normal de produção? e até mesmo a espécie da sua ficção?”(ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 92). Teria Murilo Rubião levado adiante tal suicídio? Dirá ele anos mais tarde: “Não me casei, não tive filhos, não plantei árvores, apenas alguns arbustos” (RUBIÃO, 1982, p. 5). Pouco mais ficamos sabendo, através das cartas, do jovem “atrás do chapéu e do bigode”: os “tenebrosos recalques”, as dúvidas e os sofrimentos, a suposta falta de cultura (ele devia sentir-se “desmilingüir” ante o cinqüentão 79 versátil e de assombrosa cultura), sua solicitude com Mário de Andrade e a imensa confiança que nele depositava no tocante à apreciação de seu trabalho de escritor. Como no caso de Murilo Rubião há uma lacuna no que se refere à seqüência das cartas, não se pode saber se ele chegou a verbalizar o estreitamento do vínculo afetivo com o querido mentor. O cartão inicial é cerimonioso – “Caro Prof. Mário de Andrade” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 3.) – como convém a um jovem estreante na literatura quando se dirige a um escritor consagrado; está impregnado de elogios a Mário de Andrade e restrições a si mesmo – “Nesse grifo o senhor não encontrará o elogio que merece. Quem o fez carece de cultura e inteligência para dizer do seu imenso valor” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 3); e crença em uma suposta insignificância – “Talvez o senhor não se lembre mais de mim. Eu sou aquele rapaz moreno, calvo, de bigode [...]” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 3). Mesmo que mais tarde chegue a falar de seus sofrimentos, é mais contido e refratário a expansões de afeto e amizade do que Mário de Andrade, o qual, na penúltima carta que lhe escreve, chama-o de “meu querido” (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 73). Quanto ao escritor Murilo Rubião, muitos trechos das cartas esclarecem a respeito da sua escassa produção, pois, trabalhando anos a fio, deixou um total de apenas trinta e dois contos, publicados em Contos reunidos (1998); esparsos em jornais e revistas da década de 1940; um inédito (“A diáspora”) que foi publicado, e inéditos que ficaram incompletos no seu acervo, doado pela família ao Centro de Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG. A carta datada de 23 de julho de 1943 fornece farto material sobre as angústias e dificuldades em relação à criação literária do escritor mineiro. É digno de nota o fato de ele entender a vocação literária como fardo que lhe foi imposto com o nascimento e não como fonte de prazer. O ato da escrita vem-lhe mais como uma necessidade de dar escoamento a sua fértil imaginação, de ordenar o pensamento e apaziguar o que o dilacera internamente do que como uma decisão de entregar-se à literatura como um ato de liberdade: “E eu sinto necessidade de contar para alguém 80 uma porção de coisas que se amontoam, confusas, dentro de mim” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 39). E mais adiante: “Eu estou aprendendo a escrever e aproveitando esse aprendizado para pôr para fora tudo o que me corrói por dentro” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 41). Fica claro através das suas declarações que é dotado de fértil imaginação: “Construo meus ‘casos’ em poucos segundos. E levo meses para transformá-los em obras literárias” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 40). Mas o ato da escrita transforma-se, para ele, em fonte de pranto e sofrimento: “Infelizmente, escrever é para mim a pior das torturas [...] Arranco, de dentro de mim, as palavras a poder de força e alicates” (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 40). Toda essa dificuldade resultou numa obra pequena na qual o escritor, por um lado, deixa fluir às soltas a imaginação que lhe fornece casos estranhos e, por outro, busca contê-los por meio de um trabalho com a linguagem em que procura atingir a clareza e a expressão ideal. Essa verdadeira alquimia verbal é responsável pelo fato de o escritor mais reescrever do que escrever, mais reeditar do que propriamente editar. Após delinear alguns traços dos dois escritores, passamos a verificar a questão da vanguarda e da releitura da tradição. Mário de Andrade é uma das figuras mais representativas do Modernismo Brasileiro, e Murilo Rubião é o criador do moderno fantástico alegórico em nossa literatura. Nos idos de 20, a arte brasileira estava desatualizada, estagnada e sem abertura para uma pesquisa estética. Conhecedores de novas tendências de uma vanguarda européia, jovens intelectuais vão levantar a voz contra o passadismo, o romantismo e demais “ismos” tidos como obsoletos. É em 1921, ano de fermentação da Semana de Arte Moderna, que Mário de Andrade publica seu ensaio “Mestres do passado”, onde critica os poetas parnasianos. É um texto irônico no qual reconhece o importante papel que os parnasianos desempenharam no passado, mas executa simbolicamente os passos do seu sepultamento. Para trazê-los à tona, ainda uma vez, abandona “a alma de fogo e flores de estufa, gasolina e asas de aeroplano, que é a sua alma contemporânea e reveste-se pomposamente 81 com a armadura de oiro e marfim da sua alma parnasiana” (ANDRADE,1964, p. 256). Dando um golpe de morte no passadismo, diz: “Ó Mestres do Passado, eu vos saúdo! Venho depor minha coroa de gratidões votivas e de entusiasmo varonil sobre a tumba onde dormis o sono merecido! Sim: sobre a vossa tumba, porque vós todos estais mortos” (ANDRADE, 1964, p. 257). E termina essa parte introdutória a que chamou de “Glorificação” com a frase: “Que a paz seja convosco!” (ANDRADE, 1964, p. 258). Manuel Bandeira também vai falar nas formas gastas e estereotipadas dos mestres do passado no poema “Os sapos”, recitado durante a Semana. Mas ele utiliza não o tom de irônico réquiem, mas o blague e a brincadeira: Vai por cinqüentanos Que lhes dei a norma: Reduzi sem danos A fôrmas, a forma. Na proposição de novos padrões estéticos, há um elemento de ruptura com uma tradição artística e uma transgressão às normas por ela estabelecidas. Mas é preciso insistir que Mário de Andrade não rompe propriamente com o passado e com a tradição, já que diferencia passado de passadismo, como diz numa carta a Paulo Duarte: “Entre ser do passado e ser passadista há uma grande diferença, Goethe era do passado, mas não passadista. Passadista é o ser que faz o papel de carro de boi numa estrada de asfalto” (ANDRADE apud MORAES,1995, p. 40). Esse aspecto é muito bem esclarecido por Mariza Veloso e Angélica Madeira, autoras de Leituras brasileiras: É o sentido contemporâneo que interessa registrar nas obras do passado, pois este pode ser capaz de impulsionar a criação, a invenção, isto é, a civilização. Tal contemporaneidade não significa a negação do passado, mas a sua metabolização, a sua incorporação na atualidade (VELOSO; MADEIRA, 1999, p. 52). O elemento de metabolização do passado reveste-se da maior importância, pois não se trata de negar uma tradição artística e cultural, mas dela fazer uma releitura. Mário de Andrade, na sua versatilidade, converge todo o seu pen82 samento para uma preocupação com a cultura brasileira. Daí suas viagens pelo Norte e Nordeste do Brasil, sua preocupação com a obra do Aleijadinho, com a língua falada e escrita, com o folclore, etc. Ele nem mesmo pensava nas diferentes manifestações artísticas como pertencentes a compartimentos estanques, pois afirma em carta a Oneyda Alvarenga, datada de 14 de setembro de 1940: Que mistério, que intuição, que anjo-da-guarda, [...], quando aos 16 anos e muito resolvi me dedicar à música, me fez concluir instantaneamente que a música não existe, o que existia era a Arte?... E desde então, [...] assim como estudava piano, não perdia concerto e lia a vida dos músicos, também não perdia exposições plásticas, devorava histórias de arte, me atrapalhava em estéticas mal compreendidas, estudava os escritores e a língua, e, com que sacrifícios nem sei, pois vivia de mesada miserável, comprava o meu primeiro quadro! (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 27-28). O escritor estava ciente de que há a necessidade de o brasileiro se conscientizar da sua cultura, e que ao artista cabia um papel social de relê-la e de recriá-la, representando o coletivo por meio de uma expressão própria. Sabemos pela carta de 5 de outubro de 1944, dirigida a Murilo Rubião, que ele não acreditava em universalidade de expressão: Não pode existir [...] universalidade de expressão, preliminarmente porque a expressão mais clara de uma idéia de você, já não é a expressão mais clara dessa mesma idéia pra mim [...] ou até mesmo pra um seu espírito irmão de cultura e convívio (ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 76). Mas o escritor paulistano estava convicto de que, por sua vez, a cultura brasileira haveria de atingir a universalidade no quadro da cultura ocidental. Para enfatizar o fato de Mário de Andrade ser a principal figura de vanguarda de um movimento que traçou novos rumos para a Literatura Nacional, acreditamos não ser necessário insistir nas inovações realizadas pela nova estética, da qual citamos apenas alguns pontos: a antropofagia da tradição por meio da seleção de aspectos signi83 ficativos para revelar a cultura brasileira; a valorização do movimento da grande cidade e, por outro lado, de mitos brasileiros buscados nas selvas deste imenso Brasil; e, no tocante à linguagem e ao domínio técnico – as palavras em liberdade, o verso livre, as elipses, a pontuação expressiva, o abrasileiramento da linguagem e a valorização da língua falada. Enfim, Mário de Andrade é o autor de Macunaíma, verdadeiro monumento do Modernismo Brasileiro. No que diz respeito a Murilo Rubião, seu pioneirismo deve-se ao fato de ele ser considerado, como afirmamos, o introdutor do moderno fantástico alegórico na Literatura Brasileira, na qual, segundo Davi Arrigucci Junior, há carência de tradição do fantástico: Ao contrário do que se deu, por exemplo, na literatura hispano-americana, onde a narrativa fantástica de Borges, Cortázar, Felisberto Hernándes e tantos outros, encontrou uma forte tradição no gênero, desde as obras de Horácio Quiroga e Leopoldo Lugones ou mesmo antes, no Brasil ela foi sempre rara (ARRIGUCCI JUNIOR apud RUBIÃO, 1977, p. 6-7). No panorama da nossa literatura, algumas obras onde ocorre a presença do fantástico, antecedem a modernidade de Murilo Rubião. Na tradição romântica, há a sedução pelo estranho de Álvares de Azevedo com Noite na Taverna (1855); dentro da tradição regional e da oralidade há Assombramento(1898), de Afonso Arinos, A dança dos ossos(1871), de Bernardo Guimarães, e “No manantial”(1949), de Simões Lopes Neto. Em Machado de Assis, destacam-se o humor e a ironia no tratamento do insólito como, por exemplo, em seus contos “Um esqueleto”(1875), “Entre santos”(1896) e “Uma excursão milagrosa”(1866). Mas, como diz Arrigucci: Somente com Guimarães Rosa se adensa a exploração do imaginário, mas também aqui numa dimensão diversa, de modo que, na verdade, se está diante de uma quase completa ausência de antecedentes brasileiros para o caso da ficção de Murilo, o que lhe dá uma posição de precursor, em nosso meio, das sondagens do supra-real (ARRIGUCCI JUNIOR apud RUBIÃO, 1977, p. 7). 84 Concluímos nosso estudo sobre os dois autores brasileiros citando as palavras de Aristóteles no início de sua Poética (1966, p.201): “Falemos da poesia [...] da composição que se deve dar aos mitos, se quisermos que o poema resulte perfeito,[...].” Em decorrência do caráter normativo dessas palavras, depreendemos que, na literatura grega, o valor estético de uma obra condicionava-se às regras seguidas pelo poeta, e que estavam relacionadas ao gênero cultivado. Isso foi mudando ao longo do tempo com o surgimento de novos gêneros e novas concepções estéticas, visto que a arte, como fenômeno humano, cuja essência é a temporalidade, não pode ser concebida como atemporal e estática. A partir do Romantismo, há a valorização da individualidade, da liberdade de criação e da subversão de regras que resulta na produção do novo. Na contemporaneidade, é em decorrência de grandes transgressões artísticas praticadas por autores marcados pela genialidade que surgem obras-primas como as de James Joyce e Franz Kafka, por exemplo. Guardadas as devidas proporções, é essa mesma marca transgressora que assinala o papel pioneiro de Mário de Andrade e Murilo Rubião. A união das duas universidades conterrâneas dos escritores tornou possível a publicação de Mário e o pirotécnico aprendiz, que fornece importantes subsídios para o estudo da sua produção artística. As partes introdutórias de Eneida Maria de Souza e do organizador da obra dão elementos para a complementação da leitura das cartas. As notas ao final de cada missiva, seu organizador diz ter elaborado a partir do modelo utilizado no preparo da correspondência de Émile Zola, a cargo de uma equipe de pesquisadores no Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM), do Centre National Scientifique de la Recherche Scientifique (CNRS) em Paris, onde estagiou em 1992. Elas se constituem quase que num texto à parte para a pesquisa. Tivemos ainda a possibilidade tomar contato com o grupo de jovens mineiros − hoje escritores consagrados − que, nas Minas dos anos 40, despertava para a vida literária. Além disso, foi interessante saber o que Mário de Andrade pensou, sentiu e realizou nos seus últimos anos, 85 já que a imagem que comumente guardamos dele é a do revolucionário de 22. Curioso foi também saber alguma coisa do momento em que Murilo Rubião era apenas um tímido aprendiz de escritor, cuja consagração tardia o autor paulistano não chegou a presenciar. Referências ANDRADE, Mário de. Mestres do passado. In: BRITO, Mário da Silva. História do Modernismo Brasileiro I: antecedentes da Semana de Arte Moderna. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964. p. 254-258. _______. Poesia. 3.ed. Rio de Janeiro: Agir, 1976. (Col. Nossos Clássicos). _______. O peru de Natal. In: _______. Contos novos. 14. ed. Belo Horizonte: Villa Rica, 1991. p. 75-79. ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de Souza. Porto Alegre: Globo, 1966. MORAES, Marcos Antonio de (Org.). Mário e o pirotécnico aprendiz: cartas de Mário de Andrade e Murilo Rubião. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1995. RUBIÃO, Murilo. O pirotécnico Zacarias. 4. ed. São Paulo: Ática, 1977. _______. Literatura comentada. São Paulo: Ática, 1982. VELOSO, Mariza; MADEIRA, Angélica. Leituras brasileiras: itinerários no pensamento social e na literatura. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 86 A NARRATIVA EXPRESSIONISTA DE RICARDO GUILHERME DICKE Célia Maria Domingues da Rocha Reis 1 RESUMO: Em Cerimônias do esquecimento, o escritor matogrossense Ricardo Guilherme Dicke desenvolve apreciação estética ao tempo em que narra ser e fazer de personagens. Estes se distanciam do pragmatismo cotidiano para uma vivência interior profunda e atemporal, de reencontros de vidas e cenários presentes e passados. Tais efeitos foram obtidos por uma linguagem plástica, densamente laborada com recursos cromáticos, figuras sonoras, lexicais, sintáticas e que, no conjunto, revelam um estilo expressionista. Neste artigo analiso aspectos desse estilo e abstraio do texto uma breve teoria dickeana sobre apreciação estética. PALAVRAS-CHAVE: Ricardo Guilherme Dicke, Cerimônias do esquecimento, Expressionismo em prosa literária. ABSTRACT: In Cerimônias do esquecimento, Ricardo Guilherme Dicke, a writer from Mato Grosso, develops an aesthetic appreciation while he relates his characters’ ways of being and doing. The characters move away from daily pragmatism for a deep, atemporal and interior experience, of rencontres with present and past lives and environments. Such effects were obtained through the use of plastic language, densely worked with chromatic resources, and sonorous, lexical, and syntactic figures, which reveal an expressionistic style. In this article, I have abstracted a brief Dickean theory on aesthetic appreciation from the text and analyzed aspects of this style. KEY-WORDS: Ricardo Guilherme Dicke, Cerimônias do esquecimento, Expressionism in literary prose. 1 Docente do Curso de Graduação em Letras e do Programa de Pós-Graduação para o Mestrado/IL/UFMT, em Cuiabá. POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 87-106 2008 issn 0104-687x Introdução Cerimônias de esquecimento (1995), do escritor matogrossense Ricardo Guilherme Dicke2 é narrativa cuja substância de muitas formas se oferece à reflexão sobre a apreciação estética, e que aqui abordo em três tempos: o ato em si de apreciar, a apreciação efetiva que faço como leitora, a observação da apreciação estética intradiegética, que se apresenta como ação do enredo. Trata-se de uma narrativa que, em consonância com tendências modernas e contemporâneas, reflete a vontade do autor de conhecer cada vez mais fecundamente a índole da linguagem do seu produto, estudando e incorporando outras linguagens, buscando liames inéditos e imprevisíveis para a sua criação (Gonçalves, 1997), com diferentes táticas de enunciação, numa superação dos limites entre a arte e a realidade, atitudes que abrem novas e vantajosas portas à análise crítica, conforme observa M.L.Pratt (apud Emílio, 2003): “... há muito a ser ganho (...) com análises, descentralizada da questão de verdade x falsidade, ficção x não-ficção, gênero literário x gênero não-literário e que focalize, ao contrário, estratégias generalizadas de representação”. Dicke é um escritor pictórico. Ele adota a pintura, suas técnicas e expressões, a ilusão de espaço e tempo na elaboração dos enredos, apresentando cenas em que personagens, apreciadores de arte, fazem referência a artistas e suas produções; também é observável um cuidado artístico na seleção e distribuição de objetos nos ambientes. Nesse sentido, pode ser inserido na tradição de produção narrativa que contem referência direta à pintura em suas tramas, que, de acordo com Magalhães (1997), inicia-se com Werther, de Goethe, tendo ilustres seguidores, Oscar Wilde, Zola, Balzac, Proust: 2 Ricardo Guilherme Dicke (Chapada dos Guimarães/MT, 1936). Licenciado em Filosofia/UFRJ. Freqüentou a Escola Superior de Museologia. Atuou como professor, tradutor, jornalista para várias editoras e jornais no Rio de Janeiro e Cuiabá. Como artista plástico estudou pintura e desenho, entre 1967 e 1969, com Frank Scheffer, e entre 1969 e 1971, com Ivan Serpa e Iberê Camargo. Estudou Cinema no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Fez exposições em Cuiabá e no Rio de Janeiro. Romances publicados - Deus de Caim, Como o Silêncio, Caieira, A chave do abismo, Madona dos Páramos, O Último Horizonte, Cerimônias do Esquecimento, Conjuctio Opositoruium no Grande Sertão, O Salário dos Poetas, Rio Abaixo dos Vaqueiros. 88 “(...) é [a] prosa (...), sobretudo [a] prosa do século XIX, que deu os resultados mais importantes do cruzamento ainda pouco estudado da pintura com a literatura (p.70). É interessante ressaltar que Dicke não usa tais recursos per si, alheios, desumanizados, mas como vias de expressão de solidariedade ao sofrimento humano, ao isolamento e exclusão de pessoas, à natureza, por meio dos quais vislumbra possibilidades de novas relações e equilíbrio pela vivência de mitos e ritos comunitários. Cerimônias do esquecimento revela o gosto do artista pela arte e a busca de interação entre o mundo artístico e o complexo cotidiano. Em seu bojo, apresenta uma fecunda discussão trazida por meio do contraponto entre a arte clássica e a moderna e contemporânea. A primeira, com seu virtuosismo, é representada por mobiliário ricamente lavrado, obras plásticas de artistas renomados, mas colocados em cenário de decadência no qual vive um dos protagonistas, D. Saul, velho rei erudito, condenado a ficar ali, lugar fechado, convivendo com suas necessidades físicas e fisiológicas, fome, flatulências, excrementos, insanidade, uma crítica contundente aos rigores dos padrões a que a arte proposta por determinadas escolas estéticas, tidas como modelos, impunham ao seus seguidores, revelando brutalmente a pobreza interior a que se iam reduzindo. D.Saul traz, pela memória e pela visualização de alguns objetos que estão ao seu redor, o esplendor das artes plásticas, dos grandes projetos arquitetônicos, da estatuária de antigas civilizações. Há uma profusão de descrições, de naturezas-mortas, que vão sendo compostas, ao tempo em que se compõe também a situação lamentável em que o personagem se encontra: Em bronzes e ferros a penumbrosa figura: Michel de Nostradamus de barba cinérea, aspecto hiperbóreo, que vai adivinhando renda a renda os hieróglifos dos apocalipses pendentes sobre as cabeças do mundo; Nicholas Flamel de hidrargyrium ferruginoso, cercado de agulhas e flechas góticas das catedrais...” (p.68) 89 “Caminha a grandes passos firmes pelo assoalho que parece oco desta vasta sala de sem janelas, o ar abafa, oprime. Volumes e volumes trazidos da Terra Santa e de outras terras (...), pelos seus ancestrais em viagens pelo vasto mundo(...). Um arca antiga, tauxiada de cravos de ferro imensos: arca de bronze, antiga como estas pedras que vieram de Jerusalém, feita para guardar segredos de ferro. Ele força a fechadura arruinada, comida pelos séculos de esquecimento que venceu o segredo (....)” (CE,p.73). Numa outra versão, mas sem desconsiderar o trágico existencial, o autor cria outro personagem, um professor de filosofia, que, desalentado, vai a um bar e se embebeda, perdendo a lucidez dos sentidos, passando a focar o seu entorno, o seu momento, por meio de borrões, manchas, e que é a visão que o leitor passa a ter nesse núcleo narrativo. São momentos de grande plasticidade, de uma concepção de escrita que mostra o descomedimento do autor, a sua oposição a normas e convenções sociais, uma certa dificuldade de se relacionar com as coisas do mundo, distanciando-se dos padrões convencionais de inteireza física. Das sensações daí provenientes ele vai fazendo digressões psicológicas, sociais, filosóficas, religiosas, ecletismo que responde pelo contemporâneo. Narrativa expressionista A idéia de apagamento da realidade relaciona-se, em um aspecto, à idéia de morte. Na composição da narrativa de Cerimônias do esquecimento, Dicke estabelece um rotacionamento entre vida e morte, expressos por meio de efeitos sintáticos, sonoros, pelo uso excessivo e metafórico da cor, tendo como seqüela um profundo lirismo e belas imagens, como a deste fragmento, que abre a narrativa: (Pensaste no sogro e nos cunhados que te esperavam. Estás empapado de crepúsculo, por dentro e por fora. Já é de noite. As noites sempre nascem dentro dos crepúsculos. (...). As sombras violetas se desfizeram no esterco de morcego da grande noite. A solidão se parece com a morte: região dos caminhos onde vagam os que já morreram e nos deixaram sós. Eles também estarão sós... A morte com seus caminhos de sombra. Os que sentem nos lábios e na língua o silêncio 90 único e profundo da terra. Depois da existência ficam vagando nos lugares por onde se viveu, silenciosamente, as últimas palavras dos que viveram. Depois da existência: quando a lua deixa voarem as borboletas de cinza brumosa... E olhaste devagar: em torno tudo estava vazio, deserto, silencioso, só as estrelas estremeciam. Era noite.” (p.9)3. O escritor se apropria subjetivamente das sombras, graduando-as do crepúsculo à noite fechada, com nuances de luz, os tons de violeta e a luminosidade da lua - que empresta às coisas diferentes cores daquelas que usualmente apresentam à luz solar, podendo tornar cinza brumosa[s] as borboletas-, e favorecer a visualização do estremece[r] das estrelas. Este verbo é adequado à ambiência que o texto sugere, de diluição, colocada em consonância com o sentimento de angústia de um eu, que fala de si para si, usando nesse caso a 2ª pessoa, em duas ações – pensaste, olhaste-, pelo tema da solidão - diluição das relações-, e da morte - diluição da matéria-, a provisória existência humana e sua destinação – Os que sentem nos lábios e na língua o silêncio único e profundo da terra, eufêmica imagem do sepultamento do corpo. São dois estados de ser sinestesicamente aproximados: Estás empapado de crepúsculo, por dentro e por fora (o que deveria pertencer ao campo da visão (o crepúsculo), é absorvido por todos os sentidos, incorporado ao ser declinado de si, em queda); As sombras violetas se desfizeram no esterco (o que já nem é matéria, é reflexo e se torna palpável, desfazendo-se na matéria decomposta); Depois da existência ficam vagando nos lugares por onde se viveu, silenciosamente, as últimas palavras dos que viveram (em paradoxo, as palavras, reconhecíveis pela audição, não aquelas ditas no transcorrer da vida, mas aquelas que estão no limiar da existência, no portal da passagem, que se revestem de um caráter mítico, após a morte do ser, vagam em silêncio, adquirem uma outra consistência que as faz permanecer); Depois da existência: quando a lua deixa voarem as borboletas de cinza brumosa (adjetivação composta que corresponde ao tom prateado que irradia da lua, 3 Os parênteses, nessa obra uma das marcas de desdobramento do narrador, são abertos nesse ponto inicial da narrativa e fechados na p. 13. 91 personificada, mas que em si traz o sentido do impreciso, anuviado, incerto, da obscuridade da vida post-mortem, da qual temos lampejos de conhecimento, noções flutuantes como as borboletas). A aliteração da consoante bilabial /p/ e das nasais, pensaste, esperavam, empapado, crepúsculo, sombra, silêncio, profundo, existência, vão criando um efeito de eco que encontra ressonâncias na idéia de noturnidade, ensombrecimento, desconhecimento, dualidade, que permeiam o parágrafo, numa dimensão que intersecta, sem acanhamento, o fenomênico e o imaterial. Tais procedimentos foram delineando um perfil da narrativa dickeana que viabilizaram o seu estudo pela óptica de uma técnica de composição comum nas artes plásticas, o expressionismo. A questão que se colocou, então, foi a de que maneira seria possível compreender, sob tal ângulo, esse jeito de expressar existência-não-existência-pós-existência, em si mesma tema e forma, mesmo tendo em vista que, às vezes, algumas manifestações corrompem de tal forma o código que não são passíveis de leitura (Lourenço, 1999, p.26). Não obstante, como disse magistralmente Dicke, “Intangibilidade, imponderabilidade, os significados fogem, urge apressar-se. Senão a hora do entendimento encobre a ocasião única da descoberta” (p.69). Eduardo Lourenço, defendendo o expressionismo na cultura portuguesa, aponta uma direção, filosofando que a essência – ideal e histórica- do chamado “expressionismo” é de configuração vitalista -, mas de um vitalismo paradoxal, pois é a vida concebida na sua tensão intrinsecamente dolorosa com aquilo que se lhe opõe e assim a constitui por essa mesma oposição, quer dizer, a morte. (...). A realidade expressionista é a de um excesso de vida, da pura vida, na sua opacidade e energia cegas, à Schopenhauer, sem outra inscrição além da morte, ao fim e ao cabo a única realidade, aquela que desrealiza todo o universo, sobretudo o nosso, interior, convertendo a existência numa permanente mascarada (...). Mas, anterior à máscara existe o grito – o silencioso e infinito eco de uma vida-morte, tal qual Edward Munch4 o representará (...)” (1999, p.26). 4 Pintor norueguês (1863-1944). Lourenço coloca que Munch concentra toda a doutrina do expressionismo nesse quadro, no qual todas as linhas parecem conduzir a uma cabeça retratada que grita, obtendo o efeito dramático de um veemente desespero. 92 Um dos aspectos perceptíveis na obra é a adoção de práticas como a da moldagem da deformidade, sobretudo na edificação das imagens dos seres, do tempo e do espaço, das emoções, com matéria pastosa, solvente, a exemplo do fragmento anterior e destes, donde se compreende o emprego do termo “mascarada” por Lourenço: As caras borrosas das pessoas naquele casamento, figuras passando com pratos de comida, vultos e sombras se movendo (...)” (Cerimônias do esquecimento, p.9). Só nós mesmos que paramos aqui amodorrados, perdidos dentro de nós mesmos, de caras de sombra em borra, com olhos de barro que se desfazem na noite, talvez nossos olhos neblinosos que vemos tudo em névoa e névoa, cataratas que vão se desmanchando brancos na noite com o fragor da vida, cada vez mais, contando essas histórias que vão nascendo na argila branda da memória (...)” (p.12-3). Na mesinha da varanda, lá fora, na frente dos homens que cantam e tocam, copos de cerveja marrom como as borras da noite, de espumas escuras, sob o amarelo triste e opaco da única lâmpada. (p.40) O estado de tensão do personagem, uma excitação corporal, cria uma pressão interna, uma pulsão, processo dinâmico que se direciona ao objeto para ser suprimido (Laplanche e Pontalis, 1988, p.506) e determina a fisionomia desse objeto - residual, insignificante, imundo; em termos sociais, a ralé, a escória -, são alguns dos sentidos possíveis do substantivo borras e derivação adjetiva, borrosos, o cerne das imagens, que redundam pelo uso de termos inseridos no mesmo campo semântico, sombra, barro, névoa, argila, espumas, neblinosos, opaco, indicando um pessimismo exacerbado. Essa é uma das razões pela qual o pesquisador português considera a pintura expressionista como “essencialmente pulsional, alheia ou hostil à poética sublimante do simbolismo ou euforizante do impressionismo (...) (...) que serviria para designar toda uma concepção e sensibilidade criadora-destruidora” (1999, p.23-4), comentário que derivamos para a literatura, tomando de empréstimo um dos termos para nomear o item que segue. 93 Uma narrativa pulsional O expressionismo pode ser considerado de duas formas. Em sentido estrito, como movimento estético das artes plásticas e de outras formas de arte, que se desenvolveu sobretudo na Alemanha, no início do século XX, e se espalhou pelo mundo. Em sentido lato, como uma postura de realização artística propriamente dita, que se manifesta principalmente em períodos de opressão político-social, de crise, caracterizada pela desfiguração das imagens e, no contexto dessa crise, a exteriorização dos sentimentos pelo grito, pelo protesto, o que leva à expressão do feio, do grotesco, do caricato: A caricatura sempre foi “expressionista”, pois o caricaturista joga com as parecenças de sua vítima e as distorce para expressar justamente o que sente a respeito dela, diz Ernest Gombrich (1995, p.564), referindo-se a Vincent Van Gogh (pintor holandês, 1853-1890) que este, fazendo experimentos expressionistas, afirmou ser seu método comparável à caricatura. Para explicar essa afirmação, o professor ressalta a subjetividade buscada na expressão artística: (...) os nossos sentimentos diante das coisas emprestam cor ao modo como as vemos e, ainda mais, às formas que recordamos. Todos nós teremos experimentado como um mesmo lugar parece diferente quando estamos alegres e quando estamos tristes” (idem). e, justamente por isso, comenta sobre o outro lado da questão, a recepção da obra, dizendo das repercussões da caricatura em relação ao que se destina: enquanto humor, é plenamente aceita e compreendida. No momento em que toma forma de arte, para comunicar os mais variados sentimentos, amor, medo, ela causa grande perturbação e muito preconceito. Decorrido muito tempo após a produção dessas primeiras manifestações, elas causam estranheza até hoje. Há uma negação da função mimética da arte. “A descrição e a reprodução são substituídas pela vivência e pela busca das quais resulta uma nova criação ou estruturação. Desse modo, 94 não são os fatos que interessam, mas a visão que penetra para além da superfície dos fatos, a fim de atingir o verdadeiro e as potencialidades espirituais contidas no objeto” (DIAS, 1999, p.120). É o que ocorre com a obra Cerimônias do esquecimento, que apresenta um grau considerável de dificuldade em sua leitura, em razão da arquitetura da forma e do conteúdo e que, em alguns aspectos, mostra essa “desfiguração” do homem que não se sente mais uma unidade, uma inteireza, e por isso precisa de muitos canais para dizer-se. Quanto à forma, há um esquema complexo de narração, com plurifocalização onisciente, em 3ª pessoa, e autodiegética, em 1ª, 2ª pessoas, que constituem uma só, a voz dual do protagonista, marcada graficamente por parênteses, e em 1ª para personagens como D. Saul, que também aparece em 3ª, entre outras proezas, comportamento indisciplinado que deixa atônito o leitor. Dessa plurifocalização resulta a construção de um circuito mental entre os atores do enredo, que lembra a técnica de Cervantes em D. Quixote, cujos personagens, cada qual em um núcleo inicial, acabam se reunindo com os demais num determinado espaço - numa estalagem-, motivados por um fato em comum em suas vidas. Em Cerimônias a reunião ocorre no bar Portal do Céu, no bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá, Um bar como este. Mas aqui é o fim do subúrbio, quase fim das cidades, extramuros, como querer comodidades neste lugar que parece que quer cair por cima da gente, meio torto eternamente, quase no fim do mundo, limite das civilizações? (p.11). Entre sombras o bar boiando na noite. Dependurado de um lado, torto. Ambiência de amarelo sujo, que quanto mais perto se chega meio esverdeado vai ficando, onde flutua, com suas cadeiras toscas e seu teto inclinado. (p.35) descrição que prenuncia a temporalidade, que se dá por uma suspensão do tempo físico e pragmático, sem a lógica do relógio que controla a vida diária, com suas atividades pré-estabelecidas, em que os homens, alheios às suas existências, lidam aceleradamente com a sobrevivência, 95 Aqui pensa-se nas idades. O que é o imemorial? Os rostos dos homens, seus gestos lentos como rituais, os braços que sobem e descem, os dedos que premem as cordas, as faces imóveis, onde os olhos parece que olham tudo de muito perto da vida através das pálpebras pesadas como barro e depois se entrecortam e se calam e se apagam e ficam mudos e silentes como certas estátuas de pedra no centro de fontes olvidadas erguendo cântaros e ânforas de onde a água cai e ressoa num rumor de passado que já se escoou quase igual ao silêncio num jardim de séculos...Tempo que passando já é passado. Olhos que se fecharam há demasiado tempo, sons que parece que tornam de trás de anos e anos perdidos na boca voraz do redemoinho do Tempo. Ontem, hoje, amanhã: que é isso? Apenas o imemorial... O esquecimento... O esquecimento que apaga todos os rastros. Tudo se desvanece dentro de nós, como uma casa subitamente em sombras boiando na noite imensa. (p.37) mas unicamente direcionada pelo irrompimento da interioridade dos personagens, ao momento presente e passado, (...) era ele mesmo até o fundo de si mesmo, profundamente: os reflexos de mil e um espelhos que se refletem e onde mil e uma vidas se repetem, aquele instante, que são os pensamentos, em miríades. (p.19) Elas vão se preparando para um ritual, a “Noite da Predestinação”, que determinará a passagem de uma época de angústias e sofrimentos para outra, mais pacífica. A narrativa vai se construindo como forma de preparação para o ritual, com a incorporação de mitos e lendas cristãos e pagãos de várias civilizações, teorias espiritualistas acerca da reencarnação, profecias, situações contemporâneas que incluem crítica social declarada, que repentinamente são apresentadas ao leitor, como esta, pelo som: Daqui quase não se ouvem os caminhões que passam carregados de artigos que vão desde toneladas de pacus secos até madeira em toras imensas, da nossa terra rumo a São Paulo e ao Rio de Janeiro, rumo ao lucro, com sua pressa enorme e ruidosa, deixando cães e gatos mortos, esmagados, que se desfazem pelas estradas (...) (p.51). 96 Dicke representou realidades do interior do humano, representação que seria dificultada se tivesse mantido o olhar ossificado e sóbrio do dia-a-dia, curvando-se à causalidade, resultando em uma narrativa mais padronizada. Mas obteve um efeito de profundidade e verossimilhança, tomando como argumento a perda da lucidez do personagem, como já foi dito, o que o fez beirar os territórios da loucura-, pelo efeito da bebida: Tu, tão bêbado, já não podias discernir direito. Tudo parecia como se fossem os olhos de terra de um desses que passam aí em frente, cheios da noite, olhos de barro, noite de argila, bois e homens com seus olhos que olham as sombras” (p.11). Na sua confusão mental, o personagem, que fala para si mesmo, não consegue perceber as margens entre o real e o onírico. Há já dois dias que vens estar aqui, como um cão enxotado da universidade, que se fodam, e vens aqui lamber as feridas, pobre cão maltratado e sempre o pai da noiva te contando essa história que parece que continua para sempre dentro dos teus ouvidos, parece que ele prossegue ao teu lado, e tu sempre pensando nessa história que parece tão estranha do pai da noiva, esquisito esse homem, ou quem será que contava essa lenda bíblica, pai de quem? Teu pai? (p.12) Nessa apresentação sumária, temos um flash back e uma antecipação, uma prolepse da história. É apresentada a situação de angústia de Frutuoso Celidônio, um professor de filosofia despedido que, após ir a um casamento, foi acompanhado pelo pai da noiva ao bar. A variação no andamento do relato, acelerada pela elipse dos acontecimentos desses dois dias, vai se retardando em longas digressões e todo o restante do enredo se passa em uma noite, “imensa e ressoante” (p.58), a noite do ritual. O personagem faz referência a uma lenda bíblica, a do Rei Saul, que é inicialmente apresentada pelo pai da noiva, e por isso sempre colocada entre aspas. Esse núcleo narrativo assume grandes proporções e se diferencia das demais em nível de conformação de personagem e discurso, não em relação à sintaxe, mas 97 à seleção lexical. D.Saul é um personagem aristocrático, possui um discurso erudito, no qual as muitas gradações vão apresentando cenários, objetos, sua linhagem nobre, sua situação existencial presente, quando já está velho e aprisionado em um cômodo, acusado de insano, amesquinhado ao redor da alimentação, do labor dos intestinos, da solidão, dos desafetos e das lembranças das gloriosas reencarnações passadas. Demonstrando sensibilidade para a arte, ele nos dá preciosas lições de apreciação estética, como veremos adiante. Na narrativa, fará parte do ritual. No fragmento apresentado, orações e períodos obedecem ao ritmo do encadeamento de pensamentos do personagem, com apostos, subordinadas e coordenadas sindéticas, frases afirmativas reiteradas em interrogativas, comparações e metáforas, verbos no presente e no gerúndio, que dinamizam a narração, recursos que vão indicando o trajeto da consciência para a turbidez, uma similaridade com o outro personagem. São expedientes reiterados com freqüência em toda a narrativa, em frases que vão se alinhando sem coerência interna, justapostas em um mesmo parágrafo que, muitas vezes, trazem assuntos os mais diversos, apresentados rapidamente, sem pormenores descritivos. Conforme Edschmid (apud DIAS5, p. 118), na sintaxe expressionista, As frases, suspensas numa grande cadeia, servem ao espírito que lhes dá forma. (...). Elas não conhecem senão o caminho do espírito, o seu objetivo e o seu sentido. Ficam unidas aos extremos umas das outras, lançamse para dentro uma das outras, não mais ligadas por meio de dispositivos de transição lógica, nem pela argamassa da psicologia, que lhes confere uma flexibilidade superficial. A elasticidade está nelas mesmas, a palavra também adquire outro poder. Há uma ruptura com a realidade dos cinco sentidos que gera outros nexos entre a substância e a vontade artística, uma vontade estimulante da atitude de contemplação: 5 Essa citação é uma tradução da obra original de Kasimir Edschmid, Expressionismus in der Dichtung. Die neu Rundschau 29, de 1918, apresentada por Maria Heloísa Martins Dias, em seu livro A estética expressionista (1999), obra que faz parte de uma coleção dirigida por Massaud Moisés, cujo objetivo é reunir, em cada um dos seus volumes, fragmentos de textos considerados essenciais a determinado setor da cultura, precedido de um estudo geral do autor sobre esse setor. Massaud, no prefácio, faz questão de frisar que os textos antologiados passaram por tradução rigorosa, para evitar interferências subjetivas em seu conteúdo. 98 E ninguém parece ver que um rosto de mulher está olhando (...): uma das putas veio ver cá o que acontece, o que sucede na grande noite em grandes realidades sem assombros(...) o reunir-se dos homens em concerto esperando os acontecimentos nos seus rituais do vazio da espera sem esperança de suas solidões, dos seus enjôos de somente ouvir suas próprias e solitárias almas (...). (...) cada qual (...) atrás destes alpendres semi-destruídos e destas amuradas cancerosas onde o reboco cai sempre imperceptivelmente (...)carregando suas solidões pesadas como chumbo na noite cor de ferro se enferrujando (...). Está bêbada, pobremente, amargamente bêbada e treme (...) estremecem os cantos oblíquos e agudos dos seus olhos, onde teias de aranhas vermelhas e negras zebram em gráfico de raízes tortas que vão se abrindo com galhos, veios palpitantes, pedúnculos que relampagueiam, picumãs de sangue nas pontas fugidias dos olhos. (...). Não vêem o que se exclui dela, porque toda ela está na sombra, seu corpo mergulhado na noite das trevas, só sua face está fracamente iluminada entre roxo e escarlate, na luz amarela de halos verdes, febrenta, variolosa da lâmpada do teto, ela vai tirando as roupas (...) como Ísis sem véus, exposta aos olhos violetas e lilases dos homens (...): (...) sobe numa mesa, seu corpo se desenha inteiramente numa xilografia de ferro amarelo, todo ele amarelo pela luz de âmbar fosco e ferruginoso (...), os homens vêem, esperam e vão adivinhando dentro da redoma de uma intuição, uma esfera azulada que ela é sua irmã antiga, que com eles vem desde os tempos da encarnação de Enoch, (...), ela encontrou seu lugar reservado na autoridade natural dos tempos (...). (p.65-6-7). Do inebriamento dos sentidos surte a ascese espiritual, que permite a visão de vidas pregressas determinando uma funda compreensão da ordem sagrada e eterna da vida, e a valorização e o reposicionamento do sujeito nessa ordem pelo consenso do grupo, independente do seu fazer atual. Essa redescoberta do humano no tempo não poderia se fazer sem um espetáculo cromático de luzes e sombras. O 99 enfoque bastante aproximado nos olhos é um recurso de antecipação de que acontecerá algo no sentido incorpóreo, na medida em que esses órgãos são explicitamente espiritualizados na narrativa, a exemplo dos personagens Manuel dos Velhos e Manuel das Velhas, que perderam a capacidade de enxergar, mas foram compensados pela visão espiritual, o dom da adivinhação, da profecia, uma recorrência ao mito grego de Tirésias. É um enfoque que mostra os olhos embriagados, fartamente metaforizados, teias de aranhas vermelhas e negras zebram em gráfico de raízes tortas que vão se abrindo com galhos, veios palpitantes, pedúnculos que relampagueiam, picumãs de sangue nas pontas fugidias. Nesse ponto se coloca não a imitação do real, da natureza. Essas linhas e cores foram nomeadas por um processo de derivação das “impressões sensoriais”, de uma violência e certa paixão na formação da imagem, composta para dizer do sofrimento dessa personagem, de carne humilhada, que caminha por um cenário desintegrado e condenado, reflexo do seu próprio cenário interior, alpendres semidestruídos e destas amuradas cancerosas onde o reboco cai sempre imperceptivelmente, até chegar a um lugar onde será iluminada em gradação metonímica, primeiro, na face, fracamente, em roxo e escarlate, na luz amarela de halos verdes. Há uma simbologia que envolve essas cores e que prepara a atmosfera mítica para a revelação, dentre elas, o roxo e o amarelo. Segundo Israel Pedrosa, o roxo é considerado como “símbolo da alquimia. Sua essência indica uma transfusão espiritual”, “o domínio hipnótico e mágico” (1982, p.115). O amarelo sobre o fundo escuro ganha “força e vibração” e, “na pintura, assume geralmente a função de luz. É também nesse tom que se revela seu corpo: seu corpo se desenha inteiramente numa xilografia de ferro amarelo, todo ele amarelo pela luz de âmbar fosco e ferruginoso..(...). Completando o quadro, há a esfera azulada, cor atribuída à intuição, o ato de perceber a existência da mulher desde remotos tempos, como sua irmã antiga. Diz Pedrosa que “em cor-luz, o amarelo forma com o azul um par complementar (...) (p.110). Acerca da história do azul, informa que “é a própria cor do infinito e dos mistérios da alma, a “mais imaterial das cores” (114). 100 Num lampejo, na captação de uma situação, todos os elementos participam dessa “visão”, “súbita excitação” (Gombrich, p.564), todos os elementos do conjunto convergem para o que o artista quer enfocar naquela fração narrativa, cenário, tempo, espaço, personagens, tema, buscando a maior proximidade possível com o que sua emoção extraiu do objeto que, via de regra, traz o sofrimento humano, por isso o desenho não pode ser perfeito, mas, ao contrário, pode se aproximar do excesso, do hediondo, do escabroso. Para endossar o que foi dito antes, reporto-me ao que resume Edschmid: “(...) todo o espaço do artista expressionista converte-se em visão. Ele não vê, contempla. Ele não descreve, vivencia. Ele não reproduz, configura. Ele não aceita, busca. Agora já não existe a cadeia dos fatos: fábricas, casas, doença, prostitutas, gritos e fome. Agora existe a visão dessas coisas. Os fatos só têm significado na medida em que a mão do artista, atravessando-os de ponta a ponta, agarra o que está atrás deles.” (apud DIAS, p. 117) Há ainda, na cena apresentada, uma metalinguagem da arte da gravura, processo de criação artística - seu corpo se desenha inteiramente numa xilografia6 de ferro amarelo, todo ele amarelo pela luz de âmbar fosco e ferruginoso. É um procedimento que migra, no romance, para outras formas de arte, como a da concepção da matéria literária das narrativas: Quem vai saber direito dessas histórias? Histórias são histórias, como na vida. Lendas também podem ter acontecido, para isso bebendo se acredita de repente, dá susto, como quem desperta de chofre de algum sonho que os levava na sua correnteza (...) Quem sabe e conserva as histórias? Ninguém, como na vida antiga todos sabem. Só nós mesmos que paramos aqui amodorrados, perdidos dentro de nós mesmos, de caras de sombra em borra, com olhos de barro que se desfazem 6 Considera-se a aqui uma licença poética: a xilografia é a arte de fixar imagens, por incisões e talhos na madeira, que formam imagens em relevo sobre o qual é passada tinta para gravar em papel e outras bases. 101 na noite, talvez nossos olhos neblinosos que vemos tudo em névoa e névoa, cataratas que vão se desmanchando brancos na noite com o fragor da vida, cada vez mais, contando essas histórias que vão nascendo na argila branda da memória que não esquece fácil, cercado da persistência do esquecimento que rói tudo teimosamente como as ratazanas do olvido roem o queijo da lua, requeijão de estrelas, como ilhas e arquipélagos do céu. Modorna, morrinha, mormaço, tristeza, crepúsculo. Moscas pesadas. E as caras em sombras os bois que passam (p.12-3). Na gradação, o jogo de palavras cria a imagem da síntese: as histórias brotam do sofrimento, dos conflitos vividos, guardados, que vão se associando e ganhando corpo, resistentes ao esquecimento, ratazana[s] do olvido. O que garante o jogo, o seu esteio rítmico, são os efeitos sonoros todas as palavras são paroxítonas, há a aliteração do /m/, assonância do /o/, coliteração das homorgânicas /t p/, reiteração de encontro consonantal, que reforçam e fecham a imagem, uma digressão, retomando o fio narrativo. Essa abertura dos bastidores da produção dá outra proporção à idéia de arte, mostra a preocupação do artista cuiabano com o seu ofício, o modo como concebe a substância para a criação, que soluções ele vai dando ao intrincado tecido fictício, os valores e fatos sócio-históricos, que vão ganhando feição de arte, a sua compreensão e autoconsciência literária, o modo como se insere ou se distância do texto, biograficamente - como na referência ao professor de Filosofia-, atividade que ele exerceu, colocando-se no mesmo plano dos personagens-, e/ou pelo imaginário: (Tu pensas: por que esse rei dom Saul não encontrou um professor de Filosofia ensimesmado num bar dos subúrbios, nos limites do perímetro urbano, onde dizem que começa o Sertão, rememorando andanças, pensando nos olhos de sonho de neblina de um velho que te contou a história que não termina nunca? (...))” (p.47) É um procedimento que rompe, de certa forma, com os caminhos “puros” do imaginário, dando ênfase ao processo de criação. Nas palavras de Octávio Paz, acerca da meta102 linguagem poética, “desta circunstância procede o fato de a poesia moderna ser também teoria da poesia” e “o poeta desdobra[r]-se em crítico”(1982, p.77). Dicke, entretanto, não se contentou em apenas desnudar a sistemática de suas invenções literárias e abrir a oficina de outras formas de arte, sobretudo a da pintura, já vimos, e a da música. Em sua obra temos páginas de crítica de arte, a mais legítima, aquela em que há o exercício fecundo da experiência estética como um movimento completo do ato de percepção, processado “por ondas que se estendem serialmente através de todo o organismo”, ficando “o objeto ou cenário percebidos (...) completamente penetrados emocionalmente” (Dewey, 1985, p.100). Essa imersão total no objeto, com o qual se torna um, é um acontecimento que surpreende e deleita: “A música te entra pelos ouvidos como água entra na terra, terra molhada como sombra no chão” (p.47) “A música me leva, me arrasta, como leva, como arrasta o mar as embarcações ao largo das vagas como frágeis rolhas de cortiça sobre suas ondas verdes, imantadas, longe das costas. A vibração do som faz nascer tudo. Deus falando sozinho antes da Criação, tocando seus instrumentos.” (p.69) “Havia um quadro na parede (...). (...) era de um pintor italiano: (...): mostrava duas moças se banhando numa fonte, com sátiros espionando. (...) Ficou olhando, admirando as formas das moças: como os artistas sabem enganar a gente...Gostava de olhá-las: aquilo lhe entrava dentro dos poros, olhos adentro, e iam aninhar-se em algum lugar calmo e antigo do seu espírito (...). As mulheres nuas entravam dentro dele. Gostava de explorar as matas em torno das fontes, as águas que desciam eram puras, eram águas que vinham da montanha. Mas e aqueles seres que abriam os olhos e gozavam as formas femininas com ar tamanho de voluptuosidade? Não conseguia entender por que se escondiam, será por vergonha de seus corpos de bodes? (...)... Isso não é problema, descei à fonte das mulheres, através dos jardins floridos, amáveis sátiros, vinde saciar vossa fome, vossa 103 sede primordial...Pois não está escrito que toda coisa regressará à sua origem, como dela saiu?” (p.21) Foi uma discussão antiga da arte pictórica pintar aquilo que se via. Mas houve uma compreensão artística de que não era possível pintar aquilo que se via, mas o que se via e se conhecia (Gombrich,1995, p.562). Esse conhecimento seminal, essa sensibilidade é alegoricamente doutrinada na conformação dos personagens cegos, músicos, Manuel das Velhas e Manuel dos Velhos, que ficaram cegos, todavia, aprenderam a “ver”, esse “ver” que tem suas raízes no “sentir”, como teoriza o primeiro Manuel: “... os ciganos cantavam, (...) cantavam em voz aberta e a canção vinha até aqui nos mínimos detalhes de suas palavras, só que aquelas palavras eu não as entendia, mas podia adivinhar, eles talvez falassem dos mistérios do seu povo, dos seus segredos (...) e tudo isso eu adivinhava, ia quase na essência das palavras, porque por mais que uma língua é estranha a gente que é estranha também entende. É só forçar um pouco o entendimento de dentro da alma que repercute no coração, esse abismo onde roça a face de Deus, pois as palavras são iguais para todas as coisas e as coisas são sempre as mesmas, e há uma espécie de gente que entende, é só favorecer a chegada da alma aos canais que nos liga à fraternidade dos antepassados de todos os homens (...)” (p.59) Temos aqui uma experiência integral de assimilação artística, com os sentidos, o corpo e o objeto, em “relação tão íntima que controla simultaneamente o fazer e a percepção” (Dewey, p.100). Descendo à fonte: algumas considerações Em instâncias (semi)finais, ressalto um ponto fundamental, que constituirá a matéria para a continuidade desse trabalho: a generosidade do artista Ricardo Guilherme Dicke. No contexto do modo como literariamente expôs a fruição pessoal da arte, conforme dita há pouco, ele quis partilhá-la conosco, seus leitores, por meio de um convite gentil e promissor, feito bem à sua maneira: não para 104 olhar a obra de arte de fora, o que seria inexpressivo, mas para embrenhar-se nela, construindo cada qual a própria experiência. O convite, novamente uma alegoria, é feito aos sátiros – estes agora com estatuto de personagens-, e com os quais nos irmanamos por também ocuparmos a posição de observadores. Os sátiros estavam escondidos, temerosos de enfrentamento, de envolvimento, imagens descritas no penúltimo fragmento, por D. Saul: (...) descei à fonte das mulheres, através dos jardins floridos, amáveis sátiros, vinde saciar vossa fome, vossa sede primordial...Pois não está escrito que toda coisa regressará à sua origem, como dela saiu?” (p.21) Embrenhar-se na arte, na expressão, mas considerando a ”existência como expressão e não a expressão como existência” (Lourenço, p.27), numa condição de ser que busca o supremo, o misterioso, uma vibração do absoluto, A vibração do som faz nascer tudo. Deus falando sozinho antes da Criação, tocando seus instrumentos. (p.69) Eu e Deus: Deus me olha, eu olho ele: face-a-face, como dois poderes. (p.32) além da superficialidade das coisas, no alcance das “suas potencialidades espirituais”(DIAS, 1999, p.120), na eliminação das fronteiras de tempo-espaço e apego a técnicas, onde o verbo se confunde com o espírito dizente. O presente estudo foi um aceite ao convite. Referências DICKE, Ricardo Guilherme. Cerimônias do esquecimento. Cuiabá: EDUFMT, 1995. DEWAY, John. A arte como experiência. In: Dewey. São Paulo: Abril Cultural, 1985. Col Os pensadores. DIAS, Maria Heloísa Martins. A estética expressionista. Direção de Massaud Moisés. Cotia/SP: Íbis, 1999. EMÍLIO, Aline. Panorama evolutivo: estilística e estilo. In: Revista Linguagem em (Dis)curso. Florianópolis/UNISUL, v.3, nº 2., jan./ jul. 2003. 105 Acessível em http://www3.unisul.br/paginas/ensino/pos/ linguagem/0302/07.htm GOMBRICH, E.H. A história da arte. 16 ed. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 1995. GONÇALVES, Aguinaldo José. Relações homológicas entre literatura e artes plásticas. Algumas considerações. In: Revista de Teoria Literária e Literatura Comparada. Literatura e Sociedade. São Paulo/USP, 2: 56-74, 1997. LAPLANCHE, J.e PONTALIS, J.-B. Vocabulário da Psicanálise.10ed. São Paulo: Itatiaia, 1988. PAZ, Octávio. O Arco e a lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 3ed.Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial Ltda/Ed. UnB, 1982. 106 LA FUNCIÓN COMUNICATIVA EN EL DISCURSO ESTÉTICO CONTEMPORÁNEO Marilys Marrero Fernández1 RESUMEN: El trabajo pretende abordar algunas reflexiones sobre el texto estético y el peculiar manejo del lenguaje debido al uso de los desvíos, los que producen un tipo de función comunicativa que expresa los códigos de un nuevo tipo de lenguaje y por tanto una nueva visión del mundo, en él se manifiestan su ambigüedad y autoreflexibilidad. PALABRAS CLAVES: Texto estético, función comunicativa, discurso. ABTRACT: This work intends to undertake a reflection on the aesthetic text and the peculiar management of language due to the use of deflections, which produce a type of communicative function that expresses the code of a new type of language and, therefore, a new vision of the world, declaring their ambiguity and auto reflexability via speech. KEYWORDS: Aesthetic text, communicative function, discourse. La Estética como totalidad, y el arte como uno de sus niveles específicos, constituyen objetos de investigaciones integrales a partir del enfoque sistémico de las funciones del arte. La multifuncionalidad - expresó Jan Mukařovský en “El significado de la Estética” - es un principio de la actividad humana debido a que la convivencia social obliga al hombre a regularla. Ninguna esfera de la actividad humana se limita a una sola función, siempre son varias y cambian con el transcurso del tiempo; las funciones vistas desde la perspectiva del individuo, como autorrealización del sujeto con respecto al mundo exterior y como autorreguladora de su actividad: “se piensa así de manera polifuncional” (1977, p.145). 1 Doctora en Estética. Profesora Titular de la Universidad “Marta Abreu” de Las Villas – Cuba. marilys@ uclv.edu.cu POLIFONIA CUIABÁ EDUFMT Nº 16 P. 107-116 2008 issn 0104-687x Para el lingüista Emile Benveniste, la efectividad de la lengua depende de su realización en el discurso: la lengua como instrumento de comunicación - lo semiótico -, asume su expresión en el discurso, lo semántico. En su ensayo Mutaciones en el discurso antropológico contemporáneo (2001), Miguel Alvarado añade al respecto: “desde la exégesis bíblica hasta la hermenéutica contemporánea; desde Durkheim a Marx, desde Saussure a Heidegger, el pensador occidental esta preocupado por la significación, por lo que su comprensión del mundo es una semiotización, y las relaciones sociales son vistas como una proyección de ella”. La semiología estableció la pertenencia, tanto del lenguaje como del arte, al conjunto del sistema semiótico en su diversidad de información, conjugada con las axiológicas y las modeladoras. Es coincidencia de los teóricos contemporáneos que el texto estético supone una manipulación del lenguaje debido al uso de los desvíos, los que producen un tipo de función semiótica que expresa los códigos de un nuevo tipo de lenguaje y por tanto una nueva visión del mundo, en él se manifiestan su ambigüedad y autoreflexibilidad. Los formalistas rusos llegaron a esta concepción sobre la funcionalidad de la obra de arte basándose en las tesis de que las particularidades estilísticas de la obra dependen de la función inmediata dentro de determinada situación social, sin obviar el análisis de las particularidades de los estudios semióticos de la función comunicativa debido a su esencialidad en la transmisión del contenido social del discurso estético, tesis abordada por M. Bajtin en la teoría del discurso y de los géneros discursivos. Mijail Bajtin (2001) vinculó el componente de interpretación social con la estructura verbal de la obra. Definió el concepto de poética como “estética de la creación literaria”, y lo vinculó con la estética en su función semiótica basado en el concepto ― dialogizm ― o intercambio de ideas a través de la comunicación en sus articulaciones lingüísticas y culturales; en su concepción el signo lingüístico se manifiesta como un signo ideológico debido a la esencia social del lenguaje, expresado a través de la función comunicativa del lenguaje: 108 “La dialogia como diálogo auténtico, trascendido supone la apertura filosófica y permanente del Ser en el Otro, a la palabra ajena, a otras conciencias, porque la razón de ser del lenguaje es servir de diálogo entre los hombres”(BOZAL, 1996, p.40). Su concepto de dialogia establece una relación entre los enunciados individuales y colectivos, es la interacción de los sujetos parlantes que incorporan las voces del pasado y de la cultura a la comunidad lingüística. Bajtin los denominó ideologemas, y en su noción el discurso se define como el lenguaje en su totalidad, llena de voces de otros, todas con igual valor debido a que los enunciados se orientan hacia un mismo objeto referencial, por lo que se define como un discurso ideológico al entrar en diálogo con la monologia ― en términos de R. Barthes, escriture ― es decir, modos de relacionar el texto con la sociedad que implican determinados usos lingüísticos y marcas estilísticas. En consecuencia con estas propuestas el texto se sitúa al servicio del contexto, y el discurso pasa a ser en el plano semántico un discurso comprometido, asociado a teorías críticas de la sociedad cuyo fin es contribuir a las transformaciones en los individuos, los que a su vez inciden colectivamente en los cambios sociales en sus diferentes dimensiones. Su valuarte son los métodos cualitativos, y su discurso se define desde un nudo argumental de corte dialéctico e histórico. En su estudio sobre los géneros discursivos Melina Chávez define el concepto en los términos siguientes: La dialogia supone la pluralidad del sujeto y la necesidad del otro. Ser significa comunicarse. Ser significa ser para otro y a través del otro. El hombre no dispone de un territorio en el que es soberano. Siempre, mirándose a sí mismo descubre los ojos del otro o ve con los ojos de ese otro. El lenguaje es social en toda instancia expresiva, intersubjetivo, nunca neutro ni sin destinatario. El yo es por naturaleza polifónico y se comunica en una amalgama de voces que tienen orígenes diversos. Somos «nosotros», nunca el «yo» individual y autónomo (CHAVEZ, 2001). 109 La teoría del lenguaje de Bajtin se sustenta en la comunicación social; el acto comunicativo está estructurado por un intercambio de voces con un carácter polifónico, y en este sentido es ideológico. Las investigaciones realizadas por la Escuela de Bajtin, afirman el carácter ideológico del arte al poseer las siguientes unidades de diálogo: el acento o la entonación expresiva relacionada con el sonido y el significado; la palabra como enunciado y como parte del mismo, ya que la palabra como unidad lingüístico-ideológica es portadora de una evaluación social; la voz del sujeto, que como unidad ideológica es una actitud cosmovisiva que posee un carácter subjetivo. Otro momento esencial en el estudio de la función comunicativa es el aporte de Roman O. Jakobson en la formulación de las funciones del lenguaje. Los estetas y lingüistas han asumido estas funciones expresadas por Jakobson ―miembro de la escuela formalista rusa y fundador del Círculo lingüístico de Praga―, y han privilegiado para el discurso estético la función poética debido a su ambigüedad estilística al violar las reglas del código lingüístico establecido, lo cual provoca una alteración en el plano del contenido, cumpliendo a su vez las funciones cognoscitiva, estética, educativa y utilitaria. Su carácter autoreflexivo se produce al atraer la atención sobre su propia organización semiótica del discurso. Jakobson acercó el concepto de la función al sistema conceptual de la teoría de la información y la lingüística contemporánea, y sobre esta base elaboró su teoría de las funciones del lenguaje. Otros miembros del Círculo de Praga asumieron criterios diversos. Los estudios del esteta y semiólogo checo Jan Mukařovský ― destacado integrante del Círculo Lingüístico de Praga y seguidor de los presupuestos estéticos de Marx sobre lo estético y sobre las funciones del arte ―, reformulan el objeto de estudio de la estética a partir de conceptos estéticos, semiológicos y sociológicos contemporáneos. Ya Roman Jakobson las había definido en el plano lingüístico, específicamente en la formulación de las funciones del lenguaje. Las argumentaciones teóricas sobre las funciones del arte constituyen un aporte de J. Mukařovský; en El significado de la estética (1942) redefine el objeto de estudio 110 de la Estética y la califica como la ciencia sobre la función estética, sus manifestaciones y posturas. Como gran conocedor de los avances de la lingüística estructural, traslada a la estética dos conceptos claves provenientes del análisis del lenguaje: el concepto de estructura y el de función. Para Mukařovský, la función es una forma de autorrealización del sujeto con respecto al mundo, el que piensa de manera polifuncional, de acuerdo con sus necesidades; es decir, desde el punto de vista del sujeto. En su concepción semiológica, en la función, el signo tiene la dualidad de manifestarse como signo simbólico y como signo estético, en este último se destaca en primer lugar al sujeto, vía para lograr el placer estético. Es un signo de la función estética, el concepto de posturas, es decir, las posiciones que el hombre adopta frente a la realidad, las que siempre se dirigen hacia un objetivo, definido por Mukařovský en cuatro categorías: prácticos (transformativos), teóricos (científicos), religiosos y estéticos. Elabora su concepción semiológica de la estética a partir de las categorías función, norma y valores estéticos, al constituir hechos sociales; se basa en la dialéctica de lo social y lo cultural, en lo infraestructural y lo supraestructural, considerado éste el primer intento moderno del pensamiento estético dialéctico basado en la semiología del lenguaje por ofrecerle a la estética moderna un método de análisis en lo relacionado con el estudio del objeto artístico, su finalidad social y su posición en la transformación histórica. Este presupuesto metodológico nos permite justificar los enfoques estético y semiótico que aquí se abordan, dado la significación que adquiere la función comunicativa en su carácter dialógico y transformador, elemento de vital importancia relacionado con el receptor al ser considerado un creador activo. En su propuesta estética estos son los tres elementos que integran el concepto de “lo estético”― visto en la sensibilidad contemporánea, como un comportamiento importante del hombre en los procesos de la vida, debido a su significación estética ― aunque cada uno tenga su problemática particular y se integren armónicamente a la estructura del texto artístico; por ello, Mukařovský le concede el papel 111 rector a la función estética entre las demás funciones, en él lo estético es el signo de los fenómenos sociales por el lugar que ocupa en la vida del individuo y de la sociedad. Esta propuesta se amplia en el campo de lo estético, de ahí el carácter dominante de esta función, componente esencial de la relación del hombre con su mundo mediante un sistema de normas, expresado como factor de diferenciación social. Esta norma se manifiesta en la medida, en el canon estético, y además es expresión de libertad, la cual es quebrantada constantemente en su relación con el valor estético, porque es la medida y a su vez, la reguladora de la función estética. En su concepción la polifuncionalidad del arte orienta al receptor hacia diversas maneras de ver la realidad y el cómo abordarlas, de ahí la importancia que adquieren las diversas funciones; en resumen, Jan Mukařovský reactualiza el objeto de estudio de la estética contemporánea a partir de la polifuncionalidad del arte, y le atribuye un papel fundamental en la práctica social al ser una función autorreguladora del sujeto, donde lo estético está integrado por las categorías función, norma y valores estéticos, en una unidad dialéctica que privilegia la relación del sujeto con su mundo. Esta función es rectora por su contenido estético, ético y sociológico a la vez que semiológico, en interacción con las funciones comunicativa y autónoma de la obra artística en el contexto de la multiplicidad de funciones que puede asumir lo estético. Las discusiones científicas durante el pasado siglo giraron en torno al sentido del arte y privilegiaron los estudios del lenguaje, mediante los enfoques semióticos. Umberto Eco en su Tratado de semiótica analiza el relieve semiótico del texto estético porque supone un tratado particular, una manipulación de la expresión produciendo así un tipo de función semiótica que provoca un proceso de cambio en los códigos y un nuevo tipo de visión del mundo al provocar el emisor un nuevo estímulo interpretativo en el receptor, dirigido a provocar respuestas originales. Es por ello que el texto estético emite un mensaje calificado por Eco como, ambiguo y autoreflexivo; la ambigüedad desde el punto de vista semiótico se define como violación de las reglas del 112 código, por ello se habla de la desviación de la norma. Esa ambigüedad estética se produce en el plano de la expresión como una desviación que altera en plano del contenido, de ahí que el texto se vuelve autoreflexivo al llamar la atención en su propia organización semiótica. Visto así, el texto adquiere la condición de una super función semiótica, en opinión de Eco es quizás el más importante de los contenidos que el texto estético como acto comunicativo trasmite, porque permiten un cambio en la visión del mundo. En esta línea de pensamiento el sujeto se sitúa frente al cosmos de su cultura, la cual define su estrategia discursiva. Jürgen Habermas en Teoría de la acción comunicativa (1981) recuerda que por la fuerza ilocucionaria [del latín locutio, que traduce lenguaje], de los actos de habla, se asume el papel coordinador de la acción y el lenguaje aparece como fuente primaria de integración social; es decir, el lenguaje tiene un poder cohesionador, pues por medio del consenso logra la unidad social, de ahí su importancia, y la denomina transparencia de los conceptos; en su teoría de la acción comunicativa, basada en las construcciones de la filosofía del lenguaje, el individuo puede asumir varios roles sin perder su sustantividad como sujeto privado en busca de su propia libertad. Habermas considera que el individuo asume dos posiciones al usar el lenguaje: una objetivadora, y otra realizadora. La primera se refiere al empleo del lenguaje académico y científico; persigue sostener o lograr relaciones de poder, logrando un reconocimiento por parte del receptor a favor del emisor; la segunda, se refiere al lenguaje común o al uso intersubjetivo del lenguaje, lo que obliga al receptor a asumir posiciones. Para Habermas es posible hablar en la acción comunicativa de una ética como discursividad de corte universal, cuya característica fundamental es el ser procedimental con marcada dimensión ontológica y con implicaciones cognitivas. La herencia del pensamiento estético del siglo XX en el terreno lingüístico ha demostrado la presencia de una coherencia mediante el enfoque cultural, al contribuir a las diversas expresiones de un discurso contemporáneo volcado a lo ideológico y a lo participativo en su aspecto cualitativo, discursivo y dialógico, propuesta emancipatoria y racionalista frente al mundo globalizado y caótico actual. 113 A través del fundamento ideológico y social que posee la función comunicativa pueden expresarse las demás funciones del arte, ante todo por el contenido de lo estético expresado mediante la definición de los valores estéticos, por las posturas que el sujeto asume frente a su mundo y por el significado que adquiere el acto comunicativo en la dialogicidad, en su interrelación con el resto de los significados extraestéticos; así podríamos expresar el contenido valorativo, educativo, cognoscitivo y lúdico del arte. En la década del sesenta del siglo XX, la “Escuela de Constanza” propone la “estética de la recepción”, la cual supone “el paso de una obra autónoma y una poética auto referencial a una apertura de las artes a los nuevos medios de un mundo industrializado, máxima extensión del interés estético a la recepción y el efecto”(SÁNCHEZ, 1996, p.170), cuyo paradigma se sitúa en la estética kantiana sobre la finalidad del arte, centrada ade más la función estética en las propuestas del estructuralismo checo, la hermenéutica y la fenomenología; vista la comunicación como la función básica de la estética en su función actualizadora. En los presupuestos de esta Escuela, la recepción del arte no es solo un proceso de apropiación sino de aprendizaje a partir de una competencia; no es interpretación de significados, sino producción donde la experiencia estética es un proceso que obliga al lector a adoptar una definición. No obstante, la actividad productiva no solo corresponde al receptor, sino al emisor como creador de un objeto estético humanizado. En esta relación la experiencia estética es el concepto central de la estética de la recepción como expresión de la función comunicativa al manifestarse como poiesis ― creación, conciencia de libertad ―, como aistesis ― reivindicación del estrato sensible ―, y como catarsis ― placer estético como liberador frente a las constricciones de la sociedad. La obra creada, como significante, es el resultado de la producción ― el artefacto material―, mientras que el proceso de recepción ha creado “el objeto estético”, el significado. Aunque la teoría estética contemporánea le sitúa el mayor aporte en este aspecto, su limitación está en no concebirle relevancia al producto del trabajo artístico y verlo como un 114 objeto mediador; no reconoce el valor humano de la obra como resultado de un trabajo especializado. Las propuestas estéticas contemporáneas presentas privilegian la presencia de la función comunicativa a partir del desarrollo alcanzado por los estudios lingüísticos en el s. XX; ello se debe además a la concepción del lenguaje como instrumento de comunicación y de educación para lograr una personalidad formada en la transdisciplinariedad, a partir de la construcción de saberes como una tendencia contemporánea. Referências ADORNO, Theodor W. Teoría estética. Madrid: Ediciones Orbis, 1984. ALVARADO, Miguel. Mutaciones del Discurso Antropológico, Espéculo. Revista de Estudios Literarios, Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/ numero18/dis_antr.html, 2001. Consultado 23 enero, 2004. BAJTIN, Mijail. El problema de los géneros discursivos. Disponible en: www.ideasapiens.com, 2000. Consultado 29 abril 2005. BAUDRILLARD, Jean. La simulación del arte. www.philosophia. cl, 2003. Consultado 29 abril 2005. BOZAL, Valeriamo. Historia de las ideas estéticas y de las teorias artísticas contemporáneas. España: Ediciones Gráficas Rogár S.A., 1996. Vol. II. CHÁVEZ, Melina. Tres apuntes sobre Teoría Literaria. Gramma Virtual. Publicación de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la Universidad del Salvador, Año 1, No. 3, febrero, 2003. http://www.salvador.edu.ar/gramma/3/ Consultado 23 de mayo del 2005. ECO, Umberto. Tratado de semiótica. La Habana: Editora Universitaria, 1999. FREELAD, Cynthia.Teaching Cognitive Science and the Arts I-II-III. Disponible en: www.jacc.com/htm, 2002. Consultado 22 mayo 2003. HABERMAS, Jürgen.. Entrada en la postmodernidad: Nietzsche como plataforma giratoria. Disponible en: www.aesthetics-online. org, htm, 2002. Consultado 23 mayo, 2004. 115 _______. La Modernidad, un proyecto inconcluso. Disponible en: www.philosophia.cl, 2003. Consultado 23 mayo, 2004. _______. La teoría comunicativa. Disponible en: www.ideasapiens. com, 2002. Consultado 23 mayo, 2004. LOTMAN, Iuri M. Lecciones de poética estructural. In: Textos y Contextos I. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1986. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Escritos de Estética y Semiótica del Arte. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977. Colección Comunicación Visual. PLAZAOLA, Juan. Introducción a la Estética. Historia, teoría y textos. En dos tomos. 3ed. Bilbao: Universidad de Deusto, 1999. VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Invitación a la estética. México: Editorial Grijalbo, 1992. SCHOLES, Robert. Introducción al estructuralismo en la literatura. Madrid: Ediciones Aguilar, 1981. GREVEL, Marcelo da Veiga.Da Teoria do Belo ò Estetica dos sentidos. Reflexões sobre Platão e Friedrich Schiller. Brasil, Free Web Hosting, htm, 2002. Consultado 23 mayo, 2004. 116 INSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO PERIÓDICO POLIFONIA A revista POLIFONIA publica artigos originais na área de linguagens, em português, inglês, francês e espanhol. Uma vez publicada, cada articulista receberá três exemplares. Além da versão impressa, a Polifonia é também disponibilizada no site do MeEL/UFMT (http://www.ufmt.br/meel). Para o envio de artigos, devem ser obedecidas as seguintes instruções: 1. Os artigos devem ser enviados para o e-mail: polifonia@ ufmt.br, digitado com o processador de texto MSWORD FOR WINDOWS, tamanho A4 (210 mm x 297mm), com título, sem o nome do(s) autor(es). 1.1. A identificação do autor deverá ser feita em um arquivo à parte, com as seguintes informações: • título do trabalho; • nome completo do(s) autor(es); • titulação acadêmica máxima, instituição onde trabalha(m), atividades exercidas • telefone, e-mail (indicar se o e-mail pode ser divulgado na revista) e endereço completo para correspondência; • apontar (caso necessário) a origem do trabalho, a vinculação a outros projetos, a obtenção de auxílio para a realização do projeto e quaisquer outros dados relativos à sua produção. 1.2. Formatação do texto: • título do trabalho: em português, antes do Resumo e das Palavras-chave e, em inglês, antes do Abstract e Keywords. Usar maiúsculas e negrito, fonte Times, 12, centralizado; 117 • Texto: deverá ter de 12 a 20 laudas. Espaço 1,5. • Resumo: máximo de 08 linhas, seguido de 3 a 5 palavras-chave, ambos em português e inglês. • Títulos das seções e subseções: letra minúscula e negrito • Caso haja necessidade de destacar algum termo, no texto, fazê-lo em itálico. • Citações: com três linhas ou mais, deverão ser recuadas em 4 cm da margem esquerda. A margem da 1ª linha deve ser de 1,5 cm. Times New Roman, alinhamento justificado, espaço simples, fonte 11. Elas serão indicadas no corpo do texto por chamadas assim: (CHAUI, 2002, p. 57). Citação com até duas linhas: sem recuo, no próprio corpo do texto, entre aspas, seguida da indicação bibliográfica (CHAUI, 2002, p. 57). • Citações em outras línguas (opcional): caso o autor queira fazer a tradução, esta deverá ser colocada em rodapé, antecedida pela expressão Tradução do autor. • Rodapé: deve ser usado apenas para notas explicativas e não mais para referência bibliográfica, que deve ser feita no próprio texto. Ex: (ANDRADE, 1980, p. 7). • Referências bibliográficas: USAR SÓ A PALAvRA “REFERÊNCIAS”. Devem ser apresentadas nas Referências somente aquelas obras que foram efetivamente citadas no corpo do texto. Quando citados no corpo do texto, os títulos das obras devem ser colocados em itálico. As Referências devem ser colocadas em ordem alfabética ao final do texto, seguindo a NBR 6023. Transcrevemos dessas normas, abaixo, alguns casos de maior ocorrência: 118 LIVRO GOMES, L.G.F.F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. (Coleção Antropologia e Política) ARTIGO EM PERIÓDICO GUIRRA, M.C.S. Da teoria à prática: o lugar da constituição do professor de Língua Portuguesa. Revista Panorâmica. Cuiabá, v. 06, p. 25-37, jan.jul. 2006. CAPÍTULO DE LIVRO SANTAELLA, L. A crítica das mídias na entrada do século 21. In: PRADO, J. L. A (Org.) Crítica das práticas midiáticas: da sociedade de massa às ciberculturas. São Paulo: Hacker Editores, 2002. p. 44-56. TRABALHO APRESENTADO EM EVENTO BRAYNER, A R A; MEDEIROS, C.B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9...*, 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994, p.16-29. *NUMERAÇÃO DO EVENTO (SE HOUVER) DOCUMENTO COM AUTORIA DE ENTIDADE BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da DiretoriaGeral: 1984. Rio de Janeiro, 1985, 40p. ARTIGO E/OU MATÉRIA DE REVISTA, BOLETIM ETC EM MEIO ELETRÔNICO RIBEIRO, P.S.G. Adoção à brasileira: uma análise sóciojurídica. Dataveni@, São Paulo, ano 3, n.18, ago.1998. Disponível em: <http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html > Acesso em: 10 set. 1998. • São permitidas imagens, mas a impressão será feita em preto e branco. No caso de fotografias, deve-se anexar o nome do fotógrafo e autorização dele para publicação, além da autorização das pessoas fotografadas. • Após a aprovação do artigo para publicação, a Editoria irá comunicar e enviar ao autor a ‘Carta de Autorização para Publicação’, na qual ele ainda declare sua responsabilidade pelo conteúdo do respectivo texto. 119
Download