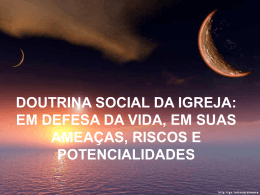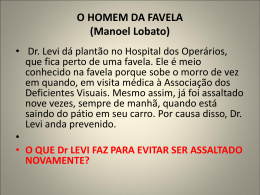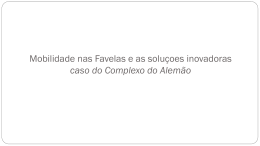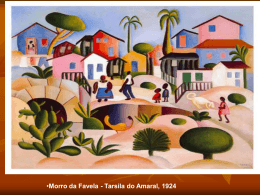Maria Luísa Magalhães Nogueira MOBILIDADE PSICOSSOCIAL: A HISTÓRIA DE NIL NA CIDADE VIVIDA Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Departamento de Psicologia Fevereiro de 2004 Maria Luísa Magalhães Nogueira MOBILIDADE PSICOSSOCIAL: A HISTÓRIA DE NIL NA CIDADE VIVIDA Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora-doutora Vanessa Andrade de Barros, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Psicologia Social. Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Departamento de Psicologia Fevereiro de 2004 1 RESUMO Um mundo de olhares cerca as favelas brasileiras. As imagens que daí são construídas insistem em alimentar uma relação de estigmatização, instrumentalização e desigualdade. No desenho de nossa cidade podemos perceber que o morador de favela torna-se o “outro”, o reverso e oposição da cidade civilizada, a quem é, muitas vezes, atribuída a causa da violência e a manutenção de sua miséria. Nesse mesmo cenário coincidem diferentes vetores (preconceito, trabalho dominado, educação precária, assistencialismo e desconhecimento) que terminam por reforçar um processo que compreendemos como de inclusão perversa. Essas marcas colocam-se visíveis e ocultas no espaço, são reais e simbólicas, atravessam a esfera sócio-econômica e atingem a subjetividade, gerando sofrimento e desgaste vivenciados cotidianamente na realidade heterogênea de nossas favelas. O trabalho está no centro de tal processo, como sabemos. O mundo do trabalho vem apresentando inúmeras transformações mas, em essência, a “atividade sensível” humana se mantém como fundamento de nossa organização social. Nesse estudo buscamos compreender como se efetiva o “desafio” de, mesmo sob um cenário de vulnerabilidade e estigmatização social, realizar a experiência de autoconstituição que se dá pela via da atividade sensível – como se dá, para o morador de favela, o que convencionamos chamar de mobilidade psicossocial, que, como veremos, se dá intimamente ligada ao trabalho. Esse é um estudo sobre as favelas, sobretudo sobre as pessoas que nela vivem. Lança-se sobre a vida – categoria por excelência da ciência – e pensa o trabalho, fundamento vital de nossa sociedade. Trata-se de, lançando mão do instrumental oferecido pela Psicologia, dar voz àqueles que não encontram espaço no discurso dominante (como trabalhou Oscar Lewis), e “dar ouvidos”, numa dimensão ética de reciprocidade e transformação. E, partindo do “interior” (da história de vida) conhecer a realidade em que são atores e autores – tantas vezes desconsiderada e desconhecida. Pensando na escassez de estudos que representem o universo das favelas em Belo Horizonte e na importância de ser este universo compreendido e ouvido, lançando um olhar para a cidade vivida, e em particular buscando compreender sua relação com o mundo do trabalho e seus desdobramentos, é que nosso estudo se apresenta. 2 Aos moradores do Aglomerado Santa Lúcia, com quem muito tenho aprendido. À minha mãe que me ensinou muito do que sei e sou. 3 AGRADECIMENTOS A escrita dessa Dissertação não acaba aqui (como eu sempre imaginei). Porém, mais do que dizer que é “interminável” (como eu dizia...) é descobrir caminhos – muitos – a serem percorridos e transformados. É fato que o que está aqui escrito, está inscrito em mim. Hoje carrego um pedaço de cada um que encontrei, a isso nunca conseguirei agradecer. Espero que estejam em meu olhar e busco fazer sejam em minhas mãos. A todos que ouvi e aos que me ouviram, mil vezes obrigada. Agradeço especialmente a Vanessa, sobretudo amiga. Rigorosa e sensível na árdua, complexa e intrincada (...) tarefa de não permitir que eu me perdesse. Eu não saberia – aqui sim – encontrar adjetivos, ou gestos, adequados para fazer jus à minha gratidão. A Nil, agradeço por ter me confiado sua memória e sua amizade. Ambas possibilitaram a construção desse estudo na forma de conhecimento e aprendizagem. Seu desejo de transformação transborda os sonhos e colore a realidade. A minha mamãe mais linda, desde sempre perto de mim, a cada passo. Nas coisas boas que eu dei conta de realizar, tem sempre você! Confesso (sem correr riscos, mas com a certeza de ser piegas): sua existência já me faz melhor... A meu querido Tony, cúmplice em tantos caminhos – ainda que por “trilhas” diferentes, vamos aprendendo juntos a construir. Seu amor, carinho e amizade faz o meu dia mais vivido. Nandino e Cássia, agradeço por se fazerem amigos também fora do tempo e da necessidade, tornando impossível qualquer solidão. A Matilde agradeço muito pela disponibilidade e pelo carinho ao compartilhar desafios e “trabalhos”. Vamos construindo mais que conhecimento: amizade. A meu pai e a Tia Gá por muito... sobretudo pela imensidão de seus corações. A meus irmãos (amigos) nunca soube dizer tamanha importância! Carolina e Fernando, mais do que pelo óbvio, vocês são muito especiais para mim. A meus amigos (irmãos) agradeço as sementes que plantamos e cultivamos a cada dia (especialmente a Ana Paula e ao Antônio – agradeço pela sincera disponibilidade de “consertar meus erros...” ). A colegas de Mestrado (Lílian, Ju, Fabiana e Marleide): remédio sempre disponível para crises de Dissertatite. Agradeço a Lena por apontar caminhos que se mostraram fundamentais e por se fazer presente ao longo desse percurso. A Louis que compreendeu e contribuiu com o estudo em seu caráter metodológico e, principalmente, humano. Agradeço ao professor José Newton por contribuir ao aceitar fazer parte dessa banca de Mestrado. E a Vanessa (!), de novo e para sempre. 4 ÍNDICE 1. Apresentação................................................................................................7 2. Objetivos......................................................................................................14 Objetivo Geral........................................................................................14 Objetivos Específicos.............................................................................14 3. Metodologia.................................................................................................15 O Método de História de Vida...............................................................16 A Análise dos Dados..............................................................................22 Dificuldades Encontradas.......................................................................24 4. A História de Nil César................................................................................27 Sempre do trabalho.................................................................................28 O teatro me salvou..................................................................................32 Já falei demais do meu pai......................................................................35 Eu faço para não repetir..........................................................................39 Uns dias chove........................................................................................42 Ás vezes eu acho que eu sempre fui muito corajoso...............................46 A cidade como desafio............................................................................50 Beco dos Milagres...................................................................................55 Vamos começar lavando os pratos..........................................................56 Casa do Beco.....................................................................................59 5. Desse Lugar..................................................................................................62 Cidade e Vida: cidade vivida..................................................................68 Do Princípio de Cidadania: iguais e diferentes.....................................74 Sobre a Exclusão e a Inclusão Perversa................................................75 Exclusão e Trabalho..............................................................................77 As Favelas na Cidade............................................................................80 Favela: o que é?.........................................................................84 O que é Comunidade?...............................................................91 Belo Horizonte......................................................................................94 “Belo” Horizonte: Aglomerado Santa Lúcia.............................97 6. Preconceito e Estigmatização.....................................................................103 Trabalho Doméstico e Sofrimento........................................................112 7. Pobreza e Transformação............................................................................117 Trabalho................................................................................................119 Escola....................................................................................................123 Vínculos Familiares e Solidariedade.....................................................126 Transformação......................................................................................128 8. Observações Finais...........................................................................................................135 9. Bibliografia.................................................................................................139 5 Eu sempre sonho que uma coisa gera Nunca nada está morto O que não parece vivo: aduba; O que parece estático: espera. Adélia Prado 6 1. APRESENTAÇÃO “Olha, eu não sou nascido na favela, sou nascido na periferia de Belo Horizonte, mas eu mesmo não sou favelado, acho que tô me tornando um favelado. E, tem uma história real que aconteceu logo eu cheguei pra cá, eu cheguei pra cá há três anos e meio. (...) Mas assim que eu cheguei, eu lembro que me espantou que tinha uma, eu tava andando num dos becos e aí eu vi uma moça carregando um cachorro poodle branco e eu sempre fui muito cismado com esses cachorro branco – eu acho ele o símbolo da ostentação assim, da, da futilidade, pra ser bem concreto. O símbolo da futilidade, da ostentação, um cachorro branco; quer dizer, manter um cachorro branco é o negoço mais difícil do mundo, não só financeiramente, mas, quer dizer, cê tem que gastar muito tempo com um cachorro branco. Aí quando eu cheguei e vi esse cachorro, né? Eu perguntei pra moça, tive essa curiosidade de perguntar onde que ela tinha, né? Como é que ela estava com aquele cachorro ali? Eu tava chegando e também, eu nunca imaginei de ver um cachorro aqui branco, um poodle branco. Aí ela me narrou que a patroa dela tinha viajado pra fora do país, pra morar fora e ela tinha sido demitida e uma das coisas é que ela ficou com o cachorro da mulher como herança, assim, o cachorro, uma cadela. E aí eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, e era bem vizinha – agora ela não mora aqui mais – mas ela era bem próxima e eu continuei observando a vida do cachorro porque eu fiquei curioso pra ver como é que ia ser um cachorro branco numa favela, né? Aí de fato, cê acredita que esse cachorro ele virou – eu acompanhei por muito tempo – ele acabou virando um vira-lata? Ele foi ficando bege, foi ficando marrom, foi ficando imundo, ele era, ela não tinha tempo de ficar com ele, cuidar talvez. Aí ele virou um cachorro de favela mesmo assim, e isso é real, né? Né suposição não. E eu comecei a pensar na minha própria vida se ia acontecer comigo também. Se eu também ia me deixar sujar, no sentido positivo assim, me deixar envolver tanto pela realidade da favela a ponto de me tornar um favelado mesmo, eu acho que o cachorro teve um bom resultado, acho que ele, ele ficou mais agradável aos olhos, não ficou feio não. Foi interessante ver ele dentro da realidade: ele não tinha mais o corte que tinha pelo salão de cachorro. Mas ele ficou muito semelhante à vida da favela, não sei se eu quero ficar sujo também, mas eu quero pelo menos ser mais semelhante ao povo daqui, não fisicamente simplesmente, mas eu quero me identificar mais com essa comunidade. Então isso foi muito significativo pra mim. Aí o cachorro foi embora, mais eu acho que ele se tornou um cachorro favelado.” (Pde. Mauro) A passagem transcrita acima revela muito do que aqui está colocado como estudo científico, em nossa busca de subsunção à realidade a ser conhecida e descoberta. Esse é um estudo sobre as favelas, sobretudo sobre as pessoas que nela vivem. Lança-se sobre a vida1 – categoria por excelência da ciência – e pensa o trabalho, fundamento vital de nossa sociedade. No cenário contemporâneo de nossa sociedade, o trabalho humano constitui tema de destaque em múltiplos espaços, tanto no âmbito da produção científica, como na mídia de forma geral. Não poderia ser diferente. O mundo do trabalho vem apresentando inúmeras transformações 1 Como veremos no capítulo destinado a discutir a metodologia, o estudo se realiza através de História de Vida. 7 mas, em essência, a “atividade sensível” humana se mantém como fundamento2 de nossa organização social. Os desdobramentos das transformações do mundo do trabalho3 atingem tanto os que estão incluídos quanto aqueles que não estão formalmente vinculados ao mercado, e alguns elementos presentes na dinâmica social contemporânea podem agravar ainda mais tal quadro, a saber: desqualificação social, discriminação, condição econômica desfavorável e até mesmo “segregação ambiental”. “Deixando-se ao quase exclusivo jogo do mercado, o espaço vivido consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço sem cidadãos.” (Santos, 1987: 43) Para analisarmos tal cenário vamos ao encontro de “espaços socialmente segregados como as favelas” (Souza, 2000), onde encontramos com certa facilidade a recorrência dos fatores acima mencionados – que, relacionados, podem levar a uma realidade que entendemos como vulnerabilidade social. Como a combinação de tais vetores age, efetivamente, na vida de uma pessoa? Como fica a relação com o trabalho, dentro de um contexto tão complexo e, podemos dizer, adverso? Buscamos compreender como se efetiva o “desafio” de, mesmo sob um cenário de vulnerabilidade e estigmatização social, realizar a experiência de autoconstituição que se dá pela via da atividade sensível – buscamos compreender como se dá, para o morador de favela, o que convencionamos chamar de mobilidade psicossocial, que, como veremos, se dá intimamente ligada ao trabalho. A noção de mobilidade psicossocial atravessa os campos espacial, econômico, social e subjetivo. Como sabemos, o valor do homem, assim como o do capital, vai depender em larga medida de sua localização no espaço. Essa relação pode ser percebida na observação da mobilidade espacial – que flui, basicamente, em função do poder aquisitivo (Souza, 2000) – e é explicitada pela “segregação ambiental” – também constituída pelo elemento econômico (Maricato, 1996). O espaço inclui, segundo Santos (1999: 257), “essa conexão materialística de um homem com o outro”; exprimindo a dinâmica social pelas formas de apropriação (ou imposição): o espaço “é a síntese, sempre provisória e sempre renovada, das contradições e da dialética social” (Santos, 1999: 87). Desta forma, relacionam-se necessariamente os campos 2 Mesmo que encontremos discussões apontando para uma possível não centralidade do trabalho no mundo de hoje, entendemos que a categoria trabalho possui estatuto de centralidade no universo da práxis humana. Antunes (1995) aponta para uma crise no trabalho abstrato enquanto discute esta outra perspectiva, defendida por autores tais como Offe (1989) Gorz (1982 e 1990) e Habermas (1987). Castel (1999) dialoga com tal discussão e até admite que talvez nos encontremos num processo que pode culminar no fim da sociedade salarial, o que é muito diferente de dizer que o trabalho perdeu sua centralidade como elemento de autoconstituição humana. 3 Tais como: globalização, exigências de qualificação e produção, flexibilização do trabalhador, terceirização etc. 8 que sugerimos estarem intrincados na compreensão da mobilidade psicossocial, onde se somam ao elemento subjetivo, o qual cabe à Psicologia iluminar. Buscamos uma análise ampla (como também o fazem os autores agora citados) e que exige sejam observados aspectos que atravessam para além do caráter puramente econômico, compreendendo a materialidade da dimensão subjetiva. Pretendemos perceber e apreender tanto os aspectos concernentes às questões de caráter social quanto, ainda, às da ordem do psíquico, partindo do plano material e compreendendo-as de forma indissociável, como o são: no sujeito. A idéia de mobilidade psicossocial refere-se, para nós, aos movimentos psicossociais experimentados pelos sujeitos por meio da dimensão social (vínculos inter-pessoais, de classe, desempenho de papéis sociais, cultura, estigmas etc.), abarcando ainda o âmbito subjetivo necessariamente implícito na questão social (ou seja, as representações daí decorrentes, a construção da identidade, da auto-estima, autonomia, necessidade de reconhecimento etc.) e lançada materialmente ao plano espacial, este agindo sobre a matriz dos modos de produção. A mobilidade psicossocial é entendida, desta forma, na inter-relação do objetivo com o subjetivo (dos fatos concretos às representações e significados; da experiência de auto-construção à necessidade de subsistência), ao longo da trajetória de vida do sujeito. Buscamos compreender a dimensão subjetiva em sua materialidade, histórica e espacial. Escolhemos a favela especialmente por entendermos ser esta uma realidade que precisa ser melhor compreendida, tanto no âmbito da Academia, quanto do poder público. E, para tal, é preciso compreendê-la de fato, de dentro, nas vidas que ali transcorrem através da dinâmica urbana, levando-se em conta as questões da dimensão espacial. Trata-se de uma tarefa complexa, mas fundamental, posto que: “Estudar uma favela carioca, hoje, é sobretudo combater certo censo comum que já possui longa história e um pensamento acadêmico que apenas reproduz parte das imagens, idéias e práticas correntes que lhe dizem respeito. É, até certo ponto, mapear as etapas de elaboração de uma mitologia urbana. É também tentar mostrar, por exemplo, que a favela não é o mundo da desordem, que a idéia de carência (“comunidades carentes”), de falsa, é insuficiente para entendê-la. É, sobretudo, mostrar que a favela não é periferia, nem está à margem.” (Zaluar & Alvito, 1999: 21) Parte do material bibliográfico que aqui vai ser apresentado, ao qual tivemos acesso, remete-se ao cenário da cidade do Rio de Janeiro – como o texto acima citado. Encontramos poucos estudos tratando das questões particulares da cidade de Belo Horizonte (e, menos ainda, referentes à comunidade específica do Aglomerado Santa Lúcia), contudo, apesar da grande 9 diferença entre os universos heterogêneos de favelas das duas cidades, usamos tais textos somente quando compreendemos a existência de uma proximidade entre as questões colocadas pelos estudiosos cariocas e a realidade que pretendemos analisar, o que justifica a recorrência a semelhantes estudos ao longo de nosso trabalho. Em Belo Horizonte, ou no Rio, a vida na favela vem sendo conformada a uma imagem e representação às avessas, como território de estigmatização – como o contrário da cidade, de forma que iremos apresentar à frente. Apesar de ser muito discutida, trata-se de uma realidade desconhecida. Elieth Amélia de Souza (1997) elabora uma cuidadosa investigação do conjunto de estudos desenvolvidos sobre a questão das favelas, ao longo das últimas cinco décadas, e conclui que “Apesar de numerosos, não se pode afirmar que as favelas como objeto de estudo tenham consolidado uma linha teórica consistente”. Assim, as favelas parecem não ter recebido a atenção científica necessária4 e encontram-se hoje revestidas de uma série de preconceitos e ideologizações que servem para tornar nosso entendimento ainda mais distante de suas realidades. Buscando trazer uma contribuição a estes estudos, na perspectiva da Psicologia do Trabalho, conhecendo e tentando compreender esses sujeitos trabalhadores inseridos no universo das vilas e favelas5, é que entendemos ser importante o desenvolvimento de pesquisas como a que aqui se propõe. “(...) é preciso realizar pesquisas com aqueles que estão sendo instituídos sujeito desqualificado socialmente (deixando-se ser ou resistindo), isto é com aqueles que estão incluídos socialmente pela exclusão dos direitos humanos, para ouvir e compreender os seus brados de sofrimento” (Sawaia, 2001: 109) Trata-se de, lançando mão do instrumental oferecido pela Psicologia, dar voz àqueles que não encontram espaço no discurso dominante (como trabalhou Oscar Lewis), e “dar ouvidos”, numa dimensão ética de reciprocidade e transformação, como veremos na questão da escolha metodológica. E, partindo do “interior” (da própria vida dos sujeitos) conhecer a realidade de que são vítimas e autores – tantas vezes desconsiderada e desconhecida. É importante fundamentar nosso conhecimento sobre o universo das favelas, inclusive para que possamos conhecer os desdobramentos de sua realidade para a saúde psíquica dos sujeitos que 4 Vale, ainda, acrescentar que tal cena se torna ainda mais delicada em se tratando da cidade de Belo Horizonte, onde encontramos um número ainda mais restrito de estudos. 5 Iremos, ao longo de nosso texto, discutir a nomeação feita a essas localidades, no momento cabe apenas ressaltar que em Belo Horizonte tornou-se ‘politicamente correto’ referir-se às localidades de favela como ‘vilas e favelas’. Optaremos, contudo, pela denominação corrente de favela – nomeação usada, juntamente com o termo ‘comunidade’ por nossos interlocutores. 10 nela estão inseridos: efeitos positivos (de construção, realização, identidade etc.) ou nocivos (de estigmatização, violência e isolamento). A produção de conhecimento é, assim, uma forma de ampliar possibilidades e aprofundar reflexões sobre algo realmente relevante – social e cientificamente. Imprescindível para nortear a compreensão que elaboramos da sociedade, e suas respectivas ações – falar de forma próxima e consistente de nossa realidade – porque as várias iniciativas privadas ou públicas (essas em especial já que obrigatórias), que visam atender às populações urbanas, precisam ser pautadas na realidade, ser esvaziadas do discurso higienista, de ações paternalistas e “quantitativistas” (é sabido que muitas políticas públicas se limitam a produção de relatórios, mais interessadas nos números, e na mídia que eles podem oferecer, que nas pessoas e seus problemas reais). Pensando na escassez de estudos que representem o universo das vilas e favelas em Belo Horizonte, e na importância de ser este universo visto e ouvido, lançando um olhar para a cidade vivida como um todo, e em particular buscando compreender sua relação com o mundo do trabalho e seus desdobramentos, é que nosso estudo se apresenta e se justifica. Além disso, fazse necessário confessar que nossa relação com as questões relativas ao universo da favela vêm de uma experiência anterior (fomentadora das reflexões aqui propostas), durante a qual nos foram oferecidas possibilidades e caminhos consistentes de descoberta da Psicologia, aos quais sentimos necessidade de responder e contribuir. A partir de 1997, através do Programa de Criança6, tivemos a oportunidade de acompanhar 27 famílias, durante um período de 1 ano e 9 meses, no Aglomerado Santa Lúcia, através de visitas domiciliares (semanais, em sua maioria) e reuniões sócio-educativas. O objetivo desse acompanhamento era compreender a realidade da família, de forma a promover encaminhamentos e ações pautados na realidade da comunidade. Esse contato cotidiano facilitava a compreensão realista do contexto social e subjetivo (dos valores, objetivos e significados que envolviam aquela família) e possibilitou a observação da vivência do trabalho 6 O “Programa de Criança: Brincar e Estudar”, realizado pela Associação Municipal de Assistência Social (AMAS), entre 1996 e 1998, contou com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Prefeitura de Belo Horizonte. Tratava-se de um programa piloto de combate à exploração do trabalho infantil que buscava a re-inserção da criança na escola, através de um recurso mensal que a família receberia para manter todos os filhos, de 7 a 14 anos, freqüentes na escola. A família, foco ampliado dos objetivos, recebia visitas semanais dos estagiários, que recebiam supervisão técnica, além das reuniões sócio-educativas – que contava com a participação de todos pais ou responsáveis de cada comunidade, estagiários e técnicos. Buscava-se compreender a realidade da criança, na família, no contexto da comunidade, de forma a ser possível realizar encaminhamentos que levassem, de fato, a uma promoção familiar. A população atendida pelo Programa foi escolhida, principalmente, a partir de uma pesquisa realizada nas ruas de Belo Horizonte (AMAS, 1995) com trabalhadores infantis. 11 na realidade da favela. Desse contato inicial brotaram as raízes do estudo que aqui é apresentado, na busca da compreensão da relação trabalho e vida do sujeito morador de favela. Nossa pesquisa está colocada no campo social, em uma localidade específica, o Aglomerado Santa Lúcia: uma favela. Iremos buscar compreender sua realidade recortada pela questão do trabalho. Contudo, tal recorte não se deu sumariamente, mas sim orientado pela História de Vida ali colhida, narrativa que aponta o que iremos abordar. Mergulharemos na compreensão dos elementos apresentados pela História de Vida, a saber: o preconceito e o “acesso” (a mobilidade). Organizamos o estudo colocando, num primeiro momento, nossos objetivos e uma apresentação consistente desse plano onde a História de Vida se dá, para então contá-la, através das palavras que a nós foram confiadas. É da História de Vida que partimos para a compreensão da realidade. 12 Em arte, procurar não significa nada. O que importa é encontrar. Picasso 13 2. OBJETIVOS 2. 1 Objetivo Geral: Compreender a relação entre trabalho e mobilidade psicossocial, ao longo da trajetória de vida de um morador de favela. 2.2 Objetivos Específicos: 2.2.1 Compreender o lugar e o significado que o trabalho ocupa no percurso de vida do morador de favela, observando quais valores e desdobramentos sociais e subjetivos nascem do trabalho. 2.2.2 Analisar os sentimentos acerca de um potencial processo de estigmatização social e suas repercussões. 2.2.3 Investigar como se dá a relação da favela com a cidade, buscando compreender quais as repercussões psicossociais de tal relação para o morador de favela. 14 3. METODOLOGIA O momento da escolha metodológica produz uma situação delicada. É, sem dúvida alguma, uma etapa de extrema importância para o bom desenvolvimento da pesquisa. No entanto, percebemos que, ao levarmos em conta as inelimináveis questões relativas ao rigor científico, à ética e aos objetivos a serem alcançados, é preciso um investimento cauteloso, orientado por muita atenção e crítica, pois é fato que tais cuidados podem se tornar (dependendo do tratamento que recebem) ilusórios e até perigosos – se deixarmos, por exemplo, engessar-nos pela teoria ou “o método pelo método”, levando à produção de uma pesquisa enviesada. Assim, para nós, vale a inspiração de Picasso: “primeiro eu encontro, depois eu procuro”. Pretendemos, como o método exige e nossa concepção de ciência demanda, ir ao encontro da realidade, permitindo que o conhecimento se construa a partir do que esta oferecer. Assim, levando em consideração as formulações acima levantadas, optamos pela metodologia qualitativa de pesquisa, em que podemos pontuar a existência de um método que, em determinadas situações apresenta um cunho clínico, conhecido como História de Vida7. Trata-se de uma concepção ampla de pesquisa que vem se consolidando no universo da Sociologia, Psicologia e História, através de práticas “inovadoras”8 que buscam tratar do sujeito em seu contexto social e político, onde a teoria é ligada à prática social, através de uma análise complexa, multidisciplinar e dialética – o que nos remete à vanguarda dos clássicos da Escola de Chicago e a movimentos como a Psicossociologia e a Sociologia Clínica (que têm ganhado fôlego na Europa, no Canadá e no Brasil). O método de História de Vida implica uma busca da articulação entre o psicológico e o social – através de uma visão de homem como ser em processo de construção dialética, a partir de uma história, que o produz, da qual ele busca vir a ser sujeito, como sugere Gaulejac (1986). É esta a perspectiva que pretendemos trabalhar, pois importa-nos uma boa articulação entre a teoria e a prática social, levando-nos a uma abordagem clínica e sócio-histórica. A clínica9 é uma metáfora da relação de proximidade entre o pesquisador e os atores sociais estudados, em uma relação igualitária, da implicação efetiva do pesquisador na busca da compreensão, pelo seu interior, das práticas sociais. É centrada em casos singulares (que sentido têm os deslocamentos sociais para a pessoa, na mobilidade experimentada em seu percurso de 7 Haguette (1992) sugere que o método de História de Vida, dentro da metodologia de abordagem biográfica, relaciona duas perspectivas metodológicas intimamente, pois pode ser aproveitado como documento ou como técnica de captação de dados. 8 Na verdade, entendemos que não é bem uma questão de “inovação”, mas talvez a retomada de um caminho que havia sido (e ainda é) esquecido. 9 “Clínica” do grego klines: ao pé da cama. 15 vida) sem perder de vista a história e os movimentos coletivo-ideológicos. Ou seja, dentro da evolução das trajetórias de vida dos sujeitos em questão é que vamos procurar uma aproximação da realidade por eles vivida; do interior dessas práticas, a partir da relação que vai se estabelecer, buscar conhecer sua própria lógica, traçando uma ponte de suas histórias para com a história coletiva, sem cair em generalizações. Buscamos a singularidade já que é nela, de fato, que encontramos o mundo sensível, efetivamente. 3.1 O MÉTODO DE HISTÓRIA DE VIDA Em seus primórdios, a História de Vida foi possibilitada pelas concepções teóricas propostas pelo interacionismo simbólico de George Herbert Mead e, em termo práticos, pelos estudos e pesquisas de Thomas e Znaniecki, dentro do movimento conhecido como Escola de Chicago. Mais tarde, o método ganha força e destaque nos trabalhos europeus de cunho qualitativo, como veremos. Coulon (1995) afirma que a expressão “Escola de Chicago” resume em si um movimento que teve, e tem, muito significado para a Sociologia e para a Psicologia Social, compreendendo um conjunto de trabalhos de pesquisa sociológica, desenvolvidos entre 1915 e 1940, por professores e estudantes da Universidade de Chicago, onde se desenvolveu e ganhou força a metodologia conhecida como Abordagem Biográfica, da qual faz parte a análise de documentos pessoais e o método de História de Vida. Tal escola se destacou por características muito específicas, experiências metodológicas pautadas numa abordagem empirista que percebia a sociedade como um todo, em seu conjunto, sendo a única via para compreender determinada ação se esta for significada pelo seu próprio agente. Essa Escola acaba por assumir papel decisivo no desenvolvimento da chamada Metodologia Qualitativa, legando um trabalho de campo e um estudo sociológico muito mais próximo da realidade – através de suas produções orientadas pelo interacionismo simbólico e pela observação participante – contribuindo, precisamente, na dimensão metodológica da sociologia científica. Entre os trabalhos desenvolvidos nesta escola, destaca-se a obra “The polish peasant in Europe and América: Monograph of an immigrant group” (de 1820)10 de Znannieck e Thomas, cujo 10 Tal estudo se desenvolveu pautado em intenso trabalho de campo, através do recolhimento de relatos biográficos, além da análise de documentos e análise documental de cartas, que segundo eles permitem a compreensão e a interpretação desses emigrantes a partir da significação subjetiva que eles mesmos denotam às suas ações. Foram explorados documentos coletados na Polônia e, ainda, outros existentes 16 tema central é o processo de desorganização – organização e reorganização – que sofre um grupo ao se inserir numa nova sociedade. Como exemplo, o caso dos poloneses ao se integrarem à cultura americana. Outro estudo de grande importância foi o de Clifford Shaw, que se desenvolveu também através de Abordagem Biográfica e é referência importante para a metodologia qualitativa de forma geral e, em especial, ao método de História de Vida. No clássico livro “The Jack Roller: A delinquent boy’s own story”, o autor, ao apresentar a história de Stanley, que narra sua vida a partir do viés de suas experiências de transgressão, lembra com grande propriedade que o valor de uma narração está além de sua veracidade. Ele ressalta que o objetivo primordial é que a história ali contada reflita as atitudes pessoais do indivíduo em questão, suas interpretações próprias, por serem estes fatores os elementos essenciais para o estudo e o tratamento do caso: produzindo uma aproximação do fenômeno em si, de forma que se torna possível “fazer perguntas sobre a delinqüência do ponto de vista do delinqüente” (Shaw apub Coulon, 1995: XV). Ainda nessa tendência, a Editora da Universidade de Chicago publicou diversos outros trabalhos e, em 1937, o estudo de Edwin Sutherland: “The professional Thief”11, enfocando a criminalidade a partir dos ladrões “profissionais”, trabalhando mais uma vez com o método de História de Vida que, como lembra o autor, possibilita compreender “do interior” o mundo do sujeito em questão. É esse o movimento que buscamos desenvolver em nossa pesquisa, partindo do interior de uma História de Vida para desvendar o universo que a envolve, para compreender a dinâmica social que a engendra. Em 1963, Oscar Lewis escreve “The Children of Sanchez”, que se desenvolve a partir do recolhimento da História de Vida do pai Jesus Sanchez, e de seus filhos, no contexto da miséria mexicana dos anos 60 – um dos pilares do livro que a jornalista Denise Paraná escreve, amparada na abordagem biográfica, intitulado “O Filho do Brasil: de Luiz Inácio a Lula”, em 1996. A contribuição de Lewis foi de grande relevância, mas é importante ainda ressaltar que os trabalhos desenvolvidos por Franco Ferraroti, na Itália (1970), e por Daniel Bertaux (1976), na França, ofereceram novo impulso ao método de História de Vida. Atualmente, os seminários de nos Estados Unidos que tratavam sobre os poloneses que lá estavam, além da coleta do longo relato de um polonês chamado Wladek Wiszniewski. 11 Sutherland, que considerava a criminalidade como resultado de um processo social, vai trabalhando as descrições que o ladrão faz de sua prática, de sua vida cotidiana, de como vê o mundo onde está inserido, em sua interação com o próprio sujeito, quem dá o sentido às ações e escolhas, dentro de seu contexto particular. 17 “Romance Familiar e Trajetória Social”, que se desenvolvem na Universidade de Paris VII, são exemplos concretos e atuais da utilização deste método.12 É Oscar Lewis quem ressalta que este método oferece uma visão cumulativa, múltipla e panorâmica da situação analisada, oferecendo uma possibilidade de acesso do indivíduo (e à realidade que lhe transforma e é por ele transformada) “pelo interior”, na busca da apreensão do vivido social, das práticas do sujeito, por sua própria maneira de negociar a realidade em que está inserido. Segundo Barros & Silva: “Trata-se de apreender o vivido social, o sujeito e suas práticas na maneira pela qual ele negocia as condições sociais que lhes são particulares. Pede-se ao sujeito que conte sua história da maneira que lhe é própria, de seu ponto de vista e, através dessa história, tentamos compreender o universo do qual os sujeitos fazem parte. Isso nos mostra uma faceta muitas vezes ignorada pelos pesquisadores: a do mundo subjetivo em relação permanente e simultânea com os fatos sociais.” (Barros & Silva, 2002: 136) O percurso individual está essencialmente ligado à história em geral (ou, mais especificamente, à história de uma comunidade ou de um país) e é preciso estar atento aos determinantes sóciohistóricos, às influências ideológicas – em quê fomos produtos da história e como; até que ponto somos sujeito dessa história – e aos fatores psicológicos que sustentam o processo de mobilidade. Gaulejac (1997) nos lembra que, apesar de sua singularidade irredutível, o indivíduo não é de nenhuma forma indiferente ao social, não está dissociado do campo social onde se encontra inserido. É dentro dessa concepção psicossociológica que pretendemos direcionar nosso estudo. Na História de Vida, há a proposta de uma escuta comprometida, engajada, participativa, dentro de uma relação de cumplicidade, possibilitando àquele que narra sua história experimentar uma re-significação de seu percurso (o que gera um reflexão dual, das duas partes igualmente envolvidas13), a construção de sentido. A coleta da História de Vida é muito importante pela sua dimensão democrática (de relação igualitária) e pela dimensão terapêutica (que oferece a possibilidade do sujeito se apropriar sua história, de re-significá-la). Aqui, apresenta-se uma premissa que para nós é fundamental: ao 12 Procura-se, através dos relatos biográficos, elaborar a articulação entre o social e o psicológico na evolução da trajetória social individual e inserção no romance familiar, a partir da construção identitária do indivíduo, da afirmação da identidade. 13 Além de buscar a promoção do conhecimento de uma dada realidade social, a História de Vida propõe, a partir da busca de sentido, reflexões sobre possíveis mudanças – ou o que a Psicanálise conhece como ‘retificação subjetiva’. É a saída do que Enriquez chamou de imaginário ilusório (que não movimenta, não reflete, é hermético e estático) para o imaginário motor, que, por sua vez, movimenta a realidade, alimenta projetos, re-significa. 18 construir o texto, a narrativa de sua vida, o sujeito pode experimentar a reconstrução do sentido, de suas experiências e escolhas, da realidade vivida. Marilena Chauí, na apresentação do belíssimo livro de Ecléa Bosi (1973), afirma: “lembrar não é reviver, é re-fazer”. Barros, Bosi e Paraná realçam em muito a importância deste vínculo de confiança – e até amizade – que o pesquisador estabelece com quem narra sua história. É a partir desse vínculo que a construção de conhecimento toma forma para o pesquisador e ainda se dá, para o sujeito, a elaboração de sentido de seu percurso biográfico. Um método como esse possibilita uma abordagem histórica muito mais democrática, além de oferecer flexibilidade ímpar, considerando a promoção da capacidade de dominar a evidência humana exatamente onde ela é necessária, como sugere Paraná. Trata-se de uma tentativa de oferecer escuta (dar ouvidos) e, ainda mais, “de dar voz àqueles cujo discurso foi calado ou teve pouca influência no discurso dominante” (Paraná, 1996: 317)14. Seguindo as orientações acima descritas, desenvolvemos nossa pesquisa em três etapas, sendo a última a análise dos dados colhidos: Primeiro momento: atendendo à preocupação de não cairmos num viés “psicologisante” e para que encontremos uma proximidade real com o universo a que nos propomos conhecer, realizamos inicialmente uma série de entrevistas em profundidade para que pudéssemos conhecer (e nos re-inserir15), de forma mais ampla, na realidade da comunidade. A pesquisa contou com a participação de oito moradores, de forma que foram realizados dezesseis encontros formais16, individuais (no total geral). Foi a partir desses contatos iniciais que se deu a escolha do sujeito que participou do segundo momento – o recolhimento, a colheita da História de Vida propriamente dita. Ao encontrarmos/escolhermos tais sujeitos, estávamos atentos às questões referentes ao rigor metodológico necessário a uma pesquisa científica. Estávamos preocupados em atender uma 14 Ver também Blazquez, 1976. Como já dito no item Apresentação, tivemos a oportunidade de estar em contato com a comunidade entre 1997 e 1998, a partir do “Programa de Criança” e, desde então, não tínhamos estabelecido outros contatos com essa comunidade. 16 Chamamos “formais” aqueles encontros previamente marcados e que responderam ao objetivo específico de documentar, através de gravação, a conversa travada sobre ‘a vida na comunidade’ – tema proposto a esses sujeitos. Os encontros formais aconteceram (com duas exceções) nas casas dos participantes. Além desses chamados formais tivemos ainda vários encontros, em situações diversas, (como eventos festivos e culturais da comunidade ou acontecimentos importantes de caráter individual), que não tinham como objetivo a realização de entrevista, mas que foram muito importantes para nossa inserção e, mais, para uma efetiva subsunção àquela realidade. 15 19 certa “representatividade” da comunidade em questão, sabendo-a um universo heterogêneo e rico, sem contudo perder de vista nosso objetivo, que não visa a elaboração generalista daquela realidade, mas sim a sua compreensão consistente, “do interior”, partindo de um determinado fragmento, sabendo-o conter as marcas e inscrições do todo – uma História de Vida. Os encontros se deram, em sua grande maioria, nas próprias casas dos moradores, sendo que apenas dois encontros transcorreram em outro local (os dois no espaço do Centro Social, ambos realizados com referências comunitárias). Desta forma, buscamos realizar entrevistas com sujeitos variados, estabelecendo as seguintes categorias: A. Moradores integrados ao mercado formal de trabalho; B. Moradores não formalmente vinculados ao mercado de trabalho; C. Moradores que são referências comunitárias importantes; D. Jovens moradores que apresentam percurso definido de mobilidade psicossocial – frente às determinações sociais postas simbólica e socioeconomicamente. Ou seja, jovens que conseguiram optar por um percurso profissional diverso do tradicionalmente enlevado pela família e, ainda, resistiram à sedução promovida pela via do tráfico de drogas. Desta forma, entrevistamos: Categoria A Dona Emererciana (62 anos), trabalhadora doméstica, integrada à economia formal, ainda que num trabalho desqualificado17. Com ela, tivemos a oportunidade de realizar três encontros formais para entrevistas. Pedro (Pedro 41 anos) motorista, integrado à economia formal, trabalhando em uma grande empresa do setor público. Realizamos apenas um encontro formal para entrevista. Categoria B Dona Maria (58 anos), costureira, autônoma. Realizamos três encontros formais para entrevistas. Ana (59 anos), desempregada. Realizamos dois encontros formais para entrevistas. 17 O trabalho doméstico é, ao mesmo tempo, um trabalho sem qualificação (não obedecendo a uma escala formal de qualificação profissional) e é, ainda, um trabalho desqualificado. O compreendemos como trabalho desqualificado porque, em geral, apresenta conteúdos subjetivos que desvalorizam quem o executa (além de jornada de trabalho abusiva e, muitas vezes, condições precárias e perigosas de execução das tarefas, a posição que é destinada a esse sujeito confere à atividade um caráter negativo, remetendo à idéia de escravidão, ou, pelo menos, de inferioridade que deixam marcas indeléveis em sua auto-estima), podendo imprimir um status negativo e nocivo de desqualificação, como veremos. 20 Categoria C Mauro, líder comunitário, vinculado ao movimento religioso. Realizamos dois encontros formais para entrevistas, sendo apenas um desses gravado. Márcia (28 anos), jornalista18 e líder comunitária. Realizamos três encontros “formais” para entrevistas. Categoria D Suzana (28 anos), atriz. Realizamos apenas um encontro formal para entrevista. Nil César (27 anos), ator e educador. Realizamos apenas um encontro formal para entrevista em profundidade e mais seis encontros formais para o recolhimento de sua História de Vida, além de tantos, em situações diversas. Nessa primeira etapa, assim como na seguinte, o tempo foi um elemento essencial. O processo de recolhimento da História de Vida foi sendo desenrolado gradualmente, como dissemos, a partir do desejo do sujeito de participar e da relação que foi sendo estabelecida: o vínculo, a confiança, a construção de sentidos. Trata-se da interlocução, como lembra Lévy (2001). Notase, assim, que nós não escolhemos sumariamente determinado fragmento desse universo que estaríamos utilizando, no intuito de desvenda-lo, mas deixamos que essa realidade nos encaminhasse por seu próprio sentido. Buscamos permitir, de fato, que a realidade se nos mostrasse, do interior. Não é àtoa que, no caso, o discurso toma a voz de um ator que define sua vida num movimento de transformação dessa mesma realidade, que busca a posição de autor, de “sujeito criador de história” (Enriquez: 1989). De fato, ele já se posiciona na busca de significado e, ao relatar sua História de Vida, faz emergir o sentido, possibilitando que seja construído um esboço de compreensão dos determinantes sociais que ali atuam, e de sua resignificação. O processo de colheita da História de Vida desenvolveu-se “espontaneamente”, a partir de um primeiro encontro com Nil, nos moldes de uma entrevista não estruturada, como já o dissemos (e como foi proposto a todos os outros entrevistados). Pediu-se a ele, em nosso segundo encontro, que contasse sua história como achasse melhor (numa formatação metodológica de entrevista não estruturada), começando por onde quisesse. Buscamos deixar que a fala transcorresse livremente, sem roteiro definido ou perguntas, deixando que a história nos fosse contada, fluindo nos seis19 encontros que se seguiram – estabelecidos para a construção do 18 Márcia também poderia ter sido encaixada na categoria D, visto que é uma das primeiras moradoras da comunidade a alcançar nível universitário. Aproveitamos o caso para esclarecer que tal distinção entre categorias é apenas didática, objetivando a exposição dos elementos pensados em nosso percurso científico. 19 Assim, tivemos um encontro inicial com Nil e, ainda, seis encontros já no recolhimento da História de Vida, totalizando sete encontros. 21 relato que aqui, mais à frente, será transcrito. Nessa transcrição, não colocamos nossas idéias ou palavras, respeitando a ordem e o fluxo de sua narrativa, de sua vida. Tivemos o trabalho de ocultar passagens muito íntimas e, ainda, de eliminar as repetições que a lembrança provoca, contudo, mantendo a ordem por ele estabelecida, seguindo o próprio movimento de sua vida no sentido experimentado por ele. “O que a memória ama fica eterno”, nas palavras de Adélia Prado. Ou, ainda, “fica o que significa”, como sugere Ecléa Bosi. 3.2 A ANÁLISE DOS DADOS O método de História de Vida traz contribuições em termos de historicidade (para que o sujeito tenha a oportunidade de se apropriar de sua própria história) e atua como ponte entre a história individual e a coletiva. Esses dois aspectos se interpenetram e são fundamentais nos planos de nossa pesquisa. Chasin sugere que o rigor é dado pelo objeto e Trow (1969 apud Haguette, 1992), seguindo semelhante caminho, lembra que o problema a ser investigado é que dita o método de investigação. No caso do método de História de Vida, é inclusive ao longo do processo que tal caminho se faz presente, pois faz parte dos pressupostos desse método, como vimos, a implicação igual do pesquisador e daquele que narra sua história. Desta forma, mesmo o momento de análise transcorre de forma próxima aos envolvidos no trabalho, criando a possibilidade de, em alguns momentos, de acordo com a necessidade, se retornar ao sujeito e verificar seu próprio entendimento do que foi dito. É muito importante observar as condições de produção do texto (a narração da História de Vida): quem fala, onde fala, a quem fala, para que fala etc., já que existe aí um endereçamento que não pode ser ocultado. Um relato é sempre dirigido a alguém e, assim, provoca também um efeito em quem o ouviu, trazendo novamente o campo da dualidade, como bem estabelece este modelo baseado na relação entre aquele que colhe os relatos e quem os conta. Este endereçamento é fator de grande relevância no momento da análise daquilo que foi construído e, assim sendo, pudemos percebê-lo em diversos momentos em que Nil parece buscar uma espécie de auto-afirmação, especialmente frente ao conhecimento científico que possuímos, o que nos conta também a respeito da visão de mundo que envolve o relato. A maneira como o indivíduo conta a sua história oferece o acesso a outras dimensões: ao sentido que o indivíduo dá à sua vida; como, de que forma, a partir de quais escolhas (e por quê) ele dá para si uma identidade social, para tentar se situar dentro das identidades que são 22 múltiplas. Ou seja, não temos acesso ao indivíduo, mas sim ao esforço que ele faz de apresentar a si mesmo, ao “romance”. O “romance” traz verdades, verdades inesgotáveis, verdades subjetivas, que muito nos interessam: o sentido que o indivíduo constrói para sua história, a maneira como se relaciona com ela, como se situa, como a incorpora de fato. O que importa é o sentido que o sujeito dá a essa realidade20, então é preciso que a análise dê conta do indivíduo como social (o que ele não tem condições de perceber por si), como agente representante, trazendo em si as marcas daquele social (que ele representa, quem também o construiu e foi, por ele, construído). Vale, ainda, perceber a relação que o sujeito estabelece com sua história, pois é exatamente isso que vai indicar o sentido dos processos por ele experimentados: “No que tange à análise das histórias de vida, o pesquisador deve orientar-se no sentido de como utilizar as histórias para fazer avançar a compreensão de uma dada realidade. Nessa perspectiva, as narrações nos interessam não apenas como histórias pessoais mas, sobretudo, como pretexto para descrever um objeto, uma situação, um universo social desconhecido. Embora a situação de pesquisa gire em torno das histórias dos sujeitos, a análise é que vai diferenciar; vai ser guiada por questões centradas sobre a pessoa, sobre o trabalho, sobre escolhas teóricas, sobre engajamentos etc., mediada por conceitos e teorias.” (Barros & Silva, 2002: 142) A ponte que pode ser estabelecida entre a história individual e a coletiva nos oferece a solução ideal para nossas questões, sem contudo acreditar que vamos construir a totalidade da história coletiva daquela comunidade. Ferraroti lembra que, ao se apropriar do social, o indivíduo nele inscreve sua marca e faz em sua subjetividade uma re-tradução deste social, reinventando-o a cada instante. Não optaremos entre uma posição subjetivista ou objetivista e nem é preciso: nos esforçamos por não cair num viés psicologista ou sociologista, considerando o indivíduo como criador de história, buscando vir a ser sujeito de uma história que o determina. Buscamos observar a relação entre o subjetivo e o social. No momento de análise é que se dá o recorte que visa analisar aspectos que dialogam com a questão do trabalho e a relação estabelecida, a partir das atividades laborais, ao longo da vida. Pudemos perceber, no desenvolvimento da História de Vida de Nil, o relevo de três elementos importantes, relacionados ao trabalho, que vão nos contar sobre essa realidade que buscamos conhecer, a saber: preconceito; família; acesso e transformação21. Esses elementos vão se 20 O sentido é construído a partir dessa realidade, que implica a inter-relação de fatores tais como: situação de classe; atividade e relações de trabalho; inscrições culturais e ideológicas; simbólico-familiar. 21 Tais elementos se inter-relacionam, como já apontamos, em especial, através do trabalho, mas somamse a eles ainda: busca de reconhecimento, estratégias de resistência e a questão da exclusão social (entre outros). 23 delineando na forma de um mapeamento psicossocial dos aspectos e valores resgatados pelos entrevistados ao longo de suas vidas, em relação ao trabalho, apontando como fio condutor para a compreensão dessa realidade a dialética inclusão/exclusão perversa, como veremos. Buscamos perceber se existem lacunas deixadas pelo trabalho e em que medida abarca sua dimensão positiva ou aponta para seus aspectos negativos, tanto em termos de estruturação de sua vida e de sua condição humana, quanto em termos de negação, na dimensão negativa que o trabalho pode exprimir, expropriando o homem de si mesmo. Utilizamos o método para apreender as repercussões psicossociais desse quadro. 3.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS Muitos cuidados tiveram de ser tomados e muitas foram as dificuldades encontradas. Julgamos pertinente apontá-los aqui: Além do exercício de experimentar a escuta sensível e de oferecer espaço para uma relação igualitária, fez-se primordial estarmos vigilantes em relação aos preconceitos arraigados em nós mesmos, ao que tange o universo das favelas, preconceito esse que mostra ser altamente nocivo (em termos psíquicos) aos moradores de favela e, ao que tudo indica, que responde a interesses socioeconômicos específicos, como aponta Lícia Valladares, como veremos. Essa nos parece ter sido a maior dificuldade, posto que tivemos que nos colocar atentos ao tratamento romântico que pode ser dado, compreendendo tal realidade resumidamente sob uma ótica de vitimização, no esforço de não reproduzir os dogmas reinantes de pensar a favela como referência de precariedade e violência. Essa pesquisa nasceu de um contato anteriormente estabelecido, que havia deixado questões a esclarecer e marcas importantes em nossa experiência. Muito pudemos aprender naquela experiência e, assim, estávamos mobilizados por uma intenção de poder oferecer um retorno consistente à comunidade, pensado na forma de uma elaboração teórica (no intuito de sanar algumas das questões deixadas em aberto pela oportunidade da experiência). Administrar e compreender semelhante expectativa foi também um fator dificultador para que se desse um bom desenvolvimento do estudo. Compreendemos que nossa pesquisa não vai mudar a realidade, mas estamos certos de que pode oferecer subsídios para que esta realidade possa ser transformada legitimamente. Um outro fator que precisa ser levado em consideração é a questão do tempo, já que em virtude dos moldes do Programa de Mestrado atual (...) é preciso oferecer “rapidamente” o produto de nossa pesquisa à comunidade científica. Entendemos que é preciso, de fato, um 24 tempo maior para que se dê a necessária maturação intelectual do tema e, ainda, a possibilidade do recolhimento da História de Vida – que, como apontamos, exige um tempo generoso. Assim, no âmbito das ciências humanas, gostaríamos de salientar a importância desse aspecto prático, em detrimento da pressão que vem sendo exercida sobre o curso de mestrado para que as pesquisas sejam desenvolvidas num período cada vez mais curto. Trabalhando com metodologias qualitativas é sempre importante não esquecermos do rigor científico para que não nos limitemos a conclusões puramente abstratas ou baseadas no senso comum. É ainda fundamental a atenção ao problema oposto que é o de se limitar a trabalhos teóricos, transformando a pesquisa numa construção lógica, mas vazia, posto que distante da realidade, ou a partir de uma realidade “inexistente”. Buscamos guiar a pesquisa de forma a não permitir que enveredemos por um viés “psicologisante”, caindo no subjetivismo. Em outro extremo, esperamos ter conseguido evitar a armadilha de falsear nossa compreensão da realidade, acreditando que uma história individual resumiria a história coletiva e que dela poderíamos fazer generalizações. Não pretendemos criar literatura, limitando-nos ao romance e nem tampouco abstrair dele um tratado sobre o humano. Sabemos que a história coletiva não se encontra em uma só história. Seguindo os preceitos colocados, observamos que a opção pela História de Vida como metodologia de pesquisa respondeu a nossos objetivos metodológicos, entendendo que uma ampla compreensão do tema em questão só poderia se efetivar a partir da leitura feita pelos próprios sujeitos, encontrando e compreendendo o significado e a importância de tais fenômenos em suas próprias vidas, a partir de sua própria história – exatamente onde o processo se desenvolve. A partir da construção de uma relação de confiança, não baseada nos moldes tradicionais de hierarquia entre pesquisador (suposto saber) e sujeito de pesquisa (objeto), buscamos fazer o estudo legitimamente, partindo do individual, de onde é feita a construção da dinâmica social, gerando conhecimento realmente pautado na realidade – realidade individual que nos envia ao campo social. Ao se trabalhar o vivido subjetivo dos sujeitos, através do método de História de Vida, temos acesso à cultura, ao meio social, aos valores que ele elegeu e, ainda, à ideologia. Nas palavras de André Lévy (2001), tomando como ponto de partida “um encontro único entre um pesquisador e uma pessoa que aceita a ele se confiar”. 25 Existe é homem humano. Travessia. Guimarães Rosa 26 4. HISTÓRIA DE NIL CÉSAR Ao longo do desenvolvimento da pesquisa tive vários encontros com Nil que foram se concretizando numa relação de amizade e troca. Seis desses encontros foram gravados – em sua casa – e buscaram, efetivamente, a “colheita” da história de vida de Nil. Contudo, nossa primeira conversa se deu informalmente, às margens da lagoa da Barragem Santa Lúcia, alongando-se por mais de duas horas e não respondia, ainda, ao objetivo de recolhimento de sua história de vida. Havíamos combinado tal encontro por telefone, quando Nil já se mostrou muito disponível e engajado quanto às questões que interessassem a comunidade. Nil me surpreendeu em diversos aspectos, desenvolvendo com coragem e profundidade suas idéias a respeito da vida no morro. Não posso me furtar em confessar que um desses pontos de surpresa refere-se diretamente à sua aparência, afinal eu esperava um negro de cabelo trançado – forte, bonito e corajoso como seu discurso. Nil – sim, um jovem forte, bonito e corajoso como seu discurso – é quase franzino e branco de olhos claros. É notável como os vários preconceitos sofridos por ele, e que foram me sendo revelados em sua experiência de vida e na das pessoas a quem tive oportunidade de ouvir, estavam ainda muito impregnados em mim mesma. No momento desse primeiro encontro, como disse, eu não tinha a expectativa de desenvolver sua história de vida, pensava em travar ali mais uma das várias entrevistas em profundidade realizadas. Eu esperava colher a história de vida de outro qualquer morador, que se mostrasse mais “representativo” da vida comum da comunidade. Eu ainda não tinha entendido que – para, de fato, fazer dessa metodologia o meu instrumento de pesquisa, como vimos – eu não poderia escolher um morador, mas alguém me escolheria, e foi assim, Nil me confiou sua vida. Na verdade, à princípio, havia em mim um grande temor de que sua história, um tanto quanto especial, pudesse servir a um uso completamente inverso aos meus propósitos, podendo ser usada para reforçar a idéia tão familiar ao discurso neoliberal de “o sucesso não acontece por acaso”, é fruto de persistência e está ao alcance de qualquer um que persevere. Meu medo era que Nil pudesse ser visto como “a exceção que confirma a regra”, podendo ser usado para sublinhar esses vários preconceitos – um medo que descobri infundado à medida que fui conhecendo sua trajetória e percebendo como ela mesma desconstrói tais preconceitos e nos obrigada a encarar os fatos e descobrir o universo onde se dá sua história, em sua realidade22. 22 Para compreender tal mecanismo, buscamos ao longo do texto, guiados pela história mesma de Nil, compreender sua articulação com o coletivo, o que nos fez pensar na dialética exclusão-inclusão perversa a que iremos desenvolver. E, ainda, uma compreensão melhor da metodologia em si (qualitativa, etc) nos 27 Nil tem quatro irmãs é o filho mais novo de Rosa e Cezário, referências muito importantes que estão presentes em suas reflexões o tempo todo. A fala de Nil é sempre muito reflexiva e simbólica, ele parece buscar a compreensão profunda dos fatos que transcorrem em seu cotidiano, de suas escolhas, do sentido de sua vida. Sua história não nos é contada de forma linear, mas ao contrário, ela vai se apresentando em vários atos, intimamente conectados, profundamente vivenciados por esse ator/diretor/autor da própria vida. Nil é educador, ator e produtor de teatro, tendo fundado um grupo de teatro chamado Grupo do Beco, mas vamos permitir que ele mesmo conte sua história: 4.1 SEMPRE DO TRABALHO Nossa, falar de mim. Tão difícil, né? É sempre mais fácil falar do trabalho que você executa... Vamos lá: uma coisa que a gente, que eu percebo muito é que move as pessoas nas entrevistas, a gente detectou isso, nas entrevistas que a gente fez com as mulheres, a gente fez vinte entrevistas para o trabalho da montagem do espetáculo ‘Bendita: a Voz Entre as Mulheres’. Aí, a gente percebeu que a maioria das entrevistas, ela move a partir do trabalho. A gente detectou isso, que move a partir sempre do trabalho. O trabalho é algo que move a vida dessa pessoa. E nesse momento, quando você fala assim: ‘fale de você a partir de onde você quiser’, eu percebo que eu, na realidade, eu sou igualzinho a todas as entrevistadas, que o trabalho é o que me move. E, de certa forma, eu carrego o trabalho pra mim de uma forma bem, bem diferenciada. Hoje em dia, eu encaro o trabalho como uma forma de conquista, de conquista própria, conquista individual, conquista coletiva. A partir dos dezessete anos, eu oficializei essa coisa do meu trabalho ser um trabalho em prol de alguém. Não de alguém só eu, mas de alguém, se possível, de alguém coletivo. Mas anterior a isso eu participava de movimentos como grupo de jovens, desde os onze anos de idade. Mas o trabalho em si, pra mim, é algo que eu não sei de que forma eu encarei, na minha vida, que eu não encarei de forma traumatizante porque eu trabalho desde oito anos de idade. Então eu, com oito anos de idade, eu trabalhava junto com uma irmã minha, pra limpeza de um prédio. E eu, assim, sempre fui muito raquítico, né, pequenininho. E eu carregava, baldes, dois baldes de água cheios, e subia três andares. Não tinha elevador, três andares, lá no alto, jogava água nas escadas - pra esfregar a escada. Várias vezes eu caí, várias vezes eu machuquei, porque jogava sabão. E recebia uma mixaria. Era mesmo um trabalho escravo. Depois disso, dessa questão, desse trabalho, eu também, quando eu saía do trabalho, eu ia pra feirinha no Santo Antônio, pra carregar, pra carregar bolsas de mulheres que faziam compra e ganhava também uma pequena mixaria que ia todo pra mão da minha mãe, pra manutenção da casa. E aí o trabalho, ele começou a me acompanhar, muito, foi me acompanhando a minha vida durante essa trajetória toda. Quando eu não trabalhava, quando eu não tinha um trabalho pra ajudar dentro de casa, eu penava muito dentro da própria casa com meus pais. Então, na realidade, assim, eu tive uma vida muito, muito complicada: a gente passou fomesss, crises. Meu pai, quando ele passava crises de desemprego, a gente, tinha época, que a gente tinha só macarrão. Nem sal tinha, nem óleo, nem gordura, nem nada. E aí a minha mãe jogava faz compreender a importância da apresentação dessa história, que se nos quis revelar, desvendando parte dessa realidade que nos propomos a conhecer. 28 água, jogava o macarrão puro e a gente tinha que comer. Tinha vez que não tinha, tinha vez que tinha fubá. Então fazia o tal do fubá suado que é você pegar o fubá, jogar na panela, mexer e ir pingando água, pra dar tipo uns bolinhos pequenininhos, que é conhecido como fubá suado. E a gente, na época, comia como se fosse ceia, né? Quando tinha muxiba, né, que meu pai ganhava, meu pai comprava fiado. Por quê que eu passei tanta fome - meu pai a vida inteira/uma coisa que eu trabalho tanto, eu aprendi com meu pai, minha referência de trabalho, de estar sempre em atividade, ela vem do meu pai, que ele sempre, a vida inteira, trabalhou. Quando ele não trabalhava, ele caçava jeito de pescar, de caçar, de fazer qualquer coisa - mas o grande problema da minha família, da criação, dos nossos, da nossa família é a bebida. Então, meu pai bebia muito. Até hoje ele bebe. E com essa bebida, ele tinha que pagar todas as dívidas dele. E aí priorizava todas as dívidas dele, e a comida não. A gente não comia, ele bebia, a gente não comia. Ele bebia, a gente não vestia. Então, por exemplo, na escola, eu vivia de resto de material escolar de filho de patrão, por exemplo. Eu vivia de doações. Hoje em dia eu tenho algumas posturas sobre essa questão do assistencialismo, mas eu, durante um bom tempo, eu vivi de pessoas que eram paternalistas para comigo. Mas eu não estagnei no sentido de que de me manter sempre nessa postura, de as pessoas tem que fazer por mim. Eu não aceitava, sabe. Meu sonho era um dia eu poder trabalhar e eu mesmo poder comprar meu material, não ter que viver de doação, meu sonho era, um dia, eu mesmo comprar a minha comida. Não ter que ficar pedindo pão velho, igual eu pedia. Entendeu? Então, assim, o trabalho foi me acompanhando a minha vida inteira. Mesmo. A minha vida inteira, desde os meus oito anos de idade. Desde os seis anos de idade, eu já sabia fazer comida. Por vontade própria? Não. Sabe? A minha mãe bebia a ponto de gente, dela tá deitada, quase desmaiada na cama, quase morta na cama de tanta bebida e a gente sem comer, a gente sem vestir, a gente com a roupa suja, e a gente teve que se virar. Só que, ao mesmo tempo, eu diria que nesse desleixo materno e paterno tinha uma superproteção. A gente não podia sair na rua. E, antigamente, na minha infância, a rua não era tão perigosa quanto é hoje aqui na comunidade. Mas tinha os riscos, o tráfico já existia, existiam os riscos, mas não eram tão, tão declarados quanto hoje. Então eu acredito muito que, assim, hoje em dia, e até mesmo na minha época, não se envolver com o crime, não se envolver com o tráfico, é muito mais difícil do que se envolver e depois sair dele. Porque é muito, tá muito declarado, vira opção de vida. Por exemplo, a gente, o Grupo do Beco – é inevitável falar de mim e não falar do Grupo do Beco -a gente vai fazer um projeto agora que a gente vai trabalhar com crianças, de dez a quinze anos e com jovens de quinze a dezoito, e a gente conversando com os professores a gente detecta coisas que na nossa infância já acontecia: são crianças, e na minha época também tinha isso, que a referência de vida é a pessoa que anda armado, é a pessoa que trafica. Ela tem muita grana, ela tem muito dinheiro, mesmo que ela morra cedo, mas ela dá um conforto mínimo pra mãe, pra família, pra irmã. Mesmo que ela invista na vida pra viver pouco, mas investe pra dar conforto pra alguém. Isso vira referência: o fato de você ter uma arma é muito tentador. Todo mundo, todo mundo aqui no Morro, quer ter uma arma, entende. Então, assim, eu, por exemplo, na minha época de infância, quando eu falo, parece ser demagogia, as pessoas geralmente não acreditam em mim, mas sinceramente, acredite quem quiser. Não tenho que mentir pra, pra ninguém, eu só tenho que falar a verdade pra mim, entende. Eu, por exemplo, eu nem sei qual que é gosto da maconha, eu não sei o que que é cocaína. Eu sei de ver, mas de usar, nunca usei. Cigarro eu já fumei. Beber pinga já bebi. Mas, eu acredito muito que foi a forma que meus pais me criaram, e a forma que eu pensava da vida também, sabe? Durante a minha vida inteira eu nunca quis ser um Cezário - Cezário é o meu pai - nunca, sabe? Desde a infância eu sempre quis ser diferente do meu pai. Sempre. Sempre. 29 Eu sempre, assim, hoje em dia eu sou espontâneo, brincalhão, brinco com todo mundo, rio, sou super popular aqui na comunidade. Mas eu era muito quieto, eu era muito na minha, muito, extremamente, fechado até. É, eu sou filho homem único. Minha infância inteira eu vivi rodeado de mulheres, eu tenho três irmãs mais velhas que eu, e a minha mãe. Meu pai geralmente trabalhava o dia inteiro, então a minha referência de vida era o universo feminino. Um universo que às vezes eu negava. Sabe? E eu nunca gostei sabe, de brincar de casinha. Nunca. Era algo que me incomodava muito, e eu comecei a brincar sozinho, comecei a brincar sozinho, comecei a fechar no meu/muito. Então eu comecei a brincar sozinho de carrinho, brincava sozinho de hominho, brincava sozinho de tudo. E aí eu comecei, a conversar com as formigas. E aí, de repente surgiu um amigo que começou a brincar comigo... Minha mãe, meu pai, eles mantinham a seguinte, a seguinte estrutura familiar. Você tem irmão, então não precisa de amigo. Então, ‘ninguém entra aqui em casa a não ser vocês mesmos.’ Então, eu não podia ter amigo. Minha irmã não podia ter amigo. Então foi essa estrutura rígida que a gente vivia; então, a gente tinha que trabalhar, né, teve uma época, uma série da minha vida que ou eu arranjava emprego ou eu arranjava emprego, né? Acho que na sétima série. E aí, eu não tava arranjando emprego de jeito nenhum. Meu pai pegou, juntou os meus cadernos, juntou os meus livros, juntou meu uniforme, queimou tudo. Queimou. Porque ele, o argumento dele era o seguinte: chegou um momento que o pai dele abandonou a família. Ele não é o mais velho, mas ele se incumbiu de cuidar, de terminar de cuidar da família - da família dele. Então aí ele cuidou da família dele. E, depois, ele criou a família dele também - isso, analfabeto. Então ele argumentava o seguinte: ‘eu sou analfabeto e criei a família do meu pai e criei a minha família. Por que que você vai estudar? Você tá querendo o que melhor do que eu? Você pode também criar a minha família, terminar de criar, se eu morrer, sua própria família sem ter que estudar’. Hoje em dia eu agradeço, muito, pela persistência que eu tive de continuar estudando - é mínimo o meu estudo, eu acabei de fechar o meu segundo grau - porque hoje em dia eu avalio que eu tenho uma participação muito maior do que cuidar, criar a família do meu pai, criar a minha própria família. Eu não tenho filhos, mas eu avalio que a minha presença ela se tornou tão imprescindível pra muitos jovens, pra muitas crianças. Então, voltando a minha infância, eu durante muito tempo, eu tive um amigo que todo mundo falava que era invisível. Ele me fazia companhia. Entendeu? Eu era, eu ficava sozinho. Minha mãe, a minha mãe bêbada na cama. Minhas irmãs, elas dormiam no emprego, sabe, começou a dormir no emprego. Quando voltava, voltava brigava muito dentro de casa. Meu pai também chegava e batia na minha mãe, batia em mim, batia em todo mundo. E eu tive esse amigo. Era o que me ouvia, era o que me cuidava, era o meu colo, né. Há pouco tempo, há muito pouco tempo atrás, eu vivi uma crise existencial assim, terrível, você não acredita a crise que eu vivi, foi terrível, eu tava o ser humano mais, sabe: a pior companhia pra se ter. Foi tão terrível, porque eu não conseguia, que eu não consegui, por exemplo, estar no Grupo do Beco, que é o meu trabalho, e separar isso. Então, eu ia triste, deprimido. Sabe? Eu me isolava de todo mundo, qualquer coisinha eu tava brigando com todo mundo, e eu não sou assim. Eu sou extremamente compreensível, tudo pra mim tem que ser a partir do diálogo. Né? Então, é normal - aí eu já vou falar mais de questão teórica teatral - é normal depois de toda montagem, de cada montagem, o ator viver uma crise, é extremamente normal. Super normal. Toda montagem que eu participo, depois eu entro em crise. A maioria dos atores, acontece isso com eles porque ele vive tão intensamente o que ele ta fazendo, aí depois ele estréia e simplesmente não tem mais nada, o espetáculo ta pronto, não tem que pesquisar mais nada. Aí tudo o que cê começa a ler parece ser superficial, as relações do grupo, como a gente ta convivendo muito - é toque, é pegar - as relações começam a ficar artificiais até. Começa a um 30 estourar com o outro com qualquer motivo, sabe? Aí eu briguei com todo mundo, eu fiquei com raiva, eu fiquei irado porque eu tenho uma visão do grupo que o grupo tava tendo dificuldade de entender. A gente estourou com esse espetáculo. Na nossa estréia cinco emissoras. Meio que a fama subiu pra cabeça das pessoas, e eu querendo ver o pessoal com o pé no chão: ‘a gente não vai ter isso sempre, e tá’... E o pessoal me chamando de chato. Aí eu entrei numa crise terrível. Primeiro porque esse personagem, os personagens que eu faço, mais o pai, ele mexeu muito comigo. Muito. Muito, muito... muito, muito muito. Porque o pai que eu faço no espetáculo é exatamente baseado no meu pai. E meu pai, ele e eu, a gente - pelo menos antes do processo, antes que eu tive que pesquisar alguém - a gente não conversava. Nada. A gente não se atrelava. Isso por causa de convivência mesmo, assim. Quando eu não trabalhava/ meu pai simplesmente fez isso, queimou meu material, queimou meu uniforme, queimou tudo e falou assim: ‘olha, você tem que arranjar um emprego’. Quê que acontecia: a vida inteira, até hoje, quem administra o dinheiro do meu pai é a minha mãe. Minha mãe, ela, sempre foi lavadeira e passadeira, então, o pouco de dinheiro que tinha dentro de casa era o dinheiro que a minha mãe lavava e passava. Quando eu não estava trabalhando, ele tinha mania de caçar e pescar, então, eu, quando eu não estava trabalhando, o tempo que ele tinha, ele me levava pra caçar e pra pescar. No princípio foi muito gostoso, quando eu era criança, menino e tá. Depois eu comecei a ter, por exemplo, dever de casa. Eu tinha muito trabalho de escola em grupo, trabalho pessoal, que tinha que entregar em dia e o meu pai não aceitava que eu fosse fazer os trabalhos ao invés de pescar, ao invés de caçar. Aí comecei a ter raiva, porque a coisa que eu mais gostava de fazer era estudar. Adorava estudar, porque era a única forma que eu tinha de sair daquele mundo desgraçado que eu vivia. Sabe, um ser humano que vive enclausurado na própria casa, quando tá lá dentro não conversa com ninguém. Quando tá lá dentro dessa casa, a vida dele é só trabalhar, sabe, a vida dele é só ouvir que ele não presta, que ele não, que não sei o quê! Que ele não vai dar nada que presta, e tá, e tá e tá... Sabe? Aí fui canalizando de forma que a escola era, era a minha, o meu momento de liberdade. Mesmo. Liberdade até mesmo liberdade intelectual. Porque aí eu supria, tudo aquilo que eu não ouvia dentro de casa, dos vizinhos, das minhas tias. Por exemplo, eu tenho uma tia que nem é minha tia, eu não considero minha tia, porque ela casou com o meu tio. Ele é meu tio, ela não – ela casou com o meu tio, então, eu não tenho que chamar de tia. Que a vida inteira dela foi acabar com a minha raça, ela sempre disse pra Deus e o povo que eu ia ser o maior bandido aqui do morro, que o povo ainda ia ouvir falar do Nilton. Sabe? Que eu ia ser o maior bandido, sabe? E aí, geralmente, dependendo do ser humano, canaliza de forma negativa: ‘ah é, sou? Eu vou ser mesmo e você é a primeira pessoa que eu vou matar’. Eu canalizei de forma diferente, eu já falei assim: ‘nossa, eu quero lavar a boca dessa pessoa, eu quero que essa pessoa um dia chegue perto de mim e fale parabéns pelo que você é’, sabe? E chegou. E aí eu tenho, assim, muito nojo dessa minha tia. Mesmo. E até mesmo porque, assim, criança eu era carente, o único lugar que a minha mãe deixava a gente sair, quando podia sair, era na casa dessa tia. Ela não gostava de mim, ela adorava as minhas irmãs, porque as minhas irmãs faziam coisas, trabalhava pra elas. E ela em troca ela ensinava minha irmã fazer ponto cruz, ponto isso, croché, e tal, tricô, não sei. E aí, um fato que acontecia, por exemplo, quando a minha irmã, quando eu ia visitar a minha tia, era assim, a gente passava fome, a gente não tinha comida, minha tia já não tinha esses mesmos problemas. Tinha, mas não na mesma dimensão que a gente. Aí, ela, essa minha tia, ela fazia o seguinte, ela dava comida a minha irmã, as minhas irmãs, e não me dava. E aí falava pras minhas irmãs: ‘olha, se vocês tirarem uma colher e der pra ele, eu vou jogar a comida de vocês pro cachorro’. 31 Eu não sei o quê eu fazia com ela pra ela chegar a esse ponto. Porque eu, não sei se existe inferno, não sei se existe céu, mas se existir, eu peço que ela tenha o conforto dela onde ela for. Sabe? Porque eu até perdoei ela, mas é como, sabe, como você pegar um prego, você pega um prego e prega ele na madeira. Você não quer usar mais, você vai e arranca o prego, o prego não tá ali mais mas o buraco ficou!? Meu pai, meu pai chegava dava o dinheiro pra minha mãe. Quem administrava era a minha mãe. E durante um bom tempo a minha mãe fez assim, ela recebia o dinheiro dele - e eu continuei estudando, isso depois que ele queimou meus cadernos, eu continuei estudando - e aí a minha mãe fazia assim: ela pegava do próprio dinheiro dele, tipo o que hoje em dia seria uns trinta Reais, entregava na mão dele ‘aqui, ó, toma Cezário. Esse aqui é o dinheiro do Nilton, que ele tá trabalhando. Todo dia à tarde ele trabalha, você sabe’. Aí meu pai falava assim ‘não, junta lá, coloca lá junto com o meu.’. Então durante um ano inteiro eu pude estudar. 4.2 O TEATRO ME SALVOU Aí, estudando, um dia ele descobriu assim. ‘Ah, seu filho vai passar de ano?’ - perguntaram no buteco. ‘Não, meu filho não tá estudando não, estudar é coisa de mariquinha e ta, ele trabalha, tá?’. ‘Não, seu filho é da sala do meu’. Nossa senhora, meu pai quebrou fogão, meu pai quebrou, o fogão de lenha, bateu na minha mãe, me espancou. Porque a gente mentiu pra ele durante esse tempo todo. E foi sério, tanto que eu vivi nessa, nesse ano que meu pai uma crise terrível, isso foi no mês de Julho; tisc, mês de Junho, aliás. Eu vivi uma crise assim: junho de 93. E aí quando eu entrei nessa escola, no Paula Francinete, incrível, assim, eu odiava teatro! Detestava teatro! Mesmo. Por quê? Até hoje as escolas são extremamente/as escolas públicas são extremamente/muito carentes nessa questão de atividade cultural. E aí as professoras, quando querem fazer algum trabalho valendo ponto, a forma que elas encontravam, e ainda encontram, é o teatro. E aí é aquela coisa imposta, né. E eu porque eu tinha facilidade de decorar texto, eu tinha facilidade de decorar a marcação que a professora queria, eu sempre fazia Tiradentes, eu sempre fazia Pedro Álvares Cabral. Eu sempre fazia os papéis principais. Mas eu detestava, eu odiava fazer! Aí um professor, Éder, trabalhou com a gente o teatro de forma profissional. Entende? De forma profissional. E aí eu ‘poxa, o teatro é isso, que legal!’. Aí, a partir daí, eu passei a pegar também os personagens principais, mais eu fazia com tesão. Eu gostava de fazer! E aí, com onze anos, irmã, eu descobri o teatro. Sabe, irmã, o teatro me salvou... e aí, foi só descobrir o teatro que eu encaminhei na minha vida! É, então, a partir do momento que eu descobri que fazer teatro era aquilo e que aquilo poderia ser o meu ganha pão, a minha vida, eu falei - desde onze anos - a primeira vez que eu subi no palco e fui extremamente aplaudido, eu falei: ‘é isso que eu quero pra minha vida inteira’. Com onze anos de idade. É isso que eu quero pra minha vida inteira. E aí, a partir daí eu comecei a virar referência na escola, porque eu sempre fazia os personagens e eu fazia muito bem, eu fazia com sangue, eu fazia com tesão e eu virei referência na escola. Então, assim, desde a diretora, que além de ser a diretora da escola estadual, era diretora da escola particular, então ser conhecido pela diretora - na época era a irmã Caran - tinha que ser fodão ou então tinha que ser muito atrevido e respondão, porque a diretora tinha que chamar a atenção toda hora, ou então tinha que ser fodão, né. E aí na, na oitava série, em 93, eu vivi uma crise que eu cheguei, assim, foi um dia terrível, foi um dia que eu tava até sem trabalhar, meu pai tinha descoberto que eu não tava trabalhando, que eu tava estudando e ele me levou pra poder caçar. E a gente caçava lá atrás dessa montanha, lá 32 atrás, lá lonjão. E eu tinha prova de ciências e eu tava, eu tava correndo o risco de pegar recuperação em ciências. E aí eu não podia faltar, eu já tinha perdido a prova, a professora ia me dar uma segunda chance, e aí meu pai me levou. Nossa, eu xinguei, eu chorei, eu criei caso, tá. Aí o que que aconteceu? De uma hora pra outra eu falei tchau, lá no mato. E vim correndo embora. Eu correndo, meu pai atrás de mim. Eu correndo, meu pai atrás de mim. Arrumei correndo, nem tomar banho eu tomei, fui correndo pra escola! Quando eu chego, o portão fechado. Aí eu olho na greta assim, a mulher que fechava o portão tava assim, mais ou menos, uns três metros. Eu gritei, gritei, gritei, ela voltou, sabia que era eu, né - a referência do teatro e tal - entrei correndo: ‘ah, a Maria Célia vai me xingar porque eu abri o portão procê’, falei ‘não, eu converso com ela’. Fui correndo. Lá, antigamente, tinham as filas. Faziam as filas de todas as turmas, antes de ir pra sala. E rezava, a diretora ia lá, dava os avisos e depois subia a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Eu tava na oitava. E aí, mandou começar a subir e eu tava morto de cansado, imagina, você vim correndo de lá, detrás da montanha, correndo, pinote. Chegar em casa, juntar o material, rapidinho só pra poder fazer uma prova, né. E eu tava cansado, extremamente cansado, que eu sentei. Assim que terminou de rezar eu ‘pfaft’, eu sentei. Aí coordenadora falou assim: ‘levanta, levanta Nilton’. Aí eu: ‘nossa, eu tô tão cansado... deixa eu ficar sentado’. ‘Não, levanta!’. Aí, eu levantei. Eu levantei mas eu tava prostrado, mesmo, mesmo. Ela mandou subir a quinta série: ‘sobe a quinta série’. E quando ‘táh’, sentei de novo no chão. Ela deu um grito comigo: ‘Ah, que que eu falei procê??! Levanta agora! Você tá pensando que você tá aonde? Você tá na sua casa? Que você faz malcriação com sua mãe, com seu pai, pápápápá... ’. Aí eu falei ‘porra, mas essa mulher...’, eu pensei pra mim: ‘porra, mas essa mulher não sabe nada da minha vida e ela vem falar assim desse jeito comigo?’. Aí eu falei: ‘oh, Dona Maria Célia, a senhora quer saber de uma coisa? Vai tomar no seu cu! Vai pra puta que te pariu! Tá? Olha, você vai pro seu, vai pro inferno! Vai pra puta que te pariu! Ninguém tem coragem de falar mas eu vou falar uma coisa que tá garrada na minha garganta, a senhora é a desgraça dessa escola’. E saí falano altos palavrões com essa mulher. Nilton falar palavrão?! Tinha que ter um motivo muito grande. E aí ela mandou voltar a quinta série que já tinha subido: ‘volta todo mundo!’ e começou a me dar um sabão. E a gente começou a discutir, no meio do pátio, a gente começou a brigar como se fosse dois alunos. E eu chamano ela de desgraça, mandano ela tomar no cu, mandano ela ir pra buceta, sabe, falano altos palavrões com ela, assim, mesmo, com ela - eu não consigo nem lembrar os palavrões. Por que que isso marcou tanto na minha vida? Porque foi a partir daí que eu comecei a trabalhar sendo professor. Parece ser irônico, né? Aí ela falou assim: ‘Você só entra aqui com sua mãe, não sei o quê, você tá expulso da escola!’. Me expulsou da escola. E eu era a referência, eu era o aluno CDF, eu tirava máximo em matemática, tirar máximo em matemática tinha que ser muito fodão também, tá? E aí, subiram todos os alunos e ela gritou comigo e depois ela chegou pessoalmente pra mim e falou: ‘ô Nilton, você quer conversar?’. Eu tava puto com ela! Tava puto com ela, falei: ‘vai pra puta que te pariu, eu não tenho nada pra conversar com você!’. Ela falou assim: ‘olha, tá, você está emocionalmente abalado comigo, mas se você quiser, chama algum professor que você tenha confiança, e conversa com ele sobre, sobre o que tá passando na sua vida. Eu sei que agora você não tem confiança comigo, quando você, você se acalmar, conversa com alguém. Eu vou autorizar. Você não vai ser expulso da escola não, mas eu quero conversar com a sua mãe de alguma forma’. Aí eu chamei o professor de história, Joaquim, que ele era professor de história e de religião, e ainda organizava o grupo de jovens da escola na época. Eu participava de tudo. Eu era o coordenador desse grupo de jovens, lá na escola. Aí eu conversei com ele. Eu me abri, eu lavei a minha alma, eu chorei, eu lembro. Nó, paguei o maior mico na frente do professor, chorei, chorei, chorei, chorei... aí, ele preocupado, e foi tipo uma terapia, sabe? Aí ele falou: ‘eu posso falar pra diretora?’, falei ‘pode’. Aí, chamou a diretora: ‘conta pra ela a sua história’, aí eu contei pra diretora a minha história, toda a minha vida. E, 33 chorei, falei dos meus cadernos queimados, falei do meu amor pelo teatro, falei do meu amor pela escola, falei da minha briga. Por exemplo, eu tinha amigo que falava – né, pra mim, na época era amigo – eu tinha amigo que falava assim : ‘porra, véi, você vai ficar vivendo esse tanto de problema? Você ta com problema demais, você precisa esquecer! Toma aqui, aí me dava, maconha, na época o que era, hoje em dia existe o crack, era o loló, o thinner, a cola, né. Aí, dava, mandava eu cheirar, eu nunca cheirei, eu: ‘não, não... isso não vai resolver’. Não sei, eu não sei de onde que eu tirei essa consciência, eu acredito muito que na forma, na criação, porque eu sabia que se eu usasse, depois, eu ia ter uma perna quebrada. Talvez seja a forma de educação dos meus pais, não sei. Essa diretora falou comigo: ‘olha, se eu te der um trabalho você vai trabalhar?’. Nó, eu pô, a maior emoção que eu tive! Aí ela foi e explicou: ‘olha, tem uma instituição que a gente tem lá na comunidade que a gente trabalha com reforço escolar. E aí a gente tava pensando em você como professor’. Durante a minha vida inteira profissional, o meu dinheiro ia todo pra mão da minha mãe, assim como o do meu pai, então assim quem administrava a grana era a minha mãe. Então eu trabalhava, eu tirava tudo e dava pra minha mãe. E aí, nessa instituição, eu comecei a trabalhar meio horário. Aí, a partir do mês de Agosto de 1993, eu comecei a trabalhar lá, meio horário. E aí a instituição, ninguém nem nunca tinha ouvido falar da tal da casa Santa Paula. E aí a Casa Santa Paula estava em reforma, o chão era pura terra, eu limpei a sala toda, eu e os meus amigos, a gente rapou a sala pra poder achar o piso, o chão. E eu sai batendo, depois, de porta em porta, de casa em casa, na comunidade, falando do trabalho da Casa Santa Paula. Fui de escola em escola convidar aluno, e aí consegui, com cinco anos que eu trabalhei lá, eu tornei a instituição uma instituição de referência. Mesmo. Eu acredito muito que o meu trabalho, hoje em dia, a forma que a Casa Santa Paula é conhecida, deve muito a mim. A Casa Santa Paula pode até ir contra isso, não sei se é contra ou se é a favor, mas deve muito a mim, porque eu carreguei, mesmo, a Casa Santa Paula, sabe. Eu fui em escola, eu fui de porta em porta, eu ia visitar aluno, isso fez a casa Santa Paula ser conhecida. Eu conhecia a rotina do aluno, isso com dezessete anos. E aí, à tarde, trabalhavam dois adultos fazendo a mesma função que eu, tendo o mesmo número de alunos que eu. E aí, no ano seguinte, em 94, eles me propuseram que eu trabalhasse o dia inteiro, que estudasse a noite, trabalhasse o dia inteiro e aí eles iam demitir os dois. Pra mim, a partir daquele momento, que eles demitiram dois adultos, e eu, um adolescente, assumi o compromisso de dois adultos, no turno da tarde e no turno da manhã, eu pensei comigo mesmo: ‘poxa, se eu consegui fazer um trabalho tão bom a ponto de substituir dois adultos, eu posso administrar a minha própria grana.’ E a partir desse momento eu não dei a minha grana mais pra minha mãe, pra ela administrar. Pra mim foi, assim, muito marcante na minha vida. As minhas fases são todas trocadas, sabe? A minha infância, durante a minha infância inteira, eu tive que ser adulto. Eu tive que trabalhar. Sabe? O tempo que eu brincava, eu não brincava, eu ficava conversando sozinho com um amigo invisível, que as pessoas falavam, mas eu brincava. E era pouco tempo. Na minha adolescência, como eu não arranjava emprego, quinze, quatorzequinze, dezesseis, até os dezessete anos, era incrível, assim, eu quinze anos - um marmanjão, velho, se bem que eu era pequeno, eu puxando carrinho pela rua, brrrrrrrr... brrr... Então, durante a minha adolescência, eu vivi a minha infância. Então, a partir dos dezessete anos – foi só um adendo – a partir dos dezessete anos, eu comecei a trabalhar com criança. Sete a quatorze anos. E vivi, trabalhando com esses meninos, eu comecei a conviver com crianças que viviam a mesma realidade que eu. Então, eu não podia simplesmente fazer assim: ‘eu vou lá oito horas da manhã, bato ponto oito horas da manhã. Meio dia eu bato ponto pra ir almoçar, volto uma hora, bato ponto. Chego, à tarde, cinco horas, 34 bato ponto – pronto e acabou’. Sabe? É, eu nunca tive um pedagogo que me acompanhasse e tal - hoje em dia eu já tenho uma, uma linguagem mais pedagógica porque eu já trabalhei, já fiz muito curso e tal, mas na época, com dezessete anos, com dezessete/dezoito anos - eu falava: ‘poxa, não dá procê trabalhar o menino que chega aqui, só. Você tem que entender a vida dele’. Porque eu era assim. Então, eu comecei a conhecer as famílias dessas crianças, comecei a ver menino que tinha que ir trabalhar com o pai. ‘Porra eu vivi isso’, sabe? Na realidade, o que me move hoje em dia, no meu trabalho, é exatamente, tá pensano sempre em fazer diferença, né? E fazer com que as pessoas que estejam, sejam meus alunos, que estejam comigo, trabalhano comigo, também façam a diferença. Sabe? Buscar com que a gente coletivamente, faça diferença. Não seja, não faça parte das estatísticas. Como a polícia espera que a gente faça. Porque a gente acredita, eu pelo menos, acredito que/eu tava conversando com o Edson, o seguinte, o Edson ficou abismado ‘nossa, na, na, na no Aglomerado Santa Lúcia tem trinta, trinta e cinco mil pessoas!’ O presidente da Barragem diz que tem quarenta, quarenta e cinco mil. Trinta, trinta e cinco mil é um dado da Prefeitura. Por que que a Prefeitura não divulga? A Prefeitura vai divulgar que aumentou a miséria? Não pode, não é estratégico, divulgar que aumentou a miséria. Se aumentou o número de moradores na favela, significa que aumentou o número de miseráveis. Né? Então, não pode ser divulgado. Quando eu fico vendo algumas reportagens assim, eu fico vendo ‘porra, velho, eu faço parte das estatísticas dessa, dessa reportagem’, mas que saco, né? De que forma eu posso trabalhar pra poder mudar a estatística tanto minha, que eu faço parte, quanto dessa comunidade. Então, hoje em dia, conscientemente, eu trabalho dessa forma. Eu digo conscientemente porque desde os onze anos eu trabalho em/eu sou de grupo de jovens. Eu participei do teatro da semana santa. Aos 18 anos eu montei o Grupo do Beco. Eu fiz dois cursos que foram muito caros pra mim, fiquei mais de seis meses pagando minha patroa o curso. E eu fiquei assim ‘porra, velho, quantas pessoas vão ter que ficar pagando caro pra fazer curso?’. Aqui na comunidade pode ter tantos talentos que vão ter que pagar caro. Aí eu me recusei a saber que pode existir tantos talentos na comunidade que vai ter que pagar caro também, pagar o salário, passar fome igual eu passei – em Ouro Preto. Eu fui no Festival de Inverno, eu passei fome lá. Passei fome e frio pra poder participar de uma montagem de um teatro durante vinte dias. E eu, quando eu voltei de Ouro Preto, eu falei, ‘olha, eu vou montar um grupo de teatro’. Aqui todo mundo me chamava de doido, até a Suzana que hoje em dia faz parte do grupo. ‘Você é doido, que não sei o quê, aqui ninguém quer nada não e tal’. Eu falei ‘não, eu vou montar um grupo’! Aí articulei, juntei as pessoas, montei, entrava pessoa, saia pessoa, entrava pessoa, tinha reunião que eu ficava sozinho! Marcava reunião, o grupo marcava reunião, todo mundo esquecia, eu não esquecia, entendeu? Hoje em dia, a gente tem essa consistência de trabalho, mas até chegar a essa consistência, eu conduzi o grupo sozinho muitas vezes. Tinha vez assim que chorava porque tinha um tanto de coisa pra fazer, tinha um espetáculo pra montar e não tinha ninguém pra ensaiar, não tinha ator – pra ensaiar. Entende? Então, aí, a minha casa. Falemos de minha casa. 4.3 JÁ FALEI DEMAIS DO MEU PAI Meu pai, já falei demais do meu pai. Ele, com muito custo, com muito trabalho, ele comprou a casa dele. E aí, aos poucos, ele foi construindo. E o meu pai ele era pedreiro mas a casa dele ele fazia com barro. Não tinha cimento, não tinha areia, não tinha nada. Ele pegava terra na rua, fazia com barro e pegava tijolo na rua e fazia com tijolo. E chegou um certo momento – que a casa durou 26 anos, a casa que ele construiu durou 26 anos – e aí chegou um certo momento que não dava pra viver naquela condição sub-humana. Era uma casa preta, porque a gente tinha fogão a lenha. A uma casa preta, escura. Era uma casa cheia de mofo, com muito, muito, muito mofo mesmo. Era uma casa cheia de barata, era uma casa cheia de rato, era uma casa que o piso 35 era grosso, então, sujava com muita facilidade. E aí meu pai era extremamente radical com aquela casa, a gente não podia mexer em nada! Procê vê, um dia eu fui trocar a lona! Comprei uma lona nova, fui trocar a lona de cima do telhado, meu pai quase quebrou a minha perna, ele saiu jogando pedra. Foi jogando telha, quando desci, ele deu chute na minha perna, quase quebrou a minha perna, porque eu tava querendo melhorar. Aí, quando chovia, que que meu pai fazia? Meu pai, ele se cobria com a coberta - ele já começou a separar, já dormia separado da minha mãe, nessa época - ele se cobria com a coberta e jogava uma lona por cima dele. E aí, chovia pra caralho em cima dele. Aquelas goteiras, altas goteiras, chovia a casa inteira, e a gente tinha que ficar arredando móvel. A gente arredava guarda-roupa, arredava isso, arredava aquilo. Colocava panela, colocava bacia, colocava xícara, colocava tudo pra poder segurar as goteiras e meu pai debaixo da coberta, debaixo da lona e a chuva correndo. Entendeu? E todo mundo sofria com isso, todo mundo sofria com isso, todo mundo. E aí teve uma época que eu, eu e minha mãe, resolvemos juntar uma grana e dar uma reforma mínima lá em casa. Então a gente descascou todas as paredes, rebocou, chapiscou e pintou. Aí meu pai vendo que a gente tinha arrumado a casa, a tinta ainda molhada, que era cal na época, que que ele fez? Tinha fogão a lenha lá em casa, ele quebrou a chaminé do fogão a lenha, do lado de dentro da casa, e acendia todo dia, pra poder dar fumaça e aí a casa voltou a ser preta. A gente pintou de azul, um azul clarinho, aí a casa voltou a ser preta. E aí chegou um momento lá em casa que a gente queria reformar a casa e meu pai não deixou. Toda vez que a gente queria reformar, ele não deixava. Chegou um dia que a minha mãe tava cozinhando, começou a chover, a parede da cozinha caiu, a parede atrás do fogão caiu. Minha mãe ficou desesperada. Quê que meu pai fez? Pegou dois madeirites e tampou a parede atrás. Durante a minha vida inteira, eu tomei banho de cavalo. Tomar banho de cavalo é você colocara água num balde, e pegar com a canequinha e jogar. A minha vida inteira. Eu vim a tomar banho de chuveiro aqui nessa casa, agora. Aí o quê que aconteceu. O meu quarto, eu tinha um quarto separado, o telhado começou a cair. Eu tive que colocar um pau, uma madeira, no meio do meu quarto, porque o telhado tava caindo. Então, se qualquer um encostasse, ele arrancava o pau, entendeu? Aí um dia eu grilei, eu falei ‘olha, eu sinto muito, Cezário. Você não quer. Eu vou tirar a minha mãe daqui de casa’. Tirei a minha mãe, levei pra casa da Suzana. A Suzana cedeu dois cômodos lá na casa dela, durante três meses, ía derrubar a casa toda e reformar. Só que aí tava sendo muito difícil, reformar, aí veio minha prima e falou ‘olha eu tô com uma casa lá, vocês não querem comprar não?’. Até hoje eu tô pagando a prestação da casa. Aí a gente fez isso. Eu trouxe a minha mãe tem essa casa. Tem dois anos que eu tomo banho de chuveiro. Olha que maravilha. Então, assim, porque que meu pai e eu a gente não conversa? Por que que foi tão terrível pra mim, por exemplo, fazer o personagem José no espetáculo? Quando eu, você vê o José ali é o Cezário, sabe? É aquela coisa, quando a gente era pequeno, ele era extremamente carinhoso com a gente, conforme a gente ia crescendo, ele era extremamente duro, rígido. Eu, assim, teve uma época, por exemplo, que eu gostava muito de ir ao grupo de jovens. O grupo de jovens daqui tava organizando uma quadrilha. Eu sempre gostei de ser muito ativo. E aí um dia eu tava indo e meu pai falou ‘não, você vai caçar comigo’. Falei assim ‘não, eu não posso caçar porque eu tô responsável pela equipe que vai colar bandeirinha’. Parece banalidade, colar bandeirinha, mas eu me sentia importante. Ninguém me dava atenção, ninguém. Então quando eu encontrava alguém que me dava responsabilidade pra poder colar bandeirinha!? Nossa senhora! Vou fazer o mais bem feito possível pro pessoal falar assim ‘nossa, essas bandeirinhas foram muito bem coladas! Quem foi que colou?’. ‘Ah, foi o Nilton!’ - naquela época eu era Nilton, hoje em dia eu sou Nil César - ‘Ah, foi o Nilton’, ‘ah, parabéns’. Eu era 36 muito carente, eu buscava sempre a atenção das pessoas dessa forma, porque em casa, eu não tinha. Ninguém gostava de mim. Eu tinha essa sensação. Entende? Aí nesse dia meu pai falou assim ‘ah, você vai caçar comigo’, falei: ‘não, eu não vou. Eu tenho a minha responsabilidade, eu vou pra lá’. Aí meu pai, assim, de uma hora pra outra, pegou uma faca e jogou em mim a faca. Aí eu arredei, a faca caiu fincada no meu pé. Ela caiu fincada ,‘thum’, fincadinha no meu pé. Aí eu olhei pra ele assim, véi, porra, um pai pegar uma faca, jogar pro filho, porque o filho tá querendo ir/fazer bandeirinha no grupo de jovens, que vai fazer uma quadrilha pra arrecadar dinheiro pra poder construir a igreja?! A capela, a paróquia?! E ele não percebe isso? Aí eu só olhei pra ele assim, meu olho encheu de água, pensei assim ‘eu não vou chorar’. Aí peguei a faca assim, tirei a faca assim, joguei a faca longe, joguei a faca pro lado assim, dei as costas pra ele e saí. Aí, a partir daí a nossa relação foi bem, atribulada. Bem, bem, atribulada. E eu comecei a enfrentar ele muito. Sabe? Ele queria bater na minha mãe, eu entrava na frente, eu empurrava ele, eu ameaçava de chamar a polícia. Até então, as minha irmãs, ele fazia isso com elas, qual foi a alternativa delas? Engravidar e sair de casa. Como eu não engravidei ninguém, como eu não tinha como engravidar, e eu também não tinha a pretensão de sair de casa, porque se eu saísse ele ia matar a minha mãe, então eu fiquei lá em casa. E, assim, enfrentano ele mesmo, o tempo inteiro enfrentano. Então ele acordava de madrugada, eu trabalhava na casa Santa Paula o dia inteiro e estudava a noite. Ele acordava, três horas, três/quatro horas da manhã, ligava o rádio em direção a meu quarto, na maior altura, e ficava gritando pra Deus e o povo que eu era um safado, que eu era um sem vergonha, que ia virar bandido, que eu ia virar sem vergonha, que eu era pilantra. Saía falando mal de mim, sabe, assim. E aí teve um dia que ele veio falando mal de mim, eu empurrei ele, a gente começou a discutir. A forma dele me educar, foi através de foice. Ele pegava foice pra poder/querer me matar e a minha mãe entrava na frente. A Suzana já entrou várias vezes, na frente dele, pra poder tomar a foice pra poder ele não me dar uma foiçada. E eu enfrentava. Teve um dia que ele não achou a foice, ele pegou a machadinha e jogou em mim. Quando eu vi a machadinha assim, eu abaixei, se eu não tivesse abaixado, eu não tava aqui mais te dando essa entrevista. Eu abaixei, e a machadinha foi tão forte, que furou, a parede da igreja - que era uma igreja aqui ao lado que era a mesma parede da Igreja. E eles fizeram daqueles tijolos de concreto. Foi tão forte que furou, que fez um buraco. E eu abaixei. E aí, quando eu abaixei assim, ele saiu correndo - lá em casa era um beco grandão, era nosso o beco, não era um beco público - eu peguei a machadinha assim, e ia jogar nele. Quando eu joguei, quando eu ia jogar nele, me veio a cabeça o meu amigo invisível - que ele já tinha/a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Casa Santa Paula, eu não vi ele mais. Sabe? - aí me veio na cabeça assim, o meu amigo invisível. Ao mesmo tempo, eu joguei a machadinha fora, corri até ele, até meu pai, e assim, em soluços, eu abracei, eu consegui segurar ele de tal forma que eu abracei ele de costas assim, e fiquei chorando, e fiquei chorando, fiquei assim: ‘pai, por que que você fez isso, pai, por que você fez isso com seu filho? Eu te amo, pai, eu te amo, pai’. E ele, secamente, falou comigo assim, ‘olha, eu não tenho mais filho. Você não precisa me amar porque eu não tenho mais filho, eu não tenho mais filho, pra mim, a aquela machadinha acertou na cabeça do meu filho’. Isso foi tão forte pra mim que eu simplesmente soltei ele, e ele foi pro boteco. A partir dali eu comecei a chamar ele de Cezário e ele, ele começou a me chamar de Nilton. A gente nem se via, a gente nem se olhava, a gente nem se comunicava. Ele continuava querendo bater na minha mãe, eu enfrentava pra defender a minha mãe. Entendeu? E aí a nossa relação virou assim um caos, porque ele, o tempo inteiro ele queria me mandar pra fora de casa, o tempo inteiro eu tinha que me auto-afirmar lá em casa. Porque ele queria me bater. Aí ele começou a falar, a espalhar pro morro que eu queria na realidade era comer a minha mãe, porque eu queria ser o homem da casa. Eu queria era roubar o posto dele de homem da casa. 37 Então, assim, foi uma relação meio complicada, minha e do meu pai. Então várias vezes, ele, depois disso, queria/me bateu. Sabe, tiveram duas vezes que eu bati nele também, sabe? Eu dei um soco nele, eu devolvi o soco. Foi por impulso, não porque eu quis, foi por impulso, eu levei um soco, eu dei. Teve uma vez que ele deu um tapa na cara da minha mãe, eu empurrei ele, caiu em cima do fogão quente. Foram as duas vezes. (Ele estava bêbado). E a partir daí eu falei, ‘porra, velho, se eu tiver que começar a bater no pai... ele é meu pai, ele não tem pra ele eu como filho, mas ele é meu pai. Eu prefiro sair daqui’ Aí um dia ele, ele, ele falou coisa mínima, aí eu cheguei até ele, comecei a gritar com ele, gritar, gritar, gritar. E várias vezes ele acordava de madrugada e ficava falando na minha cabeça, eu levantava de madrugada, ia lá pra passarela, ficava esperando um caminhão, pra poder pular da passarela, sabe? Pra poder gritar assim: ‘mas que desgraça dessa vida, o que que eu tô fazendo nessa porra desse mundo?’ Aí, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa. Eu gostava, na época, eu gostava muito da cor branca, porque meu amigo ele vinha vestido de branco, sempre. E aí eu esperava sempre vir um caminhão branco pra eu pular na frente de um caminhão branco. Tinha que ser um caminhão branco. E eu ficava assim, duas horas da manhã lá na BR esperando vir um caminhão branco: nunca vinha um caminhão branco. E, ao mesmo tempo, quando eu ficava feliz, eu ia pra passarela, sabe? Agradecer por eu não ter vindo um caminhão branco. Era a mesma forma, era a minha forma de demonstrar felicidade. O teatro me ajudou muito porque eu comecei a usar a linguagem do teatro dentro da minha casa também. Então, no teatro tinha determinadas atividades nas oficinas que eu fiz, que falava assim ‘olha, abraça alguém que você gosta muito’. Eu chegava em casa e abraçava a minha mãe. Minha mãe detestava abraço. Minha mãe era distante da gente aos extremos, muito, extremamente distante da gente, além de beber muito e de fumar igual uma chaminé - ela era mãe e ele era pai. E eu comecei a me aproximar, sabe, eu comecei a me aproximar da minha mãe, eu comecei a abraçar a minha mãe, eu comecei a usar da dinâmica do teatro, a partir da dinâmica do teatro, eu comecei a usar lá em casa. Então, hoje, a família que eu tenho hoje, sinceramente, sem modéstia, eu devo muito a mim. Sabe, a minha irmã, as minhas irmãs são extremamente brincalhonas, minha mãe é um poço de brinquedo. É justamente por causa disso, porque eu comecei a usar, eu comecei a querer mesmo mudar a minha família, sabe? De forma que se tornasse agradável, a receptividade que a minha mãe tem hoje com você, ela deve muito a mim, mesmo – sem modéstia. Porque eu comecei a trazer a linguagem de fora pra dentro de casa, a linguagem do teatro. Porque o teatro trabalha muito o ser humano em contato com outro ser humano. Nessa casa nova, minha mãe acordou, assim, louca da vida, ‘Nossa! Tá chovendo!’. E foi um toró: ‘tá chovendo!’. E ela já acordou de madrugada desesperada, já veio na cozinha, já veio na cozinha, já começou a juntar as coisas, aí depois, quando ela já tava com as panelas na mão, ela olhou assim, ela olhou, olhou, olhou: ‘ai, gente, essa casa não tem goteira não. Que que eu tô fazendo com essas panelas?’ Aí, durante muito tempo, ela falano da casa assim, como se tivesse no paraíso. O sonho dela era ter uma casa que ela pudesse ter um sofá. O sonho da minha mãe era ter uma casa que ela pudesse passar pano. Que ela pudesse lavar vasilha sem estar goterando na cabeça dela. Entende? Então, assim, eu carreguei, eu conduzi. As minhas irmãs, elas engravidaram pra sair de casa, pra fazer a vida delas. Eu não aceitava. Sabe, as minhas irmãs ir desistindo assim tão facilmente de resolver o problema que era nosso. ‘Gente, não é o caminho certo. Eu não vou sair de casa. Eu não vou’. Hoje em dia, eu tô articulando a minha planilha pra eu - daqui no mínimo três anos, no mínimo não, no máximo, estourando 3 anos - eu comprar a minha casa. Eu tô me articulando pra isso. É a minha meta, minha próxima meta é essa. Estourando daqui a 3 anos eu ter a minha casa. Mas não é a minha família, a minha noiva, a minha esposa, os meus filhos não, a minha casa. Quero 38 morar sozinho, mesmo. Quero ter a minha liberdade. Sabe? Eu sinto hoje em dia, que pelo menos, com a minha família, o que eu tinha que fazer eu já fiz, então já posso sair, entende? Então eu sinto isso, que hoje em dia eu posso pelo menos viver/porque eu sou muito caseiro, eu sou extremamente caseiro. Você caçar briga comigo é você me chamar pra sair, sério. Você quer um programão pra mim, fala assim: ‘vem cá em casa. Vão ficar aqui em casa conversando, vão ficar aqui em casa.’ ‘Vamo.’ Não sei é uma forma de criação. Eu gosto de ter a sensação de segurança. Sabe? Eu gosto de ter a sensação de segurança. Então, durante essa fase que eu tenho vivido dessa minha adolescência aos 26 anos, eu tenho descoberto coisas, que eu não sabia que eu tinha. Eu tenho descoberto sensações, que eu não sabia que tinha, eu tenho descoberto emoções. Então, por exemplo, eu era tão cabeça, não cabeça assim ‘o’ intelectual, eu era tão razão que eu não me permitia ter sentimento. Eu tinha saudade, eu dava um jeito de esquecer que eu tava tendo saudade. Sabe, então, que que eu fazia? Eu ia ler, eu ia trabalhar. Eu tava começando/o meu maior problema na questão relação sentimental, por exemplo, é que eu começava a me envolver, quando eu tava começando a ver que eu tava amando, eu dava um jeito de atrapalhar a relação e agente terminar. Sabe, então, eu começava a ter sentimentos diferenciados, que não seja um amor materno, paterno, de amigo, eu dava um jeito de parar de sentir. Razão demais, sabe. Eu sempre tive a sensação de que sentimentos atrapalham o ser humano, demais. Eu tinha essa idéias. De que isso era prejudicial para o ser humano como ser humano, porque ele se entrega, ele se envolve pra essa relação e esquece de viver. Hoje em dia eu avalio que isso também é viver: se permitir, de apaixonar por alguém, se permitir ter uma ilusão amorosa, chorar porque teve um término de namoro de alguém que você gostava muito. Isso também é viver, isso também faz parte do crescimento humano. Hoje pra mim é muito óbvio, mas naquele momento que eu li, ninguém nunca tinha me falado. Foi um crescimento muito bom. Hoje em dia, eu mesmo resolvo as minhas crises. Sabe? Eu, eu vivo elas, intensamente, eu não viro as costas pra elas. Com muita intensidade: se tem que chorar eu choro, hoje em dia eu choro. Se tem que sofrer, eu sofro, Se tem que rir, eu rio. 4.4 EU FAÇO PARA NÃO REPETIR A Suzana, na minha infância, ela era a Suzana-banana. Desde pequenininho a gente conviveu, mas a nossa convivência de amigo a gente começou a partir de 1990, 13 anos atrás. A partir de 1990 a gente começou a conviver como amigo. A minha vida ela é muito de antes e depois da Suzana. Então, assim, tanto pra ela quanto pra mim. Eu fui educado pra visão de que o mundo era dentro de minha casa era da escola pra dentro da minha casa, da casa pra escola e pro trabalho, né? E aí quando eu comecei a conviver com a Suzana, a Suzana vivia um processo bem mais complicado que o meu, ela vivia numa casa pior que a minha. Eu tenho certeza que eu tenho uma importância muito grande na vida dela. Eu fui a primeira pessoa que freqüentou a casa dela. Não da mesma forma que ela, ela invadiu a minha casa. Ela me conheceu, a gente virou amigo, ela gostou de mim - mesmo com as portas batendo na cara dela, que meu pai mandava expulsar ela de casa, expulsamos de casa várias vezes, ela continuava indo porque ela entendia que a minha amizade era importante pra ela. Isto me fez ver que eu era importante no mundo e pro mundo, entende? E então, a Suzana foi uma pessoa muito, muito, muito importante pra minha vida, sabe? E pra ela tenho certeza que foi, por exemplo, porque a casa da Suzana era uma casa extremamente miserável, que ninguém tinha coragem até de tomar água na casa dela, nem da torneira. E eu fui a primeira pessoa a entrar lá, e comia a mesma comida que eles, comia no mesmo prato que eles, dormia na mesma cama que eles, então, eu num tava nem aí. E pra ela o mais importante ainda porque eu sou branco. Então a gente meio que trocou a importância da vida pro outro, foi tipo intercâmbio, digamos assim. 39 Pra ela: ela vivia uma situação de vida que eu era uma pessoa que dava atenção pra ela. E aí o mesmo acontecia, ela era uma pessoa que me dava atenção. Então, e aí, a gente começou a se dar atenção. A gente viveu, a gente matou aula junto. A gente viveu, cresceu a nossa adolescência junto, então a gente trabalhou junto. A Suzana na minha vida tem uma importância muito grande. Eu ouvi, uma vez, num seriado de televisão, que o amigo é o irmão que a gente escolhe. Então a Suzana é minha amiga, ela é minha irmã. É uma irmã que eu escolhi pra mim, a gente briga muito, a gente mais briga que combina. Mas sabe aquela coisa, dois irmãos sem vergonha, um não consegue viver sem o outro. Então, a gente briga pra caralho, muito, constantemente a gente ta em discussão, crise, mas é aquela pessoa que eu converso. É aquela pessoa que ela conversa também. Na realidade eu mais eu ouço ela do que ela me ouve, exatamente por causa dessa minha personalidade de pessoa muito fechada pra dizer, falar sobre mim. Eu nem sei o que que cê ta fazendo pr’eu falar tanto de mim! Eu não gosto de falar muito de mim, até mesmo por/eu não gosto muito da minha história não. Sabe. Então, na realidade, às vezes eu me pego na seguinte percepção de que eu faço muitas coisas, muitas das vezes, pra não repetir, pra não permitir que aconteça com os outros o que aconteceu comigo. Eu busco o máximo possível, não permitir que a minha história se repita com alguém. Eu fico muito chateado quando eu percebo que repetiu com alguém, a minha vida. E tem repetido. Então, assim, às vezes me dá, bate uma frustração, de eu ver que tá repetindo com alguém. E alguém que tá próximo de mim. Mas, afinal de contas, eu não sou Jesus Cristo que veio pra salvar o mundo. Então, eu paro e avalio. Não vim com esse estigma de salvar o mundo. Né. Mas pelo menos o que ta ao meu alcance eu busco fazer, mesmo. Se tiver ao meu alcance, ô lelê, eu arregaço a manga! Eu não me proponho a fazer nada por ninguém. Eu não me proponho a viver a vida da pessoa. Eu me proponho a trabalhá com ela, o que ela ta querendo, sabe? Então quando eu quando eu trabalhava no Agente Jovem, por exemplo, eu trabalhava com os jovens sempre com a seguinte idéia. O Agente Jovem, a idéia do Agente Jovem era fazer o jovem como uma pessoa que vai se perceber como cidadão, morador de favela, e a partir dessa percepção o que que ele vai fazer pra transformação da comunidade em que ele vive. Eu nunca me propus a fazer pelos jovens. Se ele quer buscar a transformação da comunidade de alguma forma, eu posso contribuir pra que ele execute, eu nunca me propus a executar pra ele. Se essa pessoa ta pensando que eu vou atrás da cesta básica pra entregar pra ele, pra ele só comer, aí eu vou lá, cozinho, ele come - totalmente enganado, redondamente enganado. Eu me proponho, junto, ir lá junto e plantar a semente. Ir lá, junto, e colher. Ir lá junto e debulhar o milho. Ir lá e cozinhar. E me proponho também a comer junto com ele. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu tô muito feliz, extremamente feliz, porra, a maior felicidade da minha vida é hoje em dia é eu ter dois ex alunos meus que fazem, tem a função que eu executei um dia. Na casa Santa Paula uma ex aluna minha é educadora, no Agente jovem, um aluno meu, o William tá sendo o maior orgulho, hoje em dia, ele é educador. E ele me tem como referência. Ele constantemente me liga e fala, ao invés de lá pro chefe dele. A Jose fala muito que eu tenho dedo de Midas – é Midas? Aquele que tocava e virava ouro. Se não me engano é Midas. Ela fala que ela tem a impressão de que tudo que eu toco vira ouro. Sabe. Aí fui avaliar outro dia, assim, ‘porra, não que é mermo?’. A Casa Santa Paula, durante os cinco anos que eu trabalhei lá, a Casa Santa Paula foi referência de trabalho comunitário aqui na comunidade. Fui trabalhar no GAC23, aí dentro do GAC, eu fui trabalhar como secretário, mas na realidade eu fiquei conhecido pelos alunos, pelas mães pela a minha forma de lidar com as crianças, eu brincava junto das crianças, me jogava com elas. O Agente Jovem era um projeto piloto vinculado à Prefeitura, e aí durante os três anos que eu 23 Grupo Amigos da Criança 40 trabalhei, durante muito tempo, durante os três anos, o Agente Jovem que eu trabalhava virou referência na cidade de trabalho de núcleo de Agente Jovem que tava dando certo. Uma conquista que eu tive também foi numa época que a gente tava divulgando o Agente Jovem na comunidade, pra entrar novos alunos. A gente tava divulgando aí e os bandidos parados assim, e chamaram, a gente divulgava geralmente com os meninos. Aí os bandidos me chamaram; ‘vem, cá, ô colega, vem cá!’. E eles armados. Uns cinco ou seis. ‘Aí, véi, quê que cê ta fazendo aí na comunidade?’ e eram os que vigiavam, os que ficavam lá armados, olhando a gente pela janela. Tinham seis ou sete janelas, em cada janela ocupada por um bandido, cada um com duas ou três armas, uma na cintura, geralmente com duas na mão. Sério, seríssimo. Eles pulavam o muro e ficavam lá, hoje em dia tem segurança, o muro aumentou, gradearam e tal. Eu tava divulgando, aí, os caras me chamaram: ‘que que cê ta fazendo aí, colega?’. Aí eu cagando na calça. Os cara tudo armado, cinco ou seis, o chefão deles me chama. O chefão deles da idade dos meus alunos. O chefão: ‘Que que cês tão fazendo aí?’. Eu falei: ‘é porque eu tô divulgando o Agente Jovem’. ‘Aquele curso que cê da aula lá?’. ‘É. Tô divulgando, vai ter vaga e tal’. ‘Nó, véi, é verdade? Como é que faz pra eu entrar?!’ Aí eu falei: ‘Ai, meu deus do Céu, se esse cara armado começa a freqüentar o núcleo eu tô fudido porque os bandido, o pessoal que ta em guerra com ele vai ficar sabendo que ele lá dentro, vai entrar e vai sair dano tiro em todo mundo, então a polícia vai saber. ô, que que eu faço?’. Não. Normalmente, é um jovem, normal. ‘Seguinte, que que cê faz: cê tem que levá a sua carteira de identidade ou a sua certidão de nascimento, cê tem que preencher um questionário lá, cê tem que ir lá preencher um questionário.’ E ele todo empolgado, os meninos tudo empolgado lá, me olhando. ‘E cê tem que levar um comprovante de que cê ta estudando. Sua declaração escolar’. Aí, ele bateu a mão na testa, sabe: ‘Porra, véi, eu não tô estudando!’. Aí, eu falei ‘ah, não seja por isso. Você faz a sua inscrição, se você for selecionado, a gente encaminha você pra escola’. Aí ele me disse: ‘Sério, velho?! Sem brincadeira? Cara, na boa, véi, você é bom professor demais! Aqui, cê acha que eu vou lá pra poder ficar lá vigiando ocês e tal?! Eu não vou não. Eu vou armado lá porque se o povo lá que a gente ta em guerra aparecer, a gente tem que se defender. Cê sabe disso, né? Mas eu vou lá pra poder ouvir cê dando aula, na boa mesmo.’ E era uma época que a Prefeitura não mandava professor, era uma época que eu ficava os três, os três dias, os meninos tinham aulas os três dias, eu ficava os três dias com os meninos. Eu e a outra educadora. Eu e a outra, e as outras educadoras. Então, a gente ficava sozinho. A prefeitura não mandava, então a gente tinha que dar atividade, a gente tinha que dar a dinâmica e tal. Aí depois ele parou e falou assim ‘poxa, véi, aqui, eu não vou fazer a inscrição lá com ocê não, vou continuar indo lá, fico na janela e tá, porque, assim, se eu fizer inscrição nesse curso, vou trazer complicação procês Eu não quero atrapalhar ocês não. Porque a polícia vai começar a ir pra lá, os bandidos vai começar a dar tiro lá - aí vai querer pegar ocês também. Eu não quero trazer problema procês não. Faz assim, cês continua dando aula, que cês tem o nosso aval. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter o curso que cê dá, eu não taria nessa vida não.’ E eu: ‘Ai!’. Um alívio, né, por ele perceber que eu não tô querendo roubar as ovelhas dele. E me ter como referência também. ‘Ele faz um trabalho legal que se eu tivesse tido oportunidade’, e aí de que forma trabalhar com eles? Eu fico o tempo inteiro me perguntando de que forma inserir eles, sem prejudicar porque, eu tenho trânsito, eu e algumas lideranças comunitárias, são poucas pessoas que transitam em todas as comunidades, tranqüilamente. E eu sou uma das poucas pessoas que faz isso. Transito em todas as comunidades, tenho respeito das lideranças e deles. Por exemplo, eu não sei quem eles são, mas eles sabem quem eu sou. E isso, pra mim, tem um significado tão grande, pra mim ter esse tipo de respaldo, da comunidade. Esse tipo de respaldo, da comunidade em geral, desde um simples pedreiro que é pai de um aluno, de um ex aluno meu, que me para na rua pra poder falar comigo e dizer que o filho dele consegui um emprego, sabe. Que eu ajudei ele muito, o filho. Que o filho dele tava desencaminhado. Já aconteceu isso, 41 de um pai me parar, com o olho cheio d’água ‘muito obrigado, por você ter entrado na vida do meu filho. Meu filho entrou naquele curso que você dava e ele depois quis saber da vida. E ele tava começando a querer mexer com outras coisas. Depois que ele começou a conviver com você, ele não para de falar de você, ele não para de querer ir pra faculdade, estudar, trabalhar, de ser uma pessoa honesta.’E o pai, com olho cheio d’água, me agradecendo. Eu tenho vontade de chegar pro meu pai e falar isso: ‘sabe, pai. Pra isso que eu estudei, foi pra isso. Você criou duas famílias. Eu estou educando vários jovens, estou transformando’. Aquela, o início do espetáculo, que é a história do José e da Maria, de dar banho e tal, é a história da minha mãe. Que meu pai chegava tão bêbado em casa e a minha mãe dava banho no meu pai. 4.5 UNS DIAS CHOVE24 Mas, uma experiência horrível. E o conflito do lado humano, do lado racional e o lado da religiosidade. Tipo assim, foi tão, tão forte pra mim essa experiência, né? Essa notícia que o dia que/porque a minha mãe foi assistir o espetáculo, chegou dois quarteirões, faltando dois quarteirões pra ela chegar a ver a nossa apresentação, ela deu a parada cardíaca e morreu. E ela já tinha visto essa apresentação várias vezes e ela quis ver nesse dia porque eu ia falar, era o dia do debate com as escolas e tal, e eu ia falar. Por isso era especial pra ela. O orgulho. E aí, assim, eu, um rapaz de 26 anos, morando com a mãe, muito cômodo pra esse rapaz. Mas na realidade quando eu aceitei essa posição - que eu fiquei, eu optei por não casar, eu optei por não ter filhos - meio que no inconsciente (hoje em dia eu vou fazendo algumas leituras, exatamente por causa da ausência) eu tenho a impressão que eu optei (como eu ainda sou muito jovem, eu tenho muito o que viver) eu posso realizar muitos sonhos da minha mãe. Sonhos que ela sempre quis ter e que pra mim serão mais fáceis de realizar. E eu posso tentar conciliar as duas coisas, sabe? Então, dar uma casa pra ela que ela pudesse passar pano, é o começo sabe? Ela começar a viajar, assistir um teatro. Entrar no Palácio das Artes pra ela foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela assistir um espetáculo da Companhia de Dança do Palácio das Artes, pra ela, foi o máximo. Saiu falando demais. Ela viu Estrela Dalva com a Dalva de Oliveira, ela saiu comentando e falando, não teve coisa melhor pra ela. Ela assistiu o show do Antônio, amou. Então, ela vivia muito intensamente tudo. E aí, esse momento, assim, é um momento foda. Eu me deparei, na rodoviária, querendo comprar uma passagem pra sumir, começar do zero - já que não tem mais razão de tar aqui, não existe mais motivo, começar do zero. Aí, na hora, eu tava com dinheiro pra comprar passagem, olhei o folheto assim, saí fora, deixei o pessoal ir, fiquei olhando aquele folheto assim: as belezas que tem no Brasil, a Amazônia, Pantanal, Ouro Preto, Bahia, Rio, sabe? Comecei a fazer uma leitura assim, como se eu fosse o Brasil e eu não me conhecesse, sabe? Eu sempre conheci algo externo era algo quase que superficial, no sentido assim, era sempre pra alguma coisa de fora que eu fazia, onde que tava minha realização pessoal também? Fosse pra onde eu fosse, isso ia tar me acompanhando. Eu não ia deixar de ser nunca filho da Dona Rosa se eu fosse pra Itarumiri do Mato Dentro, nem sei se existe. Nunca, nunca ia deixar, essa lembrança ia tar me acompanhando, então aí eu cheguei a conclusão a partir daquele momento, que eu precisava me conhecer um pouco mais. Eu me deparei com essa situação eu posso me deparar com situações também é, tão difíceis, é, eu acho que mais difíceis eu acho que não, sinceramente, não tem. Pelo menos eu acho que não. Mas situações, assim, tão parecidas que eu preciso nesse momento ao invés de fugir dela, de vivê-la. Porque aí quando vier uma outra situação parecida, é, eu vou conseguir perceber essa experiência anterior e usá-la quando surgir o momento. 24 O relato continua após o falecimento de Dona Rosa, mãe de Nil. 42 Aí eu, naquele conflito. Eu tô bem o tempo inteiro bem, de uma hora pra outra vem, pum, aquele vazio, nada. Não tem motivo, não tem norte. A Maísa, minha irmã de onze anos, o meu pai, alcoólatra, bebe pra caramba, de cair, eles tão morando comigo. Agora eu sou responsável por eles. Eu optei por não ter filho, por quê que a vida colocou a minha irmã pra eu ter cuidar dela sendo que eu não tenho filho? O pensamento humano mesmo. Nó, eu optei por ser solteiro, por viver a minha vida, e agora eu vou ter que ficar cuidando da minha irmã como se fosse a minha filha? Eu me recuso a ter esse papel de pai. Mas eu sei o quão importante é pra ela ter uma disciplina de tomar banho no horário, porque se ficar mais tarde vai fazer frio, ela vai pegar uma gripe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... Sabe? Eu sou educador social, eu trabalho/me dê 25 jovens pra eu ficar uma tarde com eles, pra eu ficar todas as manhãs com eles fazendo um trabalho, mas não me dá responsabilidades de pai não que eu não tenho o mínimo de saco. Antes desse acontecimento eu vivi uma fase, uma crise muito grande. Porque eu só saí dessa crise depois que eu fui pra Guarapari, na semana santa. Lá eu, eu comigo mesmo, todos os dias, de sete até lá pelas dez horas eu ficava sozinho, na praia. Andava, catava conchinha, entrava no mar, quando o sol tava mais quente. E uma praia deserta quase - não é deserta porque tem um tanto de casa perto. Mas é tão comum pra eles de ter a praia dentro de casa praticamente, ninguém sai sete horas. De sete às dez a praia ficava por minha conta. Aquela praia enorme, e eu andando na praia quase toda, sozinho, sozinho. Aí eu comecei a conversar com o mar, a brincar com o mar, sabe? Na verdade eu tava conversando era comigo. E foi uma experiência tão gostosa que eu comecei a avaliar tudo, principalmente essa coisa de sentimento. Por que que eu tenho tanta dificuldade de viver sentimento. Por que que eu fujo dos sentimentos? Sabe? Hoje, por exemplo, eu tô sentindo essas coisas pela morte da minha mãe. É exatamente porque foi depois de Guarapari. Eu penso que se tivesse acontecido antes de eu viajar, sei lá, ia dar um câncer dentro de mim, ia dar qualquer outra coisa e eu não ia ficar inteiro. Eu não ía fingir que eu tava inteiro, eu ia ficar inteiro. Mesmo. Porque era uma crença muito/eu acreditava naquilo por completo. Entende? Só que aí o mar me jogou tudo, virou tudo. Era como se fosse um barco no meio no mar, veio uma onda e tchum... joga todo o conteúdo que tava ali no fundo do mar? A impressão que eu tenho depois que eu viajei. E foi uma experiência inesquecível porque, por exemplo, foi a primeira vez que vi o mar, com 26 anos. Um rapaz de 26 anos, nunca fui a praia. Nunca tinha ido a praia. Foi uma experiência muito legal. O Paulinho, ele ta formando agora em psicologia também, ele falou: ‘olha gente, não olha por mar que eu quero apresentar vocês uma praia muito mais bonita, não olha pro lado esquerdo, não olha pro lado esquerdo’. E a gente dentro do carro curioso, porque a gente não conhecia, a gente teve que tapar o olho assim pra não olhar. E ele levou a gente pra um parque ecológico. Simplesmente não tem casa nenhuma perto da praia, só mato, só caranguejo. Só o mar e você. Entende? Assim, mais ninguém, mais ninguém. Faltava aproximadamente uns trezentos metros, ele mandou a gente fechar o olho e começar a ouvir o som do mar, que tava alto pra caramba: ‘ouça o som do mar, que que ele diz pra você?’. E aí a gente foi, de olhos fechados, e ele puxando a gente, de olhos fechados e ele foi fazendo um trabalho da gente internalizar isso, essa experiência. O significado ta tendo e tá. E aí a gente só ouvindo o barulho do mar, e a gente numa vontade de abrir o olho, sabe, assim, aquela coisa assim: ‘se controla que cê vai ter cinco dias pra ver o mar, então esse momento ele tem que ser especial’. Então eu acho que foi especial exatamente pela forma que eu conheci o mar. Eu acredito que simplesmente se ele tivesse chegado e abrido a porta do carro e: ‘vão pra praia?’. Tum! E ia pra Santa Mônica, eu não teria feito essa avaliação. Porque, aí, quando a gente chegou lá, ele me mostrou uma forma nova de curtir as coisas, sabe? De curtir o mar, por exemplo, como conhecer o mar. Conhecer o mar a partir de mim. ‘O que que ta sendo isso pra você? Como, o que que cê ta sentindo nesse momento? Sinta. Ta dando vontade de gritar? Grita. Ta dando de vontade de desesperar, de chutar alguma coisa, chuta. Sinta isso. Sinta essa experiência’. 43 A gente de olho fechado, sentindo. Aí quando, aí ele colocou a gente em frente o mar assim e falou: ‘abra os olhos’. Nossa, foi... Aí... aí ele falou: ‘antes de vocês abrirem, eu vou mandar/quando eu mandar vocês abrirem os olhos sinta com toda intensidade que vocês quiserem sentir essa experiência, sinta. Se permita sentir.’ E é aquela coisa, assim, se ele não tivesse feito isso, eu ia ficar maravilhado com o mar, mas imparcial. Entende? ‘Nó, gostei, bonito e tá’ – totalmente imparcial. Mas ele mandou a gente sentir. Aí eu comecei a entender o por quê que o ser humano tem sentimento. E por que que que eu tava querendo ser diferente desses seres humanos. Cada experiência é uma experiência. Eu fico extremamente nervoso pra poder entrar no espetáculo. Só que ficava nervoso duas, três vezes mais do que todo mundo que tava nervoso, porque eu ficava nervoso por eu estar nervoso. Sabe? É uma coisa, tinha que ser uma coisa tão comum. Pô, eu sou ator, eu vou ficar nervoso, mas que saco, pô, eu tô tremendo de nervosismo. Principalmente na época da estréia, tava, assim, uma pilha, porque eu tava nervoso demais e aí eu dupliquei meu nervosismo porque eu tava nervoso. Eu fico, eu ficava com raiva de sentir sentimentos. Então, a única pessoa que eu demonstrava sentimento mesmo, assim, de demonstrar, de beijar, de dizer, era a minha mãe. Eu não tinha problema algum pra fazer isso, entende? Então, hoje em dia, eu vejo o sentimento de outra forma, sabe? E ainda bem que eu fui pra Guarapari, eu avalio assim, ainda bem, porque hoje em dia eu quero sentir tudo o que eu tiver de sentir. Eu tava numa fase assim, muito – depois que a minha mãe faleceu - muito pra baixo eu tava tão pra baixo porque três fatores principais: primeiro fato – minha mãe faleceu; segundo fator foi que eu tive que ser ‘o’ forte; né? Cê foi lá no enterro: minhas irmãs todas juntaram em cima de mim, então, assim, eu tava escorando todo mundo, eu não tinha ninguém pra me escorar, aí eu senti essa sensação horrível de abandono, sozinho, essa sensação que cê ta sozinho. Em tudo o que, durante esse tempo, eu pude sugar dela, então, eu me apaguei nos momentos bons, nos momentos felizes, entende? O Rômulo falou muito comigo que uns dias chovem e outros dias fazem sol. E eu tentava analisar, depois que eu perdi minha mãe, diretamente indiretamente eu não perdi eu ganhei ela de forma diferente. Foi muito difícil pra mim conseguir perceber isto. Mas eu tenho, eu sempre tive uma facilidade espiritual de entender a morte como/eu ouvi várias vezes o povo japonês dizendo que o povo japonês eles têm uma tradição de que quando nasce alguém eles choram, quando morre eles fazem festa. No sentido de que o nascer é o sofrimento. O morrer é a fase que você passou para poder buscar uma próxima evolução. Não sou espírita, não sou católico, não sou evangélico, eu tenho a minha religiosidade. Isto pra mim é importante, eu acredito em alguma coisa, e atualmente eu tenha acreditado muito no meu trabalho. O meu trabalho é a minha religião atualmente. Com ele é que eu busco as minhas alegrias, o meu prazer, o meu tesão, os meus romances, tudo interligado, busco e tenho buscado muito isto, e também os meus conflitos, naturalmente. Viver, conviver em grupo é algo, muito, muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Depois dessa perda maternal que eu tive, tão grande, tão forte - eu comecei a deixar de me apegar às coisas, entende. Alguns sentimentos que pra mim de repente fluíam com uma velocidade muito grande, como sentimento de rancor, sentimento de ódio, sentimento de tristeza, eu não dou muito importância. A importância que eles vêm dizendo, pedindo, eu não dou tanta importância. Porque foi uma leitura que eu fiz da vida de minha mãe, ela sempre foi muito apegada a tudo. Nossa Senhora, tudo! Ela era costureira, exatamente pela vida dela que foi muito difícil conseguir as coisas, o fato dela ter conseguido determinada coisa, ela se apegava de tal forma a ponto de achar que se ela jogasse fora poderia fazer falta. Se ela desse pra alguém mais a frente ela ia precisar, geralmente nunca precisava. 44 Ela era do tipo de pessoa que consertava uma roupa, sobrava um pedacinho do pano da roupa, ela não jogava fora. Tinha uma caixa dessas televisões de 34 polegadas (39 34, sei lá), ela enchia de retalho algum dia fazer uma almofada, fazer algum dia, ‘vou fazer algum dia’. Ela ganhou uma jarra, um conjunto de copos com uma jarra, ganhou no dia das mães e ela tava guardano a jarra pra poder fazer suco no Natal. Natal desse ano, entende. E ai a gente começou a perceber, pôxa, essa jarra não vai ser usada, nunca, minha mãe nunca vai fazer suco nela! Ela guardou pra esse fim ela não chegou para esse fim. Então eu to nesse momento vivendo muito hoje sabe eu quero aproveitar bem quero fazer, quer aproveitar bem o meu hoje. Não quero acumular nada, não quero ficar guardando coisa pra eu aproveitar à frente, lógico que o que eu faço hoje é investindo numa qualidade, se por acaso, amanhã eu acordar eu ter uma qualidade de vida, né, eu poderia muito bem fazer uma leitura inversa. Minha mãe apegou tanto às coisas, acumulou tanto as coisas e não aproveitou, então não adianta eu acumular, não adianta eu investir. Cruzar os braços, e ficar, ah, eu vou morrer mesmo. Né? Eu poderia ter feito essa leitura - que eu comecei a fazer também. Ah, eu vou morrer mesmo, minha mãe acumulou tantas coisas, acumulou pessoas à volta dela e hoje em dia num ta aqui pra poder aproveitar. Essa casa, comprei essa casa pra ela, não foi pra mim. Cê lembra na entrevista, eu falano, ai terminar de pagar essa casa e comprar uma pra mim, né? Então, comprei foi pra ela, e ela não aproveitou, ficou dois anos na casa e depois foi embora, né. Agora, sem sombra de dúvida, foram os anos mais felizes da vida dela, não tenho dúvida, sabe, não tenho dúvida. Aí eu to numa fase meio que de eu não vou recuperar o tempo que perdi. Não vou. Isso eu tenho consciência. Não to querendo recuperar o meu tempo, eu to querendo agora. Viver o meu atual tempo, esse o tempo que eu to vivendo, é esse o momento que eu estou. Então eu quero mesmo fazer uma faculdade, eu quero mesmo trabalhar o trabalho do Grupo do Beco. Eu to nessa fase, assim, de acreditar no trabalho. E, aí, acreditar no trabalho me remeteu a isto, assim. Quais são as bases que eu tenho? Eu já perdi um trabalho de contação de história na Faculdade de São Paulo, que eu poderia ganhar é me parece na época que eram 5 mil reais por ano, no mínimo. Não era pra ser professor, era pra ser oficineiro em Faculdades, que uma Faculdade estava organizando. E aí minha mala tava pronta, meu currículo pronto, e quando me perguntaram qual era o estudo que eu tinha, qual era a Faculdade que eu tinha? Nenhuma! Que que eles fizeram? Pegaram alguém que tinha Faculdade. Entende? Júlio e Ana, que são os diretores do espetáculo, falava que nos momentos mais confusos, nos momentos de atribulações, nos momentos de discórdia, nos momentos difíceis é que nasce uma estrela saltitante. Eu, sinceramente, eu achava muito bonito tudo isso, muito bonito. Mas, o que isso quer dizer? Hoje em dia eu entendo um pouco. Sabe? Acho que estou meio nessa fase assim eu me tornar uma estrela. Sabe? Metaforicamente falando! E de começar a saltitar, sendo essa estrela. Porque é um processo individual. Eu, sinceramente, eu gostaria que não tivesse acontecido, mas já que aconteceu, vamos inverter a situação. Vamos repensar a vida. Eu sempre aprendi muito com o que os outros me falavam, eu não esperava acontecer comigo pra que tivesse credibilidade. Só que agora, nossa, é um aprendizado muito maior que qualquer observação, entende? Decididamente, eu quero estabelecer o meu trabalho. Não tenho certeza, atualmente se eu vou trabalhar pelo Grupo do Beco durante muito tempo. A impressão que eu tenho é que eu vou estabelecer o trabalho do grupo, vai tem uma estrutura, vamos estruturar o trabalho do grupo, eu acho que neste momento eu vou tá saindo fora. Assim que o grupo tiver esta estrutura eu vou tá saindo foram. Eu to muito assim, como eu não tou apegado às coisas, não tou me apegando tanto. Eu quero viajar mais, eu quero muito ao contrário do que eu era antes. Eu era caseiro, sô caseiro, minha personalidade. Gosto muito de ficar em casa lendo, ficar estudando, bem dentro do meu mundinho. Detesto viajar, sério, não é o fato de conhecer outros lugares, o trajeto, ficar 45 dentro do ônibus, vira pro lado, vira pro outro. Ah, por que você não olha as paisagens, não vejo graça nenhuma de ficar vendo as paisagens correndo – pra mim não vejo muito graça de ficar viajando, principalmente dentro de ônibus. Adoro, fui pra Guarapari, pra mim foi a mudança da minha vida. Nossa ! Minha vida foi antes e depois de Guarapari. Até mesmo essa vivência hoje, essa minha forma de administrar minha vida atualmente ela diz muito da minha viagem a Guarapari. Eu nunca tinha entrado no mar, até então eu tava brincando na praia de Santa Mônica - que era muito levinha. Aí, chegando na praia dos Frades, vem aquelas ondas enormes e a minha relação com o mar ela começou a ter essa relação de/eu não era um visitante, eu fazia parte dele. Aquela coisa de você olhar pra linha do horizonte, você sabe que depois daquilo você tem muito mundo pela frente e que é muito maior do que aquele mundo seu que você vive. Eu comecei a brincar com o mar, comecei assim, ai o chegou um momento ficou ralo, ralentou as ondas e fiquei: ‘quê isto, mar, joga a onda! Ai! Muito fraquinha! Vão bora! Tá muito fraca...’, comecei a ameaçar a desafiar o mar. A impressão que eu tive é que ele reagiu. Ele reagiu de tal forma que ele mandou uma onda. Aí, eu: ‘oba, é essa aí’. E fui nadando contra a onda. A onda veio assim e chwaaá, a impressão que eu tive é que eu estava dentro de um liquidificador, desesperei no mar, mas assim, desesperei conscientemente. Prendi a respiração, mas eu não tinha controle dos meus membros, meus braços foi prum lado, eu tava tendo a sensação que eu estava perdendo os meus membros, minha perna, minha cueca veio parar cá em baixo no joelho, meu pescoço... Quando eu levantei, levantei revitalizado. Na mesma hora eu pensei assim, não se brinca com a natureza - da mesma forma que quando me provoca eu reajo, ele reagiu. Então eu faço parte disso, eu estou provocando a mim mesmo. E a coisa mais feliz do mundo que eu trouxe, essa marca aqui na barriga que é dessa experiência de liquidificador. Eu levantei assim, tava uma ferida, que eu bati de barriga na areia. Teve uma ferida mesmo que começou a sangrar e tal, ai, eu olhei tava sangrando, olhei pro mar, e ‘Hurru, vão embora!’. Entrei pro mar adentro, e lá fiquei com mais respeito, comecei a me respeitar mais. 4.6 ÀS VEZES EU ACHO QUE EU SEMPRE FUI MUITO CORAJOSO Agora, por que que eu eu sou Nil César, por que eu não sou o malandro? O traficante? O que impede o cara que tá traficano também se tornar um Nil César? Por que ele se tornou um traficante e não uma pessoa como Nil César? São perguntas que ficam pairando no ar, não é? Primeiro, isso é visão bem leiga. Nunca estudei essas coisas, até mesmo porque meu tempo pro estudo ele tem sido mais direcionado pro lado artístico. E agora que eu tô começando a fazer mais um estudo pra essa questão mais social. Primeiro, estrutura familiar. Mas você não tinha uma estrutura familiar. Meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, batia nos filhos, minha mãe bebia, ficava bêbada deitada na cama a gente se virava, mas a gente tinha algumas coisas que eu acredito que da família, a gente tinha uma estrutura familiar, a gente tinha bem claro o papel e pai, o papel de mãe, o papel de filho. Nem toda família da favela tem essa estrutura. Se você já tem um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, que você já tá vivendo esse conflito o tempo inteiro, na ausência dele um vai ter que fazer os dois, e aí não consegue. Outra coisa, a minha mãe não trabalhava fora, então ela tinha tempo pra proibir a gente de sair na rua, por exemplo, ela conseguiu controlar os filhos dela dentro de casa. A gente não saía! De jeito nenhum! A gente tinha horário para chegar em casa da escola, e a gente tinha horário pra poder sair pra escola. E aí, uma coisa bem individual, eu sempre fui muito seletivo nas minhas amizades, acho que exatamente pela forma de criação. Uma criança que é criada quase que trancafiada, né, exatamente por causa do medo da minha mãe, do meu pai, da gente se tornar um malandro, se tornar um bandido, foi um passo pra eu não me tornar um. Faltou muito pouco. Tive que resistir. Até hoje eu resisto muito pra não ser um. Que o mundo ele muda tanto, a gente a nossa cabeça muda tanto, pelo que eu tenho de planejamento pra minha vida, eu nunca vou me tornar um, eu 46 quero sempre tá combatendo as pessoas que estão encaminhando pra esse meio, né? Mas, o ser humano ele vive de contradição. Hoje em dia em tenho essa consciência, nos próximos cinco anos, eu tenho bem claro isso pra mim, entende? Eu tô dizendo, eu tô dizendo, é a vida é uma inconstância completa. Aí, eu tive essa estrutura mínima. Aí por causa dessa/não sei se era um medo que eu já tinha mesmo nos momentos que eu tinha uma liberdade de escolher meus amigos, já trazia a voz do meu pai, a correia da minha mãe, junto comigo - quando eu chegava perto dessas pessoas. Então, na escola, eu brincava, vinha da escola com alguns meninos. Quando eu percebia que o menino tava fazendo alguma coisa, eu já saia de fininho. Sempre fui muito covarde. Às vezes eu acho que eu sempre fui muito corajoso. Na leitura assim da sociedade, eu sempre fui muito covarde. E, enquanto os meninos da turma tavam andando de trazeira, eu sempre tinha medo de que eles caissem e eu não andava. Na escola tinha um muro que meus amigos pulavam e aí, tinha um pé de manga na casa do vizinho, aí eu não pulava. Ficava do lado de cá pra receber as mangas. Eu tinha medo de pular o muro e eu fosse flagrado. Várias vezes me ofereceram maconha me ofereceram drogas eu tinha medo de usar e virar um dependente. Então eu preferi falar ‘não, não vou usar’. Por que eu tinha medo - exatamente por causa da minha referência, né? Eu sempre fiz uma leitura do mundo assim, de que forma eu poderia aproveitar melhor pra mim pro meu dia a dia, por exemplo. Eu sempre quis ser o contrário do que o meu pai foi. Então ele bebia muito, um ignorante, os filhos não podiam estudar, tinham que trabalhar. A vida inteira tinham que trabalhar. Eu trabalho desde oito anos de idade. Bebia muito, batia na esposa. Eu sempre, a primeira coisa que eu cortei na minha vida, bebida. Bebida ou qualquer outra coisa que me causasse uma dependência química que depois eu não tivesse a liberdade consciente, de abandonar, de sair. É então isto pra mim foi muito marcante. Na fase da adolescência, que foi a fase que eu bebi, eu experimentei o álcool e que não foi uma experiência muito boa pra mim, mesmo. E foi nessa fase que o que eu fiquei muito tentado a ser um bandido, a encaminhar para o mundo das drogas, a encaminhar pro mundo da violência. E aí, paralelo a isso, eu conseguiu ver, por exemplo, na escola, que eu sempre gostei de estudar. Eu vi na escola que não era legal, que não era certo esse sentimento que eu tava tendo pela minha tia, e aí que eu decidi fazer, eu tive acesso ao álcool, e na fase da adolescência você se revolta contra Deus e o povo. E ai eu me revoltei contra a minha família. E aí aquela coisa de ficar preso dentro de casa o tempo inteiro, eu quebrei isso, eu tinha horário pra chegar, eu quebrei esse horário. Meio que enfrentei na marra, mas eu apanhei muito. Eu comprei essa briga, eu comecei a andar com uma turma. O meu senso de seleção pra amigos, na adolescência, a gente perde um pouco, acha que tá todo mundo contra a gente e aí os amigos que se aproximam da gente, as pessoas que compreendem, que entendem a gente, são exatamente as pessoas que oferecem oportunidade de se sair temporariamente de seus problemas. E as pessoas que são causadoras de seus problemas são exatamente as pessoas que te oferecem solução, mas você na adolescência, você não percebe isto. Eu não fui um adolescente muito diferente não, por quê? Porque eu cedi, eu fumei cigarro Belmont, muito. Eu fumei dois meses, mas que pra mim foram como se fosse a vida inteira, porque eu fumei escondido de todo mundo, mas não dos meus amigos. Então tinha vez, tinha noite que eu fumava quatro maços de cigarros, eu saía acendendo cigarro atrás de cigarro, cigarro atrás de cigarro, cigarro atrás de cigarro. Nos fins de semana, eu ai pro som. Tinha som aqui na comunidade e ai, a gente encontrava, não sei como, mas a gente descobriu umas casas estranhas aqui no morro, que tinha buteco no fuunndo do corredor do beco que fecha a casa. Então, lá no final da casa a casa, lá atrazão, atrás dessa casa ainda tem uma budeguinha, a gente descobria. E lá a gente bebia Paizano, bebia pinga, bebia vodca, bebia cerveja. E aí tinha 47 também acesso a cocaína, a maconha só que cocaína e maconha eu nunca usei, as pessoas a maioria das vezes não acreditam, eu sinceramente, acredite se quiser, foda-se, acho que já falei essa mesma frase, na última entrevista. Eu não tenho que ficar provando pra ninguém porra nenhuma. É, mas eu nunca usei, não tenho a mínima curiosidade. Eu, de vez em quando eu, dou uma caidinha pro vinho pra vodca, mas uma coisa que eu sempre fiz muita questão muito questão foi de ser dono da minha situação. Da minha lucidez. É meio estranho, mas eu sempre quis ter consciência as minhas atitudes. Mas nessa fase, foi uma fase tão difícil porque era uma fase que eu comecei a enfrentar meu pai, foi a fase que meu pai começava a me bater com foice, ele pegava a folha da foice, ele me batia com a foice. Batia, falava ‘oh, da próxima vez, eu vou bater é com a lâmina e é pra rachar a sua cabeça’. Eu era ouvia isso, e, pô, isso não era fácil, mesmo. E aí bebia que era uma coisa horrorosa, minha mãe bebia, meu pai também bebia e foda-se! E ‘quem é a senhora pra falar pra eu não beber? Quem é o senhor pra falar pra eu não beber?’. Ai, um dia, eu bebi muito. Misturei paizano com vodca, com pinga. Atualmente sou apaixonado por vinho, mas eu tenho um problema muito sério com vinho. Eu tenho que beber até determinado momento se eu passar, geralmente, do terceiro copo, quando é no dia seguinte eu não lembro de mais nada - eu fico bêbado de dar amnésia. Esqueço completamente tudo que eu fiz. Eu não armo barraco, eu não fico alegre, eu não fico rindo, eu sou assim. Eu falo com as pessoas que eu que eu fui feito com meu pai e minha mãe bêbada, então eu nasci bêbado. Aí, bebi tanto, de tal forma, eu cheguei em casa praticamente batendo em todos os móveis em todas as paredes. Aí, minha mãe: ‘ô. Nilton, é você?’. ‘Sou eu, mãe’. Quando eu deitei na cama, a casa começou a rodar. E foi rodando e pareceu, a sensação que eu tive, eu vi o telhado fazendo tipo um funil, entrando dentro do meu olho, começando a rodar para todos os lados, sabe, aspiral. Eu tive a sensação que eu tava flutuando, só que era uma sensação horrível porque eu não tinha domínio disso, eu não tinha controle disso, e aí eu comecei a vomitar, aí eu fui vomitano. Pra chegar do meu quarto até a cozinha, eu precisava passar por um, dois, três, quatro cômodos da casa, e eu saí vomitano a casa todinha. Quando eu olhei pra trás eu vi a minha mãe limpano. Essa cena eu nunca vou esquecer! Eu vomitando e minha mãe indo atrás limpando, caladinha, quietinha. Limpano com a vassoura aquele cheiro horrível de comida com álcool. E foi limpano, limpano, varrendo, passando, pegou o pano no chão, foi jogando, passando o pano no chão. O chão lá de casa era de concreto, só concreto, o cheiro não saía tão bem. Era difícil de limpar. Beleza, fui pra cama dormir. Acordei de madrugada, aquela ressaca, sabe, levantei e comecei a ouvir tipo um miadim de gato. Fui aproximando, chegano assim. Pra chegar até o quarto de minha mãe precisava passar por dois cômodos da casa, e eu só ouvindo aquele miadinho. Quando eu chego na porta do quarto, a minha mãe ajoelhada, no chão. Com os cotovelos sobre a cama dela, de mãos postas, chorando - desesperadamente, convulsivamente. Choro convulsivo, chorano e pedino a Deus, porque ela não ia aguentar aquilo durante muito tempo, que não bastava ela, que não tava aguentano mais ser uma bêbada do jeito que ela era, não bastava o meu pai, agora o filho, ela ia ter que aguentar o filho também, que mãe nenhuma gosta de ver não criou o filho pra isso, sabe, e ela sempre se preocupou muito comigo, que que houve, por que, e pedindo explicação pra Deus, sabe? Depois disso eu nunca mais fiquei bêbado, nunca. Bêbado, bêbado de ficar caído, nunca. E a partir daí eu decidi ser um homem, e ser homem pra mim, sinceramente, falo rasgado mesmo até mesmo com meus alunos - não é cê pegar o seu pinto e enfiar dentro de uma perereca não. Não é cê conseguir fazer filho não, isso pra mim não é ser homem, sabe? Ser homem não significa questão sexual também não - se eu sou bi, se eu sou gay, se eu sou transvestir, seja o que eu for - é questão de atitude, sabe, é de você como indivíduo, dentro desse mundo, entende? E aí, nesse momento, eu optei por não beber mais. Mas eu tava muito tentado a solucionar os 48 meus problemas, eu pensava muito em suicídio na época, né. Porque apanhar do pai, com foice não é algo muito fácil, meu pai não gostava de mim. E a mãe se ela entrasse no meio, ela apanhava também. Pô, o que eu tô fazendo nesse mundo, merda nenhuma. Então, vaaaaaaárias vezes... eu não tentei, diretamente, por exemplo cortar o pulso, mas eu várias vezes tava assim/eu te contei negócio da passarela. Era uma solução que era possível. Se você se sente uma pedra no sapato de duas pessoas, ainda fica ouvindo da tia tudo aquilo que você ouviu. Eu não tinha ninguém que me ouvisse, por isso, quando a Suzana surgiu foi muito importante pra minha vida. Eu, via por exemplo, os meus amigos de futebol começando a se envolver. Isto é comum, isto é normal, se os seus amigos estão se envolvendo, por que você vai ser diferente? Quem que você se julga pra ser diferente deles? Sabe aquela coisa de cultura, sabe aquela coisa da do oriente médio que é normal, você abrir a perna da menina cortar o clitóris da menina, é normal isso? Na África acontece isso também. Normal, é questão de cultura. Cê imagina uma daquelas mães falarem ‘não, minha filha eu não vou cortar o clitóris dela’, porque que a mãe corta? Se a mãe não cortar a filha não vai casar, entende. Então, como é que a sociedade vê, por exemplo, do jovem que tá envolvido no tráfico - de forma, assim tão: ‘nossa, que absurdo! O menino no tráfico!’. Não, ele é educado pra isso. Ele tá vivendo numa situação que é normal. A gente tá trabalhando agora com jovens, com crianças de 10 a 15 anos. Eu tô sendo coordenador do projeto, eu não tou tendo contato direto com os meninos, mas o Bruno tá com uma turma que a menina ela tem 15 anos e ela é praticamente uma puta. Uma puta, sabe, agora, vão ficar jogando pedra na menina? No convívio dela aquilo é normal, se ela for diferente daquilo ela vai ser colocada fora da turma dela. Então ela tem que ser aquilo. Aí depende, agora, o que a gente vai fazer com esse dado. A gente descobriu que essa menina por exemplo ela tá louca pra transar com o Bruno que é professor dela. Então, tá cantano o Bruno de todas as formas, de todas as maneiras - como trabalhar, né? Então, quando surgiu os meus colegas me oferecendo drogas, me oferecendo armas me oferecendo essas coisas, por que eu tava negano? Quem que me julgava? Entende? Quando eu negava, quando eu falava que não, eu falava um não com medo de apanhar depois. Ah, então, tem que pegar esses meninos e bater de, de, de foice, se isso desse certo as penitenciárias estavam todas vazias. Acho que existe a discussão, ela parte exatamente pra um trabalho desde a fonte, desde a criança, onde ela nasceu - desde aquele momento tem que trabalhar essa criança tem que acompanhar. Às vezes as ações chegam meio tardias pra alguns. Pra outros no momento certo. E eu acho que foi aí o momento certo da minha vida. Quando eu encontrei o teatro na escola, né? Com onze anos de idade eu vi que existia uma outra alternativa que não fosse aquela que o mundo tava me oferecendo. Eu tive acesso ao teatro na escola, mas não de forma largada como as escolas trabalham. Lá na escola eu tinha um professor que trabalhava o teatro. Não era uma professor de Português que queria fazer um trabalho sobre Camões, e aí pegava e fazia uma coisinha qualquer e montava. Não era professora de História que pra poder ilustrar o Descobrimento do Brasil pegava uma pessoa e fazia Pedro Álvares Cabral, não era assim. Era um professor que a aula dele era sobre teatro, entende? Quando eu recebi isso, quando eu consegui, quando me ofereceram essa outra oportunidade de ver o mundo, aí foi a decisão da minha vida. Foi aí o momento do conflito e da decisão porque de onze a quinze anos foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento de crescimento mesmo, de decisão mesmo. Com quatorze anos, eu bebi, cheguei bêbado. Mas eu acho que eu só consegui voltar atrás porque eu tinha essa outra proposta de vida, esta outra visão que eu tive acesso. Então o meu acesso a outra forma de ver o mundo, que eu sabia, por exemplo, que eu não queria ser pedreiro, entende? Não que ser pedreiro não é digno. Mas eu via o meu pai trabalhano taanto, ele se matava taanto, pra receber uma mixaria pra poder dar educação pros filhos, pra cuidar da família, sabe? E não tinha tempo pra ler, não tinha tempo pra estudar, não tinha tempo pros filhos, não tinha tempo pra esposa, sabe? Os amigos que ele tinha eram amigos do boteco, e arranjava esse tempo pros amigos, entende? Então eu sabia que pedreiro eu não queria ser. 49 Quando eu falo essa questão da referência - meu pai é uma referência pra mim e uma coisa que eu consigo muito captar das coisas - eu tenho essa visão de como buscar, de como aproveitar isso pra minha vida. Eu não queria ser pedreiro, meu pai era pedreiro e ele sofria muito seno pedreiro. Eu não queria beber porque meu pai bebia, sofria muito e fazia muitas pessoas sofrerem com a bebida. Mas eu queria ser trabalhador. Meu pai sempre foi trabalhador, nunca ficou parado. Quando ele ficava desempregado, ele ia pro alto da montanha, pra trás da montanha, ele não ia catar papel. Porque catar papel todo desempregado tava catano. Ele ia atrás da montanha, pegava samambaia, conhece samambaia, conhece samambaia de comer? Pegava samanbaia fazia feixos de samambaia e vendia samambaia, isso ninguém tava fazendo. Catar papel todo mundo tava fazendo quando tinha desemprego. Ele pegava, você pode ver essa mesa por exemplo, foi ele que fez. Essa mesa aqui são duas cadeiras, são duas costas de cadeira que ele achô, como não tem dinheiro pra comprar mesa de cozinha, pegou duas costas de cadeira, ele montou uma mesa pra família. Então quando tava desempregado não ficava à toa. Então eu tive essa referência de trabalho - eu tou desempregado, mas eu não tou morto. Desemprego? Ele comprou no mercado dois coelhos e começou a fazer criação de coelhos, vender carne de coelho pra comunidade. Carne era algo muito difícil, de coelho mais difícil ainda. E teve esse pequeno comércio. Então sempre buscou essa coisa alternativa. E aí somada a esse interesse de mutiplicador, a esse interesse, a essa coisa de ser trabalhador, batalhador, correr atrás, eu entrei pro trabalho comunitário, entende? 4.7 A CIDADE COMO DESAFIO Então as pessoas, lá fora, não aceitam a idéia, não cogitam a idéia de eu gostar do lugar onde eu moro! Entende! Eles: ‘não é possível cê gostar de morar lá! Não é possível.’ Eu acho que, eu não sei, eu tenho muito medo da cidade. A gente sempre, ai, eu tenho medo de subir o morro, mas eu tenho muito medo da cidade. Eu tenho muito medo de ser engolido por ela, dessa coisa do calculismo, tudo é concorrência, tudo. Você encontra uma pessoa, cê conversa com a pessoa, a pessoa já tá querendo te sugar, não como referência mas como concorrência, entende? Eu fico me fiscalizando o tempo inteiro pra eu não me vender pra ela, sabe, porque eu tenho os meus ideais, eu tenho a minha ideologia, e eu tenho muito medo da cidade. Eu tenho muito medo, porque a cidade ela não é humana. As relações humanas não existem, quando existem, são raras. Sabe, assim, essa coisa da superficialidade, eu não guento, eu não suporto. A favela, por mais fingimento, por mais fofoca que tenha, tem o lado humano. Por mais que fique uma pessoa o tempo inteiro na rua, vendo, controlando quem tá chegando, quem tá saindo, se você for conversar com essa pessoa, cê vai ver que tem um humano ali. Se você precisar dela, igual eu precisei, minha mãe faleceu, ela ficou aqui com meu pai, ficou telefonando pra Deus e o povo, sabe, deu maior assessoria, fez comida, sabe? Morre alguém no bairro Anchieta! O vizinho nem sabe que morreu! Eu tenho medo disso! A cidade, ela é muito maior! Essa coisa da concorrência exacerbada. E é tudo como um código de barra! A favela não tem, num dá essa importância que o código de barra tem. A cidade não. É isso que me assusta! Eu tenho medo disso. Talvez seja por isso que eu não gosto de viajar, eu tenho medo de ser engolido. Enquanto eu tô no meu mundo, vivendo aqui, lendo, estudando, assistindo filme, eu tô buscando outras formas de tá com o mundo. Na realidade, eu tenho medo de perder, eu não sei porque eu perderia, mas eu tenho medo de perder. Mas isso não significa que eu esteja fechado! Né? Pra poder descobrir. Por que que eu não sou mais um da estatística? Eu acho, eu avalio, porque eu tive acesso. A ausência de acesso, o ócio, que é o que acontece nas comunidades, o ócio te dá margem a seguir por caminhos complicados, que talvez não tenha volta, entende? 50 Então, a igreja do pastor Leo comprou uma área aqui na comunidade, e aí eles iam montar uma creche. Já deve ter uns quatro ou cinco anos que eles compraram essa área. E aí quebraram a casa que tinha porque iam construir. Parece que eles não têm verba pra construir a creche e a área tá lá vazia. É uma área cheia de poeira, é uma área cheia de lixo, quando chove vira barro. Com sol, com chuva, com lixo, com o que for, lá virou um campo de futebol. Lá é um campo onde os meninos soltam papagaio, onde os meninos jogam bolinha de gude. É o campo onde os meninos brincam de finca, entende? Então, mesmo sem ser um espaço oficial, vira, torna-se, por que isso? Por que a gente não tem estrutura de uma aula de inglês. Enquanto, depois que eu saio da escola – tô dizendo eu no papel da criança - depois que eu saio da escola vou ficar dentro de casa, assistino Malhação, assistino Chaves, a programação da televisão. E como isso, de certa forma, chega a ser um porre, eu vou buscar me divertir, porque criança tem energia e quer trabalhar esse energia. Qual é a diversão? É o futebol na rua, é a bola na rua, o papagaio na rua, e na rua tem quem? Aí o cara tá precisando de levar uma buchinha aqui: ‘vem cá, vem cá, leva pra mim lá eu te dou tantos reais’. Paralelo a esse mundo louco. Na minha época você tem M2000, um tênis, era o máximo. Hoje você tem um celular, você tá na onda, um Oi Xuxa, cê tá na onda. Você tá na rua, sem fazer nada, uma pessoa te oferece uma grana, se você juntar durante três meses cê consegue o Oi Xuxa - não vou fazer por quê? Você chega com uma coisa em casa, a sua mãe tá tão cansada, o seu pai tá tão fudido da vida que ele não repara que cê tá chegano com as coisa dentro de casa. A estrutura dessas pessoas tamém, que vem de um histórico familiar, eles vão carregano, eles vão trazendo esse histórico familiar. Se hoje em dia os meus pais me trataram da forma que me trataram, imagina a forma que os pais deles educaram eles. Então, tem toda uma estrutura por trás, sabe. Então, eu acredito muito na Casa do Beco, por isto que eu acredito muito no trabalho do Grupo do Beco - a gente não vai transformar a comunidade, isso eu tenho consciência, mas a gente pode transformar o cidadão, entende? Eu tive um acesso bem superficial do teatro, e aí por interesse próprio eu busquei uma pesquisa. A gente se propõe a trabalhar o teatro não de forma superficial, mas de forma a formar cidadão, sabe? Conscientizar o cidadão. E aí o que ele vai fazer com esse conhecimento, é com ele. Ela [mãe] é uma referência de que a de que o ser humano tem jeito. Não que eu queira padronizar o ser humano! Todo mundo tem que ter o direito de avaliar o que é bom o que é ruim. Como é que você tem esse esse critério de avaliação? Quando você tem acesso a todo os tipos/a todas as coisas que o mundo pode te oferecer - e aí você seleciona o que você quer ser. Quando você é encaminhado, que é o que acontece com os jovens das favelas, ele não teve opção! Não teve! Entende? Então, assim, se você só recebe essa informação, vai ser ela que você vai seguir! A gente discute muito assim, por que que eguinha pocotó faz tanto sucesso, mas assim, quando eu cito eguinha pocotó, tou citando, em geral, o mundo em geral. Por que Kelly Key faz tanto sucesso? Por que Sandy e Junior faz tanto sucesso e pessoas que tem preocupação com pesquisa musical, com a letra, com a poesia, escrever poesia, a simetria do poema, o instrumento certo em determinado local e em determinado momento - por que isso não faz tanto sucesso quanto Kelly Key? Quanto isso, quanto aquilo, quanto aquilo outro? A minha irmã, a Maísa, ela, atualmente, ela gosta de bonde do Tigrão, ela gosta de Kelly Key, ela gosta de música, ela tem critérios pra dizer que gosta. Porque eu dou pra ela CD do Milton Nascimento, ela tem o CD dos meninos de Araçuaí. Ela ouve, junto comigo, clássico. Eu acho que ela não maturidade pra dizer se ela gosta mesmo daquilo ou não. Porque aquilo ela só gosta porque tá passando na rádio. Os Tribalistas - eu apresentei pra ela Marisa Monte, mostrei pra ela (...) Marisa Monte, aí Arnaldo Antunes tamém, a gente ouviu, e tal, detestou! Agora ela ama os Tribalistas! Hoje em dia ela quer ouvir Marisa Monte, ela quer entender mais, ela quer ouvir 51 Arnaldo Antunes - mas a partir do que a mídia proporcionou. Então se você só recebe isso, cê vai dizer que gosta daquilo. Hoje, por exemplo, aqui na comunidade, mudou muito essa visão de futuro. Os jovens querem fazer faculdade, muitos deles, por quê? Por que tem um pré-vestibular aqui na comunidade e que os alunos estão passando, então muitas pessoas querem fazer pré-vestibular. Entende? Antigamente, antes, a minha missão, como meu pai é pedreiro era ser pedreiro - eu tinha de ser pedreiro! Eu tinha de ser pedreiro! Porque meu pai era. Era a única opção que eu tinha. O máximo que eu poderia ter de ambição, era ser polícia, ou ser padre, eu quis ser padre, eu quis ser padre durante muito tempo de minha infância. Quando chegou onze anos eu defini a minha carreira, eu queria ser ator e a partir daí eu trabalhei, porque tava muito bem definido. Quando eu fiz teatro porque eu quis fazer, que eu vi que o aplauso é coisa boa, que o público é legal, as pessoas te olhando legal, que isso é bom, que isso te traz um prazer muito grande. Um detalhe, a maioria dos bandidos não querem que os filhos sejam bandidos. Não querem! Querem que o filho estude, querem que o filho vá trabalhar, querem que os filhos sejam honestos. Nessas entrevistas, a gente entrevistou algumas mulheres que mexeram com tráfico, ou diretamente ou indiretamente, estão ou foram. E aí a gente detecta isso assim, é a realidade da vida dela, mas ela não quer isso pro filho, não quer isso pro neto, então tenta usar isso como uma ponte. A gente detecta jovem que que tá traficando, a gente fala: ‘pára com isso cara! Cê tá estragando a sua vida, sai dessa’. ‘Eu não tenho jeito mais não, eu vou morrer. Mas eu vou deixar uma casa pro meu filho, eu vou dar uma estrutura pra minha mãe, eu vou deixar um dinheiro, uma grana boa pra minha esposa. Eu sei que eu vou morrer, posso, já posso morrer amanhã, porque eu já consegui deixar uma coisa pra eles. Pra eles não terem de fazer o que eu tô fazendo, né?’. É real isso, entende? Agora, como você conseguir recusar todo esse processo vivendo dessa cultura? Você tem que ser muito mais forte do que aquele que cedeu e saiu. Porque a pressão é muito grande, entende? É muito grande, cê jogando bola, seu amigo tá injetando ali. Cê tá indo pra escola seu amigo tá te zuando, ele tá com M2000, cê tá indo estudar. Seu colega tá com M2000 no pé, o mais atual M2000, cê tá indo estudar. O menino de quinze anos tá morando sozinho. Ce ainda apanha da mãe, do pai. No filme Orfeu tem aquele menino que desenha, eu lembrei do Pelé quando eu vi ele o filme. Aquele negócio do menino que queria um tênis, que pediu o Orfeu um tênis, e tá, aí o menino vai e fala assim: ‘ah, então eu vou pedir pro Lucinho, então!’. Bem sutil, o diretor colocou isso de forma bem sutil. De uma realidade que a gente vive, que a gente convive com ela o tempo inteiro. Agressivamente eu falo: não dá pra poder ficar só estudando a miséria, sabe? Num dá pra ficar só na Faculdade lá estudano o que que trouxe a miséria daqui de família x, por que que a favela tá nessa situação social, por que isso. A favela é um conjunto de vidas humanas, o tempo que você está só teorizando lá é um tempo que você tá perdeno pra agir nesse momento. Pra tá diretamente na comunidade, seja assessorando uma unha, seja trabalhando com um menino aquele um, ele pode se tornar um multiplicador dessa realidade aí. Trabalho do Grupo do Beco, hoje, é um trabalho, né, que tá se tornando referência na cidade. Isso começou por causa de quem? Por causa de um menino! Um menino que teve todos esses problemas que poderiam ser mais um nessa estatística! Esse um foi autodidata, ele que buscou com as próprias mãos, ele passou fome em Ouro Preto pra poder fazer um curso de teatro, ele pagou durante seis, sete meses esse curso que ele fez, pagou pra patroa dele, entende? Ele apanhou do pai, o pai jogou machadinha na cabeça dele, se não abaixa ele morre, ele ganhou facada no pé porque ele queria ir pro grupo de jovens, entende? Ele não queria que isso se repetisse com mais semelhantes como ele! Se eu, se esse menino, um favelado, fudido, sem alternativas, conseguiu, de certa forma, contribuir pra transformação da realidade que ele vive, imagina quem tem acesso maior às coisas. Sabe? 52 ‘Ah, eu não sei o que fazer, não sei o que eu posso fazer’ - eu também não sabia não. Mas eu cansei. Acho que o cansaço faz com que a gente busque energia em algum lugar.Eu cansei de ter que pagar caro as coisas, de ter de ficar correno sozinho. Quando eu tava te falando da Casa do Beco, a gente comprou a Casa do Beco dia 8 de Setembro e a gente já detectou que tem que ampliar a Casa. Por quê? Porque as pessoas querem ajudar, mas não sabem a que, como onde, e nem por quê. Só sabe que querem. Então, depois que a gente comprou a Casa do Beco tá tendo demanda, de voluntários de tantas pessoas, mas de tantas pessoas, cê não tem noção! Que a gente tá tendo que selecionar a dedo quase as atividades que vão acontecer pra comunidade, na Casa. Então, assim, as pessoas querem ajudar. Agora não dá, por exemplo, é uma crítica que eu faço, que eu acho que ela é construtiva, no sentido de que não dá pra você estudar a miséria com quem não vive ela. Se cê tá fazendo um estudo sobre a mendicância - cê tem que chegar até o mendigo. Não dá, por exemplo, você achar que comprar uma casa e colocar esse mendigo dentro da casa é a solução pro problema dele, porque você vai chegar conversar com ele. Ele não vai querer ir pra casa que você comprou. Ele tem cultura dele ali. Agora, em cima do que ele quer, do que o mendigo quer, se você quer realmente ajudá-lo, de que forma cê vai trabalhar? Não dá pra fazer seminários que discutem a favela como isso, como aquilo, sem colocar favelado pra falar. Eu fui numa mesa uma vez que eu era o único favelado. O resto era intelectual. Sabe? Se a platéia lá são pessoas que vão estudar a questão da realidade do favelado, tem que colocar muito mais favelado na mesa do que do que intelectual. Coloca dois intelectuais pra discutir a questão acadêmica, né, e coloca o resto - se são oito, seis favelados - se a discussão é a favela, coloca maioria de favelado, porque ele vai falar da vida humana! Do real! Ele não vai falar de palavras que estão escritas em livros, de estudos não. Vai ter as pessoas que vão falar de estudos, vão dizer de estatísticas, entende? Eu acho que a academia tem que começar a humanizar os estudos, humanizar, entende? E humanizar pra mim é ação! Chamar a teoria e a ação, não só a teoria, nem só a ação. Conciliar as duas coisas. Uma ação efetiva, uma ação que tem início, meio e fim. Não essas ações que as academias costumam. Nem as academias, os alunos das academias fazem - que é terrível, que é muito ruim - eu dou uma entrevista (pra você não, cê virou minha amiga), eu dou uma entrevista pra aluna X aí ela fecha a matéria dela e nunca mais volta, entende? Pôxa! É isso que acontece. Perde a credibilidade! Pra mim isso é revolucionário, sabe assim, no sentido de não de transformação social do local, mas transformação... a interação da cidade com a favela. Essa comunidade é uma comunidade alternativa. É uma cidade dentro de outra cidade. Márcia Maria tem um texto que fala d’As Bolhas. Não sei se cê conhece esse texto, ela fala muito da idéia de que existe a cidade, e existem as bolhas, que a impressão que a gente tem que as favelas não são coladas na cidade, e nem são outras cidades. Que não têm estruturas de cidades, são bolhas que ficam voando no processo da cidade. Entende? Ela fala muito desse texto. Não conheço! Eu percebo isso às vezes sim, às vezes não, acho que depende muito do momento que eu tô vivendo, sabe? Hoje em dia eu percebo que a gente se faz, de vez em quando, e gente se faz bolha. A gente se coloca bolha. De vez em quando, quer se vender como bolha, entende? O Grupo do Beco, hoje, ele entrou num processo se vendendo como bolha, e hoje em dia o trabalho é pra deixar que a sociedade veja a gente como bolha. Fazer com que a sociedade pare de ver a gente como bolha. Isso pra gente é importante. A partir do momento que a gente deixa de se ver como bolha, a gente se vê como parte da cidade, como parte da sociedade. A gente exige esse respeito também. Entende? O padre Mauro, o padre Mauro ganhou um prêmio de Honra ao Mérito, porque ele não pode ser Cidadão honorário - porque cidadão honorário são as pessoas que não nasceram na cidade e que tão fazendo algum trabalho na cidade. Quem é da cidade, tá fazendo algum trabalho pra cidade 53 ganha um prêmio de Honra ao Mérito. E aí ele falou, se ele fosse receber - ele não foi receber como uma forma de protesto - se ele fosse receber, ele ia falar ‘não quero o prêmio de Honra ao Mérito, eu quero o Prêmio de Cidadão Honorário! Porque eu não sou cidadão da cidade, eu sou favelado!’. Achei o máximo esse discurso, entende? Mas eu acho que depende muito. De vez em quando assim, você tem que selecionar pra quem você é bolha, e pra quem você não é. Por exemplo, na Câmara dos Vereadores, se ele fosse receber esse prêmio, ele tinha que falar isso. Por quê? Porque aquelas pessoas ali não vêem a favela como parte da cidade. Não vêem! Eles vêem a favela como parte da cidade, quando eles querem o voto dele. Entende? Agora, pro Antônio, por exemplo, que é o nosso preparador vocal, não justifica a gente usar esse argumento de bolha, que ele tá junto com a gente, ele tá dentro do processo ele tá trabalhando com a gente, exatamente, pra gente não ser bolha! Pra que que eu vou usar esse argumento com ele? É contradição. Eu vejo a cidade como um desafio, sabe? Ela pode te engolir, como ela pode te desprezar. Como ela pode te admirar. Eu tô num fase, a gente tá vivendo uma fase que ela tá admirando! Mas isso é uma faca de dois gumes. Entende? Ela pode engolir a gente. Essa questão de identidade. Mas aí, avaliando, quase que a cidade engole. Ela pode te engolir de tal forma que você pode perder sua ideologia, seu objetivo, sua visão de mundo. Entende? Você pode, entre aspas, pela visão da militância, se vender facilmente. E aí depois que você entra no meio da massa, cê vai ser mais um deles, que vai tá concorrendo com eles mesmos. Enquanto que você tem a sua ideologia bem formada, seu objetivo de vida muito bem formado e você é diferente, todo mundo quer trabalhar junto com você pra poder fazer esse diferente. No momento que você padroniza, você deixa de ser o diferente, passa a ser o concorrente. O que atrai as pessoas pra trabalhar com o Grupo do Beco é exatamente o fato da gente ser diferente. Da gente usar o que ninguém quer falar pra fazer a sociedade acordar. A partir do momento que a gente monta Shakespeare, pega o Tempestade e monta a gente vai se tornar alguém comum. Ah, eu ainda enfrento, muito preconceito! Eu tenho a sorte, ou o azar, façam a leitura que quiser, de ser branco, de ter a pele clara! Né? Então, lá fora, eu sou um deles, eu me passo por um boyzinho. Arrumado, coloco um óculos escuro, eu sou um boyzinho, né? Mas, lá fora as pessoas não aceitam em hipótese nenhuma que eu seja favelado! E ficam me perguntano, me questionando o tempo inteiro: o que que você tá fazendo lá dentro ainda? E insistem, e batalham pra que eu saia daqui. Não justifica, uma pessoa bonita, branca, tão inteligente, ficar morando na favela. Eu tenho sonho de sair daqui? Tenho! Não vou mentir não, tenho! Tenho? É, daqui do meio, porque conviver dentro - dentro, dentro, dentro, dentro do ovo - igual eu convivo é muito complicado. Cê perde a sua liberdade completamente. Porque, se o foco da violência for na rua, na minha rua, eu tenho horário pra chegar, eu tenho horário pra sair. Dependendo do horário, eu não posso ir pra casa. É a questão da violência e do trânsito. Eu preciso transitar pra chegar, eu preciso ter liberdade de chegar às duas horas da manhã, quatro horas da manhã, onze horas da noite. Então a gente tem a cidade como parceira, a cidade engole a gente e a gente leva um pé na bunda porque a gente vai começar a ser concorrente da gente mesmo. Entende? Então eu vejo um desafio. A cidade como um desafio. E é antagônico, a minha posição, a minha postura hoje, da forma que eu vejo, a cidade, é uma postura bem antagônica, sabe? Eu vejo como parceira, mas eu vejo como concorrência, entende? Assim como aqui dentro existem os bandidos, caras que traficam, que pegam as crianças, que usam os adolescentes, como adolescentes que matam a sangue frio, lá fora a gente encontram também do mesmo jeito. Hildebrando Pascoal não morava na favela não. O Juiz Lalau não morava na favela, entende? A gente encontra pessoas como eles! E aí encontrar pessoas como o Nil César na favela que aí encontra o preconceito na cidade de não existir, sabe? Vai vir um favelado falar pra vocês, aí todo mundo imagina, vai vim de chinela havaiana, de shortim, dente faltanto dente e preto! Né? E aí quando chega uma pessoa que fala relativamente bem, né, fala a língua deles, fala do jeito que eles que eles gostam de ouvir, eles assustam. 54 Aí a gente se trai. No curso que eu fiz de Produção Cultural, eles passaram um Vídeo Documentário sobre mendigos. O documentário chama O outro lado da minha casa. Aí mostra a mendicância na visão dos mendigos! E aí o vídeo-documentário, ele parte de um mendigo que faz o vídeo-documentário, ele é o repórter. E o cara fala tão bem! E sabe assim, e todo mundo, todos os mendigos muito bem articulados, com argumentos formados, sabe assim, falam muito bem, e isso assustou a gente! É aí que eu me traio. No sentido de que eu questiono as pessoas quando elas duvidam que eu seja favelado, quando elas assustam por eu ser tão bem articulado. E quando eu vejo um vídeo-documentário de um mendigo falando tão bem quanto eu, mas ele é mendigo? Pô, mas eu sou favelado, e aí eu me traio. Entende? Assim, é contraditório, o ser humano vive de contradição. 4.8 BECO DOS MILAGRES Hoje em dia, meu argumento de trabalho, não é nem essa coisa da agressividade, que eu tinha antes para com os ‘brancos’, para com as ‘pessoas do asfalto’, tô fazendo questão de colocar entre aspas, né? Não é de forma agressiva, é de forma convidativa, entende? É aquela frase que eu falei, se eu um favelado, fudido, sem estrutura, sem grana, e eu consegui fazer isso, tive a boa vontade, a esperança de acreditar que dá pra fazer, você que tem uma estrutura mais fácil, ocê, você sabe falar inglês, porque você é quando era criança, estudava e ia pro cursinho de inglês, estudava e ia pra natação, estudava ia pro espanhol, aí, aos fins de semana, cê ia pro cinema, cê ia pro parque, cê ia pra Europa, ce tinha tudo - então, todas as lideranças comunitárias fazem um puta trabalho que são de referência, e são pessoas assim, auto-didatas. Hoje em dia eu aposto na formação dessas pessoas! Formação intelectual, formação profissional, formação pessoal, entende? Porque se elas sendo auto-didatas conseguem fazer o que elas fazem, imagina elas tendo acesso? Então, eu aposto muito hoje em dia na informação. E é isso que eu tou pesquisando. Então, eu quero aprender, quero falar inglês, eu já tou pesquisando, eu assisti um filme, chama Beco dos Milagres, ele a princípio não diz muita coisa não, se você assistir, grossamente, assim, como você assiste qualquer filme, ele não diz muita coisa não. Mas pra mim ele me tocou, me tocou de tal forma!!! Sabe assim, eu fiquei bobo! Como que existe um filme daquele jeito? Simples e bonito! E aí ele tá sendo meu sonho de consumo atualmente. Então assim, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, o sentido da profissionalização. É a gente tava comentando isso outro dia, que, hoje em dia, o Grupo do Beco, dentro da comunidade já existe como elite. Exatamente porque a gente tem acesso a informação. Né? Por mais fudido, passando fome que a gente esteja, a gente tem acesso a informação. E quais são as conseqüências disso? A gente freqüenta Palácio das Artes. Palácio das Artes, agora, é lugar comum pra gente. Então a gente ganha ingresso pra ir em show de um, ganha ingresso pra pra assistir espetáculo x, tal pessoa convida a gente pra assistir tal coisa na Casa do Conde. A gente vai na Casa do Conde, Centro de Cultura, Centro Cultural. A gente tem acesso a informação. Paralelo a isso a gente tem um trabalho de pesquisa, então a gente tá constantemente se reciclando, e lendo, né, a gente tem uma Sede agora, a gente tem essa administração, então, querendo ou não, a gente é a elite da comunidade. E aí depende da forma que a gente vai trabalhar esse ser elite da comunidade. A gente defendeu muito, eu principalmente, essa coisa da qualidade. Se o artista tem que subir no palco ele tem que ter consciência do que ele tá fazendo. E aí a gente a gente sofre muito porque a gente é considerado metido. Porque eu bato na tecla [da formação]. Um exemplo: o menino que toca cavaquinho do grupo de pagode x, do grupo de pagode y. Avalio super-positivo essa formação de vários grupos de pagode dentro de uma comunidade. Por mais que eu não goste, sinceramente, eu não gosto, mas eu acho o máximo a existência deles. Isso é um grito que os jovens tão dando dentro da comunidade. Sabe? Não tem quadra, não tem centro cultural, não tem cinema, não tem opção de lazer, os jovens não querem se envolver com o tráfico, então eles se unem pra poder montar um grupo de pagode. Por que um 55 grupo de pagode? Porque é o acesso que eles tem! Eu mantenho um grupo de teatro, por quê? Era o meu acesso! Porque eu não gostava de pagode, eu optei por um grupo de teatro. Quando existe a ausência do poder público, naturalmente, existe a organização da comunidade. E ai a gente percebe, eu detecto a presença da juventude se organizando. Eu sou apaixonado por MPB! Já dancei É O Tchan! Festas, eu arrebentava, dançava mais que a Carla Perez! Tive acesso! Hoje em dia eu não danço. Hoje em dia eu não danço! Já fui dançarino de cantora brega! Sabia não, né? Na mesma época que eu saí da Casa de Santa Paula pra ser contador de histórias, no meu aniversário, os meus amigos me levaram a uma churrascaria. E lá tava teno uma cantora brega e eu...a gente foi dançando, dançando, dançando, acabou o show dela ela me procurou: ‘olha eu tenho alguns shows que eu faço com bailarinos dançando, e tal, cê não quer ser não?’. Quê? Vão embora. Aí cantava “Gruda, gruda na cintura na muleca reboladeira, fica doida pra dançar” e eu dançando. E aí, as mulheres, principalmente em Contagem: ‘gostoso!’, queriam rasgar minha roupa, queriam autógrafo, queria isso queria aquilo. É! Tive uma carreira de bailarino de de cantora brega... imagina a cena. Recebi alto bilhetes, bilhetinhos, pedindo número de telefone, me deram número de telefone, que era fã, que ia fazer um fã-clube pra mim, que não sei o quê, ah... não foi pra frente essa carreira, não! Aí a pessoa ela vai intelectualizando, ela vai se distanciando de algumas coisas assim por ter senso crítico, eu avalio assim. Ah, eu tenho essa opção de escolha. Eu bato nessa tecla, de opção de escolha. Entende? A minha irmã, por exemplo, se ela com vinte anos fica ouvindo Kelly Key, foi opção dela ouvir Kelly Key, entende? Por que ele ouviu Enya, ela ouviu Beethoven, ela ouviu Gil, ela ouviu Chico César, ela ouviu Antonio, ela ouviu Vander Lee, entende? Então ela teve esse acesso, assim como ela ouviu Sandy e Junior, ouviu Chitãozinho e Xororó, ouviu Zéze de Camargo e Luciano. Se ela optar por Kelly Key, opção! 4.9 VAMOS COMEÇAR LAVANDO OS PRATOS E ainda o meu pai que teve aneurisma, sabe, ele ele teve uma queda aí, caiu, teve aneurisma. Outro dia o sem vergonha não quis voltar, começar a beber de novo! Tá tomando calmante, remédio calmante... E é o remédio que controla o aneurisma dele, porque se ele voltar a beber o aneurisma dele pode voltar com uma força tão grande que pode deixá-lo tetraplégico. Não ele ficou um fim de semana inteiro sem tormar o remédio, porque se ele misturar as duas coisas, ele vai dar uma pirada na hora. Aí ele...ficou sábado e domingo sem sem tomar o remédio e segunda-feira voltou a beber! Sabe? Aí outro conflito existencial, porque quando minha mãe tava viva falava mesmo, falava com rancor no coração: ‘olha mãe, senhora morrer, no dia seguinte tou internando papai. Eu não tenho paciência, eu não tenho saco’ - mas a situação muda, né. Na hora que as coisas são reais a realidade dá uma pulada, sabe? Aí ela, aí que que aconteceu, a gente, as minhas irmãs e eu avaliamos que não foi interessante pra gente ficar no hospital, vendo meu pai, sabe assim, cheio de soro, amarrado na cama, por causa de bebida. E aí a gente fez a seguinte avaliação. A gente prefere ir ver, revezar, e uma vez por semana visitar ele num asilo, tomando remédio, estando bem, levando biscoito, leite, levando todas as coisas que dariam uma qualidade de vida pra ele, do que vê ele tetraplégico, sem tempo de ficar limpando a bosta dele, sem tempo de cuidar dele, entende? E ficar lá no hospital tendo que revezar porque ele tá internado no hospital. E a gente falou com ele essa conclusão. Olha... na época a gente falava com muito rancor. Mas agora eu tô falando porque eu amo o senhor. Cheguei a essa conclusão: que eu amo ele. Outro processo. Processo de construção, assim. Por mais trauma que eu ainda tenho, eu tenho muito que agradecer a ele. Sabe? Não pelos maus tratos que ele me causou, porque isso ai não perdôo. Não perdôo. Quem sou eu pra perdoar alguém. Não perdôo o que ele fez comigo. Não tou dizendo que se depender de mim ele vai pro inferno. Não. Mas ele não tem o meu perdão. Pra mim a forma que ele me educou não era uma forma de se trabalhar com um ser humano. De 56 lidar com o ser humano. Então, isso eu não perdôo, eu não acho que pai tem que ser isso que ele foi pra mim não. Mas eu percebi que tem muitas coisas minhas, eu neguei tanto ser ele, mas eu tenho muita coisa dele. Eu ando igual a ele, eu sou a cara dele. Essa coisa da valorização da família, entende? Então eu percebi isso assim. Em cima de todo um trabalho mesmo. Depois de Guarapari! Essa coisa de ver o mundo, com seis sentidos que a gente tem, tá sendo muito presente na minha vida. Hoje tá bem claro pra mim que eu quero morar sozinho. Eu quero morar sozinho, mesmo! Eu quero a minha individualidade. Igual por exemplo, o escritório do Grupo do Beco é dentro do meu quarto. Eu falo, ninguém acredita, que o escritório do grupo é dentro do meu quarto, cê anda três azulejos do chão, três ardósias do chão, cê tá no escritório, quando cê pula pro quarto cê já tá dentro do meu quarto. ‘Respeita o meu quarto’. O escritório do Grupo de Beco é dentro do meu quarto e eu mais do que nunca tô ansioso pra ter o meu quarto em que eu possa acordar, e pronto, acordar! Em que eu possa é deixar bagunçado o meu trabalho ali e do jeito que eu coloquei ficar e sem ser incomodado por ninguém. Entende? É na música da Sandra de Sá que ela interpreta, não sei se você gosta, é que me remete muito, ela fala no início da música, é: ‘vamos consertar o mundo, vamos começar lavando os pratos’. Que adianta você ir pra reunião do Orçamento participativo, ir pra isso, ir pra aquilo, ir pra aquilo, quando cê volta você não tem tempo de ir lá de arrumar sua própria casa. Varrer a casa. Seu filho tá na rua, eu tenho muitos militantes que tá tentando cuidar dos filhos do outro que tá na droga e o filho tá começando a entrar na droga e ele não percebe. E aí a ação dele depois com o filho passar a ser de é tirar o filho da droga, mas ele poderia ter agido pra evitar. Ter olhado pra vida dele, sabe? ‘Vamos ajudar uns aos outros, me deixa amarrar o seu sapato. O sonho ainda é real, mas a chuva cai por uma fresta no telhado’. Entende? Então, eu tô muito me refletindo nessa música que a Sandra canta, é eu ouvi uma vez só e decorei, é maravilhoso, é bem isso, entende? E aí eu cheguei a essa conclusão. De que de que eu amo ele. Mas eu só conseguir definir isso, quando eu consegui defini o que é sentimento de amor, sentimento de paixão, de saudade, pra mim, como conviver com o sentimento humano. Entende? A partir daí eu percebi que isso pra mim foi importante, sabe, principalmente eu detectar que eu gosto dele. Foi um crescimento! Sabe? Um crescimento como pessoa. E hoje em dia, tou numa fase que eu tôu a fim, muito, de viajar, conhecer novos mundos, novas línguas, novos caminhos, novas perspectivas, sabe, é, pra somar ao trabalho que eu já faço, ou não, pra me dar uma outra opção de, sabe assim, pra mim o teatro é o boom? E se eu tiver uma outra opção? Será que eu não vou ter como boom? Entende? Eu to numa fase que eu to buscando a minha individualidade, sabe? É desde os dezessete anos eu trabalho com a arte-educação, né? E assim que eu comecei a ter uma turma de alunos eu, o que eu fazia quando eu trabalhava na Casa de Santa Paula? Comprei meu vídeo cassete, comprei minha televisão, pra mim foi minha conquista, a minha independência dos meus pais, financeira, foi a compra de meu rádio-relógio. Aí, quando eu, um rapaz de dezessete anos, substituir dois adultos no turno da tarde, trabalhando dia inteiro, nossa, se eu consigo substituir dois adultos, eu posso ser responsável pelo meu próprio dinheiro! Até hoje eu tenho um graaaaande problema de não conseguir controlar o meu dinheiro nas minhas mãos! Exatamente porque eu não me eduquei a isso, principalmente quando eu comecei a ser dono da minha planilha, eu saí comprano. Eu nunca tive o meu dinheiro, então eu saí comprando. Comprei um vídeo cassete, televisão. Comprei um ventilador. queria comprar tudo aquilo que eu não tinha, entende? E aí, com o vídeo cassete, depois do vídeo cassete eu comecei a fazer sessões de, vídeo dentro da minha casa, com os meninos da Casa Santa Paula. Aí, é, sábado e domingo a gente ficava a manhã inteira, assistindo filme! E a partir daí, eu já tinha meus dezoito, dezenove anos, o meu quarto não era meu mais. Coloquei o Grupo do Beco tamém...entende? 57 Então eu não sei o que é ter um quarto seu, só pro cê, um quarto seu, um espaço seu, uma casa sua, sabe? E eu tô ficano muito cansado desses tempos. Eu deito pra dormir, eu acordo como se eu tivesse trabalhando. Porque a energia do trabalho ainda está instalada aqui. E aí, o meu quarto é lugar de conflito, é lugar que o povo briga, é o lugar que o povo xinga, tem pensamentos negativos, no momento que tá tenso um com o outro e essa energia vai ficano aqui! E aí quando eu vou dormir eu consumo toda essa energia! Eu trabalho desde cedo com imagem, percebo isso. Quem que é? Trabalho desde cedo com imagens, imagem pra mim, eu me cuido muito, sabe? Eu vejo, o pessoal fazendo, tendo algumas atitudes que eu fico assim, eu não vou questionar, não vou criticar, mas eu tenho as minhas posturas. Muitas pessoas acham que eu radicalizo, mas cê sabe, essa questão da preservação da imagem, essa coisa de você tá carregando sempre uma coisa, uma bagagem por trás. Se você opta por ser um grupo, né, é uma opção. Sua carreira solo é outra coisa, cê tá conduzindo a sua própria imagem. Agora, se você conduz o grupo cê tá carregando o grupo junto. É uma coisa que o Constantin Stanislavisk fala: enquanto eu tô prejudicando o meu trabalho, isso é problema meu, agora, ninguém me dá o direito de prejudicar o trabalho de um conjunto. Ninguém me dá esse direito. E essa liberdade de prejudicar o trabalho de um grupo! Então, se eu tô prejudicando o meu trabalho pessoal, eu arco com essas conseqüências, eu que vou ter que arcar com essas conseqüências! Porque eu tô prejudicando a mim mesmo, aí foda-se! Né? Agora, se eu tô prejudicando o trabalho de um grupo, esse grupo me deu essa liberdade? Quando eu era criança, é meu primo trouxe um pardal. Essa história ela é muito simbólica pra mim, sabe assim, de inocência mesmo. E eu só ficava com essa pardal na mão, o tempo inteiro. Brincava com ele, e a minha mãe viu que essa pardal ia acabar morrendo, aí, minha foi olhou: ‘Nilton, pára’/Nilton, né, eu era Nilton na época: ‘guarda essa pardal, guarda esse passarim, guarda, guarda, guarda’. Nada me convenceu a guardar. Aí, minha mãe falou assim: ‘olha, a mãe dele deve estar muito triste, a mãe, o pai, os parentes dele devem tá muito triste porque ele tá preso. Faz o seguinte, se cê soltar ele, é ele vai chegar lá na casa da mãe dele, vai falar pra mãe dele quanto cê trata ele bem, e vai trazer todo mundo pra cá!’. Ai, eu fiquei empolgado, pulei de empolgação, isso eu tinha meus oito anos de idade. Eu fiquei naquela empolgação: ‘vai trazer mesmo? Vai ficar um tanto de passarinho aqui, vai, vai, vai?!’. Aí eu fui, na maior inocência e tstu! Soltei o passarim. Aí a gente na casa lá de cima, a gente via a Serra do Curral quase toda, não tinha casa nenhuma na frente. Aí eu vi o passarim indo em direção ao Serra do Curral, foi sumindo, sumindo, até hoje ele não trouxe o pai, a mãe. Talvez os bisnetos apareçam qualquer dia desses. Mas aí depois disso eu não consegui mais ver passarim preso! Eu não consigo gostar de ver passarim cantar preso, sabe? Aqui em casa a gente tinha um tanto de periquito, eles nasceram na gaiola, então, não adianta soltar que eles não vão saber sobreviver. Assim, me incomodou, sabe, essa coisa de passarim ficar preso, não sei, não sou muito chegado a essas coisas de prisão não. Cada sonho que que se realiza na minha vida eu sempre busco sonhar mais alto. Né? Sei lá, eu tenho muito medo de estagnar. A minha referência, seja ela de releitura, seja ela de referência mesmo é o meu pai. Cheguei a essa conclusão, essa negação que eu tinha, o tempo inteiro, era na realidade, uma busca de uma identidade própria, né? E essa referência mesmo de estagnação - eu tenho medo, sabe, de acontecer o que acontece, hoje, com ele. Porque ele sonhou muito, mas como tava muito difícil os sonhos dele, os sonhos dele tavam muito difíceis, ele simplesmente, desistiu de sonhar! Desistiu de sonhar, e aí, quando ele conseguiu uma casa, quando ele conseguiu constituir uma família, ele achou que já tava realizado! Entende? E aí o sonho dele acabou! Como num tinha mais sonho, que que ele teve que fazer? Ir pra bebida, né? A família já tava lá, a casa já tava lá, aí a casa começou a cair e ele não percebeu. A família começou a cair, ele não percebeu. E aí ele foi caindo junto! Eu tenho muito medo disso. Sabe? Da estagnação. Então, eu tô sempre sonhando. Eu tenho uma listinha, toda semana eu olho essa listinha. Eu faça uma lista de metas, de sonhos, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Né? E um sonho que eu achei que eu não ira conseguir, eu não 58 iria alcançar seria um Centro Cultural aqui na comunidade. Meu sonho era montar um teatro! Sabe, assim, um teatro, formal mesmo. Na época eu tinha esse sonho, hoje em dia minha referência de teatro mudou muito. Né? É. Aí minha referência era essa, né? 4. 10 CASA DO BECO Aí a gente viu a planta da Casa do Beco, já tem arquiteto! Nó, ai é apaixonante! Apaixonante. O grande medo da gente é fazer igual as igrejas evangélicas vêm fazendo aí nas comunidades. E a Prefeitura também. Cê já reparou que a Prefeitura, quando ela tem um prédio, ela pinta de laranjado e verde. Agride a estrutura da favela. Tem uma arquitetura própria a favela. Cê chega, instala sua arquitetura, isso aí é agressivo. Né? E o nosso prédio, é um prédio muito grande. Então, a gente tava com uma preocupação muito grande. Aí o Fred falou: tá lá, a comunidade, aí vem aquela pata de elefante! E se instala ali, é a imagem que mais me remeteu. Mas não tem como fazer nada, ali, também que não seja destaque, porque o prédio é muito grande. E aí, a referência que a gente tava tendo, mais o Rômulo é de La Bocca. Acho que um bairro de Buenos Aires. Lá, as casas são tipo de favela! Só que são cada uma pintada de uma cor diferente, de várias cores diferentes, (ah, não tem imagem aqui não, tem é na Internet), de várias cores diferentes, uma alaranjada, cores vivas e bonitas, sabe aquela coisa bela mesmo! Tiveram uns equívocos, porque o arquiteto pensou em montar só um centro cultural, não tem como, por exemplo, o escritório continuar sendo no meu quarto com aquele prédio, daquele tamanho - a gente colocar nosso cenário, nosso figurino em um outro espaço que não seja aquele prédio. Então, a gente conversou com ele, pediu pra ele, porque ele não colocou, por exemplo, lugar pra guardar cenário, nem figurino, e aí a administração, ele fez a administração um ovinho, que fosse a administração e a bilheteria. Não dá pra ser administração e bilheteria juntos, no mesmo lugar, e a administração que caiba só duas pessoas, então, a administração tem que ser um espaço que caiba, no mínimo, cinco pessoas, juntas, ao mesmo tempo, trabalhando, né? Mas, aí, a gente já tá pensando também, já tá fazendo a planta pensando em comprar o andar de baixo, aquelas lojas, lá embaixo, que não são nossas. Então, a gente já tá pensando em comprar ali. E aí, tá lindo. A casa, grandona. Aquelas lojas de baixo, vão pintar, a gente vai dar a tinta pra eles pintarem, de, de prateado, e as partes de cima, assim, serão tipo casinhas, pequenas, tipo a nossa logomarca. E cada uma de uma cor diferente. Parecendo ser várias casinhas. Pra não parecer que é um prédio inteiro. Então, tem uma casinha que é vermelha, a outra é laranjada, a outra é amarela, aí a parte de cima também, é mesmo sistema, várias casinhas com varandinha, alpendre, muito legal! Conversando com um tanto de amigo meu, eles falaram pra eu potencializar o que eu já sou, não fazer Artes Cênicas porque Artes Cênicas o Grupo do Beco pode me proporcionar. O professor que tem na Artes Cênicas, o Grupo do Beco pode contratar e a gente fazer a mesmo a qualidade do curso Artes Cênicas. Mas, o que eu sou? Eu sou educador e sou produtor. Não, eu sou produtor quebra-galho. Porque eu não quero ser produtor. Sou quebra-galho do Grupo, eu só tô produzindo junto com a Jose, até a Jose chegar. A Jose entrou há dois anos, quem era o produtor era eu. Durante seis anos eu fui produtor do grupo sozinho. Aí, cê não é produtor, cê é produtor quebra-galho, como assim? Sou produtor quebra-galho, assim que tiver um momento, eu tô saindo fora da produção, porque eu quero investir mais no teatro. Quero investir na arte, no meu trabalho artístico. Então eu já sou educador desde os dezessete anos, por que não trabalhar essa questão? Eu já sou produtor desde a formação do Grupo do Beco, por que não potencializar isso? Mas, aí, eu tô nessa fase de conflito terrível, se eu potencializo meu lado educador, meu lado artístico... O lado artístico é o tesão, o que eu mais amo fazer na minha vida. Mas e se por um acaso o Grupo do Beco não nos sustentar mais? Não tiver condição. O que as pessoas defendem muito é que eu 59 tenho, eu posso investir no lado artístico, mas, paralelo a isso eu tenho que investir em uma outra profissão. Mesmo que eu não vá usar nunca, tem ator do Grupo Galpão que é engenheiro, e nunca foi engenheiro. Entende? Mesmo que eu não vá usar nunca na vida? Com certeza, essa referência, que você fez, de curso, vai te dar uma opção de vida e vai te dar uma base também profissional. Aí, eu tô nessa fase, assim, não sei se eu potencializo meu lado produtor, que eu detesto! Não gosto! E aí a Casa do Beco tá lá, a gente viu, tá um sonho realizado. A gente já tá enviando projeto pra lei estadual pra reforma da Casa do Beco, pra ser aquele Centro Cultural que a gente quer que seja. Embaixo, aquele andar de baixo vai ser a administração, dois banheiros, a sala de aula, a sala pra oficinas, e o andar de cima vai ser o Teatro. Le Grand Teatre! O Beco Hall. O Becurral. Aí a gente, aí eu já tô sonhando, fico assim, nossa, daqui a dois anos a gente vai comprar o andar de baixo! Aí, o meu sonho, né? A gente vai mandar um projeto mais pra lei federal pra restauração da fazendinha. Fazendo de lá um Centro de Referência Cultural. A gente pensa mais teórico, biblioteca, cultural, é Internet. Uma coisa mais direcionada a comunicação. Fazer uma parceria com a Oficina de Imagens. Tá trazendo jovens pra trabalhar a questão da comunicação. E aí eu já sonho alto pra caramba. Eu já tô sonhando assim! Nó, imagina, cê pega da casa do Beco, ateeeeé a fazendinha. Cê compra todas aquelas casas ali de baixo. Um complexo, com quadra, com teatro de arena, com estúdio comunitário, com curso pra cinema e televisão, com umas salas só pra percussão, por que não? Porque a gente tinha, a gente tinha uma crítica, eu acho que é pertinente: em todo projeto social, pra ser social ele tem que ter persussão. Cê pega um tambor, cê coloca os meninos pra tocar tambor, tá fazendo projeto social. Tanto que essa referência veio da Bahia, do Rio, né? Eu tô questionando a forma que se faz. Não tou questionando Tambolelê, Arautos do Gueto, Afroreggae, não tou questionando! Muito pelo contrário, Afroreggae provou que pode ser diferente. Não é só pegar um tambor, pó. Cê pode pegar o tambor, cê pode pegar a Internet, cê pode pegar o teatro, cê pode pegar a dança, cê pode pegar a música, cê pode pegar confecção de instrumentos pra se vender, pra sobrevivência desse jovem. Cê pode trabalhar a cidadania! Né? Mas não - principalmente a Prefeitura - vamos pegar um tambor e vão/Mas por mais democrática que a Prefeitura seja, que ela tenha esse discurso, ela traz ainda vícios de poder público. Muitos vícios! Terríveis! Mas eu já fico assim, olha, montar aquele complexo: Casa do Beco ali na frente, ali, aquele tanto de casinha bonitinha, mas dentro, tem aquele, aquela viagem. Tá realizável a Casa do Beco? Tá! O engenheiro já tá fazendo? Já! O projeto já tá sendo encaminhado? Sabe? Eu tô querendo investir mais, sabe, minha carreira, eu tô querendo, é, mesmo que não goste, não vou me iludir, mas eu quero viajar mais, sabe, quero conhecer o mundo, apesar de gostar de ficar em casa assistindo vídeo, mas o mundo que o vídeo me proporciona é muito pasteurizado, eu quero ter as minhas próprias conclusões sobre determinadas coisas, minhas próprias percepções, mesmo, né, eu vejo Soeto no filme Sarafina da forma que a atriz me proporciona, da forma que o diretor vê! Entende? Então tem todo um filtro, cheio de recortes, até chegar a mim, né? Então não, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero ter minhas próprias visões, eu quero ter as minhas próprias conclusões das coisas. Mesmo que eu equivoque, mas eu quero ter direito a me equivocar também! E pode ser que amanhã, cê vai conversar comigo de novo, eu mudei de idéia. Eu gosto daquela fala, do, do Raul, né, Seixas, ‘prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo’! Prefiro! Essa coisa da evolução, a gente percebe a evolução do ser humano a partir do crescimento, do argumento que ela tem, do discurso dela. Aí, quando fala da pessoa que é coerente; ‘ah, fulano, eu conheço há trinta anos, sempre na mesma posição, tipo coerente!’. A pessoa tem a mesma opinião durante trinta anos e ele é coerente! Que tem de coerência? Tudo se transformou e ocê não, entende? 60 Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Saramago (Livro dos Conselhos) 61 5. DESSE LUGAR Nosso estudo se baseia numa localidade específica, situada na cidade de Belo Horizonte, e objetiva a análise de alguns fenômenos psicossociais relacionados ao trabalho – baliza de nosso percurso científico. Os elementos que serão analisados surgiram a partir das falas de nossos interlocutores, em especial, a partir da História de Vida colhida: um encontro muito singular que nos levou a conhecer diversos aspectos desse universo, sem contudo esgotá-lo. A partir dessa História de Vida, e de outras tantas palavras e escutas encontradas nas entrevistas da pesquisa de campo, fomos levados a percorrer caminhos diversos, conduzidos pelo intuito de tentar compreender a realidade de tal universo. Para uma melhor apresentação dessa história, dessa realidade, pensamos ser interessante localizá-la, inicialmente, contando e pensando sobre esse lugar onde ela se desenvolve: a cidade, a favela. Diversos são os autores que se preocuparam em pensar a cidade. Tomaremos aqui emprestadas algumas dessas idéias, sem a pretensão de esgotar um tema tão amplo e ainda hoje tão discutido, sob as mais diversas óticas e perspectivas25. Pretendemos apontar algumas dessas leituras e, nelas, desenhar o nosso percurso analítico. São distintas as matrizes teóricas que aqui iremos percorrer, como já dito, não com o intuito de aprofundá-las, mas na intenção de elaborar um breve panorama e realçar sua importância como elemento importante à reflexão científica. Georg Simmel e Walter Benjaminn são importantes referências a quem se pergunta sobre a dimensão subjetiva no âmbito da metrópole moderna. Simmel (1902) lança um olhar original sobre a cidade, pensa as reações e impactos subjetivos frente à experiência urbana. Sublinhando o aspecto do individualismo, ou individualismos, a cidade surge como o lugar da ambigüidade para o autor, e assim parece permanecer até os dias de hoje, como bem sugere Ermínea Maricato: ”Mais do que outros territórios, as metrópoles apresentam com maior evidência, embora não com exclusividade, os conflitos e contradições aqui tratados.” (Maricato, 1996:17) É interessante observar que as primeiras imagens que, geralmente, ocupam nossas representações sobre a cidade refletem conflitos: mal-estar, fragmentação e exclusão26. Não 25 Entendemos ser importante ressaltar que a contribuição dada por tais leituras, em sua totalidade, não está amparada de forma basilar pela Psicologia, ciência que ainda tem muito a contribuir na compreensão da ‘questão urbana’. 26 O professor João de Paula no texto “Reivindicar a Cidade” discute a percepção que se tem da cidade como espaço do mal estar. Para o autor, a cidade teria surgido como espaço de alternativa ao capital, 62 iremos elaborar uma viagem histórica do surgimento das cidades e suas funções na dinâmica social, mas não podemos negar que tais representações surgem amalgamadas a um modelo de desigualdade – como já aponta Maricato. Definimos que é exatamente essa questão que iremos nos propor a desenvolver sobre a cidade, a compreensão desse quadro de “exclusão”. Para tanto, pretendemos, antes, apontar algumas das contribuições teóricas sobre a cidade. Simmel, vivendo a Berlim do segundo império, naquela que era, então, a “esquina do mundo”, se pergunta a respeito do modo de preservar a autonomia individual frente ao desgaste causado pela metrópole que traz a marca da impessoalidade. Simmel enleva a tarefa de tentar pensar o impacto subjetivo da organização humana, na forma das cidades, quando da construção do texto “A Metrópole e a Vida Mental”, cujo conteúdo exibe os esforços que o indivíduo apreende para administrar os estímulos oferecidos pela cidade. O autor, ao tentar compreender o estilo metropolitano de vida, acaba apresentando elementos que, ainda hoje, são cruciais para a compreensão da materialidade da dimensão subjetiva, da vida do sujeito nas cidades: autonomia e controle; anonimato e liberdade; especialização funcional dos homens e a questão do trabalho; racionalização e dinheiro; individualidade e impessoalidade; papéis sociais... Não é nossa pretensão analisar, nessa oportunidade, o texto citado, mas gostaríamos de apontar que, escrito em 1902, seu conteúdo já delineava e denunciava questões concernentes às cidades e os conflitos e ambigüidades que impõem ao ser humano, ainda hoje (ou especialmente hoje, já que tanto se fala em crise da cidade, como veremos). Seguindo os caminhos de seu professor, Walter Benjamin também lança-se em diversas reflexões sobre a cidade, apresentando relevada preocupação no alcance de uma postura crítica em relação à cultura e aos movimentos sociais de seu tempo. Ele segue analisando o cotidiano parisiense, compreendendo os detalhes e pequenos indícios, do “outro lado” da cidade, na discussão sobre a modernidade. Ambos localizam a dimensão subjetiva e os fenômenos sociais dentro do espaço urbano – a dimensão social da cidade. A cidade é, hoje, o lugar da apropriação da força de trabalho. Centro vital do modo de produção capitalista, em seu seio desnuda-se o conflito entre capital e trabalho – em suas metamorfoses e em sua permanência. Assim é que as divisões sociais, nascidas desse conflito, são facilmente percebidas por quem caminha por nossas cidades modernas, que mostram ser – como pensamos - o espaço, por excelência, das “metamorfoses das questões sociais”, das transformações do mundo do trabalho e suas respectivas conseqüências. como espaço de resistência e liberdade, tendo sofrido, ao longo da história, uma espécie de desvirtualização na forma de uma violência que, hoje, é vista como atributo da cidade. 63 Henry Lefèbvre escolhe a cidade como objeto privilegiado de reflexão, pensando o fenômeno urbano de forma complexa, muito mais que um subproduto da sociedade industrial. O filósofo a tem como campo de tensão e conflito, mantendo em vista sua dimensão política e trazendo a necessidade de conformação e utilização do espaço de acordo com as mudanças nas relações de troca e poder instituídas. Na verdade, ele parece buscar uma perspectiva de análise dos processos socioespaciais que, para além da economia política, compreenda outras esferas que aí se inter-relacionam, como o processo de construção cotidiano de identidade. A contribuição de Lefèbvre nasce de um projeto de compreensão dos processos sócio-espaciais numa perspectiva dialética: fugindo da produção dos especialistas - “o” discurso do espaço mas objetivando a exposição da real produção do espaço. Ele busca compreende-la em vários tipos de espaço, pensando-os em sua inter-relação, suas formas e origens sob uma mesma teoria. Suas idéias são complexas e, muitas vezes, de difícil compreensão. Ele: “... procura entender as relações entre uma nova multiplicidade de espaços que integram o espaço social, com suas particularidades e dinâmicas próprias, que não podem ser considerados de forma isolada, mas em uma relação dialética que está na base de sua proposta teórica sobre o processo de produção do espaço”. (Costa, 1999: 6). Para nós, neste momento, além da aproximação do pensamento de Milton Santos com suas idéias, as maiores contribuições de Lefèbvre estão nas reflexões que faz da relação entre cidade e capital - donde além do espaço ser um meio de produção é, ainda, um meio de controle e, logo, de dominação e poder27. Ao falar de espaço, Lefèbvre sugere que: “embora um produto para ser usado, para se consumido, é também um meio de produção, assim produzido, não pode ser separado das forças produtivas, incluindo tecnologia e conhecimento, ou da divisão social do trabalho que lhe dá forma, ou do estado e das superestruturas da sociedade”. (Lefèbvre, 1993: 85) Manuel Castells também se debruça sobre a cidade, sobre “A questão urbana” (1993). Apesar de Castells ter se posicionado como crítico a algumas concepções de Lefèbvre, ambos têm o grande mérito de politizar a visão sobre a cidade – posição essa que buscamos assumir em nosso estudo. Buscamos não perceber essas cidades apenas como uma matriz física em que se desenrolam fenômenos sociais e suas transformações, mas inclusive como “atores” deste processo. Tal concepção implica perceber o espaço como socialmente construído, isto é, não como totalidade passiva, alheia aos conflitos, mas “As Cidades Como Atores Políticos” (Castells, 1996). 27 Tais idéias estão bem desenvolvidas em seu livro intitulado “A Cidade do Capital”. 64 A cidade é instrumento e lugar da metamorfose a que nos referíamos e, como tal, apresenta-se como sujeito da história. Mais do que reflexo ou conseqüência do movimento humano que desenha a história, a cidade mostra-se como a concretização ativa das ações humanas no espaço. O próprio espaço urbano nos apresenta a história, na forma do espetáculo cotidiano e na forma da escrita da arquitetura no desenho da cidade, denunciando a luta constante pela apropriação do espaço, a visibilidade do poder e a invisibilidade do processo de dominação: a imagem da cidade é definida, de forma complexa, pela rede social que a engendra. Percebe-se em suas formas o desenho do pertencimento diferencial, a dimensão política da vida coletiva, ineliminável. A cidade é um fenômeno de origem político-espacial. Na esfera da cidade, encontramos a expressão física e dinâmica da estruturação dessas diferenças e, segundo Gomes (2002: 13), “poderíamos mesmo dizer que esta é uma de suas condições fundadoras”. Essas diferenças vão se traduzir, ao longo da história, nas chamadas classes sociais. A concretização dessas diferenças nessas distintas classes se dá sobre uma matriz espacial, necessariamente, e sob uma matriz econômica, de acordo com o modelo de produção. Percebe-se, assim, que a constituição das cidades desenha-se a partir desses dois pólos, inseparáveis: o espaço e o trabalho – como categorias ontológicas. A divisão do trabalho, o modelo de produção (no caso, acumulação de capital) relaciona-se inseparavelmente com a categoria espaço28. A luta pela apropriação do espaço se perpetua e se mistura com as formas de produção,29 em que o território é um elemento decisivo no estabelecimento do poder. Como aponta Rolnik (1988), “desde sua origem cidade significa, ao mesmo tempo, uma maneira de organizar o território e uma relação política”. A necessidade de ordenação do território30 é uma das condições que funda o fenômeno social e a cidade é o lugar onde vão se dar essas práticas sociais, o lugar da concretude dos conflitos. É possível fomentar uma interpretação da vida 28 Não podemos, nessa oportunidade, aprofundar nesta questão. Cabe-nos ressaltar a importância da percepção da cidade como processo sócio-histórico, fundamental para que as categorias que iremos tratar ganhem materialidade histórica. 29 Tanto é que hoje, através do fenômeno da globalização, o território torna-se ainda mais importante, pois, de acordo com a localização mundial, as indústrias vão estabelecendo margens de lucros maiores através da procura de mão-de-obra mais barata e estabelecendo múltiplos processos de terceirização. 30 O território é compreendido aqui como limite de inclusão e de exclusão, necessariamente relacionado com a idéia de política. No plano local, o território funciona como a norma para o exercício das ações, conforme ensina Milton Santos (que é quem fundamenta nossa compreensão de espaço e território). Assim sendo, a partir dessa parcela delimitada do terreno, é que se concretizam as práticas sociais – como possibilidade (condição) e como limite – nas formas de expressão, regras e circulação. O território é compreendido por essas formas (normas), mas o território usado é a associação indissociável entre os objetos e a ações que se dão sobre eles, logo, sinônimo de espaço humano. 65 social a partir da compreensão e análise da lógica espacial31: a história está escrita na cidade, em sua arquitetura, em suas imagens e marcas, no que está explícito, exposto, e naquilo que é invisível e desapercebido (como o trabalho desqualificado, nada aparente, por exemplo, nos arranha-céus e shoppings luxuosos). Marx percebe a cidade como mercado, de forma que a cidade parece assumir função fundamental para o funcionamento do capitalismo, como explica Grossi: “É a mão de obra livre e disponível, em relação com proprietários de meios de produção, que efetiva a existência do mercado, como lugar de trocas.” (Grossi, 1997:15). De com Rolnik (1988), as cidades surgiram, muitas vezes, impulsionadas por construções de templos; uma metáfora pode aqui ser pensada: o deus mercado se ergue sobre as cidades modernas e a elas atrai habitantes sedentos de sentido. Nessa perspectiva fica fácil compreender como a cidade pode funcionar como instrumento de dominação, sediando o poder e instrumetalizando normas de controle. As cidades colocam uma perspectiva em cena em que todos podemos observar os símbolos e formas de nosso atual sistema de produção. A cidade é o espaço, por excelência, da materialidade da forma atual de organização socioeconômica humana e suas contradições. Tal é o enfoque que buscamos privilegiar na análise do fenômeno urbano, pensando a questão da inclusão perversa32, como veremos. Pela via da análise espacial, percebe-se a existência de uma inclusão efetiva dos diversos grupos sociais na cidade, ainda que numa participação social perversa, em que o caso das favelas é exemplar. Afinal, se determinado grupo existe, necessariamente ocupa de alguma forma o espaço, se apropria dele – ainda que de um espaço relegado, mesmo que tal participação se dê pela desqualificação. O que confirma a idéia de que se trata de uma inclusão perversa é a observação das diferentes possibilidades de apropriação desse espaço e, ainda, o impacto subjetivo que tal apropriação implica. A inclusão perversa mostra-se, por exemplo, na apropriação de ruas e viadutos, por moradores e trabalhadores. Mostra-se também em sua outra face, no surgimento de fenômenos como os chamados “condomínios fechados” (um novo 31 Para pensar o espaço é preciso pensá-lo nas relações que ali se dão - de acordo com a perspectiva de espaço que assumimos aqui, segundo o pensamento de Milton Santos. O espaço é aqui compreendido como forma e conteúdo, indissociavelmente – como o conjunto dos sistemas naturais somado aos acréscimos históricos materiais impostos pelos homens. Tal concepção impede de se pensar o espaço sem os atores sociais que o constituem. 32 A questão da exclusão vai aqui ser compreendida dentro da dialética exclusão/inclusão perversa, como veremos, a partir das proposições de José de Souza Martins e Bader Sawaia. 66 feudo?) que efetua a transformação da rua, espaço público, em privado; na desejada construção de uma segregação espontânea. A inclusão perversa, observada pela ótica do espaço, pode ser apontada ainda em diversos outros exemplos (como elevadores de serviço, shopping-centers e a própria existência da favela, como veremos), mas pode ainda, como é mais comum, ser apontada pela via da apropriação da mão de obra, desqualificada e aprisionada. O trabalho no modo de produção capitalista pode tornar-se, assim, via de inclusão perversa – em que sua função legítima torna-se diluída33. A inclusão perversa se efetua no âmbito da participação, formal ou não, no jogo socioeconômico (que também se relaciona com a dimensão espacial, vale ressaltar), e que historicamente vem se efetivando pela desqualificação e exploração. Iremos tratar teoricamente desse conceito mais à frente. Vale-nos, por enquanto, a percepção de que o espaço concretiza a definição dos lugares específicos na participação do jogo social, relacionado-se intimamente com o trabalho – elemento fundamental do acesso ou “interdição” social34. O trabalho impõe rotinas e invade o tempo e o espaço da vida humana, e mesmo a questão do lazer encontra-se a ele vinculada, pois os ganhos financeiros possibilitados pela atividade laboral é que irão definir as possibilidades de lazer – lembrando que as formas de vínculo interpessoal também são, e muito, definidas pelo trabalho. A questão do espaço urbano também se relaciona com a dimensão do trabalho, seja pelos trajetos utilizados casa/trabalho delineando o espaço ocupado pelo trabalhador na cidade – na forma da mobilidade espacial exercida (deslocamento); seja também em termos de residência propriamente dita - muitas vezes os locais escolhidos para moradia tem relação direta com o local do trabalho, como sabemos. Mas é em sua dimensão simbólica de “espaço de reconhecimento” que o trabalho se coloca, para nós, em maior relevo. De acordo com o local de trabalho e com o conteúdo das atividades, tem-se mais ou menos status, prestígio. Se o sujeito trabalha em uma grande empresa, por exemplo, este espaço lhe conferirá maior aceitação social, maior mobilidade social etc., porque a identidade do sujeito, amparada na identidade da empresa, encontra um “formato” facilmente identificado e valorizado pelos outros atores sociais. Por outro lado, trabalhar em lugares socialmente 33 O trabalho operário é um exemplo já clássico de tal fenômeno: denuncia o adoecimento, a alienação e a expropriação do trabalhador. Considerando nosso contexto, não podemos nos furtar em apontar, como exemplo, a percepção que se construiu do tráfico de drogas como ‘opção de trabalho’ aos jovens moradores de favelas – encontramos aí a exacerbação dessa perversão do sentido fundamental do trabalho. 34 Não iremos, no presente estudo, demorar-nos numa elaboração teórica sobre o significado do trabalho, mas iremos buscar tal compreensão no sentido e significado que assume nas histórias de nossos interlocutores. Contudo, um breve ensaio teórico sobre o conceito será realizado quando da discussão da dialética exclusão/inclusão. 67 desvalorizados, como cemitérios ou com o trabalho na limpeza urbana, imprime para esse trabalhador uma identidade que fica carregada de estigmas 35, como sabemos. Intimamente associada a esta dimensão do estigma temos que o espaço pode também exercer uma função impeditiva ao acesso do trabalho, como no caso das favelas. “Expostos ao crescimento da violência urbana e convivendo cotidianamente com a presença perversa do tráfico de drogas, os moradores de favelas são, contraditoriamente, amalgamados a essa violência, o que lhes imprime uma dupla condição de sofrimento: por um lado, ressentem-se dessa assimilação com a violência e, por outro, são vítimas potenciais e diretas desses infindável conflito urbano”. (Barros, Nogueira e Sales, 2002: 329) A partir de um tal estigma, confirmar o endereço como o de uma favela fecha portas dificultando ainda mais o acesso ao mercado de trabalho. Mas, para não ficarmos no campo subjetivo da identidade, do reconhecimento, do preconceito, podemos lembrar que, de acordo com a atividade exercida, existem normas e regras aceitas e reproduzidas, em nossa sociedade, que definem claramente determinados espaços. Como exemplo, podemos citar a presença e o uso dos elevadores de serviço. O espaço está, desta forma, intimamente relacionado com o trabalho, ou seja, a atividade laborativa possui uma influência primordial na definição da amplitude da dimensão espacial. O trabalho funciona como espaço de reconhecimento, de construção positiva ou como fator estigmatizante. A percepção do espaço36 como categoria ontológica, ineliminável e sempre presente da dinâmica social nos leva a compreendê-lo, como já o dissemos, em sua proximidade com o trabalho. A cidade vivida, matriz das práticas sociais, para além de sua percepção de espaço construído, mas como concretização e limite dessas práticas, revela a relação com os modos de produção. 5.1 CIDADE E VIDA: CIDADE VIVIDA Muitas transformações desenrolam-se sob o desenho da cidade: 35 “O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos (...) Um estigma, é, então, na realidade, um tipo especial de relação entre atributo e estereotipo, embora eu proponha a modificação desse conceito, em parte porque há importantes atributos que em quase toda a nossa sociedade legam ao descrédito.” (Goffman, 1980: 13) 36 O espaço é condição para a ação, estrutura de controle, limite à ação e convite à ação. Um conjunto do que o autor chama de sistemas de objetos e de sistemas ações, não considerados de forma isolada, mas como o quadro único onde a história se dá. Trata-se da combinação, indissociável, das dinâmicas e práticas sociais e as normas de uso dos sistemas localizados de objetos, como ensina Milton Santos. 68 “As cidades são lugares de encontros onde em cada dia surgem e se ampliam os principais problemas sociais mas também são lugares das mudanças mais radicais e criativas. A cidade é um território onde convergem e se cristalizam os conflitos e as contradições principais de uma sociedade que está passando por uma profunda mudança, ela é o espaço onde se concentram transformações sociais aceleradas.” (Gris, 2000) O conceito e a experiência de polis, desenvolvidos pelos gregos, cujo fundamento implicava a criação do espaço público e da convivência democrática como forma política, vêem-se hoje ironicamente desvestidos da relevância da convivência entre as pessoas (milhões, na mesma cidade) e da perda de importância da ação política no espaço de massas. A palavra e a persuasão perdem lugar para a força e a violência, hoje, na cidade moderna (Zaluar, 1999). A violência aparece com maior intensidade e recorrência nos discursos sobre a cidade hoje: hora como causa de graves problemas, hora como conseqüência de outros. Trata-se de um sintoma sério que explode cronicamente, alicerçado em diversos elementos, mas presente como movimento recorrente de uma engrenagem complexa e intrincada. Não poderemos analisar, no presente estudo, os diversos elementos que se relacionam na manutenção e funcionamento desse sistema, mas não nos furtamos em colocar em relevo, para a sua compreensão, a questão da desigualdade estrutural de nosso sistema de produção que interdita a possibilidade da reciprocidade necessária à boa administração das diferenças intrínsecas aos seres humanos, como sugere Gilberto Velho (2000). Vem daí a forma como a cidade é percebida hoje: espaço do mal-estar, do conflito, da fragmentação e da exclusão. Recorrendo novamente a Milton Santos (1997), pensamos a cidade como o espaço onde mais encontros se dão37, lugar que possibilita a percepção das diferenças e, desta forma, lugar privilegiado de educação (potencialmente): "quanto maior a cidade mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também maiores as lições e o aprendizado" (Santos, 1997: 83). O autor define a cidade como o "lugar em que o mundo se move mais, e os homens também". A cidade seria uma esfera privilegiada para o aprendizado das diferenças, como problematização das desigualdades sociais: historicamente presentes na formação social brasileira. A cidade é o território das práticas sociais e, enquanto espaço, a condição para que aconteçam. É necessário que pensemos a cidade de forma não idealizada, não em sua representação 37 “ (...) o mais significativo dos lugares” (Santos, 1999: 258) 69 ideológica, nem ainda no discurso deformado da “fala do medo” (Caldeira, 2000) - mas como o é na vivência coletiva de seus habitantes – como cidade habitada-vivida (Silva & Souza, 2002). Entender a cidade fora de sua representação hegemônica é o primeiro passo para a compreensão da vivência subjetiva de quem nela habita, para a compreensão da mobilidade psicossocial estabelecida nas trajetórias de vida que sobre a cidade se lançam. Quando citamos a apropriação do espaço e a questão do trabalho (como vias inter-relacionadas de percepção da inclusão perversa) devemos nos perguntar sobre a experiência subjetiva dos sujeitos de fato envolvidos nessa materialidade. É pensar qual o impacto causado, subjetivamente, por uma vivência de desqualificação (questão já bem elaborada pela psicossociologia38); é pensar a dimensão subjetiva na materialidade da cidade, dessa cidade. “No caso das cidades, trata-se de reconhecer que as várias fisionomias da cidade, seus espaços, suas marcas, seus sinais, seus vazios, seus silêncios, suas ruínas e seus monumentos são expressões da luta de classes, são resultados técnico-formais de ‘apropriações da cidade’, que se expressam num conjunto de estruturas e imagens. Daí que considerar a história da cidade é considerar as maneiras como a construção urbana é tributária de um complexo interdependente de motivações, referências, interesses e desejos, em que a subjetividade e as idiossincrasias com construtor-inventor, a racionalidade instrumental do urbanista-tecnocrata, a apura gratuidade do gesto gráfico rebelde, fazem da cidade obra de arte, como diz Argan, mas, também, dispositivo político, discriminatório, estratégico.” (Paula, 1997: 53) As imagens da cidade prescindem do olhar do observador. Para desvendar a realidade é necessário compreender como são formadas essas imagens, de quem são esses olhares. Trata-se de fazer a leitura da cidade não como imagem fixa – posto que não o é, mas como a materialidade da vivência subjetiva, a escrita da história humana no espaço, e, naturalmente, pensando o movimento de inscrição desse espaço na constituição do sujeito que nele transita. É a cidade como tela de um quadro vivo, mas também como personagem de tal cena – muito mais que imagem ou reflexo. Como já dissemos, é impossível dissociar a cidade do sujeito que nela habita, impossível compreender a cidade sem pensar na dinâmica social que a constitui, e amparada em qual conjuntura (em qual modelo de produção? Sobre quais valores?). Para uma apreensão da cidade, é preciso pensar seus moradores. Para uma compreensão da vivência desses habitantes, tem-se que perguntar sobre a cidade. “Assim é como resultado de uma dupla operação – simbólica e material – que a cidade se estrutura e se manifesta. De um lado a pedra e o cal, o ferro e a madeira, o espaço construído e suas funções. De outro lado a recepção destes 38 Podemos citar como exemplos: Gaulejac (1997), Carreteiro (1999), Pierre Bourdieu (1997), Castel (1999), entre outros. 70 elementos, destas imagens e o papel simbólico que realizam na estruturação de identidades coletivas. Cada prédio, cada praça, cada espaço são apropriados, vivenciados como peças de um universo simbólico que têm papel decisivo na cimentação social.” (Paula, 1997: 53) A sugestão do professor João Antônio de Paula está afinada com nossa tentativa de compreensão da cidade; a cidade vivida, apropriada. Seguindo a inspiração de Silva & Souza (2002), que buscam desvendar o contraste existente entre a cidade planejada e a cidade habitada, em Belo Horizonte, tentaremos compreender a cidade a partir e na relação da vivência de seus habitantes (dentro do modelo de organização sócio-econômica que a engendra). Desta forma, sobre cidade formal, regida por leis, assistida pelo Plano Diretor, entendemos que se movimenta uma cidade “outra” – a cidade vivida. Ambas se fundam em uma mesma matriz espacial, mas a matriz socioeconômica inscreve-nas em dimensões diferentes. Entre elas uma distância se apresenta, pervertendo sua relação natural. Pensar essa “outra” cidade é muito mais do que pensar na cidade informal, ilegal (que não responde a essas leis e não é por elas, de fato, atendida). O contraponto, para nós, é dado pela realidade cotidiana; mais que do formal ao informal, é do discurso ao cotidiano. À cidade formal lança-se a cidade vivida, apropriada e experimentada no âmbito subjetivo por seus habitantes, que dela constróem representações – essas que agem, diretamente, no processo de construção de suas identidades. Cidade vivida que oferece trajetos específicos a determinados grupos, mobilidade espacial bem delimitada (como o já citado exemplo dos elevadores de serviço) e trajetórias de vida circunscritas em determinações sociais, encontradas nos caminhos dessa cidade; nos muros reais, nos muros simbólicos. Determinações sociais inscritas no sujeito, no corpo e no espaço – na cidade, como cidade vivida, não apenas como solo a esses corpos e caminhos, não apenas como prédios e leis. Para compreender a cidade nessa perspectiva, é preciso apreendê-la como o centro de um feixe de processos, para além da percepção da cidade como categoria fixa, o que não é. Não é estado; é processo, ativo, que age em nossas vidas. A cidade vivida desvela os fundamentos sociais mais complexos da chamada “crise da cidade”, parte integrante de um processo mais amplo, a crise global de produção do capital. É interessante percebermos que essa chamada “crise da cidade” nada mais é que o reflexo da crise na sociedade de trabalho abstrato39, do modelo atual de acumulação de capital que pode ser 39 Marx faz a distinção entre as dimensões do trabalho abstrato e do trabalho concreto. O trabalho abstrato é o trabalho ‘reduzido’, funcionando resumida e simplesmente como um meio de subsistência, que encontra-se em crise no momento atual (a sociedade salarial). O trabalho concreto, como primeira dimensão da atividade sensível humana, é eterno, não sofre influência das oscilações das formas de 71 percebido, em linhas mais gerais, e de forma familiar pela grande maioria da população, na forma do desemprego estrutural. A crise da cidade é reconhecida no conjunto de tensões sociais apresentado por certos grupos, os chamados “excluídos”, contudo, o que se dá é a concretização, na forma de sintoma, de um quadro crônico de conflito, desenvolvido por esse modelo de produção que se lança através de uma universalidade excludente, que torna a cidade menos palpável para os que nela se encontram em posições menos móveis – como compreende Milton Santos. Dá-se, assim, a “inclusão perversa” desses grupos, de forma que, até mesmo a chamada “crise da cidade” é experimentada e compartilhada de forma desigual pelos seus habitantes. Trataremos, posteriormente, com mais profundidade, a dialética inclusão/exclusão do modelo de produção Capitalista. No momento, faz-se necessário apontar para a relação existente entre a cidade, com seus habitantes, e a matriz estrutural do modelo de produção que a atravessa. Ribeiro (2000) ressalta que é necessário analisar: “o conjunto da cidade para avaliar os impactos das transformações econômicas sobre a sua estrutura socioespacial. Não é possível tirar conclusões consistentes olhando apenas para algumas das suas partes, especialmente se a pesquisa concentra-se na análise das pontas da estrutura” (Ribeiro, 2000 :69). A consistência vai ser encontrada no todo, não em leituras descontextualizadas de algumas partes, de fragmentos. Diversas leituras da cidade hoje são realizadas sobre fragmentos específicos desse todo, sem compreendê-los como parte desse universo anterior. A cidade mesmo é hoje compreendida como fragmentada. Entendemos essa “fragmentação” da cidade não como dissociação em partes desconexas, não como “Cidade Partida” 40 , mas enquanto estrutura perversamente includente, constituindo-se em várias dimensões sobrepostas. Não transitamos na cidade livremente, por exemplo: se há uma favela no caminho, ela é contornada sem que tal desvio seja percebido – sem que tal o gesto (na forma de semelhante trajeto) e a realidade que ele esconde sejam percebidos. Traçamos esses trajetos como se fossem naturais. Podemos perceber tais dimensões ainda na incrementação da chamada “arquitetura do medo”; da dificuldade de compreender os espaços como públicos ou privados, nas várias formas de segregação (as impostas e as espontâneas), apresentando-se mais visivelmente na repetida presença de grades, cercas elétricas, seguranças e blindados, ou na multiplicação dos Shoppings Centers como área de lazer e segurança (para quem?) e, ainda, nas obras que são efetivamente realizadas pelo poder público e nas que não o são. Podemos perceber a fragmentação da cidade, pensando-a em sua materialidade histórica, nas representações criadas pela retórica do crime e da violência, assunto comum às mais diversas sociabilidade, de organização da produção - uma permanência na mudança, um fato ontológico. (Marx, 1983) 40 Título do livro de Zuenir Ventura: “Cidade Partida”. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 72 situações – o que mobilizamos e movimentamos, em nós e na sociedade, ao repetirmos esse mesmo discurso? E é, de fato, interessante percebermos como o discurso da violência é levantado sob justificativas pacificadoras, um enorme paradoxo e uma grande falácia se pensarmos na história e olharmos a cidade como contorno e concretização da história. Assim, podemos mesmo encarar a chamada “crise da cidade”, em seus vários desdobramentos, não como atributo da cidade, mas talvez pensá-la como sintoma do modelo de organização capitalista. Assim, é preciso pensar a cidade e a questão da cidadania também através da dimensão espacial. Todavia, “é tão pouco possível fazer uma análise do espaço ‘em si’ quanto fazer uma análise do tempo...”, como apontou Castells (1983: 459). Então, trata-se de perceber o espaço pelos sujeitos que nele se movimentam, como se dá essa movimentação e quais as conseqüências psíquicas de tal mobilidade – ou imobilidade. “O espaço como produto social, é sempre especificado por uma relação definida entre as diferentes instâncias de uma estrutura social: a econômica, a política, a ideológica e a conjuntura das relações sociais que dela resulta. O espaço portanto é sempre uma conjuntura histórica e uma forma social que recebe seu sentido dos processos sociais que se exprimem através dele. O espaço é suscetível de produzir, em troca, efeitos específicos sobre os outros domínios da conjuntura social, devido à forma particular de articulação das instâncias estruturais que ele constitui.” (Santos, 1987: 81) Nessa análise, não podemos perder de vista o processo sócio-histórico que fomentou tal conjuntura, para não cairmos em “psicologismos”. Buscamos perceber a dimensão subjetiva sobre essa materialidade, em suas conseqüências, mas também em suas causas – numa análise que busca se contextualizar e se implicar. Maricato (1996: 85) postula que simplesmente não é possível separar sociedade de ambiente construído, de espaço – que para ela é “meio de produção submetido a determinadas relações de apropriação”, de maneira que a forma do ambiente construído resultante é força produtiva. Podemos perceber que fronteiras são erguidas simbolicamente – sutis e ao mesmo tempo visíveis no espaço urbano. Para Caldeira: “Nas cidades em que os enclaves fortificados produzem segregação espacial tornam-se explícitas as desigualdades sociais. Nessas cidades, as interações cotidianas entre habitantes de diferentes grupos sociais diminuem substancialmente e os encontros públicos ocorrem principalmente em espaços protegidos e entre grupos relativamente homogêneos. O próprio tipo de espaço vai contribuindo para que os encontros públicos sejam marcados por seletividade e separação. Na materialidade dos espaços segregados (...) fronteiras sociais vão sendo rigidamente construídas.” (Caldeira, 1997: 174) 73 Já não é mais possível desconhecer o conteúdo da cidade vivida, incluindo aquela que seria a cidade oculta41. É preciso conhecer a cidade em sua realidade concreta, o que significa admitir o espaço urbano como “ambiente construído por uma sociedade marcada pela desigualdade e pela arbitrariedade” (Maricato, 1996:16), compreendendo o efeito de tal configuração socioestrutural na dimensão psíquica, compreendendo as transformações globais da estrutura socioespacial das cidades, na dialética de exclusão/inclusão. 5.2 DO PRINCÍPIO DE CIDADANIA – iguais e diferentes Sawaia (1994) entende que a cidadania vem sendo geralmente tratada como a relação existente entre uma pessoa e o Estado, na qual a pessoa deve obediência, e o Estado, proteção. Incorporando-se aí o conceito de alteridade, a cidadania implica em igualdade de direitos e, ainda, “o direito de viver a própria vida e ser diferente dos demais”. Trata-se de um princípio ético direcionado ao ideal de igualdade humano. Somos diferentes e precisamos administrar essa diferença: “Os seres humanos não são iguais, são diferentes entre si, ou melhor, são únicos: ‘a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir’ (Arendt, 1991). A igualdade não é inata, característica de uma ‘natureza’ humana, é produto da ação dos homens em sociedade e, portanto, não é constituinte da esfera privada, muito menos do âmbito da personalidade individual; é uma categoria da esfera pública.” (Escorel, 1999: 24) Nossas diferenças implicam um conflito implícito percebido nas nossas relações e trocas, que revelam essas diferenças e podem reforçá-las. Segundo Gilberto Velho (2000), é necessário que haja uma noção minimamente compartilhada de justiça para que tais diferenças possam ser negociadas, para que exista reciprocidade. Contudo, dentro do discurso neoliberal, o respeito à diferença se desvirtuou em indiferença ao sofrimento do outro, em naturalização de diferenças socioeconômicas historicamente construídas, a ordenação social sobre o alicerce da desigualdade. A estrutura da sociedade passa a ser encarada como realidade objetiva, perde-se de vista que tal objetividade é construída na subjetividade. Os papéis sociais passam a ser determinados como condições naturais e chegam a se cristalizar. 41 A essa cidade oculta tentou-se aplicar políticas que, em sua grande maioria, desconsideravam a questão social – talvez, muitas vezes, até mesmo por desinformação, mas, principalmente, pela dimensão econômica que pautou muitas das iniciativas higienistas no trato com as favelas – gerando iniciativas muitas vezes estéreis e mesmo demagógicas. 74 Dessa conjuntura decorrem direitos diferentes e a duplicidade de cidadania. Nasce uma política só para os ricos e uma política específica direcionada aos pobres, gerando a idéia de cidadania mínima ou mínimo social a ser garantido aos mais pobres. Ainda nessa problemática, Gilberto Velho argumenta, revendo uma anterior posição teórica por ele assumida: “Não existe isso (cidadania de primeira, segunda e terceira classes). Ou você tem cidadania ou não tem.(...)Porque a idéia de cidadania é basicamente a idéia de que o outro tem, pelo menos potencialmente, os mesmos direitos e deveres.” (Velho, 2000: 236) O termo cidadania também sofreu usos diversos, seguindo as mais variadas determinações. Tornou-se o que chamamos de conceito “mala ou bonde”: podendo ser levado a qualquer lugar, podem carregar as mais diversas significações. Hoje é, muitas vezes, usado como rótulo para velhas idéias, de forma que a referência a ele deve ser feita de maneira crítica e cuidadosa. Cada momento definiu a condição cidadã de um jeito diferente. A idéia nasce na Grécia antiga, mas o termo só surge para vesti-la no século XVIII. Como sugere Gomes (2002), é importante perceber que desde sua origem há, na idéia de cidadania, uma matriz territorial: etimologicamente vem de civitas, aquele que habita a cidade. O cidadão é o indivíduo em um lugar, lhe é inerente esse componente territorial e, na Grécia, a construção dessa idéia significou uma reconfiguração espacial. É no território como está configurado hoje que se dá a cidadania: ambos incompletos. É importante também apontarmos que, mesmo sendo o berço da democracia, quando o princípio de cidadania surge já se elaborava sobre uma paradoxal desigualdade. Definimos a idéia fundamental de cidadania, de forma superficial, como o direito elementar de acesso às várias esferas do campo social que todos os indivíduos nele inseridos devem possuir. Um corpo de direitos concretos, individuais, inseparáveis. Ora, não existe cidadania plena: existe cidadania ou ausência de cidadania. Para a compreensão de semelhante princípio é preciso que sejamos, de fato e de direito, sócios plenos da sociedade humana. A justiça só existe se igualmente compartilhada, se não se coloca distorcida. Retomando o texto de Milton Santos: “As condições existentes nesta ou naquela região determinam essa desigualdade no valor de cada pessoa, tais distorções contribuindo para que o homem passe literalmente a valer em função do lugar onde vive. Essas distorções devem ser corrigidas em nome da cidadania.” (Santos, 87: 112) 5.3 SOBRE A EXCLUSÃO E A INCLUSÃO PERVERSA A referência a esse conceito exige um cuidado muito especial. É inegável que o uso do termo exclusão alcançou, a partir da década de noventa, grandes proporções – mas uma observação 75 mais atenta sobre a forma como foi e ainda é utilizado mostra um uso abusivo – chamado nas mais diversas situações e, muitas vezes, na forma de rótulo, de estado (não de processo): “Pode designar toda situação ou condição social de carência, dificuldade de acesso, segregação, discriminação, vulnerabilidade e precariedade em qualquer âmbito. Quando um termo pode designar muitos fenômenos, acaba por não caracterizar fenômeno algum.” (Escorel, 1999: 21) Martins (1997) afirma que o conceito está sujeito ao que ele chama de “coisificação conceitual”. O autor denuncia a fetichização da idéia da exclusão, que estaria substituindo a idéia sociológica de processos de exclusão (entendidos como processos de exclusão integrativa ou modos de marginalização). O conceito de exclusão seria um disfarce para formas de “inclusão anômala”, típicas do modelo capitalista – uma concepção antidialética por si mesma, já que nega o princípio da contradição, negando a história e a historicidade peculiar às ações humanas. Desta forma: “... a exclusão deixa de ser concebida como expressão de contradição no desenvolvimento da sociedade capitalista para ser vista como um estado, uma coisa fixa, como se fosse uma fixação irremediável e fatal. Como se a exclusão fosse o resultado único, unilateral, da dinâmica da sociedade atual; como se o mesmo processo não gerasse e não pusesse em movimento, ao mesmo tempo, a interpretação crítica e a reação da vítima, isto é, a sua participação transformativa no próprio interior da sociedade que exclui, o que representa a sua concreta integração .” (Martins, 1997: 17) Tal substituição nada mais é que uma manifestação sintomática do processo de exclusão propriamente dito que o capitalismo contemporâneo engendra, de formas cada vez mais sofisticadas. Uma estratégia ideológica que, mesmo que inconsciente para a grande maioria (inclusive, muitas vezes, para aqueles que são os objetos de sua ação), se faz presente até mesmo nessa banalização do termo. Martins lembra ainda que este seria um conceito “ideologicamente útil à classe média e a seu afã conformista de mudar para manter” 42. Alain Badiou, fundamenta nossa discussão a respeito dessa polêmica observando que o excluído “é a figura contemporânea do infeliz merecedor (...) de nossa compaixão”. Para o autor, passamos em poucos anos, de balizas como justiça e igualdade, para noções como exclusão, piedade e humanitarismo, configurando uma “formidável regressão”. É fugindo desse tipo de postura que optamos por tratar do processo econômico-social a partir da idéia de “inclusão perversa” (Sawaia, 1999), de forma a compreender os envolvidos como sujeitos ativos, 42 Folha de São Paulo, 05 de Setembro de 2002. Entrevista concedida a Caio Caramico Soares. 76 participantes do processo histórico, não apenas como atores inertes, vítimas –a partir do contexto sócio-histórico e do contexto de sua própria história. A noção de “inclusão perversa” é uma ampliação do conceito de exclusão, trazendo-o para a dialética da realidade: a compreensão da sociedade e dos processos sócio-históricos que a engendram (incluindo questões econômicas, políticas e ideológicas), na forma de processo e não de estado. A autora sugere que ao invés de exclusão, o que se tem é a dialética exclusão/inclusão. Assim: “...é a concepção marxista sobre o papel fundamental da miséria e da servidão na sobrevivência do sistema capitalista, que constitui a idéia central da dialética exclusão/inclusão, a idéia de que a sociedade inclui o trabalhador alienando-o de seu esforço vital. Nessa concepção a exclusão perde a ingenuidade e se insere nas estratégias históricas de manutenção da ordem social, isto é no movimento de reconstituição sem cessar de formas de desigualdade, como o processo de mercantilização das coisas e dos homens e o concentração de riquezas, os quais se expressam nas mais diversas formas: segregação, apartheid, guerras, miséria, violência legitimada” (Sawaia, 1999: 108) Vale ressaltar que entendemos que o processo de concretização da desqualificação está para além de uma questão puramente econômica. Ao falarmos de econômico-social somos, de qualquer forma, obrigatoriamente encaminhados para a categoria trabalho. De fato, a relação com o trabalho está no centro dessa problemática. 5.4 EXCLUSÃO E TRABALHO O mundo do trabalho vem apresentando inúmeras transformações, mas, em essência, a atividade sensível humana se mantém como fundamento de nossa organização social. Mesmo que encontremos discussões apontando para uma possível não centralidade do trabalho no mundo de hoje43, entendemos que a categoria trabalho possui estatuto de centralidade no universo da práxis humana. O exercício do trabalho possibilita ao trabalhador sua inscrição como sócio da sociedade humana (Pellegrino, 1987), por meio da da contribuição de sua competência, possibilitando o reconhecimento e aceitação do outro e, ainda, as referências principais para que tal reconhecimento possa se dar. É também através do trabalho que serão definidas as relações interpessoais, sua forma de participação na sociedade, seu status, e também sua identidade – dimensão psíquica, de construção do ser. Além do aspecto da dimensão psíquica propriamente 43 Antunes (1995) aponta para uma crise no trabalho abstrato enquanto discute esta outra perspectiva, defendida por autores tais como Offe (1989), Gorz (1982 e 1990) e Habermas (1987). Castel (1999) dialoga com tal discussão e até admite que talvez nos encontremos num processo que pode culminar no fim da sociedade salarial, o que é muito diferente de dizer que o trabalho perdeu sua centralidade como elemento de autoconstituição humana. 77 dita, existe um movimento de identificação (auto-reconhecimento e identificação social) que se dá pela via do trabalho, pelas formas de vinculação que este estabelece: na possibilidade de reconhecimento e constituição identitária e, ainda, nas formas de vinculação sindical e de classe. Elemento estruturante, protoforma da atividade humana, o trabalho é o mediador essencial, é um valor central para o homem e, como tal, de fato, coloca em evidência as contradições radicais do modelo de organização capitalista. Recorremos a Chasin (1993) que trata do trabalho e das contradições do homem, nas formas de autoprodução que encontra e escolhe, mostrando que: “ ... o homem atingiu o máximo de capacidade de produção e de reprodução dos bens materiais, do domínio fantástico da natureza e perdeu todo o controle sobre a autoprodução (...); nós vivemos na máxima conquista da produção das bases materiais da liberdade, mas num mundo de iliberdade, ou seja, de não liberdade, no que tange à auto-construção humana. É por isso que há miséria material hoje, que é forte e crescente; no entanto, é menos universal que a miséria espiritual, que absolutamente avassala de ponta a ponta.” (Chasin, 1993: 4) Encontramos miseráveis e milionários convivendo na mesma cidade, ou não “convivendo”, já que a cada um desses o formato capitalista reserva espaços muito peculiares, criando participações diferenciadas, no seio da desigualdade que chega a gerar, até mesmo, direitos diferentes. Para Velho (1996: 21), “a explicitação da desigualdade se dá de modo intenso e dramático dentro do próprio quadro de organização socioespacial”, o que podemos perceber no desenho das nossas cidades. Esse quadro é pautado por um discurso que, baseando-se numa suposta igualdade, exibe de fato a exclusão: “O capitalismo vive sua terceira revolução tecno-científica no marco das sociedades fraturadas por linhas de pobreza e aturdidas pelo florescimento de ideologias individualistas e anti-solidárias. Se nos países centrais a riqueza viabiliza políticas de compensação por parte do Estado, e os movimentos sociais aí intervêm na esfera política, nos países periféricos a explosão do fim do século mostra, mais que a diversidade cultural e social, o intolerável contraste entre miséria e riqueza” (Sarlo, 1997: 165) Riqueza e exclusão? Liberdade e miséria? Disparidades intrínsecas ao capitalismo que, de forma inevitável, atravessam a questão do trabalho. A vivência do trabalho, como sabemos, pode ser atravessada por diferentes vetores às vezes contraditórios, já que o trabalho pode assumir hora um sentido negativo e adoecedor, hora positivo e fundamental sendo o momento de afirmação do homem (de autoconstituição), mas podendo expropriar o homem de si mesmo. O capitalismo exige que para que alguns sejam incluídos, outros tantos sejam excluídos na dialética da exclusão/inclusão perversa que, de acordo com o discurso neoliberal, transfere a responsabilidade pelo espaço ocupado (ou a impossibilidade de ocupá-lo), do sucesso, para cada sujeito, naturalizando as relações e os problemas sociais. 78 “Conforme o discurso neoliberal, cada um pode (tem o direito) de participar e de competir, de acordo com seus méritos, suas escolhas e capacidades – neste sentido, o sucesso ou fracasso é de sua inteira responsabilidade. Os indivíduos são levados a perceber as contingências sociais como passíveis de serem superadas se há, para tal, desejo e esforço. Assim, aqueles que fracassam são considerados excluídos, não integrados e são enviados à sua ‘inépcia’, à sua ‘incapacidade de se adaptar e integrar’.” (Barros, Nogueira & Sales, 2001:326) A ação do discurso neoliberal culpabiliza aqueles que sofrem as conseqüências da desigualdade do sistema, pela sua condição. As questão sociais não são tratadas de forma contextual, os problemas sociais não são localizados dentro das relações de força (desiguais), mas, ao contrário, são moralizados, explicados através de argumentos que remetem a incapacidades – pessoais, biológicas, culturais e até étnicas – de se integrar e competir com sucesso. “As identidades, dizem, se quebraram. Em seu lugar não ficou o vazio, mas o mercado. As ciências sociais descobrem que a cidadania também se pratica no mercado, que as pessoas que não têm como realizar suas transações ali ficam, por assim dizer, fora do mundo. Fragmentos de subjetividade se obtêm nesse cenário planetário, do qual ficam excluídos os muito pobres.” (Sarlo, 1997: 26) Para esses sujeitos, a vivência do trabalho fica exposta a uma complexa rede de significados e problemas. Podemos citar, como exemplo, o fato de que para aqueles cujo endereço apresenta o nome de uma favela é ainda mais difícil encontrar trabalho, como aponta Marcos Alvito, ao tratar da discriminação que sofrem os moradores de Acari, uma favela, no Rio de Janeiro: “...estigmatização, que pode levar a bloquear os caminhos dessas pessoas que moram, que residem, que são de determinados locais; como muitos deles me relataram, às vezes, para conseguir um emprego, tinham que fazer um cálculo muito delicado na hora de dizer que eles eram habitantes da Favela de Acari, porque eles sabiam que isso podia fechar muitas portas.” (Velho & Alvito, 2000: 279) Ora, se é pela via do trabalho que realizamos nossa autoconstituição, e se essa via encontra-se de certa forma impedida44, como, afinal, desenvolve-se esse exercício fundamental de autoconstrução que é proporcionado pela atividade sensível? Se é pelo trabalho que nos tornamos humanos, e se esse trabalho encontra-se desvirtuado, ou é um “não trabalho”, de que forma o sujeito se autoconstrói para participar da dinâmica social? “Se, como acreditamos, é principalmente em relação ao trabalho que a dinâmica da exclusão aparece em seu caráter mais central (em função mesmo de ser este o lugar legítimo do humano), então será o trabalho, seu cenário e suas relações, um 44 Percebemos que essa participação pode se dar por diversas vias – que não as ‘previstas’ – informais, ilegais, alternativas (tradicionalmente esperadas, conjeturadas, como a vinculação formal do trabalhador), como nesse exemplo a criminalidade do tráfico, ou de transgressão de vida, na voz dos movimentos sociais e da arte. Trataremos desse ponto, ainda eu brevemente, no capítulo 7. 79 dos locais privilegiados para a revelação da conotação extremamente negativa presente, na sociedade brasileira, no tocante às favelas e seus moradores.” (Barros, Nogueira & Sales 2002: 330) O trabalho constitui uma esfera importante e vital para a auto-realização e o fortalecimento da auto-estima. É nele que podemos encontrar os elementos que vão alimentar a construção de nossa identidade. Compreender as relações de trabalho e as relações sociais estabelecidas a partir daí é basilar, aliás é importante perguntar de que trabalho estamos falando quando falamos de trabalho... Entender o trabalho em suas dimensões fundamentais é pré-requisito para conhecer seus desdobramentos atuais, que têm ferido tão de perto nossa realidade – para todos, e especialmente para a população que pretendemos abarcar em nosso estudo. Compreendendo aquelas que seriam as “metades” de uma Cidade Partida, como partes um todo, dentro na cidade vivida, apropriada, para além do que vê a cidade formal, e para além do viés econômico, trazendo à tona, mais uma vez, a necessidade de compreensão dos paradigmas de organização e processos de reestruturação do trabalho, em seu ponto original e final: o ser humano. Muito se fala sobre as favelas. Elas aparecem diariamente na televisão, jornais, revistas (no âmbito nacional ou internacional), livros, cinema, e em conversas cotidianas de qualquer grupo social. Na maior parte das vezes, fala-se sobre “a” favela, como entidade homogênea e quase fantasmagórica, representação da pobreza e da violência, ou romanceada como espaço puro de cultura popular, como resumo da metade de uma Cidade Partida – como já dito – mas não como realidade concreta, contraditória, heterogênea, peça integrante da engrenagem do mundo de hoje. Os dogmas reinantes hoje que a tratam como o locus da violência, como realidade que se reduz à violência, miséria e precariedade, têm endereço certo e efetivamente respondem a interesses específicos, como ressalta Valladares (1999). As favelas fazem parte da cidade, como produtos e ferramentas desse mundo capitalista e, como tal, atores e vítimas de suas desigualdades e seus objetivos. 5.5 AS FAVELAS NA CIDADE As favelas estão efetivamente presentes no cenário urbano, mas como “bolhas”, flutuam sobre a dinâmica social da cidade; estão presentes mas não de forma plena e efetiva - de fato e de direito - de seus vários planos de ação (econômico, político e até territorial). “Desde o seu aparecimento, no final do século XIX, as favelas sempre representaram uma outra face da ‘civilização urbana carioca’ que muitos pretenderam eliminar, controlar ou esquecer..” (Alvito, 2001: 92) 80 Tratá-las como uma “outra face” seria apartar o mundo do Asfalto e o Morro, legitimando e naturalizando diferenças que foram historica (e injustamente) construídas. Em termos de mobilidade social45, podemos dizer que estão restritas e amarradas, historicamente rejeitadas, apesar de presentes no espaço. É preciso lembrar que: “Cada homem vale pelo lugar onde está. O seu valor como produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no território (...). A possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está.” (Santos 1987: 81) Como já dissemos, a questão do espaço reflete a conjuntura das relações sociais que nasceu do processo histórico, envolvendo as questões econômicas, políticas e ideológicas, como ensina Castells. A favela reúne em si, através da história de seu surgimento e resistência, como veremos, uma série de elementos que torna fácil a percepção da chamada crise da cidade. Ao transitarmos pela cidade, deparamos inevitavelmente com o desenho (concreto e real) das favelas, entre morros e avenidas, entremeando bairros nobres, indicando a periferia – que periferia? Talvez a periferia da estrutura social, não como margem, mas como desvalorização, desqualificação, desfiliação social, nas palavras de Castel (1999)46. As favelas atravessam os cenários da cidade e se apresentam em nosso cotidiano de forma concreta, consistente e expressiva, mas, ao mesmo tempo, forçadamente e sintomaticamente como realidade negada, assustadora, estranha. Encontramos freqüentemente as favelas escondidas sob placas de outdoor e, notadamente, as encontramos no discurso do senso-comum (realimentado pelas produções midiáticas) e até em produções de caráter científico, atravessadas pela idéia de pobreza e marginalidade que transcende e contamina a todos que com ela travam algum contato: “A idéia recorrente em nossa sociedade e, logo, entre os oficiantes do direito é que a favela é um lugar de grande perigo. Isso porque ela não confirma as expectativas normativas ideais que essa sociedade formulou. Por ‘fugir do padrão’, apresenta-se como uma espécie de ameaça ao esquema classificatório de nossa estrutura social. Por não representar os valores “ideais” do padrão social, passa a ser vista como algo a ser evitado, como perigosa. A idéia de perigo (Douglas, 1976) formada a respeito da favela e dos favelados tem por função coordenar ações sociais. A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem. Atribuir-lhe a idéia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade que busca viver diferentemente do que considera ser a ‘vida na favela’”. (Rinaldi, 1999: 306) 45 Ou em termos de imobilidade: “A imobilidade de tão grande número de pessoas leva a cidade a se tornar um conjunto de guetos e transforma sua fragmentação em desintegração” (Santos, 1990) 46 A favela, então, comporta em si parte da periferia da estrutura social (Castel, 1999), retratando bem a inclusão no espaço físico da cidade e a expulsão simbólica dela. Este caráter periférico não se vincula às questões geográficas, mas faz referência a um lugar subjetivo. 81 Quando é inevitável percebê-las, são vistas através de referenciais que privilegiam o negativo. Retratamos a favela apontando as carências, colocando a pobreza em relevo, desconsiderando a cidade como um todo e as relações que nela se estabelecem. São vistas, de fora, sob uma ótica míope. A representação a partir da inserção das favelas no mosaico da cidade se dá de forma complexa, em termos de participação, mobilidade e até mesmo espacialmente (fisicamente). As favelas estão na cidade como na Banda de Moebius47, estando dentro e fora ao mesmo tempo. Seus moradores vivem na cidade, mas de forma restrita, tanto que apenas o fato de declararem seus endereços fecha portas e distancia perspectivas de acesso ao trabalho: é “o sonho de ocupar a cidade, mas ser alguém dentro desse espaço” (Silva & Souza, 2002). As favelas fazem parte da cidade, mas essa parte é muitas vezes entendida como a parte relegada e resumida à miséria, à precariedade, à violência e à criminalidade generalizada. Parte-se a cidade empurrando para apenas uma dessas partes a causa e o locus dos problemas urbanos. Não podemos negar que ali a pobreza também reina, como o faz em vários outros espaços hoje. É, sim, expressão da desigualdade gritante, da vulnerabilidade, da precarização e da violência, enfim, da perversidade de nosso sistema econômico. Mas, recorrendo novamente às palavras da socióloga Lícia Valladares: “Reduzir as favelas à pobreza nos parece uma afirmação indevida. Falar da favela como a outra metade da cidade é cair em uma visão dualista, é desconhecer a cidade como uma, e as diversas partes da engrenagem urbana como interdependentes e indissociáveis, remetendo a um todo que, embora desigual, é indubitavelmente, uma totalidade” (Valladares, 1999). É através de um olhar menos atravessado por estigmas e ideologizações que poderemos perceber a cidade como totalidade sistêmica, as favelas como partes dela – e hoje nos parece uma peça fundamental da sustentação desse determinado sistema, amparado na desigualdade social. O lugar que a favela ocupa não é o de um mundo à parte, apesar de muitas vezes se assemelhar a tanto. Alba Zaluar (1994: 15) traduz a visão da cidade formal como um olhar que somente vê a favela como um verdadeiro espaço de segregação moral, sendo então um campo definido de fora como 47 A banda ou fita de Moebius é um objeto topológico que pode ser construído fazendo-se uma meia torção em uma fita, de papel por exemplo, e unindo-se as duas extremidades de forma que obtém-se uma superfície que, ao contrário do que se espera, não apresenta dentro e fora (ou direito e esquerdo) ou dois lados, mas um apenas. Foi descoberta pelo matemático alemão Augusto Möbius, em 1958. 82 campo de criminalidade: um lugar perigoso e de higiene precária, o habitat da malandragem, “antro dos vagabundos, malandros e bandidos”. É paradoxal o fato de as favelas serem hoje identificadas sob o rótulo da violência, quando nasceram precisamente como lugar do trabalho, especialmente no caso de Belo Horizonte. Foi ali que os operários, trabalhadores que construíram a cidade, se acomodaram. Não lhes era permitido a moradia nas áreas formais da cidade planejada, onde as obrigatoriedades que a letra da lei impunha vetavam a habitação de quem não possuía poder aquisitivo suficiente para se integrar às várias normas impostas, como veremos. A favela, de forma geral, é vista ainda como: “...lugar da carência, da falta, do vazio a ser preenchido por sentimentos humanitários, do perigo a ser erradicado pelas estratégias políticas que fizeram do favelado um bode expiatório dos problemas da cidade, o ‘outro’, distinto do morador civilizado”. (Zaluar & Alvito, 1999: 7) O dualismo, que aparta o morro e o asfalto, impõe ao morador das favelas uma habilidade muito especial na construção de sua identidade (mal-vista, como mostramos, pelos outros moradores da cidade) e, principalmente, no trânsito pelo resto da cidade – que parece desconhecer o que, de fato, existe e acontece nesse que, para eles, seria o “outro lado”. Seus moradores são ininterruptamente bombardeados por inúmeras construções ideológicas (como o discurso da pobreza, o mito da marginalidade48, as diferentes máscaras do preconceito, as ações discriminativas etc.), e são por elas influenciados, claro, e sobre elas agem por diversos mecanismos, que atuam na construção identitária e na organização social, micro e supra. A população moradora das favelas apresenta incontáveis iniciativas na busca de seu desenvolvimento a partir da base comunitária, valorizando os atores locais e participando efetivamente na dinâmica social. Podemos perceber diversas estratégias de defesa e oposição, de resistência, de busca de melhores condições de vida, de luta contra a invalidação da qual são objetos49, colocados regularmente numa posição de bode expiatório dos problemas da cidade. 48 Janice Perlman publica, em 1976, a obra “O Mito da Marginalidade”, a partir de estudos de caso sobre a pobreza no Rio de Janeiro, jogando por terra a crença de que os favelados eram parasitas, marginais e vagabundos. A autora critica a teoria da marginalidade (ou das classes perigosas) que, sob uma visão funcionalista, considerava a pobreza como conseqüência de características individuais do pobre. Perman contribui com destaque para a desconstrução de tal mito, mostrando que tal contexto é conseqüente ao modelo de desenvolvimento, como veremos. Contudo, apesar de seu estudo e da recepção acolhedora que teve no meio científico, percebemos que ainda hoje a idéia de “classes perigosas”, o mito da marginalidade ainda atravessa o imaginário sobre os moradores de favelas (hoje amalgamados a imagens monstruosas de traficantes e bandidos). 49 “Não se pode deixar de sublinhar também a capacidade de luta dos favelados na defesa de seu local e estilo de moradia. Após 100 anos de luta, empregando diferentes formas de organização e demanda política, inclusive o carnaval, a favela venceu.” (Zaluar, 1999: 21) 83 “Convenhamos, porém, que já não é mais possível manter o mesmo e velho discurso sobre a favela carioca, no qual ela parece como o território-mor da pobreza e da cultura popular, como um enclave dentro da cidade excluído dos processos econômicos gerais, como a outra metade de uma Cidade Partida onde a vida local se reduz à violência e à pobreza...” (Valladares, 1999) Parece necessário, assim, um aprofundamento do conhecimento de o que é uma favela “ou daquilo que um morador de Acari definiu como ‘um bicho-de-sete-cabeças’” (Alvito, 2001:74). 5.5.1 FAVELA – O QUE É? Existe uma diversidade de conceituação que denuncia a nossa dificuldade de compreensão do universo das favelas. Não sabemos o que é uma favela. O IBGE as denomina de “aglomerações subnormais”. Interessante se perguntar o que quer dizer subnormal... Para responder tal pergunta é necessário estabelecer outra: o que seria normal? Um apartamento num bairro classe média? O IBGE contribui na construção de uma representação da favela como anormal, desviante. Mas para implicar com o IBGE devemos nos referir aos números: o Brasil desconhece o número de moradores de favelas, como aponta o estudo de Suzana Taschner (X Anpur 2003). Inclusive, existe uma enorme variação na contagem dos moradores do próprio Aglomerado Santa Lúcia, recorte de nossa pesquisa. Segundo o IBGE, pelo censo demográfico de 1991, encontram-se aí 14.613 moradores, incluindo-se as três comunidades que se interpenetram no espaço do Morro. Já pela contagem populacional de 1996, o resultado é 14.897. É muito pouco provável que o acréscimo populacional tenha sido de apenas 284 pessoas em 5 anos. Ainda assim, segundo o serviço de informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a população da Barragem Santa Lúcia é de 14.881 habitantes. A PBH também diz se basear nos estudos do IBGE. No caso, as informações são justificadas no censo de 2000. Mais especificamente, segundo o Plano Global Específico da Barragem Santa Lúcia, realizado pela Urbel50, a população do Aglomerado é totalizada em 16.914. Pode-se argumentar que a variação é inexpressiva, contudo, se comparada à contagem da própria comunidade (por meio da associação de Moradores, por exemplo), a discrepância é abismal, como aponta Nil César e Padre Mauro: “Porque a gente acredita, eu pelo menos, acredito que/eu tava conversando com o Edson, o seguinte, o Edson ficou abismado ‘nossa, na, na, na no Aglomerado Santa Lúcia tem trinta, trinta e cinco mil pessoas!’ O presidente da Barragem diz que tem quarenta, quarenta e cinco mil. Trinta, trinta e cinco mil é um dado da Prefeitura. Por que que a Prefeitura não divulga? A Prefeitura vai divulgar que aumentou a miséria? Não pode, não é estratégico, divulgar que aumentou a 50 Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte. 84 miséria. Se aumentou o número de moradores na favela, significa que aumentou o número de miseráveis. Né? Então, não pode ser divulgado.” (Nil César) “Atualmente cê crê, eu sempre falei em 25, 30 mil, mas agora eu já acho que tem mais, acho que é de 30 a 35 mil. Eu vi uma estatística recente, sabe?” (Padre. Mauro) Outro ponto interessante, voltando à denominação e conceituação de favela, é o nome “Aglomerado” que, segundo o Aurélio, refere-se a um amontoado de alguma coisa51. Entendese, assim, que a idéia de favela, como Aglomerado, é a de “um amontoado de gente”. Então, o que é uma favela? Novamente no Aurélio, encontramos um verbete que traduz a favela da seguinte forma: “favela 1. [Do top. Favela (< fava + -ela), do Morro da Favela (RJ), assim denominado pelos soldados que ali se estabeleceram ao regressar da campanha de Canudos.] S. f. Bras. 1. Conjunto de habitações populares toscamente construídas (por via de regra em morros) e com recursos higiênicos deficientes. [Sin.: morro (RJ) e caixa-de-fósforos (SP). Cf. bairro de lata.].” O texto do dicionário sugere, primeiramente, que o termo “favela” surge de um morro no Rio de Janeiro que foi ocupado, em torno de 1897, por ex-combatentes da guerra de Canudos. No Rio de Janeiro, havia um local, até então chamado Morro da Providência, que foi inicialmente ocupado por antigos inquilinos do cortiço “Cabeça de Porco” que fora destruído (em conseqüência da reforma urbana Pereira Passos, incitativa higienista da Prefeitura sob o comando do então prefeito Pereira Passos, transcorrida entre 1902 e 1906). Seus moradores, então, utilizando-se do resto do material de construção daquele cortiço, subiram o Morro da Providência e ali instalaram-se, precariamente, na forma de barracões. Logo depois, o Ministério da Guerra orienta seus soldados, provenientes de Canudos, a ali também se estabelecerem. Nasce a favela, sob o estímulo da Prefeitura e o aval do exército e denunciando a questão habitacional e fundiária brasileira, à qual, até hoje, parece que não damos a devida importância. O nome “favella” parece surgir porque no Morro da Providência havia uma vegetação semelhante a que havia no “Morro da Favella”, no município de Monte Santo, na Bahia52 (assim chamado em virtude da vegetação predominante, esse arbusto conhecido pelo nome de favella), onde aqueles soldados lutaram contra Antônio Conselheiro e seus seguidores. 51 “Aglomerado. [Adj. 1. Junto, acumulado, amontoado; S.m. 2. Conjunto, reunião, aglomeração. 3. Conjunto de cimento e pedras imitante a mármore. 4. Argamassa hidráulica de cimento e pedra britada]” 52 É interessante notar que pode haver aí um conteúdo simbólico agregado, posto que o “Morro da Favella” de Monte Santo teve papel de grande oposição contra o exército da república, de resistência dos mais fracos e oprimidos aos mais fortes e dominadores. 85 “O Morro da Favela, em Canudos, e sua terra crestada e sua flora resumida, tornar-se-á daí em diante uma espécie de símbolo da precariedade, da aspereza, da carência que vai se impor aos enormes contingentes de excluídos que ocuparão as periferias dos centros urbanos.” (Paula, 1997: 57) A partir daí o termo substantivou-se e foi construída a representação de favela. Mas, podemos pensar, como sugere a socióloga Lícia Valladares, que há um outro elemento em comum ente Canudos e as favelas cariocas, para além da vegetação, que é exatamente a resistência. Resistência eterna que acompanha, como vemos, desde sempre, os moradores da favela. No mesmo ritmo de avanço da pobreza, multiplicaram-se os espaços de ocupação (na tentativa de encontrar moradia e trabalho na cidade etc.) e as favelas foram tomando corpo nas formas mais comuns dos morros, como no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, entrecortando as grandes avenidas, atendendo às necessidades dos bairros mais abastados (por mão-de-obra barata), ou também na forma das periferias, como em São Paulo53... À medida que a cidade cresce, cresce também a pobreza, logo, multiplicam-se também as formas mirabolantes de acabar com ela (história bem documentada no caso Rio de Janeiro e que também se repete em Belo Horizonte). Foram muitos os tratamentos que as favelas receberam ao longo de seus pouco mais de cem anos de existência, passando pela assistência paternalista, por várias tentativas de extermínio54. No texto “A Gênese da favela Carioca”, em que Lícia Valladares (2000) percorre os vários estudos realizados sobre a favela, tentando resgatar sua história social, a autora afirma que: “Data do início do século não apenas a descoberta da favela, mas também a sua transformação em problema. Aos escritos dos jornalistas junta-se a voz de médicos e engenheiros preocupados com o futuro da cidade e de sua população. Surge o debate em torno do que fazer com a favela, e já na década de 20 assistimos à primeira grande campanha contra essa ‘lepra da esthetica’”. (Valladares, 2000: 13) Caminhando na linha temporal, apresenta o censo das favelas de 1949 que mostra a Prefeitura do Rio de Janeiro, desejosa de “extinguir as favelas ou pelo menos sustar o seu 53 No caso de São Paulo, como relata Lúcio Kowarick (1979), surgem atendendo às necessidades industriais (como vilas de operários) e, na medida em que o terreno ocupado ia sendo valorizado (pelas melhorias no transporte, por exemplo) iam sendo empurradas para espaços mais afastados do centro – surgindo então o grande bolsão de baixa renda que cobre a extensa periferia paulistana. 54 Abreu (1994) descreve em seu texto: “Reconstruindo uma história esquecida: origem e expansão inicial das favelas do Rio de Janeiro” a chamada era das demolições, no início do século XX, por meio da ação repressora do poder público. 86 desenvolvimento no Distrito Federal”. Quando as próprias favelas, ainda crianças, começaram a ser discutidas dessa forma mais cotidiana, chamadas de “lepra da estética” preocupadíssimos com a textura que elas acrescentavam à pintura do município de São Sebastião do Rio de Janeiro e, ainda, aterrorizados com as doenças que dali podiam proliferar e avançar sobrado adentro, surge esse tratamento que está, curiosamente, em sua origem e passa a ser aplicado à favela e seu indesejável desenho: o extermínio. Tratamento que a vem acompanhando até recentemente. É muito recente a descoberta de que simplesmente rejeitá-las no espaço e expulsá-las não é nem mesmo eficiente e foi, de fato, a partir de semelhante iniciativa – de extermínio, no caso, dos cortiços – que surge a primeira favela. Os cortiços eram então vistos como habitat da malandragem, das chamadas “classes perigosas”. Trata-se ainda do mito da marginalidade - preconceitos que atravessam até hoje a imagem das classes populares que se apropriaram desses espaços coloridos que hoje chamamos de favela. Mais recentemente, as iniciativas realizadas objetivam a urbanização. Mesmo após sofrerem esses modernos tratamentos de urbanização (que parecem sofrer, muitas vezes, de antigos vícios) percebe-se que o estigma permanece colado à região, como o caso da Rocinha, piloto para a realização do Programa carioca Favela-Bairro. De qualquer forma, é possível observarmos que mesmo hoje existe uma certa tendência de negação de sua realidade concreta, afinal, é sintomático perceber que os conceitos estabelecidos para o termo favela não se aplicam à realidade posta. Em termos de origem, a história das favelas de Belo Horizonte, de São Paulo ou de Salvador divergem entre si e são, ainda, adversas à história da origem da favela carioca. O fator comum, entretanto, alicerça-se na questão econômica, primordialmente. Os fenômenos de surgimento das favelas e as formas que assumem atualmente são peculiares e não é possível estabelecermos uma generalização que seja fiel às diferentes realidades que encontramos sob o rótulo “favela”. Voltemos ao dicionário: retomando o conceito encontrado no Aurélio, é questionável a interpretação desses lugares como “toscamente construídos” – de forma tão simplista – ou portadores de recursos deficientes. É fato que não são adequadamente urbanizados, não foram planejados e não apresentam a estética padrão, em sintonia com o que a sociedade de forma geral entende. Contudo, algumas ressalvas precisam ser feitas neste ponto. O conjunto de critérios que definiriam uma favela não se aplicam a algumas localidades que ainda hoje recebem esse rótulo (como a internacionalmente famosa Rocinha, no Rio de Janeiro), enquanto há outros pontos urbanos que carecem muito mais de estrutura e não são denominados desta 87 forma. Tomando o exemplo da Rocinha, retiramos do site www.rocinha.com.br (Dezembro de 2002) a seguinte descrição: “1 agência de Correios; 3 jornais: Correio Zona Sul, O Katana, O Noticiário; 2 Posto de Saúde (sic):1 da Prefeitura, 1 da Ass. De Mor. Do Bairro; 1 Escola de Futsal; 2 Supermercados: O Novo Mundo (2 filiais); 1 Empresa de Ônibus: TAU (Transporte Amigos Unidos); 2 Pontos de Táxi; 2 Laboratórios Fotográficos” O texto acima retrata uma contradição muito grande entre o que de fato existe e acontece internamente a essa localidade e o que é aclamado pela mídia e reproduzido nos vários discursos. E mostra ainda a dificuldade de entendermos o que é uma favela, pois é preciso ressaltar que o próprio site “autoqualifica” a localidade como “ex-favela”... O que não deixa de ser contraditório, uma vez que está ligado a movimentos de luta e valorização da favela (ligado, inclusive, a um outro site cujo domínio é “viva-favela”). A Rocinha já tem McDonald’s e continua a ser percebida por nós como favela. É verdade que o fato de encontrarmos um McDonald’s ali não é sinal de integração da favela e de seus moradores à cidade, mas sim da percepção que hoje toma força de que os pobres são um mercado consumidor a ser explorado, mais explorado. A revista Exame de Outubro de 2003 (Edição 802) inclusive vem exatamente trazer algumas lições de “como vender para pobre” e, sim, é esse o título da capa. Vamos reforçar aquela idéia de relativização recorrendo, mais uma vez, às palavras de Lícia Valladares: “Nas favelas, agora, quase tudo é relativo, inclusive aquela história do lugar onde as misérias levam uma vida própria, com certa alegria de viver que resiste a tudo. As favelas da Zona Sul, por exemplo, estão cada vez mais distantes desse modelo que eu chamo de mítico. Algumas, como a Rocinha, têm loja do McDonald´s, filiais do colchões Ortobom, laboratórios De Plá e pontos de venda de celular. Aliás, no Rio, foi nessas favelas que o celular mais se expandiu. O comércio local oferece esquadrias de alumínio, aparelhos de ar condicionado, produtos importados, micro-ondas. Na Rocinha uma casa de vinhos abriu as portas no ano passado. Há clínicas de olhos, agências dos correios, curso de informática, inglês ou espanhol, TV a cabo, pizzarias com entrega a domicílio e estacionamento pago, que aliás é um serviço que está crescendo muito. Até o mercado imobiliário funciona nas favelas. As pessoas compram e vendem imóveis com papéis assinados, mesmo que não tenham título de propriedade” (Trecho de entrevista concedida ao jornalista Marcos Sá Côrrea, para o site www.no.com. 05/05/2000) . Assim, para quem está dentro, para quem está fora, para quem quer ver e para quem não admite, as favelas são ainda realidades infladas pelas mais variadas representações e, de fato, muito desconhecidas. Podemos abandonar o Aurélio e recorrer à recente edição do Dicionário Houaiss (2001), mas a decepção é semelhante. Afinal, o verbete favela aparece representando, antes de mais nada, o 88 arbusto Jatropha phyllacantra, planta da família das euforbiáceas. Após uma segunda acepção que remete também à Botânica, aparece finalmente o sentido que a palavra possui e que procuramos: “conjunto de habitações populares que utilizam materiais improvisados em sua construção tosca, e onde residem pessoas de baixa renda” – e mesmo nessa terceira tentativa a conceituação deixa a desejar: é muito discutível retratar as construções existentes nas favelas, hoje, de forma geral, como toscas e elaboradas unicamente através do uso de materiais improvisados... É, de fato, sintomático que mesmo hoje, quando as moradias da favela são, em sua maioria esmagadora, feitas de alvenaria (algumas chegam a alcançar um quarto andar) continuemos a nos referir a “barracos”. E, ainda, seria interessante tentar entender que o significado que atribuímos a arquitetura despadronizada da favela é muito diverso daquele que quem nela habita atribui e quem realmente criou (com as próprias mãos, ao longo de anos) aquela arquitetura, de conquista e constante transformação... Tomando as palavras de Alvito: “Embora seja verdade que todo espaço habitado pelo homem é um produto socialmente construído, no caso da favela isto assume uma dimensão radical. É um espaço que não somente foi construído pelo homem – termo genérico que nos bairros de classe média designa organizações privadas, como as construtoras, ou governamentais, como a companhia de eletricidade –, mas também, no caso de Acari (excetuando-se o Amarelinho), pelos mesmos homens que lá habitam, com suas próprias mãos, lentamente, durante anos.” (Alvito, 2001: 69) A relação que o morador de Acari estabelece com esse espaço: “é a de um conquistador, de um desbravador, de alguém que domesticou a natureza, que construiu tudo a partir do nada. Ali onde a classe média sempre vê carência, mesmo quando parece elogiar ‘uma bairro inacabado’, esse morador vê uma obra de décadas de trabalho, chegando a dizer: ‘isto aqui é uma cidade’ (Alvito, 2001: 70). A partir do olhar de Alvito, fica claro, mais uma vez, que não existe uma sintonia entre o que é visto “de fora” e o que é significado por aquele que está “de dentro”, vivendo a realidade da favela. Alvito faz uma crítica a respeito do “elogio” da classe média para a favela, que surge quando esta esforçar-se para ver ali “um bairro inacabado”, pode ser estendida a várias situações em que a realidade é escamoteada e o preconceito alicerça conceitos e ações. Seguiremos na problematização do conceito, lançando mão de uma longa citação em que o que é chamado de “fenômeno favela” se aproxima mais do desenho de sua realidade no cenário atual: 89 “Favelas são assentamentos residenciais de baixa renda, destituídos de legitimidade do domínio de terrenos, cuja forma de ocupação se dá em altas densidades e em desobediência aos padrões urbanísticos legalmente instituídos. Conformam-se em espaços de topografia acidentada, fragmentados em áreas de reduzidas dimensões e ocupadas por construções rudimentares. Seus sistema de articulação é adaptado às condições topográficas locais, constituindo-se em grande parte de caminhos de pedestre, sendo raras as vias para acesso externo. O fenômeno favela faz parte intrínseca da paisagem das grandes cidades brasileiras. Tem sua origem no modelo capitalista dependente no qual se insere o país. As favelas surgem como estratégia de apropriação do espaço pelos estratos de mais baixo poder aquisitivo e de menores condições de participação nos benefícios da cidade. Assim na RMBH (região metropolitana de Belo Horizonte) essas aglomerações não podem ser consideradas como algo externo à sua comunidade sócioeconômica, mas compreendidas como a alternativa encontrada por determinadas pessoas para se abrigarem e estarem próximas a seus “negócios”; enfim, como maneira de habitar. O poder público, identificado coma lógica do sistema econômico, tende a canalizar seus investimentos segundo políticas excludentes, fazendo com que as camadas de menor poder aquisitivo pouco usufruam dos benefícios da urbanização.” (PLAMBEL, 1983) Percebemos, ao fim dessa breve pesquisa conceitual, que existe uma grande dificuldade de se compreender o que, afinal, são as favelas – ainda bem: o desconhecimento e a dificuldade de conceituação são sintomas do quadro já bem discutido nesse texto; sabemos que uma compreensão de tal fenômeno exige muito mais que um simples esforço de enquadra-las num conceito ou alterar-lhes a denominação (prática ainda hoje muito comum). No universo heterogêneo das favelas, nesse universo plural, existe uma raiz comum – a questão habitacional – e que há um elemento também comum que atravessa e constrói a percepção da cidade sobre a favela: o preconceito. Da rocinha, passando pelos alagados e chegando ao Aglomerado Santa Lúcia, o preconceito atravessa as realidades plurais das favelas. Trata-se de uma realidade complexa e socialmente diversa; em muitos sentidos apresenta diferenças profundas (para além da questão econômica, inclusive) em relação à estrutura da sociedade (em termos de valores culturais, por exemplo) e, explicitamente, um lugar onde o Estado parece não assumir sua devida posição. Maricato (1996) lembra que a ausência do estado não é objetiva, posto que existe uma presença, mas que se dá de forma ambígua e muitas vezes arbitrária: o Estado que ali se faz presente pode ser repressor, ou paternalista, ou ainda clientelista... “E assim, graças à bagunça semântica, produz-se a única definição de favela em que ninguém pode botar defeito. É o lugar da ‘ausência de Estado’. Ela acaba de ser oferecida de graça às autoridades pelo entrevistado do Viva-Favela Jony Ferreira dos santos, estudante de engenharia e morador de Tuiuti”. (Correa, 2000) 90 As favelas são localidades55 que devem ser analisadas de acordo com suas histórias próprias (como qualquer outra localidade), suas bases geográficas, sua posição na hierarquia de localidades, sua relação com as instituições supralocais – como qualquer parte de uma engrenagem: singular, ligada à totalidade. 5.5.2 E O QUE É COMUNIDADE? A favela é também chamada, atualmente, de comunidade - o termo comunidade vem sendo usado como sinônimo de favela e devemos nos perguntar qual o sentido dessa denominação, buscando a distância crítica do uso ideológico que se faz dele. O termo parece ganhar força inicialmente no Rio de Janeiro, nascendo do discurso dos movimentos sociais, e hoje ele pode ser ouvido nas mais diversas cidades, sempre num movimento defensivo dos moradores de regiões desprivilegiadas. Em Belo Horizonte o uso do termo também já se disseminou, empatando com a “criação” local, original e tradicional, usada como sinônimo politicamente correto de favela: o termo “vila”, como sugere Guimarães: “Em Belo Horizonte é comum adotar-se o prenome de Vila para as áreas de favela, sendo considerado politicamente incorreto denomina-las de favelas”. (2000: 351) A apropriação do termo comunidade, de forma geral, parece responder a uma tentativa de não reproduzir a imagem depreciativa que o termo favela conota. Tenta-se criar uma imagem homogênea através da contraposição do que seria o mundo do “asfalto”. Contudo, o termo comunidade vem de comum, evocando a idéia de comunhão e coesão, o que, como sabemos, não reflete a realidade da favela que constrói sobre uma dinâmica mais atomística que comunitária (Souza, 2000). Ainda na discussão do uso do termo comunidade, Castilho (apub Soares, 2002) ressalta a realidade da favela como contrária ao que o termo comunidade evocaria (com-unidade), posto que trata-se de um universo rico em diversidade – política, social e étnica. Cecília Coimbra (apub Soares, 2002) aponta o uso do termo comunidade, no âmbito científico, como vago e abstrato, denunciando a percepção de tal realidade como a de um todo uniforme, sem interesses 55 Vamos compreender as favelas como localidades – assim como Leeds (1978): A localidade é um agregado de casas e pessoas que mantém entre si uma rede altamente complexa de diversos tipos de relações - vínculos de caráter pessoal, face a face, ambiência – através de pontos nodais de interação, num sistema altamente flexível de adaptação humana. 91 próprios, sem corpo 56 - sugerindo que antes de intervir é necessário um conhecimento mais efetivo de tal realidade, alcançado apenas pela vivência cotidiana de sua diversidade. Buscar o ponto de vista do vivido. Leeds (1978) concorda com a compreensão crítica do termo comunidade, cuja acepção remeteria a idéia de uma totalidade isolada, e propõe em seu lugar o conceito de “localidade”. Localidade, para ele, vem a ser entendida como o lugar onde há pontos nodais de interação, numa complexa rede de significações. Buscamos compreender o uso que os próprios moradores fazem do termo comunidade, pensando a apropriação do espaço em suas mais variadas formas e sentidos, entendendo a formação dos vínculos de sociabilidade que aí vão se forjar. É fato que, como já dito, o termo comunidade inundou o senso comum, mas a apropriação feita pelos moradores das favelas assume a tentativa de encontrar para si uma conotação diferenciada, na forma de um exercício de construção identitária. Eles de autodenominam “comunidade”, constróem sua identidade grupal a partir dessa idéia que lhes soa protetora e digna, numa estratégia defensiva às estigmatizações que o termo favela recebe. Contudo, o seu uso generalizado acaba por reforçar exatamente a idéia de carência a ser preenchida por assistencialismo e reforça o rótulo de exclusão. A conquista dessa auto-estima, alicerçada como está nos valores da classe dominante, acaba por reforçar a identidade negativa quando não há, de fato, uma elaboração daqueles valores e de seus próprios, quando não há transformação. Tal fenômeno pode ser percebido, como veremos, por exemplo, na “opção”57 pelo tráfico de drogas como possibilidade de reconhecimento. Apesar das ressalvas apresentadas, vamos nos remeter a esse conceito utilizando o significado que assume para o público a quem buscamos compreender. Logo, a idéia de comunidade representaria a unidade socioestrutural, o encontro e a síntese de seus valores e de seu mundo. A escolha do termo pode ser percebida como uma forma de resistência de seus moradores ao processo de estigmatização. Vários são os movimentos de resistência que essas pessoas vão imprimindo em seu cotidiano, a começar pela existência mesma da favela, que, como vimos, 56 Essa nos parece uma idéia harmônica à denúncia que alguns de nossos entrevistados fizeram aos estudos acadêmicos nas favelas, feitos de fora, sem compreensão efetiva da realidade, num formato utilitarista e descartável. 57 O tráfico de drogas não é o foco de nossa investigação, mas como se trata de um fenômeno importante no cotidiano da favela iremos, em momento oportuno, refletir sobre ele. É fundamental, contudo, ressaltar que buscamos não pontuar tais reflexões por um julgamento moral – assim é que a palavra escolha foi colocada em aspas, por exemplo. Não podemos negar que a realidade do jovem que entra por essa via não lhe oferece, de fato, muitas opções. 92 sofreu em sua história os mais diversos tratamentos – que, até pouco tempo, tinham como tônica comum à idéia do extermino – imaginado, possivelmente, que desmoronando a construção física, a pobreza iria desaparecer58. Resistiram e resistem, física e simbolicamente. Resistiram na luta pelo espaço urbano e por seu reconhecimento – reconhecimento legal, de moradia, e simbólico – de sua cultura e de seus valores, como veremos na voz e história daqueles a quem pudemos ouvir. A permanência das favelas no cenário urbano é um grito de resistência e de reconhecimento ao qual não podemos mais ensurdecer. A favela é hoje notada, mas porque incomoda. Tal incômodo aparece porque a sustentação de tal segregação, de tal ideologia – do estigma de ser o espaço de precarização e o local da violência (violência que é justificada e percebida como se lhe fosse um atributo natural) está falindo. Afinal, a segregação que lhes é imposta é produto de um conflito social anterior, intrínseco ao conflito entre capital e trabalho. Mas essa segregação também alimenta esse conflito, na manutenção de um sistema que busca perpetuar a produção de lugares determinados na estrutura social. Que busca moldar um outro – hoje em marcas e modelos muito bem definidos e vendidos - para que a identificação entre pares possa se dar “economicamente”. Freud denomina tal fenômeno, tão presente nos dias atuais, de narcisismo das pequenas diferenças, que nada mais é que o movimento de: “... unir uns aos outros pelos vínculos do amor, uma imensa massa de homens, com a única condição de que alguns fiquem de fora para serem alvo de ataques.” (Enriquez, 1994) Diversos são os elementos que vão participar desse processo de construção de identidade, como o trabalho e o espaço. O processo de construção de identidade é constituído na relação interpessoal, manifestada num lugar que influencia nas possibilidades de relações e trocas, como sabemos. Diversas são as determinações sociais inscritas por esse lugar, sob uma determinada organização socioeconômica. A necessidade de encontrar recursos de sobrevivência, sobrevivência material e subjetiva, movimenta o ser humano. A compreensão da segregação espacial pode ser elaborada pelo viés econômico, como o é normalmente, mas é fundamental percebê-la também em seu caráter subjetivo. Assim é que poderemos perceber os esforços empenhados pelos moradores de favela para administrar toda essa carga simbólica de desqualificação, de encontrar vias de reconhecimento e de resistir à expropriação, exploração e cooptação estabelecidas pelo processo de inclusão perversa. 58 Da mesma forma como parece que imaginamos que a pobreza brota no meio da cidade, na forma da favela, sem pensarmos no processo sócio-histórico que favoreceu seu surgimento. 93 Esperamos ter fundamentado a importância que damos na influência do espaço na subjetividade, uma vez que nos parece que a primazia da relevância do trabalho já está bem definida no campo teórico. Mostramos que é grande a importância de se pensar no espaço ao se tentar compreender qualquer dos vetores da dinâmica social e passaremos, então, a uma breve contextualização desse espaço, onde a história se dá. 5.6 BELO HORIZONTE A presença real das favelas – em sua diversidade colorida e laranjada – e, ao mesmo tempo, sua ausência simbólica – relegadas que estão a uma periferia não geográfica – denunciam uma realidade perversamente construída e reproduzida na história das cidades brasileiras. O caso de Belo Horizonte, “cidade elite”, é emblemático nesse sentido. “Belo Horizonte é, sob vários aspectos, a síntese da resposta clássica que as elites brasileiras têm dado às nossas seculares contradições. Ante o desejo de justiça, ante a busca de emancipação, do desenvolvimento econômico oferece-se a modernização precária, as luzes desfocadas de um crescimento parcial e desigual. Se o objetivo é superar o passado colonial, o atraso material do período imperial, a herança aviltante da escravidão, a solução das nossas elites é a modernização conservadora de nossas instituições, a recusa ao partilhamento efetivo do poder, a interdição de qualquer processo distributivo. Belo Horizonte é, talvez, um símbolo exemplar desta estratégia, em que a arquitetura modernista é o máximo da modernidade permitida. Faz-se do projeto urbanístico a materialização do único elemento progressivo do projeto das elites. Querem a cidade nova, moderna, planejada como afirmação ideológica de uma ordem que antecipa conflitos, que disciplina o corpo da cidade antes que ela exista, que higieniza seus espaços antes que se apresente um único morador.” (João de Paula, 1997 :55) Como podem existir favelas numa cidade tão bem planejada? Erguida em idéias modernistas, capazes de seduzir a elite, símbolo da República? Pois em Belo Horizonte a história do surgimento das favelas se dá de forma invertida: antes mesmo da cidade existir, a favela já se fazia presente no espaço – as moradias de caráter provisório dos operários, contratados para a construção de Belo Horizonte, já desenhavam no cenário da futura cidade, uma espécie de favela. Pode-se dizer que a cidade é que “ocupa” a favela. A cidade, de fato, “nasce” a partir da favela: são seus moradores que dão forma à cidade que hoje é a capital mineira. Vejamos: “ em 1895, dois anos antes de ser inaugurada, Belo Horizonte já contava com duas áreas de invasão – a do Córrego do Leitão e a da Favela do Alto da Estação, com aproximadamente três mil pessoas” (Guimarães, 1992: 12. Grifo nosso.) Mas aqui também, como no Rio de Janeiro, a fomentação de tal fenômeno está na ação do Poder Público que se organizava, pode-se dizer num certo espírito de segregação social e, 94 notoriamente, de modernidade conservadora – podemos dizer que mal escondidas naqueles ideais de ordem e modernidade. Belo Horizonte é o desejo de afirmação dos ideais republicanos, nasce para reiterar um modelo de progresso material e institucional, marco da modernidade construtiva, cidade administrativa que se deseja centro político, como observa João de Paula. Desde o princípio a cidade vê-se obrigada a administrar as diversas ocupações ilegais que surgem em decorrência de um planejamento que primava pela ausência de espaço para as classes populares, sob interesses políticos e econômicos. Assim, o plano de Aarão Reis previa a organização da cidade em três áreas: urbana (delimitada pela avenida do contorno), suburbana e rural e respondia a interesses claramente idealistas: “Mais de uma vez ouvimo-lo dizer, é verdade, que não queria nenhum dos antigos habitantes de Bello Horizonte dentro da área urbana ou suburbana traçada para a nova cidade, e que tratasse o povo de ir se retirando; mas si, com effeito, eram esses os planos e o desejo do dr. Aarão, não se realizaram, porque foram modificados e abrandados” (DIAS, 1897: 84) O interesse político-econômico é facilmente perceptível na idéia da planta da cidade. A área urbana que devia contar com 8815383m2, está destinada a receber os prédios públicos da futura capital, alojando ainda as residências dos funcionários públicos e demais mineiros com alto poder aquisitivo. Essa área é dividida em quarteirões de exatos 120X120m, dispondo de ruas largas e arborizadas que se cruzam em ângulos retos e são cortadas em ângulos de 45º por grandes avenidas. Todo esse mosaico nasce de um centro circular, coração da cidade, que vai se desdobrando por todo o tecido dessa região urbana (que hoje corresponder a menos de 3% segundo Gris, 2000) até se fechar num segundo anel, fechando a cidade: “nos moldes da composição circular da cidade utópica platônica” (Magalhães & Andrade, 1989: 121). Essa área interna contava, assim, com altas exigências de caráter urbanístico, seu desenho ordenado e moderno refletiam as aspirações que lhe fizeram surgir. Uma “insustentável utopia da ordem” (Grossi, 1997) marca a história da cidade, desde sua concepção. O poeta (Drummond, 1979. “Ruas”) observa o desenho da cidade, em seu ideal modernista e elitista, e nos oferece uma breve tradução de suas conseqüências no âmbito subjetivo: “Por que ruas tão largas? Por que ruas tão retas? Meu passo torto Foi regulado pelos becos tortos De onde venho. Não sei andar na vastidão simétrica Implacável. (...) Aqui tudo é exposto Evidente Cintilante Aqui Obrigam-me a nascer de novo, desarmado” 95 Essa cidade moderna, erigida em ideais conservadores, simboliza a nova ordem da República e nega sua própria memória – mesmo a velha igreja (ali desde 1776) fora destruída; nega sua geografia – o plano foi desenhado antes mesmo de ser definido seu local definitivo; nega a igualdade, recusando-se a aceitar a diferença – impondo a exclusão e afirmando a lógica do capital. “Criada para ser o centro político e administrativo do estado de Minas Gerais, e planejada segundo padrões arquitetônicos e urbanísticos os mais avançados da época, a construção da Nova capital obedeceu a um plano rigorosamente elaborado, a partir de um modelo preconcebido, no qual, entretanto, não havia sido previsto um lugar para alojar o trabalhador encarregado de construí-la. Tratava-se de um projeto de uma cidade-capital destinada ao aparato administrativo do governo e voltada para uma população específica – o funcionalismo público.” (Guimarães, 1992: 11) Belo Horizonte, cidade planejada, não se preocupou, inicialmente59, em oferecer aos habitantes de setores menos favorecidos economicamente possibilidades acessíveis de moradia. Ao contrário, a ação do poder público sumariamente excluiu de seus planejamentos áreas destinadas à população de baixa renda, tendo ainda implementado diversas iniciativas que visavam apenas à remoção dessas populações para áreas fora do centro urbano, estabelecendo ainda políticas imobiliárias inacessíveis (haja vista as exigências de padrão de construção e o alto preço dos terrenos). Tal conjectura só estimulou movimentos de ocupação ilegal nas áreas centrais – onde as pessoas buscavam proximidade para com seus locais de trabalho (já que os serviços de transporte urbano e a infra-estrutura precária dificultavam a possibilidade de se residir longe do centro urbano), enquanto práticas de remoção tornavam-se cada vez mais comuns. A remoção de favelas é prática recorrente do poder público, principal agente de ocupação do solo da cidade – tinha controle sobre o acesso aos terrenos e usou esse poder privilegiando funcionários e a elite mineira, atraindo-os para a cidade e fazendo-na politicamente interessante. Nesse processo, atraiu-se também um grande movimento de especulação imobiliária e buscou-se manter afastada essa população desfavorecida60. “Os operários, tão necessários à construção da cidade, como ressaltado nos relatórios dos primeiros prefeitos, não tem espaço para morar. (...) Assim, diferentemente do planejado, o que vai se ter é uma ocupação descontínua, que se 59 As políticas atuais começam a rever tal postura, contudo, como bem apontam Afonso & Azevedo (1987: 127): “A lei número 3.532, de 6 de Janeiro de 1983, denominada de Pró favela, veio permitir a regularização fundiária das favelas existentes até então, e a transferência dos terrenos aos moradores”, regulamentação do Pró-favela só se dá em 10 de Agosto de 1984, através do Decreto de número 4762, mas parece manter-se como letra morta até os dias de hoje. 60 “... nos relatórios dos prefeitos há queixas sobre a necessidade de localizar a população operária que edifica a cidade. O Prefeito Bernardo Pinto Monteiro, em 1902 ‘considerava ter limpado o centro urbano quando afirmava ter removido deste centro mais de 2000 pessoas que habitavam cafuas’”. (Grossi, 1997: 22) 96 processava predominantemente da periferia para o centro.” (Afonso & Azevedo, 1987: 111) A intenção era que a cidade crescesse do centro para a periferia, mas o que se deu foi exatamente o contrário, em virtude do alto índice de especulação imobiliária e exigência urbanística dessa região mais valorizada (urbana). Em 1912, apenas 15 anos após a inauguração, encontramos 60% da população ocupando as zonas suburbana e rural. Esse interesse de estratificação não chegou a se concretizar, as alcançou relativo sucesso – bloqueado pela ação de resistência das classes menos favorecidas. “A insustentável utopia da ordem que sagrou o planejamento de Belo Horizonte pode ser considerada uma tentativa de interdição do conflito social, inscrita na topografia e arquitetura da cidade”. (Grossi, 1997: 22) Como apontam depoimentos tomados para a pesquisa “Imagens do Brasil: modos de ver, modos de conviver” (2001), esses moradores é que se sentem hoje invadidos pela cidade que, em contrapartida, vocifera pela extinção dessas favelas, indiferentes a quem nelas moram, vivem, e por quê. 5.6.1 “BELO” HORIZONTE? AGLOMERADO SANTA LÚCIA Historicamente, podemos então perceber um caráter segregativo na construção da cidade – traço que nos remete necessariamente a discussão socioeconômica da ideologia na perspectiva do mercado e do capital. Como vimos, o espaço conta parte da história, e esconde parte da história - Belo Horizonte é uma cidade planejada, concretização de um ideal elitista de exclusão. Surge como expressão da cidade formal, regida por lei, recheada de códigos de postura que, ainda hoje, permanecem no cotidiano de seus habitantes. Surge e se mantém, para além da formalidade da letra da lei e dos números, como denúncia/desenho de uma realidade assumidamente excludente. Assim, hoje em Belo Horizonte, é nítida a questão da fronteira, a simbólica (relativa a uma mobilidade social que é restrita) e a real (pela demarcação precisa no desenho da cidade das diferenças territoriais, sob a dimensão do econômico). Basta observar a Barragem Santa Lúcia, imagem de conteúdo colorido e heterogêneo, cercada de edifícios e casas de definido alto poder aquisitivo. Um contraste e tanto. Há, sim, diferenças substanciais nas vidas de quem mora nas favelas, e de quem não está embebido na pobreza e toma conta dos vários espaços “legítimos” da cidade. Essa fronteira é simbólica e, ao mesmo tempo, real. 97 “Nas regiões dos bairros Santo Antônio, São Lucas, São Bento, Santa Lúcia e outros a sul e a leste de Belo Horizonte, extensas áreas faveladas foram substituídas por habitações ricas. O Pindura saia, o Querosene, o Papagaio são hoje morros sitiados, bolsões de miséria encravados em meio à população de renda alta da zona sul” (Monte-Mor, 1994: 82) A favela que é objeto de nosso estudo está situada em Belo Horizonte, onde é conhecida como “Barragem Santa Lúcia” ou “Morro do Papagaio” (cujo nome oficial, contudo, é Vila Santa Rita de Cássia). Na verdade, o Aglomerado Santa Lúcia é uma grande área habitada que se divide em três microregiões : “Morro do Papagaio” – ou Vila Santa Rita de Cássia; a chamada Vila Estrela e, ainda, a Barragem Santa Lúcia, como veremos. Para uma breve contextualização desta localidade, retomando a idéia da favela, buscaremos entender seu conceito como agrupamento geralmente irregular e não urbanizado de habitações. Sabemos que, ainda assim, tal conceituação não se aplica a todas as comunidades que respondem ou recebem a denominação de favela, pois trata-se de universo plural. Contudo, como buscaremos enfocar essa comunidade singular deixarem os as questões de caráter conceitual para serem tratadas à frente e nos dedicaremos, por agora, a uma breve descrição de tal comunidade. O material encontrado indica que a região nasce há aproximadamente 80 anos, e primeiramente é ocupada a região que hoje é conhecida como Vila Estrela, próxima ao bairro São Bento (inclusive, boa parte da área inicialmente povoada foi sendo apropriada por este bairro). Quando de seu nascimento, a região era conhecida como “Ninho de Rato” (Urbel, 2002) e hoje chamamos toda a área ocupada pela favela – como um todo – por “Aglomerado Santa Lúcia”, uma região que nasceu sem planejamento e ainda não possui completamente os adequados recursos de urbanização. Os moradores da localidade efetivamente afirmam que o “Aglomerado Santa Lúcia” engloba três micropartes, a saber: Morro do Papagaio61 (ou, como algumas vezes preferem62, Vila Santa Rita de Cássia); Barragem Santa Lúcia e Vila Estrela63 – inclusive essas são as três comunidades eclesiais que formam a Paróquia Nossa Senhora do Morro. Os órgãos oficiais (IBGE e Urbel) concordam com a percepção dos moradores. 61 Existe toda uma construção simbólica, eminentemente pejorativa, do nome informal dessa comunidade: “Morro do Papagaio”. Na mídia, de forma freqüente, encontramos essa denominação ligada a questões tais como violência, criminalidade de forma geral e precariedade. Para quem mora ali, assumir o endereço é dar um atestado de maus antecedentes. 62 A denominação da ‘comunidade’ costuma variar de acordo com o interlocutor a quem se destina, como afirma Padre Mauro (morador do Aglomerado e padre da “Paróquia Mãe do Morro”), pois se é preciso reafirmar a posição de favelado como grupo, nomeia-se “Morro do Papagaio”, mas, ao contrário, quando é preciso legitimar o grupo, chama-se Vila Santa Rita de Cássia. 63 Há ainda o Bicão (de ocupação mais recente, no chamado “Morro do Carrapato”) essa microárea é também denominada como “Vila São Bento” ou “Vila Esperança”, como prefere o Pároco). 98 A divisão interna ao Aglomerado (nessas três microregiões) existe para os moradores, mas, tanto para esses quanto para os órgãos públicos, trata-se de uma delimitação polêmica. “Ele tem quatro comunidades na minha visão assim. Cada um tem uma opinião né? Na minha opinião ele tem a Barragem Santa Lucia, o Morro do Papagaio (que é a Vila Santa Rita) e a Vila Estrela. E eu considero que existe uma comunidade que se chama Vila Esperança – é aonde era o Bicão e ali eles sempre foram muito isolados daqui, por isso que eles, acho que eles se tornaram uma comunidade. Pelo isolamento e pela falta de recurso que eles tiveram por muito mais tempo do que aqui que foi se estruturando, né? - E então eu considero que existe uma quarta vila que eu chamo de Vila Esperança. Mas ela não é formal e não tem o reconhecimento nem da cidade, nem da prefeitura e nem dos próprios moradores daqui, só os de lá mesmo, os de lá falam: `Nó, agora nós somos Vila Esperança.” (Pde. Mauro) “A gincana ela conseguia reunir os jovens das três comunidades: da vila Santa Rita de Cássia, da Vila Estrela e da Barragem, num momento de confraternização assim, porque nunca, no... nesse período que a gincana ocorreu, nunca teve nenhum incidente e às vezes a comunidade tava em um momento de guerra.” (Márcia) Para o IBGE, formalmente, a divisão da área é puramente arbitrária, tanto é que seus setores censitários encorporam áreas “regulares” – se misturam aos bairros do entorno – dificultando a contagem mais verossímil de habitantes. Do ponto de vista legal, formal, suas três (ou quatro, se contamos a chamada “Vila Esperança” ou “Vila São Bento” – o antigo Bicão) microregiões não estão bem delimitadas. Contudo, ao transitar pela comunidade pode-se perceber, quando se está mais familiarizado, que alguma divisão, ainda que simbólica, ali se estabelece. Segundo o Plano Global Específico (Urbel, 2003) a Vila Estrela foi a primeira a parte a ser habitada. Conta-se que o nome vem do fato de haver uma única casa, inicialmente, no alto do morro, cuja luz (de lamparina) se assemelhava a uma estrela a quem olhava da cidade. Esse primeiro morador ocupou o espaço há aproximadamente 80 anos. A Vila Santa Rita de Cássia vem a ser ocupada, por volta da década de 20, por família originadas do interior do estado e que ali se estabelecem à procura de trabalho na Capital. Em torno de 1960, a região da Barragem é escolhida para assentamento de famílias, mas ao longo do tempo, acaba cedendo espaço para o Bairro São Bento. O “Bicão” (Vila Esperança) é de ocupação recente, cerca de 15 anos apenas. De acordo com a Urbel/Secretaria Municipal de Habitação, como vimos, o Aglomerado como um todo comporta aproximadamente 16914 habitantes, população esta dividida em aproximadamente 1998 domicílios (Centro de Documentação e Informação, dados referentes a 2001/2002). A localidade ocupa a 81º posição dentre as 81 regiões analisadas no IQVU (Índice 99 de qualidade de vida urbana64), mesmo considerando-se que a população possui razoável disponibilidade de serviços públicos e privados. Trata-se de uma comunidade localizada na zona sul (pertencente a Regional Centro-Sul – subdivisão da Prefeitura de Belo Horizonte), cercada de bairros de alto poder aquisitivo, com fácil acesso a região central da cidade e, por isso, detentora de um espaço geográfico que teria uma alta valorização em termos imobiliários... “não fosse uma favela”. Segundo o Livro da Paróquia (único documento encontrado com algum resgate da história da região, além da breve descrição tomada no Plano Global específico da Urbel) a favela vem a surgir a partir de 1949, mas “Muita gente não sabe como foi difícil começar essa favela”. Optamos por transcrever parte do conteúdo de tal documento, que revela a história da comunidade e a relação de seus moradores com o lugar. A formação da Barragem: “Hoje muita gente olha esta lagoa, mas poucas pessoa que a olham tem a lembrança de como foi difícil esta lagoa. Muito antes de termos esta lagoa era uma cerâmica da qual seus moradores moravam na fazenda Velha. Esta fazenda para muita gente não passava de uma saca velha. Mas não podemos esquecer que esta fazenda representa para a Barragem o primeiro patrimônio. Foi a primeira casa a ser fundada por volta de 1938. (...) Da Barragem eu me lembro de um jardim muito bonito e que ainda tenho saudades. Aos domingos havia sempre muita gente brincando, jogando bola, etc. Com o passar dos tempos o chamado progresso foi chegando e por incrível que pareça por onde ele chega ai levando o passado e vai deixando as saudades e a recordação para aqueles que viram morrer a beleza da Barragem Santa Lúcia.” A história nos é contada por moradores da região, D. Terezinha de Azevedo Borges (Tia Nenen) e Aníbal Hilário da Silva, além de Padre Danilo. Quanto ao Morro do Papagaio, existe toda uma construção simbólica, eminentemente pejorativa. Na mídia, de forma freqüente, encontramos essa denominação ligada a questões tais como violência, criminalidade de forma geral e precariedade. Contudo, no início era apenas um morro onde algumas pessoas se instalaram, enquanto outras lá iam para soltar papagaio (daí o nome): “Nos dias de domingo e feriados os ricos subiam juntos com seus filhos para soltar papagaio, foram eles que colocaram o nome de Morro do papagaio. (...) As donas de casa iam distante buscar água. As roupas eram lavadas no Chuá e no Ninho de rato. A Vila foi crescendo com a chegada do povo do interior procurando melhores condições de vida.” 64 Esse dado é fruto de uma pesquisa desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento (1996) e busca mensurar a qualidade de vida do lugar urbano por meio dos bens e serviços oferecidos em cada região, bem como o acesso efetivo dos moradores a esses equipamentos públicos. 100 Ninho de Rato, onde se buscava água, é nome original da Vila Estrela. Seus primeiros moradores, segundo o Livro (cujo texto foi redigido por uma das filhas dessa primeira família) sobreviviam com a venda de verduras, de sua própria horta, e de capim gordura: “(...) para os animais da lenharia. (...) Crescemos no tempo das coisas muito difíceis, água aqui não tinha, buscávamos lá no Mendonça, hoje chama-se Bairro São Pedro; ou numa nascente que tinha onde hoje chama-se Santa Lúcia.” Percebe-se que, desde seu início, a vida cotidiana dos moradores dessa localidade foi permeada por dificuldades de moradia e de recursos básico, mesmo tendo surgido já alguns anos após a inauguração da cidade: “Em Belo Horizonte, as medidas relativas ao problema da moradia do trabalhador – o combate aos barracões, a delimitação de uma área para a habitação do operário e o conjunto de exigências para o seu acesso legal ao terreno – foram adotadas no sentido de preservar a zona urbana, garantindo assim um modelo de cidade, enquanto se buscava isolar as classes ‘inferiores’ das demais. Embora toda a argumentação se baseasse em princípios estéticos, havia uma questão social embutida, que envolvia a elitização e a hierarquização do espaço, especialmente no que se refere à zona urbana, destinada à elite. Assiste-se então a uma luta sem tréguas para limpá-la dos ocupantes indesejáveis, o que imprimiu um caráter segregativo à cidade especialmente no que diz respeito às classes mais pobres.” (Guimarães, 1991:118) Belo Horizonte, “cidade sem perdão?” (Le Ven, 1997), revela a relação da dimensão subjetiva com o espaço, nas formas como é apropriado e nas diversas maneiras como pode expulsar as pessoas, como pudemos perceber. Buscamos compreender, ainda que superficialmente, seu surgimento, esquadrinhado em ideais políticos que cimentados numa cidade elite e, ainda, elaboramos uma breve compreensão de tal conjuntura no âmbito subjetivo, pela voz do poeta – é nesse lugar que a história se dá. 101 “Começa pelo nome, eu acho. Por exemplo, é igual você falar assim: eu sou negra. (...) Então é peso, a palavra já depende da forma como você fala. A maioria das pessoas de repente não falam que moram na favela. (...) Então, você definir favela é uma coisa complexa demais.” (Suzana) “É... favela é um nome horroroso. [ri] Pesado. E não tem/não é tranqüilo igual no bairro, né? (...) E é muita bagunça, essa favela dá muita bagunça, né? Então eu tava comentando sobre o bar que não deixa a gente dormir, eu fui dormir duas hora porque já tava muito cansada, e o som não tava tão alto como é acostumado, mas é barulho, bagunça de tudo: favela, só o nome já chega.” (Maria) 102 6. PRECONCEITO E ESTIGMATIZAÇÃO JUSTAMENTE POR SER FAVELA Em diversos momentos Nil denuncia o preconceito e a discriminação a que são expostos os moradores de favelas. Reconhece-se ainda em seu discurso a reincidente necessidade de afirmação de uma posição de resistência e transformação: resistência frente ao histórico tratamento oferecido pela cidade à favela (e seus moradores) que se expressa na tentativa de transformação dessa mesma realidade. Seu constante movimento de auto-afirmação pode ter sido gerado pela impregnação que parecem sofrer os moradores de favela que, como vimos, é um espaço compreendido de forma pejorativa, como espaço da violência e da precariedade. Tais idéias atravessam a denominação que se dá a essas localidades e alcançam a vivência subjetiva de seus moradores: de “favela” a “favelado”, a imagem que é majoritariamente construída é a de anormalidade e marginalidade: “A denominação de favelado, originalmente qualificativo de lugar geográfico, passou a representar também um lugar social na pobreza, e morar na favela é sinônimo não apenas de ser pobre e pertencer ao mundo popular, mas também ao mundo dos problemas. Com a crescente difusão da idéia de favela como enclave ou ‘guetto’, como espaço social territorializado, parece reafirmada a idéia da pobreza que gera pobreza que gera problemas. Um círculo vicioso que estigmatiza?” (Valladares, 1995: 65). O “Kit de Sobrevivência para Tempo de Exclusão”65 denuncia o que chamamos de inclusão perversa e busca alternativas de ação para aqueles que a sofrem – nas mais variadas formas – como o exemplo duplo de preconceito e discriminação expresso na frase diversas vezes ouvida: “Tão educadinha, nem parece que mora na favela”. Em nossas entrevistas, a questão do preconceito foi insistentemente introduzida como uma questão grave e cotidiana: “Essa questão de preconceito que a gente enfrenta mesmo. Se você tiver doente você, por exemplo, no pronto socorro, não consegue táxi pra te trazer. Se você precisa de algum remédio, você não consegue motorista pra te trazer o remédio. Você tá num sábado, querendo uma pizza, que é um direito do ser humano de ter, você não consegue a pizza. Nem aqui dentro mesmo, se você tem uma pizzaria, o cara daqui não vai querer levar na Vila Estrela, sabe? Gás à noite, de madrugada, você não consegue nem aqui dentro. Eu acho que esses são os aspectos negativos, assim que me dá vontade de morar em ouro lugar.” (Suzana) “Mas, em muitas situações eu acho que existe o preconceito. Em algumas situações eu consigo me sair bem, sabe, ter um posicionamento e tal, mas tem outras que eu confesso que eu tenho dificuldade – mesmo tendo toda essa carga de formação e tudo, tem algumas situações que eu passo por elas, que eu acho que são difíceis e que pra mim são muito duras, assim, principalmente quando se trata do 65 Elaborado pela Comissão de Paz do Aglomerado Santa Lúcia/Morro do Papagaio. 103 preconceito velado, sabe? Quando as portas se fecham pra você ou quando fazem um julgamento de você por você ser moradora de um determinado lugar.” (Márcia) De acordo com Amaral (1992: 9) “o preconceito nada mais é que uma atitude favorável ou desfavorável, positiva ou negativa, anterior a qualquer conhecimento”. Combinando crenças e juízos de valor com predisposições emocionais, o preconceito gera um tratamento desigual dirigido a um grupo ou categoria particular, sendo usado ideologicamente para justificar alguma espécie de opressão social ou como forma de auto-defesa. A ação do preconceito é facilmente perceptível na história desses moradores e surge como uma marca (no sentido literal da palavra: estigma) que pode deslizar tanto do coletivo para o individual, quanto do social para o sujeito – em qualquer dos casos, gera sofrimento e desgaste psíquico experimentados de forma crônica e não transitória. Como sugere Amaral, o preconceito nasce de um desconhecimento – como apontamos mesmo ser a realidade da favela – e age na elaboração de estereótipos que vão corroborar o processo de estigmatização. Imagens estereotipadas são reedificadas, alimentando a construção de preconceitos – a favela, com seus moradores, é identificada de forma estigmatizada. Trata-se de um círculo vicioso causador de danos psicossociais. O termo estigma, originalmente, na Grécia, se referia a sinais e marcas corporais de evidência. O estigma funciona como uma categorização de uma certa identidade social, desvalorizada. Dessa maneira, o estigma refere-se à “situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena” (Goffman, 1975: 7), agindo na promoção de uma generalização e desumanização daquele que possui algum tipo de diferença significativa. “A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com ‘outras pessoas’ previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua ‘identidade social’. (...) Baseando-se nessas preconcepções, nós as transformamos em expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso.” (Goffman, 1975: 11) O estigma surge quando da discrepância entre a identidade social virtual (caracterização) e a identidade social real (atributos reais). Quando tal discrepância se evidencia ela estraga a identidade social, afastando o indivíduo da sociedade e de si mesmo. Assim, a pessoa estigmatizada fica desacreditada frente a um mundo ameaçador. Enfrentar o preconceito e fugir do estigma é tarefa trabalhosa, demandando grande desgaste psíquico: 104 “E no campo pessoal eu ainda não consegui me desvencilhar desse pensamento que as pessoas/que assim, que eu acho que é da sociedade, e é um pouco meu também, de saber se você não chega a um determinado lugar por competência ou por ou por questões de preconceito, é uma coisa muito nebulosa”. (Márcia) “A relação da cidade com a favela é uma relação racista né? De exclusão né? O mais sórdido racismo. (...) como negro ser tratado de forma diferente o dia todo, né? Toda vez que cê vai a cidade, todos os dias, no ônibus, no táxi, no supermercado, ser tratado diferente por ser negro, né? É porque sua cor de pele é negra, né? E depois mais ainda por, se descobre que ele é favelado, né? Então o dia inteiro ta se enfrentando diante disso, eu acho a relação da favela esse problema sério, essa questão gravíssima.” (Pde. Mauro) Trataremos, aqui, da estigmatização e suas conseqüências psicossociais, considerando que a questão do preconceito está também aí articulada. O estigma é, assim, vivenciado como possibilidade potencial ou como realidade concreta no cotidiano da favela. Os estigmatizados vão estabelecendo inúmeras iniciativas para regular esse processo – e o sofrimento social que dele pode surgir. Goffman sugere que é possível também uma utilização do estigma para ganhos secundários, como podemos notar no depoimento de Márcia: “Eu tive consciência de que eu podia até fazer um marketing pessoal, sabe, por exemplo, eu sou uma jornalista que mora na favela e muitas pessoas são tentadas a isso. Muitas pessoas vêem dessa forma e eu acho que isso, é – eu não posso ser hipócrita – mas isso, ao mesmo tempo que em algumas situações me fecham portas, também me abrem, me abrem portas assim, né? Mas eu sempre procurei não utilizar isso, sabe, usar essa logomarca assim: ‘Márcia - a jornalista favelada’, assim, sabe? Pegar isso como uma logomarca mesmo, porque eu acho que é complicado também, porque aí, é uma outra dificuldade assim que eu sempre tive, que eu sempre fiz questão de dividir a minha vida profissional da minha vida comunitária, assim, sabe? (...)Porque eu acho que é um dano muito grande quando as pessoas que são lideranças comunitárias, ou que ocupam de certa forma cargos comunitários, fazem aquela coisa pensando que aquilo pode gerar uma repercussão pra ela, ou que ela possa ter visibilidade e ascensão.” (Márcia) Nosso interesse é sublinhar a existência do desgaste e sofrimento causados pela ação da estigmatização; assim, é preciso não perder de vista que as relações que se estabelecem dentro desse grupo social (a comunidade) vão se forjar sob uma tal constituição. A estigmatização é internalizada e reproduzida, podendo voltar-se para dentro mesmo da favela (como veremos), além de bloquear, muitas vezes, a relação favela/cidade. Podemos notar claramente esta internalização no episódio relatado por Suzana, que conta da primeira vez de sua entrada num apartamento como convidada (não como empregada) e da dificuldade sentida: “E o Bruno e o Nil nada de chegar. E eu lá no meio dos três, e aquela, nossa, assim, a situação. E eu: ‘meu Deus que que eu tô fazendo aqui?’. E eu não conseguia formular uma palavra, tremendo; a mesma reação que eu tive quando eu entrei no palco a primeira vez. E eles conversando, e os meninos ‘nada’. E eles me perguntavam as coisas, eu não dava conta de responder e tal. Foi uma situa/e aí, 105 mas aquilo exerceu uma coisa sobre mim que eu vi o mundo de uma outra forma, assim: ‘nossa, eu estou num apartamento, sabe, com caras ricos, brancos, que me tratam como eu’. E eu tinha umas coisas ainda que eu ainda tentava o tempo todo me diminuir, assim, sabe? É... eu tava lá na casa dele e depois eu que recolhi os negócio tudo e ia lavar os copos, meio que aquela mentalidade de empregada que eu tinha. E aí, isso teve um efeito muito ruim pra mim que aí a raiva que eu tinha de morar aqui no morro, ela aumentou mil vezes.” (Suzana) Entre as micro-áreas, por sua vez, são eleitos os lugares (como a micro-área denominada Bicão ou, mais recentemente, Vila Esperança) que serão relegados e menosprezados, assim como as pessoas que serão desvalorizadas e colocadas à margem: “E aí, eu e meu irmão, a gente sofreu muito na escola, nessa coisa de sermos os mais mal arrumados da turma, né? E aí foi assim, pelo fato da ausência do meu pai, a vizinhança foi construindo as casas de tijolo e a nossa casa ficou como aquela ilhazinha assim no meio de tudo ali assim, né? Aí o beco foi asfaltado e a minha casa continuando sem água, sem luz. E isso na escola era um tormento, né? Porque: ‘ah, a sua casa é de madeira!’. E eu tinha pavor de dizer onde é que eu morava. Aí eu tinha esse problema mesmo, não gostava de nada. Aí, assim, eu passei a ter vergonha dos meus pais, eu gostava muito da minha mãe mas eu tinha vergonha da vida que a gente levava.” (Suzana) “Ah, mudava daqui se pudesse. Eu é que não tenho condições. Independente de violência eu tenho vontade de mudar daqui. Justamente por ser favela, né? Eu não... Mesmo sem a violência, não tem organização, agora ainda tá até melhor porque tem telefone, tem água encanada, luz aqui sempre/aqui em casa sempre teve, né? De primeiro nem água tinha, nas outras casas não tinha. Mas é... sabe o que que é aquele povo da favela? Que um quer trazer limpinho, o outro joga o lixo na casa do outro, um não gosta de, de cachorro, o outro gosta de ter 10, 12 cachorro, agarradinho. Então, é umas pequena coisa que irritante, constantemente.” (Maria) Na mesma medida, aqueles representantes funcionam como um antídoto a estigmatização: “E aí pelo lado da comunidade existe uma cobrança do inverso, assim, sabe? Eu acho que pelo fato das pessoas não terem oportunidade de estudar, de se dar bem na vida, assim, as pessoas depositam nas outras esse desejo. Então, em muitas situações eu me vi sendo cobrada pela comunidade pra ocupar esse espaço, tipo ser o ‘Ronaldinho’ do morro, sabe, existe um sentimento assim, na comunidade, de uma necessidade de ter alguém que saiu daqui do morro, que fez fama, que fez sucesso, sabe, tem muito isso na cabeça das pessoas; as pessoas querem muito ter esse, essa, esse referencial assim, e isso eu acho que é uma coisa pesada pra qualquer pessoa, né? É, ter essa, essa, essa, como que eu vou dizer, essa responsabilidade de ser referência, de ser, né? O exemplo pra muitas pessoas assim. Eu acho isso uma coisa extremamente complicada assim.” (Márcia) Podemos lembrar ainda uma outra característica do processo de estigmatização que é sua capacidade de “poluição”, contaminando quem estabelece algum tipo de contato com o estigmatizado, atingindo a toda a população moradora de favela, em maior ou menor grau. Uma metáfora interessante que podemos propor para compreender essa contaminação é a desenvolvida por José Saramago em sua obra “Ensaio sobre a cegueira”, onde aqueles que 106 mantinham algum contato com pessoas atingidas pela “cegueira branca” também cegavam, mesmo que esse contato fosse apenas pela visão de um cego, ou o medo causado por sua existência. A reprodução e a manutenção do processo de estigmatização podem ser encontradas, como sugerem os moradores, mesmo na ação do poder público (com políticas públicas que não atuam na promoção de mudanças, mas são paliativas e mantenedoras do quadro social vigente), na sociedade de forma geral (“é pobre, mas é limpinho”), gerando uma certa imobilidade social, como veremos. No caso dos moradores de favelas, entendemos que o processo de estigmatização está ligado a uma atitude de afirmação, por parte da cidade, de sua “normalidade” – como o estabelecimento de uma estratégia de reforçamento de uma identidade outra (que seja: civilizado, trabalhador, honesto, limpo). A estigmatização do outro é a confirmação de minha “normalidade”, revelando-se como a expressão mais pungente da impossibilidade histórica de administrar a diferença. “Então eu acho a vida na favela uma vida ruim, mas as pessoas não escolheram uma vida ruim; elas vieram pra cá porque elas queriam uma vida boa, elas queriam ser felizes aqui. Mas elas não são felizes porque elas são negras, e porque elas são pobres e porque a favela, a cidade tornou, os fez favelados.” (Pde. Mauro) Entendemos que tal construção vem da idéia antiga das classes perigosas, do “mito da marginalidade”, compreendido na análise de Janice Perlman (1977), do qual, como percebemos nos relatos, os moradores da favela ainda se ressentem. Essa estigmatização, percebida na pele pelos moradores de favela, fomenta-se em uma falida administração da experiência de alteridade humana. Especialmente no mundo contemporâneo, onde o individualismo performático triunfa, torna-se cada vez mais cansativo a sustentação de uma identidade. Um mal-estar se faz presente nas identidades, na árdua tarefa de ser idêntico e ser diferente, de ser reconhecido. Administramos a relação entre “o outro” (alter) e “o mesmo” (idem) na necessidade de elaboração de um sistema de oposição e de identificação, que venha a me tornar original e semelhante, que possibilite que o outro me compreenda e que eu o compreenda, que favoreça a elaboração de minha identidade. Porém, muitas vezes, elege-se um outro para lhe sublinhar traços negativos que devem, por conseguinte, reforçar os positivos em nós. O indivíduo quer ser reconhecido em sua diferença irredutível e, para isso, ele a sublinha e até mesmo a forja. Como sugere Velho (2000), o conflito inerente às diferenças humanas coloca-se mal negociado, já que não há possibilidades iguais no acordo, posto que não temos uma noção de justiça que seja minimamente compartilhada. Os recursos para administrar tal conflito são discrepantes. Os 107 impactos infinitamente desiguais. A influência da construção de uma histórica impossibilidade de compartilhar é perceptível na ação e formação de vínculos sociais – na arquitetura urbana contemporânea, a elaboração de fronteiras de distinção entre grupos se mostra evidenciada. Constrói-se uma identificação interna aos grupos, que funciona apenas sob a negação de sua diversidade e a exacerbação da diferença. Algumas respostas à demanda de identificação se fazem mais comuns, tais como a ostentação econômica exibida num consumismo potencializado e a busca juvenil de grupos de identificação (“tribos”). Assim é que, na tentativa de produção de formas de alteridade, agenciam-se estratégias de estigmatização: vulneraliza-se a alteridade no plano social, gerando desgaste e sofrimento para aqueles que se encontram na face mais vulnerável da relação, cujo vértice é o estigma. “Aí você tem duas pendências: ou você se fecha no mundo daqui e toma ódio dos que estão lá, ou você toma ódio dos que estão aqui.” (Suzana) Suzana traduz a idéia de fronteira que, em termos sociais, é algo extremamente tênue – mesmo que as diferenças que demarque estejam tão facilmente notáveis e que suas conseqüências sejam de impacto preciso. A fronteira é estabelecida por um limite que objetiva a separação: “O limite é algo que se insinua entre dois ou mais mundos, buscando a sua divisão, procurando anunciar a diferença e apartar o que não pode permanecer ligado. O limite insinua a presença da diferença e sugere a necessidade da separação.” (Viana, 2002:19) O limite é incorporado pela fronteira, conceitos que se interpenetram e trazem à tona a necessidade de reflexão sobre a questão do poder – controle, domínio – presente no mosaico que se monta no cotidiano da favela. Os laços e vínculos sociais se manifestam no território (importante – desde sempre – na definição de poder) onde há algo superior à demarcação desta fronteira, que a torna “legítima” e trabalha por sua manutenção: a manifestação de um sistema forte e, como já repetimos inúmeras vezes, desigual. “Fronteiras e limites são desenvolvidos para estabelecer domínios e demarcar territórios. Foram concebidos para insinuar precisão: a precisão que pede o poder. Enquanto forma de controle, a precisão é necessária para o exercício pleno do poder, em suas diversas instâncias. (...) No entanto, na maior das distâncias, na periferia dos núcleos de poder, a fronteira é demarcação imprecisa, vaga.” (Viana, 2002: 35) Demarcação imprecisa e vaga no discurso neoliberal da igualdade - falso, pois que esconde a diferença e camufla a indiferença. A fronteira de que falamos aqui se manifesta visualmente na segregação, mas é eminentemente social e expõe a imobilidade por meio da estigmatização. 108 Goffman (1975) sugere que “não é para o diferente que se deve olhar em busca da compreensão da diferença, mas sim para o comum”. Desta forma, compreendemos que a gestação de ações voltada para a favela é geralmente discriminativa e oculta a busca de uma afirmação outra, diferente da que prega o discurso – seja ele estimulado por desconhecimento ou indiferença – mas é afirmação de espaços delimitados e demarcados, no território espacial, social ou econômico. O processo de estigmatização se apresenta em inúmeras situações cotidianas e, muitas vezes, encontra-se travestido de iniciativas de cunho assistencialista. Esse tipo de ação geralmente se efetiva sob um discurso assistencialista, de intenções sinceras; contudo, provavelmente por meio de um desconhecimento, não promovem mudanças e agem de forma crônica na manutenção de uma mesma estrutura social. O lugar do morador de favela fica sendo sempre o de incluído de forma perversa, incluído pela desqualificação falseada. “E aí eles tão lá em baixo. Tem as entidades reconhecidas, tem essa, tem tudo direitinho, conseguem verba para ajudar os pobres. Então é um trabalho para os pobres e é difícil quem tenha disposição pra trabalhar com os pobres. Parece pouca diferença, mas é muita, né? Então aí uma proposta dessa, nossa, agora, é fazer com que essa mudança surja daqui de dentro. De dentro pra fora. Porque se tem 80 anos essa favela e sempre veio cobertor de, na época do frio, sempre veio cesta básica e nunca mudou. (...) Quer dizer, pode passar a vida inteira mandando a cesta básica e cobertor. Com muito menos eles poderiam manter os funcionários, mas isso aí eles não querem fazer. Não sei se é consciente que isso vá mudar a realidade daqui e eles querem sempre ter os pobres por perto pra poder exercer a caridade deles, né? A gente tá aí a mercê dessa, dessa falsa caridade que na verdade é uma manutenção da miséria. E muito interessante aí é o discurso que todo mundo já sabe. Quer ter o pobre por perto pra continuar lavando privada, pra continuar cuidando dos cachorrinhos, né? E não pra poder ter dignidade, ninguém, pouca gente tem interesse de que de fato a favela se torne parte da cidade. Que de fato aqui tenha cidadãos qualificados, formados na universidade, né? Não simplesmente com uns cursinhos assim de manicure, né? Todo mundo quer, manda pra cá é curso de manicure, é cursinho disso, é cursinho daquilo, é de jardinagem, né? De pedreiro, que tudo é muito bom, que eu acho que tem uma demanda, existe essa demanda, mas a gente não pode também, que a gente precisa de um prévestibular, que a gente precisa de um assistente social, a gente não pode ter um psicólogo, a gente não pode ter pessoas que estejam aqui prestando esse serviço. Aqui, remunerados, porque tudo na favela tem que ser de graça, tem que ser voluntariado, né? Porque que eu não posso querer pagar a pessoa que presta um serviço aqui na paróquia e aqui na, aqui dentro, né? Porque que aqui tem que ser sempre objeto de caridade, não de justiça, né? Também isso é que me deixa indignado.” (Pde. Mauro) A manutenção desse processo gera a possibilidade do morador de favela, de fato, se identificar com uma tal imagem, julgando-se incapaz de, por exemplo, inscrever-se em cursos de qualificação que não os citados acima ou buscar estratégias de quebra dessa determinação social. Mesmo que essa identificação seja penosa, trata-se de “alguma” identificação. Na 109 experiência de desqualificação social a aceitação de um estigma pode funcionar como ponte para legitimação da cidadania, como sugere Carreteiro (1999). A autora se refere à possibilidade de afiliação social pelo adoecimento e certas condições de sobrevida (projeto-doença): “Estes, aceitando o ‘projeto-doença’, escapam da possibilidade de serem considerados ‘extranumerários’. (...) O projeto, no caso estudado, mostra seu paradoxo: à medida que tange a sobrevida revela seu sofrimento.” (Carreteiro: 1999: 94) A constituição do processo de estigmatização relaciona-se intimamente com o que Gaulejac (1997) vem denominar sofrimento social, expresso numa certa vulnerabilidade identitária, numa desvalorização narcísica, na construção de uma imagem invalidada de si mesmo – frutos da contradição e da contínua desconsideração na vivência cotidiana: “O sofrimento social é um mal-estar provocado, por sua vez, pela ausência de conforto material e a ausência de reconhecimento moral.” (Gaulejac, 1996) O sofrimento social se expressa em respostas e ações que buscam prover sentido a tal conjuntura, tais como: a vergonha, o orgulho (“vergonha invertida”), o alcoolismo e o voltar-se sobre si mesmo (Gaulejac, 1996). Tais respostas indicam estratégias de enfrentamento e são sinais de alteração no reconhecimento social – como papéis sociais cristalizados e desejos nunca satisfeitos: “Agora é muito difícil... Você vê televisão. Isso fica parecendo que é discurso que eu ouço, mas é o que eu realmente, hoje, eu penso. Hoje em dia eu levo: meu sonho era ter a Barbie. Isso aconteceu gradativo. Quando eu tinha uns 4 anos, eu queria ter a meia da coca-cola. E eu lembro que foi o único presente que eu queria na época e minha mãe me deu, foi a meia da coca-cola. Essa meia até meus 14 anos, eu tinha ela, depois não sei o que aconteceu, sumiu. É assim, você querer ter Meu Bebê, Barbie, Fofão. Vou falar das coisas que eu quis. Não sei se você lembra do boneco Fofão. Meu Bebê, a Barbie, Fofão, mochila da Company, o chinelo Rider naquela bendita daquela música, uma música da Sandra Sá. ‘Tudo vai mudar, quando essa luz se acender’... Essa música eu sabia cantar ela/Você não ter nada, não ter nada que é. Sabe, o que é mochila da Company, ter caderno, aqueles cadernos de capa dura, ter aquelas coisas que você não, não consegue ter de jeito nenhum. Conseguir não querer fazer coisas ilícitas para conseguir obter aquilo. Isso é muito difícil. Você pode correr, chegar um adulto frustrado, mal-humorado, de mal com a vida e a maioria/0 fato de eu estar hoje no Grupo do Beco não significa que internamente eu superei essas coisas, entende? Então, tudo bem você vai ser honesta, mas aí você vai ser mais um adulto sem nada na vida. Não é fácil. O fato de eu estar aqui hoje, é isso que eu tô te falando...” (Suzana) “Eu não gostava de ser pedreiro. Eu trabalho desde os sete anos de idade. Eu ia trabalhar/eu fui ser pedreiro por influência do meu pai, porque meu era pedreiro, aí meu pai me levava pra obra. Aí eu aprendi a profissão, mas eu não gosto não. Com sete anos eu vendia laranja na rua, era ambulante. Vendia, minha mãe fazia 110 café com leite aí ia pras obra vender. Fui trabalhando, fui nisso, nisso, nisso, nisso. Eu não tenho arrependimento nenhum não. Só não gosto de ser pedreiro.” (Pedro) Alguns experimentam a estigmatização de forma mais consciente, buscando posições de enfrentamento e resistência; há quem se culpabilize, julgando-se responsável pela existência mesma do estigma; outros, ainda, o reproduzem direcionado-o a grupos ainda mais vulneráveis, entram no jogo sedutor proposto pelo discurso neoliberal. “O mercado promete uma forma ideal de liberdade e, na sua contraface, uma garantia de exclusão. Assim como o racismo se desnuda na entrada de algumas discotecas, cujos porteiros são especialistas em diferenciações sociais, o mercado escolhe aqueles que estarão em condições de, no seu interior, fazer suas escolhas. Todavia, como precisa ser universal, ele enuncia seu discurso como se todos, nele, fossem iguais”. (Sarlo 1997:41) O processo de inclusão perversa se expõe por meio do discurso neoliberal e se efetiva no processo de estigmatização que cava raízes no espaço escolar e multiplica-se conclusivamente no campo do trabalho. A Psicologia do Trabalho deve ocupar-se também em pensar a questão fundamental da relação entre trabalho/exclusão, o que aponta necessariamente para essa questão do estigma: a condição de favelado funda uma série de fatores que desenham o quadro de inclusão perversa, como sabemos, objetivando-se como um elemento dificultador de acesso ao mercado de trabalho. “Então, eu acho que se hoje o poder público não intervém nas favelas da forma como deveria, é reflexo dessa questão social assim, desse preconceito que existe, de achar que na favela estão as pessoas incapazes, que quem mora na favela não pode construir conhecimento. Que quem mora na favela tem que receber as coisas prontas. Que quem mora na favela tem que receber cesta básica. Que quem mora na favela tem que receber é, – como tem na Cartilha – a boneca do filho, com, o braço quebrado... Ou então, que quem mora na favela tem que receber curso de manicure, tem que fazer curso de manicure, ou curso de Bijuteria! Sabe? Todos esses, essas informações que se tem sobre a favela, que eu acho que faz com que a favela permaneça assim, porque à medida que as pessoas encararem a favela como um local, um, uma parte da cidade, ela vai entender que aqui tem que ter os mesmos cursos/as pessoas que tão aqui têm o direito aos mesmo cursos as pessoas que estão lá no São Bento; que as pessoas que tão aqui têm direito de consumir roupas de qualidade, tem direito de, sabe? É... tá inserido na sociedade, como qualquer outra pessoa está. Essa pessoa que mora aqui tem os mesmo direitos, as mesmas demandas e, tem que ter os mesmos sonhos, né? A possibilidade de sonhar, de querer as coisas, como qualquer outra pessoa. Aí, nesse sentido, é, eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito assim.” (Márcia) Para esses trabalhadores, inseridos numa realidade de trabalho precário (ou/e parcial, temporário, terceirizado, sobretudo alienante) resta a necessidade de administrar os vários 111 impactos daí advindos, além – como sublinhamos – da dificuldade de inserção proveniente do endereço residencial como fonte de estigmatização. “O que permanece, no entanto, é que toda vez que procuram renegociar a identidade do favelado, o ponto de partida é o estigma, o lugar na ‘anormalidade’, da anomia, da carência. Por isso, mesmo quando se usam símbolos de prestígio, tais como uma folha penal limpa e uma carteira de trabalho, permanece a categorização mais geral acerca desse grupo. Favelado continua sendo ‘marginal’, e os que não confirmam a regra são exceção.” (Rinaldi, 1999: 318) Efetiva-se assim a dialética da exclusão/inclusão perversa, com nítidos prejuízos para esses sujeitos. Gaulejac sugere que o individualismo contemporâneo vê-se atravessado por uma “crise do simbólico” de forma que as identidades são criadas já desvalorizadas, feridas por um processo perverso de estigmatização, de exclusão. Assim, quando se apresenta um fracasso na tentativa de apropriação de um lugar social, surge a vergonha que contamina toda a identidade, pertetuando-se um lugar de assujeitado já que, apoiado pelo sofrimento social, não encontrará trabalho, ou, no trabalho, a possibilidade de participação da dinâmica social. 6.1 TRABALHO DOMÉSTICO E SOFRIMENTO O trabalho doméstico apresenta-se como uma das ocupações mais freqüentes entre os moradores de favelas66, aparecendo reincidentemente nos depoimentos de nossos entrevistados. Assim, entendemos ser importante desenvolvermos, ainda que brevemente, algumas considerações a respeito do trabalho das empregadas domésticas que, em nosso entendimento, apresenta-se como atividade desqualificada e sem qualificação, despossuindo seu executor de reconhecimento por meio do ataque à dignidade, do desrespeito e da humilhação, instrumento que no jogo do poder imputam a submissão como garantia da dominação (Seligmann-Silva, 1994). Segundo Seligmann-Silva (1994), o trabalho não qualificado é aquele que é reconhecido como não qualificado por meio de determinações expressas pelas correlações de poder. Já o trabalho desqualificado seria aquele submetido a um processo de desvalorização, que desmancham as qualidades que facultariam sua consideração pública, onde impõe-se a negação de qualidades do empregado, embora essas persistam e são exploradas no processo de produção. Interessa-nos apontar a perda do reconhecimento social dessa atividade que, revestida de um caráter 66 No caso da Barragem Santa Lúcia, segundo dados da Urbel (2002) as ocupações mais freqüentes são as ligadas a trabalho doméstico, a saber: Do lar: 18,70% ; Empregada doméstica: 18,70%; Faxineira/diarista: 15,01% Esses dados referem-se à soma total, englobando as três comunidades. 112 pejorativo, deprecia simbolicamente esse trabalhador, enquanto lhe é imputada uma condição de submissão e dominação pela exploração sumária de seu trabalho. O sofrimento advindo de tal experiência laboral deixa marcas indeléveis na subjetividade desses trabalhadores que, quando moradores de favela, administram as conseqüências de uma situação duplamente preconceituosa: além de “favelada”, doméstica. “Essa coisa de eu trabalhar muito na casa de família, ver aquela vida que eles levavam do lado de lá, é... de ter sido criada sem nada, a coisa começou a entrar na minha cabeça de uma forma errada assim, que eu comecei a tomar pavor e nojo de tudo o que se referia aqui, ao morro, assim.” (Suzana) “Não existe emprego mais humilhante e degradante para a auto-estima, principalmente da adolescente negra. (...)É um trabalho que só perpetua tudo aquilo que a gente já sente desde os cinco anos de idade. É um trabalho degradante, humilhante essa coisa do trabalho doméstico.” (Suzana) “Então, eu tenho umas coisas assim que doméstica é um trabalho fudido mesmo. É um trabalho como um outro qualquer porque você honestamente tá ali sustentando seus filhos, mas enquanto ser humano é uma coisa muito degradante. Em relação a isso, não é uma coisa fácil não, mesmo.” (Suzana) O sofrimento subjetivo experimentado em semelhante cenário soma-se a um quadro de condições de trabalho precárias e nocivas, combinando muitas vezes, ainda hoje, características de atividades laborais da Idade Média, a saber: jornadas excessivas; direitos trabalhistas negados; remuneração baixa; tarefas altamente diversificadas (a empregada doméstica costuma se ocupar de todo tipo de trabalho solicitado). A esse quadro somam-se outros fatores de sofrimento e humilhação: situação de dependência, submissão e desprezo, que deixam marcas de ferimento narcísico no sujeito. Esses fatores podem ser percebidos por outras “marcas”, essas visíveis, tais como: o elevador de serviço, os minúsculos quartos de empregada e, muitas vezes, até mesmo a vestimenta, além do impacto depreciativo e da invisibilidade imputada ao trabalhador67. A invisibilidade pública faz parte do processo denominado por Gonçalves Filho (1998) Humilhação Social e leva a pessoa a ocupar um lugar de sombra social. 67 Porém, em sua falta, a doméstica torna-se visível – tal situação é tratada de forma muito deliciosa por Fernando Sabino na crônica: “A falta que ela me faz” (SABINO, 1981). Outras atividades/profissões apresentam esta mesma característica da invisibilidade, mas esta análise foge ao nosso propósito nesse trabalho. Gostaríamos, no entanto, de chamar a atenção para as profissões ligadas à construção civil (pedreiros, serventes, pintores etc.: constroem prédios, casas, Shopping centers, aos quais não terão acesso e nem reconhecimento. Ver a belíssima crônica de Ignácio Hernadez: “A um Pedreiro que não lerá essa homenagem”, in “Estação Eldorado”, 2002. 113 “O pior, você come depois que as pessoas terminaram de comer. O que sobra. Você faz aquela carne e manda pra mesa, você come o resto e às vezes/assim, eu já trabalhei em outras ocasiões que eu fiz carne de pato. Eu fiz e não comi. Eu fiquei rapando pra sentir o gosto do que que seria a carne de pato. Entendeu? Então assim, depois, recentemente, os meus últimos trabalhos não tinha mais não, mas no meu primeiro trabalho, eu tinha prato, copo, colher separado. Essa coisa de você sair pela porta de serviço. Elevador de serviço, sabe assim. (...) Então é um tipo de trabalho que só, que raramente uma empregada doméstica vai ser outra coisa, ou vai ensinar os filhos a serem outra coisa que não seja doméstica.” (Suzana) A empregada doméstica não deve “aparecer”, incomodar os habitantes da casa, enquanto lhe são relegados espaços variados de desqualificação (como já citamos) e, até mesmo – num quadro ainda comum – apenas as sobras da comida que ela mesma elaborou. Outro ponto é a nuvem de contradição afetiva a que são jogados seus executantes: a empregada doméstica pode vir a ser tratada (no discurso) como “alguém da família”, enquanto sofre concretamente as conseqüências da exploração de seu trabalho. Essa estratégia de sedução do empregador (tão similar às mais modernas teorias de recursos humanos) acarreta um desgaste psíquico ainda maior. “Foi em 73, né? Então tem trinta anos, fez agora dia 23 de Abril. E aí agora eu tô com a família. Eu trabalho agora co/depois que você veio, que você teve aqui – o outro filho dela já me pegou! Só da família. Trabalho com ela (Segunda, Quarta, Sexta e Sábado), mas na Quarta de manhã eu vou pro filho dela lá no Buritis, passar uma roupa que ele tá sem, sem ninguém, né? Ele, dois filhos e a mulher, né? Aí tô com a sobrinha, que é a Maria José, que hoje fez três anos também, agora em Abril. Tudo em Abril, né? E tô com o filho da sobrinha que fez um ano também agora em Abril. Interessante, né? Vai, é uma história, né? Se for escrever dá um livro bem cheio, né?Então... Aí, eu fico sem jeito até de eu falar assim, por exemplo. ‘Hoje eu não posso trabalhar pra você’ – no caso da mãe e do filho – ‘hoje eu não posso trabalhar’: mentir eu não posso!(...) ‘hoje eu não posso trabalhar pra você não’, se eu não trabalhar pra ele, aí eu também não posso trabalhar pra mãe dele também... aí eu tenho que faltar com os dois. É, como diz, tipo uma prisão, né? Tô em cadeia com eles.” (Emererciana) Le Guillant (1963) já estudou a condição das empregadas domésticas, pensando o conjunto de conseqüências inerentes à sua situação de dominação, apontando a psicopatologia da realidade cotidiana. O autor conclui que “a condição de empregada doméstica guarda um poder patogênico” (Le Guillant, 1963), ressaltando, entre outros pontos, a questão da ambivalência afetiva (da relação empregada/patrão) e da “condição” de empregada, como um estado e não uma ocupação. Ser empregada doméstica é fator de humilhação, desvalorizando a pessoa que ocupa tal lugar. A desqualificação, pela via do trabalho doméstico, soma-se à desvalorização do lugar ocupado – geográfica e simbolicamente. O trabalho torna-se menos eficaz em sua ação de integração social 114 como no caso das domésticas ou, ainda, em ofícios cujo exercício por si só apresenta caráter excludente onde o trabalhador é “contaminado” pelo conteúdo de sua tarefa68. À condição de “favelado” somam-se conseqüências de ocupar-se de uma atividade que desqualifica seu executante, gerando ainda mais desgaste. O sujeito pode se encontrar aí numa dupla condição de vulnerabilidade. Encontra-se no trabalho em uma situação de sofrimento e, por ser favelado, sofre preconceito – um círculo vicioso que se reproduz. Assim, o acesso à dinâmica social, por meio de outras possibilidades de ação – que ofereça recursos psicossociais para a transformação – é fundamental, como veremos. 68 Como por exemplo, plantonistas de sepultamento (demais trabalhadores de cemitérios) e agentes de limpeza urbana (Selligman, 1994). A tese de SILVA (2004) apresenta o não reconhecimento dos auxiliares de necropsia do IML/BH. 115 “Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2003. É preciso reinventar a escola. Li certa vez um texto que ilustra bem o sentimento que me move a escrever esse indivíduo-manifesto: Peguemos um médico do final do Século XIX e inserimos esse profissional em um hospital dos tempos de hoje. Por mais precário que seja a saúde, ele terá dificuldades muito grandes de exercer sua função. Agora, peguemos um professor dessa mesma época em coloquemos em um estabelecimento de ensino dos dias de hoje. Sem dificuldade, ele assenta em sua mesa, abre o seu livro e ensina pra aqueles cabeças que vêm cabeças, faz uso da nova palmatória e em menos de uma semana repassa para as cabeças os seu conhecimento, a sua razão e a sua auto-suficiência. A escola não tem consciência do papel transformador que tem nas mãos. Para a criança a importância estudantil é tamanha que ele pode se transformar em cidadão consciente, participativo ou e ativo. Ou em um ser humano deprimido, bandido, e revoltado. Tudo isso por culpa do tratamento que recebe dos educadoresespelho que passaram por sua vida durante quatro horas por dia, cinco dias da semana e vinte dias no mês. Para o adulto a importância estudantil é tamanha que ele resgata sua auto-estima, sua autonomia, e seu poder de decisão. Cabe ao ensino mudar o tratamento de avaliação desse público. Ele tem sua rotina, seu conhecimento e suas demandas pessoais e profissional, e buscam inserir a escola no seu dia-a-dia. Não dá pra exigir que seja o contrário. Seria o dia-adia, a escola prioritária? Quem tem condição de avaliar o desempenho individual do aluno em sala é o professor, que conversa com o aluno, que percebe o seu conhecimento e sua participação. O Coordenador Pedagógico vê o aluno como uma massa encefálica que deve funcionar. O professor pede a essa massa encefálica e o órgão que bombeia o sangue para o corpo responde. Eu não quero forçar a barra! Mas deixei de ser criança desde os oito anos de idade. Sou profissional em tudo que entrei pra participar. Com o meu trabalho tenho reconhecimento das pessoas, dou palestras, aulas e cursos para professores, educadores e alunos de faculdade. Não adquiri meu conhecimento dentro da escola formal. Na ausência dela, me formei e me informei e hoje recebo pra falar. Acredito que a escola tenha consciência de que concorrer no mercado de trabalho com a bagagem recebida seria dar margem a ilusão. Minha ausência na sala de aula foi pra garantir o trabalho de dez pessoas de meu grupo de teatro, cursos, oficinas, palestras, para aproximadamente quinhentas pessoas, prestar contas para as Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura para a Telemig Celular, captar recursos com a Petrobrás e Embratel. Pra mim, é na prática o que o Sandro, a Letícia e a Míriam pregam. São professores que pregam que a gente tem que estar vivo pra vida, tem que estar acordado pra vida. Que a vida não vai ser assistencialista como a escola se propõe a ser. Ninguém vai proteger a gente. Se for pra repetir a série no semestre que vem. Farei! Mas não será em cinco dias de recuperação que adquirirei o conhecimento de seis meses passados. Com esta demonstro a minha vontade de mudança. Feliz Natal, Nilton César da Silva, ótimo 2004.” (Nil) 116 7. POBREZA E TRANSFORMAÇÃO A FAVELA NÃO VAI SAIR DE VOCÊ “Essa coisa de que ‘você vai sair da favela, mas a favela não vai sair de você’, é o que me faz ter os pés no chão. Eu falo alto, como a maioria das mulheres da favela fala. (...) Quando eu falo essa questão da favela estar em você, é muito isso. Essa questão de ter alegria, sabe, ser expansivo, de não ter aquela frescuraiada de não me toque, de não sei o que – que eu, nessa fase que passei odiando a favela eu estava deixando de ser eu, nesse sentido assim, eu queria porque queria falar baixo, eu queria porque queria ser magra, eu queria porque eu queria fazer uma plástica, afinar o nariz, eu queria porque queria, porque eu queria ser uma pessoa que eu não era.” (Suzana) Suzana sugere que foi se fazendo “diferente” de sua família; Nil chega mesmo a tratar a via da criminalidade como parte da “cultura” do lugar; Padre Mauro analisa as intrincadas relações familiares, ao mesmo tempo que tenta se embeber num processo de “favelização” –todas essas idéias vão nos remeter ao trabalho de Oscar Lewis sobre a ”cultura da pobreza”69, que trataremos a seguir. Lewis traz uma importante contribuição para as ciências sociais e imprescindível para nosso estudo. Seu grande diferencial está exatamente no fato de que busca partir do interior para compreender determinada realidade, na tentativa de oferecer voz àqueles que não encontram espaço no palco político e social, tal como objetivamos basear nosso olhar. O autor o faz com pertinência e cuidado, nos aproximando dos impactos das transformações sociais no cotidiano de cidadãos comuns. É nas relações familiares que Lewis centra sua pesquisa – sem se esquecer (mas sem, contudo, privilegiar) as relações de trabalho – investigando o cotidiano, na tentativa de identificar um padrão de vida repetitivo, os comportamentos e valores que permanecem ao longo das gerações (dentro de um grupo social e econômico específico). A pobreza contemporânea é percebida para além da questão “da falta”, da privação econômica ou de uma suposta desorganização. Mas, muito além: “É também algo positivo no sentido em que tem uma estrutura, uma disposição racional e mecanismos de defesa sem os quais os pobres dificilmente poderiam seguir adiante. Em suma, é um sistema de vida notavelmente estável e persistente que passa através de gerações. A cultura da pobreza tem suas modalidades 69 O termo “cultura da pobreza” é um conceito que Oscar Lewis elabora por meio de vários estudos que se desenvolveram através do uso de uma metodologia biográfica (história oral). O sociólogo concentra sua atenção em estudos individuais, a partir do contato com microcosmos particulares: as famílias. Ele busca apreender o funcionamento de uma família a partir de seu interior. Ele foca seus estudos na dinâmica pertinente à vida de famílias pobres, como os belos estudos por ele apresentados nos livros “Five familys”, “The Children of Sanchez” e “La vida: una familia portorriqueña en la cultura de la pobreza”. 117 próprias e conseqüências distintas de ordem social e psicológica para seus membros. É um fator dinâmico que afeta a participação na cultura nacional mais ampla e se converte à uma subcultura por si mesma.” (Lewis, 1961: XXIV)70 Lewis efetiva uma significativa mudança de enfoque no trato da questão da pobreza, tratando-a como um objeto que possui estrutura própria e formação de consciência específica. Tal conceito, assim, foi elaborado também como forma de dar resposta àqueles que desconsideravam os pobres e não os acreditavam possuidores de cultura71. Não é objetivo de Lewis agregar à idéia de pobreza concepções idealistas e românticas como dignidade e status, mas, antes, compreender a pobreza como realidade que demanda mecanismos próprios de funcionamento – como de fato acontece e como fica claro quando nossos entrevistados vão tratar da questão da solidariedade (elemento que discutiremos posteriormente) e em diversos momentos das entrevistas e da relação que tivemos com nossos entrevistados. Podemos dizer que Lewis percebe pobreza como algo “positivo”, não só como ausência ou privação. Não se trata unicamente da falta, mas sim de algo que guarda em si uma forma, que possui movimento vital, lógica própria. É uma construção (por isso dissemos “positivo”) não um “não algo”, ou um “não lugar”, mas um mecanismo estruturado, complexo e organizado. A esse mecanismo – desenvolvido por aqueles que estão envolvidos numa realidade extremamente adversa, que garante a sobrevivência, através de idéias, valores, comportamentos, formas de trabalho, de comunicação, sentimentos, pensamentos etc (logo, atividades objetivas e subjetivas) – denominamos cultura da pobreza. Resultado de um processo histórico, onde se dá a complexa e intrincada relação entre fatores sociais e econômicos. A partir da vivência que tivemos no universo da favela, da fala e história de nossos interlocutores, pudemos perceber a coincidência de alguns elementos que atuam na gênese e desenvolvimento do mecanismo da cultura da pobreza. Apontaremos e discutiremos alguns desses aspectos, precisamente aqueles que entendemos ser mais relevantes, como a questão do trabalho, da escola e da estigmatização – ponto esse já apresentado. Apesar desses elementos estarem inter-relacionados, iremos discuti-los de forma esquematizada, cuidando para não permitirmos que se dê uma falsa fragmentação, já que são vetores que agem em conjunto na gênese e no desenvolvimento do mecanismo acima descrito e por nós percebido na realidade da favela. Depois de apresentados tais pontos, iremos desdobrar essa discussão na compreensão da cultura da pobreza em transformação – um segundo mecanismo também percebido e que apresentaremos, assim, em momento posterior. 70 Preferimos recorrer à tradução de Denise Paraná (1996), para esta mesma citação (Paraná, 1996. Pag 337). 71 O conceito de cultura, a que o autor se refere, possui sua gênese na antropologia e deve ser entendido como um modelo de vida e sobrevivência que é passado ao longo das gerações. 118 7.1 TRABALHO “Então assim, é uma questão prática mesmo, porque você vai se ocupar daquilo que é possível você se ocupar, né? Eu acho que muitas vezes os meninos, os jovens que acabam entrando nessa, nessa gangue, assim, é por essa total falta de oportunidade assim, não que eu acho que todas pessoas que não têm oportunidade vão necessariamente pra essa questão da violência, das gangues e tal. Mas é uma é uma situação que possibilita isso, né? Porque se o menino, se ele tá estudando, se ele está praticando um esporte, se ele tá fazendo um curso, se ele tá bem alimentado, eu acho que as possibilidades dele se envolver numa guerra, se ele tem uma boa educação, as possibilidades dele são muito menores assim, né?” (Márcia) “O meu sonho era ser médico, mas, devido à falta de estrutura da família, das condições financeiras e tal – meus pais separaram, eu como mais velho tive que trabalhar e estudar, hoje eu tenho 41 anos e mais três irmãos – e tive que manter os irmãos todos. E manter minha mãe, né? Aí não dava pra trabalhar e estudar. E depois dos quarenta é difícil fazer medicina, né? Eu parei de estudar com 18 anos, mais ou menos.” (Pedro) A globalização da economia e o avanço das novas tecnologias transformam o mundo do trabalho gerando inúmeros impactos para os trabalhadores (formais ou informais). Os incluídos formalmente têm de administrar conseqüências advindas de fenômenos como flexibilização da produção, exigências de qualificação e de produtividade, políticas de qualidade etc.; e se por um lado a sombra do desemprego estrutural avança sobre esses trabalhadores, por outro, na mesma medida, os direitos do trabalho vão sendo espremidos pela lógica do mercado. Aos não incluídos de maneira formal nesse mercado resta a necessidade de adaptação e inclusão, a qualquer custo, mesmo que tal entrada se dê pela via da inclusão perversa. Assumem-se, então, tarefas rejeitadas por todos, na busca da manutenção de uma vida vivida em suspenso, por meio de “bicos” e atividades temporárias, ou mesmo empregos terceirizados, ocupações que não vão oferecer ao trabalhador os recursos e proteções necessárias e justas. Assim, a imposição de um tal cenário, ainda hoje, apresenta-se pelas “mudanças” no mundo do trabalho que outorgam ao trabalhador, formal ou informal, condições de vida e de trabalho penosas pelo trabalho dominado (Selligman, 1994). Como bem afirma Antunes (1995: 5): “A década de 1980 presenciou, nos países de capitalismo avançado, profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e política. Foram tão intensas as modificações, que se pode mesmo afirmar que a classe que vive do trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser.” (Antunes, 1995: 15) 119 As “novas” formas que a organização do trabalho têm assumido almejam velhos objetivos: pautando-se na busca de superacumulação de capital, geram uma intensificação da exploração da força laboral, na busca do aumento de produtividade, balizada por promessas de qualidade total. Neste processo assistimos a precarização tanto das condições quanto das relações e, como demonstram as pesquisas72, pode ser instalado um quadro de adoecimento e de sofrimento psíquico, agravado muitas vezes com o desencadeamento de problemas da ordem da saúde mental. Paradoxalmente, o trabalho é espaço de liberdade e de autoconstituição, mas escraviza os trabalhadores através da expropriação de sua força de trabalho: “Mas o trabalho é muito importante, uê. Se você quer ter dignidade, tem que ter trabalho, senão se não tem dignidade. E trabalho enobrece também, né? Com o meu trabalho eu consigo aquilo que eu quero, eu consegui meu veiculozinho, trabalhando honestamente. Se não tenho trabalho, eu não tenho alimento. Se eu não tenho alimento, eu não tenho educação nenhuma, né? Não, não, não no meu caso que eu não tenha essa cabeça de roubar, mas muitas vezes aí, por falta de trabalho, a pessoa vira a cabeça pra outras coisas, né? Furtar e tal. Trabalho pra mim é importantíssimo. O Brasil tá nessa crise que t´s aí por falta de trabalho, por causa dos nossos governantes também que é um poço safado.” (Pedro) De fato, no trabalho o sujeito vai encontrar os elementos que vão participar na construção de sua identidade, por meio da relação com a cultura, da identificação do/com grupo, da autorealização e do sentimento de auto-estima, mas o simples acesso ao trabalho não garante a “dignidade”, o reconhecimento (talvez garanta alguma “sobrevivência” e ainda assim diversas são as situações em que os sujeitos se encontram submetidos a uma tal exploração e dominação que lhes fica impedido o “acesso” a qualquer coisa que não seja trabalhar e refazer as forças para voltar a trabalhar). Diante das transformações na estrutura da organização do trabalho, o sujeito deve aprender a lidar com diversos obstáculos à sua participação na sociedade. A apropriação que o sujeito faz de seu próprio trabalho, e seus desdobramentos vitais (transformação, autoconstrução, realização, sociabilidade, liberdade), se dá num contexto consideravelmente adverso: “Mesmo aqueles integrados à economia formal – o que implica uma certa proteção, vinculação sindical e de classe – muitas vezes, não conseguem, na atividade profissional, um eficaz instrumento de integração social, submetidos que estão a uma organização do trabalho que, cada vez mais, aliena o trabalhador de si mesmo, daquilo que produz e das relações sociais.” (Barros, Nogueira & Sales: 2001: 328) 72 Podemos apontar pesquisas já consagradas, tais como Selligman, (1994); Daniellou (1989); Laurell (1989); Llory (1999); Doyer (1989); Antunes (1996); Dejours (1996) – ou ainda estudos desenvolvidos recentemente: Salles (2003), Borges, (2001) e Brescia (2004). 120 É assim que, nesse sistema que prima pela superexploração da força de trabalho para a intensificação dos lucros, acentuando ainda mais as suas contradições, vemos que a precarização da ocupação (do emprego) e o desemprego em si são fatos que podem acabar por imobilizar o trabalhador através de sua própria inutilidade, tornando-os “inúteis para o mundo”, nas palavras de Castel (1999). Lugar de “supranumerário”, retomando a leitura que Castel faz da exclusão: “O trabalho, como se verificou ao longo desse percurso, é mais que o trabalho e, portanto, o não-trabalho é mais que o desemprego, o que não é dizer pouco. Também a característica mais pertubadora da situação atual é, sem dúvida, o reaparecimento de um perfil de ‘trabalhadores sem trabalho’, que Hannah Arendt evocava, os quais, literalmente, ocupam na sociedade um lugar de supranumerários, de ‘inúteis para o mundo’.” (1999: 495) Podemos afirmar que a função fundamental exercida pelo trabalho, de mediação entre o homem e a natureza, fica, de certa forma, comprometida. É a dimensão negativa que o trabalho assume, em nosso tempo, na forma de expropriação do homem de si mesmo, transmutando-se em trabalho anti-vida, como aponta Sônia Viegas (1989) nos vários contextos onde o trabalho atravessa processos de precarização, alienação. Mas, além do desemprego, é o trabalho alienado e/ou precarizado que não oferece as condições necessárias à autoconstituição. Muito do que vemos em nossa sociedade parece se resumir a apenas um extremo do paradoxo que a vivência laboral implica, no mundo moderno, como desefetivazação do ser, desrealização - o trabalho desvinculado do trabalhador. A favela, por sua vez, tornou-se o locus evidente da precarização e de trabalhos desqualificados, apesar de não resumir-se a tal. Mostra-se ser expressão evidente do processo de desqualificação social a que seus moradores são sujeitos. Assim, para o morador de favela realizar a travessa da autoconstituição por meio do trabalho torna-se quase um desafio, já que à dimensão negativa que o trabalho assume pelo trabalho dominado soma-se um quadro paralelo de sofrimento social (a estigmatização, como vimos). “E é por isso que esse quadro torna-se social, política e economicamente ainda mais perverso, pois aumenta a desigualdade tanto no que se refere à capacidade de competir no mercado de trabalho, quanto no que se refere à capacidade de enfrentar outros riscos globais e locais que caracterizam hoje as sociedades contemporâneas. (...) Daí que a correlação entre pobreza e o baixo nível educacional adquiriu contornos ainda mais sinistros neste fim de milênio.” (Zaluar 2001: 02) Neste sentido, a viabilidade da sobrevivência, material e simbólica, no lugar da favela pode ser efetivada também por meio de projetos alternativos, tais como a saída pela cultura e pela arte, 121 pelo adoecimento (Carreteiro, 1999) e até pela criminalidade, como aponta o trabalho de Mara Marçal Salles (2003). Resistir aos apelos das vias de participação “não tradicionais” (ser traficante)73 é bem complexo, assim como resistir à participação social tradicional, determinada sócio-historicamente pela condição de classe (ser pedreiro ou doméstica). Por isso é preciso entendermos como Nil elabora sua travessia de autoconstiuição, pelo trabalho, mas escapando às determinações sociais inscritas em sua condição de classe e sem, no entanto, ceder aos apelos da criminalidade. Alba Zaluar entende que a atividade criminal pode funcionar, de forma sintomática, como uma maneira do sujeito se colocar no mundo, efetivando uma identificação com os valores dominantes através do consumo e expressando o que seria, para a autora, uma revolta. “A saída criminosa é a entrada possível para a sociedade de consumo já instalada no país.” (Zaluar: 1994: 113) De qualquer maneira (já que não seria oportuno, nesse momento, estabelecer um diálogo com a leitura feita pela autora), é fato que os caminhos de resistência e revolta podem ser tomados ou na forma de transgressão de morte, como nesse exemplo a criminalidade do tráfico, ou de transgressão de vida, na voz dos movimentos sociais, da arte e da cultura. Já nos remetemos à arte e à cultura, contudo é preciso refletirmos sobre a educação, geralmente concebida como contrapartida a esse processo de manutenção da desigualdade que se conclui no mundo do trabalho. A desigualdade se fomenta tendo como eixo central o trabalho, como sabemos, através da imposição de lugares desvestidos de valor, no ciclo produtivo, e revestidos de depreciação. A inutilidade que vai gerar essa desigualdade, alicerçada pela importância dada à informação, nos remete ao campo da escola: seu papel seria preparar para um uso ético de tais informações, para a formação humana de tal socialização. Porém, como conta Suzana: “Eu aprendi a falar não foi com professor, foi lendo. Eu era a única da minha família – às vezes até ‘cê’, assim, ainda sái – mas eu era a única que falava ‘nós vamos, nós fomos, a gente vai, a gente foi’. Aí eu ouvi, assim ‘a Suzana é metida a inteligente, pobre que não tem/eu ouvi muito, por exemplo, desculpe: ‘pobre que não tem nem bosta no cu pra cagar’ – toda a vida eu escutei isso. Aí agora com essa coisa de me arrumar, aí eu não tive filho, todo mundo/eu sou a única da minha família que não tive filhos.” (Suzana) 73 É preciso acrescentar, antes de mais nada, que a escolha pelo tráfico de drogas não pode ser lida como uma opção moral, mas compreendida na lógica e na incoerência do sistema de acumulação de capital, em suas reais possibilidades, contradições e conseqüências. 122 7.2 ESCOLA É verdade que um ponto nodal da inutilidade citada por Castel (1999) – que faz emergir sujeitos “supranumerários” – é a possibilidade de acesso à informação, percebida hoje, por exemplo, na insistência do discurso que prega e exige uma acelerada e interminável qualificação - a famosa “empregabilidade”. “E, de certa forma, também tá associada a questões sociais, por exemplo, a questão do inglês mesmo, toda a minha vida eu tive uma atenção pra questão da língua, assim que eu achava que, eu gosto de inglês, sempre gostei, mas eu nunca tive, assim, nunca fiz inglês: primeiro porque era uma coisa muito cara, assim, né? E segundo que eu tive um inglês de colégio que é uma coisa muito rasteira, que nem de longe... né? Pelo menos colégio público, que nem de longe te dá uma base. E isso é um diferencial/é um quesito importante para o profissional de jornalismo. Mas, assim, a gente, que que a gente vê, essa disputa desigual, assim, que é uma disputa que vem de muito tempo, né? Desda época que você tá estudando.” (Márcia) “Por exemplo, os meninos: todos nós aqui pra gente entrar numa universidade, a gente tem que fazer um esforço redobrado, sabe, pra conseguir ter boas notas. Eu fico olhando os meninos aqui, estudando muito assim, pra suprir a deficiência de uma escola pública, tem que estudar muito: não sei o quê, e tal, aí passa no vestibular. Mas pra se manter na universidade, a pessoa tem que trabalhar, sabe, às vezes ela tem que tirar um pouco do tempo que ela deveria estar dedicando ao estudo, para trabalhar mesmo, pro sustento. E são situações muito/assim, ótimas que se você fosse estudar/ver com os meninos assim o que me contam, tem muita gente que assim tranca a faculdade porque tem essa dificuldade de conciliar e tal e... Aí chega no mercado, tem mais uma vez uma concorrência desleal assim; uma pessoa que teve o tempo todo pra se dedicar, que no período em que esteve na Universidade fez um curso de línguas.” (Márcia) Fala-se muito em capital intelectual, fala-se muito na organização da sociedade pela informação (não pelo acúmulo de informações, mas sim pela capacidade de encontrá-las quando necessário), o conhecimento sendo percebido como chave de acesso ao poder na sociedade atual: “ (...) ainda que o conhecimento tenha sido sempre uma fonte de poder, passaria a ser, agora, sua fonte principal, o que produziria efeitos marcantes sobre a dinâmica interna da sociedade.” (Tedesco, 2002: 13) Segundo Tedesco, tal conjuntura estaria provocando novos fenômenos de exclusão e segregação, através do impedimento também ao conhecimento e à informação, o que aumentaria a desigualdade. Talvez a educação fosse a via de favorecimento a outras alternativas, à subsunção ao trabalho precarizado e dominado. Contudo, a escola na experiência da criança 123 moradora de favela, pelas impressões marcadas na memória de nossos interlocutores, se mostra, muitas vezes, como reprodutora do sistema de inclusão perversa: “(...) e aí, uma professora dava aula num colégio particular, que eu não vou falar o nome também, e dava aula nessa escola pública. ‘O ensino que cê dá nessa escola pública é o mesmo que cê dá na escola particular?’. ‘ Não’. ‘Por quê?’. ‘Ah, aqui, que que adianta a gente ficar batalhando, a gente ficar assim, as meninas tudo vai virar piranha, os meninos tudo vai virar bandido mesmo!’ Então, assim, a escola já vai formando bandidos e galinhas e mães com 14, 13 anos?” (Nil) “Por isso quando eu falo na carta, que a escola não tem consciência do poder que ela tem nas mãos, sabe? Ela não tem consciência, sabe? Eles não tem noção, do que que cada aluno, sabe, assim, cada indivíduo tá indo ali naquele lugar por um motivo diferente. Ele tem que pensar que ele tem que ter obrigação de criar cidadãos, pôxa! (...) Eu tinha a escola como fuga, quantos meninos não buscam isto também? Alguma fuga. – Não. A gente não tem quadra, a gente não tem é, é, centro cultural. A gente não tem aula de inglês, a gente não tem natação, a gente não tem nada disso que a sociedade média alta tem. Essas oportunidades do filho fazer computação, hoje em dia a gente tá tendo acesso, mas não é pra comunidade inteira, entende? E fora que tem uma taxa. Nem todo mundo na comunidade, tem uma, mesmo que seja cinco reais, pra poder pagar pro curso de computação, não tem! Não tem!” (Nil) A escola, como espaço não único, mas também legítimo, de educação, é responsável pela forma e possibilidade da socialização do sujeito, e responderia, em alguma medida, às exigências atuais de informação e mais especialização para se ter o acesso ao trabalho. No entanto, a escola falha, permitindo que tais instrumentos sejam fins em si mesmos, para aqueles que os conseguem alcançar, ou, ainda (no caso das escolas das favelas), impedindo o alcance de tais instrumentos e a possibilidade da mobilidade. “Agora, quando eu falo que isso é educação. Se o ser humano tivesse educação, você entenderia que eu vou morar aqui dentro, mas eu vou me informar, me instruir e vou saber que se eu tiver casa muito tumultuada aí, eu vou trazer problema de saúde. Essa coisa de que o ar não circula, a gente sabe o tanto de proliferação de doença. Se estudar isso, eu vou saber que se eu juntar lixo, eu vou trazer rato. E o rato também vai trazer doença. Essa questão da qualidade de vida, ela está na educação.” (Suzana) A escola têm falhado, se mostrando como instrumento de determinação social, exibindo um escopo perverso de morfologia social. É comum que a atuação política dessa escola se faça comprometida com a manutenção do status quo vigente, ao invés de funcionar como espaço de transformação, de mobilidade psicossocial: de ‘acesso’. “As formas emergentes de organização social se apóiam no uso intensivo do conhecimento e das variáveis culturais de associação e participação social. Neste contexto, as instâncias através das quais se produzem e se distribuem o conhecimento e os valores culturais – as instituições educativas, os educadores, os 124 intelectuais em geral – ocupam um lugar central não só na análise das novas configurações, como na definição de intervenção social e política.” (Tedesco, 2002 :20) Segundo Tedesco, é necessário romper o isolamento institucional da escola, que fecha os olhos às transformações da família e do mundo do trabalho. É necessário torná-la capaz de assumir uma parte significativa da formação dos aspectos “duros” da socialização, de forma ética – entendemos. Nesse sentido, o que aparece em relevo é exatamente a possibilidade de relacionamento “cara a cara”, segundo o autor, a relação com o convívio. Esse “isolamento” percebido pelo autor nada mais é que o efeito colateral do próprio isolamento e segregação que tal instituição estimula, como podemos perceber nos relatos. Na verdade, não seria necessário tentar traduzir as percepções que esses sujeitos fazem da escola, elas estão presentes na vivência de Nil e, ainda, denunciadas na carta redigida por ele – que abre este capítulo. Mas, ainda assim, a importância da escola como possibilidade de acesso e, muitas vezes, a paradoxal posição de manutenção e impedimento que assume deve ser sublinhada: “Mas, quando você chega num lugar que só tem pessoas que, historicamente, na sua trajetória de vida você aprendeu, que eles são melhores que você – a começar pelos professores – você já automaticamente pensa que aquele lugar não é para você. (...) E aí essa coisa já te barra. Essa questão da educação. O professor não te fala que você tem, pra sua cultura. Cultura no sentido de... pra sua educação/é interessante que, apesar de eu freqüentar teatro, cinema etc., você é educado a não ir nesses lugares. E aí a coisa vai passando.” (Suzana) “É um dilema que eu fico tendo, se eu tiver um filho, eu vou pôr ele na escola particular ou não. Não vou por ele para estudar no João Pessoa, que foi a escola que eu estudei, nem no Paulo Francineti, porque é uma escola que forma bandido. Agora se eu coloco ele no Dom Silvério, como vai ser a mentalidade humana dele. Entendeu? Aí ele vai ser aquele bandido de lá dos tribunais. (...) Mas aí é um eterno dilema: que ser humano que eu quero formar?” (Suzana) Porém, permanece aqui, ainda, a discussão da violência, pois a forma como a escola, em especial na figura e ação do professor, trata o aluno é capaz de afetar a auto-estima, desencadeando desinteresse, apatia e atitudes agressivas. Taille (Abub Zaluar, 2001: 10) pensa a relação entre humilhação e vergonha na educação e conclui que o recurso que a escola comumente lança mão, de humilhação e castigo, precisa ser repensado, posto que pode abalar a estrutura afetiva do sujeito, atingindo a auto-estima e até mesmo impedindo o desenvolvimento do respeito pela autonomia moral do outro. Revestida de elaborações contraditórias, a escola deixa marcas ambíguas na identidade desses sujeitos. Funcionando ora como possibilidade de acesso a outras alternativas, ora como mantenedora de uma determinação social já inscrita, apresenta-se como instituição de suma importância no processo de socialização, levando-nos à seguinte questão; “que socialização?”. 125 A escola, enquanto espaço da educação formal, muitas vezes acaba por se prestar a um papel de agente reforçador de um mesmo papel social: o de desfiliação. 7.3 VÍNCULOS FAMILIARES E SOLIDARIEDADE A desigualdade se apresenta no comprometimento da integração e coesão social, contudo, como vimos ao discutirmos a questão do preconceito. O processo de socialização acaba por ser efetivado por um caminho tortuoso até alcançar o mundo laboral, passando pelo ambiente escolar, desde a família. Ao falarmos de socialização, somos encaminhados necessariamente à família, referência primordial da criança, primeiro acesso da criança ao mundo social. Percebemos na história de Nil, tanto quanto nos outros relatos, como a vivência familiar assume importância ineliminável, precisamente como aponta a Psicologia. Tal vivência, como sabemos, não está livre de conflitos, mas pelo contrário, é perpassada por investimentos diversos, acarretando grande desgaste psíquico. Não iremos nos deter numa análise aprofundada deste ponto, gostaríamos apenas de apontar a permanência de tal importância, independente do estrato social. Segundo a metáfora de padre Mauro, a relação familiar na favela, muitas vezes, é o retrato do tratamento recebido da sociedade: está desestruturada, como suas próprias ruas, não recebendo os cuidados e investimentos necessários. O mais grave, segundo Padre Mauro, é o fato de encontrar-se sem referência paterna74 consistente: “Eu fiquei em choque e falei assim, isso no dia dos pais, segundo domingo do mês de agosto, dia dos pais. Aí eu fiz essa reflexão com a comunidade e falei que a gente tava vivendo um momento de grande gravidade assim. Que foi muito grave. Falei desse jeito, né? Uma comunidade que elege como pai do ano uma mulher grávida, uma mãe? É uma comunidade que tá assumindo que não tem pai, né? E aí foi, aí foi triste, né? Eu fiquei indignado com a situação, né?” (Pde. Mauro) “Quando eu cheguei da outra vez eu morava numa outra parte, eu morava mais embaixo mais na Barragem e eu era/vim como/na época eu fiquei perplexo assim, com a situação eu nunca imaginei que fosse como é, né? A situação não só da miséria, mas a falta de estrutura nas relações, também que eu acho que a falta de urbanização e a forma com que a favela é constituída fisicamente, acho que ela é, 74 A metáfora usada por Padre Mauro nos lembra a leitura que Hélio Pellegrino (1987) faz da questão da violência, relacionado-a à interdição da efetivação do pacto social, pela ausência de trabalho, o que impossibilitaria para o sujeito a aceitação da Lei. Para Pellegrino, através do trabalho nos tornamos sócios da sociedade humana. Se, de fato, essa possibilidade nos é impedida, não fazemos parte da sociedade, não devemos a ela nossa obediência e investimento, mas ao contrário: se dela não recebemos segurança, saúde, reconhecimento, não nos justifica a aceitação de sua lei na forma da interdição do princípio do prazer pelo da realidade. Nesse cenário de ‘lei do cão’, tem-se o retorno do recalcado na forma da violência. 126 tem muito a ver com também como as relações são estruturadas aqui dentro. Elas são também tão confusas, mas ao final das contas as pessoas conseguem criar novos caminhos e novas vias, novos becos pra também conseguir criar um tipo de relacionamento específico também, né? Então a favela tá, eu acho que faz parte da vida do favelado, tá sempre dando um jeitinho nas coisas né? Dando um jeito pra, pra sobreviver mesmo”. (Pde. Mauro) Então, a família também vem se transformando e alguns autores75 afirmam que essas transformações trazem em seu seio implicações de caráter depreciativo no sentimento de pertencimento, fundamental para o processo de construção da identidade. No mundo moderno, as formas tradicionais de inserção perdem espaço rapidamente para modelos atomísticos, numa coletividade anônima, como as tribos e gangues urbanas. O risco de uma possível má formação identitária apresenta-se, para tais autores, na incapacidade de se estabelecer, adequadamente, vínculos sociais intergrupais, o que atingiria a constituição de referências basilares como a de solidariedade, tão escassas no cotidiano individualista da cidade. Se na realidade interna à favela a vivência familiar já se apresenta transformada, alheia àquele caráter “tradicional” (família nuclear), a constituição dos vínculos sociais é ainda reforçada pelo sentimento de solidariedade: “Mas a solidariedade gerada por estas novas formas de agrupamento não está associada a movimentos integradores. A desaparição das formas tradicionais de pertinência provoca a aparição de uma nova obrigação, a de cada um gerar por si mesmo sua inserção social.” (Tedesco, 2002: 20) A solidariedade vem sendo comumente suplantada pelo individualismo contemporâneo da cidade, se não transmutada em dádiva numa “falsa caridade” – como compreende Padre Mauro, assumindo a função de manter o morador de favela na condição de objeto. São as ações assistencialistas que, movidas pelo sentimento de piedade, ou pela a necessidade de autoafirmação (pela superioridade) envolve os moradores de favela num tratamento que os mantém na condição de objeto e sob um status de inferioridade. “E tem isso, no caso de um bairro, por exemplo, cê não vai ficar olhando a casa de um vizinho. E no caso da favela lá: ‘fulano, eu vou viajar, cê dá uma olhadinha aqui pra mim?’. ‘Tranqüilo, vai lá’. A gente é muito amigo, nós somos muito de muita amizade.” (Pedro) 75 Por exemplo: Foucauld, Jean Baptiste ed Piveteau, Denis. “Une société em quête de sens”. Paris, Editions odile Jacob, 1995. (apud Tedesco, 2002) 127 “Eu vivo com ajudinha dos outros, minha filha. Um vem me dá um. Outro vem me dá um trenzinho, outro vem e me dá também. É. Porque graças a Deus, isso aí, eu tenho amizade demais, minha filha. Em nome de Jesus.” (Ana) “Tem esse aspecto negativo da fofoca, mesma, agora, por outro lado, cê vê isso quando morreu a mãe do Nil. Quando cê vê no Morro das Pedras, quando aconteceu aquela tragédia lá, juntou a favela inteira, tem a questão da curiosidade, mas tem a questão da ajuda, da solidariedade que, se uma pessoa tá passando fome – ah, tem as pessoas mesquinhas também, tem em todo lugar - mas se uma pessoa tá passando fome, aí cê pede pra um vizinho aqui, ‘fulano tá com dificuldade, cê poderia me ajudar?’, cê consegue uma cesta básica na hora, sabe? Assim, aqui tem gente que se tiver um prato de comida, divide o prato ou então te dá. Existem pessoas que eu acho que não existe em outro lugar. É... essa questão da unidade mesmo, que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo passando as mesmas dificuldades, ta todo mundo apanhando da polícia, a maioria dos filhos-homens vão se drogar, a maioria das meninas vão ter filho antes da hora, então, assim, se você não tem onde se unir você tá fudido, aqui dentro você não sobrevive sem união das pessoas.” (Suzana) Esse forte sentimento de solidariedade mostra-se muito misturado a uma invasão sistemática da vida privada (em função da proximidade das moradias e como uma reação sintomática de defesa coletiva), porém para o enfrentamento de um quadro de precariedade e vulnerabilidade, a solidariedade surge como filha da cultura da pobreza. como um instrumento possível e eficiente, ou seja, o não desaparecimento da solidariedade, a nosso entender, está vinculado à necessidade de facultar a viabilidade da sobrevivência, material e simbólica, frente ao “outro” já constituído como a cidade. Mas, ainda assim, essa solidariedade não esconde os conflitos humanos vivenciados no cotidiano, no relacionamento social e familiar. 7.4 TRANFORMAÇÃO Dentro desse tipo de contexto, de onde brota a cultura da pobreza, é possível que uma outra forma de cultura surja e a supere. O próprio Lewis sugere a possibilidade deste desdobramento, através do desenvolvimento da consciência de classe, que possibilita um movimento de distanciamento da postura alienada, do sentimento de inferioridade e da desvalorização pessoal. Porém, o autor não desenvolve a fundo o movimento de ruptura com a cultura da pobreza, ao qual pudemos claramente observar em alguns de nossos entrevistados. Denise Paraná (1996) destrincha algumas dessas possibilidades, tratando da passagem da “cultura da pobreza” à “cultura da transformação” – conceito este que a autora desenvolve com muita propriedade ao apresentar o caso de Luís Inácio Lula da Silva. A autora trabalha com este conceito aberto e amplo, exatamente porque ele trata da mudança, da transformação. 128 A autora também recorre a um segundo sociólogo, o brasileiro Éder Sader, que trata do embate das relações de classe na sociedade brasileira, para elucidar ainda outras questões importantes na realização de seu estudo76. Ela defende que da cultura da pobreza pode emergir a cultura da transformação, dentro de condições muito singulares que provocam o surgimento de novas formas de consciência social, que solapam definitivamente a alienação através da sublimação da energia de revolta: fenômeno que pode ser lido na trajetória de Nil César. “A Cultura da Transformação, assim como outras culturas, nasce do embate – que assume múltiplas formas – entre o desejo humano e a realidade. Quando a realidade muda, os desejos humanos podem continuar basicamente semelhantes ou mesmo acompanhar as mudanças da realidade, mas em qualquer um dos casos, se há mudança nas relações reais de existência há também mudanças na maneira como os seres relacionam-se com esta nova realidade. Produz-se assim um novo modo de compreender o mundo, um novo modo de agir, uma nova ‘cultura’.” (Paraná, 1996: 334.) A cultura da transformação encontra solo na travessia do individualismo para o investimento pessoal num projeto social. Citando Gramsci, Paraná fala do surgimento de uma unidade cultural que se desenvolve na coletividade, de onde brota objetivos comuns. Na vontade de transformar (de alguma forma) o mundo77, o homem se transforma e abandona as malhas da cultura da pobreza. “Se o conceito de cultura da pobreza, como nos diz Lewis, é uma reação e uma adaptação ao modo de produção capitalista, o conceito de cultura da transformação também o é, mas inverte a sua lógica. Ambos são o verso e reverso da mesma medalha. O conceito de cultura da transformação é fruto da mesma matéria da cultura da pobreza: as pulsões, os sentimentos, os desejos humanos; a diferença reside exatamente na maneira como estes se manifestam.” (Paraná, 1996: 408) Sem querer transpor de forma selvagem um tal construto teórico, e correndo o risco de cair num viés “psicologicista”, pensamos que a despeito de uma série de adversidades algumas pessoas conseguem encontrar essas vias de acesso, se inserir na transformação – como Nil, Suzana e Márcia – e multiplicá-la. A esse movimento dedicaremos, agora, nosso olhar: “Graças a Deus, o morro agora está se formando. É muito pouco, mas quando você vê na televisão a família da Ana aparecendo e os três fazendo faculdade, todos criados aqui, isso dá uma auto-estima pra mentalidade das pessoas muito grande. E aí assim, todos os meninos do Agente Jovem, que eu fui orientar, quase todos passaram no vestibular esse ano.” (Suzana) 76 A autora utiliza ainda de elementos da Psicanálise para trabalhar a matéria encontrada. “E esta fé na capacidade de transformar a história que cada homem passa individualmente a trazer dentro de si (quando possuidor da cultura da transformação) é capaz mesmo de mover a própria história.” (Paraná, 1996. Pag 413) 77 129 “Os meninos estão fazendo uma coisa que eu acho extremamente importante agora que é a Associação dos Universitários, né? Daqui, daqui do morro. Que diferente de mim e de outras pessoas, que na época que a gente estudava, a gente resolvia os nossos problemas de uma forma pessoal assim, sabe? Com minha mãe correndo atrás de cursinho, ou então eu trabalhando em trocentos lugares pra pagar a universidade, hoje eles entendem que é uma situação que não é de um ou de outro, que é uma situação de várias pessoas, e eles atuam como grupo, né? E essa Associação tem um pouco desse propósito, de discutir esses problemas, tentar buscar soluções em comuns etc. e tal. E essa articulação eu acho que é boa e ela é importante.” (Márcia) “E aí a minha mãe, meus pais nunca tinham ido ao teatro na vida! Foram pra me assistir. Agora todo convite que aparece os dois são os primeiros a querer ir. Então, tem essas coisas da transformação mesmo. Hoje em dia o meu irmão fala que quer voltar a estudar, meu irmão quer fazer um curso de técnico de teatro. Minha mãe, o Grupo do Beco precisou de faxinar o espaço, é a primeira a tar lá. Meu pai é meio ainda, resistente, sabe? Mas o que a gente precisa/minha cunhada, nó, ela é fã ardorosa do trabalho. Então essa coisa do Grupo do Beco me colocou mais com os pés no chão. Dentro do Grupo do Beco eu tenho a possibilidade de conhecer, de ter acesso, mas também de entender as outras pessoas que não tiveram esse acesso que eu tive, sabe?” (Suzana) Por meio da História de Nil, pudemos perceber que a mobilidade psicossocial é compreendida e nomeada como possibilidade de acesso78, mostrando-se – de fato – como ponto fundamental, remetendo-nos à questão do trabalho como um dos eixos principais. Quando encontramos a história de Nil, em seu caráter primordial de resistência e transformação, somos remetidos igualmente à dimensão da educação, imaginando que a via fornecida pela escola favoreceu tal possibilidade, mas o “acesso” a essa possibilidade, apesar de tangenciar (ou até mesmo atravessar) o campo da escola vai se efetivar de fato pela via da criação, do conhecimento, da informação e do afeto – não exclusivamente pela escola. Podemos perceber, também através de nossas entrevistas e da fala de Nil, que o trabalho poderá funcionar como afirmação ou negação. Isto é, se a possibilidade de trabalho encontrada está nos moldes tradicionais de exploração, encaminhando à alienação e ao entorpecimento, essa via funcionará, como se tem visto, como espaço de dominação e reprodução, empobrecendo-se de seu caráter original que é precisamente o de transformação. Se o sujeito consegue encontrar na experiência laboral o espaço necessário ao desdobramento de sua subjetividade, o trabalho mostra-se ser como é fundamentalmente: um espaço de transformação. 78 Decidimos pelo uso do termo acesso exatamente porque é assim que essas idéias apareceram na fala e na vida de nossos interlocutores. 130 Realizar a travessia da autoconstituição, nesse caso, pelo trabalho, só é possível se for operada uma transformação nesse contexto de trabalho, já que está colocado num sistema que funciona baseado na dominação, na desigualdade e na exploração. O acesso vai se efetivar por alternativas diferenciadas de trabalho, que não a reprodução eterna da desqualificação, ou, como se fosse seu reverso, a via da criminalidade. Mas, o resgate da função original do trabalho permanece se a atividade laboral é colocada como espaço de transformação e criação, potencializando sua dimensão vital e transformando a realidade, ou seja, o trabalho da arte: “Eu vejo que a arte e a cultura é uma grande porta de, de auto realização e de, não de auto realização, mas de realização da pessoa, né? Se eu fizer, se eu achar vários pontos... Onde cê investiria? Eu faria um grande investimento na área cultural, porque a favela ela é muito rica culturalmente, né? De manifestação cultural. E a, e as pessoas que se envolveram que em algum momento da própria vida é, foram pegas por alguma atividade cultural, artística, né? Aí cê vai encontrar vários artistas dentro do morro. Eu acho essas pessoas muito realizadas. Muito felizes e com uma interferência muito positiva e que não, e que quase sempre elas, nessa questão de poder, elas também são mais solucionadas. São pessoas que têm essa visão do poder como um serviço pra comunidade também. Então aí eu, concluindo assim, eu acho que também a arte é uma grande porta pra cidadania, né?” (Pde. Mauro) Trabalhar significa cultivar. É cultura a que se refere Padre Mauro e a sobre a qual Sônia Viegas também discorre na Conferência Trabalho e Vida (1989): a autora apropria-se do sentido do trabalho como vida, como forma de fazer jus á vida, criando mais que objetos, mas significações que se desdobram indefinidamente. É a cultura como vida, cultivo, como trabalho, transformação. Se o trabalho está tomado por sua dimensão positiva, como momento de afirmação do homem, é construção do ser. Trabalho, nesta acepção, é labor e nos remete à idéia de cultivo: “a cultura é cultivada, é fruto de um processo de enriquecimento, de um processo de transformação”. Cria significações e possibilita que o homem coloque de si no mundo. Assim, a questão do “acesso” é, da fato, fundamental: acesso material, espacial, como também, simbólico: “Outro dia, assim, você não sabe o que foi para mim ter ganhado um convite para ir na formatura do Paulinho. Como que isso mexeu comigo, em todos os sentidos. Aí eu me volto mais ainda para dentro do morro, sabe assim. Eu sou uma dentre várias e aí eu era a única negra na casa dele, sendo tratada como todo mundo lá tava sendo.” (Suzana) 131 Neste sentido, gostaríamos de ressaltar que as ações criativas de nossos interlocutores saltam aos olhos, a despeito do leque minimizado de opções. Administram as conseqüências daquelas transformações, ainda transformando-as uma vez mais, buscando se apropriar de seu lugar social, revendo os papéis ali determinados. A percepção de capacidade de transformação de Nil, por exemplo, não se resume a uma realidade do âmbito privado, posto que permanece sob a mesma matriz sócio-histórica. O privado não deve ser enfatizado em detrimento do público, nasceria aí uma visão míope da realidade. A psicologia não pode se perder da história, da política. O psicologismo é a tônica atual da prática neoliberal, postulando o autoconhecimento como um fim em si mesmo e uma possibilidade. “Então descrevendo a favela eu acho que ela é um lugar com grandes possibilidades, né? Apesar de ser caótica, eu acho que ela tem grandes possibilidades. Mas que precisa muito mais do que simplesmente a caridade dos outros e a boa intenção dos outros, precisa de políticas publicas interessantes, né? Fundamentadas, permanentes, né? Que sejam coerentes, né? Que sejam constantes e não simplesmente eleitoreiras e não simplesmente como propaganda pra prefeitura, pro Estado, pra poder sair na época das campanhas, né? Campanha política.” (Pde. Mauro) É o contato (o acesso) com a realidade que provoca o engendramento de novas práticas, como sugere Cecília Coimbra79. Assim, temos de lembrar que o impedimento a esse contato, ou sua amplitude, tem muito a ver com a esfera do poder público e da ação da sociedade como um todo. Pelos relatos aqui apresentados, obviamente, o senso de justiça não está compartilhado. O acesso a diversas alternativas não é facultado, apesar de sua verdadeira importância, se quisermos ainda falar de democracia e cidadania. “A cidadania mutilada não é simplesmente o fato das leis injustas. Ela também resulta da própria estrutura do espaço, que na cidade separa os indivíduos e faz dos pobres ainda mais pobres nos bairros onde vivem, ali mesmo onde os serviços públicos são mais raros e o preço dos bens e serviços comprados é mais alto. Mas o cidadão mutilado é induzido a uma interpretação naturalista de sua situação de inferioridade já que os bairros pobres se definem como aqueles onde há todo tipo de carências... Dessa maneira, não é a cidade capitalista que é injusta com o pobre, mas usa própria pobreza, carência que pode ser suprida, segundo a ideologia dominante, por meio do trabalho. A expansão das classes médias reforça essa crença induzida. E convoca a fornecer mais trabalho, na idéia de um amanhã mais promissor.” (Santos, 1990: 188) 79 Em palestra preferida por ocasião do XII Encontro Mineiro da Abrapso. 132 É sempre importante perguntar: de que cidadania estamos falando? De que trabalho falamos? Os sujeitos que resistem aos apelos dessas vias de participação “não tradicionais” conseguem de fato realizar a travessia da autoconstituição, pelo trabalho? Em si mesmo? Não num sistema que funciona baseado na dominação, na desigualdade e na exploração. Colocou-se aí a nossa questão, na relação estabelecida entre esses sujeitos que transitam por papéis sociais tradicionalmente desvalorizados e o trabalho, a partir de uma realidade tida como de desqualificação e de vulnerabilidade social, como a das favelas. E não foi no trabalho, em si mesmo, que encontramos nossas respostas, quando o trabalho a que tem acesso é quase que exclusivamente de expropriação. Mas nossa resposta encontra-se, sim, no trabalho, enquanto transformação. O trabalho em sua dimensão vital, de criação, de vida. 133 “... e o fim de vossa viagem será chegar ao lugar de onde partimos. E conhecê-lo então pela primeira vez.” T. S. Eliot 134 8. OBSERVAÇÕES FINAIS Ao trabalhar essas considerações finais tomaremos como metáfora a obra de Ítalo Calvino, intitulada As Cidades Invisíveis. Foram diversos os caminhos percorridos, mas talvez nunca tenhamos de fato entrado na favela, em sua realidade cotidiana: como Marco Pólo (Calvino, 1998), talvez nunca tenhamos saído de Veneza... talvez... Sim, sabemos que não se pode confundir a cidade com o discurso que a descreve. Sabemos os limites de nosso estudo, especialmente pela impossibilidade de generalizações: contudo, entendemos que exatamente pelo singular se desenha o todo, como as pedras que se encaixam formando o contorno do arco da ponte. Dos muitos apontamentos que aqui foram estabelecidos, tantos outros deverão aí se somar. Novas e velhas questões aqui ainda se imprimem e, possivelmente, nossa maior contribuição tenha sido a de escrever uma dissertação sobre pessoas, em seu contexto – conhecimento construído em cima da palavra. Os caminhos das cidades percorridas não se permitem limitar ao papel, situações que para nós, visitantes, na verdade nada mais são que efêmeras – muito diferentes da vivência cotidiana dos moradores, cujos destinos se fazem prisioneiros da dinâmica interna de cada cidade, das determinações que atravessam a vida na cidade/favela: o cotidiano muito singular e simbólico, como o que aqui vimos se apresentar. Ítalo Calvino, na forma de poesia e prosa, envolve a cidade pelas relações, exorcizadas no tempo e no espaço. Perguntamos-nos se a subjetividade pode ser desvendada na objetividade. Sim, a cidade é portadora de sua história, inscrita em grades e ruas, becos e escadas, planos e construções, marcas que podem ser lidas nos detalhes presentes e ausentes do espaço apropriado – pelas pessoas, nas relações: “A cidade não é feita disso, mas das relações entre as medidas de seu espaço e os acontecimentos do passado: a distância do solo até um lampião e os pés pendentes de um usurpador enforcado.” (Calvino, 1990:14) Como cinzel e escultura de nossa percepção, a cidade inscreve os signos e representações que são nossos instrumentos subjetivos de construção de nós mesmos – e de construção da cidade. Mais que cidades, experiências: Diomira, Isidora, Dorotéia, Zaíra, Anastirma, Isaura, Maurília, Zoé, Zenóbia, cidades que escapam ao controle humano, caminhos que se abrem e se dividem e nunca são o mesmo, como os "caminhos das andorinhas que cortam o ar acima dos telhados, perfazem parábolas invisíveis com as asas rígidas, desviam-se para engolir um mosquito, voltam a subir em espiral rente a pináculo, sobranceiam todos os pontos da cidade de cada ponto de suas trilhas aéreas". (Calvino, 1998) 135 Os nomes também femininos das cidades de Calvino revelam o invisível e o inesgotável: as cidades e a memória, as cidades e o desejo, as cidades e os símbolos, as cidades delgadas, as cidades e as trocas, as cidades e os olhos, as cidades e o nome, as cidades e os mortos, as cidades e o céu, as cidades contínuas, as cidades ocultas. A favela, nossa cidade oculta, revela todas essas mesmas relações (memória, desejo, símbolo, sutilidade, troca, olhar, nome, morte, continuidade e vastidão) no movimento das vidas cotidianas. Este nome favela revela relações, determina lugares. Neste sentido, o conhecimento de um lugar se efetiva exatamente pela maneira como esse lugar se organiza e possibilita trabalho, circulação (mobilidade) e como age nas pessoas e, a partir do cotidiano, recria cultura e identidade. O lugar da favela, como pudemos perceber, acaba por corresponder, muitas vezes, à quase imposição de uma condição – funcionando como forma de agenciamento do processo de inclusão perversa, alimentado pela estigmatização. Nas marcas de nossa cidade podemos perceber que o morador de favela torna-se o “outro”, o reverso e oposição da cidade civilizada, a quem é, muitas vezes, atribuída a causa da violência e a manutenção de sua miséria. As marcas que percebemos no espaço atravessam a esfera sócioeconômica e atingem a subjetividade, geram desgaste e sofrimento. A coincidência de diferentes vetores (preconceito, estigmatização, trabalho dominado, educação precária, assistencialismo e desconhecimento) termina por reforçar esse processo de inclusão perversa, gerando sofrimento e desgaste vivenciados cotidianamente na favela. Ser favelado pode funcionar como um obstáculo ao ingresso no mercado de trabalho – ou coloca limites precisos neste acesso. A possibilidade de transformação da medida dessa inclusão pode ser efetivada, ou bloqueada, pelo trabalho – como vimos. Essa foi, para nós, uma grande descoberta: a permanência e a força do trabalho em sua dimensão positiva, de criação e transformação. Se tal plano é atingido, a despeito das diversidades (como conta Nil), impulsiona-se o processo de transformação, o que foi muito bonito de descobrir. A partir do que nos foi confiado por nossos entrevistados, tratamos de alguns desses pontos de transformação (“acesso”), abarcando a dimensão privada e a pública: originalmente na família, passando pela vivência escolar até alcançar o campo do trabalho. Entendemos que a mobilidade psicossocial se deu, nos casos que acompanhamos, por um desejo de transformação da realidade, de transformação do olhar que estigmatiza e da determinação social, onde nota-se a 136 efetivação da importância do trabalho – em sua dimensão fundamental de transformação: trabalho e vida. Esse trabalho – transformação – é também construído pelo movimento da memória. Nossa opção pelo método de História de Vida foi feita pensando num instrumento de fazer ciência e intervenção, pensando na dimensão ética que aí se deve estabelecer: não poderíamos, mais uma vez, transformar esses sujeitos em objetos... Mas ao contrário, desejássemos dar-lhes voz, ouvilos e, nessa escuta, proporcionar a vivência da reflexão para, juntos, tentarmos teorizar sobre suas experiências. Contar, re-significar sua história, é também trabalho, é também transformação. Assim, pelas lembranças de Nil, em sua individualidade, encontramos a passagem para a compreensão do coletivo que ali também se faz inscrito. Afinal, a identidade coletiva é forjada nas individualidades. Enquanto descobríamos a realidade desse coletivo, Nil se percebia como ator e autor, de sua história e da história de tal coletividade. Como ele mesmo nos conta: “Depois que eu li, depois que eu ouvi, eu me assistindo, me vendo como espectador, eu percebi o quanto eu cresci como pessoa, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência, sabe? De dar uma entrevista, de alguém transcrever, depois dar pra ler. Pra você se avaliar, se ver, a sua história, o que você é... (...) Mas é legal assistir, quando eu falo assistir mesmo é porque eu vou vendo mesmo, a imagem vai repetindo na minha cabeça. Eu tava ouvindo, assistindo e assimilando aquilo, entende? É muito legal, você tem que experimentar essa sensação!” (Nil) Assim, a memória é também o trabalho que movimenta e transforma. E a memória nos leva de volta à cidade, como fomos levado pelas lembranças de Nil, pela sua re-construção, já que a cidade também é a memória – tanto pelo que nela é lembrado e exposto, quanto pelo que é esquecido e ocultado. Belo Horizonte reitera o esquecimento da classe trabalhadora ainda hoje, pela via da inclusão perversa no jogo econômico, pela segregação espacial, pela estigmatização, e como cidade imposta pela elitização perversa. A cidade é memória, a reiteração do sonho e também o luto e o esquecimento, a erosão de significados, a imposição do silêncio, como percebemos no desenvolvimento de nossa pesquisa. Pensando na escassez de estudos que representem o universo das favelas em Belo Horizonte e na importância de ser este universo compreendido e ouvido, lançando um olhar para a cidade vivida, e em particular buscando compreender sua relação com o mundo do trabalho e seus desdobramentos, é que nosso estudo se apresentou. 137 “O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço”. (Calvino, 1998:150) 138 9. BIBLIOGRAFIA ABREU, Maurício de A. “A favela está fazendo 100 anos (sobre os caminhos tortuosos da construção da cidade”. ANPUR, vol. 2. 1997. ___________________. “Reconstruindo uma história esquecida: origem e expansão inicial das favelas do Rio de Janeiro”. Espaço & Debates, nº37. 1994. AFONSO, M. Rezende & AZEVEDO, Sérgio de. “Cidade, Poder Público e Movimentos de Favelados” In POMPERMAYER, Malori José. Movimentos Sociais em Minas Gerais. Ed UFMG. Belo Horizonte: 1987. AMARAL, Lígia A . “Conhecendo a deficiência; em companhia de Hércules”. São Paulo: Robe. Série Encontros com a Psicologia. 1992. ANTUNES, Ricardo. “Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho”. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999. _________________. “Ensaio sobre as Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho”. Cortez Editora/Editora da Unicamp. São Paulo, 1995. AMAS. “Famílias de Crianças e Adolescentes: diversidade e movimento”. Belo Horizonte, Associação Municipal de Assistência Social, 1995. AMAS. “Programa de Criança: Brincar e Estudar – A construção de uma metodologia de combate ao trabalho infantil”. Belo Horizonte, Associação Municipal de Assistência Social, 1999. ALVITO, Marcos. “As Cores de Acari – uma favela carioca”. Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2001. ALVITO, Marcos. “A Honra de Acari”. In Velho, G. Cidadania e Violência.. Rio de Janeiro: Editora UFRG/FGV, 2000. BARROS, V., NOGUEIRA, M. L. & SALES, Mara M. “Exclusão, Favela e Vergonha: Uma Interrogação ao Trabalho”. In BARBOSA, Íris (org). Psicologia Organizacional e do Trabalho; Teoria, Pesquisa e Temas Correlatos. Casa do Psicólogo, SP. 2002. BARROS, Vanessa A. de & SILVA, Lílian Rocha da. “A pesquisa em História de Vida”. In GOULART, Íris (org) Psicologia Organizacional e do Trabalho; Teoria, Pesquisa e Temas Correlatos. Casa do Psicólogo, SP. 2002. BARROS, V. A “ De la répresentation au pouvoir: une étude sur les trajectoires politiques dês dirigeants syndicaux au Brésil”. Presses de Septentrion, Lille, 2000. _____________. “Histórias de Vida”. Caderno Pensar, Jornal Estado de Minas de 30 de Junho de 2001. BORGES, Adriana Ferreira. “A Saúde Mental do Desempregado Metalúrgico: um estudo sobre os impactos psicossociais do desemprego de longa duração”. Dissertação de Mestrado. Departamento de Psicologia, UFMG: 2001. 139 BOSCHI, Renato (org). “Cem anos pensando a pobreza (urbana) no Brasil”. In: Corporativismo e Desigualdade – A construção do espaço público no Brasil. Rio Fundo Ed. Rio de Janeiro, 1991. BOSI, Ecléa. “Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos”. São Paulo, EDUSP, primeira edição em 1973. BOURDIEU, Pierre. “A Miséria do Mundo”. Petrópolis: Vozes (vários tradutores). 1997 BRUZZI, Hygina. “BH, ano 100: a escrita periférica” Varia história,BH, nº18, set/97. CALDEIRA, Tereza. “Cidade de Muros”. Edusp, São Paulo: 2000. CALDEIRA, Tereza. “Enclaves fortificados: a nova segregação urbana”. Novos estudos, CEBRAP 47, março, 1997. CALVINO, Ítalo. “As Cidades Invisíveis”. Companhia das Letras, 1998. CARVALHO, Sérgio Lage. “A Saturação do Olhar e a Vertigem dos Sentidos”. Revista da USP (Dossiê Sociedade de Massa e Identidade), 1989. CASTEL, Robert. “As Metamorfoses da Questão Social – uma crônica do salário”. Trad. Iraci Poleti. Petrópoles: Vozes, 1999. CASTELLS, Manuel. “A Questão Urbana”. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983. CASTELLS, M. & BORJA, Jordi. “As cidades como atores políticos”. Novos Estudos, nº 45, 1996. CHASIN, José. “Seminário: O Que É Trabalho”. Palestra proferida na FAFICH, UFMG. (transcrição incompleta), 1993. CHAUÍ, Marilena. “O que é Ideologia”. Coleção Primeiros Passos, Abril Cultural, Ed. Brasiliense. CFP (vários autores) “Psicologia, Ética e Direitos Humanos” Comissão Nacional de Direitos Humanos. CFP: Brasília, 1998. ____________ “Psicologia e Direitos Humanos – Práticas Psicológicas: compromissos e comprometimentos” Casa do Psicólogo. São Paulo: 2002. Comissão de Paz. “Kit de Sobrevivência para Tempo de Exclusão”, Comissão de Paz: Aglomerado Santa Lúcia/Morro do Papagaio. Belo Horizonte: 2001. CORRÊA. Marcos sá. “A favela dos favelados”. In www.no.com.br. COSTA, Geraldo Magela. “Exclusão sócio-espacial na era urbano-industrial: uma introdução ao tema”. In: Anais do VII Encontro nacional da Anpur, 1997, ANPUR, MDU/UFPE, 1997. v. 2, p. 1421-1436. COULON, Alain. “A Escola de Chicago”. Papirus Editora. Primeira edição (em francês) em 1992. Campinas, 1995 ESCOREL, Sarah. “Vidas ao léu – trajetórias de exclusão social”. Editora Fiocruz, 1999. 140 ESTANISLAU, Lídia A. “Belo Horizonte: tempo, espaço e memória”. Cad. Hist., Belo Horizonte, v.2, n.3, out. 1997. ENRIQUEZ, Eugène. “Da Horda ao Estado”. Jorge Zahar Editor, primeira edição em francês em 1983, Rio de Janeiro, 1990. _____________. “O Papel do Sujeito Humano na Dinâmica Social”. In: MACHADO, M. M. et alli, Psicossociologia: análise social e intervenção. Petrópolis, Vozes, 1994. _____________. “O Fanatismo religioso e político”. In: MACHADO, M. M. et alli, Psicossociologia: análise social e intervenção. Petrópolis, Vozes, 1994. FORTES, Ronaldo Vielmi. “Trabalho e Gênese do Ser Social na ‘Ontologia’ de George Lukács”. Dissertação de Mestrado. Departamento de Filosofia, UFMG, 2001. GARCIA, Célio (org.). “Conferências de Alain Badiou no Brasil”. Ed. Autêntica, Belo Horizonte: 1999 GAULEJAC, Vincent de. “Les Sources de la Honte”. Paris, Desclée de Brouwee, 1997. ___________. “Histórias de Vida e Escolhas Teóricas”. Les Cachiers du Laboratoire de Changement Social; nº1 – Junho 1986, Université de Paris. Traduzido por Vanessa Andrade de Barros. GOFFMAN, Erving. “Estigma – Notas sobre a Manipulação da Identidade deteriorada”. Zahar Editores: 1980, Brasil. GOMES, Paulo César. “A Condição Urbana”. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2002. GONÇALVES FILHO, José M. “Humilhação social – um problema político em psicologia”. Psicologia USP, São Paulo, v. 9, nº 2: 1998. _____________________. “McDonald’s: as imagens do capital”. GRIS. “Relatório de Pesquisa: Modos de ser, modos de conviver”. CNPq, 2000. GRISCI, Carmem L. Ionchins & LAZZAROTTO, Gislei. “Psicologia Social no Trabalho”. In GUARESCHI, P. & STREY, M. N. (orgs) Psicologia Social Contemporânea: Livro Texto. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998. GROSSI, YONNE DE s. “Belo Horizonte – qual polis?” Cad. Hist. Belo Horizonte: v.2, nº3. Out/1997 GUIMARAES, Berenice Martins. “Cafuas, barracos e barracões”. Tese de Doutorado IUPERJ 1991 ___________________. “Favelas em Belo Horizonte – Tendências e Desafios”. In Análise e Conjuntura FJP, Belo Horizonte. Vol 7 n 2 e 3 Maio/Dezembro 1992. HAGUETTE, Teresa M. F. ”Metodologias Qualitativas na Sociologia”. Ed. Vozes, 3 edição, Petrópolis, 1992. HERNANDEZ, Ignácio Agero. “Estação Eldorado”, 2002. 141 HISSA, Cássio Eduardo Viana. “A mobilidade das fronteiras – inserções da geografia na crise da modernidade”. Ed. UFMG, Belo Horizonte: 2002. KOWARICK, Lúcio. “A Espoliação Urbana” Editora Paz e Terra, São Paulo: 1979. LAGO, Luciana Corrêa do. “Favela-loteamento: re-conceituando os termos da ilegalidade e da segregação urbana”. X Encontro nacional da ANPUR, 2003. LE GUILLANT, L. “Quelle psyhiatrie pour notre temps?”. Paris: Eres, 1983.. LE VEN, Michel. “Belo Horizonte: cidade sem perdão?” Varia História, Belo Horizonte, nº18, Set/1997 LEEDS, Anthony e Elizabeth. “A Sociologia do Brasil Urbano”. Ed. Zahar, 1978. LEFEBVRE, Henri. “A Cidade do Capital”. Rio de Janeiro , DPA , 1999. LÉVY, André. “Ciências Clínicas e Organizações Sociais – Sentido e Crise de Sentido” Ed. Auiêntica, Belo Horizonte, 2001. LEWIS, Oscar. “The Children of Sanchez”. 1963 LIMA, Maria Elizabeth Antunes. “Esboço de uma crítica à especulação no campo da saúde mental e trabalho”. In: JACQUES, M. G.; CODO, W. Saúde Mental e Trabalho: leituras. Petrópolis: Vozes, 2002. LIMA, Maria Elizabeth Antunes.”A polêmica em torno da centralidade do trabalho na sociedade contemporânea”. No prelo. MARICATO, Ermínia. “Metrópole na periferia do capitalismo – ilegalidade, desigualdade e violência”. São Paulo: Hucitec, 1996 MARICATO, Ermínia. “As Idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias”. In “A Cidade do Pensamento Único – desmanchando consensos”. Vozes, 2000. MARTINS, José de Souza. “Exclusão Social e a Nova Desigualdade”. Ed Paulus, São Paulo. 1997 MARX, K. “O capital: crítica da economia política”. São Paulo, Abril Cultura, Coleção Os economistas, Vol. I, 1983 MINAYO, L. Y. L. “O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde”. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 1998. OROFIAMMA, Roselynne. “História de Vida entre Pesquisa, Formação e Terapia”. Mini-curso ministrado por ocasião do VIII Colóquio de Psicossociologia e Sociologia Clínica, Belo Horizonte – 02/07/2001. PELLEGRINO, Hélio. “Pacto Edípico e Pacto Social”. In Py, Luíz Alberto (org) Grupo Sobre Grupo. Ed Rocco; Rio de Janeiro, 1987. PARANÁ, Denise. “O Filho do Brasil: de Luiz Inácio a Lula”. São Paulo: Ed. Xamã, 1996. PAULA, João Antônio de. “Reivindicar a Cidade”. 142 PAULA, João Antônio de. “Memória e esquecimento, Belo Horizonte e Canudos: encontros e estranhamento”. Varia história,BH, nº18, set/97. PIMENTEL, Thaís Velloso C. “Belo Horizonte ou o estigma da cidade moderna”.Varia Históriz, BH nº18, set 97. PLAMBEL “Favelas na RMBH” Prefeitura de Belo Horizonte. Julho – 1983. PRADO, Adélia. “Poesia Reunida”. São Paulo: Siciliano, 1991. PREUSS, Miriam R. G. “A Abordagem Biográfica – História de Vida – na Pesquisa Psicossociológica”. In: Revista Série Documenta, ano VI, nº8, UFRJ,1997. REIS, Eliana. “Cidadania: história, teoria e utopia” in Pandolfi, Dulce Chaves (org) et al Cidadania, Justiça e Violência Editora FGV, Rio de Janeiro. 1999. RIBEIRO, L. C. Q. & SANTOS Jr., O. A. “Globalização, Fragmentação e Reforma Urbana – o futuro das cidades brasileiras na crise” Rio de Janeiro; Civilização Brasileira, 1994. RINALDI, Alessandra. “Marginais, delinqüentes e vítimas: um estudo sobre a representação da categoria favelado no Tribunal do Júri da cidade do Rio de Janeiro”. In ZALUAR, A e ALVITO, M. (orgs.). “Um século de Favela”. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1998. ROCHAEL-NASCIUTTI, Jacyara C. “Análise Psicossocial Clínica: Determinantes Sociais da História Individual”. In: Revista Série Documenta, ano VI, nº8, UFRJ.1997. ROLNIK, Raquel. “O que é Cidade”. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. SADER, Eder. “Quando Novos Personagens Entraram em Cena – Experiência e Lutas das Trabalhadoras da Grande Sâo Pulo 1970-1980” Editora Paz e Terra: 1988. SABINO, Fernando. “A falta que ela me faz”. In A falta que ela me faz, Record: 1981. SALLES, Mara M. “A favela é um negócio a fervilhar: olhares sobre a estigmatização social e a busca de reconhecimento na Pedreira Prado Lopes”. Dissertação de Mestrado. FAFICH, Belo Horizonte: 2003. SANTOS, Milton. “A natureza do Espaço: espaço e tempo: razão e emoção”. São Paulo: Hucitec, 1999. ________________. Técnica, espaço e tempo: globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo, Hucitec, 1997. ________________. “Da Política dos estados à políticas das empresas” IN Cad. Esc. Legisl. Belo Horizonte, 3(6), jul/dez, 1997. ________________ .“O retorno do território” In Santos, M., Souza, M. A. & Silveira, M. L. (orgs) “Território, Globalização e Fragmentação”. São Paulo: Hucitec/Anpur, 1994. ________________. “O Espaço do Cidadão”. São Paulo: Nobel, 1987. ________________. Espaço e sociedade. Petrópolis: Vozes, 1979. SARAMAGO, José. “Ensaio sobre a cegueira”. Editorial Caminho, Lisboa: 1995. 143 SARLO, Beatriz. “Cenas da Vida Pós-Moderna. Intelectuais, Arte e Vídeo – cultura na Argentina”. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ. 1997. SAWAIA, Bader (Org.). “Exclusão ou Inclusão Perversa? As Artimanhas da Exclusão – Análise Psicossocial e Ética da Desigualdade Social”. Petrópolis: Vozes, 1999. SELIGMAN-SILVA, Edith. “Desgaste mental no trabalho dominado”. Rio de Janeiro: Cortez Editora, 1994 SÉVIGNY, Robert. “Abordagem clínica nas ciências humanas”. In Araújo, José Newton G. & Carreteiro, Teresa “Cenários sociais e abordagem clínica’, escuta/FUMEC, 2001. SLVA, Lilian Rocha. “Atividade e o cotidiano dos auxiliares de necropsia no instituto MédicoLegal de Belo Horizonte/MG: trabalho não reconhecido”. Tese de Mestrado, FAFICH: 2004. SILVA. Regina Helena A. “Cidade e memória” Varia História, Belo Horizonte, nº12, Dez/93 SILVA, Regina Helena A. & SOUZA, Cirlene C. “Múltiplas Cidades: entre morros e asfaltos” In França, Vera R. V. (org) “Imagens do Brasil: modos de ver, modos de conviver”. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. _______________________.“O Morro e o Asfalto: o contraste entre a cidade planejada e a cidade habitada”. In GRIS. “Relatório de Pesquisa: Modos de ser, modos de conviver”. CNPq, 2000. No prelo. SILVEIRA, Anny J. “As ruas e a cidade”. Cad. Hist. Belo Horizonte: v.2, nº3. Out/1997 SIMMEL, Georg. “A Metrópole e a Vida Mental”, primeira publicação em 1902. SOARES, Alexandre. “Eu conto mais é com os colegas lá da rua” In ZAMORA, M. H., (orgs). “O Social em Questão: Crianças e Adolescentes, famílias e Políticas públicas: para além do faz de conta”. Ciespi. Volume 7, número 7, Ano VI. Rio de Janeiro: 2002. SOUZA, Elieth Amélia de. “Da Barraca ao Barraco: um estudo sobre a vila Novo São Lucas”. Monografia – Curso de Especialização em Análise Urbana, UFMG. Belo Horizonte, 1997. mimeo SOUZA, Marcelo L. de. “O tráfico de drogas no Rio de Janeiro e seus efeitos negativos sobre o desenvolvimento sócio-espacial”. Cadernos IPPUR/UFRJ, ano VIII, nº 2/3. Set/Dez. 1994. SOUZA, Marcelo L. de. “Revisitando a crítica ao ‘mito da marginalidade’. A população favelada no rio de janeiro em face do tráfico de drogas” ANPUR, vol. 2. 1997. SOUZA, Marcelo L. de. “O Desafio Metropolitano”. Bertrand Brasil, 2000. TASCHNER, Suzana P. “Favelas e cortiços: vinte anos de pesquisa urbana no Brasil”. Cadernos IPPUR, Rio de Janeiro, ano X, nº 2. 1996. TEDESCO, Juan Carlos “Os Fenômenos da Segregação na Sociedade do Conhecimento e da Informação”. Cad. Pesqui. Nov. 2002, nº117. VALLADARES, Lícia. “Que favelas são essas?”, In Insigh Inteligência, 1999. 144 ____________________ “A Gênese da Favela Carioca”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Volume 15, número 44. São Paulo: Outubro 2000. ____________________ “Passa-se uma Casa: análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro”Zahar. Rio de Janeiro: 1978. VALLADARES, Lícia. & COELHO, Magda. “Governabilidade e Pobreza no Brasil” Rio de Janeiro. Editora Civilação Brasileira, 1995. VALLADARES, Lícia & PRETECEILLE, Edmond (coord) “Reestruturação Urbana – tendências e desafios” Ed. Nobel/IUPERJ. Rio de Janeiro: 1990. VELHO, Gilberto. “O Desafio da Cidade” Campus. Rio de janeiro: 1980. VELHO, G. e ALVITO, M. (orgs). “Cidadania e Violência”. Rio de Janeiro: Editora UFRG/FGV, 2000. VENTURA, Zuenir “Cidade Partida” Companhia das Letras; São Paulo: 1994. VIANA HISSA, Cássio E. “A Mobilidade das Fronteiras. Inserções da Geografia na Crise da Modernidade”. Belo Horizonte, Ed. UFMG. 2002. VIEGAS, Sônia, “Trabalho e Vida”. Palestra proferida no Centro de Reabilitação Profissional, Belo Horizonte, 1989. VILASSANTI, Eliane Castro. “O Complexo Categorial da ‘Atividade Humana’ na Obra Marxiana”. Dissertação de Mestrado. Departamento de Filosofia, UFMG, 1999.. WAIZBORT, Leopoldo. “As Aventuras de Georg Simmel”. Editora 34, São Paulo, 2000. WANDERLEY, M. B. et al “Desigualdade e a Questão Social”. Ed. Educ. Sâo Paulo,1997 ZALUAR, A e ALVITO, M. (orgs.). “Um século de Favela”. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1998. ZALUAR, Alba. “Condomínio do Diabo”. Rio de Janeiro, Ed. Revan/UFRJ, 1994. _____________. “A Máquina e a Revolta – as organizações populares e o significado da pobreza”. Editora Brasiliense, São Paulo, 1985. _____________. “Exclusão e Políticas Públicas: dilemas teóricos e alternativas políticas”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. V. 12 n. 35. São Paulo, 1997. ____________. “Violência extra e intramuros”. Rev. Bras.Ci. Soc. V.16, nº45. São Paulo, fev.2001. 145
Download