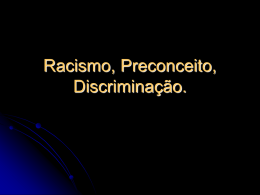1 Análise etnográfica sobre as lógicas das absolvições e das condenações de crimes de racismo contra (pessoas) negras e indígenas (...)1 Simone Becker (Docente UFGD/ Bolsista CNpq - PQ 2 área Antropologia Social /Brasil; [email protected]; 055679693-7050) Discursos; Judiciário; Brasil; Etnia e Raça. I. Costuras preliminares: metodologia e ética O presente ensaio (re)traça alguns dos resultados de projetos de pesquisa e/ou de extensão que desenvolvo desde 2007, cujos conteúdos e maiores detalhamentos exporei ao longo do referido. Como fio condutor em meio a estas ações importa-me compreender quem são considerados inumanos, em especial nos feixes das relações estabelecidas com o Estado – entendido da maneira mais ampla e/ou plural possível. Afinal ou no final das contas, as incontáveis relações estabelecidas com o Estado, a partir das quais nós demandamos direitos, somente se perfazem se gozamos da condição de humanidade (BECKER, 2011). Eis o diálogo que tento e tendo (BECKER, 2015) a tecer com alguns dos escritos, por exemplo, de Judith Butler (2002; 2003; 20102), Michel Foucault (2010), Tzvetan Todorov (1995), Walter Benjamin (1987) e Paul Ricoeur (2008). Antes de enunciar as anunciadas costuras ressalto que há duas categorias êmicas e analíticas que se tocam para meus intentos, a saber: raça e gênero, para além das de classe social e etnia. Mas por que enfatizo raça e gênero? Centro-me nestas duas, porque é a partir do biológico3 que se constroem as estratégias de controle e de disciplina sobre os corpos e, então, sobre os sujeitos que os portam, a partir dos discursos científicos. Esses dispositivos (foucaultianos) culminam nos contornos da biopolítica e do biopoder. São as marcas do e no corpo, ora pela 1 Trabalho a ser apresentado no IV Congreso Latinoamericano Antropología (ALA), de 07 a 10 de outubro, 2015 – Centro Histórico da Cidade do México, junto ao Simpósio Temático n. 29. Agradeço ao fomento financeiro empenhado a mim pelo CNpq para eu estar neste evento, bem como, a minha liberação e incentivo por parte da UFGD. No mais: agradeço à minha analista – Zelma A. Galesi – por conduzir-me ao desejo/vontade de saber que me movimenta, me produz e me reproduz, em meio ao nosso/meu processo analítico. E graças ao qual cada vez mais me (re)conheço face às minhas falações (documentadas). 2 Em inédita vinda para o Brasil, cuja conferência tive o privilégio de assistir/ouvir, Judith Butler articulou a noção de “fantasmas” para os sujeitos desconsiderados pelo Estado, cujas vidas mais precárias do que outras tendem a restar nas “sombras”. 3 Entendido como da ordem do construído/construto. 2 cor da pele, ora pela genitália que os discursos do “normal e do patológico” em meio à dialética das exclusões são operacionalizadas. Em solos brasileiros, como bem destaca Lilia M. Schwarcz (1993), as ideias de (Cesare) Lombroso acabam por fundamentar os primeiros cursos de Direito e Medicina no século XIX, e complemento que sustentam as ideias reacionárias do preconceito às avessas em pleno século XXI. Uma de minhas interlocutoras em meio ao documentário etnográfico “A Joaquim”4, ligado aos projetos “fins de tarde em meio à diversidade: na sala com as travestis” e “maiorias que são minorias, invisíveis que (não) são dizíveis (...)”, ao descrever as violências sofridas em seu cotidiano, compartilhou comigo e com as demais pesquisadoras presentes nas idas a campo: muitas das vezes, eu penso assim: nossa, será que eu sou uma coisa de outro mundo, né? Que o pessoal tá enxergando outra coisa? Mas aí eu mesmo me respondo: não, eu não sou, porque não é só eu que sou assim (DIÁRIO DE CAMPO, 2011, s/p). O se sentir como uma “outra coisa”, por vezes, foi aproximado à ordem da “monstruosidade” na fala da interlocutora, colocando-a fora do esquadro dos pressupostos do que compõe a normalidade, tal como expõe Judith Butler (2002; 2003). Assim, estar nesse lócus é desfrutar de uma abjeção que vez ou outra e cada vez mais constantemente beira ao extermínio, ou ainda, ao genocídio5. Dois são os exemplos que reiteram o denominado por Michel Foucault (2010) de “racismo de Estado”, igualável à vivência da maioria das travestis com as quais interagi. Nos projetos antes citados, ora com crimes de racismo no TJSP, ora com homicídios de travestis no TJMS, um ponto de convergência se faz perceptível. E então, capaz de ilustrar o vigente e cada vez 4 Por questões de ordem ética não disponibilizamos para além das interlocutoras o vídeo. Isto porque, facilmente o mesmo poderia ser decupado e deturpado por usuários da internet ao ser postado. 5 Ambos os termos são tomados aqui como sinônimos, considerando as distinções suscitadas por Pierre Clastres (2004, 83), cujo pressuposto principal centra-se no entendimento do etnocídio como categoria englobante do genocídio. Em artigo publicado na Revista de Ciências Humanas sobre mulheres encarceradas indígenas (BECKER e MARCHETTI, 2013) suscito tais distinções superficialmente, sem enfatizar aquela reforçada por Clastres quanto ao termo genocídio. Esse foi criado juridicamente em 1946 para as ações de extermínios de judeus pelos nazistas. Entretanto, tais práticas referem-se também aos extermínios advindos das práticas coloniais frutos de movimentos de grandes potências estatais. Para tais práticas, sublinha Clastres que nunca houve processos judiciais como para os consensos de Nuremberg no tocante aos crimes contra judeus. Assim, se genocídio remete ao extermínio de uma “raça” minoritária, o etnocídio remarca para além do extermínio físico o cultural, muito presente nas práticas coloniais contra as populações indígenas da América do Sul. 3 mais acentuado racismo de Estado: o ódio em relação à existência diversa do outro na e da ordem fenotípica que legitima o seu extermínio. Para chegar às tessituras teóricas quanto ao “Racismo de Estado” tecerei considerações sobre como coletei os materiais analisados, onde coletei e as razões que me motivaram a coletar tais documentos e não outros, bem como os aspectos éticos. No tocante aos julgamentos judiciais voltados aos crimes de racismo, debrucei-me juntamente com outr@s pesquisador@s tanto sobre o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo6) quanto sobre o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). No site do TJSP (www.tjsp.jus.br) analisei 09 (nove) acórdãos7 da busca realizada aos três dias do mês de dezembro de 2011, por Déborah Guimarães Oliveira. Ao digitar a palavra-chave “crime de racismo” chegamos a 599 (quinhentos e noventa e nove) acórdãos, dentre os quais depuramos apenas aqueles que diretamente discutiam a condenação ou a absolvição por racismo enquanto um desvio8 da ordem do direito penal/criminal. Eis os 09 (nove) julgamentos, sendo 06 (seis) condenações e 03 (três) absolvições. No sítio do TJMS (www.tjms.jus.br) foram dois os procedimentos/movimentos de coleta dos dados, cujos resultados foram basicamente os mesmos. No primeiro momento de coleta, Renata K de Souza aos 26 dias do mês de abril de 2015, digitou a palavra-chave “racismo” e chegamos a 45 (quarenta e cinco) decisões. Destas, 02 (duas) diziam respeito à esfera criminal e tocavam diretamente na discussão de concretização ou não do desvio classificado como crime de racismo. No dia 30 de julho de 2015 digitei “crime racismo condenação”, alcançando o quantitativo de 24 (vinte e quatro) documentos, dos quais os antes citados 02 (dois) eram voltados às 6 São Paulo foi juntamente com o Rio Grande do Sul escolhido como lócus inicial da pesquisa face à influência da colonização de seus nativos na região do então Mato Grosso. No TJRS o material ainda não foi devidamente sistematizado, por mais que ensaios teóricos de estudos de casos já tenham sido produzidos. 7 São sinônimos de sentenças ou julgamentos realizados por uma instância distinta e superior àquela do primeiro juiz que julgou o conflito. Para maiores detalhes ver minha tese (BECKER, 2008). 8 Utilizo a categoria “desvio” ao invés da do “crime”, frente ao fato de ser mais ampla à medida que o desvio pressupõe para os interacionistas simbólicos – como Howard Becker (2008), todas as reações às repreensões sociais. Então, o desvio não é necessariamente o que se torna por conveniência num dado momento histórico passível de se transformar em lei posta no papel pelos legisladores. 4 discussões da condenação ou não por crime de racismo imputado a duas mulheres. Retenham as (pessoas) leitoras essa importante ressalva, uma vez que me parece serem as mulheres alvo privilegiado para as condenações, quando há, por parte delas, prática racista tipificada na lei Caó. Quanto aos processos envolvendo denúncias feitas por indígenas discriminados, até então foram apenas 02 (dois) os conflitos rastreados em todo o território nacional, e que alcançaram as mais altas instâncias do Judiciário. A busca ainda não sistematizada, deu-se no início de 2014, comigo digitando no buscador do “google” a expressão “condenação racismo indígenas”. Mergulhando nas informações midiáticas referentes às decisões envolvendo indígenas, o primeiro foi julgado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça9) em 06 de outubro de 2009, envolvendo indígenas kaingangs das “Reservas” de Toldo Chimbangue, Toldo Pinhal, Xapecó e Condá. Por intermédio do Ministério Público Federal (MPF), os indígenas denunciaram por racismo ofensas a eles desferidas pelo jornalista João Rodrigues10. Segundo o que consta no documento (“denúncia”) produzido pelo MPF (Ministério Público Federal), o apresentador de TV “teria, em cinco oportunidades, entre janeiro e maio de 1999, incitado à discriminação contra grupos indígenas em disputa com colonos pelas terras das reservas de Toldo Chimbangue, Toldo Pinhal, Xapecó e Condá” (JURISWAY, 2015, s/p). Os referidos indígenas encontra(va)m-se em disputas por demarcação de terras com colonos no Estado de Santa Catarina (Cid Fernandes, 2005). Com o advento da primeira decisão, o mesmo foi condenado a dois anos e quatro meses de reclusão, levando-o a contestá-la via recurso (JURISWAY, 2015, s/p). Ao chegar o “Recurso Especial (REsp 911183)” ao STJ, o relator responsável por grafar seu voto e expor aos demais, destacou que não se tratava de crime de racismo previsto no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716/89, mas “de exteriorização do seu livre pensamento”, trazendo à tona os argumentos por mim e Déborah Guimarães destacados como recorrentes no TJSP, a saber: ausência de dolo 9 O STJ é ao lado do STF uma das maiores cortes do Judiciário. Todos os nomes por serem públicos – e não repousar sobre o processo “segredo de justiça” - foram veiculados, tal como exponho nas discussões éticas. 10 5 ou intenção de discriminar que resultou na absolvição por insuficiência de provas aliada ao descolamento da honra subjetiva da coletiva. Assim o fez nos seguintes termos: O dolo, consistente na intenção de menosprezar ou discriminar a raça indígena como um todo, não se mostra configurado na hipótese, sequer eventualmente, na medida em que o conteúdo das manifestações do recorrente em programa televisivo revelam em verdade simples exteriorização da sua opinião acerca de conflitos que estavam ocorrendo em razão de disputa de terras entre indígenas pertencentes a comunidades específicas e colonos, e não ao povo indígena em sua integralidade, opinião que está amparada pela liberdade de manifestação, assegurada no art. 5º, IV, da Constituição Federal. Ausente o elemento subjetivo do injusto, de ser reconhecida a ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei do Racismo, e absolvido o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP. (STJ, 2014, 03-04). (Destaques meus). O segundo caso emblemático que também tramita na justiça federal, envolveu a condenação do articulista advogado do jornal “O Progresso” 11, Isaac Duarte de Barros Júnior, por artigo escrito e publicado no dia 27 de dezembro de 2008, sob o título “índios e o retrocesso12”. Neste, o articulista correlaciona os indígenas a “bugrada, malandros e vadios”, algo usual e corriqueiro na região. “Afirmou, ainda, que os indígenas se assenhoram das terras como verdadeiros vândalos, cobrando nelas os pedágios e matando passantes” (JUSBRASIL, 2012, s/p). Além da condenação por dois anos de reclusão, o advogado responde por uma ação civil proposta pelo MPF, cujo pedido equivale à indenização por racismo contra os indígenas sul matogrossenses no valor que pode chegar a trinta milhões de reais. Este valor chegou a tais cifras face ao fato do jornal ter grande circulação estadual e, portanto, o cálculo foi feito com base em um salário mínimo por indígena. Essa ação cível estava suspensa, aguardando a decisão na ação criminal que houvera e convergiu para a condenação. O material documental relativo às travestis foi obtido através de trabalho de campo realizado ao longo de 2011, e combinado ao levantamento junto ao TJMS de demandas envolvendo-as, fossem elas criminais ou não. Aliás, como 11 Imprensa escrita com maior veiculação em Dourados e um dos maiores no Estado de MS. Correlação constante entre não indígenas ao se referirem aos indígenas na região, e que parto do pressuposto que a desvinculação de suas demandas da categoria nativa “raça” desmobiliza os movimentos indígenas de demandas voltadas a crimes de racismo. 12 6 adiante exporei, os conflitos nos quais as travestis são visíveis e nomeadas são todos na área penal, exemplificando a abjeção “exemplar” que sobre elas repousa. A palavra-chave digitada junto ao TJMS fora “travestis” para que tanto o termo no singular quanto no plural pudesse ser captado. No que diz respeito às questões éticas, alguns lembretes tornam-se indispensáveis para fundamentar a reprodução ou a publicidade dos (pre)nomes dos sujeitos envolvidos em cada um destes arquivos que enunciam conflitos – simbolicamente marcantes em nossa história oficial. Nomear é produzir memória a respeito dos fatos (e quiçá dos falos), sobretudo, quando em tela está a questão do racismo (NOGUEIRA, 2010), intrinsecamente ligada à discussão em solos brasileiros dos direitos humanos. Não, por um acaso, a lei de informações excepciona o consentimento das pessoas nomeadas em arquivos públicos, quando em jogo estão pesquisas voltadas aos direitos humanos. E então, seguindo os rastros de Primo Levi e das construções de Walter Benjamin sobre o narrador, a transmissão da experiência a partir de um dado sujeito localizado é produzir humanidade (idem). Finalmente, destacamos esclarecimentos quanto ao anonimato e seu anverso, isto é, a regra da publicidade dos nomes vigente no universo jurídico (não apenas). A título de reflexão cabe destacar que em Becker e Oliveira (2013) houve a explicitação das identidades dos sujeitos envolvidos nos conflitos judiciais e, em 2015 sofri ameaça por meio de correspondência eletrônica de um desses personagens, alegando que eu deveria ter solicitado o consentimento dele no que toca à explicitação dos nomes. Não o fiz, em síntese face aos seguintes elementos éticos e políticos, aqui compartilhados com as pessoas leitoras: 1. Trata-se de um documento público (acórdão judicial), cujo propósito fora o de desenvolver pesquisa relevante atinente às discussões de direitos humanos, tal como excepciona a lei de acesso às informações. No tocante aos indígenas agi justamente ao contrário para que as reiterações quanto a estigmas não se proliferem/proliferassem, como discuto em Becker e Marchetti (2013). 7 2. A regra junto às discussões jurídicas é a da publicidade sendo a exceção o “segredo de justiça”. Porém, quando se fala em publicidade se entende o uso das informações contidas nos documentos de maneira responsável, segundo critérios da área científica. 3. Como se tratam de julgamentos judiciais sem segredo de justiça, não há empecilho para o uso do conteúdo e dos (pre)nomes, e suas veiculações apresentam cunho político. 4. A lei de acesso a informações ressalta o uso dos nomes sem autorização por parte da pessoa mencionada, quando envolve questões relativas a direitos humanos, algo intrinsecamente ligado àquelas históricas discussões atinentes ao racismo e seus desdobramentos em solos brasileiros. 5. A não produção de nomeação é a não produção de memória e, então de registro histórico. A nomeação é, por sua vez, produção de memória e de registro histórico, tão importante nos contextos nefastos das práticas racistas. 6. A nomeação é muito mais do que o nome, pois é o entendimento do lugar de quem fala e do coletivo pelo qual fala, à medida que nunca falamos sozinhos. Neste sentido, cabem as ressalvas produzidas por e em Rosa Maria Bueno Fischer (2001, 207-208), quanto à necessidade de multiplicação do sujeito como fizera Foucault. No caso das travestis com quem interajo e os números alarmantes de transfeminicídios, muito bem pontuados por Berenice Bento em uma das edições da revista Cult (2015), a não fala atribuída a elas, e, por conseguinte, a própria não escuta, se resumem em solos brasileiros (e sul mato-grossenses) ao império da bala. Como ocorrera em Dourados, Mato Grosso do Sul, centrooeste brasileiro, com Érica, cujas descrições do transfeminicida circularam recheados de comentários preconceituosos em um dos sites de um dos jornais locais de circulação significativa. A manchete anuncia o sensacionalismo: “Bomba!!! Travesti é morta por cliente “enganado”, ouçam o áudio exclusivo!!!” (CIDADE DOURADOS, 2015). 8 II. Racismo de Estado e o sujeito real de direitos O que caracteriza o já citado “Racismo de Estado” foucaultiano? Grosso modo, o que em um de seus seminários de 1976, Michel Foucault denominará de racismo de Estado é o desdobramento moderno – das emergências e solidificações dos Estados Nacionais – do evolucionismo social em sua faceta perversa vinculada à sociedade disciplinar cada vez mais aparelhada. Para tanto, há que minimamente entendermos o que Foucault chamará de biopolítica e/ou biopoder, enquanto um dos sustentáculos fundacionais da sociedade disciplinar e da vigilância. Em “Vigiar e Punir”, Michel Foucault (2006) lançando mão de seu duplo método analítico, genealógico e arqueológico, retraça a história das prisões sem que essa se faça sob os moldes tradicionais do cientificismo histórico pautado, por exemplo, na linearidade temporal. Ao contrário, o que Foucault deseja é mostrar a partir de uma cronologia não linear e então descontínua, como a instituição das prisões emerge em meio à modernidade marcada pelo enaltecimento de uma sociedade disciplinar, cujos objetivos desvinculam-se daqueles que norteavam a sociedade do espetáculo e/ou da monarquia. Não esqueçamos que nessa, a sociedade do espetáculo, o rei centralizava em suas mãos absolutamente todos os mandos dos seus ditos e dos seus feitos. Aliás, onde as punições exemplares se faziam sobremaneira (repetições à parte) sobre os corpos mutilados. Retornando às costuras foucaultianas, de qualquer forma, tanto a biomedicina quanto as ciências jurídicas (FOUCAULT, 2003), ambas entendidas como uma longa manus do Estado disciplinar, tornam estes corpos atravessados por poderes que não são apenas negativos, à medida que o exercício dos poderes assume caráter de não repressão e/ou de não dominação, tal como outrora em meio às sociedades do espetáculo. Estamos, portanto, perante a legitimação dos saberes científicos, capazes de ofertar ao Estado (plural em sua presença cotidiana) o esquadrinhamento da população. Essa, por sua vez, se dá, por exemplo, com indicadores tão comuns na modernidade como as taxas de natalidade e de mortalidade. Não esqueçamos que quantificar e nomear os grupamentos sociais como “populações” torna 9 possível a intervenção do Estado, face à exclusão de dados sujeitos em relação a outros13. Quando na “pista para batalhar” estão as travestis, vê-se que a espetacularização ainda existe e persiste, em especial quando me deparo com os “transfeminicídios” (BENTO, 2015) também conhecidos como os assassinatos peculiares das travestis em Dourados/MS. A título de exemplo falarei do ocorrido com Érica, mas poderia ser sobre o de Marcela. Brutalmente assassinada na madrugada do dia 17 de julho de 2015, seu (“suposto”) homicida, preso em flagrante, Marlon Lucas Rocha Fialho de 22 anos, teve um vídeo com áudio gravado, no qual descreve como pre-meditou os disparos dos tiros contra as costas e depois contra a cabeça de Érica. Ao argumentar “ter sido enganado”, Marlon denomina Érica de “mulher de penca” ou, pressuponho, mulher com pênis. Percebam as pessoas leitoras14 que há a verbalização da travesti Érica ser uma mulher, muito embora com o predicativo “com penca”. Isto tudo, após Marlon ter desejado e beijado Érica, bem como após ter batido um “confere”. Trata-se de uma mulher, cuja materialidade do corpo porta pênis e não vagina (BECKER & LEMES, 2014), mas as travestis são mulheres, inclusive reconhecidas por seus clientes, como este. Nesse sentido, Berenice Bento diferencia o transfeminicídio do feminicídio ao estabelecer profícuas comparações. Em linhas gerais, os homicídios de travestis se dão em locais públicos, ermos e à noite; a forma virulenta e ritualizada como seus corpos são dizimados e mortos é muito simbólica, sendo suas identidades desrespeitadas midiaticamente para além “das famílias das pessoas trans raramente” (BENTO, 2015, 33) reclamarem os corpos, não existindo melancolia e nem luto. Finalmente, a ausência de judicialização torna-se uma constante. Aqui, o biopoder e a biopolítica se imiscuem com as disciplinas e vigilâncias perpetradas pelos tentáculos do Estado. Como antes frisado, os discursos da biomedicina, avalizados pelo do Direito (BECKER & ZAHRA, 13 Talvez por isto também a expressão povos indígenas e/ou sociedades indígenas é menos danosa do que “populações indígenas”. 14 Propositadamente utilizado para que o feminino englobe o masculino, algo inexistente na língua portuguesa – e em outros idiomas – “corretamente” (im)posta a nós, já que o masculino pressupõe e invisibiliza o feminino. 10 2014), produzem classificações patologizantes a partir do fenótipo que torna determinados corpos femininos mais permitidos ou normais que outros. Enfim, graças à estatística e à “qualificação de certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores” (FOUCAULT, 2010, 214) é possível percebermos que: Portanto, relação não militar, guerreira ou política, mas relação biológica. E, se esse mecanismo pode atuar é porque os inimigos que se trata de suprimir não são os adversários no sentido político do termo; são os perigos, externos ou internos, em relação à população e para a população. Em outras palavras, tirar a vida, o imperativo da morte, só é admissível, no sistema do biopoder, se tende não à vitória sobre os adversários políticos, mas à eliminação do perigo biológico e ao fortalecimento, diretamente ligado a essa eliminação, da própria espécie ou da raça. A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. (IDEM, 215). Retomo dados de meu trabalho (e diários) de campo. Em um dos casos de condenação por crime de racismo junto ao TJSP, o grupo denominado de “Whitepowersp” – poder do branco - apregoa via internet e via cartazes afixados em São Paulo capital, dentre outras mensagens que “hoje eles roubam sua vaga nas universidades públicas. Se você não agir agora quem garante que eles não roubarão vagas nos concursos públicos?” (TJSP, 2012, 449). Esse julgamento ilumina as práticas de racismo (de Estado) perpetradas quando no palco estão denúncias de (eventuais) práticas racistas contra negr@s. Por quê? Porque o crime de racismo previsto na Lei Caó (lei 7.716/1989) é classificado pela doutrina jurídica como “crime formal” que se diferencia daqueles ditos “crimes materiais”. Quais são as principais diferenças entre ambos? Nos crimes formais há a desnecessidade de uma materialidade nos resultados das pretensas ações desviantes, à medida que as palavras faladas que constituem um xingamento discriminatório para caracterizarem o delito, não precisam ter ofendido o destinatário, bastando que os insultos sejam enunciados. Ao contrário, nos crimes materiais há necessidade deste resultado, tal como o exemplo clássico do homicídio para o qual somente existe se houver um corpo sem vida/morto. No caso envolvendo o grupo “White Power”, a comprovação tornou-se indiscutível porque os xingamentos estavam grafados e postos em cartazes para além de eventuais testemunhas que pudessem ter existido. 11 Onde reside o racismo de Estado? No fato do Judiciário exigir para além das palavras ofensivas e comprovadamente ditas, uma intencionalidade por parte de quem as falou já existente quando alguém insulta um negr@ como sendo suj@ ou vagabund@. Não há que se perquirir se ao xingar houve a “intenção” de ofender o outro da forma como se rastreia atualmente nos julgamentos. Senão, vejamos. Das três absolvições no TJSP e das duas no TJMS tal argumento se (re)produz, fazendo com que a lei Caó se torne um objeto histórico de análise discursiva, e não uma legislação com vigência e aplicabilidade na atualidade. No processo sob o nº 2005.0180578∕000000, Áurea foi condenada por ter injuriado ou xingado pelo teor racial Maria Jeni, em Ribas do Rio Pardo/MS15. Não contente com a sua condenação pela sentença de 2 anos de reclusão e 53 dias de multa que recebeu, pede absolvição por ausência de dolo (ou intenção), alçando desqualificação de injúria pelo teor racial para a injúria simples. Portanto, dou provimento parcial ao recurso para desclassificar o crime de injúria qualificada para o crime de injúria simples, previsto no art. 140, caput, do Código Penal e, em conseqüência, valendome das circunstâncias do art. 59 constantes da sentença, aplico a pena de 3 meses de detenção e 10 dias multa, equivalente a 1∕30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (TJMS, 2015, 03) . Na fase de investigação policial, consta que a Maria Jeni estava conversando com duas amigas, em frente à loja da Av. Aureliano Mora Brandão. Era aproximadamente 10:30 horas da manhã, quando Maria percebeu um veículo que conduzido em marcha lenta, portava Áurea, a acusada. Em seguida, a acusada teria colocado a cabeça para fora do veículo e ofendido a vítima. As ofensas eram segundo o documento palavras que denegriram e injuriaram a querelante, tais como “o preta sem nome...(..) vem aqui, vou te pegar, vou te bater (...); vou te bater sua negra safada”. (TJMS 2015, 02-04). 15 Em 2014 o IBGE estima que há aproximados 23.000 mil habitantes, ficando 92 km de Campo Grande. 12 Se o primeiro juiz a julgar a causa em Ribas do Rio Pardo, cidade de pequeno porte, onde todos se conhecem, acreditava ter havido injúria em razão da condição de negra da vítima, Maria Jeni, na decisão do TJMS o cenário modificou. Acompanhemos: “(...) Então, havia divergências entre as partes, por problemas políticos, incluindo-se outras ocorrências anteriores. Por isso, não se vislumbra na atitude da querelada o dolo de injuriar a querelante por esta ser negra, na acepção da palavra, mas, apenas a vontade de injuriá-la, independente de esta ser da raça negra. Se ela fosse branca, a vitima, poderia dizer, “venha cá sua nega safada”, não constituindo injúria qualificada pela etnia, porque ela seria branca. As palavras ditas ofensivas mais se pareceram com uma ameaça do que propriamente dito uma injúria: “sua preta sem nome vem aqui que eu vou te bater”. Todavia, a vista de melhores elementos, opta-se pelo ânimo de injuriar, mas sem a conotação qualificada da etnia (...)” (IDEM, 02-03) Com requintes de “racismo de Estado”, o TJMS por meio de seu representante escreve que apesar de Áurea ter dito “venha cá sua nega safada”, sua intenção não foi de ter dito “nega”, mas apenas “safada”. E mais: poderia ter dito isto para uma branca, apesar de ela não ser negra. Não há, a meu ver, como entender logicamente este julgamento, exceto pela reiteração de uma arrogância do discurso do Direito (BECKER; SOUZA et OLIVEIRA, 2013), atrelada ao fato de em meio a esta arrogância, as ciências jurídicas relutarem para estabelecer diálogo com outras áreas. Se neste caso houve a “desclassificação” do crime de injúria qualificada pelo teor racial para o de simples injúria, no TJSP os casos de não condenação pela lei Caó se pautam sobremaneira no entendimento de que o racismo se caracteriza quando se ofende a honra coletiva e não apenas subjetiva da vítima. E também pela ausência da intenção de ofender @ outr@ de negr@ quando se xinga de negr@. Dentre as absolvições, resgatamos o conflito ocorrido em Ribeirão Preto envolvendo o jornalista e radialista Herbis e Rubens, funcionário da prefeitura (processo nº 0125373-37.2006.8.26.0000). No caso destes autos, a denúncia imputou ao apelado grave acusação de racismo tipificado no artigo 20, § 2.º, da Lei 7.716/89 e veio vazada nos seguintes termos: “... em programa de rádio transmitido no período da manhã do dia 19 de novembro de 2003 pela Radio 79, instalada neste Município e Comarca, o jornalista HERBIS GONÇALVES, qualificado a fls. 32, conhecido nos meios radiofônicos pelo apelido de 'CURIÓ, ao referir-se ao Sr. José Rubens da Silva, pessoa pública por ser à época assessor de 13 imprensa da Prefeitura desta cidade, que é da raça negra e cujo fato era de seu perfeito conhecimento porque o conhecia pessoalmente, afirmou que 'tinha que mandar esse cara expulsar esse nego daí, ta ganhando dinheiro do povo e mentindo pro povo' (...) essa forma, o denunciado ao ofender José Rubens da Silva, referindo-se de forma preconceituosa à sua pessoa, praticou e incitou a discriminação e o preconceito de raça e cor, o fazendo através de meio de comunicação radiofônica” ('sic' fl. 02). O desembargador do TJSP, Antonio Luiz Pires Neto ao descaracterizar a existência de racismo – crime grave segundo suas palavras - faz remissão à decisão produzida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ao julgar questão envolvendo jornalista discriminando supostamente indígenas, deixa claro que há necessidade da existência do “dolo específico”, ou seja, da intenção comprovada de que se desejou efetivamente xingar o outro pela condição da etnia ou da raça. Brincadeiras a parte, o crime de racismo no Brasil é tão grave que nem existe na concretude dos julgamentos. Observemos: O dolo, consistente na intenção de menosprezar ou discriminar a raça indígena como um todo, não se mostra configurado na hipótese, sequer eventualmente, na medida em que o conteúdo das manifestações do recorrente em programa televisivo revelam em verdade simples exteriorização da sua opinião acerca de conflitos que estavam ocorrendo em razão de disputa de terras entre indígenas pertencentes a comunidades específicas e colonos, e não ao povo indígena em sua integralidade, opinião que está amparada pela liberdade de manifestação, assegurada no art. 5º, IV, da Constituição Federal. 7. Ausente o elemento subjetivo do injusto, de ser reconhecida a ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei do Racismo, e absolvido o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP (TJSP, 2012B, 05). O aparente (sur)realismo desta decisão e de todas as outras reside também o descolamento da honra coletiva da subjetiva, como se isto fosse possível, à medida que ao se insultar um dado sujeito pela cor da pele se está insultando o grupo ao qual ele pertence (BECKER e OLIVEIRA, 2013). Mas mais do que isto, o racismo de Estado e a perversidade destes representantes estatais está no fato de desconsiderar a cor da pele negra como um evento historicamente capaz de engendrar discriminação em solos brasileiros. Nessa perspectiva, Roger Raupp Rios (2015) sublinha amparado em Foucault, o quanto os fenótipos raciais e sexuais possibilitam esta hierarquização, o mesmo não se estendendo para o fato de alguém do sexo masculino ser calvo. Às vezes, brinco com meus alunos dizendo que a Constituição não proíbe a discriminação por calvície. Evidentemente, ninguém se pergunta se os calvos podem ser discriminados juridicamente, porque na Constituição isso 14 não está escrito, o que revela que a questão é outra. (...). A discriminação por motivo de orientação sexual pode ser entendida logicamente como uma espécie de discriminação por motivo de sexo. Por quê? Caso João se relacione com Maria, será tratado de uma forma; caso se relacione com José, será tratado de forma diferente. Nesse exemplo, fica evidente que o sexo da pessoa com quem João se relaciona é que determinará o tratamento por ele recebido (IDEM, 162). Perceba a pessoa leitora deste artigo que não é descabido prever que a caracterização do feminicídio constante na lei 13.104 de 2015, a partir da qual há a alteração do artigo 121 (matar algúem) do homicídio no Código Penal, tornar-se-á difícil em solos brasileiros, se compararmos ao que ocorre com o racismo. Isto porque, com a inserção da qualificadora do assassinato de uma mulher por desfrutar desta condição posta no fenótipo do sexo, fico a pensar sobre futuras discussões acadêmicas nascidas sobre a não admissão por parte dos operadores do direito quanto a esta questão. Tal exercício me foi compartilhado pela antropóloga Greciane Martins de Oliveira ao narrar o receio de uma de suas amigas graduanda no curso de Direito, feminista, e bacharel em ciências sociais. Desses casos para o de “Careca” – Paulo Sérgio, conhecido exterminador de travestis em solos douradenses. Em um de seus julgamentos, os desembargadores informam que ele se sentia no direito de mata-las face ao ódio que delas nutria. E mais: seu intento era declaradamente o de limpar a cidade, em ato de higienização. No tocante às travestis, a coragem delas de se apresentarem como sujeitos que (su)portam em seus corpos a ambiguidade full time do masculino e do feminino, as colocam fora das relações de demandas junto ao Estado, pautadas no binarismo do ser homem ou do ser mulher e não do ser homem e/ou ser mulher. Das premissas foucaultianas passo àquela enaltecida por Paul Ricoeur (2008), a partir da qual os sujeitos capazes de acessar direitos são aqueles que não rimam com os processos de estigmatizações. Isto é, são aqueles que acessam os direitos na área cível e não (apenas) na área criminal (BECKER e LEMES, 2014). Para Wiliam Siqueira Peres (2009, 235) a estigmatização é sinônimo de abjeção nos termos butlerianos. III. A abjeção 15 O que seria a abjeção, enquanto sinônimo de inumanidade? A abjeção na entrevista cedida por Judith Butler à Baukje Prins e Irene Costera Meijer, em 2002, suscita reflexões importantes. Em um primeiro momento, as entrevistadoras tocam na felicidade do trocadilho usado por Butler em seu livro “Bodies that matter”, em especial porque ao se materializarem, os corpos tornam-se inteligíveis, compreensíveis e/ou nomeáveis. “Corpos que não importam são corpos abjetos” (PRINS & MEIJER, 2002, 160), podendo, quiçá estreitar correlações com a noção de “objetos dejetos” da psicanálise ou com a de “fantasmas” articulada por Butler recentemente em conferência no Brasil. Na sequência, ambas as entrevistadoras questionam Butler, se não seria o caso de ela tratar os corpos abjetos como aqueles que apresentam importância ontológica e epistemológica, mas não em termos políticos e normativos. Ou em suas palavras: Se você quer que o conceito de abjeto se refira a corpos que existem, não seria mais adequado dizer que, embora corpos abjetos sejam construídos, tenham se materializado e adquirido inteligibilidade, ainda assim não conseguem ser qualificados como totalmente humanos? (IDEM, 160). Em sua resposta em forma de questionamento, Judith Butler complementa: “como é que o domínio da ontologia, ele próprio, está delimitado pelo poder? Como é que alguns tipos de sujeitos reivindicam ontologia, como é que eles contam ou se qualificam como reais?” (IBIDEM). Posta, enfim, está em suspeição a própria ontologia que em sua origem já está corrompida, ou contornada pelas relações de poder que engendram hierarquia e subordinação. Não por acaso, nesta mesma entrevista, Judith Butler recusa-se a dar exemplos sobre quais seriam estes corpos abjetos. Para não dar um tiro no próprio pé, evita de categorizá-los, muito embora aqui, eu, não me furte de cair nesta armadilha, a fim de dar visibilidade às práticas de racismos de Estado perpetradas contra vidas mais precárias que outras, como das travestis. Dizer que há corpos abjetos é a partir do discurso instituir que eles existem, invertendo a lógica ontológica. Sob este prisma, as entrevistadoras reforçam que a noção de abjeto ainda assim se torna difícil de ser apreendida, face à abstração das definições de Butler, ou quiçá face à ausência de exemplos que a tornem apre(e)ndida. Para tanto, essa assim responde, num 16 sentido que me parece foucaultiano de ser, em suas preocupações das relações de forças instituídas pelas circulações de poderes que, historicamente, os saberes (“científicos”) produzem e são produzidos, bem como, graças às quais tais discursos reguladores ditam “verdades”. Acompanhemos: Bem, sim, certamente. Pois, como se sabe, as tipologias são exatamente o modo pelo qual a abjeção é conferida: considere-se o lugar da tipologia dentro da patologização psiquiátrica. Entretanto, prevenindo qualquer mal-entendido antecipado: o abjeto para mim não se restringe de modo algum a sexo e heteronormatividade. Relaciona-se a todo o tipo de corpos cujas vidas não são consideradas “vidas” e cuja materialidade é entendida como “não importante”. (...) a imprensa dos Estados Unidos regularmente apresenta as vidas dos não-ocidentais nesses termos. O empobrecimento é outro candidato freqüente, como o é o território daqueles identificados como “casos” psiquiátricos (BUTLER, PRINS & MEIJER, 2002, 161 -162). Com relação ao recorte de classe social destacado por Butler, é importante frisar, por exemplo, o caso recente do ataque que levou à morte cartunistas do jornal ou “hebdo” parisiense Charlie. Em recente artigo, o sociólogo Ruy Braga analisa de maneira contundente e importante o quanto tal tragédia, quiçá vincule-se ao movimento moderno e global do capitalismo, em especial, àquele pautado nas ações de exclusões racistas de imigrantes por parte de outros operários não imigrantes no contexto, por exemplo, das indústrias francesas: Após a reestruturação produtiva dos anos 90, contudo, a realidade fabril mudou sensivelmente. Uma rede de empresas subcontratadas formou-se como resultado das estratégias gerenciais de terceirização implantadas pela Peugeot. A rotatividade aumentou, a competição no interior do grupo fabril tornou-se a regra, os salários caíram, as carreiras foram simplificadas, o sindicato passou a ser hostilizado pelas gerências e o sistema fordista de solidariedade fabril colapsou finalmente. Os filhos dos operários imigrantes foram acantonados nos postos mais degradados sem a mínima chance de progredirem em termos ocupacionais (BRAGA, 2015, 33). Mas mais do que serem acantonados, passaram a ser objeto de deboches e de estigmatizações no sentido per-verso do termo, se é que existe outro que não esse. Em solos sul mato-grossenses (brasileiros), a situação dos Kaiowá e dos Guarani coincide com tal perversidade. Tanto que dos dois casos até então por mim rastreados, em ambos, os indígenas ao serem nomeados de 17 predicativos pejorativos não sofrem racismo na interpretação dos operadores do direito, pois se trata de liberdade de expressão (de imprensa). (BECKER, 2014). Retomando Butler, a única ressalva que eu faria quanto à abjeção, muito embora eu tenha sido capturada pelo que ressalvo, é que Butler evita de nomear quem são ou não os corpos abjetos, sobretudo, para colocar sob os holofotes o processo de categorização/classificação que os discursos reguladores naturalizam (BUTLER, PRINS & MEIJER, 2002, 161 -62). Para encerrar o “passo a passo” destinado às tessituras que costurei entre inumanos e corpos abjetos, cabe destacar que tomo as “aparecências” (MALUF, 2002) dos corpos travestis como de “não importância” para os discursos jurídicos. E mais: dizer que não tem importância é rastrear se são ou não inteligíveis (visíveis) e nomeados neste contexto. Em caso afirmativo, não basta serem dizíveis para que suas existências signifiquem vidas vivíveis ou viáveis. Como dissequei em recente artigo (BECKER e LEMES, 2014), as visibilidades das travestis se dão no contexto criminal, e se tornam alvo de algum destaque não estigmatizante somente depois de suas mortes sociais coincidirem com as físicas. Feitas estas considerações sobre a abjeção, sublinho que o que liga as ideias butlerianas àquelas foucaultianas nas obras por mim rastreadas ao discutir racismo, são os impactos do holocausto. Michel Foucault em seus seminários de 1976, a partir dos quais como antes ilustrei, costura as noções de racismo de Estado. Butler pela sua condição de judia, reforçada na vinda recente ao Brasil e em suas obras costurando gênero à raça e etnia, enfatiza o quanto há uma produção de corpos sem importância ao analisar impactos de pós-guerra contra sociedades não ocidentais. Enfim, em seus dizeres: A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo modo a “especificidade” do feminino é mais uma vez totalmente descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição de classe, raça, etnia e outros eixos de relações de poder, os quais tanto constituem a “identidade” como tornam equívoca a noção singular de identidade. (BUTLER, 2003, 21). (Destaques meus). 18 Este binarismo marca para a filósofa a instância da própria produção de corpos humanos, cravados no ser homem ou no ser mulher, cuja “ontologia” excluiria àquelas existências vivas, mas inviáveis das travestis. Haverá humanos que não tenham um gênero desde sempre? A marca do gênero parece “qualificar” os corpos como corpos humanos; o bebê se humaniza no momento em que a pergunta “menino ou menina”? é respondida. As imagens corporais que não se encaixam em nenhum desses gêneros ficam fora do humano, constituem a rigor o domínio do desumanizado e do abjeto, em contraposição ao qual o próprio humano se estabelece. (BUTLER, 2003, 162). Aliás, sobretudo em marcos de guerra (BUTLER, 2010), onde me parece suas ideias dialogam mais com aquelas de Todorov. Nessa obra, ela se debruçará sobre as análises que os discursos norte-americanos estatais (re)produzem a partir dos eventos de guerra por eles desencadeados. Dentre eles aqueles sujeitos abjetos e inumanos de Guantánamo. Algo por ela explorado na conferência publicada sob o título de “violencia de Estado, guerra, resistência. Por una nueva política de la izquierda”. Nesse sentido, em artigo sobre o “Limbo de Guantánamo” a mesma afirma que: A questão de saber quem merece ser tratado humanamente pressupõe que tenhamos primeiro estabelecido quem pode e quem não pode ser considerado humano. E é aqui que o debate sobre a civilização ocidental e o Islã não é apenas um debate acadêmico, uma espúria persistência no orientalismo por parte de teóricos como Bernard Lewis e Samuel Huntington, muito embora eles efetivamente ilustrem como noções de civilização produzem a diferencialidade humana. Até que ponto o Estado-nação pode fundamentar nossas noções sobre o que é “humano”? E a Convenção de Genebra não codificaria essa perspectiva de que os humanos, tais como os reconhecemos e respeitamos nos termos da lei, pertencem primordialmente a Estados-nação? A questão não é apenas que alguns humanos sejam tratados como humanos e outros sejam desumanizados; antes, é que essa desumanização — tratar alguns humanos como seres à margem do escopo da lei — se torna uma das táticas pelas quais uma civilização “ocidental” supostamente distinta busca se definir em relação e por oposição a uma população compreendida, por definição, como ilegítima (2007, 230-231). (Destaques meus). IV. A experiência da pobreza do/no holocausto (ou a pobreza das memórias das experiências na modernidade?) A desumanização rima até aqui com a despersonalização, aquela preconizada por Tzvetan Todorov. Senão, vejamos, tentando correlacionar os campos de concentrações que caracterizaram o holocausto, com aqueles 19 tantos mundo afora que replicam o que Foucault chama(ria) de racismos de Estado. Para Todorov, ao analisar os processos de despersonalização das vítimas do holocausto, algumas são as estratégias empreendidas pelo sistema, a saber: ser privado do direito à articulação exteriorizada das palavras e, antes da morte física há o processo de morte social atravessado tanto pelos corpos despidos quanto pela privação da alimentação. (...) as vestes são uma marca de humanidade. Ocorre o mesmo com a obrigação de viver em meio a seus excrementos; ou com o regime de subnutrição vigente nos campos, que obriga os detentos a estar constantemente à procura de alimento e prontos a devorar qualquer coisa que seja (TODOROV, 1995, 199). Em um dos dossiês da revista Cult, Antonio Teixeira (2015), a partir de uma das experiências de Primo Levi nos campos de concentração de Auschwitz, sinaliza em analogia ao “a recordação da casa dos mortos” de Dostoievski, que mais degradante que sofrer as torturas corporais era tanto ser alvo das restrições de movimentos quanto (e, sobretudo) se sujeitar ao “se extenuar num trabalho sem porquê” (IDEM, 32). Em síntese, a ausência dos porquês, o ato de alguém nos calar, retira-nos daquele lócus capaz de nos humanizar: o da Simbolização (aqui grafado com S maiúsculo). O fato de não termos como transmitir, por exemplo, o que se torna da ordem do inenarrável/indizível, nos retira a capacidade desta humanização presente no resgate das nossas memórias imersas no que nos capacita enquanto humanos. Inspirada nas leituras incipientes e encantadoras da minha parte, no grupo de estudos Ágora, em e de Dourados/MS, sugiro pensarmos na ordem do Simbólico grafada com S maiúsculo, para uma dada antropologia estrutural levistraussiana. Ele, o “S” contendo e sendo contido quiçá pelo simbólico com “s” minúsculo e pelo imaginário. Se esse, aos moldes lacanianos, retrata as significações por nós utilizadas dentro de nossos processos de subjetivações, o simbólico com s minúsculo constitui-se pelos significantes também atados às e atadores das nossas subjetivações (LACAN, 1956, 78). Abro parêntese para destacar que meus interesses de aprofundamento dos diálogos entre psicanálise e antropologia, se fazem presentes, em especial, nas costuras entre Claude Lévi-Strauss e Jacques Lacan, tendo como fio condutor a discussão de racismo, após a segunda grande guerra. A despeito da 20 vinculação irrestrita da raça ao racismo nos períodos antes sinalizados, considerando a produção por Lévi-Strauss, e à sua colagem a algo que está na ordem do biológico/fenótipo, parece-me que a apropriação pelos movimentos sociais brasileiros negros da categoria “raça” pode - não em termos de causalidade – (re)criar as demandas destes sujeitos junto ao Judiciário, quando os mesmos sofrem preconceito ou discriminação pela sua “raça ou cor”. O mesmo raciocínio não estendo aos indígenas, já que a categoria “etnia” apesar de deter potencial político, quiçá da forma como é e foi engendrada e/ou articulada pelo discurso antropológico brasileiro, desmobilize politicamente eventuais demandas, envolvendo pretensos crimes de racismo contra mulheres e/ou homens indígenas. Sabedora de que a vinda para o Brasil de Claude Lévi-Strauss - entre as duas grandes guerras, influenciou decisivamente a emergência das ciências sociais e da antropologia na USP, meu recorte analítico dos discursos antropológicos sobre etnologia indígena e etnicidade se dá após a passagem de Lévi-Strauss em solos brasileiros, com ênfase no pós década de 1950. Considero este marcador temporal como uma forma de precisar com mais clareza os resultados dessa antes citada missão de Lévi-Strauss ao Brasil, inclusive da emergência das discussões étnicas na antropologia nacional, relegando ao segundo plano a categoria raça. Tal destaque, os diálogos entre Lévi-Staruss e Lacan, se faz imprescindível e o faço incitada por algumas ações ou incita-ações. São elas: (1). Se, por um lado, Claude Lévi-Strauss é convidado juntamente com outros cientistas de diferentes áreas pela UNESCO/ONU (LÉVI-STRAUSS, 1960), para descontruir o termo raça como adstrito ao inato; Jacques Lacan dedica-se em seus seminários à desvinculação da nossa formação psíquica daquela à qual a psicogênese ainda se dedica e é aplaudida porque ainda inspira comfiança. No final da década de 1960, Lacan dedica-se à análise da ascensão do racismo e do retorno dos fundamentalismos religiosos (LAURENT, 2015). (2). Os ditames estruturalistas que ambos “fundam” ligam-se umbilicalmente à linguística (saussuriana), (3). Quiçá o acento emprestado pelas obras levistraussiana e lacaniana à estrutura da fala/da palavra/do discurso como ponto nodal e, então, talvez um consenso entre os dois teóricos de que fides é 21 a dádiva maussiana em forma de falação. Isto porque, fides é “a unidade da palavra falada, enquanto fundadora da posição dos dois sujeitos (...) aí está manifestada” (LACAN, 1956, 47-48). E eu ousaria complementar (5) que para Lévi-Strauss é através da teoria da aliança que se estrutura o mínimo relacional e criador do que é o social – o inexorável tabu do incesto como universal e estruturador do social. E, se eu ao ler, como estou a ler, o pouco do que leio de Lacan, percebo que para ele, a bala fala onde a fala cala. Isso me remete à guerra levistraussiana. O anverso da aliança, da troca ou dádiva maussiana. Eis o que Walter Benjamin (1987) em “experiência e pobreza” nos faz pensar, não apenas tomando como ilustração o próprio desencadear da primeira grande guerra, mas os resultados do exitoso projeto da revolução industrial que se fizeram presentes no holocausto e em atuais fenômenos sociais. (...) está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso numa geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho como parece. Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos dez anos seguintes não continham experiências transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho. Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. (...). Podemos agora tomar distância para avaliar o conjunto. Ficamos pobres. (BENJAMIN, 1987, 114-115; 119). Contemporaneamente, dar a escuta a sujeitos como as travestis que são tidas como “sem vozes” ou seus interlocutores como “sem escuta”, constitui-se como uma das mais importantes desnaturalizações que as ciências humanas e sociais alavanca frente às patologizações do ser travesti e transexual, por exemplo, pelos discursos biomédicos. Se a citação abaixo se refere aos relatos (analíticos) de um sobrevivente da ditadura nacional militar, parece-me que os redutos totalitários, infelizmente, ainda permanecem entre nós quando em cena estão existências consideradas como inumanas ou fantasmas. Acompanhemos a remissão longa, mas imprescindível: Produzir testemunhos sobre fatos traumáticos é tentar dar conta de um novo lugar – que o sujeito pode ocupar no que fora antes o reino do inumano, da dor e do sofrimento sem fim... “Aqui não tem Deus, Papa, Arcebispo, nem Presidente! Cê está nas minhas mãos”! Ouvi isso de um torturador quando estava atado à cadeira do 22 dragão, preso na OBAN em São Paulo em março de 1974, quando fui conduzido do Quartel do 12º Regimento de Infantaria em Belo Horizonte, para aquele local de horror. Eu havia sido sequestrado em 4 de janeiro daquele ano, quando estava em Itaúna, MG, e levado para o DOPS, depois para um local clandestino, a seguir para um quartel em Juiz de Fora, o RO – Regimento de Obuses, e depois levado de volta a Belo Horizonte. Em todos esses locais fui submetido a torturas. Dizer o indizível desses sofrimentos num lugar possível foi o que me levou à análise para distinguir um quê de singular que pudesse me localizar nesse universal do trauma político de uma geração de militantes por uma causa ideal: o socialismo. (...). Seguimos o que propõe Éric Laurent na apreensão de que o trauma é mais um processo que um acontecimento e acompanha para sempre o sujeito – sendo o trauma um furo no interior do simbólico. (PIMENTA FILHO, 2015, 49). (Destaques meus). O negar da escuta e não apenas da voz se refere tanto à Érica como também às pessoas indígenas16 sul mato-grossenses. V. Considerações finais... Como forma de fixar e de colocar os três pontos das reticências de mais um ensaio, compartilho o que reputo como os recheios constitutivos da categoria dos inumanos ou da inumanidade. Ao menos do que sugeri ao longo do acima posto no texto. De Judith Butler (re)tenho que o inumano rima com abjeção ou com corpos abjetos, cujos pressupostos dialogam com aqueles propalados pelos interacionistas simbólicos via conceitos do estigma e/ou do desvio. E mais: em uma de suas obras, a filósofa enaltece que a condição de humanidade caminha de mãos dadas com o ser humano instituído a partir dos binarismos de gênero. Do estruturalismo levistraussiano, talvez caiba o estreitamento com o estruturalismo lacaniano, especialmente nas produções de ambos sobre o racismo. Por detrás da máquina de produção da normalidade versus do patológico, residem os tentáculos da biopolítica que através de seus dados quantitativos anunciam a possibilidade de quem vive e de quem morre. A partir dos quais os verbos constantes nas ações do deixar e do fazer apresentam outra conotação na modernidade, pois aquele Estado que é quem é o Para embaralhar as questões de gênero aqui assumo o que reputo “mais coerente” para as discussões por mim suscitadas. As indígenas referem-se tanto à supremacia do feminino englobando o masculino, quanto às pessoas indígenas para os que se apegam à “correta grafia do português”, como já expus antes, mas nunca é demais repetirmos, uma vez que nos (re)produzimos a partir da repetição. 16 23 responsável pela nossa gestação e pelo nosso parto (BECKER, 2008), condiciona a nossa viabilidade existencial humana. Eis os racismos de Estado como sendo ou estando articulados com a própria produção dos corpos humanos e, então dos inumanos. Em minha comparativamente tese de discursos doutoramento, documentais em meio processuais a qual do analiso Judiciário catarinense, a fim de compreender como se produzem as provas e, então as verdade(s) nesse contexto estratégico de (re)produção de poderes e de saberes sobre nós sujeitos (assujeitados), debruço-me sobre os ensinamentos foucaultianos deste Estado Moderno: Nossa (ilusória) liberdade limita-se à gestação (também alvo de controle pelo Estado), ainda restrita à condição de ser mulher, mas não necessariamente de vir a ser mãe ou de nessa condição se manter. Admito sem quaisquer pesares, que essa formulação Michel Foucault (1999a) elaborou de maneira magistral no seminário “Em defesa da sociedade”. Quanto mais o Estado se estrutura na condição de Moderno, mais ele passa a ingerir em nossas vidas, a ponto de nos “fazer viver” e nos “deixar morrer”, isto é, invertendo a fórmula das relações de poder anteriores ao século XIX, cujo slogan era “deixar viver” e “fazer morrer” (BECKER, 2008, 151). Portanto, o observado em épocas históricas extremas como a do holocausto e a da ditadura militar brasileira, não se configura como exclusivo destes momentos, mas passíveis de existência (estrutural) do nosso atual social. Basta que circulemos pelos re-dutos onde as travestis “batalham”, pelas “batalhas” nas quais os indígenas estão confinados na Reserva Indígena de Dourados (RID), ou por outros eventos como os desportivos do futebol de campo. Esses, talvez se caracterizem como lócus privilegiado para que percebamos a produção dos discursos discriminatórios como não sendo racistas, por mais ofensivos que soem ou encaixando-se como uma luva nas legislações de combate ao racismo. Ando devagar. Multiplicam-se os exemplos, inclusive implicando a discussão de gênero, como a da moça que fora execrada em rede nacional quando do evento envolvendo os xingamentos contra o goleiro (então santista) Aranha. Aliás, como se ela estivesse sozinha em meio à multidão de torcedores naquela oportunidade (agosto de 2014), em jogo envolvendo os times do Grêmio e Santos, cuja súmula ou documento no qual o árbitro relata eventos ocorridos na partida, o daquela nada consignou dos xingamentos de macaco desferidos 24 contra o jogador negro. Infelizmente, os exemplos se multiplicam (ESPN, 2015; 2015b; 2015c) e nada ou quase nada é feito contra, que não o movimento de ignorá-los ao se inscrever nas sentenças judiciais que ao dizer “negra” , a ré no processo de Ribas do Rio Pardo, cidade com 21.000 habitantes não quis dizer a cor negra ao se referir à mulher a quem insultou como “sua preta sem nome vem aqui que eu vou te bater” (TJMS, 2015, 03). Referências Bibliográficas BECKER, Howard S., (2008). Outsiders: Estudos de Sociologia do Desvio. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor. BECKER, Simone. (2008). DORMIENTIBUS NON SOCURRIT JUS! (O DIREITO NÃO SOCORRE OS QUE DORMEM): um olhar antropológico sobre rituais processuais judiciais (envolvendo o pátrio poder/poder familiar) e a produção de suas verdades. Tese de doutorado. Centro de Filosofia e Ciências Humanas - Programa de Pós Graduação em Antropologia Social. Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina. BECKER, Simone, (2011), “ENTRE A HISTÓRIA E O DIREITO, ENTRE HUMANOS E INUMANOS: O QUE É QUE O DISCURSO JURÍDICO TEM QUE SÓ ELE DETÉM....” Revista Brasileira de História das Religiões. , v.1, p.123 151. BECKER, Simone (2014), “Negr@, suj@, vagabund@, macac@”, “índi@ malandr@ e vadi@”: análises das di(a)ssociações na Antropologia Brasileira entre “raça” e/ou “etnia”, e de crimes de racismo contra indígenas e negr@s no Judiciário brasileiro. Projeto de pesquisa coordenado pela autora e agraciado com bolsa de produtividade vigente desde março de 2015. Mímeo. BECKER, Simone, (2015), “Entre humanos e inumanos”. In: Anais do II congresso internacional desfazendo gênero. Disponível em: www.desfazendogenero.ufba.br. BECKER, Simone; SOUZA, Olivia Carla Neves de; OLIVEIRA, Jorge Eremites de. (2013), “A prevalência da lógica integracionista: negações à perícia antropológica em processos criminais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul”. Etnográfica [online], n. 01, v. 17, p. 97-120, fev./2013. Disponível em: <http://etnografica.revues.org/2580>. Acesso em 20 jun. 2013. BECKER, Simone; OLIVEIRA, Déborah G. (2013), “Análise sobre a (não) caracterização do crime de racismo no Tribunal de Justiça de São Paulo”. In: Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 26, pp. 451-470, jul./dez. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewFile/9187/15723>. Acesso em: 10 mar. 2014. BECKER, Simone; LEMES, Hisadora B. G. (2014), “Vidas vivas inviáveis: etnografia sobre os homicídios de travestis no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul”. Revista Ártemis, vol XVIII, n.1; ju-dez, pp.184-198. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/artemis/article/view/22545. Acesso em: dez. 2014. BECKER, Simone; MARCHETTI, Lívia E (2013), “Análise etnográfica e discursiva das relações entre Estado e Mulheres indígenas encarceradas no estado de Mato Grosso do Sul”. Revista de Ciências HUMANAS, vol.47, n.01, 25 abril 2013. Florianópolis: Editora UFSC, pp.81-99. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/viewFile/21784582.2013v47n1p81/26178. Acesso em: dez2013. BECKER, Simone; ZAHRA, Vivian (2014), “As representações das(os) transexuais nas aldeias arquivos do TJRS: o Poder da nomeação, eis a grande questão”. Revista Pensata, v.4, n., dez 2014. São Paulo: Unifesp. Disponível em: http://www2.unifesp.br/revistas/pensata/wp-content/uploads/2011/03/06Dossi%C3%AA31.pdf. Acesso em: dez2014. BENJAMIN, Walter (1987), Experiência e pobreza. In: Obras escolhidas, volume 1. São Paulo: Editora Brasiliense. BENTO, Berenice (2015), Verônica Bolina e o transfeminicídio no Brasil”. In: REVISTA CULT, n.202, Jun., ano 18. São Paulo: Editora Bregantini, pp.30-34. BRAGA, Ruy (2015). “Sociologia pública. Je suis YOUNES AMRANI”. In: REVISTA SOCIOLOGIA, edição 57. São Paulo: EBR, pp.31-34. BUTLER, Judith; PRINS, Baukje & MEIJER, Irene Costere (2002), Entrevista com Judith Butler – Como os corpos se tornam matéria. Revista de Estudos Feministas, vol. 10, n.1. Florianópolis: UFSC, pp.155-167. BUTLER, Judith. (2003), Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 1ª edição. Rio de Janeiro: Civilização. _________________________________(2007), O limbo de Guantánamo. Novos estud. - CEBRAP, São Paulo , n. 77, p. 223-231, mar. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133002007000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 26 abr. 2015. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002007000100011. ____________________________ (2010), Marcos de Guerra: las vidas lloradas. Buenos Aires: Paidós. CIDADE DE DOURADOS (2015), DISPONÍVEL EM: http://www.cidadedourados.com.br/bomba-travesti-e-morto-por-clienteenganado-oucam-o-audio-exclusivo/. Acesso em: jul.2015. CID FERNADES, Ricardo. (2005), “Notícia sobre os processos de retomada de Terras Indígenas Kaingang em Santa Catarina”. In: Revista Campos. Curitiba: UFPR. Disponível em: ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/campos/article/download/.../1352. Acesso em: julho de 2012, pp. 195-202. CLASTRES, Pierre (2004), Arqueologia da Violência. São Paulo: Cosac & Naify. DIÁRIO DE CAMPO, (2011), Transcrições da entrevista com Rarine, de 29/08/2011. Mímeo. ESPN, 2015. Disponível em: http://espn.uol.com.br/noticia/405336_aidar-querkaka-de-volta-ao-sao-paulo-e-alfabetizado-tem-todos-os-dentes-na-boca. Acesso em: mai.2015. _____(2015,b). Disponível em: http://espn.uol.com.br/noticia/436034_aranha-echamado-de-macaco-por-torcida-do-gremio. Acesso em: mai.2015. _____(2015c). Disponível em: http://espn.uol.com.br/noticia/484900_extecnico-arrigo-sacchi-sobre-base-italiana-tem-muitos-negros-e-estrangeiros. Acesso em: mai.2015. 26 FISCHER, Rosa Maria Bueno (2001), “Foucault e a análise do discurso em educação”. In: Cadernos de Pesquisa. SP: Fundação Carlos Chagas, p.197223. FOUCAULT, Michel (2003), Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. 7a edição. Rio de Janeiro: Edições Graal. FOUCAULT, Michel (2006), Vigiar e Punir: Nascimento da prisão. 31ª edição. Petrópolis: Editora Vozes. FOUCAULT, Michel (2010), Em defesa da sociedade. São Paulo: Editora Martins Fontes. JURISWAY (2015), “Superior tribunal de justiça. Racismo: decisões judiciais estabelecem parâmetros para repressão à intolerância”. Disponível em: http:// http://www.jurisway.org.br/v2/noticia.asp?idnoticia=78440. Acesso em: set. 2015. JUSBRASIL. (2012), “Articulista é condenado à prisão por crime de racismo contra indígenas”. In: Disponível em: http://prap.jusbrasil.com.br/noticias/2774903/articulista-e-condenado-a-prisao-porcrime-de-racismo-contra-indigenas. Acesso em julho de 2012. LACAN, Jacques (1956), Seminário 3, as psicoses. Rio de Janeiro: Zahar. LAURENT, Éric (2014), “Le racisme 2.0”. In: Lacan Quotidien, n.371. Disponível em: http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2014/01/LQ-371.pdf. Acesso em: set.2105. LÉVI-STRAUSS, Claude (1960), “Raça e História. In: Le racisme devant la science. Traduzida como Raça e Ciência I. São Paulo: Editora Perspectiva, pp.231-269. MALUF, Sônia Weidner. (2002), “Corporalidade e desejo: tudo sobre minha mãe e o gênero na margem”. In: Revista de Estudos Feministas, vol. 10, n. 01, pp.143-153. NOGUEIRA, Roberto C, “Primo Levi, um narrador do inenarrável”. Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte: UFMG, v.4, n.7, out., 2010. PERES, Wiliam Siqueira. (2009), “Cenas de exclusões anunciadas: travestis, transexuais, transgêneros e a escola brasileira”. In: JUNQUEIRA, Rogério (org.). Diversidade sexual na educação: problematizações sobre a homofobia na escola. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, pp. 235-264. PIMENTA FILHO, Jorge (2015), “Memória, verdade: saber fazer com os restos”. In: Revista Cult, n.199. São Paulo: Editora Bregantini, pp. 48-50. RICOEUR, Paul (2008). O justo 1: a justiça como regra moral e como instituição. Tradução: Ivone C. Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes. RIOS, ROGER RAUPP (2015), “Discriminação por gênero e por orientação sexual. Palestra concedida conjuntamente à Flávia Piovesan”. Disponível em: http://daleth.cjf.jus.br/revista/seriecadernos/vol24/artigo05.pdf. Acesso em: 22set2015. SCHWARCZ, Lilia M (1993), O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras. 27 STJ (2014b), “Superior tribunal de justiça. Resp 911183”. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquis a=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%20911183. Acesso em Mar. 2014. TEIXEIRA, Antonio (2015), “A escrita do trauma ou o testemunho do “sem porquê”. In: Revista Cult, n.199. São Paulo: Editora Bregantini, pp. 32-36. TJMS (2015). Disponível em : http://tjms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5977469/apelacao-criminal-apr-18057-ms2005018057-8/inteiro-teor-12113120. Acesso: 22 set.2015. TJSP (2012), “Apelação criminal sob n. 990.08.180555-3”. Disponível em: https:// esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4192274. Acesso em: abril de 2012 TJSP (2012B), “Apelação criminal sob n. 0125373-37.2006.8.26.0000”. Disponível em: http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5362886. Acesso em: abril de 2012. TODOROV, Tzvetan, (1995), Em face do extremo. Campinas: Papirus.
Download