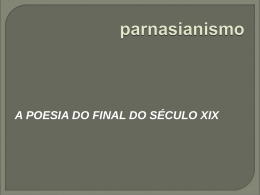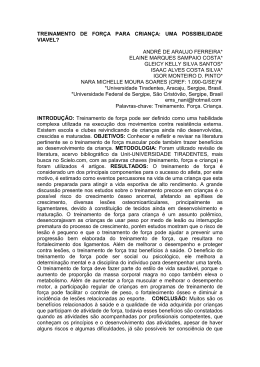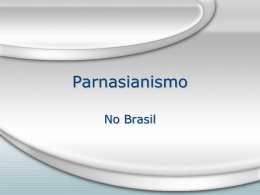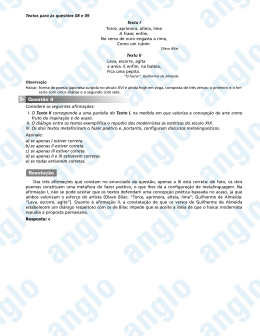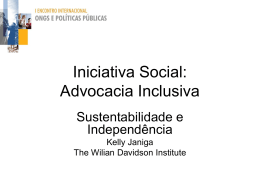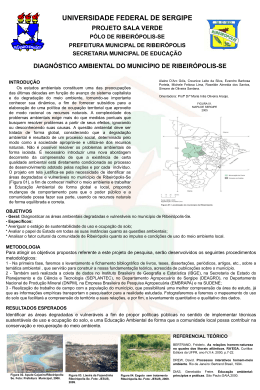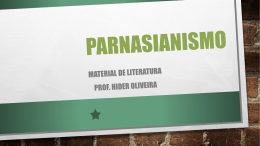Editorial E chegamos ao número 11 de Composição, Revista de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Já são cinco anos. O primeiro número de nosso periódico foi publicado em dezembro de 2007 com apenas três artigos, todos de autoria de professores da UFMS. Desde então obtivemos o ISSN, houve a inclusão no sistema Qualis da Capes, sendo avaliado com B4. Composição nasceu do esforço dos professores do curso de Ciências Sociais com a finalidade de possibilitar a divulgação de ciência de qualidade para toda comunidade acadêmica. Assim, como editor, agradeço a todos que tem colaborado conosco nesse desafio. Nessa edição publicaremos artigos oriundos de Mato Grosso do Sul, de pesquisadores do campus de Corumbá da UFMS; de Sergipe sobre sociedade e ambiente; Rio Grande do Sul, Goiás, Paraíba, Bahia, Rondônia e Santa Catarina. Isso tem demonstrado a importância que essa publicação alcançou nesses cinco anos. Boa leitura a todos. Prof. Dr. Aparecido Francisco dos Reis – editor. 2 SUMÁRIO A cidade e os informantes – inserção etnográfica nos pontos de venda de drogas da cidade de Corumbá/Brasil, na fronteira com Puerto Quijarro/Bolívia. Giovanni França Oliveira e Gustavo Villela Lima da Costa.........................................................................4 A campanha cívica de Olavo Bilac e a criação da liga da Defesa Nacional. Cesar Alberto Ranquetat Júnior...................................................................................................................25 Considerações acerca da globalização e do capitalismo atual. Roseilda Maria da Silva e Vilson Cesar Schenato.......................................................................................44 Ciências Políticas: Conteúdo Tranversal aos conecimentos básicos e Afins Ministrados no curso de Graduação em Ciências Contábeis. Solange Mendes Garcia e José Moreira da Silva Neto................................................................................71 O Ambientalismo em Sergipe após a criação da lei do terceiro setor – Uma análise das ONGs e OSCIPs entre 1999 e 2011. Matheus Pereira Mattos Felizola e Fernando Bastos Costa.........................................................................91 O olhar machadiano sobre o cativo: a literatura como importante fonte de conhecimento da oitocentista sociedade escravista carioca. Murilo Vilarinho........................................................................................................................................135 Discursos sobre o sistema de cotas para Afro-descendentes na formação da opinião e contade política: o mito da deliberação racional. Victoria Espiñeira e Ruy Aguiar Dias.......................................................................................................148 Poesia e revolução: Resenha de Todo Caliban de Roberto Retamar. Adriana Ines Strappazzon..........................................................................................................................167 Feios, sujos e malvados ob medida – a utopia médica do biodeterminismo. Lizandro Lui e Francis Moraes de Almeida...............................................................................................190 3 A cidade e os informantes – inserção etnográfica nos pontos de venda de drogas da cidade de Corumbá/Brasil, na fronteira com Puerto Quijarro/Bolívia 1 The city and its informants - ethnographic insertion on points of sale of drugs in the city of Corumbá / Brazil, on the border of Puerto Quijarro / Bolivia Giovanni França Oliveira2 Gustavo Villela Lima da Costa3 Resumo: Este artigo realiza uma reflexão sobre a pesquisa etnográfica na cidade de Corumbá na fronteira entre Brasil-Bolívia, com o objetivo de analisar a inserção em campo do pesquisador em ambientes “ditos” perigosos a partir dos “informantes”. É na vida das ruas que podemos enxergar as relações sociais extremas envolvidas nessas modalidades de trabalho ilícito e a capilaridade deste fenômeno na vida dessas cidades de fronteira. Palavras-chaves: Etnografia; fronteira, trabalho ilícito. Abstract: This paper presents an analysis on ethnographic research in the city of Corumbá on the border between Brazil and Bolivia, in order to analyze the insertion of the researcher in fieldworks, which are considered dangerous, with the help of the "informers". In the life of the streets we can understand the social relations involved in these extreme forms of illicit work and the capillarity of this phenomenon in the lives of these border towns. Key words: Ethnograph;, border; illicit work. Introdução Atualmente vemos pelos meios de comunicação de massa o grande problema que o comércio de drogas gera perante a sociedade, tanto no número crescente de dependentes químicos quanto no aumento da violência relacionado a esse tipo de crime. Recentemente vimos o poder bélico dos traficantes na ocupação realizada da polícia 1 Uma versão preliminar deste artigo foi apresentada no III Seminário Internacional Violência e Conflitos Sociais: Ilegalismos e Lugares Morais. 6- 9 de Dezembro de 2011, Laboratório de Estudos da Violência, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. 2 Mestrando do programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal.( [email protected]). 3 Gustavo Villela Lima da Costa - Prof. Adjunto de Antropologia. Av. Rio Branco 1270, caixa postal 252 Bairro Universitário. CEP 79304-020 - Corumbá-MS. UFMS/ CPAN - Mestrado em Estudos Fronteiriços. [email protected]. 4 juntamente com as forças armadas no morro do Alemão no Rio de Janeiro que era comandado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho. No ano de 2006, foi amplamente divulgado a demonstração de força de outra facção criminosa, chamada Primeiro Comando da Capital (PCC), que atacou inúmeros postos e delegacias policiais, incendiando diversos veículos em São Paulo mostrando assim toda sua organização e poder (ADORNO e SALLES, 2006). Grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, são as cidades mais noticiadas quanto a esse tipo de crime e também são as cidades mais estudadas no Brasil pela academia quanto a esse tipo de crime, como se percebe a partir do grande volume bibliográfico produzidos. (ZALUAR, 2009; MISSE, 1997, 2003 entre outros). O que pensar do comércio de drogas em uma cidade de fronteira como Corumbá? Quais as peculiaridades dos problemas dessa região? São os mesmos de uma cidade de outras partes do Brasil? O que há de diferente? Nos dias atuais observamos um olhar crescente do Estado e de grande parte da população brasileira para as fronteiras, fronteiras essas vistas sempre como o início do gigantesco problema que é o comércio de drogas ilícitas nos grandes centros urbanos brasileiros. Assim, a partir de estudos etnográficos ainda em curso, tentarei elucidar alguns desses questionamentos em relação à cidade de fronteira, tomando como ponto de partida a cidade de Corumbá/Brasil, que faz fronteira com a cidade de Puerto Quijarro/Bolívia4. 4 Corumbá cidade situada no extremo oeste do estado do Mato Grosso do Sul, erigida no meio da maior planície alagada do mundo (Pantanal), é uma cidade histórica que desde sua gênese exerceu um importante papel na formação e no controle das fronteiras do Estado brasileiro. A cidade faz fronteira com a cidade de Puerto Quijarro/Bolívia, onde para chegar ao marco divisório fronteiriço, se faz necessário trafegar por oito quilômetros pela rodovia Ramão Gomez. Atualmente Corumbá é a cidade de entrada do gasoduto Brasil-Bolívia e também está em foco por causa corredor bioceanico. Além disso, Corumbá é conhecida nos noticiários nacionais brasileiros e também é considerada pelas autoridades estatais como uma das principais portas de entrada de pasta base de cocaína e de cocaína provindas da Bolívia, mostrando assim a importância da cidade aos olhos estatais, sobretudo em questões de segurança e soberania. 5 Corumbá: cidade fronteiriça Cidades fronteiriças são frequentemente estigmatizadas pelo olhar do Estado, como lugar das ilegalidades, contrabando, tráfico de drogas, armas e pessoas. Essa visão distorcida do Estado em relação à cidade de fronteira gera um pensamento negativo em grande parte dos indivíduos que vivem fora dessas regiões. Dessa maneira, para tentar entender o que acontece de fato em uma cidade fronteiriça em relação aos vários tipos de ilegalidades que ocorrem na região, é necessário se afastar dessa visão distorcida produzida pelo Estado e tão difundida pelos meios de comunicação de massa, para propiciar um melhor entendimento da vida de uma cidade fronteiriça. Primeiramente, ao se falar em fronteiras de estados nacionais, pressupõe-se a existência de dois ou mais limites políticos operando nessa região, o que gera uma demanda estatal para uma melhor regulamentação, em forma de acordos para melhor atender às demandas de fluxo de mercadorias dos países e também como forma de barrar o vai e vem dos habitantes da fronteira. Essa passagem de um lado para o outro e o contato de diferentes nacionalidades através da chamada integração informal, gera laços sócio-economicos-culturais. Dessa maneira, a simples passagem de uma pessoa de um lado para o outro para comprar um produto e voltar para seu país de origem é um ato corriqueiro em sua vida fronteiriça. Dependendo das quantidades de produtos comercializados, este ato pode se tornar prejudicial para o Estado. Observamos isso a partir de diversas operações5 em conjunto deflagradas pelos órgãos de fiscalização e repressão nas aduanas quanto nas estradas vicinais da região, onde são apreendidos 5 As Operações Sentinela, Cerco Fechado, Ágata1, 2 e 3, Fronteira Unida, Atalaia, Tríplice Aliança, foram atualmente as operações de destaque nacional, deflagradas pela polícia nas fronteiras do estado do MS, é importante pontuar que a fiscalização e feita cotidianamente nas fronteiras do MS, já que a maioria das apreensões, tanto em relação ao contrabando e ao trafico de drogas, são feitas em fiscalização de rotinas nas aduanas quanto nas estradas da região. 6 geralmente grande quantidade de roupas. As apreensões relacionadas ao tráfico drogas ocorrem na grande maioria das vezes especificamente na BR 262 onde geralmente são presos os chamados mulas6. E assim, para coibir esse tipo de comportamento são criadas legislações especificas e mecanismos de controle e vigilância para essas regiões, para tentar frear essa prática o máximo possível. “En las fronteras la tensión entre legalidad e ilegalidad es parte constitutiva de La vida cotidiana. Las transacciones comerciales entre las poblaciones son consideradas muchas veces como «contrabando» por los Estados mientras es La actividad más natural para la gente del lugar. (GRIMSON, 2000, p.3). Ao trafegar por dois ou mais regimes jurídicos e econômicos, algumas mercadorias adquirem o status de ilegalidade perante legislações nacionais, escapando também ao recolhimento de tributos, o que propicia grandes lucros para os comerciantes e baixos preços para os consumidores. O mesmo mecanismo de capitalização vale para o comércio de drogas ilícitas. Esta operação de compra e venda característica das fronteiras não apenas fornece o mecanismo de capitalização de comerciantes, como dinamiza a vida econômica dessas cidades fronteiriças, gerando parte significativa dos empregos (em sua maioria, informais), movimentando o consumo, atraindo mão-deobra fixa e transitória para essas localidades. Além disso, podemos pensar em que medida a peculiaridade da situação das fronteiras nacionais condiciona certas práticas de aquisição de lucro e configura um modo específico de fazer negócios, sejam eles legais ou ilegais. A fronteira é entendida, assim, como um lugar onde há a possibilidade de ascensão social para determinados indivíduos e onde existe certa liberdade de ação em relação às leis nacionais, em função da existência de dois ou mais regimes jurídicos, econômicos, políticos e sociais em um local de oportunidades para negócios em função da ambigüidade de valores de moedas e por ser um ponto na rota de mercadorias entre 6 Pessoa contrata para transportar droga (pasta base de cocaína ou cocaína) em pequenas quantidades para outras cidades fora da região fronteira. 7 países. A existência de dois câmbios de moedas é um dos fatores que torna tão atrativo o comércio de drogas na região, pois ao passar para o lado brasileiro os comerciantes de drogas conseguem grandes margens de lucro sobre o produto. A partir da década de 1970 e 1980, a partir dessa integração informal são formadas as redes ilegais do comércio de drogas nessa região fronteiriça de Corumbá e Puerto Quijarro, com uma grande expansão a partir da década de 19907, notada pelo aumento do número de pontos de venda de drogas nessa região. Dessa maneira, criou-se uma grande rede de pessoas que trabalham (in) diretamente com esse comércio fronteiriço influenciando diretamente os locais onde são comercializadas as drogas na cidade de Corumbá e Ladário/Brasil e Puerto Suarez e Puerto Quijarro/Bolívia (Oliveira e Costa, 2011). Os processos sociais dessa integração informal se deram a partir das “relações de vizinhança” que vão desde as relações cotidianas de uma vizinhança qualquer de um bairro, chegando até o outro lado da fronteira. São essas relações, que até o momento dão sustentabilidade às redes ilegais do comércio 8 de drogas que operam nessa região. A cidade e os informantes: etnografia nas Bocas Quando no início de 2010 me propus a pesquisar essa modalidade de trabalho ilícito na fronteira, percebi que estava pisando em um “barril de pólvora”, e precisava de alguém que me indicasse por onde começar as pesquisas de campo, haja vista que, na cidade de Corumbá e região, há certo “silêncio” da população em relação aos pontos de 7 De acordo com Lauter da Silva Serra secretario de saúde de Corumbá, no debate do Encontro Estadual de combate às Drogas, “hoje em Corumbá existem mais de 280 bocas cadastradas fora as que não estão”. Seminário Estadual de Políticas Publicas de combate as drogas realizadas em Corumbá nos dias 1 e 2 de julho de 2011. 8 A partir desse momento utilizarei a categoria de comerciante e não mais a categoria de traficante para as pessoas que trabalham com a venda de drogas ilícitas nessa região de fronteira, devido ao grau de estigmatização que a categoria de traficante impõe a essas pessoas, representando ainda uma visão construída a partir do Estado e da lei. 8 comercialização de drogas. Este “silêncio” torna muito difícil saber qual é o local certo ou as pessoas certas para tentar uma possível aproximação, e mesmo se eu soubesse qual a localização do ponto de venda, seria quase impossível estabelecer um contato com este universo, pelo fato de eu ser uma pessoa estranha. Neste ponto da pesquisa eu era o “estranho” (e ainda sou, em muitos sentidos e lugares) e dificilmente conseguiria algum contato, a não ser que eu conhecesse algumas pessoas que trabalhassem com a venda de drogas na cidade, mas (in) felizmente não conhecia ninguém, ou pelo menos até então. Nesse momento entra em cena a figura do “informante”, muito necessário na minha inserção nesses ambientes ditos “perigosos” que chamarei pelo pseudônimo de Alterna. Não me deterei em como eu conheci os “informantes”, mas sim, em como ele (a) me possibilitou enxergar os ditos “submundos” da cidade de Corumbá e região, os espaços usados e “reusados” na forma que convém aos atores sociais envolvidos nesse tipo de comércio ilícito que é o comércio de drogas. Dessa maneira aprimorei meu olhar para certos momentos e em lugares que dificilmente se imaginaria que poderia comercializar esse tipo de produto.Só a partir da ajuda dessas pessoas é que pude romper com a barreira do silêncio desses comerciantes e assim tentar entender as possíveis razões que lhes induziram ou não, a realizar esse tipo de comércio (ZALUAR, 2009). Vale lembrar o trabalho etnográfico feito por Phillipe Bourgois em seu livro “Em Busca Del Respeto”, que mostra com veemência a grande dificuldade que ele passou para se inserir entre os traficantes de heroína do bairro. “[...]La primera vez que caminé a mi casa desde La estación Del subterrâneo,atravesé um passillo marginal que resulto ser uma “zona de capeo” de heroína. Allí, media docena de “campañias” competían por La venta de bolsas de $ 10 selladas[...]Tan pronto puse um pie em La cuadra, desaté um vendaval de silbidos y gritos de “bajando”, los avisos em clave que utilizan los vigilantes para advertir a los “joseadores”, encargados de lãs 9 ventasal por menor de La presencia de personas sospechas o posibles policías encubiertos.[...]” (BOURGOIS, 2010, p. 58) O autor enfrentou inúmeras dificuldades para conseguir sua inserção no campo de pesquisa: por ser uma pessoa de fora do bairro e por ser branco emitia um estereótipo de policial e de dependente químico 9 que afastava de si naquele local todos em sua volta. A estratégia utilizada pelo autor foi fazer amizade na vizinhança de seu próprio conjunto habitacional, passando a conviver com os moradores locais e progressivamente deixando de ser uma figura “perigosa” para os envolvidos na venda de drogas. Este procedimento de convivência tão importante na pesquisa etnográfica é que propiciou ao autor o primeiro encontro com um gerente da casa de crack de seu prédio, que posteriormente prestaria um papel fundamental como informante. “[...]Mi preocupación fundamental era convencer al administrador de una casa de crack de que yo no era uns policía encubierto.[...]Mi vicina Carmem[...] me llevó ante El salón y Le dijo em español: “primo, te apresento mi vicino Felipe. Él ES de La cuadra y quiere conecerte”. Primo, soltó uma risa nerviosa. Giró me Dio La espalda y escondio La cara.” Em qué precinto fue que lo recogiste?”, Le pergunto a Carmen em inglés, mirando hacia La calle. Com um tono entre avergonzado y recrimatorio, Le aclare que yo no era de La ‘ de La jara’ y que lo queria era escribir um libro sobre ‘La calle y El vencidario’.[...]( BOURGOIS ,2010, p.67) A partir do primeiro encontro do autor com Primo é que houve o suporte necessário para que o autor conseguisse permanecer no local e também ganhar o respeito de todos a sua volta, inclusive do chefe do comércio de crack daquela região. Este processo foi mediado por Carmen, sua vizinha, que por sua vez já conhecia Primo de longa data. Neste sentido, o pesquisador teve que mobilizar uma rede de pessoas, conquistar sua confiança e respeito, para só então ser aceito na vizinhança e nos lugares de pesquisa. O que é fundamental é analisar o papel da vizinha na inserção no campo do autor, que justamente através do intermédio de alguém conseguiu, mesmo que de forma 9 O autor usa a expressão heroinumano. 10 abrupta e tensa, o primeiro contato com o traficante da casa de jogos, que tanto almejava conhecer. Após o primeiro encontro, inicia-se todo um jogo de trocas simbólicas do autor em relação a Primo a fim de ganhar sua confiança (bancando rodadas de cerveja e principalmente o esforço do referido autor em mostrar que não pertencia à corporação policial), para depois dar seu próximo passo que seria a permanência no local de venda de heroína. De suma importância também os relatos etnográficos do autor Willian Foote Whyte em seu livro “Sociedade de Esquina”, onde ele cita toda a importância de seu informante chamado Doc e de sua gangue de esquina. O referido autor consegue contatos e acessos em diferentes ambientes em Cornerville e dessa forma pôde traçar toda a estrutura de obrigações mútuas de uma gangue de esquina que era parte e reflexo de um contexto maior de obrigações mútuas e de relações de poder que operavam cotidianamente em Cornerville. Novamente notamos a figura do informante como base inicial para estudos em locais ditos “perigosos”, tanto o Primo e Doc foram fundamentais para a inserção nos ambientes pesquisados. Quando iniciei meus trabalhos de campo não tinha idéia de como seria esse primeiro contato com esse “outro” tão estigmatizado por grande parte da população, que é o comerciante de drogas. Alterna, um dos “informantes” que desbrava caminho em minhas pesquisas, faz um papel também muito parecido com o de Doc já que com ele (a), pude transitar e conhecer as mais diferentes pessoas de diferentes classes sociais que praticam esse tipo de comercio na cidade. Alterna, também faz um papel parecido com o de Primo, em vista que o Alterna me propiciou minha ida na fonte10, conhecer a realidade de que trabalha com esse tipo de comércio ilícito. Momentos antes do meu 10 Expressão nativa relacionada a algum local importante relacionado à venda de drogas. 11 primeiro contato com um comerciante de drogas ilícitas, vinha-me ao pensamento a imagem de um traficante armado com fuzil veiculado tipicamente pelos meios de comunicação, nos filmes e programas de TV, oriundo das favelas cariocas. Como será esse primeiro contato? Qual seria o risco real para mim? Poderia ser vitima de retaliações na rua? Como escapar da violência sempre eminente para a manutenção “harmônica” desses meios? A partir dessas incursões pela cidade, obtive o primeiro contato com um comerciante de drogas, quando então percebi que naquele momento teria que “saber entrar” e “saber sair” nos dizeres de Alba Zaluar, para conseguir ganhar a confiança daquele individuo. Em um bairro qualquer da cidade de Corumbá, o primeiro contato: - Giovanni: Onde é o local Alterna? - Alterna: Calma cara é logo ali na frente. A cena que eu vi era a seguinte: crianças brincando na rua, um senhor escutando radio de pilha e carpindo seu quintal; um senhor construindo uma parte de uma parede de uma casa qualquer; a senhora com idade avançada sentada na porta de sua casa na sombra se refrescando com Tereré; uma vida cotidiana simples de um bairro qualquer de Corumbá, até que chegamos ao ponto de venda (boca). -Eu: é esse o local Alterna?! -Alterna: é esse sim cara, vou chamar o cara! Para minha surpresa, era uma casa de família qualquer, de um bairro qualquer da região, onde toda a rotina da casa se contrastava com a atividade ilegal que era praticada cotidianamente naquele local. E mais surpreendente ainda, o comerciante não era nada daquilo que imaginava outrora. Ele me recebeu em sua casa, com um sorriso no rosto 12 sem qualquer tipo de arma na mão ou qualquer intimidação. O fato de que Alterna já o conhecia facilitou um pouco a comunicação com aquele indivíduo e outros indivíduos que conheceria posteriormente. Os comerciantes de drogas que conheci, nunca praticaram nem um tipo de violência contra mim. O que houve, foi uma grande desconfiança, até mesmo entre aqueles que conheci por “acaso” nas ruas da cidade, nunca demonstraram nenhum tipo de agressividade ou intimidação contra minha pessoa até este presente momento. Com esse primeiro encontro, pude perceber uma das minhas grandes dificuldades iniciais de pesquisa, que posteriormente seria ultrapassada em certos pontos de vendas: a entrada no local (intramuros), ou seja, para que pudesse entender a dinâmica interna da boca, teria que ganhar a confiança a ponto de ser reconhecido como uma pessoa próxima, já que estamos falando de uma casa de família e que, para entrar nesse recinto, teria que ganhar a confiança de todos da casa. Assim caiu por terra a questão do traficante armado violento pronto para uma guerra aberta com a polícia, ou com quem quer que possa intervir nos seus negócios. Ou seja, por causa do “informante”, pude andar pela cidade e entrar em contato com várias pessoas que comercializam esse tipo de produto ilícito e que ganham a vida essas atividades. Outra grande dificuldade que tive, foi a questão de que poderiam suspeitar do fato de eu ser ou não um policial disfarçado. Muitos boqueiros11 que Alterna me apresentou, nunca no primeiro encontro diziam que trabalhavam com a venda da mercadoria ilícita, sempre escutava a frase dita por eles (as) “já trabalhei há muito tempo mas não faço mais essas fitas12”, ou “eu nunca trabalhei com isso mas andava 11 São chamados de boqueiros os dono do ponto de venda. É uma palavra nativa que pode ser usada em varias ocasiões, dessa forma mudando seu sentido, neste caso essa palavra esta denotando “fazer algo errado”. 12 13 com quem trabalhava” ou ainda “você tá doido Alterna nunca fiz essas fitas não”, isso mostra a grande desconfiança que eu passava para essas pessoas e o medo delas de serem presas. Outra estratégia que utilizei para minha inserção no campo, além da ajuda de Alterna, foi quando consegui o livro “Falcão: meninos do tráfico” de MV Bill e Celso Athayde, que teve grande repercussão na mídia, ainda mais por se tratar de um rapper famoso do Rio de Janeiro que tem legitimidade em comunidades carentes. Eu já o carregava em mãos em todos os lugares, percebendo o tamanho da repercussão do documentário no cotidiano dessas pessoas. Quando eu chegava ao local e mostrava o livro, todos queriam manuseá-lo mesmo que não fossem ler nem uma pagina sequer. Só o fato de poder tocar no livro e folheá-lo era a sensação de reconhecimento de sua própria realidade como traficantes. O livro também gerava nestes atores sociais a percepção de que talvez eu pudesse ser um interlocutor para o grande público, da mesma forma que o MV Bill e Celso Athayde conseguiram com o documentário e com o livro. Para não gerar falsas expectativas, que pudessem ameaçar os laços de confiança já conquistados, eu sempre dizia que o alcance do trabalho ficaria restrito à academia. Muito interessante como os diálogos começaram a fluir, depois que eu comecei a levar esse livro junto quando ia fazer o trabalho de campo com Alterna. Aqueles que outrora nunca tinham feitos as fitas13 começaram a falar sobre esses negócios (que fizeram e que estão fazendo até este presente momento) contando histórias de suas vidas, o que foi de suma importância para o entendimento da rotina de uma boca e a percepção das pessoas que moram ao redor desses pontos de venda. 13 Começaram a falar como comercializam drogas, comentar em relação aos assaltos de veículos automotivos que são trocados na Bolívia por droga e também da organização das bocas nessa região de fronteira. 14 Pude perceber que através desse livro, que muitos desses comerciantes de drogas, de fato, gostariam de ter uma voz que pudesse ecoar dentro da sociedade em relação à sua opção em fazer esse tipo de comércio. Neste momento, muitos me viam como se eu, até certo ponto, poderia dar essa voz a eles. Esta legitimidade conquistada no campo de pesquisa foi de suma importância para a continuação das minhas pesquisas, porque através de um boqueiro, pude conhecer outros boqueiros. Este é um claro sinal de que eu conquistava o respeito entre uma parcela desses comerciantes e, principalmente, adquiria sua confiança, o que é fundamental para a continuação do meu trabalho. “Entre os problemas práticos de pesquisar no meio do perigo, fugindo do tiroteio, driblando omissões, dissimulações e mentiras de quem tem que esconder suas atividades ilegais, está, pois, o da identidade que assumirá o pesquisador. Não se pode ser nem infiltrado (o que equivaleria a decretar a própria morte), nem iniciante (ardil posto ao que quer se tornar nativo e que pode levá-lo a problemas com a lei, já apontados com regularidade na literatura citada, ou na própria morte do antropo-traficante principiante ou antropo-assaltante de primeira viagem)”. (ZALUAR 2009, P. 566). Através de Alterna conheci Dio mais um (a) “informante” que me levou em outros locais de vendas de drogas, diferentes das bocas familiares. Dio me apresentou para outro tipo de local de comercialização de drogas em Corumbá, que venho a chamar de boca bar14, locais esses, dependendo de sua localização, há um grande fluxo de pessoas dos mais distintos estratos sociais. Quando fui apresentado para o boqueiro (dono do bar) de um dos bares, também fui recebido “tranquilamente” e pude começar a fazer o trabalho de campo nesse ambiente e também em outros bares que comercializam ou que funcionam apenas como ponto de aviões (subordinados às bocas familiares) mas que também lucram com o movimento que a comercialização de drogas ilícitas por “terceiros” que trazem a mercadoria para seu estabelecimento. Nos bares é que se percebe o numero de pessoas que ganham a vida (in) diretamente com esse tipo de 14 São diversos bares da região que funcionam como pontos de vendas de drogas ilícitas. 15 comércio nessa região, garotas de programa, garotas do programa, moto táxis clandestinos ou não, os aviões (também chamados de correria), a boca familiar, e principalmente o dono do bar. Os donos de bar normalmente têm duas ou três pessoas subordinadas diretamente a ele, que por sua vez também já conhecem as pessoas que estão vendendo o produto ilícito. Estes indivíduos também “ajudam” na hora da venda indicando ao usuário (que não o julgam suspeito por medo da polícia) às pessoas que estão vendendo as paradinhas no local. Através de Dio e Alterna conheci outra pessoa que venho a chamar de Contraste que viria a me lavar a alguns lugares do lado boliviano da fronteira. Como esse campo ainda é muito recente dentro das minhas pesquisas, ainda é necessário um pouco mais de tempo para fazer algumas análises a partir das informações colhidas. Entretanto, algumas informações já podem ser analisadas com um pouco mais de clareza, principalmente em relação a como são feitas as vendas de drogas na fronteira. Em primeiro lugar, a venda dessa mercadoria do lado boliviano da fronteira só ocorre no atacado. O comércio varejista praticamente não existe. Não é apenas dinheiro que é utilizado como moeda de troca nas compras no atacado, já que normalmente são aceitos produtos para fins de troca, como os veículos automotivos (são os mais visados) roubados das cidades do lado brasileiro da fronteira, e que são trocados pela droga (cocaína ou pasta base de cocaína). O ano do veiculo e o estado de conservação é que vão delinear a quantidade de droga que vai ser trocada, essas trocas na maioria das vezes envolvem organizações criminosas como o PCC, que estabelecem conexões com outras cidades do país. Ressalto que devido à minha transitoriedade nesses ambientes ditos “perigosos”, entrei em outro campo de pesquisa, que perpassou o comércio de drogas “independente” 16 dessa região, comércio esse que não tem vínculo com o PCC, mas que respeita a “voz do comando” nas ruas. Nas entrevistas que realizei começaram a aparecer informações da atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) nessa região de fronteira. Uma das informações importantes que colhi através de entrevistas com os ditos primos15 do PCC, foi justamente em relação à fundação do PCC/MS e também a fundação de uma “filial” nessa região de fronteira a partir do Presídio situado na cidade de Corumbá, o que nos mostra uma interessante dinâmica social a partir das quais se percebe a existência de “vozes” intra-murros se irradiando nas ruas de Corumbá e Ladário. Devido ao alto grau de risco de minha segurança, tive que parar com minhas incursões até o momento nesse campo, além do que, as formas de atuação do PCC ainda estão muito “obscuras” nessa região, já que pouco ou quase nada se ouve dizer sobre essa organização criminosa. Ressalto que a partir de pesquisas realizadas em material jornalístico na cidade de Corumbá, desde 2009 apenas uma única noticia sobre o envolvimento do PCC foi publicada. Nesta matéria16 noticiou-se o estouro de uma boca pela polícia em um bairro da cidade, onde supostamente morava o administrador do PCC na região, informação essa que pode ser alvo de críticas em relação à sua veracidade17. A partir das minhas incursões nos vários pontos de vendas de drogas ilícitas na cidade de Corumbá, pude perceber diferenças (na estruturação das redes ilegais tanto no atacado quanto no varejo) entre o comércio de drogas dessa região de fronteira e os 15 São pessoas que tem um “certo” contato com o PCC, mas que não tem vínculo de fidelidade com a organização. Diferentemente de outra categoria chamada de “irmãos” que indica pessoas que já estão inserido por completo dentro da organização. 16 Corumbá online, s=noticia&id=42155 4 de março de 2012.http://www.diarionline.com.br/index.php? 17 É difícil afirmar que exista apenas um administrador do PCC na região, devido à grande escassez de informações em relação à sua forma de atuação e por si só em sua organização nessa fronteira, essa informação noticiada em relação ao PCC, foi a primeira que puder apurar em arquivos de jornais nos últimos dois anos, pressupõe-se que o PCC já vem atuando nessa região de fronteira á mais de dez anos. Ver (OLIVEIRA e COSTA 2011). 17 grandes centros urbanos do Brasil. Dessa forma, comecei a pensar o grau de periculosidade desses pontos de venda de drogas da região; qual sua influência nos níveis de violência (conflitos de boqueiros por tomadas de territórios) e como esses pontos de venda são percebidos por grande parte das pessoas da cidade de Corumbá. Primeiramente, identifiquei a modalidade de ponto de comercialização de drogas ilícitas que chamo de boca familiar, uma peculiaridade dessa região de fronteira, que é muito importante na dinâmica de vendas e também nas possíveis disputas por territórios, e que acaba se tornando ponto de referências para outros “jeitos” de se comercializar a mercadoria ilícita. Outro pólo de comercialização de drogas ilícitas identificado em minhas pesquisas, também já assinalado anteriormente, é a boca bar. Michel Misse (1997, 2003), fornece informações de grande relevância em relação ao comercio de drogas ilícitas no Rio de Janeiro. O referido autor analisa toda uma hierarquização que se desenvolveu em torno dos pontos de vendas de drogas, a pela organização do movimento pelo Comando Vermelho a partir dos anos de 1980, organização calcada em uma militarização para proteção do ponto de venda contra possíveis investidas policiais, traficantes rivais e posteriormente milicianos. No Rio de Janeiro não há uma preocupação em esconder esses pontos de venda, dessa maneira a visibilidade facilita a chegada do comprador ao ponto de venda. Segundo Misse, devido a esse caráter território, político e militar que assumiu esse mercado ilícito no Rio de Janeiro, criou-se uma insegurança cotidiana nas comunidades dominadas pelos traficantes como também em toda a cidade. Dessa maneira, observamos todo o problema social que esse comércio provoca na cidade do Rio de Janeiro, tanto em questão de segurança publica quanto na área da saúde. 18 Hirata (2010) demonstra o papel da chamada biqueira (ponto de venda de drogas ilícitas) em um determinado bairro da periferia da cidade de São Paulo. Segundo este autor, a localização da biqueira tem relação direta com as altas taxas de violência no bairro em questão, gerando insegurança e o medo da morte que pairava na região em torno da biqueira. A partir do momento em que o Primeiro Comando da Capital (PCC) começa a dominar o comércio de drogas na região, inicia-se também a diminuição da violência nesses locais, e também nota-se uma mudança de percepção da população local em relação à biqueira. Outrora a biqueira vista como um dos principais males do bairro, agora devido há ação de “pacificação” promovida pelo PCC, a biqueira é vista como instância de soluções de problemas locais mais corriqueiros, como briga de marido e mulher, até mesmo brigas do futebol, soluções essas promovidas pelo chamado debate, realizadas pelo patrão ou pelo gerente da biqueira. Se a questão envolve morte, o debate assume outro caráter, que envolverão outras instâncias do PCC, ou seja, a violência outrora tão visível nas ruas do bairro anteriormente, agora foi realocada e promovida com hora marcada através do debate, onde serão decididas as formas de violência (punição) contra o culpado, inclusive a morte dependendo do caso em questão no debate (HIRATA, 2010). Considerações finais O que eu gostaria de pontuar nesses dois casos de pontos de vendas citados acima é que, os pontos de vendas de drogas ilícitas no Rio de Janeiro e em São Paulo, são vistos apenas como locais de vendas das mercadorias ilícitas, tanto para quem pratica esse tipo de comércio e seus consumidores, quanto para os moradores da região. Esta realidade difere completamente dos pontos de vendas de drogas ilícitas em Corumbá. Como já foi dito anteriormente, em meu primeiro contato com um 19 comerciante de drogas ilícitas, se não fosse pelo informante, eu dificilmente saberia qual era o ponto de venda de drogas naquela região, e qual eram casas de moradores; ou seja, esses pontos de vendas preferem a invisibilidade para a venda da mercadoria ilícita do que a visibilidade, ao contrário dos grandes centros urbanos mencionados. Esse primeiro contato se deu na chamada boca familiar, como o nome já demonstra, o ponto de venda da mercadoria ilícita se encontra na casa do comerciante e isso de certa forma influencia diretamente na percepção dos moradores que habitam os arredores do ponto de venda. Primeiramente, para uma pessoa mais desatenta, a boca é uma casa de família, com crianças brincando no quintal, sua mãe lavando roupa e estendendo no varal, ou seja, tudo que denota uma rotina normal de uma casa de família. Em Corumbá, portanto, não há nem uma organização hierárquica “militar” guardando o território pronto para um confronto, e nem uma hierarquia demarcada de funções como os “fogueteiros” e nem “campanas” olhando o movimento da rua, o que pode haver é o correria7 (que não são identificados em muitos dos pontos de venda que conheci) na frente da casa de família. Neste sentido a venda de drogas na cidade tem, em geral, um caráter familiar e funciona como uma extensão da própria casa. Um fato muito interessante que pude perceber em minhas pesquisas de campo, que afeta muito a vida da vizinhança (e que merece mais estudos) é a presença dos usuários de droga, chamados zumbis ou pipeiros18. Esses compradores aparecem geralmente quando a boca tem como sua principal especialidade de venda, a chamada base19. Essas bocas atraem os zumbis, que geralmente habitam os terrenos baldios da região, gerando discursos estigmatizantes e percepções por parte dos moradores de que 18 Expressão usada para os usuários de base que vagam dia e noite a procura de algum ganho para comprar a droga, também e usada a expressão pipeiros para esses mesmos. 19 É derivado de pasta base, é a droga mais usada na região devido ao seu valor muito baixo para venda, geralmente custando um real cada paradinha. “É a prima irmã do crack” como é conhecida pelas associações de apoio a dependentes químicos da região. 20 os mesmos estariam “poluindo” a vizinhança através de sua presença, assim como por sua aparência. Além disso, essa percepção de insegurança nas vizinhanças se deve ao fato de que pequenos furtos começam a ocorrer na região. Através dessas observações, o fator “poluição da vizinhança” tornou-se muito relevante para os estouros de bocas pela polícia na cidade de Corumbá. Dessa maneira, o boqueiro procura novas estratégias de venda da droga, para que os zumbis não cheguem perto da boca. A partir daí, o boqueiro passa a atuar como avião ou paga (com paradinhas20 de base) algum zumbi de sua “confiança” para que leve a droga para ser vendida na casa dos usuários de pasta base (zumbis). Isso evita principalmente a “identificação” do local da boca pela polícia e também evita o “stress” da vizinhança em relação aos zumbis, pois limita o vai e vem dos usuários de droga em torno da boca na vizinhança. Se a boca é especializada na venda de cocaína, o ambiente da vizinhança é outro, devido ao não aparecimento dos zumbis, que não tem dinheiro para comprar essa droga. Neste sentido, a cocaína é vista como a droga de “rico” e não traz consigo, aos olhares da vizinhança a “poluição” visual e física que a base ocasiona. Geralmente a compra da cocaína é muito discreta e não ocasiona “transtornos” aos olhares da vizinhança, além do que os usuários de cocaína, em geral, não cometem os pequenos furtos para manter o uso da droga. Nenhuma pessoa da região gosta de ter uma boca por perto ou ao lado de sua casa, mas devido às próprias relações de vizinhança que se configuram cotidianamente, há certa “conivência” ou “tolerância” por parte dos vizinhos em relação à prática ilícita, desde que não haja aumento da violência ou presença ostensiva dos usuários de droga (zumbis). Há, de fato, um medo da vizinhança em relação ao comerciante, por mais que 20 São os papelotes onde são colocadas as quantidades de drogas. 21 se configurem essas relações de vizinhança, a possibilidade de coerção pela violência é sempre constante nesse tipo de comércio devido ao medo constante do comerciante em ser denunciado pelos seus vizinhos para a polícia. Por mais que haja essa coerção embutida nessas relações, o comerciante tende a operar com certa tranquilidade cotidiana, inserindo-se na vida cotidiana, ajudando os vizinhos nas mais variadas dificuldades rotineiras21. Ou seja, devido a essas relações de vizinhança e parentesco, praticamente não se nota que ali é um ponto de venda da droga ilícita, a não ser para o observador mais atento. A movimentação é percebida a partir de pequenos detalhes, como um aperto de mão de uma pessoa estranha, ou a presença de um carro ou moto até mesmo de bicicletas, que de passagem, fingem fazer uma visita rápida e vão embora tão rápido quanto chegaram. A intenção dessa pesquisa não é de forma alguma romantizar, nem dizer que não exista violência relacionada a esse tipo de comercio ilícito nessa região de fronteira. É notório que a possibilidade de atos de violência está sempre presente nessas atividades ilícitas, mas a violência relacionada a esse tipo de comercio se manifesta em proporções bem diferentes dos grandes centros urbanos debatidos anteriormente22. O que as pesquisas, em curso, apontam até o momento, é que se trata de um comércio de drogas específico das bocas da cidade de Corumbá, com características distintas dos grandes centros do Brasil. O comércio de drogas nesta cidade está baseado em formas de organização e hierarquia, que obedecem a critérios de vizinhança e parentesco, 21 Ajuda-se nas pequenas reforma na casa do vizinho (ajuda braçal), ajuda age como “guarda” das casas da redondeza evitando roubos (em muitos dos casos estudados). 22 Aqui vale a definição de economia criminal de PERALDI: “[...]atividades que visam à produção, circulação, a comercialização de produtos proibidos de um ponto vista moral ou legal, de atividades, nas quais a organização e a efetivação incorporam uma parte de violência física realmente exercida ou potencialmente presente na própria organização do ciclo produtivo, e enfim, de atividades realizadas por indivíduos, grupos marginais ou desviantes nas condições de total ou relativa clandestinidade.” (PERALDI, 2007, p.111) 22 preferindo a invisibilidade de seus pontos de venda. Além disso, percebe-se que prevalece a negociação, envolvida nessas relações face a face, ao invés do uso da violência, sobretudo no que diz respeito aos possíveis assassinatos por dívida ou disputas armadas por pontos de venda de drogas, que de fato não são tão frequentes em Corumbá. Além disso, é preciso destacar, também, que alguns boqueiros estão envolvidos no negócio de remessa de drogas para outras partes do Brasil (atacadistas) e que, essas grandes operações dependem do sigilo e da ausência de conflito explícito, o que se reflete também no varejo, ou seja, no comércio das ruas, seja nas bocas familiares, seja nas bocas bares. Bibliografia ADORNO, S e SALLIA, F. Criminalidade organizada nas prisões e os ataques do PCC. Estudos Avançados 21 (61), 2007. BOURGOIS, Felipe. En Busca de Respeto: vendendo crack em Harlem. 1 ed. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2010. GRIMSON, Alejandro. Pensar Fronteras desde las Fronteras. Nueva Sociedad n.170. Noviembre-Deciembre. Honduras, 2000. HIRATA, Daniel Veloso. Sobreviver na adversidade: Entre o mercado e a vida. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2010. MISSE, Michel. As Ligações Perigosas: mercado informal ilegal narcotráfico e violência no Rio de Janeiro. Contemporaneidade e Educação, v.1, n.2, 1997. P.93-116. ______________. O Movimento: construção e reprodução das redes do Mercado informal ilegal de drogas a varejo no Rio de Janeiro e seus efeitos de violência, in: Drogas e pós-modernidade. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2003. 23 OLIVEIRA, G.F & COSTA, G.V.L. Alguns Apontamentos em Relação ao Tráfico de Drogas na Fronteira: Corumbá/Brasil – Puerto Quijarro/Bolívia. Texto apresentado no III Seminário de Estudos Fronteiriços em Corumbá. Anais ISSN 2178-2245. PERALDI, Michel. 2007. Economies Criminelles et Mondes dÁffaire à Tangier. Cultures e Conflits, No. 68, p. 111-125. TELLES, Vera da Silva e HIRATA, Daniel Veloso. Ilegalismos e jogos de poder em São Paulo. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 22, n. 2, pp. 39-59, 2010. WHYTHE, William Foote. Sociedade de Esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e degradada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. ZALUAR, Alba. Pesquisando no Perigo: etnografias voluntárias e não acidentais. MANA 15(2): 557-584, 2009. 24 A Campanha Cívica de Olavo Bilac e a criação da Liga da Defesa Nacional The Civic Campaign of Olavo Bilac and the creation of League of the National Defense Cesar Alberto Ranquetat Júnior1 Resumo: Neste trabalho trataremos sobre o apostolado nacionalista do escritor e jornalista Olavo Bilac nos anos de 1915 e 1916, que levou a criação de uma organização cívico-cultural atuante até os dias de hoje a Liga da Defesa Nacional. Inicialmente situaremos histórica e intelectualmente a campanha cívica de Olavo Bilac. Em um segundo momento, analisaremos seus discursos nacionalistas que enfatizavam a necessidade de uma educação moral que forjasse um novo tipo humano. Finalmente examinaremos a Liga da Defesa Nacional, destacando a organização, os objetivos e as principais atividades promovidas por esta entidade nos dias atuais. Palavras-chave: nacionalismo; intelectuais; pensamento social. Abstract: This paper examines the nacionalist apostolated of the journalist and writer Olavo Bilac in 1915-16, what led to the creation of a civic-cultural organization active until today- The National Defense League. Initially, we will explore historic and intellectually Olavo Bilac´s civic campaign. Secondly, we will analyze his nationalism speeches which emphasized the need of a moral education that could form a new kind of human being. Finally we will examine the National Defense League, emphasizing the organization, the objectives and the main activities promoted by those agencies nowadays. Key words: Nationalism, intellectuals, Social thinking Refletindo sobre a nação Na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, uma série de intelectuais brasileiros começa a discutir e refletir acerca da identidade nacional. Duas visões e interpretações da nação são predominantes neste período. Uma de caráter pessimista que desvaloriza nossa cultura, e influenciada pelas teorias racistas, concebe o povo brasileiro como “uma raça inferior”. Estes intelectuais 2 eram céticos 1 Doutorando em Antropologia Social pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), orientador professor Ari Pedro Oro. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Avenida Bento Gonçalves nº 9500, CEP: 91509-900 - Porto Alegre-RS. Professor de Ciências Sociais na UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) – Campus Itaqui/RS. Email: [email protected] 2 Sílvio Romero, Nina Rodrigues e Arthur Ramos são os principais expoentes desta linha de pensamento. 25 quanto à realização de uma civilização “superior” nos trópicos (Oliven, 2006). A raça e o meio geográfico eram os fatores determinantes na explicação de nossa formação e constituição enquanto nação, de acordo com Renato Ortiz (2003, p. 16): A história brasileira é desta forma, apreendida em termos deterministas, clima e raça explicando a natureza indolente do brasileiro, as manifestações tíbias e inseguras da elite intelectual, o lirismo quente dos poetas da terra, o nervosismo e a sexualidade desenfreada do mulato. Por outro lado, havia uma interpretação da nação que procurava prestigiar nossa singularidade, destacando a extensão territorial, as riquezas naturais e o caráter cordial e bondoso do homem brasileiro. A mistura de raças não era concebida negativamente nesta interpretação. Este nacionalismo ufanista tem em Afonso Celso com sua obra Porque me ufano do meu país publicada em 1900, um dos seus principais representantes. Este livro foi escrito em homenagem ao quarto centenário do descobrimento do Brasil. O homem brasileiro, as belezas naturais, a variedade do clima, a ausência de calamidades, a grandeza de nosso território, a ação evangelizadora dos jesuítas e o desbravamento de nossas terras pelos bandeirantes são exaltadas no livro. Ao contrário de outros intelectuais da época que depreciavam a mistura racial e a presença negra e indígena na formação da nação brasileira, Afonso Celso mostrava-se como um admirador e defensor da mestiçagem e das qualidades das três raças formadoras. Já se esboça neste texto a “mitologia das três raças”, que posteriormente foi desenvolvida com maior profundidade por Gilberto Freyre. Durante a República Velha, ainda existiam interpretações acerca da nação que avaliavam positivamente o passado colonial e imperial. A colonização portuguesa e a ação evangelizadora da Igreja Católica eram elogiadas. O período imperial era visto como central na constituição da unidade nacional. Tal corrente era representada por 26 Eduardo Prado com sua obra A Ilusão Americana datada de 1893. Por sua vez, os republicanos radicais desejavam libertar-se da influência lusa e católica, criticando duramente o regime monárquico. Raul Pompéia foi um expoente desta tendência (Oliveira, 1990). Cabe aqui ressaltar que um ano antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial, um grupo de jovens oficiais brasileiros estivera fazendo um estágio no exército imperial alemão. Estes jovens oficiais ficaram conhecidos como “jovens turcos” e quando retornaram ao Brasil fundaram a revista A Defesa Nacional que foi publicada de 1913 a 1918. Nos artigos desta revista os jovens turcos3 advogavam pela modernização do exército nacional, pelo serviço militar obrigatório e pelo papel da educação na formação da identidade nacional. É neste contexto que se inicia a campanha nacionalista de Olavo Bilac. Para Oliveira (1990, p.190): “O diagnóstico de falta de patriotismo se faz presente nas falas de Olavo Bilac, que passa a ver no Exército o único caminho capaz de criar no povo brasileiro o amor à pátria. A criação do serviço militar obrigatório teve este significado.” A campanha nacionalista de Olavo Bilac O apostolado nacionalista de Olavo Bilac4 em prol do serviço militar obrigatório e de uma educação cívico-patriótica ocorreu durante os anos de 1915 e 1916. Neste período o poeta parnasiano proferiu uma série de palestras em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. O público principal destas palestras 3 Receberam esta denominação, pois anteriormente jovens oficiais da Turquia estiveram na Alemanha estagiando no exército deste país e ao retornarem a Turquia defenderam a reforma de suas forças armadas. 4 Bilac é o autor do Hino à Bandeira e um dos criadores da Academia Brasileira de Letras. 27 era composto por estudantes, intelectuais e militares. As palestras de Olavo Bilac foram posteriormente publicadas em um livro intitulado A Defesa Nacional publicado no ano de 1917. O primeiro discurso foi realizado na Faculdade de Direito de São Paulo, em 9 de outubro de 1915. Neste discurso inicial, como em outros, Bilac denunciava a apatia, a indiferença e o comodismo: “O que me amedronta é a míngua de ideal que nos abate. Sem ideal, não há nobreza de alma; sem nobreza de alma, não há desinteresse, sem desinteresse, não há coesão; sem coesão, não há pátria (Bilac, 1917, p.5).” Para Olavo Bilac, o Brasil atravessava uma terrível crise, crise esta que não era de ordem política ou econômica, mas moral. O grande perigo estaria na possibilidade de esfacelamento e desmembramento da nação, devido à ausência de um forte sentimento de solidariedade nacional. O egoísmo, o interesse particular, a cobiça, a falta de coesão social e a indisciplina campeavam, diante deste estado de coisas só haveria uma única solução a educação cívica e o serviço militar obrigatório: Quero e sempre quis a instrução e a defesa do país pelos livros e pelas armas. Quero a escola dentro do quartel, e o quartel dentro da escola. A segurança das pátrias depende da inteligência e da força: o estudo defendendo a civilização, e a disciplina defendendo o estudo (Bilac, 1917, p.100). A defesa intransigente do civismo e da educação, como meio de inculcação dos valores nacionais, é um dos pontos principais da campanha nacionalista de Bilac, que idealizava a formação do cidadão-soldado: Todo o brasileiro pode ser um admirável homem, um admirável soldado, um admirável cidadão. O que é preciso é que todos os brasileiros sejam educados. E o Brasil será uma das maiores, uma das mais formidáveis nações do mundo, quando todos os brasileiros tiverem a consciência de ser brasileiros (Bilac, 1917, p.133). 28 De acordo com Olavo Bilac, se fazia necessário transmitir às novas gerações as virtudes cívicas e o sentimento de amor à pátria. A pátria só existiria se houvesse disciplina, coesão, desinteresse e instrução. Neste sentido, era inadmissível, para o poeta parnasiano, a existência em nosso país de uma legião de analfabetos e iletrados: É inconcebível a vitória de uma democracia sem instrução da massa pública. Estabelecemos a República; mas pode viver dignamente uma República, uma pátria republicana , quando a maior parte dos seus filhos seja de analfabetos, e, portanto,de inconscientes? (Bilac, 1917, p.137) Mais adiante no mesmo discurso denominado A defesa nacional, proferido nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Paraná, acrescenta que a instrução primária e profissional são basilares para a construção de uma nação digna, entretanto assevera: A instrução não é completa, quando se refere unicamente à ciência e à arte, à inteligência e ao trabalho. São indispensáveis também a saúde do corpo e da alma, a força corporal e a disciplina. Terceiro ponto: a instrução militar. Precisamos de instrução militar e de exército nacional, para a defesa do nosso território e da nossa civilização, e para a defesa individual do organismo físico e moral de cada brasileiro. Precisamos de exército nacional, mas não do exército nacional que hoje temos: queremos um exército verdadeiramente nacional, sendo a própria nação composta de cidadão soldados, em que cada brasileiro seja o próprio exército e o exército seja todo o povo (Bilac, 1917, p.138). Não bastava a educação do espírito, o aprimoramento intelectual e o desenvolvimento cultural, urgia também a formação do corpo e a disciplina física que forjaria o cidadão-soldado, um tipo humano voltado para o heroísmo, com capacidade para o sacrifício em prol da nação. O exército seria para Bilac uma escola e um centro formador e transmissor de virtudes marciais, para tanto era necessário que cada 29 brasileiro do sexo masculino passasse obrigatoriamente pelo menos um ano nesse “laboratório”: O exército será um laboratório de civismo: uma escola de humanidade, dentro do patriotismo; uma escola de energia social [...]. Ambicionamos que todos os brasileiros passem pelo quartel, revezando-se: que cada um dê ao menos um ano de sua vida ao serviço da vida da pátria(Bilac, 1917, p. 139). Não aceitava a separação e o distanciamento entre o exército e o povo. As forças armadas e a nação deveriam se reaproximar, vivendo em um clima de concórdia e harmonia, pois Bilac concebia o exército como o braço armado da nação. Bilac argüia a necessidade de militarização dos civis, como um antídoto contra o militarismo e a supremacia de uma casta militar. Sobre isto assim se manifestava no discurso pronunciado em 9 de outubro de 1915, na Faculdade de Direito de São Paulo: Nunca fui, não sou, nem serei um militarista. E não tenho medo do militarismo político. O melhor meio para combater a possível supremacia da casta militar é justamente a militarização de todos os civis: a estratocracia é impossível, quando todos os cidadãos são soldados. Que é o serviço militar generalizado? É o triunfo completo da democracia: o nivelamento das classes, a escola da ordem, da disciplina, da coesão; o laboratório da dignidade própria e do patriotismo. É a instrução primária obrigatória; é a educação cívica obrigatória; é o asseio obrigatório, a higiene obrigatória, a regeneração muscular e psíquica obrigatória (Bilac, 1917, p. 7). A vida no quartel, a caserna, apresentava-se como um espaço físico e social para a recuperação e regeneração de homens animalizados, “sujos” e miseráveis, uma concepção higienista desponta nesta passagem: As cidades estão cheias de ociosos descalços, maltrapilhos, inimigos da carta de “abc” e do banho, - animais brutos, que de homens têm apenas a aparência e a maldade. Para esses rebotalhos da sociedade a caserna seria a salvação. A caserna é um filtro admirável, que os homens se depuram e apuram: dela saíram conscientes, dignos, brasileiros, esses infelizes sem consciência, sem dignidade, sem pátria, que constituem a massa amorfa e triste da nossa multidão (Bilac, 1917, p.7). 30 Em toda sua pregação nacionalista Olavo Bilac enfatizava a necessidade da defesa nacional. A defesa seria um imperativo da própria existência, vista como uma luta incessante, um combate sem tréguas: “Quem quer viver defende-se. Que é a vida, senão um constante combate? Todo organismo, que não se defende, enfraquece-se e elimina-se (Bilac, 1917, p. 128).” Se no mundo biológico é indispensável a defesa, pois a vida é luta, o mesmo ocorreria no mundo social. Bilac5, seguindo uma série de pensadores da época, traça um paralelo entre o organismo biológico e o organismo social. Para a defesa da nação era fundamental o papel do exército: Agora, o nosso exército será, não uma escola de violência ofensiva, mas uma escola de consciência defensiva, de paz altiva, e de civismo. E, aqui, ainda são mais necessárias, e ainda mais rigorosas devem ser as virtudes do oficial. No quartel, o oficial deve ser como o professor na escola primária: um sacerdote, um diretor de inteligência e de caráteres (Bilac, 1917, p.103). Todavia, a defesa da nacionalidade por meio das forças armadas, deveria ter um caráter preventivo e defensivo. Para o pregador nacionalista, a nação brasileira não era ameaçada por perigos iminentes e imediatos, mas por perigos latentes. O perigo externo provinha da ação imperialista das grandes potências, que buscavam se apoderar das nossas riquezas naturais e de nosso imenso território, o perigo interno estava na quebra da unidade nacional e na fragmentação do país. Diante destas ameaças urgia defender o patrimônio material e moral da pátria: 5 Vale lembrar aqui que Olavo Bilac estudou medicina no Rio de Janeiro, seu pai era médico. Entretanto, o poeta largou o curso de medicina e foi estudar direito em São Paulo. 31 A nação não se arma unicamente para proteger a sua alimentação coletiva, as suas searas, as suas usinas, os seus negócios, os seus gados, os seus celeiros; arma-se também, para proteger o seu território, a sua possessão material e moral, a memória dos seus maiores, a religião dos seus lares e dos seus templos, as relíquias das suas tradições, o tesouro da sua língua e da sua poesia, o culto do seu passado, o seu nome de nação (Bilac, 1917, p.129). Como já ressaltamos anteriormente, Olavo Bilac denunciava o individualismo, o egoísmo como um dos maiores males que afetam a nação. O patriotismo seria justamente a antítese do individualismo. O homem é visto, pelo pregador nacionalista, como um ser social, que potencializa suas virtudes e qualidades quando está integrado a uma coletividade: O verdadeiro patriotismo, o patriotismo que deveis compreender e cultivar, é, antes de tudo, a renúncia do egoísmo. Nada valemos por nós, individualmente. Valemos muito, e tudo, pela nossa comunhão. Todos valemos, pelo bem que damos à Pátria.Os poetas, que lavram as almas, e os políticos, que dirigem os povos, não valem mais do que os agricultores, que aram a nossa terra, e os pastores, que guardam os nossos gados(Bilac, 1917, p. 117). Destaca-se nesta passagem uma concepção fortemente organicista da vida social, onde cada ator, cada classe ou estamento cumpre uma função própria em benefício do todo coletivo. O todo, a nação, surge como uma realidade mais alta, os indivíduos, as partes devem sacrificar-se pela pátria, que é o valor supremo. Bilac insurgia-se contra determinismos racialistas e geográficos, contrariando o que argumentava boa parte dos intelectuais da época sobre a impossibilidade de uma civilização superior em um país localizado nos trópicos, com clima quente e miscigenação racial: “Insistamos. Não há homens irremediavelmente fracos, e não há povos irremediavelmente fracos (Bilac, 1917, p.130).” De acordo com o poeta 32 parnasiano, todas as raças são boas para o trabalho e aptas intelectualmente, desde que, se desse a elas as condições básicas para uma boa vida: Dizem que no Brasil não pode viçar uma nacionalidade perfeita, porque não temos uma raça já acabada e um clima excelente... Não acrediteis no que dizem esses pobres professores de uma ciência falsa, maníacos do fetichismo científico, que é mais ridículo e mais funesto do que o fanatismo religioso. Essas invenções de influência de meio, clima, de raça, são todos os dias desmentidas pela evidência dos fatos e dos acontecimentos (Bilac, 1917, p.131). Afirma ainda no mesmo discurso, o caráter guerreiro e desbravador do mestiço e a possibilidade de civilização em um país tropical como o Brasil: Atendendo ao caso particular do Brasil, lembremos que foram os nossos mestiços que, em grande parte, na época colonial, fizeram a exploração e a defesa do território do país: e durante a época do Império, sustentaram com a sua bravura e o seu sangue as terras do sul; e, ainda agora, estão desbravando as regiões brutas do Acre... Podemos acreditar que esta mistura de raças seja incapaz?Quanto ao clima, lembremos que as zonas tropical, sub-tropical e temperada da Terra, em que está situado o território do Brasil, são as mais aptas para o desenvolvimento e para a felicidade da espécie humana(Bilac, 1917, p.131). Coroando seu apostolado nacionalista é fundada em 7 de setembro de 1916 a Liga da Defesa Nacional. Pedro Lessa6, Miguel Calmon7 e Olavo Bilac foram os criadores desta organização8, cujas finalidades foram definidas no discurso de Bilac na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1916, onde inicialmente foi instalado o diretório central da Liga: 6 Jurista, político e professor nascido em Minas Gerais. Foi o primeiro ministro mulato do STF, nomeado em 1907. 7 Deputado Federal, Senador, Ministro de Estado, engenheiro civil e escritor nascido na Bahia. Sobrinho do marquês de Abrantes. 8 Na ata de fundação da Liga lavrada por Olavo Bilac, consta o nome dos fundadores dentre os quais destacamos Wenceslau Braz, Rui Barbosa, Coelho Neto, João Pandiá Calógeras e general Caetano de Farias. 33 [...] estimular o patriotismo consciente e coesivo; propagar a instrução primária, profissional, militar e cívica; e defender: com a disciplina, o trabalho; com a força, a paz; com a consciência, a liberdade; e, com o culto do heroísmo, a dignificação da nossa história e a preparação de nosso porvir (Bilac, 1917, p.76). Os dois principais pontos do programa da Liga da Defesa Nacional eram o serviço militar obrigatório9 e a educação cívica. Na esteira dos ideais patrióticas da Liga da Defesa Nacional surgem outras organizações semelhantes. Em 1917 é criada a Liga Nacionalista do Brasil com sede em São Paulo. O ideário da Liga Nacionalista se aproximava com o programa da Liga da Defesa Nacional de Olavo Bilac. Seguindo uma orientação ideológica semelhante, é criada em 1917 a revista Brazílea. Álvaro Bomilcar e Arnaldo Damasceno foram os fundadores desta revista, que foi o embrião para o surgimento de outra organização nacionalista a Propaganda Nativista, criada em 1919. No ano de 1920 é fundada a Ação Social Nacionalista, que publicava o panfleto Gil Blas. Esta organização unia ao nacionalismo o catolicismo, seu lema era “Pela Brasilidade e Pelo Catolicismo” (Nagle, 1974). Em 1921 surge a revista A Ordem e em 1922 é criado o Centro Dom Vital, sob a direção de Jackson de Figueiredo. De alguma forma todas estas agremiações acabaram contribuindo para a criação da Ação Integralista Brasileira de Plínio Salgado em 1932. No que tange a questão do serviço militar no Brasil é preciso fazer aqui algumas observações. Inicialmente, o serviço militar era uma atividade voltada às classes mais baixas da população, sendo um dos únicos meios de ascensão social para esta parcela da população brasileira. Havia, durante o império, o recrutamento forçado e o voluntariado. O sorteio para o serviço militar surge através de uma lei de 1874, entretanto está lei não 9 O Decreto nº 58.222, de 19 de abril de 1966, institui Olavo Bilac como Patrono do Serviço Militar. O Decreto - lei nº 1.908, de 26 de dezembro de 1939, instituiu o Dia do Reservista, comemorado no dia 16 de dezembro, data de nascimento de Olavo Bilac. 34 foi aplicada. Em 4 de janeiro de 1908, após muitas discussões foi aprovada a lei nº 1860 que “regula o alistamento e sorteio militar e reorganiza o exército” (Castro, 2006). Porém, o primeiro sorteio só foi realizado em 10 de dezembro de 1916, com a presença de Olavo Bilac, como ressalta Celso Castro (2006, p.5): Apenas em 10 de dezembro de 1916, quase nove anos após a aprovação da lei do sorteio militar, foi realizado o primeiro sorteio, no Quartel-General do Exército, em solenidade aberta ao público a que compareceram o presidente da República, o ministro da Guerra, o poeta Olavo Bilac e outras autoridades. Quando o primeiro nome foi sorteado, de Alberto Garcia de Maltas, do município de Santa Rita, todos gritaram vivas à República e ao Exército. Foram sorteados 152 nomes para o primeiro grupo. Ao final o ministro Caetano de Faria fez um discurso dizendo que a partir de então, “ser soldado deixava de ser profissão para ser cumprimento de um dever cívico.” Apesar disso, uma série de problemas com o sorteio fez com que a questão do serviço militar obrigatório só fosse resolvida nas décadas de 1930 e 1940, quando foram tomadas uma série de medidas legais que exigiam o certificado de serviço militar para o exercício de cargos públicos. Em 194510, o decreto-lei nº 7.343 extinguiu o sorteio militar. Com este decreto, todos os brasileiros que cumprissem 21 anos deveriam se apresentar para prestar o serviço militar, o jovem que não possuísse o documento militar ficava impedido de ter carteira de identidade, passaporte e exercer cargos públicos (Castro, 2006). A Liga da Defesa Nacional na atualidade Foi durante as décadas de 1930 e 1940 que a Liga da Defesa Nacional teve maior influência na vida nacional. Em 1936, organizou o “Desfile da Mocidade e da 10 Em 1964 é promulgada a Lei do Serviço Militar válida até hoje. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 143 determina a obrigatoriedade do serviço militar. 35 Raça”. Este evento foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura, e era realizado no Rio de Janeiro. Consistia basicamente de um desfile de jovens de escolas públicas e particulares com idade entre os 11 e 18 anos. Os jovens desfilavam com o uniforme de educação física, exibindo seus corpos sadios e atléticos, a cerimônia foi realizada por dez anos na capital federal (Parada, 2006). Os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro também estiveram sob o controle da Liga, segundo Oliven (1983, p.115): “[...] entre 1943 e 1945 os concursos oficiais de desfiles de escolas de samba são patrocinados pela Liga de Defesa Nacional, estando a entrega de prêmios a cargo de um general do Exército.” A Liga da Defesa Nacional encontra-se atualmente espalhada por diversos estados da federação. Possui como órgão central o diretório nacional com sede em Brasília e diretorias estaduais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão e Piauí. Possui ainda representações em São Paulo e Amazonas. Há ainda os núcleos municipais da Liga. O Presidente da República é o presidente de honra da Liga. Vale ressaltar que boa parte dos membros é composta por militares. Os cargos exercidos são honoríficos, sem qualquer tipo de remuneração. A Liga em nível federal, estadual e municipal não pode envolver-se em pleitos político-partidários e adotar postura filosófica ou religiosa, de acordo com dispositivo presente no estatuto da entidade. O Decreto nº 67576, de 16 de novembro de 1970, declarou de utilidade pública federal a Liga da Defesa Nacional, por seus serviços prestados à sociedade brasileira. Um Decreto Federal de 7 de fevereiro de 1997 reafirmou o título de utilidade pública federal a essa instituição. 36 O estatuto da Liga da Defesa Nacional define as principais diretrizes, finalidades e objetivos desta organização. O artigo 2º do estatuto estabelece que cabe a Liga defender a integridade territorial e a integridade nacional; promover a formação moral da pessoa humana; valorizar a cultura nacional; difundir a educação cívica; incentivar o estudo de nossa história e nossas tradições; incentivar a adoção de uma bandeira nacional em cada escola, sindicato e entidade de classe; realizar anualmente a corrida do fogo simbólico da pátria,dentre outras finalidades. A Liga entrega anualmente ao cidadão ou organização que tenha se destacado por seus serviços em prol da sociedade brasileira e na defesa de valores morais e patrióticos, a medalha do mérito cívico que a partir do ano de 1999, por uma decisão do conselho consultivo dessa entidade, começou a ser denominada ordem do mérito cívico. Os símbolos da Liga são a bandeira nacional e o emblema de um cavaleiro medieval com suas armas. Tal símbolo visa enfatizar o caráter militar e marcial da organização em sua tarefa de defender a nação. A principal atividade encabeçada e organizada pela Liga é a corrida do fogo simbólico da pátria. Esta cerimônia cívica teve início em 1938, no estado do Rio Grande do Sul. Nesta ocasião, a chama da pátria saiu da cidade de Viamão com destino a Porto Alegre. Em 1945 o fogo simbólico da pátria saiu do cemitério de Pistoia na Itália, onde se encontram sepultados os soldados brasileiros mortos na 2ª Guerra Mundial, conduzido de avião até Natal, e desta cidade para Porto Alegre. No ano de 1972, quando das festividades de comemoração do Sesquicentenário da Independência Nacional, quatro chamas da pátria partiram de quatro regiões do país e uniram-se em uma única chama, no dia 7 de setembro, no monumento do Ipiranga, em São Paulo. Na cidade do 37 Rio de Janeiro, a chama da pátria parte do Monumento aos Mortos da 2ª Guerra Mundial, passando por diversas ruas e avenidas daquela cidade. Na Praça dos Três Poderes em Brasília, há o Monumento da Pira da Pátria, inaugurado em 1987, neste monumento a chama da pátria arde constantemente, sendo erguido por proposta movida pela Liga. É lá que simbolicamente a chama da pátria é transmitida para todo o país. Esta cerimônia cívica inicia-se com a recepção ao Presidente da República ou seu representante. Neste momento as bandeiras dos estados são desfraldadas e os archotes erguidos, é cantado o hino nacional, a seguir é feito o colhimento do fogo na pira da pátria por um atleta representando o estado da Bahia, o estado mais antigo de nosso país. O orador da Liga lê uma mensagem aos jovens, que trata sobre o valor do patriotismo. O archote é levado pelo atleta ao Presidente da República, ou alguém que o representa, que declara aberta a Semana da Pátria. O atleta da Bahia acende o archote do atleta que representa o estado de Minas Gerais, pois é neste estado que surgiram os ideais que conduziram a Independência, a seguir os atletas da Bahia e de Minas Gerais acendem os archotes dos atletas que representam os outros estados. Os archotes são erguidos e a bandeiras estaduais desfraldadas, em saudação à pátria. Archotes e bandeiras retornam a posição inicial e é cantado o hino da Independência. O Presidente da República, ou seu representante, retira-se de cena, com as bandeiras desfraldas e os archotes erguidos, o governador do Distrito Federal assume o comando da cerimônia, lhe é apresentado o fogo simbólico que é posteriormente passado para os atletas que representam o Distrito Federal. Da Praça dos Três Poderes, os atletas direcionam-se até suas cidades, quando o administrador regional recebe o fogo simbólico. 38 A cerimônia de acendimento da pira do fogo simbólico da pátria segue um rigoroso protocolo. Deve iniciar-se no dia 1º de setembro às 9 horas, findando no dia 7 de setembro às 18 horas. A pira ou archote deverá ser acesa com a luz do sol, por meio de uma lupa ou através do círio de uma igreja, permanecendo constantemente acesa até as 18 horas do dia 7 de setembro, quando será apagada. A cerimônia deve ocorrer em um local espaçoso, que possibilite a colocação de um palanque e de um mastro para o hasteamento da bandeira nacional. Inicialmente é feita a recepção da autoridade que irá presidir a solenidade, em nível estadual a cerimônia será comanda pelo governador, no município pelo prefeito. Em seguida é hasteada a bandeira nacional ao som do hino nacional. A pira é acesa, é torna-se o fogo simbólico da pátria. Ato contínuo um atleta portando um archote ardente dirige-se em frente da autoridade que preside o cerimonial, dizendo: “Apresento a vossa excelência o fogo simbólico da pátria.” A autoridade então diz: “Em nome do povo do (nome da localidade onde está sendo realizada a solenidade) recebo o fogo simbólico da pátria.” É feita a leitura da mensagem da Liga ou uma saudação cívica pela autoridade que encabeça o cerimonial, e a seguir é cantado o hino da Independência. Terminada esta cerimônia o archote com o fogo simbólico da pátria é transportado por atletas que dão início a corrida. A corrida deve ser realizada no período das 8:00 às 18:00 horas, findando necessariamente no dia 7 de setembro. A pira da pátria será protegida todo o tempo por uma guarda de honra, composta preferencialmente por jovens. Esta cerimônia se integra aos desfiles militares que ocorrem no Dia da Pátria. Para DaMatta (1997), os desfiles militares do Dia da Pátria, são um ritual nacional, um ritual de reforço da ordem, da estrutura e da hierarquia social. É um ritual diurno, claro, que demarca os espaços de forma nítida, pois há o povo, que assiste ao desfile, separado 39 por um cordão de isolamento, os soldados que marcham na avenida, e as autoridades civis e militares colocadas em um palanque. O foco do ritual é a celebração dos símbolos nacionais. Considerações finais Boa parte dos escritos de Olavo Bilac inserem-se dentro da corrente do nacionalismo ufanista. De acordo com Lúcia Lippi Oliveira (1997, p.187), o ufanismo teve grande força intelectual nos primeiros anos do século XX. “Para esta corrente, a nacionalidade é pensada não como resultado dos regimes políticos, mas sim como fruto das condições naturais da terra.” Importante aqui destacar que a idealização de nossas belezas naturais e da imensidão de nosso território, já é parte do imaginário social brasileiro desde a época colonial, expressando aquilo que José Murilo de Carvalho (1998) cunhou de motivo edênico. “A visão paradisíaca da terra começou com os primeiros europeus que nela puseram o pé. Ela está presente já na carta de Caminha (Carvalho, 1998, p. 1).” Entretanto, concluímos com esta exposição que os discursos nacionalistas de Olavo Bilac, entre 1915 e 1916, centravam-se na questão do serviço militar obrigatório e na necessidade de uma educação cívico-patriótica. Para Bilac era urgente reorganizar o país e fortalecê-lo, por meio do exército e de uma educação fundamentada na transmissão dos valores nacionais. Defendia o poeta e pregador nacionalista, a “nação em armas”, o “cidadão-soldado”. O forte ufanismo e o otimismo naturalista presente em obras como Contos Pátrios, Através do Brasil e A Pátria e em algumas de suas poesias foi suavizado, abrandado em sua pregação nacionalista. Bilac pouco fala sobre a beleza de nossa natureza, a grandeza de nosso território, e demais 40 motivos edênicos em seus discursos. Constata que o país atravessa uma terrível crise, que o povo é dominado pela apatia, o comodismo e o egoísmo e que desta forma se fazia necessário uma reforma moral. Um ponto que merece ser destacado no apostolado cívico de Bilac é o rechaço que este intelectual tinha por teorias de teor racista e ambientalista. Para o pregador nacionalista, o homem não era um produto da raça ou do meio geográfico, mas da educação. Educação esta que não deveria cingir-se ao desenvolvimento intelectual, mas também deveria basear-se no cultivo do corpo. Os discursos patrióticos de Olavo Bilac redundaram na criação da Liga da Defesa Nacional. Esta organização tem como base a defesa do patriotismo, possuindo um estreito vínculo com as Forças Armadas, haja vista que boa parte de seus membros são militares. A cerimônia do acendimento da pira da pátria e a corrida do fogo simbólico da pátria, que ocorrem nas festividades da Semana da Pátria, são as principais atividades patrocinadas atualmente por esta organização. Trata-se de um ritual cívico, centrado no culto dos símbolos nacionais (DaMatta, 1997). A guisa de conclusão pode-se afirmar que Olavo Bilac foi o típico intelectual que Renato Ortiz (2003), define como mediador simbólico, responsável pela construção de uma imagem da nação. “Se os intelectuais podem ser definidos como mediadores simbólicos é porque eles confeccionam uma ligação entre o particular e o universal, o singular e o global (Ortiz, 2003, p.139).” Os intelectuais, a maneira de Olavo Bilac, Gilberto Freyre, Sílvio Romero e outros, são agentes fundamentais na criação da identidade nacional. Além dos intelectuais, o Estado, os meios de comunicação de massa e o sistema de ensino, bem como todo um aparato simbólico e litúrgico como o 41 hino nacional, a bandeira nacional, as cerimônias e festividades cívicas, são acionadas para criar o “espírito nacional” e uniformizar a nação. Referências BILAC, Olavo. A Defesa Nacional (Discursos). Rio de Janeiro: Liga da Defesa Nacional, 1917. CARVALHO, José Murilo de Carvalho. O Motivo Edênico no Imaginário Social Brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 13, n. 38, Oct, 1998. CASTRO, Celso. Insubmissos na Justiça Militar (1874-1945). Comunicação apresentada no XII encontro regional de História da ANPUH-RJ, 2006. Disponível em: http://www.rj.anpuh.org/Anais/2006/conferencias/Celso%20Castro.pdf. Acesso em 06/01/ 2009. DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo: EDUSP, 1974. OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A Questão Nacional na Primeira República. São Paulo: editora brasiliense, 1990. _____________. Questão Nacional na Primeira República. In: DA COSTA, Wilma Peres; DE LORENZO, Helena Carvalho. (Orgs). A década de 1920 e as origens do Brasil moderno. São Paulo, UNESP, 1997.p. 185- 193. OLIVEN, Ruben. A Parte e o Todo: A diversidade cultural no Brasil-nação. Petrópolis: Vozes, 2006. 42 _____________. A elaboração de símbolos nacionais na cultura brasileira. Revista de Antropologia da USP, v. 26, 1983, p. 107-118. ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: editora brasiliense, 2003. PARADA, Maurício. Práticas Desportivas e Educação Física no Brasil sob o Estado Novo. In: SANTOS, Ricardo Pinto dos; Silva, Francisco Teixeira da.(Orgs). Memória Social dos Esportes, Vol. 2. São Paulo: Mauad, 2006. p. 155- 184. 43 Considerações acerca da globalização e do capitalismo atual Considerations about globalization and capitalism today Roseilda Maria da Silva1 Vilson Cesar Schenato2 Resumo: A tão falada “globalização” ou “mundialização” não é um fenômeno recente, mas que envolve processos de (re) ordenação das relações econômicas, políticas e culturais enquanto instâncias interrelacionadas. É na articulação destas esferas em transformação, que podemos ver a globalização atual e compreender que suas consequências são diversas. Destaca-se aqui o aprofundamento das desigualdades entre ricos e pobres, entre países; a crise da política enquanto uma prática pública; a redefinição das relações global-nacional-local e as consequências para as identidades culturais. Neste contexto, há resistências que apresentam possibilidades emancipatórias. Palavras-chave: Globalização. Capitalismo. Desigualdades. Resistências. Abstract: The so-called "globalization" or "internationalization" is not a recent phenomenon, but it involves processes for reordering of economic, political and cultural as interrelated. It is in the articulation of these spheres in transformation, that we can see the current globalization and understand that its consequences are different. We highlight here the deepening inequalities between rich and poor, between countries, the crisis of politics as a public practice, the redefinition of relations global-nationallocal and the consequences for cultural identities. In this context, there are resistances exhibit that emancipatory possibilities. Key words: Globalization. Capitalism. Inequalities. Resistances. Introdução A mundialização ou globalização da economia não é um fenômeno novo, já se processava certa integração desde o século XIV durante o mercantilismo, com a exploração das colônias e o comércio transoceânico. Esse era o contexto de acumulação primitiva do capital que se intensificou após a revolução francesa e, posteriormente, com a revolução industrial entre os séculos XVIII e XIX. A gênese do modo de 1 Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Doutorando e Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Bolsista CAPES. 2 44 produção capitalista é caracterizada por processos violentos de expropriação dos camponeses, artesões, corporações de ofício, produtores familiares, por meio da tomada das terras, ou apropriando-se dos saberes dos produtores diretos, separando-os dos meios de produzirem sua própria existência. Deste modo, um grande contingente de trabalhadores “livres” se dirigiram para as cidades ficando disponíveis para “vender” o seu trabalho em troca de um salário. A exploração crescente do proletariado urbano que se formava, somada aos saques, pilhagens, especulações comerciais, tráficos de trabalhadores escravos e exploração das colônias, possibilitou um acúmulo de riquezas por parte da burguesia, que, por sua vez, reinvestiu na produção industrial. Com a produção de mercadorias a burguesia industrial podia reproduzir de forma expandida o capital, produzindo valores de troca por meio da extração da maisvalia absoluta e relativa do proletariado (MARX, [1867] 1982). Capital e trabalho eram face de uma mesma moeda, se complementavam em uma unidade de contrários em que os detentores dos meios de produção e do capital concentravam cada vez mais poder econômico e político. Articulada às mudanças sócio-econômicas, processava-se a mudança das idéias, crenças, visões de mundo, um ethos que interferia no curso histórico do capitalismo, favorecendo ainda mais o seu desenvolvimento. A ética protestante combinava com o novo homem capitalista, na condução dos seus negócios ou no disciplinamento dos trabalhadores, ao fornecer um quadro referencial de valores, tais como: poupança, vocação, disciplina ascética, austeridade, amor ao trabalho, etc. orientando assim os comportamentos dos indivíduos, (capitalistas ou trabalhadores) em uma nova mentalidade, um novo estilo de vida que se contrapunha à atitude de renúncia da vida e de contemplação contida no catolicismo (WEBER, 1985). 45 A cultura interferiu nos comportamentos individuais e na esfera econômica e vice-versa. Tanto cultura como economia estão inter-relacionadas, de modo que, é possível falar em relações dialéticas entre as mesmas e nunca em determinismos. Essa influência mútua das instâncias econômicas, culturais e políticas, são próprias da era industrial e vamos ver isso claramente com o fordismo que irá se constituir em um modo de vida para a sociedade como um todo, extrapolando a esfera da produção econômica. No Manifesto Comunista Karl Marx e Frederich Engels já enfatizavam as tendências globalizantes do capitalismo devido à acumulação ininterrupta de capital, onde “a necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos impele a burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve estabelecer-se em toda a parte, instalarse em toda parte, criar vínculos em toda parte” (Marx & Engels, [1848], 2002 p. 49). E longe de configurar relações estáveis de produção, o capitalismo desde sua gênese é um eterno revolucionar-se a partir da “destruição criativa” permanente, da qual faz parte as próprias crises. Estas seriam evidências claras de que a criatura fugia do controle de seus criadores. As crises periódicas de outrora, atualmente se fazem cada vez em intervalos menores, são mais intensas e causam danos muito maiores a todos. Segundo a teoria marxiana, era em meio a estas crises de sobre-acumulação e o acirramento da luta de classes que os trabalhadores organizados poderiam por meio da revolta coletiva, destruir o capitalismo na esperança de criar uma sociedade sob bases mais horizontais. No entanto, não foi o que ocorreu, houve tentativas como a Revolução Russa de 1917 e ainda no século XX após as duas grandes guerras mundiais e várias crises 46 enfrentadas pelo sistema capitalista, o globo encontrava-se dividido entre o bloco soviético, formado por países com socialismo real3 e o bloco capitalista comandado pela hegemonia imperial dos EUA. Nos dois tipos de sociedades industriais (ARON, 1981) predominava a burocratização, a racionalização, a hierarquia rígida das instituições sociais em geral, refletindo o modelo de organização das fábricas com as linhas de produção em série articuladas com o consumo de ‘massas’. A vida dos indivíduos e dos grupos era organizada a “longo prazo”, segundo a lógica da estabilidade, da durabilidade no tempo e no espaço. Tanto os empregos assalariados permitiam planejar uma vida toda, como os bens de consumo possuíam uma vida útil que atravessava gerações. 1. Da acumulação rígida à acumulação flexível Foi nesse contexto que nos países centrais se desenvolveu o fordismo, ainda caracterizado pela manutenção do controle político sobre o trabalhador do taylorismo, em que o trabalhador expropriado do seu saber/poder lhe restava executar tarefas “úteis” de forma fragmentária e rotinizada. Nesse modelo, a maquinaria, a linha de montagem é que dava o ritmo da produção, intensificando ainda mais a extração da mais-valia relativa. Tal controle não se limitava ao espaço da fábrica, mas chegava a outras esferas da vida do trabalhador. O estilo de vida da “massa” de trabalhadores assalariados era norteado pela produção e consumo de massas, o pleno emprego, os salários estáveis e com poder de compra eram, ao mesmo tempo, meio de propagar que o capitalismo era “superior” ao comunismo. Tal conjuntura, só foi possível devido às lutas históricas dos trabalhadores, resultando em avanços nas legislações trabalhistas e regulamentação da proteção social. 3 Em alguns países o socialismo era de uma realidade “dura” que soava mais como totalitarismos. 47 São entre 1945-1973 que o fordismo casado com o keneysianismo promoverá forte crescimento e expansão da economia capitalista. O medo do comunismo forjava um controle maior sobre os sindicatos operários, que eram obrigados a fazer acordos e negociações salariais aceitando a disciplina de trabalho fordista. Entre capital e trabalho se colocava um terceiro ator sempre presente neste período: o Estado; que influenciava nos acordos salariais e nos direitos trabalhistas. Tal ator era capaz de intervir por meio de políticas fiscais, monetárias, investimentos em infra-estrutura para produção e consumo; seguridade social, assistência médica, educação, habitação etc. Era o chamado Estado de bem-estar-social (HARVEY, 1992). Um novo internacionalismo neste período globalizou matérias-primas e produtos baratos, além da criação de novas atividades no campo do turismo e das finanças. Nessa época, os EUA era o “banqueiro do mundo” após o acordo de Bretton Woods em 1944 em que o dólar virou reserva cambial mundial, ao mesmo tempo a sua hegemonia era mantida com a abertura de novos mercados em favor das transnacionais e multinacionais (HARVEY, 1992). Apesar do “bolo ter crescido” com o fordismo, ele não foi dividido para grande parte das “massas” que, cada vez mais ficavam excluídas do acesso ao consumo. Foi no auge do fordismo, que movimentos sociais e contraculturais demonstraram insatisfação com relação à padronização da vida, das cidades, da cultura. Além disso, as lutas por libertação nacional em diversos países, inflação, crise do petróleo, desvalorização do dólar entre outros fatores vão colocar em cheque o fordismo. De 1965 a 1973 houve uma rigidez de investimentos de capitais fixos na produção em massa, impedindo a flexibilidade de planejamento, tal rigidez se alastrava 48 no mercado, na alocação e contratos de trabalho. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora resistia à flexibilização. Isso fez com que o fordismo / keynesianismo fosse incapaz de dar conta das contradições do capitalismo, devido a um acordo de contrários que evitava a expansão do capital. A crise gerou deflação que interferiu na organização do trabalho, ocasionando a intensificação da automação e o surgimento de novos mercados, etc. O EUA, nesse período, adota uma política monetária frouxa, sob uma forte inflação no mundo capitalista acaba gerando uma crise nos mercados imobiliários e nas instituições financeiras. O petróleo fica mais caro devido à decisão da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) em favor dos árabes já em 1973. Deste mesmo ano até 1975 há uma forte deflação, que gera uma crise fiscal do Estado. A solução encontrada era procurar acelerar o tempo de giro do capital, mas para isso era preciso uma reestruturação produtiva e aumentar o controle sobre o trabalho, as corporações passaram a buscar novas tecnologias, automação, novos mercados e buscando mão de obra mais barata. A crise de 1973 fez com que o compromisso fordista fosse pelos ares, iniciando um conjunto de processos que levavam nas próximas décadas (1970 e 1980) a um novo regime de acumulação, com novas formas de regulação política e social: A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional (HARVEY, 1992, 140). 49 O novo regime de acumulação envolve a criação de postos de trabalho no setor de serviços e ao mesmo tempo a industrialização de regiões novas, com baixo grau de desenvolvimento. Ela envolve também a compressão tempo-espaço permitindo que as decisões gerenciais sejam via satélite ou pelas novas tecnologias de informação. Exerce um controle mais forte sobre o trabalho, que já enfraquecido pelas elevadas taxas de desemprego dos anos anteriores e pela crise do poder sindical, permitiu a proliferação de contratos flexíveis de trabalho, trabalhos informais, temporários e as subcontratações. Este é o tom do mercado de trabalho neste período até os dias atuais. Nota-se no contexto histórico recente, um reavivamento de sistemas de trabalho mais antigos, doméstico, artesanal, familiar (patriarcal) e paternalista, trabalho doméstico, inserção massiva do trabalho feminino, juntamente com a subcontratação e os pequenos negócios que são centrais no novo sistema de produção. Tais processos estariam ligados ao solapamento da classe trabalhadora organizada em torno dos sindicatos, já que a luta no interior da fábrica com o patrão é diferente da luta entre familiares. A produção flexível se dá em pequenos lotes, com redução da vida útil dos bens de consumo, tal como no fordismo, o pós-fordismo orienta os estilos de vida das pessoas, só que agora fica em voga o que é efêmero, a “obsolência programada”, a moda, o espetáculo, a celebração da diferença, a mercatilização cultural. Tanto os produtores como os consumidores agem no ritmo da aceleração da aceleração do capital, ou seja, na velocidade ainda maior do giro da produção e do consumo, em nome da expansão dos lucros capitalistas a “curto prazo”. 50 Apesar da aparência de desorganizado, por gerar muitas incertezas e inseguranças para a maioria das pessoas, tal capitalismo de acordo com Harvey (1992) está se tornando organizado, por meio do acesso à informação instantânea a nível mundial, gerando espécies de “redes” de conhecimento técnico-científico por meio de consultorias, reduzindo mais do que nunca o saber à mera mercadoria que pode gerar inovações e, estas por sua vez, novos ganhos aos capitalista-investidores. O segundo indício de que é uma reorganização do capitalismo é de que se desenvolve uma completa reestruturação do sistema financeiro global com a emergência de imensos poderes de coordenação financeira. A criação de um mercado global de ações, por meio do intercâmbio de informações instantâneas, tornou possível a circulação veloz de dinheiro, crédito, dívidas, moedas e de mercados futuros. Lucros estritamente financeiros e sem vínculo com a produção real, o chamado dinheiro virtual, faz a acumulação flexível se basear, em larga medida, no sistema financeiro, este, por sua vez, torna-se o seu poder coordenador (HARVEY, 1992 p. 151- 152). 2. Globalização ideológica, neoliberalismo e desigualdades A internalização das ideologias e o consentimento sempre foram mais eficazes do que a repressão, na submissão dos interesses dos dominados ao dos dominantes. Por meio do exercício hegemônico de poder dos países centrais, construíram-se consensos de que a globalização era benéfica, com ela todos iriam “ganhar”. Porém, para isso era preciso abrir as fronteiras e aceitar uma nova liberalização dos mercados e de fluxos de capitais. Tais preceitos eram repetidos pelos organismos multilaterais (Banco Mundial, FMI, OMC) em conjunto com os meios de comunicação de massa, transformando as mentiras neoliberais repetidas, em verdades consentidas pelos governos e populações 51 dos países mais pobres4. Tentando fazer crer que os processos globalizantes são inevitáveis, irreversíveis, unilaterais e irrecusáveis. Tais orientações políticas para a economia, vieram em meados da década de 1980, de um consenso estabelecido pelos países mais ricos do globo, o “Consenso de Washington”. Dali saiu um receituário neoliberal prescrevendo direcionamentos para a economia mundial, tais como: privatizações, desregulamentações de direitos, “retirada” do Estado da economia e do social (SOUZA SANTOS, 2005). Tal consenso econômico neoliberal minimizou o papel do Estado na regulação da economia e subordinou-o aos organismos multilaterais, sendo aplicado de maneira diversa em cada país capitalista que aderiu ao mesmo. Com o avanço da ciência e das tecnologias mais velozes, se tornou muito mais fácil confundir os espíritos na compreensão dos fenômenos globais, que se apresentam ideologicamente como benéficos, mas que estão fundados nos impérios da informação distorcida, do “dinheiro em estado puro” consagrando o discurso do pensamento único (M. SANTOS, 2006). É papel do intelectual crítico e dos “de baixo” (países pobres e pessoas mais interessadas em um outro tipo de globalização) questionar o que está aí. Para tanto, é preciso desconstruir os consensos vindos de cima, denunciando alguns mitos. Crenças míticas como: De que a globalização é o fim da história, e que devemos nos render, pois não há mais porque resistir; mito de que a compreensão tempo-espaço é para todos, quando na verdade, só é para aqueles que dominam os sistemas técnicos, ou seja, as elites globais; mito de que o Estado seria mínimo, quando, na realidade, ele continua forte para salvar o capital financeiro e contornar “crises” deixando de se 4 Inclusive o Brasil, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso. 52 responsabilizar pelo seres humanos, se ausentando das proteções e investimentos sociais (M. SANTOS, 2006). Atualmente, o processo de acumulação de capital, não se faz somente pela relação capital-trabalho, e nem por intermédio do pagamento de um salário como na época de Marx. O que vemos nos dias atuais é a articulação com processos anteriores, que não se encaixavam nos tempos ‘modernos’, tais como o trabalho escravo, o trabalho doméstico, em domicílio, com baixa tecnologia, informal e precário. O capital se expande para as diversas instâncias da vida, a acumulação de capital invade inclusive os direitos do cidadão, que é tido como um consumidor e deverá comprar as mercadorias saúde, educação, previdência, água, transporte, etc. Nem mesmo a atividade intelectual e a pesquisa científica saem ilesas. Se a ciência sempre esteve atrelada ao desenvolvimento do capitalismo, agora mais do que nunca as descobertas, criações e pesquisas estão subordinadas à lógica do capital, uma lógica quantitativa, de ‘eficiência’ a “curto prazo”, que se orienta pela aplicabilidade do conhecimento com fins lucrativos, acabando por cercear a reflexão desinteressada. Esta última, mais do que nunca necessária para o entendimento da complexidade do mundo atual, pensa também as possibilidades emancipatórias da humanidade. 2. 1 Consequências desumanas da globalização: as desigualdades sociais O capitalismo segue um desenvolvimento desigual e combinado, sua lógica excludente também é expandida, com um processo de “globalização das desigualdades sociais”, onde para alguns, serem os “turistas”, ou parte da elite transnacional ou global (BAUMAN, 1999), milhões acabam ficando na miséria e passando por privações. Tais 53 misérias humanas não se restringem aos aspectos econômicos, mas também morais, éticos e civilizatórios. Nessa “nova” desigualdade emerge uma nova classe capitalista transnacional, que é responsável pela extração de uma “mais-valia universal”, possibilitada pela unicidade da técnica e do tempo (M. SANTOS, 2006). Tal classe tem seus negócios administrados por um setor de executivos, que fazem a ponte entre empresas multinacionais, capital financeiro, elites locais e governantes do Estado. Essa nova configuração das relações de poder gera desigualdades sociais tremendas, atingindo em cheio os países da “periferia” do mundo. Há um aumento da desigualdade entre os países pobres e ricos e uma “globalização da pobreza”: Segundo o Relatório do Desenvolvimento humano do PNUD relativo a 1999, os “20 % da população mundial a viver nos países mais ricos detinham, em 1997, 86% do produto bruto mundial, enquanto os 20% mais pobres detinham apenas 1%. Neste mesmo quinto mais rico concentravam-se 93,3% dos utilizadores da internet. Nos últimos trinta anos a desigualdade na distribuição dos rendimentos entre países aumentou dramaticamente. A diferença de rendimento entre o quinto mais rico e o quinto mais pobre era, em 1960, de 30 para 1, em 1990, de 60 para 1 e, em 1997, de 74 para 1. As 200 pessoas mais ricas do mundo aumentaram para mais do dobro a sua riqueza entre 1994 e 1998. Os valores dos três mais ricos bilionários do mundo excedem a soma do produto interno bruto de todos os países menos desenvolvidos do mundo onde vivem 600 milhões de pessoas (SOUZA SANTOS, 2005 p. 34). Resta ver em termos mais atuais como está a situação. A desigualdade ampliou em 2006 segundo um relatório da ONU, afirmando que, os 2% dos adultos ricos possuem mais da metade da riqueza global. Sendo que, 90% do total da riqueza mundial estão nas mãos de moradores da América do Norte, da Europa e de países com renda alta na Ásia e no pacífico5. 5 Fonte: Jornal O Globo (Economia) 05/12/2006. 54 Enquanto os pobres no consenso neoliberal sofreram com a redução de salários, de direitos, de poder aquisitivo, ao mesmo tempo, a figura de consumidor substituiu a de cidadão. E, os pobres, no máximo, são alvos de políticas compensatórias que não eliminam a exclusão. Tal situação deixou um “mal-estar-social” ainda maior com as propagandas incessantes, incentivando todos a um consumismo exacerbado. Os avanços da tecnologia e da ciência tornam-se elementos-chave para o estímulo à inovação dos sistemas produtivos, consoante com a lógica de produção e consumo de “curto prazo”, diminuindo o tempo de giro de capitais e ampliando os lucros e acúmulo de riquezas. Os atores hegemônicos são “globalizados” e podem se movimentar livremente pelo globo, tal quais os capitais voláteis que possuem. Enquanto, a pobreza cresce em escala global, e os trabalhadores, pobres, marginalizados, sem dinheiro e nem poder, ficam “localizados”, vivendo de maneira precária, privados da tal “liberdade” de movimento, até que sejam expulsos, descartados, deslocados para outros lugares (BAUMAN, 1999). Para os ideólogos defensores dos benefícios da globalização, ela só traria integração entre os povos, superação das identidades locais e dos particularismos rumo a uma civilização universal, no entanto, o que se vê é a destruição das economias de subsistência, o desemprego em massa, migrações forçadas, refugiados da guerra e da fome. Tais pessoas “deslocadas”, nem sempre são bem vindas em seus destinos, com o reaparecimento de atitudes xenófobas, preconceituosas, racistas e fundamentalistas em diversas partes do mundo com relação ao “outro”, que vira bode expiatório dos grupos de extrema direita. 55 A expansão geográfica do capitalismo para territórios não-capitalistas cria a expectativa para os atores hegemônicos de que eles gerem novos investimentos e consumos, impulsionando de forma renovada a acumulação interminável de capital (HARVEY, 2009). Paralelo a isso, há a criação de um exército industrial de reserva mundial, mantendo os rendimentos dos trabalhadores baixos. Sendo assim o “novo” capitalismo se utiliza da exclusão como ameaça aos que estão “incluídos” de forma precária, e passa a re-incluir sob seus termos, em um tempo futuro, os trabalhadores que foram excluídos no passado, que se “reciclaram” e estão “aptos” a se acotovelar nas disputas pelos escassos postos de trabalho. 3. Espoliação, especulação financeira e crise da política Uma das causas do agravamento das desigualdades sociais pode ser encontrada nos processos violentos de espoliação na reprodução expandida do capital a nível global. Tais processos se assemelham a acumulação primitiva de capital estudada por Marx em que o roubo aos “vencidos” era uma prática embrionária do capitalismo. A acumulação com base na fraude, violência e pilhagem para Harvey (2009), não é somente uma etapa originária do capitalismo ou como para Rosa Luxemburgo, “exterior” ao capitalismo, fazendo-se presente nos dias de hoje. A acumulação primitiva inclui entre outras atividades a mercadificação e privatização da terra; a expulsão violenta de populações camponesas; a conversão de várias formas de direitos de propriedade comum, coletiva do Estado em propriedade privada; a extinção dos direitos dos camponeses às terras (HARVEY, 2009). Inclui ainda a privatização da água; a destruição de formas alternativas de produção e consumo; substituição da agricultura familiar pelo agronegócio; “ressurgimento” do trabalho escravo, etc. 56 Tais processos de acumulação por espoliação, estão aprimorados nos dias de hoje, são mais fortes que no passado, com o capital financeiro ampliam-se a especulação e a predação, através de fraudes e enriquecimentos ilícitos. A acumulação por espoliação na atualidade está também na: pilhagem de materiais genéticos (sementes); destruição de recursos ambientais globais; mercadorização da cultura, da história e da criatividade intelectual; privatizações de estatais, da saúde, educação, perda dos direitos trabalhistas. Tais situações permitem que o capital sobreacumulado se aproprie de ativos liberados pela espoliação, desta maneira, contorne as crises e de prosseguimento para a sua reprodução de forma ampliada (HARVEY, 2009 P. 118 130). Marx nos ensinou que o sistema capitalista está organizado para a busca cada vez mais crescente de extração de mais-valia e de lucro, daí se explica a origem do valor e das desigualdades sociais de nossa época. Onde o valor de troca se sobrepôs ao valor de uso (e ao auto-consumo), a produção de mercadorias torna-se essencial para o sistema, o que gera periodicamente crises de superprodução, agravadas pela crescente financeirização, onde os capitais se “libertam” da forma mercadoria e entram em um circuito de acumulação ampliada de capital. Desta forma, constata-se uma hegemonia dos capitais móveis que não se fixam em nenhum território e seguem o movimento da especulação em escala mundial. São capitais que não possuem vínculo direto com a produção, são virtuais, pois não se fundamentam no sistema produtivo. O capital financeiro especulativo se descola do capital produtivo para tornar cifras virtuais que se deslocam pelo globo na velocidade das mensagens instantâneas. Tais dinamismos deixam as economias nacionais mais frágeis diante das crises em escala mundial, desencadeadas por uma culminância de fatores, entre eles os ‘joguetes’ 57 dos investidores buscando o lócus provisório mais rentável para as suas finanças, sem criarem vínculos reais com o capital industrial-produtivo. Com relação à intervenção estatal cabe destacar de acordo com Polanyi ([1947], 2000) que até para o mercado-auto-regulável se estabelecer houve (e ainda há) intervenções periódicas por parte do Estado na economia. Atualmente, apesar da autonomização da economia com relação à política (OLIVEIRA & MOREIRA, 2008), há tentativas de contornar as crises do capitalismo, mas agora, entram também em cena órgãos supra-estatais e grupos multilaterais formados principalmente por países centrais, sob a hegemonia ainda dos EUA. Para Karl Polanyi (2000, [1947]) o credo liberal e o próprio mercado ‘livre’ se formaram com a subordinação da sociedade ao mercado e da política em prol do “livre mercado”, com intervenções contínuas, por vezes controladas e centralizadas por parte do Estado. Recentemente o Estado passou por um processo de desregulamentação que ele mesmo orquestrou. Ou seja, “o retraimento do Estado não pode ser obtido senão através de forte intervenção estatal. O Estado tem de intervir para deixar de intervir, ou seja, tem de regular a sua própria desregulação” (SOUSA SANTOS, 2005 p. 38). Os Estados nacionais continuam “fortes” principalmente em manter a “ordem” e reprimir manifestações contrárias à mesma (BAUMAN, 1999). No entanto, se tornaram reféns do império do dinheiro, da tirania do sistema financeiro que tentam impor suas leis e preceitos para todo o planeta (M. SANTOS, 2006). Há uma substituição do princípio de Estado pelo princípio de mercado, ampliando as assimetrias de poder em favor dos países do centro e das empresas multinacionais em detrimento dos países periféricos (SOUZA SANTOS, 2005). Deste modo, a globalização política fundamenta- 58 se em acordos políticos inter-estatais, e na inferiorização dos Estados-nação frente às agências financeiras internacionais. Está se processando uma interconexão cada vez maior do “globo” que implica em rearticulações local-nacional-gobal. No entanto, não podemos afirmar que o mundo é uma imensa rede horizontal, sem hierarquizações, em que não haveria mais um centro de poder, como defende Castells (2006). O que há é o agravamento da polarização centro-periferia, onde grande parte da capacidade decisória fica nas mãos dos macroatores globais e dos países centrais, envolvendo adaptações e resistências por parte dos países do Sul do mundo e dos atores não hegemônicos. Hoje em dia os Estados nacionais estão jogando com a lógica do capital global, intervindo sempre que necessário em seu favor, enquanto o mesmo se movimenta “livremente” de um território para outro. A simples ameaça de deixá-los gera uma espécie de chantagem que os Estados-nacionais acabam cedendo e se adaptando às exigências especulativas para evitar a “fuga” de capitais. No interior das sociedades nacionais, há o enfraquecimento das ideologias partidárias e de certa retraída nas discussões de projetos societários, havendo uma tecnicização da política (OLIVERIRA & MOREIRA, 2008), na qual há o entendimento de que o Estado deve ser “administrado” por agências ou pessoas com “competência” técnica, nos moldes de gerenciamento de uma empresa privada, ou seja, eliminando “custos”, enxugando a “máquina”, buscando parcerias público-privadas e compartilhando suas tarefas com as ONGS. Deste modo, até mesmo as políticas públicas (elaboração, demanda, execução) são pensadas pela racionalidade de mercado, exigindo-se dos atores sociais muito mais “capital” técnico do que político. 59 Isto porque, nas políticas governamentais, tal como nos negócios o que predomina são as idéias de curto prazo, “as formas mais lentas e constantes de crescimento ficam sob suspeitas. Súbitas guinadas de políticas em instituições empresariais geram insegurança ontológica e ansiedade flutuante; o mesmo nas políticas públicas” (SENNET, 2006). Nesse contexto, a tendência é a Política realizada com debates públicos em espaços igualmente públicos, ser sufocada pela emergência do privado espetacularizado. O espaço público fica esvaziado, sendo ocupado no máximo por interesses estritamente individuais que são postos lado a lado, mas nunca como interesses coletivos. A figura do indivíduo-consumidor-espectador ocupa o lugar do cidadão. Se o último buscava o seu bem-estar em conjunto com o bem-estar coletivo, o primeiro busca somente o seu interesse próprio. Portanto, o privado passa a colonizar o público que é esvaziado de questões públicas (BAUMAN, 2001). Assiste-se a uma expropriação do sonho de exercício pleno da cidadania, com a perda dos direitos conquistados. No lugar do papel de cidadão, é oferecido o de consumidor-espectador, onde até mesmo a política formal, vira um “circo-mercado” no qual o melhor “palhaço-marketeiro” consegue divertir e vender a sua imagem para os eleitores de plantão. Se a economia conseguiu se divorciar da política, esta última após a separação entrou em crise, deixando se dominar pela economia (política) de mercado, mas não para torná-la auto-regulável e autônoma, mas para subordiná-la a uma política de interesses individuais, de desresponsabilização do Estado, de abandono da solidariedade, uma política muito mais orientada pelo consumo, do Estado de bemestar-de-si, da fragmentação aliada ao pensar único, que sufoca, mas não chega a matar a política que tem por base o debate, o conflito e o dissenso. 60 4. Globalização, culturas e identidades No período classificado como fordismo, a cultura exercia pressões homogeneizantes nos indivíduos e grupos, por meio da indústria cultural, transformando criações artísticas em geral, como quadros de pintores famosos, filmes, revistas, novelas, músicas, bem como trabalhos intelectuais em mercadoria vendável e padronizada para o consumo de massa. Mesmo assim, as pessoas demonstravam sua capacidade reflexiva e de filtrar o que lhes era oferecido, recriando a partir dos seus contextos próprios, tais “produtos” culturais6. Atualmente, não há sentido em falar de uma padronização universal da cultura. Ao invés da emergência de uma “globalização da cultura”, o que se percebe é que a globalização produz tanto pressões homogeneizantes como diversidades culturais locais. No momento atual da economia capitalista só é possível falar em “culturas globais parciais” que são definidas como “globais” pelos atores hegemônicos, “que controlam a agenda de dominação política sob o disfarce da globalização cultural” (SOUZA SANTOS, 2005). O processo de globalização e seu sistema de desigualdades, na busca por homogeneizar (americanizar), têm causado extensos efeitos diferenciadores no interior das sociedades ou entre as mesmas. Para Hall (2005) está havendo uma proliferação subalterna da diferença que ele denomina como um paradoxo da globalização contemporânea onde, embora culturalmente, as coisas pareçam mais ou menos semelhantes entre si, há, no entanto, a proliferação das diferenças. 6 Esse era um dos debates que ocupava a Escola de Frankfurt. 61 As culturas localizadas resistem a esse ou aquele artefato cultural que se tornou hegemônico e pretende-se global. Na dialética entre universal e particular, local e global, processam-se resistências e adaptações, hibridizações e re-elaborações culturais. Pois a complexidade da globalização pode ser retratada enquanto: (...) um universo de diversidades, desigualdades, tensões e antagonismos, simultaneamente às articulações, associações e integrações regionais, transancionais e globais. Trata-se de uma realidade nova, que integra, subsume e recria singularidades, particularidades, indiossincrasias, nacionalismos, provincianismos, etnicismos, identidades ou fundamentalismos. Ao mesmo tempo se constitui e movimenta, a sociedade global subsume e tensiona uns e outros: indivíduos, famílias, grupos e classes, nações e nacionalidades, religiões e línguas, etnias e raças. As identidades reais e ilusórias baralham-se, afirmam-se ou recriam-se (IANNI, 1999 P. 27). Nessa teia de articulações, as identidades culturais são cotidianamente construídas com relação às diferenças locais e translocais. Para Bauman (2003), a identidade nasce em um momento de crise e queda da comunidade local como interpretada por ele. Na comunidade a vida social está tão homogeneamente organizada, que, sendo ela, o mesmo – uma condição coletiva- não há que se questionar quem é o outro. O diferente, nesse caso, está “naturalmente” dado: todos os que estão fora da comunidade. Assim, é só quando a comunidade entra em colapso que pode emergir a identidade. Sendo assim, é a necessidade de se definir em relação à diferença, que é, outra vez, reivindicada para se falar em identidade. De acordo com o supra-citado autor, o desenvolvimento tecnológico, especialmente o advento da informática, foi responsável pela derrocada da comunidade (BAUMAN, 2003, p. 18). 62 A comunidade impede a emergência da identidade. Quando a segurança obtida pelo acordo tácito que traz unidade para a comunidade é substituída pela necessidade da construção de um acordo artificialmente produzido, é que se torna possível surgir a identidade. Assim, esta pressupõe a idéia de diferença, quando “toda homogeneidade deve ser pinçada de uma massa confusa e variada por via de seleção, separação e exclusão...” (BAUMAN, 2003, p. 19). No entanto, o “outro” no capitalismo desde a colonização ou na própria revolução industrial foi subjugado, humilhado e sua cultura colocada em descrédito. O que levou a um “vazio cultural”, a desenraizamentos e novos enraizamentos, novas territorializações (POLANYI, 2000 [1947]). Apesar de haver resistências nesses processos, houve também muito de subordinação e adaptação do seu ethos7, seu modo de vida à lógica do capital. Na atualidade, a cultura do “outro” se tornou mais acessível sendo possível saber sobre o modo de vida, as criações culturais, a maneira que vêem e significam o mundo de forma muito mais abrangente. Os sistemas técnicos, atualmente, possibilitam um abrangente “conhecimento do mundo”, mas que nem sempre é acessível a todos (MILTON SANTOS). Poderia ser um instrumento eficaz de aprendizado mútuo e de integração real entre os diferentes povos, mas conforme a maneira que é utilizada (e a mídia faz muito isso) faz com que, ao mesmo tempo em que saibamos de como as outras pessoas existem e vivem, torna-os exóticos e acaba por reforçar o etnocentrismo ou então a insegurança ontológica, ao 7 A noção de ethos herdada da filosofia, é utilizada por vários autores e remete a ideia de uma ética prática, um senso prático elaborado a partir de um “modo” ou “estilo” de vida específico. Para Bourdieu (1983), seria a moral do grupo interiorizada pelo indivíduo, traduzindo-se nos valores em estado prático, não-consciente, regendo a vida cotidiana. 63 questionar-se o própria maneira de ser e viver, gerando a dúvida da continuidade da identidade no espaço-tempo. A categoria de identidade no Ocidente é atualmente problemática, sendo a sua historicidade questionada pela imediatez e pela intensidade das confrontações culturais globais, que apontam para a produção de novas identidades (HALL, 2005, p. 84). A globalização tem um efeito pluralizante, produzindo, de acordo com Hall (2005), uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas, menos fixas, unificadas ou trans-históricas, mas ainda relacionadas a lugares, embora que, múltiplos. Através do conceito de “tradução”, Hall (2005) reflete sobre as pessoas que pertencem a vários mundos culturais e que ao os assimilarem, passam a fazer parte de todos, sem, necessariamente, estarem diretamente ligados a nenhum deles. De acordo com o autor, esse tipo de identidade, diaspórica, formada pelas culturas híbridas, é um dos vários tipos de identidade distintivamente novos produzidos na era da “modernidade tardia”. Estamos sempre em processo de formação cultural, sendo assim, a cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar. Nessa perspectiva, semelhança e diferença só existem como um jogo, onde um está inscrito no outro. Nesse sentido, segundo Hall (2003) não se pode apegar aos modelos fechados unitários e homogêneos de pertencimento cultural, mas abarcar os processos mais amplos – o jogo da semelhança e diferença que estão transformando a cultura no mundo inteiro. 64 Tais identidades e diferenças se integram e ao mesmo tempo tensionam com o ethos do capitalismo que se pretende hegemônico por todo o globo. Ao estimular comportamentos com base em um padrão de homem ideal. Quem é esse “novo” homem do capitalismo? Um novo homem apequenado que todos nós corremos o risco de nos tornar, como bem coloca Milton Santos (2006), um homem que segue a espiritualidade do efêmero, volúvel, diluído, que não se apega a nenhum lugar, não cria vínculos sociais duradouros, que está sempre pronto para partir, para abandonar o que já conquistou, que está sempre atento a última moda, ao que dá mais lucros, etc. Seria essa a mentalidade, o ethos dos trabalhadores urbanos? Em partes poderíamos dizer que sim, pois ali a fluidez atinge inclusive os empregos, fazendo com que estes, escapem daqueles que os ocuparam, antes mesmo de criar laços sociais com seus companheiros de trabalho. Além das cobranças por meio dos discursos empresariais, da cultura organizacional das empresas que disseminam valores, crenças, normas e hábitos que interferem nas maneiras de ser e de viver dos trabalhadores. Se o trabalho no “capitalismo pesado”, com o fordismo, estava vinculado de maneira complementar ao capital, e possuía horizontes no tempo de longo prazo e para a vida toda fixados no mesmo espaço, da mesma fábrica, o que há atualmente são vidas guiadas pela flexibilidade, com planos de curto prazo, imperando nesse jogo a incerteza, pois as regras podem mudar repentinamente (BAUMAN, 1999). Com a falência do Estado de bem-estar-social e com a nova mobilidade do capital, sua leveza se constitui em nova técnica de poder, em desengajamento das redes sociais territiorializadas 65 (BAUMAN, 2001), permitindo escapar da alteridade, das negociações, acordos e comprometimentos com os trabalhadores e com os Estados nacionais. Nesse contexto, o homem que se valoriza é o que é “livre” de vínculos sociais, o homem fluído está numa eterna busca pela aptidão, superando as normas, a rotina, não havendo descansos entre sucessos momentâneos, acabando por fazer auto-cobranças contínuas que geram também ansiedades constantes (BAUMAN, 2001). É cada vez mais comum encontrarmos pessoas infelizes e compulsivas por mais consumir, guiadas pelo princípio do prazer, pois a cultura do novo capitalismo atribui ao consumo, significado de remédio para as incertezas e ansiedades perpétuas, pois as mercadorias se transformam em “promessas de segurança” numa sociedade onde tudo se compra. Inclusive as receitas para ser feliz. O lema a ser seguido é “compre você mesmo” e exorcize seus medos e fantasmas da insegurança (BAUMAN, 2001). Embora tais prescrições atinjam a todos, elas são realizadas por uma pequena minoria no mundo, esta por sua vez compartilham da “cultura do medo do ‘outro’” (aquele que fica à margem), para resolver isso foram criados templos do consumo individual (shopping centers) “bem supervisionado, apropriamente vigiado e guardado é uma ilha de ordem, livre de mendigos, desocupados, assaltantes e traficantes” (BAUMAN, 2001 P. 114). Ou seja, a arte de conviver com a diferença é substituída pela indiferença e intolerância aos “estranhos”, isto também está ligado à decadência dos espaços públicos e de uma cultura política privatista, onde a arte do diálogo, da negociação é substituída pelo desvio e a evasão, pelo espetáculo das vidas privadas e pelo “faça você mesmo” divorciado do Estado. 66 Enfim, a cultura hegemônica do capitalismo é a do consumismo, do efêmero, do presenteísmo de esquecimento fácil, sem passado, do medo do “outro”, da intolerância, da violência sistêmica e cotidiana, da violência do dinheiro e da informação, da desresponsabilização do Estado, do abandono da solidariedade, do individualismo e competitividade elevada em escala global. Mas como já observamos, tal cultura não se dissemina sem tensões e resistências, que podem ser exemplificadas nas inúmeras iniciativas locais espalhadas pelo mundo, que “visam criar ou manter espaços de sociabilidade de pequena escala, comunitários assentes em relações face-a-face orientados para a auto-sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas e participativas.” (SOUZA SANTOS, 2005 P. 72). 5. Considerações finais A globalização ou mundialização, ao mesmo tempo em que mantém o capitalismo, apresenta um conjunto de descontinuidades que denotam ser algo novo na história mundial. Há recriações / reproduções de realidades sociais e elementos novos que emergem da interconexão local-nacional-global. Tudo se movimenta e a mudança constante é ritmada pela esfera econômica influenciando as instâncias política, cultural e tecnológica. Nada ficando no lugar. Nem grupos, classes, empresas, estados, nações culturas locais e específicas, todos são pressionados a se adaptarem ou serem deslocados. No entanto, há também resistências, tensionamentos e reafirmações identitárias e re-localizações. O mundo parece ficar “menor”, com a diminuição das distâncias no tempo e no espaço, isso gera um confronto com o “outro” contínuo, levando ao questionamento de si pelos diversos “outros”. Tal diversidade tende a ser rearticulada pela alteridade 67 capitalista, que possui a hegemonia do processo e tenta subordinar outras formas de vida ou incorporá-las à sua. No entanto, emerge culturas de resistência com espaços de sociabilidade local, com certa liberdade em relação à lógica imperante, as populações desses espaços, os pobres, os militantes anti-globalização, os militantes de causas ambientais, camponesas, indígenas, feministas, de trabalhadores urbanos e rurais, etc., têm cada vez mais se utilizado da internet e de outros avanços tecnológicos para articularem suas lutas para além dos seus espaços locais, promovendo debates e trocas de experiências como nos Fóruns Sociais Mundiais. Embora a evidente diversidade de interesse políticos envolvidos, estas iniciativas podem ser articuladas com a retomada da consistência dos projetos nacionais, o fortalecimento das soberanias econômicopolíticas dos Estados-nações, e a não redução destes aos termos hegemônicos (como fez a China e tem feito em alguma medida o Brasil, Venezuela e outros países da América Latina) permitindo construir uma globalização contra-hegemônica sólida. Por fim, apesar da crítica social e a sociologia não conseguirem dar conta da velocidade das transformações atuais, elas se fazem mais do que nunca necessárias para desmitificar, desconstruir os processos globalizadores, demonstrando que o sofrimento humano não é fruto somente de causas individuais, e que a própria globalização é uma grande construção da humanidade, podendo ser revertida em direção a sua emancipação. 68 6. Referências ARON, R. Dezoito lições sobre a sociedade industrial. São Paulo: Martins Fontes; Brasília: Ed. UNB, 1981. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ______. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. ______. Comunidade. A busca por segurança no mundo atual. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 2003. BOURDIEU. Pierre. Questões de sociologia. Trad. Jeni Vaitsman. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 9ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2006. HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidade e mediações culturais. Editora da UFMG, Belo Horizonte, 2003. ______. Identidade Cultural na pós Modernidade. Editora DP&A. Rio de Janeiro, 2005. HARVEY, D. Do Fordismo à Acumulação Flexível. In: Condição Pós-Moderna. São Paulo, Ed. Loyola: 1992. ______. O novo imperialismo. 3ª edição. São Paulo, Edições Loyola, 2009. IANNI, Otávio. Globalização e diversidade. In: A era do globalismo. 4ª edição. Civilização brasileira, Rio de Janeiro: 1999. 69 MARX, K. [1867] O capital. Livro 1, Vol. 1. Editora Difel, São Paulo, 1982. MARX, K. & ENGELS, F. [1848] Manifesto do Partido Comunista. Ed. Martin Claret, São Paulo: 2002. OLIVERIRA, R.V. & MOREIRA, E. M. Sentidos da globalização: um desafio ao pensamento sociológico. Revista Raízes, vol. 27 nº 1, jan. - jun. 2008. POLANYI, K. [1947] A grande transformação: as origens da nossa época. 2ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 13ª edição, Rio de Janeiro: Record, 2006. SENNET, Richard. A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2006. SOUZA SANTOS, Boaventura. Os processos da globalização. In: A globalização e as Ciências Sociais. 3ª edição, Editora Cortez, São Paulo: 2005. WEBER, M. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 4ª ed. Pioneira, Rio de Janeiro: 1985. 70 Ciências Políticas: Conteúdo Transversal aos Conhecimentos Básicos e Afins Ministrados no Curso de Graduação em Ciências Contábeis Political Science: Content Cross to Basics and Related Taught in the Graduate Course in Accounting Me. Solange Mendes Garcia1 Dr. José Moreira da Silva Neto2 Resumo. O presente estudo analisa como a disciplina de Ciências Políticas contribui na formação profissional em um curso de Graduação em Ciências Contábeis ministrado na Universidade Federal de Rondônia. Constatou-se a relevância do conteúdo de Ciências Políticas para o curso de Ciências Contábeis, pois os fatos políticos interferem no cotidiano contábil já que resultam em implicações nas questões econômicas, éticas e sociais, cenário de atuação dos profissionais da área. Palavras-chave: Ciências Polítics; Ciências Contábeis; impactos econômicos. Abstract. This study examines how the discipline of political science contributes to the training in a graduate course in Accounting taught at the Federal University of Rondônia. It was noted the relevance of the content of political science for the course in Accounting, because the facts interfere in the daily accounting policy has implications that result in economic, ethical and social field of action of health professionals. Keywords: Political Science; accounting; economic impacts. Introdução Na conjuntura do conhecimento sobre os negócios e de políticas e controles sociais, Romaniello e Amâncio (2005) argumentam que o crescente aumento da complexidade, principalmente em decorrência do processo de rompimento de fronteiras internacionais, de velocidade das inovações tecnológicas e de aumento das desigualdades sociais, impõe às organizações uma nova maneira de trabalhar no mercado. Essa nova maneira, por sua vez, depende da adoção de procedimentos de gestão e controle que lhes 1 Mestra do Programa de Pós Graduação Mestrado em Administração – PPGMAD - da Universidade Federal de Rondônia. Endereço BR 364, Km 9,5, CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO. Fone: (69)21822100, (69) 9258-8797. Contato: [email protected]. 2 Professor Doutor do Programa de Pós Graduação Mestrado em Administração – PPGMAD - da Universidade Federal de Rondônia. Endereço BR 364, Km 9,5, CEP: 76801-059 - Porto Velho – RO. Fone: (69)2182-2100, (69) 9984-4348. Contato: [email protected]. 71 garantam a condução dos negócios de maneira a tornarem-se parceiras e corresponsáveis pelo desempenho ético e pelo desenvolvimento econômico e social. E para que isso seja realidade no cenário das organizações, importa trabalhar a contextualização de cenários nos cursos de graduação em negócios (nesta pesquisa particularmente) o curso de Ciências Contábeis, pois é na academia que traçamos a futura forma de portar dos profissionais que irão interferir nas tomadas de decisão. Essa geração de profissionais necessita ter clara consciência da interligação de todas as esferas, que nada é separado, tudo se inter-relaciona e se interconexa formando a complexa teia que é o mundo globalizado e interdependente (Senge, 2004). 1. Objetivo da Pesquisa No presente estudo busca-se compreender como a disciplina de Ciências Políticas contribui com a formação profissional no curso de Graduação em Ciências Contábeis, desenvolvido na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Para tanto, foi trabalhado a conscientização de interconexão junto aos alunos do quarto período de Ciências Contábeis, no primeiro semestre de 2010, por meio de oficinas de estudo de fatos de relevância nacional registrados em artigos publicados na Revista Veja, nos últimos dez anos. Contextualizando cada fato político trazido pelos grupos a partir de suas conseqüências éticas, econômicas ou sociais. 2. Desenvolvimento Textual Segundo José Luiz Furtado prefaciando a obra de Azambuja (2008, p.11), a política é uma dimensão essencial da vida humana. Aristóteles escreveu “O homem é por natureza um animal político”. Tal afirmação não significa apenas a necessária socialização da vida tendo em vista assegurar a proteção mútua dos indivíduos e a cooperação no trabalho, porque isso também os animais podem fazê-lo. Dizer que o 72 homem é um animal político significa que, antes de ser uma associação econômicomilitar, a associação política, o Estado, é de natureza ético-jurídica. A finalidade da política consiste em organizar a sociedade de tal modo que nela seja possível a cada cidadão viver uma vida virtuosa e feliz e não apenas materialmente confortável. Para Aristóteles (Edição publicada em 1998), a existência humana é essencialmente política porque o homem é dotado não só de linguagem, mas principalmente de logos. A linguagem não é a simples capacidade expressar pensamentos, desejos ou sentimentos, ela é antes de tudo logos no sentido de discernimento. Isto consiste, sobretudo, na capacidade de distinguir racionalmente o útil do inútil, o bem do mal, o verdadeiro do falso, a justiça da injustiça e de chegar a um consenso quanto a essas noções. Por essa via a política se dá como uma prática racionalmente orientada para a construção e manutenção do bem comum. Conforme Costa (2001, p.3), a política nasceu com a formação do Estado, com a imposição de uma ordem assimétrica, baseada em leis e no seu uso coercitivo, assegurando privilégios a poucos e trabalho para a maioria dos habitantes de um dado território. E, com o Estado, nasceu a política, a forma de interpretar suas relações internacionais e sua supremacia interna, bem como outros aspectos correlatos, todos ligados à forma dele de se impor, através de leis escritas e da força das armas, se preciso for, mas, de modo geral, através de consenso. Sobre a “expressão força das armas”, se registra a necessidade de substituição, para uma expressão contemporânea de melhores efeitos sociais, que é: “negociações – gerenciamento e controle de conflitos sociais”. Conforme Weber (1998), a política é o reino do poder e da força; estes são os instrumentos específicos de que dispõem os políticos, sendo o seu dilema ético quando e de que forma usá-los e através de que mecanismos legitimá-los. As respostas a este 73 dilema, porém, não podem ser buscadas na consciência individual, pois as convicções íntimas não chegam a se constituir em critério suficiente na política. Há que se considerarem as prováveis consequências de uma determinada conduta política, ou seja, o contexto e a inserção dos diferentes sujeitos políticos e do sujeito da ação nesse contexto. 2.1. Ciência Política Importa ressaltar, neste ponto, a contribuição dada por Machiavelli (1513), para a formação da ciência política, pois conforme Costa (2001, p. 73), Maquiavel se afastou dos tratados sistemáticos da escolástica medieval e instituiu as bases da nova ciência, rompendo com o pensamento anterior, através da defesa do método da investigação empírica. Maquiavel pretendia estudar a sociedade pela análise efetiva dos fatos humanos, sem se emaranhar em especulações metafísicas. O objeto de suas reflexões era a realidade política, pensada em termos de prática humana concreta, enquanto o centro maior de seu interesse vinha a ser o fenômeno do poder formalizado na instituição do Estado. Segundo Lalande (1947) e Azambuja (2008), ciência é o conjunto de conhecimentos e pesquisas com suficiente unidade e generalidade, capazes de levar a conclusões concordantes, que não resultem de convenções arbitrárias, nem de gostos e interesses individuais comuns, e sim de relações objetivas que se descobrem gradualmente e são confirmadas por métodos definitivos de verificação. E, ciência política é a ciência do Estado, conforme a própria etimologia da palavra “política”, que vem do grego políticos, o que concerne ao Estado. É a ciência do governo dos Estados. É o conhecimento de tudo que se relaciona com a arte de governar um Estado. E o seu objeto é o poder político que se expressa por meio dos fatos políticos. 74 Para Bobbio (1987, p. 55), por ciência política entende-se uma investigação no campo da vida política capaz de satisfazer a três condições: a) o princípio de verificação ou de falsificação como critério da aceitabilidade dos seus resultados; b) o uso de técnicas da razão que permitam dar uma explicação causal em sentido forte ou mesmo em sentido fraco do fenômeno investigado; c) a abstenção ou abstinência de juízos de valor, a assim chamada "avaloratividade”. Bonavides (2000, p. 54) aduz que sem o conhecimento dos aspectos econômicos em que se baseia a estrutura social, dificilmente se poderia chegar à compreensão dos fenômenos políticos e das instituições pelas quais uma sociedade se governa. Reputa-se pacífico o entendimento de cientistas políticos como Burdeau para reconhecer no fato econômico “o fato fundamental de politização da sociedade”. Assinalando o grau próximo de parentesco entre as disciplinas da ciência política e da economia, Burdeau assevera que estão unidas por laços de “consangüinidade” e constituem uma única ciência. O fato de a Economia Política haver transitado de sua velha acepção de ciência das riquezas para a moderna acepção de ciência dos comportamentos econômicos, em nada alterou a conexidade dos dois ramos, podendo-se, em verdade, passar da análise econômica a uma política econômica, e da política econômica para uma ação política. 2.2. Fato Político Para Burdeau (1964) e Azambuja (2008, p. 33), fato político é todo fato, ato ou situação concernente à formação, estrutura ou atividade do poder do Estado. Para Burdeau não há fatos políticos por si mesmos, por natureza. Qualquer fato pode tornarse político, muito embora não se possa negar que existam fatos que sempre serão políticos, como exemplo, o Estado, um partido político, um Parlamento. Esses nunca deixarão de ser políticos, ainda que possam ser vistos por outros aspectos. 75 Para Maquiavel (1513), política é a arte de conquistar, manter e exercer poder ou governo. Seriam, portanto, os fatos políticos, os acontecimentos ou atos direcionados à conquista, manutenção, exercício do poder, exercício do governo, e, também, os atos e fatos direcionados à conquista do poder ou governo. 2.3 Acerca de Implicações Econômicas Conforme Kumar (2008, p. 19), a economia teve duas origens, ambas relacionadas à política, porém relacionadas de modos diversos, respectivamente concernentes à "ética", de um lado, e ao que poderíamos denominar “engenharia” de outro. A tradição ligada à ética remonta a Aristóteles. Logo no início de Ética a Nicômaco, Aristóteles associa o tema da economia aos fins humanos, referindo-se à sua preocupação com a riqueza. Ele considera a política “a arte mestra”. A política tem de usar as demais ciências inclusive a economia. O estudo da economia, embora relacionado imediatamente à busca da riqueza, em um nível mais profundo está ligado a outros estudos, abrangendo a avaliação e intensificação de objetivos mais básicos. Para Aristóteles (1998), a vida empenhada no ganho é uma vida imposta, e a riqueza não é o bem que buscamos, sendo ela apenas útil e no interesse de outra coisa. A economia relaciona-se ao estudo da ética e da política, e esse ponto de vista é elaborado na Política de Aristóteles. Sendo, pois, o objetivo maior da Economia, o bem comum. Todo fato político deverá atender seu objetivo maior que é o bem da coletividade. Sendo esta apenas o caminho para se chegar ao fim maior. 76 2.4 Acerca de Implicações Éticas Segundo Moreira (1999), ética é o rol dos conceitos aplicáveis às ações humanas, que fazem delas atitudes compatíveis com a concepção geral do bem e da moral. Conforme Cortina e Martinez (2005, p. 9), a ética é um tipo de saber normativo, é um saber que pretende orientar as ações dos seres humanos. A moral também é um saber que orienta para ação, contudo, a ética remonta à reflexão sobre as diferenças morais e as diferentes maneiras de justificar racionalmente a vida moral, de modo que a maneira da ética de orientar a ação é indireta, indica qual concepção moral é mais razoável, para que, a partir dela, possamos orientar nossos comportamentos. Na classificação aristotélica, os saberes práticos abarcavam a Ética, saber prático destinado a orientar a tomada de decisões prudentes que nos levam a conseguir uma vida boa, a Economia, saber prático encarregado da boa administração dos bens da casa e da cidade e a Política, saber prático que tem por objeto o bom governo da polis. Segundo Cortina e Martinez, frequentemente utiliza-se a palavra “ética” como sinônimo do que chamamos de “moral”, esse conjunto de princípios, normas, preceitos e valores que regem a vida dos povos e dos indivíduos. A palavra “ética” passou a significar o caráter, o modo de ser que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo da vida. Então, os termos “moral” e “ética” aparecem intercambiáveis em muitos contextos cotidianos. Fala-se de uma atitude ética para designar uma atitude moralmente correta segundo determinado código moral. Ou diz-se que um comportamento foi pouco ético para designar que não se ajustou aos padrões habituais da moral vigente. 77 Weber (1974 como citado em Teixeira, 1999) diz que os valores políticos não podem ser reduzidos a valores éticos; o universo da política não se confunde com o da ética. Em um mundo concebido como uma totalidade hierarquizada, cada dimensão tem uma ética particular que se integra ao todo, segundo uma cosmologia que atribui preceitos distintos a inserções distintas (como ocorre, por exemplo, na ordem de castas indiana e na doutrina de salvação cristã). Mas a ética no mundo moderno constitui-se a partir de valores universalistas e igualitários, toma como referência o indivíduo e faz exigências absolutas à sua consciência. Para Teixeira (1999), ao contrário do que ocorre na esfera da ética, o dever político tem como referência o indivíduo enquanto membro de uma coletividade historicamente definida, e não o indivíduo como um valor em si. O político é um indivíduo que vive e se move em configurações socioculturais específicas, em um duplo sentido: por um lado, o que ele está disposto e inclinado a reconhecer como um princípio de validade geral depende de suas próprias convicções íntimas e, estas, ele adquiriu como participante em um determinado mundo; por outro, sua condição de pertencimento leva-o a ter de responder por suas ações em face e a partir do grupo social e cultural em que se insere. A política constitui-se, assim, sobre valores particularistas, mas, ao mesmo tempo, não pode abdicar de preceitos éticos, na medida em que engendra deveres e virtudes que, se específicos a essa esfera, nela se pretendem valores universalizáveis. Para Weber, a especificidade do dever político está no exercício ponderado da responsabilidade, entendida como capacidade de agir e de responder pela retidão e eficiência da conduta em situações concretas. Seria, portanto, inerente à própria construção do sujeito político comprometer-se, no duplo sentido que esta ação 78 comporta: assumir compromisso e comprometer outrem. A condição de pertencer mostra-se, assim, intrínseca à vida política. 2.5 Acerca de Implicações Sociais Segundo Daft (1999), a responsabilidade social é a obrigação da administração de tomar decisões e ações que irão contribuir para o bem-estar e os interesses da sociedade e da organização. O Instituto Ethos (2003) considera que a responsabilidade social vai além da postura legal da empresa, da prática da filantropia ou do apoio à comunidade. Significa mudança de atitude, numa perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade das relações e na geração de valor para todos. Segundo Romaniello e Amâncio (2005), a responsabilidade social empresarial está entre as tendências mais importantes que influenciam a teoria e a prática da administração neste início do novo milênio e está sendo, também, pauta de discussão em várias organizações. Hoje, espera-se que as empresas ajam como os cidadãos responsáveis e, cada vez mais, a sociedade está exigindo isso delas; que elas devolvam, por meio de benefícios e boas ações, tudo o que elas utilizam a sociedade, como matéria-prima e mão-de-obra, por exemplo. Para os autores, a responsabilidade social é um modelo de gestão centralizado no desenvolvimento social; uma empresa socialmente responsável é aquela que tem a capacidade incorporar ao planejamento de suas atividades os interesses dos acionistas, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente, buscando atender às suas demandas. 79 Como conseqüência de uma orientação empresarial com responsabilidade social, as empresas ganham confiança do mercado e esta confiança é uma grande vantagem competitiva, pois organizações confiáveis atraem a lealdade à marca, o interesse dos consumidores, a comunicação boca-a boca positiva, a lucratividade e a maior participação no mercado (Romaniello e Amâncio, 2005). No que se refere às implicações sociais na Administração Pública, convém verificarmos a razão de ser do Estado, para Azambuja (2008, p.18), o Estado é uma sociedade, pois se constitui essencialmente de um grupo de indivíduos unidos e organizados permanentemente para realizar um objetivo comum. E se denomina sociedade política, porque, tendo sua organização determinada por normas de direito positivo, é hierarquizada na forma de governantes e governados e tem uma finalidade própria, o bem público. E será uma sociedade tanto mais perfeita quanto sua organização for mais adequada ao fim visado e, quanto mais nítida for à consciência dos indivíduos a representação desse objetivo, e a energia e a sinceridade com que a ele se dedicarem. Na avaliação da realização social, Aristóteles relacionou-a a finalidade de alcançar o bem para o homem, mas apontou algumas características especialmente agregativas no exercício. “Ainda que valha a pena atingir esse fim para um homem apenas, é mais admirável e mais divino atingi-lo para uma nação ou para cidadesestados” (Ética a Nicômaco, 2001, p.2). 2.6 Acerca de Implicações Contábeis O objetivo da contabilidade e refletido - exposto por meio das suas mensurações, evidenciações – demonstrações é fornecer informações sobre a posição patrimonial e 80 financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. As demonstrações contábeis atendem, portanto, às necessidades comuns da maioria dos usuários. Entretanto, conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 00 (R1/2011), pronunciamento conceitual básico sobre a estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, elas não fornecem todas as informações que os usuários possam necessitar, uma vez que elas retratam os efeitos financeiros de acontecimentos passados e não incluem, necessariamente, informações não financeiras. Demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da Administração na gestão da entidade e sua capacitação na prestação de contas quanto aos recursos que lhe foram confiados. Aqueles usuários que desejam avaliar a atuação ou prestação de contas da Administração fazem-no com a finalidade de estar em condições de tomar decisões econômicas que podem incluir, por exemplo, manter ou vender seus investimentos na entidade ou reeleger ou substituir a Administração. As demonstrações contábeis e suas informações são constituídas por dois pressupostos básicas: a) Regime de Competências - as demonstrações contábeis preparadas pelo regime de competência informam aos usuários não somente sobre transações passadas envolvendo o pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas também sobre obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no futuro; e b) Continuidade – as demonstrações contábeis são normalmente preparadas no pressuposto de que a entidade continuará em operação no futuro previsível. Dessa forma, presume-se que a entidade não tem a intenção nem a 81 necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala das suas operações; se tal intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis terão que ser preparadas numa base diferente e, nesse caso, tal base deverá ser divulgada. Além dos pressupostos, as demonstrações – informações contábeis são legitimadas por atributos de características qualitativas como: a) Compreensibilidade uma qualidade essencial das informações apresentadas nas demonstrações contábeis é que elas sejam prontamente entendidas pelos usuários; b) Relevância – para serem úteis, as informações devem ser relevantes às necessidades dos usuários na tomada de decisões; c) Confiabilidade – para ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre de erros ou vieses relevantes e representar adequadamente aquilo que se propõe a representar; d) Comparabilidade – os usuários devem poder comparar as demonstrações contábeis de uma entidade ao longo do tempo, a fim de identificar tendências na sua posição patrimonial e financeira e no seu desempenho. Portanto, a relação das Ciências Contábeis com as Ciências políticas, primeiramente, deve impactar na conduta politizada do profissional de contabilidade e posteriormente, refletir na clarificação e transparência do controle nas relações econômicas e financeiras entre entidades políticas (partido político e atividades políticas exercidas por entidade constituída juridicamente e/ou por desempenho econômico e financeiro no exercício de cargos políticos) com entidades privadas, públicas e/ou civil. Diante do exposto teórico apresentado, vislumbra-se que, todo ato ou fato político deverá atender o bem comum (com ética, transparência e responsabilidade), pois essa é a razão de existir da política, do Estado e das ações de governo. 82 3. Metodologia Uma pesquisa científica pode ser classificada, segundo Siena (2009), em quatro aspectos: quanto aos objetivos, quanto à forma de abordagem, quanto à natureza, e quanto aos procedimentos adotados. Quanto aos objetivos, o presente trabalho pode ser visto como pesquisa exploratória, pois foi desenvolvido para obter maior familiaridade com o problema para torná-lo explícito ou para construir hipóteses, e descritiva, pois objetiva a descrição das características de certa população ou fenômeno e estabelecer relações entre variáveis. Quanto à forma de abordagem, como qualitativa e seu escopo metodológico orientou-se pelo conhecimento baseado na teoria contemporânea, o conhecimento de fatos políticos nacionais publicados na Revista Veja nos últimos dez anos e a leitura efetuada pelos alunos do quarto período do curso de graduação em Ciências Contábeis acerca dos fatos políticos pesquisados. Segundo Richardson (2007 como citado em Siena, 2009, p. 62), a pesquisa qualitativa tem um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. Quanto à natureza, como pesquisa aplicada, a geração de conhecimentos visando aplicação prática, direcionados para a solução de problemas específicos. Quanto aos procedimentos adotados, defini-se como de análise de conteúdo. O tratamento dos fatos desenvolve-se em oficinas de estudos pelos discentes do quarto período do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Rondônia no primeiro semestre do ano de 2010. E para a categorização, levaram-se em consideração 83 as fases de análise descritas por Oliveira (2008), definindo-se em pré-análise; codificação composta das unidades de: registro, contexto, construção de categorias e análise categorial; e tratamento dos resultados: inferência e interpretação. As oficinas de trabalho tiveram como finalidade propiciar condições básicas para que o acadêmico fosse capaz de entender e analisar fatos políticos sob os aspectos éticos, econômicos e sociais, utilizando a consciência da integralidade ambiental dos fatos e suas conseqüências em todas as esferas: éticas, econômicas, sociais e políticas, a fim de gerar decisões gerenciais conscientes da inter-relação de todas as matérias e fatos. Para instrumentalizar o procedimento foi elaborado quadro com os tópicos unidade de registro, unidade de contexto, categorias dos trabalhos apresentados, análise categorial e inferência. Registra-se que todos os aspectos metodológicos aplicados, transcorreram-se na aplicação da disciplina Noções Básicas de Ciências Políticas, para o Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com carga horaria de quarenta horas, cujos componentes principais do plano de aulas consistiam-se em: Objetivos: compreender e relacionar a ciência política com as demais ciências sociais, principalmente, com as ciências: contábeis, administração, jurídica e econômica; conhecer os principais fundamentos do estado, governo e sociedade; compreender os conceitos: de ciência, de ciência política e de filosofia política; identificar e relacionar os principais componentes da ciência política no ambiente das ciências sociais; debater e compreender aspectos formais e comportamentais dos sistemas eleitorais; 84 debater e compreender aspectos formais e comportamentais dos sistemas de partidos e do partido político no Brasil; debater compreender aspectos formais e comportamentais dos grupos de pressão e a tecnocracia; debater compreender aspectos formais e comportamentais da opinião pública; debater compreender aspectos e possibilidades da política (ideias para a reforma democrática do Estado); e associar os conceitos e aspectos formais e comportamentais da ciência política ao perfil do cidadão–profissional de contabilidade, frente às inovações e transformações no saber contábil; Ementário: Estado, Poder, Governo: estudo do Estado, o Estado e o poder, o fundamento do poder, Estado e direito, as formas de governo, as formas de Estado, o fim do Estado, a democracia na teoria das formas de governo, a democracia dos modernos; conceito de ciência e o conceito de ciência política; a ciência política e as demais ciências sociais: ciência política e o direito, ciência política e a economia, ciência política e a administração, ciência política e a contabilidade (estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis), a sociologia política – uma nova ameaça à ciência política; sistemas eleitorais; os sistemas de partidos – o partido político no Brasil; os grupos de pressão e a tecnocracia; a opinião pública; as possibilidades da política: ideias para a reforma democrática do Estado; o profissional de contabilidade e a interfase com a ciência política; Estratégias: aulas expositivas; estudos dirigidos; pesquisas orientadas; simulações e oficinas empíricas; seminários – workshops. 85 4. Análise dos Dados e Resultados Após a realização de oficinas de estudos pelos discentes do quarto período de Ciências Contábeis no primeiro semestre do ano de 2010, constatou-se a relevância do conteúdo de Ciências Políticas para os cursos de negócios, pois as decisões interferem no cotidiano da profissão e resultam em implicações nas questões econômicas, éticas e sociais, cenário de atuação dos profissionais. As oficinas tiveram como tema, diversos cenários de atuação política. Consoante às etapas da análise de conteúdo descritas por Oliveira (2008), na categoria das implicações éticas, econômicas e sociais de fatos políticos, o tema mais marcante, que foi objeto de quatro das sete oficinas realizadas, foi o fenômeno da corrupção no Brasil. Foi trazido a lume: 1) esquema de corrupção que adiantava o pagamento de propina a parlamentares em 2006, 2) corrupção no governo do Distrito Federal em 2009, 3) corrupção no Senado e conivência do seu Conselho de Ética, em 2007, e 4) propinas pagas regularmente a parlamentares na intenção de obter votos favoráveis nas Casas Congressuais pelos representantes do Poder Executivo Federal em 2005. Em todos os casos trazidos à colação, a conclusão foi que os fatos negativos ligados à corrupção no Brasil afetaram a moralidade ética da classe política e geraram e geram desajustes na economia pelo desvio de recursos destinados ao bem estar social, que é o fim precípuo da política, consoante Aristóteles (1998). Outro assunto registrado na mesma categoria foi à ação violenta promovida pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) e a descoberta de materiais de guerrilha urbana em seu poder, tendo como unidade de contexto a existência de ligação de autoridades do Governo Federal com os líderes do Movimento, em 2009. 86 Na visão dos alunos, esse fato político afeta a moralidade ética brasileira pela não aplicação da legislação e gera conseqüências econômicas por ameaçar as propriedades privadas produtivas, desestabilizando o quadro social instituído na aplicação das penalidades cabíveis. Para evitar maiores desastres e coibir a disseminação da violência, o governo federal deveria utilizar as prerrogativas que lhe confere a Constituição na aplicação das penalidades cabíveis. Na categoria implicações econômicas de fatos políticos, o cenário foi o Estado como órgão regulador da economia no caso da crise mundial das Bolsas de Valores ocorrido em 2008. A conclusão dos alunos foi que o Estado brasileiro conseguiu atenuar os efeitos da crise econômica, servindo como agente regulador da economia, fato que afetou positivamente a economia brasileira conseguindo proporcionar o bem comum, fim do Estado. Outro fato registrado na categoria implicações econômicas de fatos políticos foram os atritos gerados nas comunidades internacionais, no episódio em que Brasil e Argentina se desentenderam quanto a atitudes de cada um dos países referente à Comunidade do MERCOSUL, em 1999, quanto ao comércio entre esses países. No entendimento dos alunos do quarto período que apresentaram o tema foi de que ambos os países estavam ocupados apenas com suas próprias economias, esquecendo o objetivo da existência do MERCOSUL que é a interação e facilitação comercial para os países integrantes. Atitudes, essas, que afetaram a economia de ambos os países e prejudicou a finalidade precípua da comunidade que é a facilitação do comércio e serviços entre os países. 87 Conclusão Ao término do presente, pode-se concluir que a disciplina de ciências políticas encontra-se agregada intrinsecamente a todas as demais ciências e disciplinas, pois não há como separar a organização da polis e a sua forma de agregar os seres de sua comunidade de forma compartimentada. A política é o elemento agregador de tudo o que ocorre no Estado, de modo que o profissional de ciências econômicas deve estar inteirado os acontecimentos políticos no Estado Moderno, em âmbito mundial, haja vista a globalização do mercado e o que ocorre hoje em ponto do globo afetará inevitavelmente as organizações, ambiente de atuação desses profissionais. Levando-se em consideração a necessidade do entendimento e análise de fatos políticos e suas implicações econômicas, éticas e sociais conclui-se que o acadêmico de Ciências Contábeis deve ter ampla percepção do que ocorre no seu entorno político, econômico e social para desenvolver as atividades do seu labor tendo consciência da interconexão de todos os temas de forma a proporcionar a assertividade na tomada de decisão na organização. O tema mais marcante foi o fenômeno da corrupção no Brasil e a conclusão foi que os fatos ligados à corrupção afetam a moralidade ética da classe política e do povo brasileiro, geram desajustes na economia pelo desvio de recursos destinados ao bem estar social, que é o fim precípuo da política. No atual cenário político-organizacional não mais cabem profissionais que olham apenas o seu próprio ofício sem visão holística de todas as disciplinas que compõem o cenário econômico mundial com suas implicações sociais, ambientais e políticas. 88 Estar consciente da vida da polis é dever do profissional de negócios no exercício de sua atividade, pois proceder à decisão negocial sem considerar o contexto político geram decisões desconectadas da realidade negocial o que não contribuirá com a construção de organizações saudáveis para o atual contexto político mundial. Referências ARISTÓTELES. A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. _________. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2001. AZAMBUJA, D. Introdução à ciência política. 2 ed. revista e ampliada. São Paulo: Globo, 2008. __________. Teoria Geral do Estado. 2 ed. revista e ampliada. São Paulo: Globo, 2008. BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. BONAVIDES, P. Ciência política. 10 ed. revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2000. BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. CPC 00 (R1/2011) – Pronunciamento Conceitual Básico: estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. CORTINA, A. & Martínez, E. Ética. São Paulo: Loyola, 2005. COSTA, N. N. Curso de Ciências políticas. Rio de Janeiro: Forense, 2001. KUMAR, A. S. Sobre Ética e Economia. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. LEISINGER, K. M. & Schmitt, K. Ética empresarial, responsabilidade global e gerenciamento moderno. Tradução de Carlos Almeida Pereira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. MACHIAVELLI, N. O Príncipe. 1513. Florença. LCC Publicações Eletrônicas. Resgatado em 04 de julho, 2010, de: http://www.culturabrasil.pro.br/oprincipe.htm. MAGALHÃES, L. E. R. O papel das organizações na formação ética dos cidadãos. Resgatado em 02 de julho, 2010, de: http://publica.fesppr.br/index.php/rnti/article/view/v1n1ART4/88. MOREIRA, W. W., Simões, R. & Porto, E. Análise de conteúdo: técnica de elaboração e análise de unidades de significado. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. 2005; 89 107-114. Resgatado em 04 de julho, 2010, http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/viewFile/665/676. de: OLIVEIRA, D. C. Análise de conteúdo temático-categorial: uma proposta de sistematização. Revista Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, 2008. Out/dez, pp. 569-576. Resgatado em 04 de julho, 2010, de: http://lildbi.bireme.br/lildbi/docsonline/lilacs/20090500/409_v16n4a19.pdf. ROMANIELLO, M. M. & Amâncio, R. Gestão estratégica e a responsabilidade social empresarial: um estudo sobre a percepção dos estudantes do curso de Administração da Universidade Federal de Lavras. Revista de Administração – Edição 45. Vol. 11. No. 3, 2005. Resgatado em 02 de julho, 2010, de: http://www.read.adm.ufrgs.br/edicoes/pdf/artigo_352.pdf. SENGE, P. M. A quinta disciplina. Tradução OP Traduções. 16 ed. São Paulo: Best Seller. 2004. SOARES, L. E. A dignidade da ciência política e as interações do Brasil. 80 CEBRAP. São Paulo: 2008. Resgatado em 03 de julho, 2010, de: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002008000100016&script=sci_arttext&tlng=en. TEIXEIRA, C. C. Honra moderna e política em Max Weber. Mana. Vol.5 N.1. Rio de Janeiro. 1999. Resgatado em 09 de julho, 2010, de: http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0104-93131999000100005. WEBER, M. Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo: Cultrix, 1998. 90 O Ambientalismo em Sergipe após a criação da Lei do terceiro setor- Uma análise das ONGs e OSCIPs entre 1999 e 2011 Environmentalism in Sergipe after the creation of the Third Sector Law-An analysis of NGOs and OSCIPs between 1999 and 2011 Matheus Pereira Mattos Felizola1 Fernando Bastos Costa2 Resumo: A pesquisa teve por objetivo principal estudar o surgimento, o papel, e as possibilidades de reivindicação dos movimentos ambientalistas sergipanos, perpassando por uma análise entre o período de 1999 e 2011. Os procedimentos metodológicos focaram a pesquisa bibliográfica, análise detalhada de nove “movimentos” selecionados e entrevistas em profundidade, semi-estruturadas, com atores sociais ligados ao tema. Como conclusão, observou-se que muito mais importante do que a cooptação de alguns poucos personagens, foi a desmotivação que afugentou alguns da luta, das tentativas frustradas de buscar uma carreira política de outros, da ineficiência organizacional que não permitia ações mais ousadas e que embora tenha existido uma certa “profissionalização” das ONGS, esse trabalho não teve qualquer ligação com a efetividade da luta ambiental em Sergipe. Palavras-chave: ambientalismo; novos movimentos sociais; ONGs; OSCIPs Abstract: The research was aimed at studying the emergence, role, and potential environmental movements Sergipeans claim, the article provides an analysis of the period between 1999 and 2011. The methodological procedures focused on the literature, detailed analysis of nine "movements" and selected in-depth interviews, semi-structured interviews with social actors linked to the theme. In conclusion, we found that much more important than the cooption of a few characters, was the motivation that drove away some of the fight, the unsuccessful attempts to seek a political career of others, organizational inefficiencies that did not allow that and bolder actions although there was a certain "professionalisation" of NGOs that work had no connection with the effectiveness of environmental fight in Sergipe. Key words: Environmentalism; new social movements; NGOs; OSCIPs 1 Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Professor Assistente da Universidade Federal de Sergipe, e-mail: [email protected]. 2 Doutor em Ciências Sociais, vinculado ao doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte,e-mail: [email protected] 91 Introdução Em 2002, a Organizações das Nações Unidas-ONU convocou um novo encontro sobre a temática ambiental na Conferência sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Esse evento teve o nome de Rio + 10, e foi realizado em Johanesburgo, na África do Sul. Os países membros da ONU tinham como objetivo avaliar o avanço realizado nesse período de dez anos, o relatório dos compromissos firmados, os avanços realizados e uma análise geral do problema ambiental no mundo. Nesse evento, também se pretendia discutir novas possibilidades para uma reestruturação do formato de desenvolvimento sustentável aplicado e uma maneira mais eficiente de administrar essa problemática. Os resultados do encontro foram bastante desanimadores e a conferência terminou sem nenhuma grande estratégia para conter o problema ambiental. Após a decepção com a Rio +10, em Sergipe, várias mudanças aconteceram na questão ambiental, novas ONGs surgiram com um enfoque mais voltado para a atuação em demandas não atendidas pelo governo, despontam nesse período a ONG Viva Estância,3 fundada em 2002, o Centro de Pesquisas e Estudos Científicos e Sociais (CEPECS), 4 fundado em 2003 em Aracaju, a Organização Sócio-Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente – OSCATMA/BC,5 fundada em 2003 na cidade de Barra 3 A Viva Estância foi fundada em maio de 2002 e qualificada pelo Ministério da Justiça como organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) em 29/04/2003, sendo uma OSCIP socioambiental com forte atuação na cidade de Estância. 4 Surgida em 2003 e formada por um grupo de jovens universitários de Sergipe, seria chamada depois de Instituto Árvore, teve uma atuação irregular ao longo dos anos, com algumas ações isoladas ligadas ao meio ambiente. 5 Fundada em 2003, na cidade da Barra dos Coqueiros (Litoral Norte de Sergipe), tem atuação voltada para o Turismo e o Meio Ambiente. 92 dos Coqueiros, o movimento Ciclo Urbano6 e a Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo também designada pela sigla- ADCAR7, fundadas em 2007 na cidade de Aracaju. Além dessas instituições que foram investigadas na pesquisa, apareceram diversas outras que ganharam força no Estado. Ainda nessa década, começaram as mudanças estratégicas do Partido Verde no Estado e foi nesse período que o governo do Partido dos trabalhadores ganhou força no país e também internamente no Estado de Sergipe, vencendo as eleições em uma série de cidades do interior e na capital Aracaju, além de governar o Estado de Sergipe, desde 2002. Os movimentos sociais, desde a década de 2000 no Brasil, passaram a vivenciar o predomínio da política e das reformas estatais, fazendo emergir um novo campo de luta de dominação, em que foram compartilhados poderes políticos e econômicos, tratando de discutir as relações sociais, sob a ótica da lógica de mercado, e da inviabilidade ou incapacidade do Estado em atender os anseios e desejos da população. As manifestações surgidas nesse período, tiveram “eco” com as cobranças internacionais pela resolução dos nossos conflitos ambientais. Sendo que essa pressão internacional já era sentida, no final da década de 1980, com a morte do líder seringueiro Chico Mendes8. 6 A Associação tem por finalidade promover a utilização da bicicleta, como também o uso de outras formas de locomoção e transporte à propulsão humana, com integração ao transporte público motorizado, fiscalizando-o e propondo melhorias em sua qualidade e eficiência na cidade de Aracaju. 7 Com um enfoque socioambiental, a ONG vem desenvolvendo ações voltadas para a principal Zona de Expansão imobiliária e tem participação ativa na discussão do Plano Diretor em Aracaju. 8 Francisco Alves Mendes Filho, seringueiro desde criança, dedicou praticamente toda a sua vida à defesa dos trabalhadores e povos da floresta, sendo agraciado com vários prêmios internacionais e responsável por denúncias no Senado norte-americano e também no FMI, essas denúncias geraram um grande impacto e Chico foi acusado de tentar atrapalhar o crescimento no Acre.Chico Mendes foi assassinado em 22 de dezembro de 1988. Dados colhidos no instituto Chico Mendes. No dia 22 de dezembro de 1990 em matéria registrada no Jornal de Sergipe, o MOPEC (Movimento popular ligado ao meio ambiente) fez uma manifestação em uma escola pública de Sergipe, para lembrar a morte do ambientalista brasileiro, foi a única manifestação registrada em jornais proposta por ONGs no Estado de Sergipe. 93 Sinalizando desde o início, um afastamento do caráter da luta de classes, fundamental segundo a ótica marxista, onde se configurava os movimentos sindicais em torno do mundo do trabalho. Essas mudanças em volta do verdadeiro sentido da luta de classes e da emergência de conflitos culturais receberam da academia, a partir da década de 1970, o nome de teoria dos “novos movimentos sociais”. É partindo desse contexto apresentado, e após uma análise documental e bibliográfica, que se procurou fazer uma analogia entre o comportamento em Sergipe e as tendências observadas em nível internacional e nacional, no tocante à motivação e formação de movimentos ambientalistas, pois, até então, pouco se sabia a respeito desses movimentos em Sergipe e sua força de influência enquanto disseminadores das ideias de desenvolvimento sustentável e da conservação ambiental. Essa representação da problemática ambiental em Sergipe perpassou pelo aprofundamento da literatura da sociologia ambiental nas últimas décadas, quando um grupo de estudiosos (Beck 1997,1998; Dupuy 1980; Redclift 1987, 1997) começou a perceber a dinâmica nas agendas internacionais de governo, investigando as Organizações Não Governamentais, os próprios movimentos ambientais e também os efeitos no mercado internacional e forçando” os setores empresariais a adentrarem na temática. O trabalho em tela, surgiu a partir de um projeto “mãe” analisando o ambientalismo em Sergipe, e teve como objetivo específico identificar a atuação das organizações ambientais em Sergipe a partir da criação da Lei das Oscips que foi fundamental para ‘profissionalização” das Ongs no estado. 94 2- Metodologia 2.2-Entrevista com grupo focal Na percepção de Combessie (2004, p.51) “A entrevista de grupo substitui o face a face por um grupo tal de discussão. Ela tem desafio teórico. Trata-se de recolher uma “fala coletiva”, produzida na interação de grupo”. Em relação à necessidade de buscar maiores informações de uma determinada organização, que na pesquisa tinha importância fundamental, optou-se por fazer uma entrevista em grupo, envolvendo o diretor de meio ambiente atual da Sociedade de Estudos múltiplos Semear, o senhor José Waldson, a antiga diretora de meio ambiente e atual diretora de estudos múltiplos, a senhora Danielle Dutra e um importante ambientalista sergipano que participou de alguns projetos da Sociedade Semear e atualmente é Superintendente federal da Aquicultura e Pesca, o senhor Omar Pinto Monteiro9. A necessidade de analisar esse grupo de forma diferenciada foi para mensurar uma posição do grupo uniforme e comparar a percepção do José Waldson, na visão conflitante entre ser o diretor de uma OSCIP, extremamente importante para o meio ambiente em Sergipe, e ao mesmo idealizador de outra ONG que assumiu desde 2007 um importante papel no tocante à conscientização da importância do ciclismo, enquanto estratégia de mobilidade urbana, principalmente na cidade Aracaju. Utilizou-se entrevistas semiestruturadas com registro ou não de gravação. A entrevista com as lideranças foi baseada em um roteiro de entrevista previamente 9 Omar Pinto Monteiro teve participação decisiva na década de 2000 na construção da Rede de educação ambiental de Sergipe, sendo responsável pela moderação do grupo, tendo sido assessor de Ana Lúcia, deputada estadual pelo PT e uma importante liderança na área ambiental do Estado. 95 elaborado, mas que sofreu adaptações em cada entrevista realizada. Para alguns entrevistados algumas perguntas foram suprimidas, quando o pesquisador já tinha conhecimento dos dados, através de indagações anteriores, ou mesmo de trabalhos realizados por outros investigadores. 2.2 - Fases da pesquisa A pesquisa foi desenvolvida em sete etapas, previamente planejadas. 1ª etapa: Revisão bibliográfica: Consulta a fontes de dados secundárias. Conforme a bibliografia proposta. Foi realizada uma análise crítica, visando caracterizar conceitualmente os diversos temas relacionados à pesquisa, de acordo com os seguintes sub-temas: - Movimentos Sociais: Conceito, e diferenciação entre Velhos x Novos movimentos, histórico da luta ambiental mundial e brasileira, movimentos ambientais no mundo e no Brasil, movimentos ambientais em Sergipe, a evolução da comunicação dos movimentos sociais e a administração de organizações não governamentais; - mapeamento das manchetes jornalistas relacionadas ao movimento ambiental no período considerado; - investigação das principais lideranças do movimento ambiental. 2ª etapa: Mapeamento dos principais movimentos no período histórico de 12 anos (1999 até 2011). 3ª etapa: Consulta a fontes de dados primárias: Coleta de dados e materiais de pesquisa em localidades onde existiram movimentos ambientais em Sergipe. 96 - Visitas ao espaço físico, entrevistas com as lideranças, participantes e autoridades que foram partícipes do movimento. 4ª Etapa: Coleta contínua de dados, através de procedimentos metodológicos previamente definidos. 5ª Etapa: Sistematização contínua do material coletado, avaliação e registro dos resultados. 6ª Etapa: Análise do material obtido através da técnica da análise de conteúdo proposta por Bardin(2002), com a experiência de campo relacionando-o à contextualização teórica e críticas desenvolvidas nas etapas 1 e 2; 7 ª Etapa: Retorno ao campo para refazer entrevistas e rever o material escrito, bem como a análise dos dados. 8ª Etapa: Elaboração das conclusões do trabalho e redação final do artigo 3- Referencial teórico 3.1 - Movimentos sociais – Conceitos e premissas básicas A própria discussão entre a utilização do termo movimento social, a partir da visão das duas principais referências dessa pesquisa Touraine (1998 e 2003) ou ação coletiva na visão de Melluci (2001) é algo questionável e que tem em sua etimologia, grandes consequencias. Perpassar pelo conceito de ações coletivas é antes de tudo, afirmar certo esgotamento oriundo do discurso marxista, que tinha o conceito de “classe social” como estrutura principal. Nesse viés, e fazendo um contraponto com a percepção 97 de Picolotto (2008), os movimentos tradicionais ou clássicos têm tido pouco êxito na contraposição da exclusão humana gerada pelo avanço do mercado liberal e, portanto, muitos deles deslocam sua ênfase para a luta por direitos culturais, identidades locais e, alguns buscam construir “alternativas ao modo capitalista de produção e consumo”, sendo que, nessa dicotomia, estaria amparada a nova noção ou versão dos movimentos sociais. Na perspectiva de Scherer-Warren (2005, p17) “ A categoria de sujeito popular, para uns, e de ator social, para outros, passa a substituir a categoria de classe social, bem como a de movimento popular e/ou de movimento social substitui a de luta de classe [...]”. A autora citada ainda trata dessa mudança, em outros textos. Na visão de Melluci (2001), talvez pela sua formação acadêmica e conceitual, existe um real interesse pela própria dimensão interior do indivíduo, pois na sua ótica, as pessoas não são apenas influenciadas por condições macroestruturais. A partir dessa premissa, ter-se-ia, então, na ótica do autor, o surgimento dos diversos movimentos sociais, a partir da década de 1960. Esses movimentos, que se iniciaram como movimentos de mulheres, jovens, raciais e ecológicos, muito mais do que simplesmente o acesso aos bens e a tomada do poder. Questionam as condutas, práticas e códigos e a própria leitura da realidade. Aparentemente os grupos buscam a criação de novos símbolos culturais. Esses novos movimentos sociais, embora ainda tenham relativa ligação com as “disputas” de classe, também associação a exclusão de determinados grupos sociais, além de um claro interesse de engajamento com a tomada de decisão do espaço público, algo citado por (Doimo 1995; Scherer-Warren 2005; Melluci 2001). Na percepção de Melluci (2001), um movimento social não poderia ser considerado apenas uma resposta às crises sociais, e sim uma expressão focada na existência de um conflito social. O autor alerta ainda para o fato do movimento social, 98 sendo uma ação coletiva, demonstra a solidariedade manifestada através dos mesmos conflitos sociais. E como tal, para se analisar uma ação coletiva, seria fundamental entender as relações individualizadas do movimento, pois os movimentos contêm uma “pluralidade de significados“ e seria preciso analisar cada movimento para se ter a noção exata dos “dogmas” e “símbolos” inseridos em cada discussão. Melluci (2001), trás uma nova tipologia relacionada com os movimento de reivindicação, ou os movimento políticos e os movimento antagonistas, sendo que os movimentos de reivindicação estariam ligados às demandas pré-existentes em relação à sociedade. Enquanto os movimentos políticos estariam relacionados diretamente com ações referentes ao sistema político. Os movimentos antagonistas se ligam com a ação coletiva, que seria mais ampla e poderia atingir o questionamento de todo o sistema social. Na percepção do autor, existia uma diferenciação entre o conflito, do seu elemento antagônico que seria o consenso da maioria. É ponto pacífico de discussão, o fato de que a classe trabalhadora passou a um status mais complexo e difuso na visão de Solla (1996) e Tavares (2004), e consequentemente mais frágil no combate à exploração social, partindo da própria reorientação neoliberal dos conceitos modernos de trabalho. Torna-se fundamental a necessidade de novas leituras do capital e da identidade, embora o valor da “mercadoria” e a premissa da “mais valia”, conceitos tão próximos da realidade marxista, ainda permaneçam intactos no âmbito das novas estruturas sociais. Sendo assim, não seria possível novas demandas sociais, com novos atores, também estão associadas às interpretar o conceito de classe, como elemento formador da concepção do conflito social, e é preciso não esquecer que as reivindicações monetárias e têm fortes aspectos ideológicos e culturais. Fatores importantes foram associados à luta entre 99 empregadores e empregados, como a necessidade do respeito às condições de gênero, a informalidade nas relações de trabalho, e a globalização do trabalho, são esses elementos, formadores de um novo campo de luta do capital. Partindo dessa perspectiva, e de acordo com autores, como Castells (2008) e Offe (1982) a própria ideia de classe social perdeu seu poder, devido principalmente ao esgotamento da centralidade do trabalho, enquanto categoria reguladora das relações sociais. Na ótica de Dalton (2005), o que move os movimentos sociais é seu ponto de vista ideológico e sua identidade política. Na percepção do autor, a partir dessas premissas é possível traçar os objetivos políticos e os potenciais de ação, definindo assim os padrões de comportamento. Ele conclui que os movimentos sociais são movidos por seus pontos de vista ideológicos e identidades políticas e que essas formam a sua escolha de objetivos políticos, o seu potencial para a ação, e seu padrão de comportamento. Na percepção de Melluci (2001), um movimento social não poderia ser avaliado apenas como uma resposta às crises sociais, e sim uma expressão ou um reflexo focado na própria existência de um conflito social, sendo assim um movimento social enquanto ação coletiva demonstraria a solidariedade manifestada através dos conflitos sociais. Partindo desse pressuposto, para que se analise uma ação coletiva, é fundamental entender as relações individualizadas do movimento, pois uma organização contém uma “pluralidade de significados“, enquanto terreno fértil para as demandas coletivas. 100 Na perspectiva de Gonh (2009, p.62) : [...] Um movimento social com certa permanência é aquele que cria sua própria identidade a partir de suas necessidades e seus desejos, tomando referentes com os quais se identifica. Ele assume ou “veste” uma identidade pré-construída apenas porque tem uma etnia, um gênero ou uma idade. [...] Outro ponto importante para discussão é a efetiva autonomia dos movimentos sociais, enquanto ações coletivas isoladas de outras relações sociais, pois embora autônomos em certas questões, torna-se impossível analisar de forma separada o seu desenvolvimento. Isso sem fazer uma alusão às relações político-partidárias, as relações com o Estado, com as empresas particulares e com todos os entes da esfera pública, que de alguma maneira tenham relação com as temáticas discutidas nos novos movimentos sociais. A autora em questão ainda discorre sobre esse assunto. [...] A maioria dos que autodenominam movimentos, ou pior, aos quais é atribuída a condição de ser ou representar um movimento, não tem um agir coletivo autônomo porque são monitorados, coordenados por normas, regras e escolhas externas presentes em projetos elaborados por terceiros (pode ser uma ONG ou um grupo político-partidário, ou ainda um grupo de uma secretaria estatal, nos marcos de uma política pública) [...] (GONH, 2009, p. 63) Scherer-Warren (1999) assenta que os movimentos sociais são reações à conjuntura histórico-social nos quais estão inseridos, resistindo por um projeto de mudança, emaranhando ilusão, dedicação e práticas efetivas. Heller (1993) adiciona a articulação por forças de instância, consentindo a emergência de sujeitos sociais coletivos. Para Gohn (2003), os movimentos sociais seriam forças propulsoras da sociedade, incumbidas da tarefa de apresentar resistência às explorações e potencializando as forças sociais, que estariam desmotivadas ou desorganizadas, para 101 partir para uma ação coletiva. Como se intui, os movimentos sociais são territórios de experimentação. Na perspectiva de Castells (2008,p.144) “[...] as três características determinantes de um movimento social: identidade, adversário e objetivo. [...]”, fazendo um contraponto com a perspectiva de Touraine (2003), que inúmera três esferas, o propositor da demanda, o adversário e o conflito propriamente dito. A grande inquietude do movimento ambiental, seria a dificuldade de apontar os adversários do conflito, dentro do campo de luta tão dinâmico e mutável. Os movimentos surgem para modificar as relações sociais e para questionar o posicionamento do Estado, partindo do próprio paradigma histórico-estrutural, na ótica de Bianchi (2010), ilustrado pela falta de capacidade do Estado em atender todas as demandas da sociedade. Tornando-se imperativo estudar o movimento social a partir da lógica das contradições do capital, por essa razão, antes de iniciar uma análise dos novos movimentos sociais, decidiu-se analisar os “antigos” movimentos a partir de uma ótica Marxista. O pesquisador Chileno Carlos Aldunate Balestra, em seu livro “El factor ecológico: Las mil caras del pensamiento verde” analisa o movimento social ambiental. A crescente força domovimento ambiental em prol da qualidadede vida, desencadeada a partir de 1962pela descriçao da catástrofe oriunda do livro Primavera Silenciosa de Rachel, fundamental para o ambientalismo. O aparecimentode uma tendênciaamplade desacreditar amodernidade, cujas instituiçõessão fundadasna razãoe operadas por meio da ciênciae tecnologia, as quais levariam o planeta para um desastre. (ALDUNATE, 2001, p.51, tradução nossa) 102 Em função dessa crise da modernidade, amparada a partir na própria crise do capital, ter relação direta com as mudanças na relação entre os empregados e os empregadores, partindo dessa visão, busca-se no próximo capítulo, interpretar a visão Marxista dos movimentos sociais. 3.2 - Novos movimentos sociais e os primórdios do ambientalismo moderno Um dos grandes desafios dos movimentos sociais a partir da década de 1960 foi lutar pelos direitos da classe trabalhadora, pois as sucessivas crises internacionais surgidas a partir de 1973 (crise do petróleo) acabaram fragilizando as relações patronais e gerando um clima de coercitividade da classe trabalhadora, essa fragilização em prol de uma “defesa” de mercado enfraquece a união das massas, a prática tipicamente neoliberal resulta em uma nova lógica do capital, que com a desregulamentação trabalhista, repassa a ideia da necessidade de estar mais adaptado ao mercado como força fundamental para garantia da empregabilidade. Na ótica de Gohn (1997), o quadro analítico dos novos movimentos sociais aponta para uma gradual eliminação do foco de um sujeito determinado pela contradição do capitalismo. O que estaria em jogo aqui não seria mais a luta de uma classe social para a tomada do poder, o novo sujeito social é complexo, não pressupõe uma hierarquização, e está paradigmado nas próprias amarras da modernidade. Embora esse sujeito faça exigências adaptadas a uma nova modernidade, ela também faz severas criticas pelo caminho percorrido. Em relação à política, ela ganha status central na analise, dimensão social que abarca todas as práticas sociais. A análise agora deveria percorrer as relações micro sociais e culturais, a identidade e a ação coletiva são 103 analisadas separadamente e a cultura passa a fazer parte da discussão. A análise dos novos movimentos privilegia os atores sociais, enquanto que o peso estruturante tende a perder sua real importância. Partindo de um combate “ético”, a reorganização neoliberal do capital, gera fenômenos como a terceirização e flexibilização das relações trabalhistas. Com essa nova estruturação de trabalho, o Estado passa a ser um ente parceiro do segundo setor, como regulador e interventor das relações socioeconômicas. A insegurança é o maior reflexo do neoliberalismo, essa estratégia é refletida no mercado de trabalho, na geração de renda, nas formas de contratação e na representação dos trabalhadores. Em suma, o clima terrorista forçava o trabalhador a manter seu emprego e não lutar por seus direitos. Isso está refletido nos "noventa dias" de experiência e nos estágios probatórios. Essa mudança no cenário está ligada diretamente ao esvaziamento e à fragmentação da classe operária em função da crescente situação de desemprego e do subemprego. A própria noção de incentivar o empreendedorismo, tão em voga a partir da década de 1990, seria mais uma estratégia de solidificação das premissas neoliberais. Siqueira (2002) traz uma visão interessante da dicotomia entre os antigos e novos movimentos sociais ao afirmar Os movimentos sociais, sejam novos ou tradicionais, encontram-se contextualizados em meio às essas transformações ocorridas na economia, a expansão dos mercados, marcados pela profunda crise estrutural da economia mundial e pelas mudanças nos modelos de organização da produção e do trabalho sob inspiração Fordista para um padrão de flexibilização das relações de trabalho e produtivas baseadas no Toyotismo. (SIQUEIRA, 2002, p. 10) Touraine (1977), ao analisar o movimento social, faz uso da concepção de uma ação conflitante de agentes classistas em busca do controle do sistema, ou seja, o autor 104 não abandona completamente o pressuposto marxista, embora na sua ótica o sistema de disputa tenha além da óbvia conotação social, também um aspecto relacionado a cultura e seus confrontos ideológicos. A própria noção da identidade a partir da ótica do ator, a analise do adversário da luta e a partir da visão totalizante ou aquilo que está em jogo no conflito social, em sua perspectiva, existem três tipificações dos movimentos: Os movimentos sociais, os movimentos culturais e os movimentos históricos. Antes de adentrar nas tipificações, torna-se mister verificar que na ótica do autor, o ator social não estaria apenas agindo de acordo com a posição dentro dos organismos sociais, mas seria aquele que produz novos conceitos e paradigmas culturais, rompendo com os padrões sociais estabelecidos, então esse novo sujeito não tinha um campo de disputa linear nos novos movimentos sociais, pois o ator social, poderia estar lutando contra ou a favor de personagens importantes da esfera de disputa, essa percepção aparentemente corrobora com a visão de Gadea (2005). Ainda segundo o autor, os movimentos a partir de 1960 não deveriam ser chamados de movimentos societais, mas de movimentos culturais apenas, visto que as ações coletivas desses tendem a defender ou a transformar uma figura em sujeito. Na opinião de Touraine (2003), na sociedade pós-industrial, o movimento ecológico e outros relacionados à defesa de minorias ganham mais sentido, a partir da noção da origem ou de pertencimento ao grupo, e quanto esses movimentos adentram para um conflito classista, entram em contradição e perdem as raízes do entendimento lógico. Para Touraine (2003), os movimentos sociais devem agir como mediadores dos conflitos entres os sujeitos e o Estado, a partir da necessidade de formação de sujeitos livres e com autonomia, para alcançarem o objetivo de mediadores do conflito entre os 105 interesses da cidadania e o próprio Estado, na construção de um real direito democrático. Na ótica de Dalton (1994) o que move os movimentos sociais é seu ponto de vista ideológico e sua identidade política, na percepção do autor a partir dessas premissas é possível traçar os objetivos políticos e os potenciais de ação, definindo assim os padrões de comportamento. Ele conclui que os movimentos sociais são movidos por seus pontos de vista ideológicos e identidade política e que essas formam a sua escolha de objetivos políticos, o seu potencial para a ação, e seu padrão de comportamento. Os movimentos sociais a partir da década de 1990, no Brasil passam a vivenciar o predomínio da política e das reformas estatais, surgindo um novo campo de luta de dominação, onde são compartilhados poderes políticos e econômicos, tratando de discutir as relações sociais, sob a ótica da lógica de mercado, e da inviabilidade ou incapacidade do estado de atender os anseios e desejos da população. Pode-se dizer que a própria evolução do capitalismo, enquanto fonte de desenvolvimento das forças antagônicas de mercado, trouxe a reboque a necessidade populista de desenvolvimento de estratégias de comando, envolvendo modificações na estrutura dos processos sociopolíticos e culturais que envolvem as classes sociais. O risco cada vez mais eminente de problemas provocados pelo desrespeito à natureza começava a fazer parte do cotidiano, a despeito desse posicionamento Giddens (2001, p.36) afirma 106 A melhor maneira que encontrei para clarificar a distinção entre os dois tipos de risco é a que se segue. Podemos afirmar que em todas as culturas tradicionais, e também na sociedade industrial até ao início desta época, os seres humanos tinham de se preocupar com os riscos originados pela natureza exterior, más colheitas, inundações, pragas ou fomes. Contudo, a certa altura, muito recente em termos históricos, começamos a preocupar-nos menos com o que a natureza pode fazer e mais com aquilo que nós fizemos à natureza. Essa nova percepção de risco, evidentemente tem ligação direta com todo o discurso ambientalista, que foi a tônica a partir da década de 1960, em contraponto a noção de risco, tão comum no período da Guerra Fria, associada a uma necessidade urgente de rever conceitos primários em relação ao consumo exacerbado e de uma ausência de espiritualidade, apoiado às novas tecnologias ligadas ao uso de energia nuclear, é nesse clima de pessimismo e de risco eminente que grupos começam a lançar ideais sustentáveis em buscar de uma reordenação na estrutura administrativa. O próximo capitulo, evidencia a necessidade de uma discussão mais apropriada na esfera ambiental, fazendo uma relação entre a emergência dos novos movimentos sociais, que encontraram no movimento ambiental o apelo emocional e midiático, principalmente a partir da década de 1960, foi com esse intuito, que decidiu-se analisar os autores que dissecaram a discussão ambiental, amparados em um histórico de lutas e conquistas dos movimentos. 107 3.3- A estrutura das organizações terceira fase do movimento ambiental em Sergipe (2000-2011) A partir da Lei 9.790 de 23/03/99, também conhecida como lei do “terceiro setor”, o ministério da justiça criou um título para justificar a existência de um termo de parceria entre o governo e as ONGS, tanto nas esferas federais, estaduais e municipais, quanto na relação com as autarquias e mais recentemente com as agências reguladoras. A partir dessa lei, toda associações de direito privado sem fins lucrativos são qualificadas pelo poder público como OSCIP, a partir da leitura de (Barbosa 2001; Ferrarezi 2002, 2003). Ao adequar seus estatutos à Lei, podem formalizar parcerias com o governo. Para isso, é preciso que o estatuto da instituição seja aprovado pelo Ministério da Justiça, em outras palavras teoricamente qualquer organização não governamental poderia ser considerada uma potencial OSCIP, desde que tivesse cumprido as premissas legais. De acordo com Sherer- Warem (1999, p.31) [...] do ponto de vista formal, as ONGs são agrupamentos coletivos com alguma institucionalidade, as quais se definem como: Entidades privadas com fins públicos e sem fins lucrativos e contando com alguma participação voluntária (engajamento não-remunerado, pelo menos do conselho diretor)”. 108 O movimento ambiental em Sergipe, a partir do final da década de 1990, ganhou contornos mais profissionalizados. A interdisciplinaridade ou transdiciplinaridade típica dos novos movimentos, alimenta a junção entre as entidades ambientalistas e o ambientalistas “independentes” começam a penetrar em outras dinâmicas organizacionais e estruturais. Os grupos científicos começam a ganhar corpo na UFS – Universidade Federal de Sergipe, no então CEFET – Escola Técnica Federal de Sergipe e na UNIT- Universidade Tiradentes. O Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA está consolidado na UFS. Um dos melhores cursos de Geografia do Brasil está localizado em Sergipe, redes ambientais com a Rease – Rede de Educação Ambiental de Sergipe tem atuação no Estado e todas essas ações tem ligações com empresas estatais e privadas. Essa atuação em redes foi debatida por alguns autores , como (Machado 2007; Oliveira 2006, 2007). Nessa década também tem-se a popularização da internet no Estado de Sergipe as organizações começam a fazer suas divulgações na rede, pois, agora qualquer pessoa poderia ser “jornalista”. O novo formato força instituições conhecidas na cidade de Aracaju a mudarem sua estratégia e buscarem um novo formato de comunicação. O ambientalismo ganhou força em outros movimentos do Estado, tendo aproximação com o Movimento Sem-Terra - MST em seu projeto de Educação Ambiental para os jovens camponeses. Grupos que não estavam focados diretamente ao meio ambiente começam a aceitar projetos ligados à causa ambiental. Houve uma real aproximação entre o meio ambiente e a luta sindical, principalmente no tocante aos bancários e professores. Duas figuras despontam nesse período, o senhor “Chico 109 Buxinho”10, e a senhora Ana Lúcia11, que anos mais tarde colocariam em suas pautas questões ligadas diretamente ao movimento ambiental. Dados coletados através de pesquisas 200812, contabilizam 2100 organizações não governamentais no Estado, incluindo nessa contagem, todas as associações, fundações e igrejas, além das outras entidades, sendo que apenas 32 tinham a temática ambiental em seus propósitos. Foram observadas uma a uma, cada missão (razão de ser da organização) amparada a percepção de planejamento estratégico de cada instituição. A partir dessas missões, foi possível identificar quais os objetivos principais das organizações, possibilitando comparar se o discurso combinava com a prática. A maior parte dessas ONGs não tinha sede, não tinha equipe profissionalizada, não tinha estatuto ou qualquer outra prova jurídica de existência. Eram instituições amadoras, que despertavam a atenção do público por certos instantes e logo depois perdiam completamente o rumo. Os voluntários normalmente tinham alto Turnover13, nas reuniões, além do absenteísmo ser bastante alto, o entusiasmo inicial era trocado por uma grande decepção. A troca de informações entre as ONGs ambientais locais e ONGs nacionais e internacionais aumentou devido primeiramente à internet e ao grande número de fóruns, e conselhos diretivos, comitês de bacias, planos diretores, agendas 21, planejamentos participativos, conselhos de APAS e outras atividade que surgiram nesse período. Essas ONGs saíram do perfil de instituições de denúncia, e começam a buscar objetivos mais 10 Francisco dos Santos (Chico Buchinho), em 2011 era subsecretário de Articulação com os Movimentos Sociais e Sindicais e antigo sindicalista e defensor da causa ambiental no Estado. 11 Em 2011 era Deputada Estadual, com forte presença nas discussões ambientais do Estado. 12 Pesquisa realizada pelo pesquisador, juntamente com o diretor da OSCIP Instituto Árvore, o senhor Carlos Eduardo Silva, entre os anos de 2005 e 2008. 13 Na área de Recursos Humanos seria a troca excessiva de funcionários ou no caso da ONGs de voluntários, que acabam perdendo a motivação para continuar no grupo. 110 concretos, ao invés de apenas apontar problemas. Elas se transformam em realizadoras e idealizadoras de projetos. As ONGs começam a buscar segmentos específicos de mercado para continuar atuando, exemplo disso é a Sociedade Semear, que se considera uma ONG de estudos múltiplos e fomentadoras de propostas da sociedade civil. Então as ONGs sergipanas também têm em seus quadros consultores especialistas na gestão de capacitações, eventos, cursos e outras atividades. Estrategicamente uma das principais “vantagens” de se tornar uma OSCIP é a possibilidade de remunerar seus dirigentes e, mesmo assim, continuar usufruindo dos benéficos fiscais. Na teoria, o surgimento das OSCIPS, acabou gerando uma possibilidade de aumentar a transparência administrativa, além de uma maior agilidade e velocidade na execução dos serviços e na prestação de contas, associada à possibilidade de planejar e analisar os resultados de maneira mais profissionalizada. A lei do Terceiro Setor foi criticada por Montaño (2005, p.47) [...] esta parceria entre o Estado e as “organizações sociais” (instituída mediante a Lei n 9.790, de 23 de março de 1999), mais do que um estimulo estatal para a ação cidadã, representa a desresponsabilização do Estado da resposta à “questão social” e sua transferência para o setor privado (privatização), seja para fins privados (visando o lucro), seja para fins públicos. As organizações surgidas a partir de 2000 em Sergipe, já são criadas com foco voltado para obter recursos oriundos do FNMA-Fundo Nacional de Meio Ambiente e também das empresas privadas que “patrocinam” as organizações, o próprio Ministério do Meio Ambiente, torna-se parceiro das organizações, funcionando hora como 111 mediador, em outros momentos em total parceria. O objetivo já está ligado diretamente à estrutura administrativa de cada organização. Uma importante divisão para essa pesquisa surgiu da perspectiva de SchererWarren (1999, p. 69 e 70), onde a autora classifica categorias de organizações não governamentais como ONGs, internacionais como Greenpeace e nacionais como a Fundação Mata Atlântica, sendo “organismos privados com fins públicos”, a partir dessa premissa poderíamos incluir o MOPEC, a ASPAM, O CICLO URBANO, A ONG ÁGUA É VIDA. A autora ainda tipifica as OIGS, que são organizações intra governamentais, e não atuam apenas como idealizadoras de ações estatais, mas também abrem espaço para a comunidade participar, essas OIGS atuam de forma global, a autora cita o exemplo da UNCED (conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento) que foi a organizadora das conferências internacionais, como a Rio 92, e mediadora entre ações governamentais e a sociedade civil. Ainda dentro das tipificações, existem o que autora chama de MECs, que seriam movimentos ecologistas comunitários que se formam quando atores diversos (organizações de base, associações de bairro, ONGs locais e outros cidadãos) se articulam em torno de um problema socioambiental local. Nessa conceituação, pode-se incluir aqui a AMABA, sendo os MENs os movimentos ecologistas nacionais, a partir da articulação entre as ONGS, os movimentos ambientalistas e os cidadãos, quando essa ação se dá em escala nacional, como exemplo a autora cita o Fórum Brasileiro de ONGS e movimentos sociais, por fim a autora tipifica as METs que seriam os movimentos transnacionais que seriam as redes transnacionais que são mobilizadas como força de pressão. 112 Ao analisar as ONGs sergipanas, seria possível acrescentar os “fins políticos” dessas organizações surgidas após o final da década de 1990. Na ótica de Montaño (2005, p.57) As chamadas organizações não-governamentais (ONGs), quando hoje passam a ser financiadas por entidades, muitas destas de caráter governamental, por meio de parcerias, ou quando são contratadas pelo Estado (federal, estadual e municipal), para desempenhar, de forma terceirizada, as funções a ele atribuídas, não parecem fiéis a seu dito caráter “nãogovernamental” e à sua condição de “autogovernada”. Em outra lista bastante interessante para o movimento ambiental no Brasil, é a ECOLISTA. Em pesquisas realizadas em 2010-2011, pode-se confirmar que apenas cinco instituições tinham cadastro na ECOLISTA, sendo elas: Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe – GEES, Instituto de Desenvolvimento Sócio-Econômico, Científico, Ambiental e Tecnológico - Parque dos Falcões, Instituto Socioambiental Árvore – Árvore, Movimento Popular Ecológico de Sergipe – MOPEC e a Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológico e de Artes - SOCIEDADE SEMEAR, sendo que diversas ONGs citadas na pesquisa, não foram cadastradas pela lista. Em pesquisas realizadas em documentos do Ministério da Justiça, ainda foi possível registrar algumas outras OSCIPs com ações pontuais no Estado, tais como a ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CAPELA – AEMC E O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO À NATUREZA – IMBA, mas sem uma ação mais contundente que justificasse um aprofundamento na pesquisa. Outra ONG que chamou a atenção na pesquisa foi o Centro Dom José Brandão de Castro, devido a certa exposição midiática, mas quando investigou-se o seu principal objetivo, foi verificado que a instituição focava contribuir para o fortalecimento das formas de organização e qualificação dos trabalhadores rurais sergipanos na luta pela 113 superação da exclusão social. Essa instituição tinha o meio ambiente apenas com um dos temas transversais, mas não desenvolvia uma ação mais focada na área. Essa inclusive era a tônica de outras instituições que aparecem em cadastros nacionais, elas tem atuação bem limitada dentro da esfera ambiental, e não têm uma liderança que desponte para a sociedade. Torna-se fundamental tentar diferenciar as ONGs e sua atuação durante toda a década, pois com o surgimento de OSCIPs organizadas como a sociedade Semear, por exemplo, que contava em seu organograma com profissionais experientes e com forte predomínio de influências políticas, no caso especifico da sociedade Semear, a grande influência vem do PT. É interessante observar o pensamento de Coutinho (2005, p. 135), quando conclui em sua tese “Não será local aquilo que está articulado com ou subordinado ao Estado, como empresas, instituições públicas e organizações não governamentais que dependem de financiamento estatal para sua ação e seus projetos.”. Interessante também, é analisar a dicotomia existente entre as organizações, os partidos políticos e os sindicatos. Nessa tríade é possível observar fortes elementos de junção das missões estratégicas relacionadas com o Meio Ambiente, pois os participantes das organizações não governamentais, ora participam ativamente do movimento ambiental ora voltam sua atenção para o seus sindicatos ou partidos, e mudavam completamente o foco de “combate”. Nessa discussão Castells (2008, p.163) “lembra que o ambientalismo não pode ser considerado meramente um movimento de conscientização. Desde o início, procurou exercer influência na legislação e nas atitudes tomadas pelos governos”. Essa postura foi constante no movimento ambiental em Sergipe. 114 Um pensamento que chama bastante a atenção é discutido por Loureiro (2006, p.132) O senso comum do discurso hegemônico ambientalista (pragmático e tecnocrático), para desqualificar a militância ambientalista de combate, costuma usar o chavão de que é preciso propor projetos para que as soluções se concretizem e, para isso, é preciso que as pessoas que participam das ONGs se profissionalizem. Tal posicionamento é um deslocamento (ideológico ) da questão, simplificando-a, como mecanismo para justificar a consolidação de um perfil empresarial e competitivo no interior das entidades. Além disso, priorizar a dimensão da qualificação profissional como pré-requisito nos embates é tirar a função cidadã das entidades e deslocar a participação para grupos que possuem conhecimento técnico visto como pertinente. Esse profissionalismo alertado por Coutinho, é bastante observado em Sergipe, formou-se uma geração de profissionais gabaritados no Terceiro Setor, que trouxeram mais dinamismo e profissionalismo para a área em Sergipe, mas infelizmente não trouxeram grandes avanços nos embates ambientais. Na ótica de Tarvolaro (2008, p.81), “embora as ONGs viessem ganhando proeminência, com as conferências, houve um salto qualitativo. Elas passaram a ser percebidas como atores relevantes e, além disso, fizeram uso do ambiente favorável para fortalecer-se institucional e politicamente”. Essa questão é fundamental para entender os meandros das ONGs ambientalistas em Sergipe a partir da década de 2000, se a OSCIP Semear, tornou-se a principal catalisadora de ações ambientais com parcerias importantes com o Ministério do Meio Ambiente, Banco do Brasil e principalmente com a Petrobrás. Esse “sucesso” teve forte ligação com a articulação política dos seus principais liderados, não é à toa que essa ONG cresceu juntamente com a tomada do governo do PT, tanto em nível federal como estadual, sendo que as suas principais lideranças também ganharam poder sendo que um deles assumiu o cargo de Ministro do Supremo e o outro como presidente da OAB. 115 Evidentemente, que seria irresponsável não reconhecer os méritos administrativos da SEMEAR, pois essa OSCIP demonstrou ter o maior índice de profissionalismo em termos de gestão de todas as organizações investigadas na pesquisa, e desenvolveu vários projetos interessantes de Educação Ambiental no Estado. Ainda na percepção de Montaño (2005, p.57) Efetivamente, o Estado, ao estabelecer “parceria” com determinada ONG e não com outra, está certamente desenvolvendo uma tarefa seletiva, dentro e a partir da política governamental, o que leva tendenciosamente à presença e permanência de certas ONGs e não de outras, e determinados projetos e não outros Aqui é o caso de se identificar as fundações que tiveram importância no ambientalismo em Sergipe, primeiramente analisa-se a influencia da Fundação Oviêdo Teixeira, criada a partir da necessidade de aumentar as ações estratégicas de marketing social do grupo Norcon. Tem em seu projeto Qualivida o patrocínio ao esporte, as parcerias com instituições de combate ao Câncer ou até mesmo os projetos educacionais e de saúde do colaborador. Partindo da perspectiva de Ferreira (1999, p.45), sobre o movimento ambiental, quando analisa o impacto das ONGs a autora argumenta Apesar da profunda diferenciação que caracteriza o universo das ONGs quanto ao tamanho, montante de recursos financeiros e humanos, quanto à ideologia, estrutura organizacional, cultura, abrangência da ação, e recursos de poder, elas inegavelmente podem ser reconhecidas como agentes de mudança social, pois são capazes de eleger um campo de luta e mobilizar pessoas, recursos e instituições em defesa de determinada causa”. O terceiro setor está ligado diretamente ao direito privado, pois é possível fazer fundações a partir da palavra instituto, mesmo uma cooperativa, uma associação, esse é 116 talvez um dos grandes problemas de analisar o terceiro setor, pois a maior parte da nomenclatura conclama para designações que não tem qualquer materialidade jurídica. Embora, para a grande maioria das pessoas, o termo mais utilizado para legitimar o surgimento de uma instituição independente da esfera pública e com objetivos associados ao conceito de cidadania, seja o termo ONG. Nem sempre esse deveria ser a denominação legal da organização. De acordo com o Sebrae14 (2009), no direito brasileiro não existe a figura das ONGS, pois em nenhuma lei é citada a palavra ONG, na verdade o que existiria seria um reconhecimento “supra legal” que teria uma conotação muito mais cultural e sociológica do que propriamente legal. Pode-se dizer que as organizações não governamentais surgiram a partir de uma própria necessidade estratégica do Estado, embora teoricamente afastadas dos tentáculos estatais, com objetivos infinitos e forte influencia na esfera privada. Não é à toa que se vivencia o surgimento de diversos institutos ligados diretamente a empresas particulares a partir da década de 2000 em Sergipe, pois em 2003, surgiu um dos principais institutos sergipanos, o Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) tendo como objetivo principal possibilitar a infoinclusão social de adolescentes e jovens sergipanos, através de diversos cursos, palestras, atividades socioeducativas, artes, preparação para o mundo do trabalho e a cidadania. Esse instituto também desenvolveu algumas ações relacionadas direta e indiretamente com a área ambiental, sendo importante destacar que o instituto foi criado pela Celi uma das maiores construtoras de Sergipe. Makower (2009, 66) chama esse fenômeno de Greenwashing ou “fazer um discurso ambiental sem ações concretas” (greenwashing)”. Essa foi a tônica das construtoras sergipanas, motivadas por ações de marketing ambiental, desenvolveram fortes associações dos 14 Vários materiais colhidos no SEBRAE no ano de 2009 117 suas construções com a preocupação ambiental, embora na prática sejam as principais inimigas do meio ambiente no Estado. Partindo dessa premissa, o que se observa é a quantidade de “entidades” que levam sua denominação, pois todos os partidos políticos, as associação, as seitas, as igrejas, os sindicatos, as associações de classe, as próprias faculdades e universidades, podem ser consideradas ONGs. Essas novas OSCIPs ganham um corpo estratégico em Sergipe a partir da década de 2000, elas começam a profissionalizar o trabalho, e várias pessoas apostam suas carreiras dentro dessas organizações, principalmente pelo fato da remuneração ter se tornado bastante atraente. Novos editais e parcerias surgem, a Petrobrás a Vale e até a União de forma direta começam a ajudar essas instituições, profissionais com currículos experientes são contratados para prestar consultorias nas organizações, novos projetos estratégicos são lançados. Essas organizações tornam-se protagonistas da discussão ambiental, servindo de espaço e interlocução com as lideranças populares. Essas organizações servem de guarda-chuva para “movimentos” menos organizados e sem condição de participar dos editais de financiamento e incapazes de conseguir apoio das empresas particulares. Uma questão importante é a diminuição do poder de mobilização do movimento, motivado principalmente pelo jogo estratégico dos projetos. No tocante às organizações não governamentais sergipanas, é destacado o perfil da SOCIEDADE SEMEAR, que deu suporte técnico e institucional para a administração estatal direta e indireta, fazem parceira com empresas de economia mista e gozando de ótimo relacionamento com a esfera privada. A atuação da organização está focada, principalmente, na demanda por projetos, que são conduzidos por profissionais 118 gabaritados e com muita experiência em ações não governamentais que aprovam os projetos, primeiramente pela sua capacidade técnica e também pelo seu forte relacionamento. A Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear foi fundada em 2001, foi pensada e formatada pelo advogado Cézar Britto15 que idealizava a possibilidade de uma ONG que pudesse fazer a diferença na área ambiental em Sergipe. Segundo dados colhidos em repetidas entrevistas, a ideia inicial da ONG era possibilitar ensino de qualidade para jovens carentes, só que a ONG foi mudando seu foco a partir do pensamento agregado dos novos voluntários a ONG que inicialmente pretendia ser focada na área educacional, acabou ganhando outros contornos e passou a buscar a área ambiental como ponto focal. A Sociedade Semear possui uma grande sede própria, com amplas salas, auditórios, galeria de artes, e toda uma infraestrutura moderna capaz de abrigar qualquer projeto de nível nacional. Tendo o título de OSCISP, pode pagar salários para seus diretores, e contava em 2011 com 25 funcionários espalhados por diversas diretorias tendo ligação com diversas empresas fundações e órgão federais. A partir da leitura do seu estatuto, foi possível identificar a figura do diretor presidente atualmente exercida pelo senhor Carlos Brito Aragão, geógrafo de formação e mestre em meio ambiente pela rede PRODEMA. A sociedade Semear manteve um perfil de profissionalização de seu quadro organizacional, através de fluxogramas modernos, planejamentos estratégicos bem elaborados, estrutura confortável e que gera segurança nos parceiros, uma grande 15 Advogado militante, foi presidente da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil e irmão do senhor Carlos Ayres Brito que é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem fortes ligações do Partido dos Trabalhadores. 119 qualidade técnica, com profissionais buscando sempre a profissionalização. A ONG participa de conselhos e emite pareceres técnicos, participa da formulação de programas governamentais e políticas públicas, tendo se tornado referência em termos de profissionalismo no tocante às ONGs ambientais no Estado, e é citada como referencia, mas ao mesmo tempo também perdeu sua força enquanto catalisadora de intenções ambientais combativas e enquanto propositora de ações corajosas que lutam contra os ditames da estrutura política vigente. A ONG cresceu, justamente no período da chegada do PT ao poder tanto em nível federal, como em nível local, e resta a dúvida, se manterá a sua força, quando os seus aliados políticos estiverem longe do poder. Embora o discurso uníssono da entendida, é de total afastamento com relação às esferas governamentais. Uma questão controversa no estudo é a relação de parceria entre o poder público e a perda de autonomia das organizações não governamentais sergipanas, além da evidente prática da cooptação das lideranças ambientais. Ao mesmo tempo, após os anos 2000 com a chegada do PT ao poder, tanto na esfera federal, quanto estadual, essa ação foi cada vez mais sentida, principalmente devido ao fato da necessidade clara de sobrevivência das ONGs, isso implica diretamente na necessidade de seguir uma “cartilha” estabelecida e consequentemente perder o poder de contestação. Grandes figuras ligadas ao meio ambiente em Sergipe perderam seu poder de contestação nesse período, o senhor Genival Nunes, por exemplo, importante liderança da década de 1980 e 1990, durante a década de 2000, assumiu diversos cargos públicos e assessorias de deputados, o senhor Reinaldo Nunes, nessa década, estava mais dedicado a ações relacionadas com Partido Verde no Estado. Outras lideranças surgiram nesse período como: Omar Pinto, Carlos Eduardo, Danielle Dutra, Graça Melo e Angélica Lima e 120 outras ambientalistas que tinham uma participação mais antiga no movimento começaram a ganhar mais espaço na mídia, tais como o senhor Lisaldo Vieira e José Firmo. Outro caso emblemático em Sergipe foi a contínua atuação da ONG ÁGUA é vida, na cidade de Estância. Essa organização teve uma postura de mediação e de geração de processos democráticos de participação coletiva, e refletem os antagonismos do Estado e da sociedade civil. Além disso, o Instituto Árvore também aumentou sua penetração na esfera jurídica, tendo algumas ações com o ministério público estadual. Sempre voltada para a busca pelas parcerias com diversas entidades públicas. No tocante à forma de penetração, é a atuação do instituto Árvore, que na tentativa de interagir com o estado, propondo políticas públicas municipais e estaduais, participando de vários conselhos e interagindo na assessoria parlamentar. Essa organização tinha na pessoa do senhor Carlos Eduardo sua principal liderança, e uma gestão organizada, até mesmo pela formação em administração do seu principal mentor. Tinha um perfil destacado na área de comunicação, e um corpo técnico bem equilibrado em termos acadêmicos e com experiência em outras áreas, mesmo com essas características, a instituição não conseguiu idealizar muitos projetos na área ambiental, embora tenham no papel criado diversas ações, a realização normalmente não acontecia devido à falta de financiamento público. A ONG teve algumas ações pontuais em outros Estados, mas a falta de uma sede acabou atrapalhando bastante o andamentos das ações, segundo palavras do próprio presidente da OSCIP. 121 A OSCATMA na Barra dos Coqueiros teve como mérito durante o seu período de atuação, o reconhecimento da entidade e o respeito na área de meio ambiente no município. Segundo a sua principal liderança A Empresa Torre (coletora de lixo) sempre está limpando o Canal de Guaxinim que limpamos em Campanha por quatro anos, somos convidadas para elaborar plano de atividades na área de meio ambiente no município pelas Secretarias: Educação meio Ambiente, Participação Popular, Saúde e Assistência Social, somos convidadas para fazer parte de Conselhos e acompanhar os procedimentos dos conselhos. Conseguindo inserir um projeto de processo de renovação dos membros do Conselho Cidadão e alteração do Regimento Interno colocando a renovação dos membros com eleição para a sociedade civil e cidadão comum através de Edital de Convocação. Outro ponto é a participação da sociedade civil e a organização dos documentos oficiais destas entidades. Outra ONG investigada nesse período foi a sociedade Organização SócioCultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente – OSCATMA/BC que nasceu de uma capacitação na área de turismo para famílias do PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com recursos da Previdência Social conveniado com a Secretaria de Bem Estar Social repassado para a entidade executora NUTRAC em 04 de agosto de 2003. O objetivo dessa capacitação foi de criar uma entidade para geração de trabalho e renda para as famílias participantes e com a missão de defender a água, o meio ambiente e a vida, e para realizá-la, tem adotado, uma perspectiva própria, fundamentada na compreensão de que a situação atual desses elementos é uma consequência do comportamento humano. A organização tinha uma premissa de adotar uma postura leve, provocativa e instigante a OSCATMA - BC promovia encontros culturais, atividades esportivas, participava de campanhas, conferências, conselho e comitês. A 122 ideia geral era fazer uma relação, entre a água, o meio ambiente e a sociedade, com o objetivo de provocar mudanças sutis e graduais, porém permanentes. Uma questão importante foi a análise da atuação de ONGs internacionais, em relação à atuação do Greenpeace em Sergipe, em contato feito com a senhora Pâmela Gopi, ficou evidenciado que nunca foi realizada nenhuma atividade especifica em Sergipe, a senhora Pâmela, também fez questão de explicar um pouco mais sobre as ações do Greenpeace no Brasil Nossas campanhas abordam temas globais, já que as ameaças ao meio ambiente não têm fronteiras. No Brasil, direcionamos nossos esforços para cinco campanhas: preservação da floresta amazônica, clima e adoção de energias limpas e renováveis, nuclear, preservação dos oceanos e a adoção do princípio da precaução na produção de alimentos transgênicos. Essa questão de pautar ações específicas e criar metas para adentrar em alguma área, é algo fundamental e muito forte dentro do trabalho das organizações. A senhora Pâmela ainda continua sua afirmação dizendo É parte do nosso trabalho promover investigações, com o objetivo de modificar o comportamento das grandes empresas, governos e consumidores. Além disso, pressionamos pela criação de legislações mais duras e por uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos responsáveis. Assim, também fazemos denúncias, uma vez que não temos poder de fiscalização. Essa parece ser a postura de outras Organizações com forte trabalho nacional, a ONG SOS Mata Atlântica, de acordo com responsável pelo departamento de Documentação Andrea Godoy Herrera, a ONG também não fez projetos diretamente em Sergipe, e que também não tem ONGs parceiras, essa questão das parcerias, parece ser um “tabu” na área das ONGs. Essa questão da imagem da instituição, é muito marcante 123 dentro das organizações não governamentais. Ainda nessa análise, outra instituição investigada foi a rede WWF através de Maristela Pessoa, sendo que essa foi enfática em afirmar “ Não temos projetos em Sergipe”. Outra instituição importante surgida na década de 2000 foi a Associação Desportiva, Cultural e Ambiental do Robalo também designada pela sigla ADCAR, com sede no Povoado Robalo, município de Aracaju, na Zona de Maior expansão dentro da cidade de Aracaju. Essa organização conseguiu atrair a atenção da grande mídia no Estado, devido às constantes ações relacionadas com a discussão do Plano Diretor, tendo em seu quadro de voluntários, experientes ambientalistas sergipanos, e tem como principal liderança o senhor José Firmo, antigo ambientalista sergipano que participou na década de 1990 do MOPEC. Uma importante lista de ONGs ambientalistas nacionais a Ecolista, até 1999 não tinha nenhuma entidade cadastrada em Sergipe, sendo que a partir do ano de 2000, algumas entidades começaram a fazer parte do cadastro, chegando a ter em 2010 cinco entidades, as já conhecidas MOPEC, Sociedade Semear o Instituto Árvore, e com duas outras entidades, o Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe – GEES e o Instituto de Desenvolvimento Sócioeconômico, Científico, Ambiental e Tecnológico Parque dos Falcões - IPF- INSTITUTO PARQUE DOS FALCÕES. O Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe (GEES) é uma organização não-governamental, tem o objetivo de realizar pesquisas referentes à biologia e pesca de tubarões e arraias no litoral sergipano. Tem em seus quadros profissionais com reconhecidos currículos na área ambiental, e busca, de forma especifica montar uma coleção taxonômica de elasmobrânquios, incentivarem a preservação, defesa e 124 conservação do meio ambiente e estimular atividades educacionais e científicas com fortes ligação com instituições privadas de ensino no Estado. O Instituto Parque dos Falcões é uma ONG localizado na cidade de Itabaiana, sendo até 2011, o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul. É também o único local do país com autorização do IBAMA para a criação de aves de rapina. Tem na figura de José Percílio Costa16 o seu principal líder. O grupo tem um trabalho de conservação ambiental importante na Serra de Itabaiana e promove ações de educação ambiental em toda a região, na visão de Santos (2003). A OSCIP Semear assumiu uma posição de liderança de outras organizações menores através da participação de conselhos e conferências, a apropriação de articulações políticas, assumindo em alguns momentos certos planos estratégicos de políticos regionais. Aparentemente a OSCIP nunca teve o interesse de um projeto mais completo de mudança social, na verdade as demandas do movimento sempre estiveram associadas à questão mais localizadas e relacionadas com a Educação Ambiental, e jamais buscaram uma mudança mais estruturada. Outra instituição que teve uma profunda participação a partir da década de 2000 foi a Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente – OSCATMA/BC que nasceu de uma capacitação na área de TURISMO para famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI em 2003, na Barra dos Coqueiros/SE, com recursos da Previdência Social conveniado com a Secretaria de Bem Estar Social repassado para a entidade executora NUTRAC. Após o monitoramento, decidiram criar uma entidade para geração de trabalho e renda, visando o turismo, à 16 José Percílio da Costa é referência no manejo, reprodução e reabilitação de cerca de 350 aves de 29 espécies, entre falcões, gaviões e corujas, ele é uma referencia internacional na área, embora não tenha ensino superior, sua opinião é analisada por especialista em todo mundo. 125 conservação e preservação do meio ambiente. A missão ou principal objetivo da ONG, segundo sua principal liderança a senhora Ângela Lima é “Trabalhar nas causas, alterando os efeitos de forma permanente e eficaz. Utilizando a arte e cultura como instrumento, o ser humano como meio e a vida como o fim”. Outra instituição que teve atuação na cidade de Estância foi a ONG Viva Estância, fundada em maio de 2002, sendo em 2003 qualificada pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a principal meta da associação segundo Eugênia Teixeira foi “Desenvolver trabalho na área social, educacional, da saúde, da cultura, meio ambiente”. Tendo produzido diversas ações na cidade de Estância, embora não fosse uma ONG Ambientalista, pois teve uma conotação mais social, teve importância dentro da cidade de Estância, como incentivadora do meio ambiente em ações de conversação de patrimônio natural e educação ambiental, a OSCIP terminou suas atividades em 2011 segundo informações repassadas pela sua liderança “Por falta de engajamento das pessoas da cidade, por falta de capacidade de aprovar projetos e captar recursos, por total incapacidade de seguir sozinha, capitulei e me arrependo”. Essa informação repassada pela senhora Eugênia Teixeira, serve para entender um pouco da organização das ONGs no Estado de Sergipe, na verdade elas se configuram muito mais como INGs ou Indivíduos Não Governamentais, pois falta engajamento populacional. Esse pensamento corrobora com a visão do senhor Reinaldo Nunes (PV), ele afirma que na década de 2000 “ ele consegue lembrar-se de pessoas, de indivíduos que são ambientalistas, mas de ONGs eu não lembro, tem o Lisaldo no Mopec, mas é ele sozinho, não existem outras pessoas envolvidas” 126 Ainda na década de 2000, OSCIPs com um viés mais técnico assumira uma postura de idealizadoras de projetos, perdendo um pouco o caráter da mobilização, e adentram no Estado ajudando-o nas questões relacionadas à elaboração e posterior ação ambiental, os governos tornam-se parceiros das organizações, e disponibilizam “gordos” recursos estatais para a realização das ações individualizadas, a partir de programas governamentais nacionais ou internacionais. Outro elemento primordial nesse contexto é o papel das empresas privadas, pois em seus editais de financiamento começam a fazer parceria com as organizações não governamentais, além dessa parceria, algumas empresas criam seus próprios institutos, em Sergipe nesse período histórico, os principais institutos com participação ligada ao meio ambiente, foram o instituto Luciano Barreto Júnior (ligado diretamente à CELI7, uma das principais construtoras do Estado) e o Instituto Oviedo Teixeira ligado à construtora Norcom8. Na perspectiva de Montaño (2005, p.58) em relação a esses institutos Nas organizações sem fins lucrativos (OSFL) são caracterizados diversos tipos organizacionais. Algumas fundações, braços assistenciais de empresas (fundações Rockefeller, Roberto Marinho, Bradesco, Bill Gates), não podem esconder seu claro interesse econômico por meio da isenção de impostos, ou da melhora de imagem de seus produtos (aumentando a venda ou o preço) ou até na função propagandística que estas atividades exercem (ver a Parmalat, as fundações Ronald Mac Donald, Albino Souza Cruz, Telefônica, Odebrecht, Bradesco, entre outras). Têm, portanto, claro fim lucrativo, ainda que indireto. Essa questão ligada aos institutos merece toda a atenção, pois as construtoras em Sergipe são apontadas por vários entrevistados como as principais culpadas da destruição do ambiente local. Lisaldo Vieira do MOPEC, em uma das entrevistas deixou 7 Construtora fundada em 1968, tendo fundamental importância na construção das principais obras públicas e condomínios residenciais no Estado de Sergipe. 8 Construtora responsável pela criação do Bairro Jardins atua desde 1958 no Estado de Sergipe. 127 claro que o principal motivador para o não surgimento de uma secretaria de meio ambiente na cidade de Aracaju é a influência das construtoras. Um pensamento compartilhado por Reinaldo Nunes do PV e do Saber Ambiental, que alguns ainda mais enfático, “Eu acho que essa questão de nunca termos política ambiental na prefeitura de Aracaju, não é uma coincidência, existe sim uma ingerência das empresas ligadas à construção civil em Sergipe, tudo que foi feito nos último anos em Aracaju está errado” A primeira ação de marketing ambiental ligada às construtoras sergipanas pode ser observada ainda na década de 1990, com a Fundação Oviêdo Teixeira em 1991. Essa fundação está ligada diretamente à Norcon, maior construtora da cidade e responsável pela criação do Bairro Jardins na cidade de Aracaju. Embora esses institutos não tenham em sua missão aspectos ligados ao meio ambiente, através de suas ações de marketing social, melhoram a imagem das construtoras perante à sociedade e ofuscam as críticas surgidas das mais diversas “forças ambientais”. No capítulo dedicado à comunicação das ONGs, um dos mais emblemáticos casos de disputa hegemônica será explicitado, envolvendo a CELI e um jornalista que trabalha com enfoque ambiental do Estado. Outra construtora que teve uma participação importante nos últimos anos em Sergipe foi a COSIL9, que tem investido em ações ligadas ao marketing ambiental, como os Kit Sustentáveis em suas construções. A relação entre as empresas e o meio ambiente, tornou-se bastante conflitante, embora com o fortalecimento do debate ambiental, das pressões políticas nacionais e principalmente internacionais, mudança na postura da opinião pública, modificações sociais e econômicas estão, cada vez mais, desencadeando uma mudança na postura relacionada às práticas ambientais das empresas. 9 Fundada em 1966 a construtora tem forte influência na esfera dos apartamentos residenciais em Aracaju. 128 Em 2007, surgiu em Sergipe a ONG Ciclo Urbano, com o objetivo de promover a utilização da bicicleta, como também o uso de outras formas de locomoção e transporte a propulsão humana, com integração ao transporte público motorizado, fiscalizandoo e propondo melhorias em sua qualidade e eficiência, em especia na cidade de Aracaju. Essa ONG ganhou rapidamente notoriedade no Estado de Sergipe, devido principalmente à emergência da sua discussão, em um momento em que a cidade de Aracaju, principalmente pelos constantes problemas relacionados ao congestionamento nas principais vias públicas, estuda a criação de novas ciclovias, o que aparentemente seria uma forma de diminuir os problemas. A partir de entrevistas realizadas com José Waldson, o fundador da ONG, ele explicita que a grande missão da instituição é “Promover a assistência e apoio a programas, projetos ou planos voltados para melhoria da mobilidade urbana, sejam eles para o uso da bicicleta ou transporte a propulsão humana, como também os transportes públicos”. Conclusões Após a leitura das realidades, parece que fica claro que ou a ONG se profissionaliza, ou os envolvidos diretamente vão precisar ter outros empregos e buscar alternativas de vida. Ficou claro também que existe uma nova identidade do ambientalismo sergipano estampado na trajetória de Jose Waldson, que tem seu “ganha pão” na sociedade Semear, mas usa suas horas de folga para gerar o seu protesto no Ciclo Urbano. Ficou claro também, que a semente dos primeiros idealizadores nos idos da década de 1980, ainda continua forte, mas que eles necessitam ter capacidade técnica para serem ouvidos, lidos e respeitados. 129 A presente pesquisa foi importante para evidenciar as mudanças de cargos políticos comissionados na esfera pública em Sergipe, para a prática de cargos escolhidos de forma mais técnica dentro dos órgãos ligados ao Meio Ambiente no Estado. De emblemáticos juristas buscando capacitação na área ambiental, de professores cada vez mais engajados com a luta ambiental, de trabalhos científicos sendo cada vez mais publicados, mas fica um eco na frase de Porto Gonçalves, em abril de 2011 em Aracaju, “quanto mais se falou de meio ambiente, mais se destruiu o meio ambiente” e esse parece ser o destino de Sergipe, pois as construtoras continuam loteando a cidade, as fábricas continuam sendo criadas, os animais continuam sendo assassinados, as plantações devastadas, e a mídia não é proativa em buscar dados para alertar a população, o que aumenta a responsabilidade das ONGs, que necessitam de estruturas de comunicação eficazes para aumentar seu poder de explanação. Essa estrutura de comunicação precisa ter um viés profissional de assessoria de comunicação dentro de um viés focado na gestão integrada da comunicação. Foco em missão estratégica, planejamentos anuais, e funcionários capazes, é a melhor forma de competir de se estabelecer uma área cada vez mais competitiva. ONGs que não se profissionalizaram não ganharam o respeito dos “patrocinadores”, consequentemente, não tiveram como desenvolver projetos sustentáveis. Outro problema encontrado foi a falta de separação entre a estratégia pessoal de conquista de espaço público, e a estratégia de posicionamento das ONGs. Essa falta de separação confundia sobremaneira a sociedade civil, ficando difícil separar a ONG da sua principal liderança, essa imagem precisa ser dissociada se for levado em consideração o grande propósito do beneficio público. ONGs que nunca tiveram envolvimento direto com a política, historicamente, alcançaram melhor sorte. Evidentemente que levando 130 em conta as questões éticas e legais, essa associação da pessoa pública, a instituição que ele fundou, pode “estragar” a imagem da instituição perante o público, o que levou a um enfraquecimento do poder de denúncia das ONGs A própria estrutura econômica mundial que diminuiu o poder de expressão, a própria estrutura multissetorial que deu lugar a um binômio de disputa, essa multissetorialiade complicou a “leitura” do campo de luta das ONGs, elas não sabem qual o adversário, nem mesmo quais são os seus reais inimigos. Em Sergipe um dos fatores principais que gerou essa complicação de leitura foi à forte presença das construtoras nos gabinetes públicos, a forte associação ao poder público estadual e municipal, e de envolvimento com o governo federal. As ONGs, ficam “impedidas” de fazer mais fazer denúncias contra os crimes ambientais, pois os crimes ambientais são criados e ironicamente cometidos pelas próprias construtoras. As ONGs sergipanas, com raras exceções, acabaram não buscando profissionalização, por isso foram sucumbidas pelas concorrentes nacionais (embora elas nunca tenham chegado a Sergipe), ou simplesmente os financiamentos não vêm para Estado. Nesse ponto, alguns fatores podem ter ajudado: a falta de um perfil empreendedor social para os criadores das ONGs, falta de interesse dos voluntários em assumir a organização, liderança autocrática, que não aceitava críticas e que por isso atrapalhava o andamento das organizações, longas ausências dos seus lideres, devido a cargos comissionados no Estado, cursos de capacitação ou mesmo campanhas políticas, que tiram completamente o foco na organização e gestão da ONGs A partir da década de 2000, os movimentos ambientais em Sergipe, ganharam novos formatos, como já foi analisado a própria ação neoliberal ganhou força com as 131 reformar promovidas pelo governo de FHC, desde a segunda metade da década de 1990. Essa nova forma de encarar a política, com uma pretensa divisão da responsabilidade entre a sociedade civil, as empresas privadas e o governo em suas formas de assimilação. Referências Bibliográficas ALDUNATE BALESTRA, Carlos. Las nuevas temáticas ambientales y La opinión de los diários. Amb. y Des., Vol. IV - N° 3: 87-92. 1988. ______.El factor ecológico: Las mil caras del pensamiento verde. Santiago: LOM Ediciones, 2001. BARBOSA, Maria Nazaré Lins; OLIVEIRA, Carolina Felippe. Manual de ONGs: guia prático de orientação Jurídica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001. BECK, Ulrich. A reinvenção da política. In Giddens, A. ; Beck, U. e Lasch, Scott, Modernização reflexiva.Política, tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Editora da Unesp, 1997. BECK, U. Risk Society. Towards a New Modernity. Sage Publications. London. Thousands Oaks. New Delhi, 1998. BIANCHI, A. O marxismo fora do lugar. In: Política e Sociedade, v.9 n.16, pp. 177-203, Florianópolis: UFSC, 2010. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede - a era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 4 edição, 2000. ______.O poder da identidade: a era da informação, economia, sociedade e cultura. Vol. II. 6. ed.São Paulo: Paz e Terra, 2008. COMBESSIE, Jean-Claude. O método em sociologia: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola edições, 2004. COUTINHO, Antonio P. B. Sustentabilidade e Serra da Cantareira : o descarte da morte Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP , 2005 DALTON, Russell J. The Green Rainbow: Environmental Groups in Western Europe. New Haven: Yale University Press, 1994. ______.The Greening of the Globe? Crossnational Levels of Environmental Group Membership. California, Irvine Environmental Politics, Vol. 14, No. 4, 441 – 459, 2005 DUPUY, J. P. Introdução à Crítica da Ecologia Política. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro.1980. FERRAREZI, Elisabete. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP : alei 9.790/99 como alternativa para o terceiro setor. 2ª Edição - Brasília: Comunidade Solidária, 2002. 132 ______. OSCIP Passo a Passo: saiba como obter a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e firmar Termo de Parceria. Brasília: Agência de Educação para o Desenvolvimento - AED, 2003. GADEA, Carlos A. and Scherer-Warren, Ilse A contribuição de Alain Touraine para o debate sobre sujeito e democracia latino-americanos. Rev. Sociol. Polit, no.25, p.39-45, 2005. GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001 GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997. ______. (Org.) Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e novos atores sociais. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. ______. História dos movimentos e lutas sociais. A construção da cidadania dos brasileiros. São Paulo: 3 edição. Loyola, 2003. ______. Cidadania, Meios de Comunicação de Massas, Associativismo e Movimentos Sociais. In: PERUZZO, Cicília M. K. Peruzzo, ALMEIDA, Fernando F. Comunicação para a Cidadania. São Paulo: INTERCOM; Salvador: UNEB, 2003. ______. Lutas e Movimentos pela educação no Brasil. Eccos. Revista Científica, v. 11, p. 23-38, 2009. LOUREIRO, C. F. B. O Movimento Ambientalista e o Pensamento Crítico: uma abordagem política. 2a edição. Rio de Janeiro: Quartet, 2006 MACHADO, J. A. S. Ativismo em rede e conexões identitárias: novas perspectivas para os movimentos sociais. Sociologias, n.18, 2007. MACHADO, F. V. ; COSTA, F. A. A multidimensionalidade das ações coletivas contemporâneas e a insuficiência das teorias sociológicas (Resenha: ENGEL, Stephen M. The Unfinished Revolution: social movement theory and gay and lesbian movement. Cambridge: Cambridge University Press). BAGOAS ESTUDOS GAYS: GÊNEROS E SEXUALIDADES, v. 2, p. 2, 2008. MAKOWER, J. A economiaverde: descubra as oportunidades e os desafios de uma nova era dos negócios. Tradução: Célio Knipel Moreira. São Paulo: Gente, 2009.MELLUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. In: Revista Brasileira de Educação- ANPED – Juventude e Contemporaneidade. n. 5 e 6 , 1997. _________________. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. Petrópolis, Vozes, 2001. MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social: Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 133 OLIVEIRA. Valéria Maria Santana. Davi Contra Golias: a luta dos moradores do bairro América para fechar a fabrica de cimento Portland (1975-1984). Aracaju, Jornal da cidade, Ed. Sesquicentenária, 17 de março de 2005. ______.Movimento Social e Conflitos Socioambientais no Bairro América - Aracaju/ SE: O caso da companhia de cimento Portland de Sergipe (1967-2000). Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento sustentável e meio ambiente. São Cristóvão-Sergipe. Prodema-ufs, 2008. OFFE, Clauss. Dominação de classe e sistema político. Sobre a seletividade das instituições políticas. OFFE, C. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro. 1982. PICOLOTTO, Everton Lazzaretti. Novos movimentos sociais econômicos: economia solidária e comércio justo. Otra Economía, v. 2, p. 74-92, 2008. SIQUEIRA, S. M. M. O papel dos movimentos sociais na construção de outra sociabilidade. In: Anped, 2002, Caxmbu. Anped 2002. caxambu : Anped, 2002. SOLLA, Jorge José Santos Pereira. Problemas e limites da utilização do conceito de classe social em investigações epidemiológicas: uma revisão crítica da literatura.Cad. Saúde Pública [online]. 1996, vol.12, n.2, pp. 207-216. TAVARES, Maria Augusta. Os fios (in)visíveis da produção capitalista. Informalidade e precarização do trabalho. São Paulo:Cortez, 2004. TOURAINE, Alan. Movimentos sociais e ideologias nas sociedades dependentes. In: Albuquerque, J. A. G. (org.). Classes médias e política o Brasil. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1977. ______.Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes. 2ª ed. Petrópolis: Vozes. 2003. ______.Na fronteira dos Movimentos Sociais. sociedade e estado, Brasília, v. 21, n.1, p. 1728, jan./abr. 2006 ______.As possibilidades da democracia na América Latina. RBCS 1,1986 ______.Crítica da modernidade. 5ª ed. Petrópolis: Vozes. 1998 REDCLIFT, M. Sustainable Development. Exploring the contradicions. Londres, Nova York, Methuen, 1987. ______.and Woodgate (Editors). The International Handbook of Environmental Sociology. Cheltenham, UK.Northampton, MA, USA. 1997. SCHERER-WARREN, Ilse. ONGs na América Latina: trajetória e perfil. In: VIOLA, Eduardo et al. Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cidadania: desafios para as Ciências Sociais. 4. ed. São Paulo: Cirtez; Florianópolis; Universidade Federal de Santa Catarina, p. 161-180,2002. ______.Cidadania sem fronteiras: Ações coletivas na era da globalização. São Paulo: Hucitec, 1999. 134 O olhar machadiano sobre o cativo: a literatura como importante fonte de conhecimento da oitocentista sociedade escravista carioca The Machado’s look on the slave: the literature as important knowledge source of the carioca slave society in nineteenth century Murilo Vilarinho1 Resumo: O olhar machadiano - visão arguta e irônica – captou a consciência brasileira e anteviu a modernidade em oposição à vida da patriarcalista e escravista sociedade carioca da corte (retrograda) do século XIX. Por meio das personagens de seus romances, crônicas, contos etc., de fase Realista, Machado de Assis representou o teatro social do Segundo Império. Assim, este trabalho versa discutir a representação do cativo no pensamento literário e social machadiano. Palavras-chave: Escravo; Machado de Assis; Literatura. Abstract: The look Machadiano - clever and ironic vision – picked up awareness and foresaw Brazilian modernity in opposition to slavery and life patriarchalist court Carioca society (retrograde) of the nineteenth century. Through the characters of his novels, essays, short stories etc.., Realistic phase, Machado represented the social theater of the Second Empire. Thus, this article going to discuss the representation of the captive in Machado’s literary and social thought. Key words: Slave; Machado de Assis; Literature. Introdução A literatura brasileira, marcada inicialmente pela cronística do descobrimento 2, desenvolveu-se em solo brasileiro, seguindo as estruturas estruturadas estruturantes (termo emprestado pelo pensamento de Bourdieu) do velho mundo - o centro. Todavia, o modo de registrar o quotidiano nos trópicos, seja por meio de cartas, sermões, 1 Doutorando em Sociologia pelo PPGS - Universidade Federal de Goiás (UFG). Faculdade de Ciências Sociais, Campus II/ UFG-CP. 131 CEP: 74001-970 – Goiânia –GO, fone: (62) 3521-1100. Bolsista da Capes. Pesquisa as áreas: Pensamento Social Brasileiro, Sociologia da Literatura e Direitos Humanos. E-mail: [email protected] 2 Caracterizada pela literatura informática (Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal), literatura jesuítica, literatura barroca até as estéticas mais contemporâneas. 135 romances ou poesias, foi sendo ressemantizado, pois o contexto da periferia fornecia outras substâncias e cores para a arquitetura da arte brasileira, a saber - a literatura tupiniquim sofreu influência do local e esteve em formação desde os idos coloniais. Assim sendo, muitos pesquisadores afirmam que uma literatura critica e desvinculada do provincianismo estético do centro somente foi vista no Brasil a partir do Realismo. Nesse sentido, Machado de Assis e seu escrito – “Memória Póstumas de Brás Cubas” - seriam divisores de águas no século XIX. Muitos escritores contemporâneos de Machado de Assis o acusaram do não envolvimento com temas quotidianos da nação. Lima Barreto, por exemplo - quem representou a sociedade escravocrata e a criticou - afirmou ser Machado um literato desvinculado da literatura a serviço da denuncia e do engajamento. Silvio Romero seguiu a mesma linha desse escritor. Contudo, Machado foi um homem comprometido com tais causas, talvez não abertamente Ipsis Litteris, mas pautado na fina ironia – ato de desnudar as verdades e apresenta-las, nas entrelinhas à sociedade consumidora de cultura, a Corte3- que foi tecida abundantemente enquanto recurso estilístico, nos escritos de fase madura de Machado de Assis- sob a égide do Realismo. 3 A Corte carioca foi o centro político, social, cultural e ideológico no século XIX. Sede da monarquia portuguesa desde 1763, quando houve a mudança do eixo administrativo Salvador - Rio de Janeiro, a Corte se tornou com a chegada da corte portuguesa em 1808 o epicentro dinâmico do Brasil. É desse local e desse contexto temporal – o oitocentismo- que Machado de Assis redigiu e construiu sua literatura incisiva. Por Corte, busca o entendimento em Lilia Schwarcz (1998, p.170), assim, “Na teoria, nobres eram aqueles que recebiam títulos do imperador. Na prática, porém, a palavra era mais elástica. A corte podia representar o grupo de pessoas mais chegadas ao rei, e também os titulados. Por outro lado, era, ainda, “a corte do Rio de Janeiro”, tendo como referência o Paço de São Cristóvão. É essa mesma “corte” que até os anos 80 funcionará como uma espécie de centro propulsor: a moda, as gírias, a política, a cultura partiam de lá. Nesse sentido, se pertencer à corte — à carioca — era um direito relativamente amplo, ser titular, ser nobre era um privilégio de poucos. Mais uma vez, nesse caso, a balança ficava nas mãos da instituição monárquica, que prolongava sua memória cercando-se de um círculo de selecionados. Era a elite, sobretudo carioca, que virava — literalmente — corte”. 136 Partindo do exposto, esse trabalho versa discutir brevemente sobre o negro nos escritos machadianos, haja vista que o negro e a sociedade escravocrata foram dois elementos contemporâneos ao escritor e para muitos, temas não abordados, com o tom de denúncia, engajamento e crítica, pelo bruxo do Cosme Velho. Por fim, como hipótese provisória, acredita-se que Machado de Assis foi um literato engajado, mas de acordo com sua conveniência - Machado ascendeu à escala social, de descendentes de escravos ao mérito de seus escritos os quais foram reconhecidos em vida. Foi condecorado pelo Imperador Pedro II com a Ordem da Rosa. Presidiu a Academia Brasileira de Letras. Machado foi um burguês não provinciano. Enxergou as mazelas do seu contexto e de seu tempo, inclusive a sociedade farisaica e escravista. O negro e a sociedade escravista: breves explanações Fig.1 Óleo sobre tela - Johann Moritz Rugendas. Representação do cativo no quotidiano da Corte carioca no século XIX. Fonte: http://cultura.culturamix.com/arte/obras-de-rugendas 137 O entendimento sobre o papel do negro na terra brasilis remonta aos primeiros tempos da empresa colonial portuguesa a qual encontrou no açúcar sua fonte inicial de riquezas e no modo de produção escravista, implantado na possessão lusitana de alémmar, o elemento que estruturaria a vida social desde então. Assim, Foi o modo de produção do açúcar aqui implantado que conformou nos primeiros tempos da colonização o regime de terras e, demais, toda a sociedade que então sobre ele se erguia. Modo de produção talvez sui generis na história, pois que reunia elementos de dois regimes econômicos: o feudal da propriedade e o regime escravista do trabalho (GUIMARÃES apud GORENDER, 2001, p. 5). Por meio das palavras acima, infere-se que a expansão mercantil portuguesa (séculos XV e XVI), a constituição do patriarcalismo 4 brasileiro (família e agregados estavam centrada na figura do senhor de terras – sistema semelhante ao feudal), as unidades produtoras do açúcar, formavam um conjunto real o qual se traduziu no universo onde o negro encena o seu papel, noutras palavras, um papel de engrenagem do sistema escravista, de ser explorado, espoliado, e um papel de “raça inferior”. O negro desde a colônia era tido como uma propriedade e objeto que se dispõe. As palavras abaixo refletem essa perspectiva, Em geral, tem sido dito que o escravo possui três características definidoras: sua pessoa é a propriedade de outro homem, sua vontade está sujeita à autoridade do seu dono e seu trabalho ou serviço são obtidos através da coerção (DAVIS apud GORENDER, 2001, p. 47). 4 Assim como no feudalismo o modelo patriarcal brasileiro estava atrelado ao regime territorial. 138 No imperio, a mão de obra continuou sendo a escrava. Nem com a Independencia do Brasil em 1822, as relações escravocratas modificaram. A base economica do Império de Dom Pedro I e Pedro II foi respaldada pelo regime de servidão. Esse contexto era marcado pela contração dialetica entre liberalismo e conservadorismo. A ordem vigente no Brasil do século XIX foi uma miscelania entre monarquia constitucional e regime escravocrata, quadro que só começaria a se modificar depois da luta abolicionista nos moldes de Castro Alves (1847-1871) e José do Patricinio (1853-1905). O império tinha ares de um regime moderno se se considerar a Constituição de 1824- a primeira Constituição brasileira; contudo, essa resguardava os traços do arcaico- eis o Poder Moderador que dava ao Imperador plenos poderes no molde absolutista. A sociedade imperial sediada na corte, composta pelos senhores de terras, titulos de nobreza e do capital contrapunha na balança social à classe pauperizada da qual os escravos foram o naco menos previlegiado. Embora, Leis como as de Eusébio de Queiroz (1850), do Ventre Livre (1871), do Sexagenário (1887) virasaram o adocicamento da violência contra uma raça, foi somente a Lei Aura de 1888 que quebrou as algemas da esravidão. Porém, mesmo solta as amarras dos negros, essa grande parcela da população brasileira se viu desamparada pelo estado e sociedade nos tempos que se seguiram - República (1889) -, como nos lembra os escritos de Florestam Fernandes. 139 Um olhar sociológico sobre os escritos machadianos: pensando a sociedade escravista carioca Através de uma visão apurada e atenta às nuanças sociais do Brasil Império Corte do Rio de Janeiro do século XIX-, Lília Schwarcz, em “As barbas do Imperador”, traça as linhas específicas sobre o contexto escravista na sociedade da Corte. Por esse prisma descreve, Na ótica da corte, o mundo escravo, o mundo do trabalho, deveria ser transparente e silencioso. No entanto, o contraste entre as pretensões civilizadoras da realeza — orgulhosa com seus costumes europeus — e a alta densidade de escravos é flagrante. (...) os cativos representavam de metade a dois quintos do total de habitantes da cidade do Rio de Janeiro no decurso do século XIX. A corte reunia em 1851 (...) a maior concentração urbana de escravos existente no mundo desde o final do Império romano: 110 mil escravos em 266 mil habitantes. Tal volume de cativos levava a uma divisão fundamental: de um lado, a rua do Ouvidor, com seus hábitos requintados e europeus; de outro, uma cidade quase negra em suas cores e hábitos africanos. (SCHWARCZ, 1998, p.163.). Em suas descrições, a autora também acrescenta, Dividindo espaços, a corte da rua do Ouvidor tentava fazer da escravidão um cenário invisível. Não obstante, entranhado não só no município neutro do Império como em todo o território nacional, o cativeiro existente no Brasil era uma ameaça constante à estabilidade da monarquia e contrastava com o brilho civilizatório desse reino americano. (...) A escravidão era e seria, até o final do reinado de d. Pedro II, a grande contradição de seu Império, que pretendia, quase, europeu. (SCHWARCZ, 1998, p.164.). Diante do cenário carioca oitocentista, a escritora descreveu alguns aspectos do mundo social e ideológico da sociedade escravista à moderna, do Império. Tais considerações demonstram o quanto as estruturas escravocratas eram rígidas em relação ao período que preconizava o advento da República e da modernidade. O mundo era capitalista. A ideologia da liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram o lema no 140 velho mundo; contudo, no Brasil, esse lema se fundamentou em diretrizes para inglês ver, segundo o vocabulário quotidiano. Em resumo, a sociedade da Corte era escravista, patriarcalista, patrimonialista (no sentido Weberiano do termo, o administrador dos bens públicos faz desses bens a extensão dos seus, em outras palavras a esfera publica é sobreposta pela privada, assim, a burocracia pura não existe.). ... Fig.2 Óleo sobre tela - Johann Moritz Rugendas. Representação do negro e da sociedade da Corte – Rua Direita no Rio de Janeiro oitocentista. Fonte: http://cultura.culturamix.com/arte/obras-de-rugendas Machado de Assis, escritor e pensador de seu tempo, por meio das tramas da literatura, não fez uma literatura sem corpo nem escopo. Não foi um literato distante dos temas avassaladores e passíveis de investigação e crítica. Ao contrário, ele trabalhou nas entrelinhas da intelectualidade e criticou ironicamente o espelho social da Corte escravista e patriarcal. O público de sua época não compreendera o que Machado de Assis escrevia. Eles certamente se viam nos romances, mas não enxergavam a dimensão da ironia assaz, robusta e “fina” do Bruxo do Cosme Velho. 141 Sobre a postura de engajamento de Machão de Assis com as causas de seu tempo, Octavio Ianni (1988) acredita que as discussões sobre a sociedade escravista, o negro, encontram-se localizadas e situadas na obra machadiana, entretanto, seguindo uma apresentação implícita, decantada, insidiosa e subjacente. Sob este ângulo, Brayner (1976) salienta que os escritores do século XIX no Brasil utilizaram da ironia como forma estilística de manifestar os paradoxos do período, isto é, liberalismo e escravismo presentes no Brasil, por exemplo. Nesse ponto, algumas passagens dos escritos de Machado de Assis justificarão o engajamento do autor com as causas de sua época. No entanto, a ponte entre sociedade escravista oitocentista e escritos machadianos pode ser mais bem compreendida à luz da sociologia da literatura. Cabe à sociologia da literatura entender as entrelinhas da obra, averiguar o jogo de poder e sociedade impressos nessa e demonstrar como esses elementos foram retratados pelo literato. Logo, os literatos são mais do que meros reprodutores da realidade social de sua época, eles são formuladores de ideias e vinculadores dos cenários de mundo que tangencia a sociedade. A ficção seria o elemento que, por si só, justifica esses apontamentos, pois a ficção permite ao literato recriar os cenários existentes e por meio da criação: criticar, esconder ou apresentar, ironizar, preencher lacunas, desenterrar mortos, dar voz a quem não possui e retirá-la daqueles que a possuem em demasia etc. Com relação a essa criação, Lucien Goldmman, um clássico na sociologia da literatura, comenta que o escrito (romance ou outras peças literárias) é uma “(...) criação de um mundo cuja estrutura é análoga à estrutura essencial da realidade social” (GOLDMANN, 1967, p. 195). 142 E mais, o literato é um sujeito coletivo à proporção que essa coletividade é compreendida como uma complexa trama de relações entre indivíduos em que “(...) o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, usa certas formas e a síntese resultante age sobre o meio” (CANDIDO, 1967, p. 25). ... Tomando por base o exposto, apresentam-se algumas passagens dos escritos machadianos os quais são reveladores (percebe-se a ironia do literato) no que concerne ao sistema escravista e patriarcalista. Na obra “Memórias Póstumas de Brás cubas” (1881), no capítulo XI– “O menino é pai do homem”-, Machado de Assis, por meio do universo da personagem Brás Cubas e de acordo com excerto abaixo, descreve o cenário de onde a personagem adveio (contexto patriarcal); revela os traços da sociedade escravista, ao expor o escravo como coisa que o nhônhô se dispunha a seu bel prazer; delineia o psicologismo do individuo pertence à sociedade da Corte, ou seja, um indivíduo formado em um contexto familiar que não apresentava barreiras às atrocidades contra o negro, portanto, um espaço que formava o indivíduo livre a contemplar o egoísmo e a injustiça humana, caracteres que seriam transplantados para a vida social pública (a cordialidade de Buarque de Holanda?). 143 Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepavalhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, — algumas vezes gemendo, — mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um — “ai, nhonhô!” — ao que eu retorquia: — Cala a boca, besta!” — Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração; e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade: em particular dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem a esconder-lhes os chapéus; mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui; se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outrossim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclineime a atenuá-la, a explicá-la, a classifiquei-a por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares (...). (ASSIS, 1994, p.15) Memórias Póstumas, escrito anterior à Lei Aura, apresenta ao leitor atento, sob o ângulo do excerto acima, a instituição escravista e o psicologismo social que regava as suas árduas estruturas. Machado não deixou de revelar a verdade dessa estrutura nas entrelinhas de seu romance. Ele criou um universo análogo à realidade social, reportando ao pensamento de Goldmman. O mesmo panorama de analogia da sociologia de Goldmman pode ser aplicado ao romance “Esaú e Jacó” (1904). Nessa obra, Machado analisa a vida social e a estrutura da escravidão através da ótica do capitalista, ou seja, do Brasil imperial pósabolição e, portanto, já republicano. Talvez aqui, observa-se um Machado que antevia a 144 modernidade social em contrapartida à arcaica ordem do escravismo, ao contrapor as ideias de Pedro a Paulo e vice – versa e, ao indicar que a escravidão é uma instituição encravada na construção mental da sociedade e que deve ser revista tal posição, com a finalidade de bradar os novos ventos trazidos pela modernidade. Talvez tal intento de o branco se livrar do preconceito seria uma postura um tanto utópica- de acordo com Florestan Fernandes o negro foi liberto, mas não encontrou lugar na sociedade de classes do pós-Império . Com a finalidade de ilustrar esse viés, notam-se as seguintes palavras de Paulo sobre a escravidão, em um discurso em são Paulo, no dia 20 de maio, “a abolição é a aurora da liberdade, esperemos o sol; emancipado o preto, resta emancipar o branco” (1997, p. 992). Para Paulo a liberdade dos escravos é o principal caminho para a autonomia, entretanto, é necessário que o pensamento senhorial seja modificado com relação ao negro, no que tangencia a ideia de sua inferioridade. Assim, libertando-se o branco do preconceito, a plenitude da liberdade escrava seria concluída. Fig.3 Johann Moritz Rugendas e L. Deroi , “Negros no Porão”, litografia que ilustra Voyage Pittoresque au Brésil (Paris, 1827-35), Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Fonte: http://www.usp.br/revistausp/30/04-diener.pdf 145 ... Em conclusão, acredita-se que Machado de Assis foi um homem de seu tempo e de seu país. Com genialidade ele descreveu a sociedade do seu contexto e revelou a estrutura real do cenário social dos homens da Corte tropicalizada (com resquícios da corte que se volta à figura do Soberano, como nos ensina Norbert Elias; mas que guarda os caracteres patriarcais, patrimoniais e escravistas tão típicos do Brasil Monárquico à Imperial). O mundo escravo era transparente aos olhos da sociedade carioca, e o mesmo se aplica aos demais núcleos sociais. A corte foi aqui tomada como referência, pois foi a partir desse espaço que Machado de Assis pensou o seu tempo e os eventos por ele assistido. Os romances em pauta – “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e “Esaú e Jacó”- foram obras titulares entre outras, da representação da relação entre o negro e o senhor- antes e depois da abolição da escravatura (1888). Tanto Brás Cubas, quanto Paulo e seus respectivos espaços físicos e psicológicos foram elementos de fina evidência diante do campo substancial, representado pela sociedade escravista. Em resumo, a escravidão foi ironicamente discutida pelo literato em seus escritos. Referências ASSIS, Joaquim Maria Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881). Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. v. I _______. Esaú e Jacó (1904). In: COUTINHO, Afrânio (Org.). Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. v. 1, p. 945-1093. BOSI, Alfredo. A máscara e a fenda. In: _____ et al. Machado de Assis. São Paulo: Ática, 1982. BRAYNER, Sônia. Uma definição de ironia. In: _____. Labirinto do espaço romanesco. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: INL, 1976. p. 100-118. CANDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história literária. 2ed. São Paulo: Companhia Nacional, 1967. 146 ___________. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 5.ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Universidade de São Paulo, 1975. FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. 2 vol. São Paulo: Ática, 1965. GOLDMANN, Lucien (org.). Sociologia da Literatura. São Paulo: Mandacaru, 1989. ______. Sociologia do Romance. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 6ª ed. São Paulo: Ática, 2001. GORENDER. Jacob. A escravidão reabilitada. 2º ed. São Paulo: Ática, 1991. IANNI, Octávio. Literatura e consciência. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros: edição comemorativa do centenário da Abolição da Escravatura. São Paulo, n. 28,1988. ROMERO, Sílvio. Machado de Assis. 2.ed. Rio de Janeiro: [s/i], 1936. SCHWARCZ, Lilia Moritz As barbas do imperador, São Paulo: Companhia das Letras, 1998. SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. 5. ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000a. _______. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000b. 147 Discursos Sobre o Sistema de Cotas para Afro-descendentes na formação da opinião e vontade política: o mito da deliberação racional Speeches About System Quotas for Blacks in shaping opinion and political will: the myth of rational deliberation Ma. Victoria Espiñeira1 Ruy Aguiar Dias2 Resumo: Estudo realizado entre outubro/novembro de 2004 e 2006, abrangendo uma amostra de aproximadamente 1.390 estudantes com objetivo de perceber os argumentos envolvidos no processo deliberativo no espaço público, tendo como tema a questão do sistema de cotas para afro-descendentes. Os resultados sugerem que a idéia de um “debate racional” não se sustenta e que o processo deliberativo está limitado aos conjuntos particulares de valores e as diferentes perspectivas dos diferentes grupos étnicos, de classes sociais que compõem o conjunto de públicos pesquisados. A leitura dos dados confirma que a atitude para com o sistema de cotas varia significativamente conforme a classe social e o grupo étnico a que pertence pesquisados sugerindo conotações de natureza nitidamente ideológicas. Palavras Chaves: Opinião pública; políticas afirmativas; representações; tolerância. Abstract: This study was conducted in the months of October 2004 through November 2006. The objective of this project is to analyze the arguments used in the process of forming public opinion about the quota system for African Brazilian students and the set of values involving altruism and tolerance related to the perspectives of the different ethnic groups, social classes and genres that comprise the group of students under analysis. A first reading of the data seems to confirm that the attitude towards the quota system various greatly according to the social class and ethnic viewpoints of the subjects analyzed, which points to commutations of a clearly ideological nature. Key Words: Public opinion; affirmative acts; social representations; tolerance. 1 Professora Associada do Departamento de Ciência Política da UFBA Professor Titular do Departamento de Ciências Humanas da UNEB 2 148 Apresentação O conceito de opinião pública é central na concepção das democracias chamadas deliberativas3. Sua presença pode ser depreendida já em estudos clássicos como o de Rousseau que pressupunham um público virtuoso e educado politicamente, com o interesse bem compreendido e voltado para o bem comum. Uma Opinião Pública livre é um elemento essencial na maior parte das formulações liberais de modelos democráticos, embora sua dimensão e relevância possa variar bastante, assumindo uma maior ou menor importância a depender da linha assumida, podendo resumir-se a apenas a expressão eleitoral, como defende Sartori, e também autores que se alinham com o modelo da democracia participativa, ou um papel mais amplo que se estenderia para além dos períodos eleitorais. Habermas desenvolveu de forma bastante complexa e persistente uma abordagem sociológica dos conceitos de esfera pública, sociedade civil e opinião pública, enfatizando a polissemia deste termo, que segundo ele é intencional. Para Habermas a gênese da OP moderna estaria no aparecimento de uma esfera pública burguesa que mediaria o mundo da vida e o sistema político. A vontade da burguesia comercial de participar e intervir nas decisões políticas no século XVIII aliado ao surgimento de processos comunicativos massivos permite o aparecimento de um espaço público intermediário entre o povo e o Estado e sistema político que se configura como a sociedade civil moderna, espaço da constituição da vontade coletiva. Com isso o ator do mundo privado assume um papel, um espaço que a torna contraparte do poder 3 O paradigma de democracia deliberativa é desenvolvido tanto por autores da teoria Liberal quanto por seus críticos que adotam o modelo da teoria Critica. 149 público. É o mundo dos leitores que não é mais um ouvinte ou assiste uma representação, mas um público que julga e que publiciza esse objeto julgado (HABERMAS 2003). Essa perspectiva permite pensar a democracia como um processo dialético e permanente, capaz de incorporar demandas da população com uma certa agilidade, o que o sistema institucional da democracia representativa teria dificuldade de fazer. Na verdade é difícil visualizar numa sociedade complexa o processo no qual os cidadãos tomam conhecimento de uma questão controversa, discutem sobre ela de forma desinteressada e tomam uma decisão com base no consenso. As dificuldades para realização de tal operação são inúmeras. Nos processos democráticos modernos a ampliação da participação política através da inclusão de parcelas cada vez mais amplas nos processos eleitorais torna praticamente impossível a presença de um público vigilante, politicamente informado e disposto a discutir as questões. Contra essa fantasia se interpõem inúmeros obstáculos que vão desde a incapacidade dos indivíduos se manterem informados sobre todas as esferas que afetam a vida pública como o direito, a saúde, a economia até a falta de interesse pessoal por determinados temas. Pierre Bourdieu (1983) alega que a idéia de públicos instruídos, informados, envolvidos num debate publico e que chegam a um consenso, não passa de uma ficção. Justifica contestando a veracidade de tres postulados em que se baseiam as pesquisa de OP: todo mundo pode ter uma opinião; todas as opiniões tem valor e; há consenso sobre os problemas. O autor defende que a opinião pública, no moldes dos que defendem sua existência não é na verdade uma opinião publica uma vez que esta exigira debate, livre circulação de idéias e principalmente o consenso. Acrescenta ainda que falta interesse dos públicos nas questões, falta ou deficiência de informações, e falta de competência 150 dos públicos para discutir determinados assuntos que exigiriam conhecimento técnico. Com isso as pesquisas de opinião retratariam apenas respostas éticas em lugar de respostas políticas. As POP funcionariam como instrumentos de ação política e legitimação da força. Entendemos que um tema como reúna alguns elementos que permitem analisar a questão da opinião publica de forma empírica é o das cotas para afro-descendentes, pois trata-se de um tema do interesse do público estudado e que gerou um processo de discussão na mídia. Nosso objetivo neste estudo foi o de procurar identificar e compreender a possível existência deste possível processo deliberativo e para isto buscamos identificar as atitudes, representações e valores relacionados com a política de cotas e a origem e natureza dos argumentos envolvidos. Políticas Redistributivas Os primeiros registros de aplicação das chamadas ações afirmativas remontam aos anos 60 do século passado nos Estados Unidos da América (EUA), com a promulgação dos direitos civis. Ao longo dos anos, estas medidas foram largamente difundidas não somente nas universidades americanas como em outras atividades dessa sociedade, tendo a Suprema Corte daquele país, de forma ambígua, se manifestado pela constitucionalidade de sua aplicação4. 4 O editorial do jornal o Globo, republicado em www.universia.com.br/html/noticia/noticia _clipping_gbag.html, destaca que “A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de referendar as políticas afirmativas para garantir a diversidade étnica e social nas universidades ajuda a entender a dimensão das propostas de se privilegiar o acesso dos negros ao ensino superior brasileiro. Por apenas 5 a 4, os juízes mantiveram um voto dado pela mesma Corte em 1978. E por uma margem maior (6 a 3) declararam ilegais os sistemas que burocraticamente distribuam bônus a candidatos de minorias na 151 A pressão de grupos de defesa dos direitos humanos e de associações profissionais nos EUA conseguiu impor um sistema de cotas em diversas atividades profissionais, a ponto de condicionar as produções cinematográficas, por exemplo, à presença obrigatória no elenco e na equipe técnica de uma porcentagem de afroamericanos, gerando situações bastante curiosas, como a atuação de protagonistas negros em pé de igualdade com brancos, em filmes do gênero western, ambientados no Oeste americano do século 19, época em que qualquer tipo de integração seria inimaginável naquela sociedade segregacionista. No Brasil, estas medidas começaram a ser postas em prática no ano 2001 5, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com a adoção do sistema de cotas para afro-descendentes. Em 2002, foi criado, no âmbito da Administração Pública Federal, o Programa de Ações Afirmativas, que resultou na elaboração do Sistema de Cotas das universidades de Brasília (UnB) e do Estado da Bahia (UNEB). O critério adotado para caracterizar o beneficiado pelas medidas foi, na maior parte das instituições, a chamada autodefinição, ou seja, a declaração voluntária do candidato ao benefício. A conveniência desta forma de inclusão no Programa está no fato do candidato ter de se declarar negro ou afro-descendente, o que contribui para a reafirmação da identidade cultural e da auto-estima dos negros. O modelo esboçado por Jonh Rawls em “justiça com eqüidade” (1993) e outros textos compreende que decisões redistributivas e compensatórias podem resultar de uma situação deliberativa. Uma intervenção de natureza redistributiva ou compensatória, como o caso de um sistema de cotas para afro descendentes, não seria inteiramente compatível com o postulado liberal, uma vez que representaria uma forma de avaliação para a matrícula num curso superior”. 5 Portaria MJ, no 1156, de 20 de dezembro de 2001. 152 intervenção dos poderes públicos sobre os direitos individuais e sobre o equilíbrio “natural” em favor de uma justiça social. Em outras palavras, a teoria de Rawls se baseia em “decisões sociais”, o que significa que as decisões que beneficiariam o individualismo, o auto-interesse e no qual os agentes que buscam a maximização de seus interesses, perderiam espaço para as decisões deliberativas de caráter mais coletivas (sociais). Essa noção de deliberação retomaria também a noção rousseauniana de cidadãos educados politicamente. Já a linha da escolha racional se sustenta em cima das preferências individuais. O debate sobre as cotas A implantação do sistema de cotas para afro-descendentes, adotado pela UNEB e pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), demonstrou que a questão é ainda bastante controversa, provocando diversos pronunciamentos e acalorados debates no meio acadêmico. Apesar da polêmica e da falta de um consenso em torno do tema esta política vem se generalizando. Recentemente, a discussão foi retomada na Internet, com ampla participação de professores da UFBA, sendo que a maioria dos pronunciamentos se colocava contra a medida6. O crescente interesse no tema influi na formação e na ampliação da opinião pública, pela aquisição de novos conhecimentos e pela atribuição de outros significados a um objeto, o que não pode ser desprezado. Um conjunto de novas informações sobre um assunto, sem dúvida influencia a formação das atitudes e das representações sociais que são fundamentadas em bases cognitivas. No entanto, é oportuno observar o grau em que o componente afetivo está presente nas posturas diante do sistema de cotas. 6 Debate ocorrido no segundo semestre de 2004, no grupo de discussão da UFBA, via Internet. 153 Atitudes de natureza afetiva são, devido à sua intensidade, menos propensas a mudanças do que as de base cognitiva. O debate livre, racional e descompromissado da perspectiva democrática deliberativa pressupõe a superação do auto-interesse e atitudes de natureza afetiva não são compatíveis com o tipo de consenso almenjado. Nosso objetivo principal ao realizar este estudo foi, para além da clássica divergência entre protagonistas e antagonistas, identificar, no meio estudantil, quais as atitudes dos estudantes em relação às cotas, procurando compreender, ainda, como tais atitudes se estruturavam em suas possíveis vinculações com a estrutura de classe social. Buscamos perceber, também, as ordens de fatores mais sutis, subjacentes aos processos de formação de opinião e tomada de decisão, e os repertórios simbólicos a respeito do nosso objeto. Com base nos resultados, acreditamos poder entender como se processam as resistências às mudanças no interior dos grupos. Entendemos que a consolidação democrática pressupõe uma boa dose de valores, como tolerância e altruísmo, este último entendido como a capacidade do indivíduo de se preocupar com o outro, sem levar em conta os seus próprios interesses. Visto de uma perspectiva moral, o altruísmo poderia ser entendido como um imperativo categórico. Por tolerância compreende-se el espacio que dá? vida a la comunidad política, es decir, a los métodos, reglas y procedimientos que hacen posible procesar las diferencias en torno a lo que cada individuo o grupo entienden por vida políticamente asociada, que significa vida en común. (CISNEROS, apud SALAZAR, [s.d.]) 154 A tolerância aparece como um conceito central nas análises de espaços de convivência nos quais ocorrem trocas de diversas naturezas. No Brasil, essas trocas vêm se consolidando, historicamente, de forma desigual. Acreditamos que quaisquer medidas que envolvam mudanças em tais situações devem desencadear resistências muito fortes e tentativas de (re)produção de um discurso legitimador da situação de desigualdade, por parte dos estratos médios e superiores da sociedade. Com base na formulação teórica de atitudes, foi elaborado um conjunto de aproximadamente cem questões, relativas ao tema, que foram submetidas a uma avaliação pela qual foram selecionadas “as seis de maior escore” para compor a escala de atitude. Um questionário contendo as seis questões selecionadas foi então submetido inicialmente a um teste, junto a uma amostra de 70 estudantes do universo a ser pesquisado. Além das seis perguntas sobre atitude, introduzimos outras questões, relativas à intensidade das respostas para com o objeto, aos determinados conjuntos simbólicos (valores) e às representações presentes nas argumentações dos estudantes. Para compreender as perspectivas de base étnica, introduziu-se uma questão pela qual os entrevistados se autoclassificavam etnicamente, e o teste serviu para antecipar possíveis alternativas de respostas a esta autoclassificação. A previsão inicial seria aplicar os questionários corrigidos a uma amostra de 850 estudantes para o ano de 2004.2 o que não pode ser inteiramente realizado devido às limitações de tempo da disciplina e às greves. Foram entrevistados em 2004 apenas 692 estudantes de segundo e terceiro graus distribuídos entre Rede Privada 7; Rede Pública8e de alunos da Uneb e da UFBA. 7 8 Colégio Salesiano, Anchieta e Isba Colégio Góes Calmon e Colégio Central 155 Tanto a elaboração quanto a aplicação dos questionários revestiu-se de certos cuidados para garantir uma maior veracidade das respostas. A distribuição dos questionários entre as diversas instituições de ensino foi feita por cotas, sendo aleatória a escolha dos entrevistados. O questionário também continha itens que foram introduzidos para se tentar perceber se o sistema de cotas podia ser caracterizado (ou estar se caracterizando) como uma representação social, e quais valores estruturavam as argumentações dos entrevistados. Moscovici entende que as representações se constituem em “universos consensuais do pensamento”, definindo o conceito como “uma modalidade específica de conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos, no quadro da vida cotidiana” (apud SÁ, 1995, p. 22). Procuramos observar as representações sociais para perceber como estas orientam comportamentos e a comunicação, e são adequadas a análises sobre visões de mundo, de classes e segmentos de classes (SPINK, 1995, p. 90). Nosso pressuposto foi que as diferentes compreensões do objeto estavam orientadas por um nível ideológico, ou concepções de mundo, dos grupamentos enfocados. Os resultados obtidos foram digitados e processados no pacote estatístico SPSS, pelo qual procurou se observar possíveis correlações entre os diversos grupos e respostas. Na segunda etapa do trabalho repetiu-se o mesmo questionário, desta vez a uma amostra de 698 alunos no ano de 2005 procurando estabelecer um estudo de corte longitudinal. 156 Analise dos dados A primeira questão de conteúdo formulada solicitava ao estudante que se classificasse etnicamente. O objetivo principal foi obter um conjunto de respostas que nos permitissem avaliar e estabelecer correlações com as diversas perspectivas étnicas, e perceber, ao mesmo tempo, as diferentes formas de classificação criadas para escapar à autodefinição de negro. Buscou-se verificar ainda a viabilidade do critério adotado no processo de seleção dos candidatos a serem beneficiados pelo SCAD. As respostas demonstraram um índice surpreendentemente baixo de estudantes que “não sabem” se classificar na escala étnica apresentada. Em 2004, apenas 7,5% optaram pela resposta “não sei”, e somente 5,4% escolheram “outros” como alternativa às opções: branco, pardo, amarelo e negro. Esta facilidade de auto-enquadramento se deve ao teste do questionário que, em certa medida, funcionou como um levantamento exploratório junto aos estudantes9. De qualquer modo, é possível perceber uma mudança neste quesito, pois, no censo dos anos 80, o processo de autoclassificação gerou mais de vinte alternativas à categoria “negro”. Apenas 21,4% dos entrevistados se autodefiniu como branco. Pelas respostas obtidas depreende-se que 62% dos estudantes são candidatos em potencial ao sistema de cotas. Nas escolas privadas, o número de alunos que se declararam “brancos” é cerca de quatro vezes maior que nas escolas públicas (36,0% contra 9,5%). Na UNEB, o número de “brancos” também é elevado em relação à rede pública de 2º grau (21,0% e 9,5%, 9 Tendo em conta que o sistema de classificação dos afro-descendentes funciona com base na autodefinição dos candidatos, procuramos empregar o mesmo sistema para definir os grupos étnicos. Numa pesquisa piloto foi solicitado, a uma amostra de estudantes, que estes se autoclassificassem. Deste levantamento inicial, obtivemos as categorias “branco”, “negro”, “pardo”, “amarelo”, “outros” e “não sei”, que passaram a integrar o questionário final. 157 respectivamente), mas o número de alunos “negros” nesta instituição supera o de “brancos”. Estes resultados reforçam a tese que defende uma mudança na forma de inclusão no sistema de cotas, substituindo a autoclassificação étnica por um modelo mais amplo que contemple, de forma generalizada, os egressos da rede pública, onde o índice de alunos “negros” ou “pardos” é de 79%. Uma mudança neste sentido teria a vantagem de beneficiar tanto os afro-descendentes como os alunos de baixa renda, mas com um efeito distributivo maior. O resultado obtido nesta mesma questão, em 2005, não apresentou uma variação significativa do ponto de vista estatístico como pode ser visto na tabela I a seguir. Tabela I COMO SE CLASSIFICAM ETNICAMENTE (2004-2005) Ano 2004 2005 Branco 21,4% 22.9% Pardo 36,1% 33.9% Negro 26,1% 28.6% Amarelo 3,5% 2.9% Outros 5,4% 3.0% Não sei 7,5% 8.7% 100,0% 100.0% Total Fonte: Pesquisa de campo. n2003=690, n2004=698 A topologia do entrevistado, na escala étnica adotada, foi extremamente significativa para a análise do resto das respostas dadas, ao longo da entrevista, 158 permitindo o estabelecimento de perfis bem definidos10. Com base nestes perfis, podemos retornar e avaliar melhor os aspectos intervenientes na classificação étnica. Percebemos que aqueles que se classificaram como “outros” ou “não sei” apresentam um perfil de respostas muito semelhante ao dado pelos “brancos” e “amarelos”. Isto sugere que muitos entrevistados preferiram evitar, por algum motivo, a sua autoclassificação como brancos, por não se sentirem, por algum motivo, confortáveis nesta classificação. No ano de 2004, verificou-se que a maioria dos entrevistados (58,2%) afirmava conhecer o significado do SCAD, contra 10,6% que desconheciam. Para garantir uma maior veracidade das respostas, foi formulada uma pergunta adicional pela qual era solicitado ao pesquisado que esclarecesse o que ele entendia como sistema de cotas. As respostas dúbias foram desconsideradas, não computando no número dos que afirmaram conhecer o significado do SCAD. Um número significativo de estudantes, cerca de 31,2%, preferiu relativizar suas respostas, afirmando conhecer o significado apenas em parte. Este tipo de resposta (mais ou menos) pode mascarar o desconhecimento da questão. O entrevistado, para não demonstrar sua falta de conhecimento de um fato, opta por uma resposta intermediária que não o comprometa. O índice alto de respostas deste tipo sugere que isso de fato possa ter ocorrido. Ao todo, em 2004, cerca de 89% dos depoentes afirmaram e demonstraram ter algum conhecimento sobre o assunto. Já em 2005, o número dos que afirmavam conhecer o significado do SCAD aumentou para 62,2%, sugerindo que as discussões ocorridas no período podem ter ampliado a oferta de informações sobre o tema. 10 Ver quadro comparativo do conjunto das respostas de números 13 a 20. 159 Este resultado se altera significativamente, quando analisado entre os diferentes tipos étnicos consultados. Os que se autodeclararam negros foram aqueles que demonstraram o menor índice de conhecimento do significado do sistema de cotas (47,2%). Os que aparentemente possuíam mais informação foram os que não souberam se classificar em termos étnicos (82,7%), seguidos pelos “brancos”, com 64,2%. Comparando os resultados desta questão, entre os tipos de instituições pesquisadas (escolas públicas e privadas de 2º Grau, UNEB e UFBA), vemos que o maior índice de desinformação ocorre entre os alunos da rede pública de 2º Grau, nas quais, em 2004, apenas 24,5% declararam saber o significado do SCAD, contra 69,7% dos alunos da rede privada e 73,2% da UNEB. Em 2005, o número de estudantes da rede pública que não sabiam o significado do SCAD aumenta de 31,5% para 37,0%, mas esta diferença de resultados deve ser vista com um certo cuidado, pois está no limite da margem de erro. De todo modo, os resultados indicam que existe uma lacuna de informação significativa entre os alunos da rede pública, que poderia ser preenchida por uma campanha de esclarecimento da UNEB e da UFBA, que adotou o SCAD, com algumas diferenças nos critérios de seleção dos beneficiados em relação à UNEB No campo das atitudes, observamos, em 2004 que 26% dos entrevistados se declararam contra o sistema de cotas. Este percentual cai para 16%, em 2005 Entre os que se denominaram “brancos, 37,9% se colocaram abertamente contra a medida. Esta oposição também é grande (32,2%) nos que escolheram “outro” como classificação étnica e nos que não souberam se classificar (30,0%). Entre os “negros”, apenas 16% se opuseram à medida. A atitude negativa em relação ao sistema de cotas cresce no segmento que se classificou como pardos (25,6%). Observa-se neste resultado que a oposição à medida cresce segundo a tendência de clareamento da pele, mesmo que esta 160 visão étnica dos estudantes não corresponda à realidade dos fatos ou tenha bases científicas. A rejeição às cotas também é maior nas escolas da rede privada, de maneira geral, o que é explicável, por ser nestas instituições que estariam, em tese, os principais prejudicados pela medida. No entanto, foi possível perceber uma diferença significativa entre as respostas dos entrevistados no Colégio Anchieta e no Instituto Social da Bahia (ISBA). Enquanto no primeiro, 18% dos entrevistados se colocaram francamente contra a adoção de qualquer sistema de cotas, no ISBA este número cai para apenas 10%. Dois aspectos podem estar influindo neste resultado. O Colégio Anchieta é conhecido pela ênfase que dá à competitividade na publicidade, baseada no grande número de aprovados no vestibular, enquanto o projeto pedagógico do ISBA enfatiza aspectos sociais, afirmando dimensões como a responsabilidade social e valores como o altruísmo. Não podemos esquecer, contudo, que a escolha da instituição de ensino pelo aluno e seus pais é feita com base no conjunto de texto de cada grupo familiar e na atribuição de significados que é dada a cada uma das instituições. Assim, podemos supor que, em princípio, o ISBA atraia estudantes que compartilhem do mesmo sistema de valores defendido pela instituição. Analisando o primeiro conjunto de questões sobre as respostas atitudinais dos pesquisados, observou-se a presença de uma atitude positiva de fraca intensidade (escore >0) em relação ao SCAD, ou seja, a maioria considera que o SCAD é uma forma de reparação das desigualdades (+1); nega que seja uma forma de racismo (+1) e que venha a prejudicar a qualidade do ensino nas universidades (+1), considerando a medida de certo modo eficaz (+1). Ao mesmo tempo, acredita que a medida não vai contribuir para a redução do preconceito (-2), nem da injustiça social (-1).(Quadro I) 161 QUADRO I RESUMO DE ESCORES O sistema de cotas é uma forma de reparação das desigualdades raciais O sistema de cotas é uma forma de racismo N 1232 1233 Missing 158 Mean Std Error of Mean Median O sistema de cotas é uma medida que O sistema de cotas é uma medida ineficaz O sistema de cotas vai contribuir para a redução do preconceito racial O sistema de cotas vai prejudicar a qualidade do ensino nas universidade s 1231 1232 1231 1232 157 159 158 159 158 -.01 -.24 -.32 -.12 -.94 -.43 6.09E-02 6.20E-02 5.88E-02 5.81E-02 5.42E-02 6.00E-02 1 -1 -1 -1 -2 -1 1.49 1.54 1.49 1.44 1.42 1.53 diminui a injustiça social Std Derivation Fonte: Pesquisa de campo No conjunto a seguir, as questões foram apresentadas de forma dicotômica (sim x não). Os resultados indicaram que o conjunto dos estudantes considera a medida “demagógica, desnecessária, paliativa, insuficiente, antidemocrática e desigual”, mas a compreende como uma ação reparadora e, curiosamente, justa. A aparente contradição parece decorrer do fato de que os estudantes reconhecem a situação racial brasileira, como injusta e desigual, mas não estão dispostos a abrir mão de determinados espaços, como forma de contribuir para a redução das desigualdades. Quando analisados sob a perspectiva de cada grupamento étnico, os dois conjuntos de questões vão apresentar resultados bem diversos, desvelando uma ideologização do tema geralmente não admitida pelos participantes do debate. 162 A análise da Tabela I a seguir apresenta uma correlação quase perfeita entre a escala étnica e as avaliações sobre o SCAD. Os negros, em geral, rejeitam a classificação do SCAD como “demagógica”, “desnecessária”, “injusta”, “privilégio”, e mesmo quando aceitam classificações pejorativas, como “antidemocrática”, “paliativa”, “insuficiente”, “desigual”, o fazem numa percentagem bem menor que os outros grupamentos étnicos. À medida que a autoclassificação apresenta um branqueamento, as respostas tendem a ser mais negativas nas avaliações do SCAD. Respostas contrárias à política de cotas buscam sua fundamentação tanto em valores políticos da democracia liberal, na defesa de critérios meritocráticos, como em concepções mais substantivas de democracia, alegando-se que o sistema de cotas fere o princípio da igualdade. TABELA II CLASSIFICAÇÃO DO SCAD- 2004 13 14 15 16 17 18 19 20 Demagógic a Injust a Desnecessári a Um Privilégio Insuficient e Antidemocrática Desigua l Paliativa Brancos 61,2 65,0 66,4 61,4 87,0 86,3 91,4 78,6 Pardos 57,8 45,7 48,4 38,4 80,3 73,4 80,4 75,8 Negros 41,9 34,8 35,3 27,6 75,0 58,3 72,4 68,4 Outros 80,6 51,6 71,0 32,3 90,3 98,8 93,5 83,4 Não Sei 66,0 56,0 60,0 40,0 92,0 78,0 87,8 74,6 Fonte: Pesquisa de campo. n = 615 O mesmo tipo de análise, tomando-se como referência a instituição de ensino, apresentou um resultado mais complexo. As suposições de que os alunos da rede privada deveriam apresentar atitudes mais negativas do que os da rede pública se confirmaram, mas surpreendentemente os alunos da UNEB assumem em determinadas respostas uma posição contrária ao SCAD, com mais intensidade que os alunos da rede 163 privada. Isto sugere que em determinadas situações, outros condicionantes possam estar interferindo nas respostas, como se observou no caso do ISBA e Colégio Anchieta. Na questão em que se avalia se o SCAD significa uma ameaça à qualidade do ensino por exemplo, obtivemos repostas diametralmente opostas entre os estudantes das redes privada e pública, evidenciando que o argumento de que as cotas vão afetar a qualidade das universidades não é difuso e pertence a um segmento social específico. Algumas considerações sobre a pesquisa Embora as análises não tenham sido totalmente concluídas, é possível perceber alguns pontos significativos sobre o tema. Observou-se que a questão não pode ser traduzida apenas pelos argumentos apresentados nos debates, entre partidários e antagonistas das políticas afirmativas, e a posição dos indivíduos e grupos na discussão vai depender de um conjunto de elementos que determinam a priori a topologia social dos protagonistas. O estudo confirma nossos pressupostos de que a atitude em relação ao SCAD decorre fundamentalmente da adscrição econômico-social e étnica do pesquisado, indicando que a questão das cotas está se configurando como uma representação no sentido clássico do termo, como dois conhecimentos, duas concepções distintas de mundo, em disputa pela hegemonia e legitimação, “cujo objetivo é criar a realidade”, como defende Moscovici (apud SÁ, 1995, p. 33). Os argumentos a favor ou contra a política de cotas possuem uma significativa afiliação específica a cada segmento social estudado. A classe social e a etnia atribuem 164 significados distintos ao objeto e utilizam conjuntos de argumentos e valores específicos. Concepções de mundo de natureza mais individual podem interferir significativamente nas respostas, como foi possível observar na diferença de comportamento entre alunos do Colégio Anchieta e do ISBA, observando-se neste último que uma maior adesão a valores axiológicos e um maior comprometimento com a justiça social por parte da instituição e dos estudantes interferiu nas respostas dadas, confirmando as afirmações de Bourdieu de que as escolhas dos atores não decorrem de um consenso com base processo deliberativo livre e racional no espaço público, mas de posições com base em valores e identidades grupais. Referências ARCE, Constantino. Técnicas de construcción de escalas psicológicas. Madri: Sínteses,1994. BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de janeiro: Marco Zero, 1983. EAGLY, A. H. & CHAIKEN, S. The psycology of attitudes. Orlando, Fl: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1993. Cap. 19, pp.1-22. Espiñeira, Maria Victoria. (1997) O Partido, a Igreja e o Estado nas associações de Bairros. Salvador: In; Motta, Alda Brito da.(2004). Gênero, idades, gerações. Salvador: Caderno do Ceas n. 42 set/dez.2004. FISHBEIN, M, & AJZEN, I. Belief, attitude, intention and behavior: as introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley, 1975. GREENWALD, A. G. “Cognitive learning, cognitive response to persuasion and attitude change”. IN: Greenwald, A. G. et alii. Psychological foundations of attitudes. New-York: Academic Press, 1968. Habermas, J. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. ___________. La Teoria da la acción comunicativa: complementos y estudios prévios. Madrid: Cátedra, 1994. 165 ___________. Mudança Estrutural da Esfera Pública. 2.ed. Rio de Janeiro, Tempo Universitário, 2003. ___________. A Inclusão do Outro. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2004. MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. PARSONS, T. Hacia una teoria general de la acción. Buenos Aires: Kapelusz, 1952. PÉRES DIAZ, Victor. Cambios tecnológicos y processos educativos en España. Madrid: Castilla, 1972. RAWLS, John . Justiça como equidade: uma reformulação. Matins Fontes, 1993. REICH, Ben. & ADCOCK, Christine. Valores atitudes e mudança de comportamento. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. ROBINSON Salazar P. Los recorridos de la tolerancia. Societatis. Revista Eletrônica de Ciências Sociales, [s.d.] SÁ, Celso Pereira de. “Representações Sociais: o conceito e o estado atual da teoria”. IN: Spink, May June (org.). O conhecimento no cotidiano. As representações sociais na perspectiva da psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 1995. (pp. 19-45). ___________________. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis: Vozes, 1996. ___________________. A construção do objeto de pesquisa em representação social. Rio de Janeiro: UERJ, 1998. SIERRA BRAVO. R. Técnicas de investigación social. 2ª .ed. Madrid: Paraninfo, 1983. SOUZA FILHO, Edson Alves de. “Análise de representações sociais”. IN: SPINK, Mary Jane. O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 1995. 166 Poesia e revolução: Resenha de Todo Caliban de Roberto Retamar1 Poetry and revolution: A review of Roberto Retamar's Todo Caliban Adriana Ines Strappazzon2 Resumo: Todo Caliban é uma compilação de ensaios do escritor e poeta cubano Roberto Retamar. São escritos que falam da descolonização do pensamento, redimensionando a posição colonial de Próspero e Caliban. Percorrendo a latino-américa pós revolução cubana, até a hegemonia do discurso liberal e de subdesenvolvimento do terceiro mundo, é um texto anti-colonial que vislumbra e inspira o póscolonialismo. Palavras-chave: Anti-colonialismo, Caliban, latino-américa. Abstract: Todo Caliban is a compilation of essays by the Cuban writer and poet Roberto Retamar. These texts tells about the decolonization of mind, reshaping the colonial position of Prospero and Caliban. Going through Latin American post Cuban revolution, to the hegemony of the liberal and underdevelopment of the Third World discourse, it is an anti-colonial text that envision and inspires the postcolonialism. Key words: Anti-colonialism, Caliban, Latin America. Eu sempre começava um jogo previamente perdido. Experimentei minha hereditariedade. Fiz um balanço completo de minha doença. Queria ser tipicamente negro – mas isso não era mais possível. Queria ser branco – era melhor rir. E, quando tentava, no plano das ideias a da atividade intelectual, reivindicar minha negritude, arrancavam-na de mim. Demonstravam-me que minha iniciativa era apenas um polo na dialética (Frantz Fanon). 1 Artigo redigido para conclusão da disciplina Tópicos Especias: Teoria Pós-colonial: antropologia, poética e política 2011-2, ministrada pela Professora Ilka Boaventura Leite. 2 Aluna de mestrado no Programa de Pós Graduação em Antropologia Social, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Caixa Postal 476, CEP 88.040-900, Florianópolis, SC. Fone/Fax: 3721-9714. Bolsista do Cnpq. E-mail: [email protected] 167 Los independentistas, blancos y negros, hicieran suyo con honor lo que el colonialismo quiso que fuera una injuria (Retamar). O cubano Roberto Fernández Retamar, joga com o termo “caliban”, anagrama de “canibal”, que por sua vez, provem de Caribe. Deste lugar emergiu, para a percepção colonial, o homem bestial, selvagem, distante da civilização. “Caliban” se trata pois, de uma visão degradada que o colonizador oferece sobre o ser colonizado. Mas, para Retamar, “caliban” é nosso símbolo e o temos que assumir. Isso é buscar em nossa realidade as condições para nossa emancipação. Da revolução, da negação ao colonialismo, da afirmação de nossa real existência, emergirá nossa cultura. Nesse sentido, a Revolução Cubana representa um marco porque foi fiel à tradição popular latino-americana, partindo desde a realidade mesma daqueles que por ela lutaram. Todo Caliban é uma compilação de ensaios de Rematar. O primeiro, e mais importante, é “Caliban”, escrito em 1971, retomando as literaturas e emergências de Caliban e inspirando os demais ensaios e conferências que Retamar realizaria até o final dos anos 90. Além de “Caliban”, portanto, estão os escritos “Caliban Revisitado” de 1986, “Caliban en esta Hora de Nuestra América” de 1991, “Caliban Quinientos Años Más Tarde” de 1992 e “Caliban ante la Antropofagia” de 1999. Os ensaios em conjunto não falam somente de uma revisão ou referência daquele que Retamar chamou de “conceito-metáfora”, Caliban. Mas também perpassam a vida política e intelectual do autor, marcada com a presença recente do triunfo da Revolução Cubana em 1959, dos ventos da chamada guerra fria, com a seguinte invenção dos termos primeiro, segundo e terceiro mundo, que logo denotariam outros termos como desenvolvimento e subdesenvolvimento, principalmente depois do declínio dos países socialistas e a 168 configuração de um mundo não mais bipolar, mas unipolar, centrado nos países capitalistas, no que se chama ocidente e sua prática liberal. Retamar foi um socialista que escreveu desde este lugar nos diferentes momentos experienciados por esse ideal de mundo. Um escritor que também falava desde o ser caliban. E desde a poesia em uma Cuba que fervilhava de artistas. Como mencionou no prefácio do livro Fredric Jameson, quem qualifica “Caliban” como o equivalente latino-americano do livro Orientalismo de Edward Said, os ensaios reunidos podem ser lidos como uma comprida mas múltipla meditação sobre o problema do próprio internacionalismo, e sobre as possíveis relações que se devem estabelecer entre o fato de um sistema global desigual, por uma parte, e as coordenadas duais, por outra, de um projeto socialista coletivo e do contexto inevitavelmente nacional da produção cultural em si (Retamar, 2004, p. 14)3. “Caliban” foi publicado pela primeira vez em Casa de las Américas, número 68, setembro-outubro de 1971. A pergunta feita a Retamar por um jornalista europeu, “Exite uma cultura latina-americana?” deu o pontapé inicial para as longas páginas que seguem. Para o autor a pergunta soava o mesmo que “existem vocês?” pois para ele colocar em dúvida nossa cultura é colocar em dúvida a nossa própria existência, nossa realidade humana mesma, e portanto estar dispostos a tomar partido a favor de nossa irremediável condição colonial, já que se suspeita que não seríamos senão eco desfigurado do que sucede em outra parte (Ibid, p. 19). Uma “outra parte” que se configura como metrópole, centros colonizadores, aonde as direitas usurparam e as esquerdas quiseram orientar. Esta outra parte que proclama, em oposição ao mestiço, uma suposta homogeneidade para si mesma, passando por cima de suas diferenças internas. Em contrapartida, na América, a mestiçagem é a “essência” a linha “central”, advoga Retamar. Uma mestiçagem que não 3 Todas as citações de Retamar são tradução minha. 169 tem a ver com a “quinta raça” de José Vasconcelos, nem com uma cultura aprendiz daquela dos europeus – mesmo que utilize o idioma do colonizador para comunicar. Nas páginas seguintes do ensaio, Retamar faz uma revisão da história de Caliban, anagrama forjado por Shakespeare a partir de “caníbal”, que por sua vez provém de “caribe”. O Diário de navegação de Cristóvão Colombo fala de homens de um olho comedores de gente e explica que “caniba” é a gente do grande Can. Também ele oferece a outra imagem do homem americano, aquele pacífico, manso e até mesmo covarde. Ambas visões seriam nada menos que constituidoras do arsenal ideológico da burguesia nascente, ainda que a primeira abundaria nas teses da direita como justificativa do aniquilamento e a segunda nas da esquerda, como bem demostra a Utopia de Tomas More. A versão da direita, do extermínio, muitas vezes acabou fazendo parte de nossas percepções e justificando o extermínio dos outros mais distantes, como os negros da África, por exemplo. Para completar, como bem recordou Retamar, se a direita justificava o aniquilamento da bestialidade, do caníbal, deixou de explicar porque também aniquilou os vistos como doces e pacíficos. Essa visão que Retamar chama de direitista, apresenta-se como aquele discurso que apresenta o colonizado “como uma população de tipos degenerados com base na origem racial de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução” como falou Homi Bhabha (1998). O ensaio de Montaigne de 1580, em espanhol, “De los caníbales”, foi um dos mais difundidos trabalhos na linha utópica. A tradução ao inglês seria realizada em 1603 por Giovanni Floro, amigo pessoal de Shakespeare quem escreveria em 1611 A tempestade. Mas se na obra de Montaigne ilustra-se a visão idealista de caníbal, Shakespeare assume a outra opção, a do escravo selvagem e deformado, demonstrando 170 que ambas maneiras de considerar o americano são conciliáveis. Seria óbvio mas não inútil dizer que “A Tempestade alude a América, que sua ilha é uma mistificação de uma de nossas ilhas” e que, o mais importante, “Caliban é nosso caribe” (Retamar, 2004, p. 26). Em 1878, Ernest Renan publicou Caliban, continuação do livro shakespeariano, e com forte alusão à Comuna de Paris de sete anos antes, onde Caliban escarnava o povo, cuja conspiração contra Próspero teve êxito e chegou ao poder, ainda que não ali permanecendo. Nessa obra, segundo Retamar, Renan não somente demonstra o ódio ao povo de seu país, mas ainda mais aos habitantes das colônias. Vinte anos depois da publicação de Renan, dar-se-ia o primeiro destino do mito de Caliban em terras americanas: os Estados unidos intervieram na guerra de Cuba contra Espanha por sua independência (1898) e colocou o país centro-americano sob sua tutelagem como neocolônia a partir de 1902 até 1959. O escritor franco-argentino Paul Groussac, de 1898, e o uruguaio José Enrique Rodó, em Ariel de 1900, identificariam Caliban aos Estados Unidos, o que seria certamente incorreto. Em 1928, o francês Jean Guéhenno escreveu Caliban Fala (Caliban parle em francês) retomando à obra de Renan mas dando uma apreciação positiva à identificação Caliban-povo. Pouco depois, o argentino Aníbal Ponce, em obra de 1935, que teria influenciado Che, Humanismo burguês e humanismo proletário, identifica-se Próspero com “o tirano ilustrado que o Renascimento ama; Miranda, sua linhagem; Caliban, as massas sofridas; Ariel, o gênio do ar, sem ataduras com a vida” quatro seres onde já está toda a época (Aníbal Ponce apud Retamar, 2004, p. 30-31). 171 No entanto, o escrito de Ponce ainda se fez tomando em conta exclusivamente o mundo europeu. Para uma nova consideração do problema e leitura de A tempestade, segundo Retamar, ter-se-ia que esperar até a emergência dos países coloniais depois da Segunda Guerra Mundial, ou o que as Nações Unidas chamariam “zona economicamente subdesenvolvida” (Ibid, p.31). O livro de 1950 de Mannoni, Psicologia da colonização, identifica Caliban com o colonial, ainda que com as ressalvas feitas por Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas quanto ao “complexo de Próspero”. George Lamming em Os prazeres do exílio, de 1960, foi, para Retamar, o primeiro escritor latino-americano e caribenho a assumir a nossa identidade, e especialmente a do Caribe, com Caliban. Então no final dos anos sessenta, Caliban será assumido como símbolo do latinoamericano por três escritores antilhanos: Aimé Césaire em Uma tempestade, adaptação da Tempestade de Shakespeare para um teatro negro, Edward Kamau Brathwaite em Islas, e o próprio Retamar no ensaio “Cuba até Fidel”. Nosso símbolo é então Caliban, Próspero invadiu as ilhas, matou nossos ancestrais, escravizou a Caliban e lhe ensinou seu idioma para se entender com ele: Que outra coisa pode fazer Caliban se não utilizar esse mesmo idioma para maldizer, para desejar que caia sobre ele a “praga vermelha”? Não conheço metáfora mais acertada de nossa situação cultural, de nossa realidade (Ibid, p. 34)4. Ao propor Caliban como nosso símbolo, Retamar se dá conta de que ele não é inteiramente nosso, mas também uma elaboração alheia, ainda que desta vez partido de nossa realidade concreta (Ibid, p. 36). Ariel, por sua vez, não constitui uma polaridade com Caliban, uma vez que ambos são servos de Próspero, o “feiticeiro estrangeiro”, 4 Nesse momento Retamar cita uma lista exaustiva de artistas, escritores e intelectuais latino-americanos que seria demasiado reproduzir aqui. 172 Caliban sendo o “duro e inconquistável dono da ilha” e Ariel, aéreo ainda que também dono da ilha, é o intelectual, como Ponce e Césaire (Ibid, p. 37). E então cabe voltar e falar de José Martí e indagar sobre seu desconhecimento, bem como de seu texto “Nuestra América”, de janeiro de 1891, considerado por Retamar um dos escritos mais importantes da América, um manifesto para reivindicar o conhecimento latino-americano. Esse esquecimento seria resposta da forma como o colonialismo teria calado em nós, de modo que só leríamos com “respeito a autores anticolonialistas difundidos desde as metrópoles” (Ibid, p. 39-40). E continua, Para ser consequentes com nossa atitude anticolonialista, temos que nos voltar efetivamente aos nossos homens e mulheres que em sua conduta e pensamento encarnaram e iluminaram essa atitude. E nesse sentido, nenhum exemplo mais útil que o de Martí (Ibid, p. 40). Para Martí, América deveria voltar à suas raízes verdadeiras, de seu povo, bem como por si mesma alcançar a modernidade. No lugar do livro europeu ou yanqui, da universidade europeia – a imposição de Próspero – , deveria ceder à realidade de Caliban. Não se poderia tampouco prolongar a divisão de Sarmiento, contemporâneo de Martí, entre civilização e barbárie. Nomes dados por aqueles que desejavam tomar a terra alheia, como bem enfatizava Martí. Para Retamar, o diálogo entre Sarmiento e Martí era sobretudo um enfrentamento classista. O primeiro, um ideólogo da burguesia argentina que tentava copiar os esquemas da burguesia metropolitana, estadunidense, para seu país. O segundo, um vocero das classes exploradas e que fazia causa comum com os oprimidos, os negros e índios – ao contrário de Sarmiento que via no seu extermínio o caminho para o desenvolvimento. Martí não rejeitava o que de positivo poderia oferecer outras realidades, mas insistia que o tronco, que a matriz, que albergaria todas as repúblicas do 173 mundo, deveria estar em nossas repúblicas. Esse era um grande diferencial de não negação do outro, do antirracismo de Martí. Depois do chamado “mundo livre” nossos países estreariam uma nova forma de não ser independentes através do neocolonialismo. Borges, quem vem nesse momento, é considerado por Retamar um “típico escritor colonial”, como aquele que conhece quase mais do que ninguém a literatura europeia. A escrita de Borges estaria em próximo diálogo com sua leitura, num “processo de fagocitose que indica com claridade que é colonial e que representa uma classe que se extingue” (:52). Borges era para Retamar um assumido homem de direita. A pretensão de entramos ao “mundo livre” era uma versão moderna daquela pretensão das classes exploradoras do século XIX de nos submeter a uma suposta “civilização”, que estava em concordância com os propósitos dos conquistadores europeus. Mas frente a essa pretensão, foi-se forjando “nossa genuína cultura”, aquela gestada pelo povo mestiço, Esses descendentes de índios, de negros e de europeus que souberam capitanear Bolívar e Artigas; a cultura das classes exploradas, a pequena burguesia radical de José Martí, o campesinato pobre de Emiliano Zapata, a classe trabalhadora de Luis Emilio Recabarren e Jesús Menéndez, a cultura “das massas famintas de índios, de camponeses sem terras, de trabalhadores explorados” de que fala a Segunda Declaración de la Habana (1962), “dos intelectuais honestos e brilhantes que tanto abundam em nossas sofridas terras da América Latina”, a cultura desse povo que agora integra “uma família de duzentos milhões de irmãos” e “disse: basta!, e começou a andar” (Ibid, p. 61). Uma cultura que começou a andar e que tem características próprias, ainda que nascida de uma “síntese”. A sublevação de Tupac Amaru, a independência de Haiti, e os movimentos revolucionários em várias colonias na América, a Revolução Mexicana, a Coluna Prestes, a Revolução Cubana, dentre tantos outros eventos mencionados por Retamar, marcam o advento dessa cultura. Uma cultura filha da revolução, “da nossa 174 recusa multissecular a todos os colonialismos; nossa cultura, que como toda cultura, requer como primeira condição nossa própria existência” (Ibid, p. 63). Ainda que esta não seja a única cultura forjada aqui, uma vez que está também a “cultura da antiAmérica”, dos opressores, daqueles que tem os olhos e o pensamento na metrópole. E citando Mariátegui, Retamar indica que o amanhã da América Latina será o socialismo, um amanhã que já começou e que torna ociosa a pergunta sobre nossa existência. E Ariel, o intelectual da ilha de Caliban, pode escolher servir a Próspero ou se unir a Caliban na luta pela verdadeira liberdade. Sabido é que parte importante da intelectualidade do lado das classes exploradas provêm das classes exploradoras, das quais se desvincula radicalmente, como bem foi o caso de Marx e Engels (Ibid, p. 64). Mas no caso dos intelectuais de nossos países, há uma segunda ruptura a assinalar, a dizer, uma ruptura com “a dependência da cultura metropolitana que lhe ensinou, no entanto, a linguagem, e o aparelho conceitual e teórico”. Uma “transformação cultural em marcha” que leve também ao povo os mais altos níveis do saber e da criação. Retamar termina seu ensaio com uma parte do discurso do Che na Facultad de Padagogía, Universidad de las Villas, em dezembro de 1959, enfatizando que o povo debe ser trazido à universidade, uma vez que o conhecimento, assim como a universidade, a ele também pertence. No livro, Todo Caliban, logo adjunto ao ensaio vem a posdata à edição japonesa, publicada em Casa de las Américas em 1993, com o título “Adiós a Caliban”. Ali, Retamar faz alguns comentários a cerca do ensaio escrito anos antes. Dentre eles está o reconhecimneto da execiva presença de homens, ou melhor, da ausência de mulheres em “Caliban, revelando como ele mesmo chamou, sua “triste partida machista”. Também salienta que fala de mestiçagem mais no sentido cultural do que étnico – 175 mestizagem vista desde as oligarquias e que propõe a superioridade de algumas raças sobre outras, de qua haja raças, concepção inaceitável. É no antirracismo de Martí que se apega seu conceito de mestiçagem e é este que Retamar toma como referência. E segue, falando daqueles latino-americanos que nem sabem o que isso significa, que têm outras línguas e culturas, e daqueles que sobrevivem nas camadas mais inferiores do sistema capitalista. Termina concluindo que não é por imposição que se conseguirá uma “mestiçagem fértil”, “tal mestiçagem só pode nascer da interpenetração das matrizes culturais originárias de uns e outros”, que somente se alcança quando se extingue a exploração (Ibid, p. 78). Uma mestiçagem que não seguisse ao modelo da mestiçagem homogênea, mas que abrigasse e permitisse a diferença. Uma mestiçagem que não fosse neutra, mas que tomasse em conta as questões políticas, sociais e culturais pelas quais atravessa. O seguinte ensaio do livro é “Caliban Revisitado” que são notas que acompanham as seleções de ensaios do autor feitas em vários países e publicadas em Casa de las Américas número 157 julho-agosto de 1986. Retamar fala então dos anos sessenta, o momento em que escrevia seu “Caliban”, quando em muitos países a vida intelectual estava hegemonizada pela esquerda. Foram os anos da Revolução Cubana, da Argelina, de Vietnam, quando a direita conviveu com movimentos das comunidades oprimidas, das mulheres, dos povos marginais. Foi a época dos hippies, do Che, de Allende. Já no início da guerra fria, os Estados Unidos organizou o anticomunista Congresso pela Liberdade da Cultura, cuja revista se chamou em espanhol Cuadernos, naufragando em seu número 100 e sendo substituída pela revista Nuevo Mundo. A intenção era disputar desde a Europa a hegemonia da linha intelectual do continente 176 americano. Segundo Retamar, tentava-se criar um ambiente confuso e não bem se conseguia detectar as verdadeiras intenções da revista. Criava-se por exemplo, a ilusão de que alguns intelectuais positivos à Revolução Cubana estavam a questioná-la negativamente. O próximo ensaio, “Caliban en esta hora de nuestra América”, lido em conferências de universidades do México e de Cuba, publicou-se pela primeira vez em Casa de las Américas número 185, outubro-dezembro de 1991. “Caliban”, comenta Retamar, foi escrito dentro da perspectiva aberta pela Revolução e na tentativa de desenvolver aquele que havia sido um constante orientador da revolução, Martí, em um momento bastante difícil para Cuba. Muito mudou o mundo desde então. As décadas seguintes marcaram muitas perdas para a esquerda: a conquista de Salvador Allende e do socialismo no governo do Chile em 1970 logo seria derrocado com o Golpe Militar de Pinochet e o assassinato de Allende em 73; em 1979 regimes revolucionários chegam ao poder em Granada e Nicaragua e quatro anos depois, o primeiro destes regimes foi derrotado pela invasão dos Estados Unidos; em 1990 a Frente Sandinista de Libertación Nacional perdeu as eleições; em 1989 os Estados Unidos invadiram o Panamá. Avançada a década de 80, a União soviética desencadeou as transformações conhecidas como perestroika, juntando-se a outros fatores e fazendo desaparecer o “socialismo real” e com ela quase todos os países que o integravam, num trânsito ao “capitalismo real”. Começava a deixar de existir o mundo bipolar nascido da Segunda Guerra Mundial. A guerra contra Iraque – porque este havia invadido o Kuwait assim como os Estados Unidos haviam invadido o Panamá – mostrava quais seriam as novas regras do plano internacional. A direitização do mundo não deixaria de repercutir em nosso Continente, manifestando-se no político, no cultural e em ambos. 177 “Caliban” havia sido escrito na década de sessenta com esperanças que haviam também sido alimentadas pela emergência do Terceiro Mundo. O demógrafo francês Alfred Sauvy teria utilizado a expressão pela primeira vez em 1952; denotando de Primeiro Mundo os países capitalistas desenvolvidos, os de Segundo a União Soviética acompanhada pelos países socialistas europeus, e o Terceiro Mundo, os países pobres já conhecidos como subdesenvolvidos, muitos dos quais haviam sido até recentemente colônias e que em conjunto abrigavam a maioria da população mundial. Mas esse mundo [o terceiro] não alcançou romper com o círculo de fogo do desenvolvimento, seguiu sendo saqueado pelo Primeiro Mundo, foi imerso ainda mais na miséria e no marasmo, e perdeu interesse aos olhos de muitos, para quem apenas havia sido motivo de devaneio intelectual. Não obstante isso, a contradição entre os países superdesenvolvidos [subdesarrollantes] e os países subdesenvolvidos por aqueles, não só tem se conservado mas também acrescentado sua vigência, e é hoje a contradição principal da humanidade (Ibid, p. 101). Contradição que logo se daria o nome de relação Norte-Sul e que penduraria por muito tempo. Em seguida Retamar discute os conceitos de modernidade e modernismo na América Latina. A modernidade aqui seria “o resultado de um processo de modernização do capitalismo dependente na zona”, ou seja, uma modernidade que não nasce interna e autonomicamente, mas por meio de um chamado externo, e que não conduziu nenhum de nossos países a um desenvolvimento capitalista, pelo contrário, conservaram uma dependência econômica e política e “essas aberrações estruturais que ainda que desagrade a palavra não há mais remédio que considerar características do subdesenvolvimento” (Ibid, p. 105). Mas o mesmo não se poderia dizer das expressões artísticas de nossos povos que sempre desfrutaram de certa margem de autonomia. Sendo o modernismo hispano-americano a expressão literária de entrada da América à referida modernidade (Ibid, p. 106). 178 Partindo das etapas do capitalismo oferecidas por Jameson – capitalismo de mercado; monopolista e imperialista; e pós-industrial ou melhor, capitalismo multinacional, aquele que vivemos – culminando na condição para a chamada pósmodernidade, Retamar pergunta se poderia se falar em pós-modernidade na América Latina. Sim, responde, pensando-se a internacionalização, ou “transnacionalização capitalista do mundo” (termo cunhado por Yúdice com quem Retamar dialoga) a América Latina não poderia permanecer indiferente à pós-modernidade. Afinal, o capitalismo multinacional não nos é, e não pode nos ser alheio, e acrescenta Retamar, “nos concerne fatalmente, ainda que seja desde o lado da sombra” (Ibid, p. 111). O ensaio que segue, “Caliban quinientos años más tarde”, foi escrito em 1992 para conferências em universidades americanas e cujas partes foram utilizadas em escritos para alguns países latino-americanos e europeus, no mesmo ano. Foi publicado pela primeira vez em Nuevo Texto Crítico, número 11, primeiro semestre de 1993. Retamar inicia-o falando que o “conceito-metáfora” Caliban alude não somente a América Latina e Caribe, mas aos “condenados da terra” em conjunto, em alusão a Frantz Fanon. A sua tarefa, diz ele, é “falar desde Caliban, não sempre sobre ele” (Ibid, p. 118). Quando então Retamar nos convida a olhar Europa mil anos atrás, nos mostra que “pouquinha coisa” era e indaga como a realidade mil anos depois é outra. Pois que junto com o genovês que arribou nessas terras, veio também um grande projeto que germinava na sociedade europeia: o capitalismo, que precisava da pilhagem do resto do planeta para florescer e dar a uma parte dos europeus a “acumulação originária de capital” (Ibid, p. 119). Pois assim chegou a modernidade, e nela incluída a pósmodernidade, o mundo ocidental, o capitalismo. 179 “Oste”, “Ocidente”, “mundo, cultura, civilização, ou sociedade ocidental” são os trajes com que sai a passeio o capitalismo. Às vezes se acrescenta (sem nenhum direito verdadeiro) o nome de “cristão”, e então considera que está precioso: ou seja, perfumado e letal”(Ibid, p. 120). Um florescimento sempre a custa do extermínio, do genocídio, da exploração e da pobreza dos outros países e de partes de seus próprios povos. E, embora os países ibéricos tenham sido os primeiros europeus a se estabelecer na América, e contribuído para o desenvolvimento de outros países europeus como Holanda, Inglaterra, França e Alemanha, não puderam atingir o desenvolvimento destes - “os mais ocidentais do continente europeu, ficaram ao cabo da periferia do Ocidente” (Ibid, p. 121). É o lugar ocupado por Portugal entre centro e periferia, aquilo que Boaventura de Souza Santos (2001) mencionou como um Caliban na Europa, um Próspero com colonialismo periférico, subalterno e a mercê de um Próspero mais grande. Nem Próspero nem Caliban, mas algo na fronteira, na liminaridade. Não sendo nem ele considerado branco pela Europa que o abriga em suas margens. Portugal é um misturado. Se o chamado “descobrimento” iniciou-se com os países ibéricos, é sabido que a partir do século XVII essa história passou a ser escrita principalmente em inglês. E cabe aqui a questão proposta por Boaventura de como infere no colonizado o problema de auto-representação do colonizador, um colonizador também ele colonizado? Retornando a Retamar, linhas adiante ele irá descartar o termo “descobrimento” e indicará que com ele também se deveria descartar o sistema terminológico e conceitual desta denominação, ou seja, a ideologia de Próspero. O termo “raça”, inventado no século XVI, justificou o saqueio do mundo com a afirmativa de que as diferenças “implicavam significantes fixos de significados não menos fixos”, e que 180 esses significados eram negativos para aqueles de pele de cor e positivos para aqueles de pele branca – ou, ironiza Retamar, “mais claros” ou “rosados”, uma vez que nunca se viu um ser humano fantasmagoricamente branco (Ibid, p. 124). O termo “civilização”, inventado em mediados do século XVIII, designou-se ao estado que era então Ocidente, e considerou-se a única forma de vida realmente humana, nomeando as demais comunidades humanas como bárbaras ou selvagens. Depois da Segunda Guerra, a ONU viria a rebatizar bárbaros e selvagens com as denominações “zonas economicamente subdesenvolvidas”, e pouco depois, países “subdesenvolvidos” ou “países em vias de desenvolvimento”. Como se trata, como nos casos anteriores, de termos de relações (povos brancos/povos de cor ou coloreados, civilização/barbárie ou selvagismo, países colonizadores/países colonizados), é necessário conhecer o outro polo. E se disse que esse era “países subdesenvolvidos”. A nova relação seria pois países desenvolvidos/países subdesenvolvidos. E disso se pode inferir que se estes últimos se comportavam bem aprendiam suas lições, podiam chegar a ser os primeiros, os grandes, as pessoas mais velhas. Essa aberração, cândida ou malintencionada, se chamou “desenvolvimentismo” [desarrollismo]. Como se viu, comportar-se bem supõe por exemplo se submeter às soluções drásticas, de choque, do Fundo Monetário Internacional, que baixo o ensino letal do neoliberalismo está devastando de novo as terras de Caliban (Ibid, p. 126). Isso porque muitos países cresceram a custa de outros e nenhum se subdesenvolveu sozinho: os países superdesenvolvidos subdesenvolveram e subdesenvolvem aos demais. E a contradição entre uns e outros, entre os grandes senhores e os condenados da terra, entre Póspero e Caliban percorreu todos esses anos desde 1492 e se constitui, como já mencionado em ensaio anterior, a maior contradição da humanidade (Ibid, p. 128). As diferenças entre países ricos e pobres cresceu muito e com elas o discurso direitista que sanciona e normaliza essas diferenças. Para tanto, utiliza-se de máscaras, silêncios, reticências, “ou palavras pomposas ou reluzentes que mudam de aspecto mas 181 não de função” (Ibid, p. 129). A “palavra”, o “conceito” imperialismo desapareceu dos textos de muitos teóricos, ainda que não, como sabemos, o imperialismo. E os povos agredidos nem souberam que ele morreu no papel e renasceu como “globalização, neoliberalismo, mercado selvagem, debilitação do Estado nos países pobres, transnacionalização, privatização, nova ordem mundial … e até democracia e direitos humanos, que é levar o sarcasmo um pouco longe” (Ibid, p. 130). Pensando quinhentos anos depois de 1492, o que pode dizer Caliban sobre nosso século, nossos dias? Se os economistas diziam que a década de oitenta foi perdida para América Latina e Caribe, Caliban perguntaria se o século XX não terá sido um século perdido. E depois da Guerra Fria, começaram as “guerras quentes”, as guerras interétnicas, e aquelas silenciosas que são a morte por fome, doenças curáveis, pelo consumo exagerado de drogas. Além disso, as espécies animais extinguidas, os mares e rios sem peixes e os céus sem pássaros, atmosferas poluídas, criando um ambiente quase impossível para a sobrevivência. E então aqueles do Sul começam a bater as portas das cidades do Norte. Quando o Norte “se considera finalmente vencedor de tudo”, “os muros de suas cidades se vêm rodeados por seres ruidosos, multicolores e carnais que vêm do Sul e não de outro pesadelo; do Sul e não do passado” (Ibid, p. 137-8). Essa questão faz lembrar aquilo que menciona Manuela Ribeiro Sanches (2006), de que a Europa moderna, fechada para uma livre circulação dentro dela, é ao mesmo tempo, contraditoriamente, atravessada pelos variados fluxos da globalização, capitais e pessoas provenientes dos antigos impérios, que “batem à porta da fortaleza, fazendo das 182 sequelas do passado momentos incontornáveis que revelam a complexidade, se não a fatalidade, dos laços construídos ao longo de toda a história da modernidade”. Nesse sentido, na montagem narrada por ela, feita pelo Estado Novo português de uma cartografia que afirma a não pequenez de Portugal, “a identidade nacional não pode ser dissociada de um passado colonial, bem como o 'lá fora' não deixa de fazer, agora de modo diferente, parte do 'cá dentro'” (Sanches, 2006: 7-8). E para terminar o ensaio, Retamar sugere que a opção de América Latina e Caribe é perdoar aquele começo e fazer culminar um verdadeiro descobrimento: Neste caso, o descobrimento do múltiplo ser humano “ondulante e diverso: o ser humano total, homem, mulher, pansexual; amarelo, negro, pele vermelha, cara-pálida, mestiço; produtor (criador) antes que consumidor; habitante da Humanidade, a única pátria real (…), sem Leste nem Oeste, sem Norte nem Sul, pois seu centro será também sua periferia” (:139). O último ensaio recolhido em Todo Caliban é “Caliban ante la antropofagia”, publicado em Nuevo Texto Crítico, número 23-24 de 1999. Então ele fala sobre a ausência de Oswald de Andrade em “Caliban”, a quem, em 1971, ele desconhecia. Para tanto Retamar aborda brevemente a antropofagia e a atuação de Oswald de Andrade e logo, encontra nela a semelhança com seu “Caliban”, no sentido de que ambos buscavam reivindicar e esgrimir como símbolos válidos, uma parte da América que a história oficial havia negado. No entanto, a antropofagia era nascida de um manifesto vanguardista, o que Retamar vê como uma dívida, como uma espécie de “vontade de sobressaltar ao burguês, ou a quem fosse, mediante uma redução ao absurdo da metáfora antropofágica: sem deixar de reconhecer a esta, não obstante, seu achado” (Ibid, p. 148). “Caliban”, esse Outro de que fala Retamar, é uma estratégia discursiva construída pelo ocidente, um “esteriótipo”, nas palavras de Homi Bhabha (1998). Um 183 discurso colonial que depende da fixidez, dessa criação com sabor de realidade, depende e se funda nesse esteriótipo. Pois a construção do outro tem um efeito de realidade e o discurso colonial, enquanto aparato de poder, apoia-se no reconhecimento e no repúdio de diferenças em relação aquilo que ele criou. Afirma-se e recusa-se a diferença a uma só vez, num jogo de ambiguidade. O colonizador cria Próspero e Caliban, e os torna reais, não mais meros personagens, e de tão reais, o próprio Caliban passa a se reconhecer como Caliban no sentido que Próspero dá a ele – e não na imagem que ele cria a partir dele mesmo, desde seus povos, como parece ser o esforço de Martí que Retamar a todo tempo retoma. E esse Caliban, aos olhos de Próspero é o invisível necessário, a negação e o desejo. Talvez, como parece sugerir a leitura de Retamar, aquela imagem ambígua que o próprio Shakespeare havia desenhado tomando a ideia utópica de Montaigne para construir um personagem degenerado. Um pequeno trecho de Stuart Hall enfatiza o que se quer dizer: “Nenhum local, seja 'lá' ou 'aqui', em sua autonomia fantasiada ou in-diferença, poderia se desenvolver sem levar em consideração seus 'outros' significativos e/ou abjetos” e, acrescenta ele, a “exterioridade é constitutiva” (Hall, 2003:116). Partindo de uma “perspectiva de contato” Mary Louise Pratt (1999), coloca em relevo como os indivíduos se constituem nas e pelas relações que têm com outros. Colonizadores e colonizados, viajantes e visitados, têm uma presença em comum, uma interação, possuem entendimentos e práticas interligadas e permeadas por relações assimétricas de poder. Embora possamos pensar os ensaios de Retamar usando de teorias pós-coloniais, ele não é um autor pós-colonial. Não o é porque está entre seus antecessores. 184 Como aponta Manuela Ribeiro Sanches (2006) a condição pós-colonial vive de um novo modo de se entender o passado e o presente, num olhar alternativo, revisitando-os. Segundo Stuart Hall (2003) o pós-colonial é uma resposta à “necessidade de superar a crise de compreensão produzida pela incapacidade das velhas categorias de explicar o mundo” (Hall, 2003: 123). Enquanto conceito, pode nos auxiliar no entendimento das mudanças das relações globais, vivenciadas na transição irregular da era dos Impérios para as pós-independências ou pós-descolonização. Porém o pós-colonial não é homogêneo, não deve ser universalizado, mas apreendido em suas diferenças, uma vez que as sociedades pós-coloniais não o são em um mesmo sentido. Em concordância, para Mary Louise Pratt (1999) o termo pós-colonial faz referência a disponibilidade para reflexão crítica da presença das manobras do colonialismo atualmente. Numa reflexão que vai por caminhos que não haviam sido assim traçados até agora. Esse termo, segundo ela, não deve ser usado partindo desde uma concepção de que o imperialismo ficou pra trás e que suas manobras não são relevantes para pensar o mundo que temos hoje (Pratt, 1999: 16). Boaventura de Sousa Santos (2001), ao falar de uma identidade pós-colonial sugere o rompimento com a distinção entre a identidade do colonizador e aquela do colonizado. Essa identidade pós-colonial deve pois ser construída “nas margens das representações e através de um movimento que vai das margens para o centro”. A cultura e o crítico pós-colonial estão portanto num “espaçoentre”, num liminar, num lugar de fronteira, “de extremidade ou de linha de frente onde só é possível a experiência da proximidade da diferença”. Espaço esse em que se constrói e negocia a “diferença cultural” (Santos, 2001:33). No mesmo sentido, Sonia Almeida sugere que o debate pós-colonial quebra com os lugares fixados de dominantes e dominados, como posições antagônicas e distintas. A periferia vira centro e o centro 185 vira periferia. Instabilizam-se esses lugares essencializados, criados em contexto de dominação5. Em um livro mais recente, Manuela Ribeiro Sanches aborda que a teoria póscolonial, somente pode ser entendida em todo seu alcance ao ser considerada em relação a teorias e histórias que se destacaram por sua proposta anticolonial, que em sua diversidade, contribuíram para uma mudança na ordem mundial. São escritos que começaram a aparecer na segunda metade do século XX e que reivindicavam o direito à autodeterminação e à independência total das antigas metrópoles (Sanches, 2011, p. 11). Esse momento caracterizar-se-ia pela afirmação da identidade negra ou africana e pelas reivindicações de uma descolonização fora e dentro da Europa, nomeadamente através do questionamento das narrativas eurocêntricas, da luta pela independência, bem como pela criação de uma via alternativa aos dualismos da Guerra Fria, através da noção de Terceiro Mundo (Ibid). Vemos que é exatamente neste contexto e momento que devemos situar os ensaios de Ratamar. Num discurso anticolonial, que marca a oposição entre Caliban e Próspero, o centro e a periferia. Retamar desenha, mas não dá um passo além que seria de superar essas polaridades. Ele está mais próximo de Du Bois, Amílcar Cabral, Frantz Fanon ou Aimé Césaire, que são precursores do discurso pós-colonial. Por exemplo, seu “Caliban”, assemelha-se em muito sentidos à reivindicação de Du Bois, em The Souls of Black Folks, publicado em 1903, da recuperação de uma dignidade perdida, enfatizando a importância da cultura africana para construção do continente americano, denunciando a ausência de direitos civis e políticos para os negros nesses países e voltando-se para a luta contra a opressão aos negros africanos, aqueles na África ou na diáspora (Ibid, p. 17). O mesmo pode-se dizer com relação a Frantz Fanon. Seu livro 5 Anotações do seminário ministrado pela Profª Sonia Vespeira de Almeida (Un. Nova Lisboa) no PPGAS/UFSC, “Cultura Popular, construção da nação e pós-colonialismo”, nos dias 25 a 29 de agosto de 2011. 186 Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1959, sugere que a existência da problemática do negro somente deve ser pensada se em sua relação com o branco. O negro é um Caliban, uma criação do branco Próspero que o visibiliza para invisibilizar. E o negro antilhano se assume e reconhece nessa realidade construída na polarização e hierarquização da diferença: quer falar o dialeto francês, quer a mulher branca, o homem branco, obedece à posição oferecida de inferioridade e dependência, vê na sua viagem a França um desenvolvimento em sua personalidade, potencializa a sexualidade, traz o branco em si. Um pouco mais tarde lemos livros brancos e assimilamos paulatinamente os preconceitos, os mitos e o folclore que nos chegam da Europa. Mas não aceitamos tudo, pois alguns preconceitos não são adaptáveis as Antilhas. [..] Sem querer falar de catarse coletiva, seria fácil demonstrar que o preto, irrefletidamente, aceita ser portador do pecado original. Para este papel, o branco escolhe o negro, e o negro, que é branco, também escolhe o negro. O negro antilhano é escravo desta imposição cultural. Após ter sido escravo do branco, ele se auto-escraviza. O preto é, na máxima acepção do termo, uma vítima da civilização branca (Fanon, 2008, p. 162). E também como Retamar, Fanon nos deixa a esperança da reviravolta, um recomeço, para ele numa transformação de brancos e negros em conjunto, em que ambos se afastem “das vozes desumanas de seus ancestrais, a fim de que nasça uma autêntica comunicação”. “Superioridade? Inferioridade? Por que simplesmente não tentar sensibilizar o outro, sentir o outro, revelar-me outro? (Ibid, p. 191). Finalmente cabe uma breve aproximação, como já sugerida por Fredric Jameson no prefácio à edição estadunidense Caliban and Other Essays, do “Caliban” de Retamar com o Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente de Edward Said. Este tampouco é um texto pós-colonial, mas certamente um de seus precursores e inspiradores. Para Said, o orientalismo é um discurso. O Oriente não é um dado da natureza, como se estivesse “meramente lá, assim como o próprio Ocidente não está apenas lá”. “O Oriente é uma ideia que tem uma história e uma tradição de pensamento, 187 imagística e vocabulário que lhe deram realidade e presença no e para o Ocidente” (Said, 1990, p. 16-17). Um discurso orientalista que não é de todo uma fantasia, mas está alicerçado em um teoria e uma prática, recebe investimento material e a ação de uma hegemonia (em referência ao conceito cunhado por Gramsci) de um pensamento que concebe a cultura europeia como superior. O escrito de Said demonstra a potência do discurso cultural ocidental. Ilustra a estrutura de dominação e o perigo de, para os povos dominados, se empregar essa estrutura sobre si e sobre seus outros. Que o Oriental se veja com o espelho orientalista, que Caliban se veja como o Caliban escravo, selvagem e merecedor de injúrias. Retamar se apropria de Caliban para desenhar nele a cultura mestiça latinoamericana. Mas, continua usando a dicotomia criada pelo colonizador destas terras. Ele propõe que se rompa com as matrizes epistemológicas das metrópoles (em partes, porque a lógica de completa negação do outro é exatamente aquela que subjaz esse pensamento), mas mantém a polaridade entre Caliban e Próspero. Mesmo fazendo uma releitura de seus sentidos e símbolos, Retamar não chega a enfatizar a ambiguidade de cada personagem, não questiona o ser da dicotomia em si. Talvez a arrancada póscolonial de Retamar seja a sua percepção de um novo descobrimento: “o descobrimento do múltiplo ser humano 'ondulante e diverso'” ... “sem Leste nem Oeste, sem Norte nem Sul, pois seu centro será também sua periferia” (Retamar, 2009, p. 139). Fica a questão de que será possível romper essas polaridades criadas pelo pensamento colonial? Será válido? É disso que se trata? Como pensar Caliban e Pŕospero dentro de um discurso pós-colonial? Como seria pensar a história de nossos 188 países, nosso pensamento, nossas culturas, nossos povos, sem essa dicotomia? Como descolonizar o pensamento, nossos espíritos, como dizia Bolívar? Referências BHABHA, Homi (1998). “A outra questão: esteriótipo, discriminação e discurso do colonialismo” “Da mímica e do homem: a ambivalência do discurso colonial”. In: O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG. FANON, Frantz (2008). Pele Negra, Máscaras Brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA. HALL, Stuart (2003). “Quando foi o pós-colonial?” In: Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed.UFMG. RETAMAR, Fernández Retamar (2004). Todo Caliban. Buenos Aires: CLACSO. PRATT, Mary Louise (1999). “Introdução: crítica na zona de contato”. In: Os olhos do império:relatos de viagem e transculturação. Bauru, SP: EDUSC. SAID, Edward (1990). “Introdução”. In: Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente. São Paulo: Companhia das Letras. SANCHES, M. R. (eds) (2006). “Introdução”. In:Portugal não é um País Pequeno. Contar o Império na pós-colonialidade. Lisboa: Cotovia. SANCHES, M. R. (2011). “Viagens da teoria antes do pós-colonial”. In: As malhas que os impérios tecem: textos anti-coloniais,contextos pós-coloniais. Lisboa: Cotovia. SANTOS, Boaventura de Sousa (2001). “Entre Próspero e Caliban: Colonialismo, póscolonialismo e inter-identidade”. In: Ramalho, Ma. Irene e Ribeiro, Antônio Sousa. Entre ser e estar: raízes, percursos e discursos da identidade. Porto: Afrontamento. 189 Feios, sujos e malvados sob medida – a utopia médica do biodeterminismo Lizandro Lui1 Francis Moraes de Almeida2 O trabalho que segue tem como objetivo analisar a tese de doutorado em História de Luis Ferla defendida em 2005 na Universidade de São Paulo com o título: "Feios, sujos e malvados sob medida - do crime ao trabalho, a utopia médica do biodeterminismo em São Paulo (1920-1945)”. A tese trata recepção das ideias do determinismo biológico defendidas pela Escola Positivista praticadas em São Paulo no período de 1920 a 1945. Descreve a chegada das teses de Cesare Lombroso no Brasil no período em que já estavam em decadência na Europa. Ferla discute o processo de assimilação destas ideias e o modo como foram implementadas em certas instituições sociais. O trabalho de estâncias como o Estado, sistema carcerário são postos em debate como também o mundo do trabalho, formação de profissionais da área da medicina e direito. As ideias defendidas pela Escola Positivista afirmavam que conhecendo a biologia do ser humano poder-se-ia aliviar a sociedade de seus males sociais. As disfunções e desequilíbrios do corpo humano eram relacionadas às disfunções sociais. O Curso de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de São Paulo criado em 1918 e a posterior criação da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo em 1921. Haverá 1 Graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista de pesquisa do CNPq. E-mail: [email protected] 2 Doutor em Sociologia e Professor do departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: [email protected] 190 também uma nítida aproximação entre as escolas de medicina e direito nesse período. A escola biodeterminista de Lombroso via o comportamento antissocial como uma patologia, assim o crime seria um sintoma e a pena ideal um tratamento. As ações que não condiziam com as normas sociais eram consideradas patológicas. Esse termo “patológico” era usado para designar ações que não condiziam com as normas impostas pela sociedade e estava em voga usar termos médicos para definir fatos sociais. As ações entendidas como não condizentes eram duramente reprimidas e a ideia da Escola Biodeterminista era que se tratassem esses males sociais como se trata uma doença num organismo. A punição deveria ser acompanhada de um tratamento, ou ser o tratamento em si a punição a fim de que o indivíduo não reincidisse mais e se curasse. Na virada para o século XX começou a se esboçar uma tendência em deixar de lado as teses da Escola Clássica que focava sua atenção na ação criminosa para se adotar as teses da Escola Positiva que concedia mais importância ao indivíduo. Esse movimento provocou mudanças na forma de julgar um caso e na presença do médico dentro dos tribunais. A criminalidade passou a ser entendida sob um novo enfoque a partir desse momento: não mais no ato criminoso conforme dava a Escola Clássica, mas ao indivíduo que deveria ser tratado como um portador de uma patologia. As estruturas bioantropológicas seriam as determinantes do comportamento antissocial, dessa forma, o crime já nascia com o indivíduo, desde criança ele apresentaria sinais anatômicos que acusariam sua patologia. A função do médico, segundo nos explica Ferla durante todo livro é identificar essas patologias e as tratar antes que o indivíduo cometa um ato. A ideia de punição também foi reformulada pela Escola Positiva, ela não era mais entendida como simplesmente encarceramento, ou sequestração desses indivíduos da sociedade. A casa de punição também teria função terapêutica, ou seja, depois de ter 191 deixado de lado o ritual do suplício, o próximo passo seria deixar de lado o encarceramento sem terapia. Toda pessoa que fosse presa passaria por um tratamento oferecido a fim de disciplinar o corpo já que estava de certa forma “infectado” por uma patologia. A terapia teria como fim recuperar essa pessoa a fim de que ela possa viver em sociedade. A punição era entendida como ineficiente para esses casos em que o indivíduo estivesse com esse mal. A Escola Positiva negava o livre-arbítrio, seus teóricos defendiam a ideia da pena enquanto tratamento e não como punição. Essa concepção marca a diferença da Escola Positiva para a Escola Clássica que tinha como principais teóricos Beccaria e Bentham que associavam o crime ao livre arbítrio, portanto culminava em culpa e punição. O fato do crime seria uma ruptura com o pacto social. A ação tinha mais relevância do que o sujeito segundo os pressupostos da Escola Clássica. Contrariando toda essa forma de procedimento judicial, a Escola Positiva enfrentou o grande desafio de deslocar o enfoque para o sujeito e não mais para o ato. O discurso dos seguidores de Lombroso no Brasil -destaca-se Nina Rodrigues e Flamínio Fávero -seguia na direção de que seria possível identificar na criança de um ano se ela seria um futuro criminoso. Já na infância ou na puberdade os primeiros traços de comportamento antissocial poderiam ser identificáveis. Era necessário prever o ato criminoso e por isso que era importante a identificação dos corpos perigosos antes mesmo deles praticarem o crime. Prevenir o crime antes que acontecesse, reconhecer o criminoso antes que ele atuasse. (Ferla, 2009, p.15) Medicina e direito estavam muito próximos nas universidades de São Paulo e Rio de Janeiro nas décadas de 20 e 30. O olho especializado do médico seria capaz de 192 identificar os sinais de desvio numa pessoa. A defesa social se baseava, sobretudo, na sequestração do indivíduo antissocial. Mas ocorreram mudanças nesse ponto como a prevenção, segundo Ferla ganhava maior relevância. Se o crime era resultado de problemas físicos e psíquicos, ele já estava presente antes mesmo dele ser cometido. Assim era necessário que o individuo sege encontrado e tratado, antes dele cometer o ato. Ferla faz uso da teoria de Michel Foucault no que diz respeito à evolução das técnicas de tratar com aqueles que infligiram à norma. Desde as cenas chocantes do suplício em praça pública até os dispositivos disciplinares de “adestramento do corpo”, muito mais sutis e disseminadas. (Ferla, 2009, p.36). Era necessário fazer uso de técnicas de controle e punição eficientes a fim de manter a ordem. Aparentemente as teorias de Lombroso respondiam a todos os quesitos de eficiência e eram legitimadas por grande parte dos médicos e da polícia. Formou-se uma multidão em torno das grandes cidades, na sua maioria pobre. Os operários das fábricas provinham dessa grande massa. Garantir que as crianças desde cedo não fiquem nas ruas, e se preparam para serem bons funcionários obedientes era umas das preocupações da Escola Positiva no Brasil. Pensavam ser possível com o auxílio de a medicina biodeterminista redirecionar melhor as energias humanas dentro das fábricas a fim de evitar perda de funcionários por acidentes, ou queda do rendimento da produção. A tese faz a história do desenvolvimento da Escola Positiva de Medicina e da Sociedade de Medicina de São Paulo. Mas é preciso ter em mente que essas ideias foram se modificando até chegar em torno da década de 40 quando já tinha se modificado em vários pontos. Como a entrada de médicos endocrinologistas para medir os hormônios dos sujeitos e dos odontólogos para verificar se as cáries tinham relação 193 com a conduta moral da pessoa. As teses dos discípulos de Lombroso não davam mais conta de explicar a realidade que se apresentava. Muitos testes foram feitos e apresentavam resultados frustrantes para os que ainda acreditavam no biodeterminismo. Surge também no decorrer da década de 40 a endocrinologia criminal, mais sofisticada, mas igualmente assentada nas teses positivistas: essa corrente de pensamento afirmava haver uma relação entre os hormônios, e a atitude criminosa. Assim por meio de exames seria possível identificar as pessoas que estariam biologicamente propensas a cometer atos antissociais: roubo, agressão, vadiagem, estelionato, etc. Neste ponto do texto é que se configura a parte mais importante da obra de Ferla, quando ele afirma que a valorização do papel do Estado na construção de uma sociedade moderna. Essa modernização sendo subsidiada pelo discurso científico. (Ferla, 2009, p.55). Percebe-se a confiança que era depositada na ciência enquanto sistema de produção da verdade associado a interesses políticos. Esses últimos contribuíram para o reforço de uma postura política autoritária no sentido de se apoderar dos corpos das pessoas a fim de executar exames, medições e experimentos. A disciplinariedade dos corpos como descreve Foucault vem ao encontro destas ações praticadas pelo Estado. Este tomava posse dos corpos dos indivíduos encarcerados a fim de realizar exames que comprovariam sua natureza supostamente criminosa. Fazia isso por que tinha ao seu lado a esfera legitimadora da ciência representada pela Escola Positivista. Pessoas de grande importância tal como Flamínio Fávero então presidente do Conselho Penitenciário e deixava claro sua concepção do criminoso como doente, logo, posicionava a favor das teses biodeterministas. É nesse sentido que a teoria de 194 Foucault quanto à legitimação de um discurso se confirma. Eram pessoas que detinham em suas mãos algum tipo de poder que poderiam fazer valer na sociedade tais teses. Ferla chama de simbiose do aparelho repressivo associado à modernização científica que se aprofundava e terminava por favorecer as estratégias da Escola Positiva (Ferla, 2009, p.56). Foi uma construção social de um inimigo objetivo que também ia ao encontro dos interesses de controle da população por parte do Estado. O livro se detém em algumas partes no pensamento de Flamínio Fávero, também professor de Medicina legal e ocupante de cargos públicos na área repressiva do estado. Em suas próprias palavras transcritas por Ferla, Fávero afirma: “no direito penal moderno, as ideias dominantes visam, por certo, a reforma e a readaptação dos criminosos. (...) merecem ser afastados do seu habitat, enquanto não se restabeleçam para depois voltar ao convívio social” (Fávero apud Ferla, 2009, p.84). O novo código penal estabelecido em promulgado em 1940 manteve a instituição da pena e a responsabilidade moral, mas estabeleceu medidas de segurança, dispositivos jurídicos que restringiam a liberdade e o movimento e que tinham as condições de sua aplicação e duração dependentes da periculosidade do indivíduo (Ferla, 2009, p.87-88). Defendia Fávero que cada doente era portador de uma feição especial que caracterizava sua doença que o tratamento médico orientará uma terapia. O exame médico legal era feito a princípio para diagnosticar se aquele criminoso apresentava características anormais. Fez-se por alguns, como veremos mais adiante, esse exame com empregados de fábricas a fim de verificar a aptidão do sujeito a certas atividades e a propensão daquele individuo em provocar acidentes. O exame médico legal da Escola Positiva nunca alcançou seu total objetivo de examinar 195 praticamente toda a população, mas conseguiu por várias medidas em prática. Uma delas e que persiste até hoje é a presença de psiquiatras nos tribunais a fim de verificar a sanidade mental do acusado e a criação do manicômio judiciário foi uma nítida vitória do projeto positivista que existe até nossos dias. Os médicos eram chamados aos tribunais sempre que necessário avaliar um criminoso, expediam seus laudos, em seus pareceres criminológicos atribuíam características aos delinquentes como criminoso psicótico, acidental, etc. As ciências da mente ocupavam lugar decisivo no que se refere à criminologia. Isso significa como explica Ferla um recuo significativo da antropometria, pouca coisa sobrara de Lombroso no início dos anos 40. As medições antropométricas continuavam a ser feitas pelos exames médicos legais, os indivíduos continuavam a ser classificados, os resultados produzidos tinham agora pouca importância (Ferla, 2009, p.183-184). As avaliações psiquiátricas tinham muito peso nos laudos, mas as medições de corpos haviam perdido completamente de sentido. Em outro ponto do livro, o autor dedica atenção à grupos que receberam atenção especial pelo projeto positivista. Dentre eles, trabalhadores urbanos, menores e homossexuais. O trabalho era considerado a mais importante estratégia de regeneração de um condenado. A regeneração é no sentido da utilidade social do sujeito, Ferla usa Foucault para justificar seu argumento. No que se refere ao autor francês, quando este afirma que o trabalho é um princípio de ordem e regularidade, sujeita os corpos a movimentos regulares, exclui a agitação e a distração. (Foucault apud Ferla, 2009, p.241). 196 A causa mais importante da entrada da medicina legal no ambiente de trabalho foi no sentido de auxiliar a racionalização do trabalho enfocando o melhor aproveitamento das forças de trabalho. O acidente de trabalho era algo que deveria ser evitado a fim de evitar prejuízos, além do mais, era pensado como um ato antissocial que acontecia nas fábricas. O autor continua explicando que se o criminoso era portador de predisposições biológicas para o ato antissocial, potencializadas pelo ambiente, assim também o trabalhador com relação ao ambiente de trabalho. O médico então deveria avaliar e classificar as melhores predisposições do trabalhador ao posto de trabalho que mais lhe era conveniente a fim de dinamizar o processo de produção e diminuir acidentes de trabalho. Os pós-lombrosianos da década de 30 atribuíam o conceito de predisposição ao crime e conferiam ao ambiente o papel de elemento chave para o ato criminal. Se o lar expulsava a criança, a rua a atraia (Ferla, 2009, 284). As ruas estavam cheias de crianças e jovens e como elas ficavam em casa todo dia por que seus pais iam trabalhar, eram atraídas para este ambiente que era considerado imoral. Assim a função do Estado seria garantir que as crianças ficassem em suas casas ou nas escolas. Esse espaço de vícios e desejos deveria ser evitado. A tese biodeterminista perdia fôlego, mas ainda a ideia de que o ambiente corrompe a pessoa continuava forte. Ferla faz uso da teoria de Foucault sobre biopoder, quando se refere à norma que disciplinava não somente os corpos, mas toda a população. “o biopoder seria, então, não apenas a poder sobre a vida do corpo, mas também sobre a vida da população. (Foucault apud Ferla, 2009, p.314). As tecnologias disciplinadoras eram empregadas a fim de controlar a ação criminal. O poder regulador do Estado não exitou quando o assunto foi disciplinar os corpos considerados patológicos a fim de oferecer-lhes terapia. 197 Esses grupos citados por Ferla, os trabalhadores, os menores e também os homossexuais ganharam atenção por que representavam para o Estado grupos importantes. A criança representava o amanhã do Brasil, não podia se perder essa futura força de trabalho, as bases do país para o futuro, o menor desviante seria a corrosão dessas bases. O homossexual representaria uma ameaça ao próprio crescimento vegetativo do Brasil e o trabalhador produtivo e disciplinado, segundo o autor, seria o ponto de chegada, o fim último das estratégias de biopoder. Se aproximando da parte conclusiva do livro, Ferla faz um balanço entre as conquistas que teve a Escola Positiva como também as resistências. Se tratando das conquistas, pode-se ressaltar a criação dos laboratórios de antropologia criminal, que ao longo do livro é descrito todo o seu funcionamento, a não criminalização da homossexualidade no código penal de 1940, criação de manicômios judiciários, e a identificação civil obrigatória. Em relação as derrotas, pode se dizer que a fragmentação que a teoria sofreu, as mudanças que ela precisou passar para se adaptar aos novos desafios e as novas questões que a sociedade trazia. Outro problema que Ferla ressalta é o alto custo econômico que a instituição plena do projeto acarretaria. Também uma resistência que foi sempre encontrada foi por partes dos teóricos do direito penal que não acreditavam em predisposição para o crime, ou como crime como fato social natural e sim, como um ato feito por livre arbítrio. O juiz não foi substituído pelo médico no tribunal, e a prisão não se tornou um hospital, mas a presença do médico se tornou uma peça importante para desvendar vários crimes, aparentemente irracionais. A consolidação do programa de criação do manicômio judiciário foi uma nítida vitória do projeto positivista que existe até nossos dias. A não definição do tempo da pena, o tratamento individualizado, a concepção de criminosos que sofrem de 198 transtornos mentais precisarem mais de tratamento do que punição é o que de mais relevante sobrevive hoje da Escola Positiva. A avaliação do acusado por um médico e não apenas por um juiz. Ferla se esforça no sentido de trazer toda a concepção dessa escola e sua efetiva aplicação no Brasil no período entre guerras. Este livro serve muito para pensarmos hoje como funciona o sistema coercitivo do Estado, em que pilares teóricos ele se baseia para efetuar suas leis. Este livro também serve pra pensar historicamente o processo como se deu a mudanças de paradigmas com o exemplo da própria Escola Positiva e sua ideia biodeterminista do criminoso nato. E como depois a medicina, o direito e o Estado passaram a confiar nessas concepções e de que maneira elas foram perdendo campo para outras teorias que foram ganhando força na década de 40. Ressalta também como a escola trouxe para o centro do debate o criminoso e não o ato antissocial em si. A questão da liberdade vigiada também é algo novo por que se pensava que a partir daí é que se reforçaria a questão se realmente certo individuo tem ou não propensão a ser criminoso. Este livro oferece instrumentos para pensar vários temas da atualidade, a leitura da obra torna-se indispensável para os que se interessam não só por História, mas todos os estudantes de ciências humanas que se interessam pelas questões aqui abordadas. Utilizar este autor para tal feito será um exercício no mínimo interessante. Bibliografia: Feios, sujos e malvados sob medida: a utopia médica do Biodeterminismo, São Paulo (1920-1945) Luis Ferla São Paulo: Alameda, 2009 199
Download