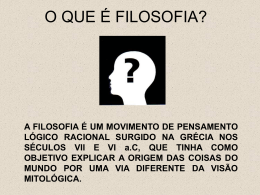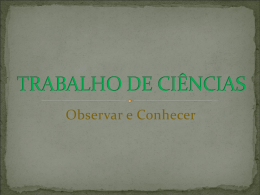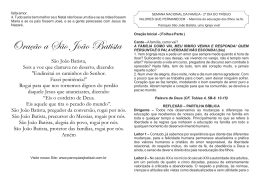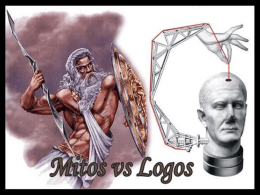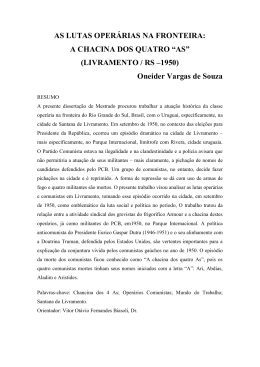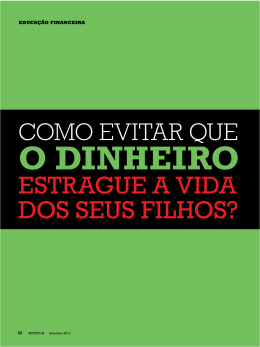O Dia da Mulher: história ou mito? Marta Gouveia de Oliveira Rovai Professora Especialista em História - Colaboradora convidada pelo IQE – Instituto Qualidade no Ensino No dia 8 de março comemorou-se, em quase todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher. A escolha de um dia voltado especialmente a questões de gênero não deve ser entendida como mera marcação cronológica ou uma oportunidade para a intensificação do consumo de artigos considerados femininos. Nem tampouco comemorar significa, neste caso, celebrar. A palavra aqui ganha o sentido de lembrar em conjunto, compartilhar uma memória marcada por derrotas e conquistas. O fato que deu origem a essa “memória herdada”, com a qual boa parte das mulheres se identifica, é motivo de divergência entre os historiadores. Existiu durante anos um consenso de que a repressão violenta a grevistas em Nova Iorque, no ano de 1857, teria provocado a morte de cerca de 129 operárias, que reivindicavam melhores condições de trabalho. A forma como teriam morrido – num incêndio provocado pelos patrões – teria mobilizado socialistas, comunistas e trabalhadores em torno de uma causa em comum: não deixar que o mundo se esquecesse do sacrifício e da luta das mulheres pelos seus direitos. A cor lilás, inclusive, considerada símbolo do movimento feminista, faria referência ao tecido que boa parte das estadunidenses estaria costurando no momento da paralisação. No entanto, pesquisadores como Naumi Vasconcelos, Dolores Farias e Vito Gianotti trataram o episódio como criação política, um mito construído e alimentado por trabalhadoras no século XX, em greves ocorridas em países da Europa, como forma de legitimar o movimento feminino nas fábricas. A cor lilás teria sido adotada, posteriormente, pelas operárias inglesas para diferenciar o movimento feminino da cor vermelha dos partidos comunistas. Para contribuir com a discussão, cabe lembrar que, mesmo antes de 1857, as mulheres já haviam se manifestado, reivindicando sua cidadania. Pouco se fala, mas durante a Revolução Francesa, entre os anos de 1789 e 1793, a participação feminina na revolta contra a nobreza foi significativa: mães carregando seus filhos lideraram ataques aos castelos e terras dos senhores que oprimiam as camadas pobres da França. Dentre elas, Marie Olympe de Gouges, uma escritora que chegou a redigir a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1790. Nesse documento, Gouges procurava lembrar aos homens que haviam elaborado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um ano antes, que suas companheiras deveriam ser tratadas como igualmente cidadãs. Isso significava que elas também poderiam decidir sobre o uso de seu corpo, sobre o desejo de se casar e ter filhos, o que significava ter autonomia em relação aos seus maridos. Por esta ousadia, ela foi condenada à morte na guilhotina pelos “revolucionários”, não sem antes afirmar que se uma mulher poderia subir ao cadafalso e morrer por suas ideias, assim como o sexo masculino, isso indicava que a ela também cabia o direito de subir em um tribunal para se manifestar. Teria Marie Olympe de Gouges declarado isto antes de morrer? Ou novamente teríamos um trabalho de construção da memória atuando sobre a história? Dúvidas e divergências à parte, o que nos importa saber é que, assim como a história alimenta a memória, a memória é capaz de transformar a forma como entendemos a história. No caso das comemorações sobre as mulheres – não existe uma entidade única chamada Mulher confundir a verdade com o mito importa menos do que entender que o processo de luta, por direitos iguais aos dos homens e por direitos próprios do que culturalmente entendemos como feminino, deve servir sempre como referência para repensarmos as relações sociais, em especial os problemas e aspirações de gênero que ainda permanecem em aberto no nosso tempo. Uma data, como o dia 8 de março, é apenas um marco que serve de alerta constante para que não esqueçamos que o passado – acontecido ou inventado – dialoga conosco no sentido de que há muito ainda a se refletir, a se resolver e a se conquistar no presente.
Baixar