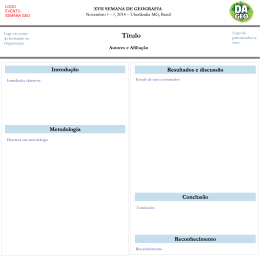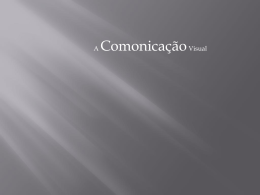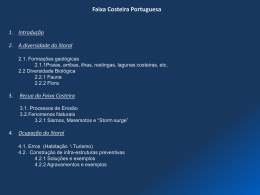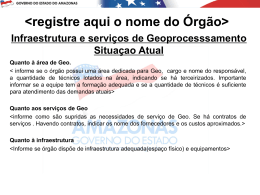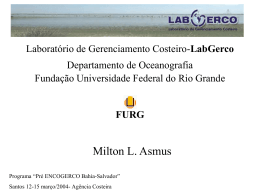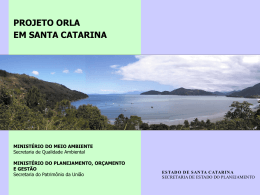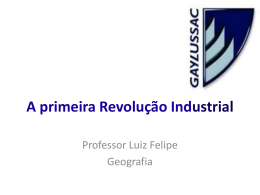Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Tecnologia e Ciências Instituto de Geografia Rodrigo Silva da Conceição Aplicação da Metodologia GEO Cidades nas Áreas de Planejamento 2 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro, com suporte do geoprocessamento Rio de Janeiro 2008 Rodrigo Silva da Conceição Aplicação da Metodologia GEO Cidades nas Áreas de Planejamento 2 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro, com suporte do geoprocessamento Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de PósGraduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de Concentração: Gestão e Estruturação do Espaço Geográfico. Orientador: Prof. Dra. Liane Maria Azevedo Dornelles Rio de Janeiro 2008 CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ/REDE SIRIUS/PROTEC C744 Conceição, Rodrigo Siva da Aplicação da metodologia GEO cidades nas áreas de planejamento 2 e 5 da cidade do Rio de Janeiro, com suporte do geoprocessamento / Rodrigo Silva da Conceição. – 2008. 177 f. : il. color., mapas, grafs. + 1 CD-ROM Orientador : Liane Maria Azevedo Dornelles. Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências. 1. Gerenciamento costeiro – Rio de Janeiro(RJ) – Teses. 2. Política ambiental –Rio de Janeiro(RJ) - Teses. 3. Sistemas de informação geográfica – Rio de Janeiro(RJ) – Teses. I. Dornelles, Liane Maria Azevedo. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Geociências. III. Título. CDU 711:528.8.04(815.3) Rodrigo Silva da Conceição Aplicação da Metodologia GEO Cidades nas Áreas de Planejamento 2 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro, com suporte do geoprocessamento Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de Concentração: Gestão e Estruturação do Espaço Geográfico. Aprovado em ___________________________________________________ Banca Examinadora ______________________________________________ _____________________________________________________________ Profa. Dra. Liane Maria Azevedo Dornelles (Orientadora) Universidade do Estado do Rio de Janeiro _____________________________________________________________ Profa. Dra. Sonia Vidal Gomes da Gama Universidade do Estado do Rio de Janeiro ______________________________________________________________ Profa. Dra. Catia Antonia da Silva Universidade do Estado do Rio de Janeiro / FFP ______________________________________________________________ Profa. Dra. Cacilda Nascimento de Carvalho Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro 2008 Aos meus pais: Rosangela e José (in memoriam). AGRADECIMENTOS Agradeço primeiramente à DEUS, pela minha família, saúde e oportunidade para estudar e trabalhar... Fatores estes ideais para a vivência neste mundo, e que são negados a tantos em nosso sistema. À minha família, pelo apoio fundamental e amor sólido. Em especial, à minha mãe. Aos parentes mais presentes e àqueles que torceram por mim. Aos amigos da graduação, do mestrado, de antigos trabalhos, do cotidiano... Amigos com que tantas vezes contei... Danielle (coração), Diana, Felipe e Marina, amigos sempre presentes. Fernanda e Gilda, pessoas queridas. Às amigas Aline Batista e Eloísa Pereira, com contribuições diretas a este trabalho, e por momentos valiosos. Aos meus amigos e pares de orientação Elaine Porto e Rodrigo Peracchi, por todos os momentos, dificuldades superadas e vitórias conquistadas. Aos amigos da PMNI: Camila, Denise, Fabrícia, Luciano e Rodrigo Schenneider, pelo apoio em momentos mais “críticos” entre o mestrado e o antigo trabalho. À Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro FAPERJ, pela concessão de bolsa para projeto (Processo Nº. E-26/150.222/2007 – Bolsa de Mestrado) e apoio a esta pesquisa. Ao Instituto Pereira Passos – IPP / PCRJ, pela disponibilização de dados em rede e junto aos seus estagiários. Ao geógrafo Felipe Coriolano, pela contribuição técnica na elaboração de mapas. Ao Laboratório de Geoprocessamento - LAGEOP / UFRJ pelo apoio junto ao manuseio dos programas SAGA e Vicon: ao Coodenador Profº Xavier-da-Silva e pesquisadores Fábio e Oswaldo. Aos Professores do Instituto de Geografia da UERJ, pela vivência e construção do conhecimento disseminado em disciplinas: Professores Nadja M. C. da Costa, Marta F. Ribeiro, Luiz Saavedra, Mônica Sampaio, Gilmar Mascarenhas, Inês A. de Freitas, Susana Pacheco, dentre outros. Em especial ao Profº Drº Jorge Soares Marques, pelo profissional educador e pelo tempo de coordenação do curso de mestrado. À Profª e Pesquisadora Vivian da Costa, por toda contribuição e incentivo. Ao meu grupo de trabalho NEPGEO / GEA, pela valiosa experiência de trabalho, infra-estrutura e materiais disponibilizados. Aos funcionários Robson (Lagepro) e Alice (Secretaria de Pós-Graduação). À banca examinadora deste trabalho: À Profª Drª Sônia Vidal Gomes, pelo despertar da temática, contribuição e acompanhamento desta pesquisa. À Profª Drª Catia Antonia da Silva, pela disponibilidade, contribuição e entusiasmo com esta pesquisa. À Profª Drª Cacilda Nascimento de Carvalho, pela prontidão em aceitar integrar parte da banca deste trabalho, e com a certeza de que sua experiência será de uma contribuição única. À minha querida orientadora, Profª Drª Liane M. Azevedo Dornelles, pelo apoio, respeito, e dedicação. Lá se vão 4 anos (entre graduação e mestrado) de vivência e aprendizagem, e anunciam-se muitos de uma bagagem eterna... Obrigado... Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Aristóteles CONCEIÇÃO, Rodrigo Silva. Aplicação da Metodologia GEO Cidades nas Áreas de Planejamento 2 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro, com suporte do geoprocessamento. 2008. 177f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. RESUMO A presente dissertação se insere na temática ambiental através de uma abordagem geográfica das Áreas de Planejamento – AP’s 2 e 5 da cidade do Rio de Janeiro, localizada na zona costeira, e caracterizada por uma diferenciação de áreas, considerando tanto os aspectos físicos como a apropriação do espaço pelo homem. Considera-se que a produção do espaço urbano na cidade condiciona vetores de pressão sobre o meio ambiente, exigindo a formulação e apropriação de metodologias adequadas a uma avaliação ambiental integrada do meio urbano costeiro, em uma perspectiva espacial. A metodologia do projeto GEO Cidades oferece uma visão integrada de indicadores sociais e ambientais associados à denominada matriz PEIR (Pressão, Estado, Impacto e Resposta). O objetivo deste trabalho consiste na elaboração de um diagnóstico urbano-ambiental das AP’s 2 e 5 da cidade com base na avaliação da aplicação da metodologia GEO Cidades e estruturação de uma base e banco de dados, promovendo a visão integrada de políticas públicas associadas ao gerenciamento costeiro, com ênfase para o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC) e seus instrumentos, aliado ao Plano Diretor da cidade. A operacionalização englobou a seleção de indicadores subordinados aos vetores de ocupação do território e uso do solo. Mapas temáticos foram gerados com auxílio do programa Arcview, a partir de dados dos censos de 1991 e 2000 do IBGE, assim como assinaturas e monitorias ambientais realizadas com o programa Vista-SAGA/UFRJ, utilizando-se bases de informações de uso do solo de 1992 e 2001, além da modelagem de um banco de dados de orlas distintas no programa ViconSAGA, a partir da caracterização promovida pelos Planos de Intervenção da orla marítima. Em relação ao ciclo PEIR os resultados expressam que as tendências de expansão urbana e concentração demográfica observadas nas AP’s, bem como mudanças no uso do solo, evidenciam percentuais diferenciados da relação entre áreas naturais e antropizadas na cidade. A AP 2, apesar da estagnação de crescimento populacional em quase toda a sua extensão, conta com áreas de saturação urbana em locais valorizados, além de áreas de ocupação irregular em crescimento; os impactos são amenizados através de ações de cunho corretivo, em sua maioria. Na AP 5 as significativas alterações ambientais ocorrentes, inclusive em estratos de ocupação desordenada, representam um desafio para o ordenamento territorial; a ocupação de áreas ainda sem uso deve ser orientada, evitando o uso e ocupação inadequados do solo que causam impactos ambientais. O PMGC deve corresponder a produtos de gestão e monitoramento da zona costeira, e dessa forma, a modelagem da base e banco de dados RJ/AP´s 2 e 5 possibilitou a utilização de um instrumento potencialmente indicado para a geração de produtos e monitoramento espacial, afim de contribuir metodologicamente a futuras ações envolvendo o Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro / RJ, e subsidiando propostas de planejamento ambiental em áreas da zona costeira. Palavras-chave: Áreas de Planejamento; GEO Cidades; Geoprocessamento; Gerenciamento Costeiro. ABSTRACT The present dissertation is inserted in the environmental theme through a geographical approach of the Areas of Planning – AP's 2 and 5 of the Rio de Janeiro city, located in the coastal zone, and characterized by a differentiation of areas, considering the physical aspects as well as the appropriation of space by the man. It is considered that the urban space production in the city determines pressure vectors on the environment, requiring the formulation and appropriation of methodologies suitable to an environmental integrated assessment of the coastal urban space, in a spatial perspective. The GEO Cities project methodology offers an integrated vision of social and environmental indicators associated to the so-called matrix PEIR (Pressure, State, Impact and Response). The objective of this study is to establish an urban-environmental diagnosis of the city AP's 2 and 5 based on the evaluation of the GEO Cities methodology implementation, and structuration of a base and database, promoting an integrated vision of the public politics associated to the coastal management, with emphasis towards the Municipal Coastal Management Plan (MCMP) and its instruments, allied with the Municipal Master Plan. The operation included the selection of indicators subordinated to the territory occupation and soil use vectors. Thematic maps were generated with the help of the ArcView® program, from IBGE census data, relative to the years of 1991 and 2000, as well as signatures and environmental monitoring performed with the Vista-SAGA/UFRJ® program, utilizing soil use information bases of the city, from 1992 and 2001, besides the modeling of a distinct seafronts database in the Vicon-SAGA® program, from the characterization promoted by the Coastline Intervention Plans. In relation to the PEIR cycle, the results express that the trends of urban expansion and demographic concentration observed in the AP's, as well as the changes in the soil use, show up distinct percentages of the relationship between city natural areas and occupied areas. The AP 2, despite the stagnation of population growth in almost all its extension, counts with urban saturation in valued places, beyond areas of irregular occupation growth; the impacts are livened up through corrective actions, in its majority. In AP 5, the significant environmental changes occurring, including in disorderly occupation strata, represent a challenge for the territorial order; the occupation of still unused areas must be guided, preventing the inadequate use and occupation of the ground which cause environmental impacts. The MCMP must correspond to management products and monitoring of the coastal zone, and being so, the modeling of the RJ/AP 's 2 and 5 base and database allowed the use of a potentially indicated instrument for the products generation and space tracking, in order to methodologically contribute to future actions involving the Coastal Management Information System / RJ, and subsidizing proposals for environmental planning in areas of the coastal zone. Keywords: Areas of Planning; GEO Cities; Geoprocessing; Coastal Management. LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figuras: Figura 1 – Estrutura Geral de Sistemas de Informação................................................ 28 Figura 2 – Representação vetorial e matricial de um mapa temático............................. 29 Figura 3 – Limites da Zona Costeira e setores costeiros do Estado do Rio de Janeiro... 40 Figura 4 – Fluxograma do processo GEO Cidades....................................................... 44 Figura 5 – Estrutura PEIR........................................................................................... 48 Figura 6 – Matriz PEIR de análise do fenômeno ambiental......................................... 50 Figura 7 – Capas dos Informes GEO do Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo............ 51 Figura 8 – Localização do Município do Rio de Janeiro via Estado do RJ – Brasil.... 53 Figura 9 – Limites do Município do Rio de Janeiro..................................................... 54 Figura 10 – Principais compartimentações físicas da cidade do Rio de Janeiro.......... 55 Figura 11 – Divisão de Regiões do II Plano Estratégico do Rio de Janeiro................. 61 Figura 12 – Abrangência do Parque Nacional da Tijuca............................................. 68 Figura 13 – Rio Maracanã a jusante da rua José Higino, Tijuca.................................. 69 Figura 14 – Canal do Jardim de Alah, Leblon.............................................................. 70 Figura 15 – Esquema da área aterrada da Lagoa Rodrigo de Freitas............................ 70 Figura 16 – Vista aérea da Lagoa Rodrigo de Freitas e entorno................................... 71 Figura 17 – Vista parcial da zona Sul: áreas valorizadas e ocupações irregulares......... 72 Figura 18 – Vista aérea do bairro da Tijuca.................................................................. 73 Figura 19 – Maciços Gericinó Mendanha e da Pedra Branca, e visão parcial da zona Oeste encaixada no vale............................................................................................... 78 Figura 20 – Vertente norte do Maciço da Pedra Branca – Campo Grande................... 79 Figura 21 – Vertente oeste do Maciço da Pedra Branca – cultivo de bananas............. 79 Figura 22 – Parque Estadual da Pedra Branca.............................................................. 79 Figura 23 – Vista panorâmica da Restinga de Marambaia e Baía de Sepetiba............. 81 Figura 24 – Surgimento de vegetação de mangue na orla de Sepetiba......................... 81 Figura 25 – Visão aérea do canal no bairro de Sepetiba e baía.................................... 81 Figura 26 – Conjunto habitacional Nova Sepetiba na zona Oeste................................. 83 Figura 27 – Orla urbanizada do Bairro de Barra de Guaratiba...................................... 84 Figura 28 – Roteiro de campo na praia do Leblon......................................................... 94 Figura 29 – Roteiro de campo na praia de Sepetiba....................................................... 95 Figura 30 – Tela do programa Vicon-SAGA - declaração de registro: ponto............... 96 Figura 31 – Tela do programa Vicon-SAGA, formulário e tributação do ponto........... 96 Figura 32 – Tela do programa Vicon-SAGA - declaração de registro: feição............... 97 Figura 33 – Tela do programa Vicon-SAGA, formulário e tributação da feição.......... 97 Figura 34 – Tela do Programa Arcview 9 – Função de propriedades da camada.......... 99 Figura 35 – Tela do Programa Vista-SAGA – Módulo de Monitoria........................... 101 Figura 36 – Tela do Programa Vista-SAGA – Módulo de Assinatura.......................... 102 Figura 37 –Material deslizado atrás das residências – Morro do Vidigal – 2004.......... 117 Figura 38 – Vista de área afetada por deslizamento – Morro do Vidigal – 2004.......... 117 Figura 39 – Enchente na Praça Affonso Pena, no bairro Tijuca.................................... 118 Figura 40 – Mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas em 2002.................... 119 Figura 41 – Reflorestamento do Morro Dois Irmãos 1994 – 2006 – Bairro do Leblon 120 Figura 42 – Falta de infra-estrutura urbana e saneamento no bairro de Sepetiba.......... 135 Figura 43 – Enchente no bairro de Sepetiba.................................................................. 135 Figura 44 – Assoreamento e degradação na praia de Sepetiba...................................... 136 Figura 45 – Degradação ao ecossistema em formação na orla de Sepetiba................... 137 Figura 46 – Projeto de intervenção do Parque Ecoturístico da Zona Oeste................... 140 Figura 47 – Tela inicial de acesso ao banco de dados das orlas das AP’s 2 e 5............ 141 Figura 48 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 2 – Formulário de “Caracterização da orla”......................................................................... 142 Figura 49 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 5 – Formulário de “Caracterização da orla”......................................................................... 142 Figura 50 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 2 – Formulário de “Bairro”.................................................................................................. 143 Figura 51 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 5 – Formulário de “Bairro”.................................................................................................. Mapas: Mapa 1 – Município do Rio de Janeiro, divisão em bairros e Áreas de Planejamento.. 143 63 Mapa 2 – Bairros por Regiões Administrativas da AP 2............................................... 65 Mapa 3 – Caracterização física da AP 2........................................................................ 67 Mapa 4 – Bairros por Regiões Administrativas da AP 5............................................... 75 Mapa 5 – Caracterização física da AP 5........................................................................ 77 Mapa 6 – Densidade demográfica por setores censitários em 2000 na AP 2................ 105 Mapa 7 – Crescimento populacional por bairros (entre 1991 e 2000) na AP 2............. 106 Mapa 8 – Renda média por bairros em 2000 na AP 2................................................... 107 Mapa 9 – Favelas na AP 2 em 2005............................................................................... 108 Mapa 10 – Uso do solo na AP 2 em 1992...................................................................... 110 Mapa 11 – Uso do solo na AP 2 em 2001...................................................................... 111 Mapa 12 – Monitoria do tipo Simples de Urbano com Urbano na AP 2....................... 113 Mapa 13 – Monitoria do tipo Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 2... 114 Mapa 14 – Áreas protegidas na AP 2 em 2005.............................................................. 121 Mapa 15 – Densidade demográfica por setores censitários em 2000 na AP 2.............. 123 Mapa 16 – Crescimento populacional por bairros (entre 1991 e 2000) na AP 5........... 124 Mapa 17 – Renda média por bairros em 2000 na AP 5................................................. 125 Mapa 18 – Favelas na AP 5 em 2005............................................................................. 126 Mapa 19 – Uso do solo na AP 5 em 1992...................................................................... 128 Mapa 20 – Uso do solo na AP 5 em 2001...................................................................... 129 Mapa 21 – Monitoria do tipo Simples de Urbano com Urbano na AP 5....................... 131 Mapa 22 – Monitoria do tipo Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 5... 132 Mapa 23 – Áreas protegidas na AP 5 em 2005.............................................................. Quadros: Quadro 1 – Critérios para a seleção de Indicadores Urbano-Ambientais...................... 139 48 Quadro 2 – População residente no Município do Rio de Janeiro por setor censitário (Normal e Subnormal) por AP’s - 1991/2000.............................................................. 57 Quadro 3 – Relação dos principais elementos estruturadores da AP 2.......................... 73 Quadro 4 – Relação dos principais problemas da AP 2................................................. 74 Quadro 5 – Relação dos principais elementos estruturadores da AP 5.......................... 84 Quadro 6 – Relação dos principais problemas da AP 5................................................. 85 Quadro 7 – Indicadores de Pressão................................................................................ 87 Quadro 8 – Indicadores de Estado................................................................................. 88 Quadro 9 – Indicadores de Impacto............................................................................... 88 Quadro 10 – Indicadores de Resposta............................................................................ 89 Quadro 11 – Descrição das classes do uso e cobertura vegetal do Rio de Janeiro........ 92 Quadro 12 – Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 2 em 1992....... 112 Quadro 13 – Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 2 em 2001....... 112 Quadro 14 – Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Simples de Urbano com Urbano na AP 2.............................................................................................................. 115 Quadro 15 – Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 2......................................................................................... 115 Quadro 16 – Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 5 em 1992....... 130 Quadro 17 – Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 5 em 2001....... 130 Quadro 18 – Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Simples de Urbano com Urbano na AP 5.............................................................................................................. 133 Quadro 19 – Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 5......................................................................................... 133 Quadro 20 – Resumo comparativo do ciclo PEIR das AP’s 2 e 5................................. 146 LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS AP – Área de Planejamento APA – Área de Proteção Ambiental CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente GEO - Global Environment Outlook GERCO – Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IDH – Índice de Desenvolvimento Humano IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável IPP – Instituto Pereira Passos MMA – Ministério do Meio Ambiente PEGC – Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro PMGC – Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro PNGC – Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente RA – Região Administrativa SAGA - Sistema de Análise Geo-Ambiental SIG – Sistema de Informação Geográfica SIGERCO – Sistema de Informação do Gerenciamento Costeiro SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente SMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMU – Secretaria Municipal de Urbanismo VICON – Sistema de Vigilância e Controle SUMÁRIO INTRODUÇÃO................................................................................................................15 1 – ANÁLISE GEOGRÁFICA DA QUESTÃO URBANO-AMBIENTAL.......................18 1.1 - A questão ambiental na geografia.....................................................................18 1.2 - O meio ambiente urbano....................................................................................21 1.3 - Geoprocessamento..............................................................................................24 1.3.1 - Sistemas de Informação Geográfica.......................................................25 2 – GERENCIAMENTO COSTEIRO E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO GEO CIDADES.......................................................................................................................30 2.1 - A zona costeira e o meio urbano........................................................................30 2.2 - Do planejamento à política ambiental..............................................................32 2.3 - Gerenciamento costeiro......................................................................................36 2.4 - Projeto GEO Cidades.........................................................................................43 2.4.1 - Indicadores e Matriz PEIR....................................................................45 2.4.2 - Informes GEO Cidades..........................................................................50 3 – ÁREA DE ESTUDO: ÁREAS DE PLANEJAMENTO 2 E 5.......................................53 3.1 - A produção do espaço urbano carioca e problemas ambientais....................53 3.2 - Políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro................................................58 3.3 - Definição e localização das AP’s........................................................................61 3.4 - Área de planejamento 2.....................................................................................64 3.4.1 - Aspectos físico-ambientais....................................................................66 3.4.2 - Aspectos humanos e caracterização urbana...........................................71 3.5 - Área de planejamento 5.....................................................................................74 3.5.1 - Aspectos físico-ambientais....................................................................76 3.5.2 - Aspectos humanos e caracterização urbana...........................................82 4 – MATERIAIS E MÉTODO..............................................................................................86 4.1 - Levantamento de dados e informações.............................................................86 4.2 - Seleção de indicadores urbano-ambientais......................................................87 4.3 - Estruturação da base e banco de dados............................................................90 4.4 - Análises espaciais................................................................................................98 5 – AVALIAÇÃO URBANO-AMBIENTAL.....................................................................103 5.1 - Ciclo PEIR.........................................................................................................103 5.1.1 – Área de Planejamento 2......................................................................103 5.1.1.1 – Pressão....................................................................................103 5.1.1.2 – Estado.....................................................................................109 5.1.1.3 – Impactos.................................................................................116 5.1.1.4 – Resposta.................................................................................119 5.1.2 – Área de Planejamento 5......................................................................122 5.1.2.1 – Pressão....................................................................................122 5.1.2.2 – Estado.....................................................................................127 5.1.2.3 – Impactos.................................................................................134 5.1.2.4 – Resposta..................................................................................137 5.2 - Base e banco de dados das AP’s......................................................................141 5.3 - Análise integrada de políticas: Plano Diretor e PMGC...............................144 6 – CONCLUSÕES .............................................................................................................147 REFERÊNCIAS ............................................................................................................150 APÊNDICE A - Tutorial para conversão de arquivos shape (*Shp) do Arcview 9.0 para Raster (*Rs2) do SAGA..........................................................................................159 APÊNDICE B – CD-ROM contendo a Base e Banco de Dados Raster das AP’s 2 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro....................................................................................172 ANEXO A - Resumo da legislação das Divisões Administrativas da Cidade do Rio de Janeiro por Áreas de Planejamento (2 e 5), segundo suas Regiões Administrativas e Bairros................................................................................................173 ANEXO B - Evolução Percentual das áreas antrópicas no Município do Rio de Janeiro – 1984-2001, com enfoque para as AP’s 2 e 5...............................................177 15 INTRODUÇÃO Atividades de gerenciamento costeiro, ao nível municipal, em articulação intergovernamental e com a sociedade, a serem planejadas e executadas, devem levar em consideração as normas e os padrões federais e estaduais, cabendo aos municípios elaborar, implementar, executar e acompanhar o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC), observadas as diretrizes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC); estruturar o sistema municipal de informações do Gerenciamento Costeiro; estruturar, implementar e executar os programas de monitoramento; promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no gerenciamento costeiro, mediante apoio técnico, financeiro e metodológico; e promover a estruturação de colegiado municipal. (DORNELLES, 2005). Com a crescente preocupação ambiental e visibilidade dada ao meio ambiente urbano, torna-se interessante agregar aos estudos geográficos fundamentações e metodologias que dão conta da avaliação integrada do meio urbano, considerando os indicadores ambientais, que neste caso, podem ser revertidos a uma nova classe, de indicadores ambientais do meio urbano. A metodologia do projeto GEO Cidades oferece uma visão integrada de indicadores sociais e ambientais associados ao ciclo da denominada matriz PEIR (Pressão, Estado, Impacto e Resposta). A cidade do Rio de Janeiro é dividida em Áreas de Planejamento (AP’s), que correspondem a delimitações oficiais contempladas no Plano Diretor da cidade (PCRJ, 1992; COMPUR, 2007), para que haja a possibilidade de serem agregados conjuntos mais homogêneos dentro do espaço geográfico, e assim, gerar subsídios para um planejamento mais efetivo, dada a caracterização territorial na cidade. Este espaço caracteriza-se por uma forte diferenciação de áreas, considerando tanto os aspectos físicos como a apropriação do espaço pelo homem. A produção do espaço urbano na cidade condiciona vetores de pressão sobre o meio ambiente, exigindo a formulação e apropriação de metodologias adequadas a uma avaliação ambiental integrada do meio urbano, em uma perspectiva espacial. Sendo assim, torna-se válido agregar recortes espaciais tais como as Áreas de Planejamento, mesmo que em medida de avaliação da viabilidade deste conjunto, para aplicação de metodologias de avaliação. 16 Esta pesquisa tem como objetivo geral aplicar a metodologia GEO Cidades nas Áreas de Planejamento 2 e 5 da cidade do Rio de Janeiro, considerando para o ciclo PEIR os vetores de ocupação do território e uso do solo na zona costeira, subsidiando análises. Deverão ser realizados o diagnóstico das AP’s, a partir do levantamento de dados e informações, e reconhecimento dos atores envolvidos na gestão destas áreas. Deve-se utilizar, para tal, as técnicas de geoprocessamento, contribuindo assim, para a visibilidade dos instrumentos informacionais, importante fase do planejamento e contribuição para o Sistema de Informação do Gerenciamento Costeiro Municipal do Rio de Janeiro (SIGERCO/RJ). Tal ação deverá ser implementada através da espacialização de dados do censo demográfico e de informações ambientais da cidade, com a utilização, em um primeiro momento do programa Arcview, além do Sistema de Análise Geo-Ambiental (SAGA), para a realização do monitoramento de mudanças no uso do solo e assinatura ambiental, bem como modelagem e alimentação parcial de um banco de dados junto ao Sistema de Vigilância e Controle (Vicon), referente ao Plano de intervenção da orla em pontos específicos. Assim, podem ser elencados os seguintes objetivos específicos: • Analisar os principais vetores de pressão sobre o meio ambiente costeiro dentro da lógica da ocupação territorial e uso do solo urbano através da caracterização de duas diferentes áreas da cidade; • Avaliar o estado do meio ambiente com base no monitoramento do uso do solo; • Avaliar as respostas da matriz PEIR considerando as diretrizes do Plano Diretor e Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro; • Modelar e implementar uma base e um banco de dados das AP’s 2 e 5 / RJ, para a tomada de decisão compatíveis com o Sistema de Informação do Gerenciamento Costeiro Municipal do Rio de Janeiro. O desenvolvimento deste trabalho compreendeu a elaboração de distintos capítulos, dentre os quais, o primeiro versa, a partir de um resgate teórico e conceitual, sobre a questão ambiental e seu tratamento no âmbito da pesquisa geográfica, com ênfase para o meio urbano, 17 destacando inclusive, a importância do geoprocessamento e suas ferramentas numa análise integrada promovida pela geografia. O segundo capítulo visa apresentar, a partir de um viés prático, a zona costeira, considerando sua definição, caracterização, gestão e políticas associadas em conformidade com as atividades humanas, a fim de subsidiar uma visão integrada de áreas costeiras urbanas. Destaca-se a apresentação da metodologia de avaliação urbano-ambiental (matriz PEIR) proposta pelo Projeto GEO Cidades. O terceiro capítulo deste trabalho, objetiva apresentar o recorte espacial em estudo: as Áreas de Planejamento 2 e 5 da cidade do Rio de Janeiro, através de sua localização, definição e caracterização, a fim de se compreender as AP’s como unidades passíveis de análise e avaliação relacionadas à temática apresentada. Através do quarto capítulo, serão apresentados e discutidos os materiais e métodos utilizados ao decorrer da pesquisa em tela. Partindo-se da premissa de que a pesquisa tem um método, este capítulo visa descortinar o caminho percorrido e facilitar a compreensão acerca dos trabalhos desenvolvidos, desde a pesquisa bibliográfica e campo, à estruturação da base e banco de dados das AP’s e análises espaciais que contribuíram para o alcance dos objetivos propostos. O quinto capítulo enfatiza os resultados e sua discussão. Contempla a visão integrada dos ciclos PEIR propostos para as AP’s 2 e 5, ilustrados através de distintos mapas temáticos resultantes da base e banco de dados das AP’s, buscando tecer considerações acerca da avaliação urbano-ambiental com base nos indicadores de pressão, estado, impacto e resposta. Considera-se também a análise integrada entre as políticas urbana e de gerenciamento costeiro. 18 1 - ANÁLISE GEOGRÁFICA DA QUESTÃO URBANO-AMBIENTAL 1.1 - A questão ambiental na geografia Muito se tem discutido atualmente (considerando as últimas décadas) sobre a emergência da chamada crise ambiental. Desde os primeiros anos da década de 1970 (considerando marcos como o Clube de Roma – 1968; e a Conferência de Estocolmo – 1972), até a atualidade (revendo encontros e acordos internacionais como a Rio 92 e o Protocolo de Kyoto) o que se tem observado é uma evolução do pensamento e da ação global referentes ao meio ambiente e à consciência ecológica. O Clube de Roma tinha como objetivo trabalhar mais profundamente a problemática do aumento populacional, e a pressão exercida por este crescimento na destruição dos ecossistemas e dos recursos naturais, em uma relação de causa e efeito. A poluição recebeu atenção especial durante a Conferência de Estocolmo, a partir da qual os governos passaram a avaliar mais a criação de políticas ambientais, com o intuito de se evitar o aceleramento da degradação ambiental. Em finais do século XX, revelaram-se novas concepções para se trabalhar a crise ambiental. Popularizava-se o conceito de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, foco de discussão da conhecida Rio 92, através do documento denominado Agenda 211, uma forma de compromisso político de cooperação. Franco (2001, p. 26) define que a sustentabilidade se assenta em três princípios fundamentais, “a conservação dos sistemas ecológicos sustentadores da vida; a garantia da sustentabilidade dos usos que utilizam recursos renováveis e o manter as ações humanas dentro da capacidade de carga dos ecossistemas sustentadores.” Vesentini (1992) crê em uma popularização do fato da existência da crise ambiental. Indica que uma forma de se encarar os impactos causados pela ação antrópica é “procurar explicar globalmente, entender a lógica econômico-social que engedra tais acontecimentos, buscar uma nova organização política ou até sócio-econômica que minimize o problema.” (p. 34). Dias (1994) denunciava que as concepções fragmentadas dos pensadores têm levado a ciência a conseqüentes insucessos na construção de estudos e/ou modelos que objetivam uma compreensão efetiva das relações entre o homem e seu meio ambiente. Acrescenta que, 1 “A Agenda 21, produto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, propôs para os Estados signitários a adoção de dois objetivos: 1) promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões ambientais e atendam às necessidades básicas da humanidade, e 2) desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma de implementar padrões de consumo mais sustentáveis.” (MARQUES, 2005, p. 105). 19 “portanto, torna-se imperativo o desenvolvimento de uma abordagem global, integrada e dinâmica que rompa com essa visão fragmentada da natureza, do homem e da condição humana.” (p. 17). O atual quadro de crise ambiental revolve a emergência da temática no âmbito das ciências. A perspectiva de uma nova relação entre homem e natureza no tratamento das ciências, a humanização da natureza como objeto de estudo, reafirma o momento de discussões acerca da temática ambiental. Mendonça (1992, p. 16) afirma que a geografia “se propõe a ser uma ciência ponte entre os aspectos naturais e os aspectos humanos do planeta, entre as ciências naturais e as ciências humanas.” Aponta-se assim, a característica holística da ciência geográfica, ao produzir conhecimento associado entre vários campos. O autor ainda avalia que a análise de processos que se desenvolvem na natureza e na sociedade, em separado ou associados, mostra-se uma complicada operação. Mendonça (2004) indica que, a Geografia é uma das muitas ciências que aborda a temática ambiental e, na medida do possível, tem procurado equacionar as questões referentes ao assunto. Christofoletti (1999, p. 47) avalia que: Torna-se significativo salientar que os problemas ambientais, em função da expressividade espacial subjacente, tornam-se questões inerentes à análise geográfica. Além da fase diagnóstica e analítica, os estudos de impactos consistem no processo de predizer e avaliar os impactos de uma atividade humana sobre as condições do meio ambiente e delinear os procedimentos a serem utilizados preventivamente para mitigar ou evitar os efeitos julgados negativos. Há de se apontar elementos de convergência no conceito de sustentabilidade por meio da questão social, ambiental e econômica. Segundo Gomes (1997), os discursos ambientais apontam para a necessidade da interdependência e unicidade da relação natureza e sociedade como caminho para a superação da problemática ambiental em suas diversas emergências. Conforme Bernardes & Ferreira (2003) o mundo passa por um processo de reorganização, no qual a questão ambiental tenta resgatar sua essência frente às relações sociedade – natureza. Afirmam ainda que, a dialética homem / natureza está na base do processo de desenvolvimento e transformação das sociedades humanas. Não há como compreender o ambiente considerando homem e natureza como pólos excludentes. (GONÇALVES, 2002). Assim como também não há como sustentar uma visão ambientalista, tão propagada atualmente, que não leve em consideração uma avaliação integrada do meio. Segundo Mendonça (2004), são necessárias profundas reflexões e 20 discussões acerca do redimensionamento das relações entre sociedade e natureza. Cria-se assim, a possibilidade de melhor entender os problemas sócio-ambientais que nos afligem. O despertar de um novo olhar sobre a relação homem - natureza condiciona novas perspectivas para a análise ambiental. A discussão supra-citada baliza teórico- conceitualmente a análise urbano-ambiental, desde o entendimento de como homem percebe a natureza e seu ambiente, e seu inter-relacionamento materializado no espaço, até as ações que se desenrolam atualmente no âmbito preventivo e corretivo, em diferentes escalas (global e local). A integração de indicadores sociais e ambientais, além do resultado de sua análise com base no uso de instrumentos informacionais, tornam-se medidas promissoras para uma efetiva interpretação do objeto geográfico, ao rever processos interativos que envolvem natureza e sociedade. Baseando-se nas linhas de Bernardes e Ferreira (2003, p. 17), “avançar nas concepções das relações sociedade / natureza constitui tarefa difícil, mas necessária, uma vez que pode oferecer balizamentos para propostas de análise.” Cabe ressaltar que a compreensão de tais relações e da própria questão ambiental passa também pelo conhecimento do processo de produção do espaço. Moura (2003, p. 35) indica que “o desafio, nos estudos geográficos, está em realizar um corte espaço-temporal para as análises, mas, ao mesmo tempo, não perder a noção de que a realidade é sistêmica e que está em constante mudança.” Como perceptível em qualquer estudo geográfico, a autora ainda avalia que a distribuição das ocorrências não é homogênea, mas condicionada por rugosidades da composição social e territorial. Moraes (2005, p. 73) disserta: Marx vai distinguir os quadros naturais intocados pelo homem daqueles que já trazem em si as marcas de uma transformação pretérita. A estes denomina “segunda natureza”, ou natureza socializada que agrega em suas formas o “trabalho morto” de gerações passadas, diferenciando assim da “primeira natureza”, esta um resultado exclusivo do movimento da história natural. Tal distinção visa destacar a historicidade dos lugares e a tendência inexorável à contínua antropomorfização da superfície terrestre. Santos (1996, p. 233), adianta que o histórico das chamadas relações entre sociedade e natureza “é, em todos os lugares habitados, a da substituição de um meio natural, dado a uma determinada sociedade, por um meio cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente instumentalizado por essa mesma sociedade.” A estruturação da sociedade define a relação dos indivíduos com a maior parte dos recursos naturais, ao normatizar as suas relações entre si. (MORAES, 2005). 21 Isto posto, deve-se salientar que nos estudos geográficos merecem adequada atenção a complexidade dos processos relacionados ao quadro natural, bem como as relações sociais e desigualdades emergentes. Sendo assim “as interações entre estruturas física e social e as relações desiguais de poder influenciam o uso e acesso aos recursos naturais e fazem da noção de território categoria fundamental na discussão da questão ambiental.” (CUNHA e COELHO, 2003, p. 44). 1.2 - O meio ambiente urbano De acordo com Marques (2005), o meio ambiente urbano é representado pelas cidades, sendo estas entendidas como aglomerações humanas dotadas de edificações, além de infraestrutura e equipamentos públicos (ruas, áreas de lazer, serviços públicos, saneamento, etc.). Porém, podem ser revelados também outros aspectos, como comportamento cultural, formas de ocupação do espaço, sistemas de produção, e conflitos sociais, por exemplo. Torna-se válido assinalar que as cidades influenciam diretamente os ecossistemas naturais, alheios ao meio urbano, em razão da inevitável interligação entre os aspectos do meio ambiente. A cidade, do ponto de vista ecológico, é, de muitas maneiras, vista como um gigantesco animal imóvel: consome oxigênio, água, combustíveis, alimentos e excreta despejos orgânicos e gases poluentes para a atmosfera; não sobreviveria por mais de um ou dois dias sem a entrada, nesse complexo sistema, dos recursos naturais dos quais depende. (BOYDEN et al., 1981 apud DIAS, 1994, p. 25). Nunca a capacidade humana de potencialmente transformar os sistemas naturais em bens excedeu ao que presenciamos atualmente. Bem como, nunca os impactos negativos sobre o meio ambiente atingiram tamanha proporção, assim como os problemas sociais se elevam. Considerando a relação entre civilização e meio ambiente, pode-se destacar que, para a manutenção da vida e o desenvolvimento das sociedades, há que haver um comprometimento da sustentabilidade em relação ao meio ambiente. Nos assentamentos urbanos, isto se aplica no sentido de regeneração do meio ambiente em contrapartida aos impactos causados através da intervenção antrópica. A intensidade dos impactos das atividades humanas corresponde à intensidade dessas ações, ao local e contexto demográfico 22 em que são desenvolvidas, bem como aos cuidados preventivos e corretivos que se tomam nas fases do processo de realização. Os impactos devem ser considerados na esfera ambiental, social e econômica. A especulação imobiliária aliada à falta de planejamento urbano conduz à urbanização desenfreada e predatória, prejudicando a qualidade de vida dos habitantes através da sobrecarga da infra-estrutura urbana, e da destruição de áreas e recursos naturais. Em contrapartida, a formação de comunidades urbanas marginais (periféricas e enclaves), “contribuem de modo significativo para as transformações socioeconômicas e culturais da realidade urbana, sem contudo partilhar plenamente dos valores e benefícios materiais da cidade.” (DIAS, 1994, p. 18). Nesse sentido, Marques (2005, p. 90) avalia: A especulação imobiliária, traço marcante no processo de ocupação do solo, tem contribuído para a depauperação dessas áreas, na medida em que dificulta o acesso dos menos favorecidos ao solo, que, diante da necessidade, constroem habitações em áreas proibidas e perigosas (encostas de morros e margem dos rios). Sendo assim, o meio urbano reúne diversas categorias sociais, muitas vezes e em alguns casos, desassistidas pelo poder público ou assistidas de forma insuficiente. De acordo com Coelho (2006, p. 39) “quando o crescimento urbano não é acompanhado por aumento e distribuição eqüitativa dos investimentos em infra-estrutura e democratização do acesso aos serviços urbanos, as desigualdades sócio-espaciais são geradas ou acentuadas.” O crescimento desordenado das cidades tem sido mais rápido do que a capacidade dos gestores de conter tal avanço, e mesmo as medidas corretivas tornam-se insuficientes na tentativa de resolver os problemas anteriores. (MARQUES, 2005). Os impactos ambientais no meio urbano podem ser percebidos através da redução da cobertura vegetal, do aumento de áreas impermeabilizadas, da presença de processos erosivos, assoreamento e contaminação de cursos d’água. A sustentabilidade ambiental e urbana existe efetivamente, quando se tem um controle sobre as atividades de pressão sobre o meio. Entende-se que a questão ambiental se encontra associada intensamente à própria questão urbana. Como considera Marques (2005, p. 53) “cuidar do meio artificial é cuidar, também, do ambiente natural, pois este sofre as conseqüências da degradação ambiental urbana.” A análise, a crítica e os questionamentos acerca da organização espacial urbana têm motivado, juntamente com outros fatores, uma nova percepção de meio ambiente, o que pode e deve contribuir aos preceitos de sustentabilidade urbana. 23 Sendo assim, a questão ambiental também é abordada por diversos autores sob o prisma da sustentabilidade urbana. Coutinho (2004) analisa o significado da chamada crise ambiental no âmbito das transformações operadas na acumulação capitalista e suas implicações teórico-metodológicas, com vistas em manter um posicionamento crítico e fundamentado sobre os problemas ambientais presentes nos processos de urbanização, principalmente no caso brasileiro. Assim, Coutinho (2004, p. 57) revê: É certo que as questões ambientais quando apreciadas no contexto intra-urbano não podem e não devem se restringir ao ecologismo. Por outro lado, também não se pode esquecer que a efetividade e a eficácia das normas jurídicas de proteção ambiental, em boa parte instituídas sob a ótica de uma gestão “moderna” da acumulação capitalista – perspectiva que molda, aliás, a Constituição Federal de 1988 – não articulam de forma razoavelmente consistente as questões ambientais com as formas de dominação vigentes em nossa formação social, o que evidencia como as lutas pela preservação do meio ambiente incorporam, ironicamente, projetos pelos quais o capital degrada e polui, restando ao poder público a contrapartida de recuperar a natureza. A legislação brasileira considera o meio ambiente como um bem público. Porém, como denuncia Fuks (2001), essa suposta universalidade de meio ambiente pode ser questionável. Para tal, apresentam-se algumas leituras: De acordo com a primeira, o meio ambiente não se apresenta como questão relevante para as classes sociais que ainda não têm asseguradas as condições básicas de sobrevivência. A segunda leitura assume a seguinte posição: ainda que o meio ambiente possa ser considerado um bem de uso comum, cuja proteção interessa ao conjunto da sociedade, os custos e os benefícios de sua proteção são desigualmente distribuídos, variando de acordo com os recursos disponíveis dos diversos grupos para atuar no contexto da política local. Na terceira leitura, a universalidade do meio ambiente expressa o projeto de um determinado grupo visando tornar universal seus valores e interesses. (p. 41). Como expõe Santos (1987, p. 7), “o simples nascer investe o individuo de uma soma inalienável de direitos, apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana.” Porém como bem lembra o autor, há cidadania e cidadania. Tal argumento é explicado pelo fato de que “nos países subdesenvolvidos de um modo geral, há cidadãos de classes diversas, há os que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que nem mesmo ainda o são.” (Santos, 1987, p. 12). O conjunto legislativo deve buscar a preservação e conservação do meio ambiente segundo as normas constitucionais. Marques (2007) atenta para o fato de que as “previsões legislativas” à defesa do meio ambiente artificial “não passam, na verdade, do reconhecimento da necessidade de se planejar a criação e o crescimento das cidades, permitindo-lhes desenvolvimento sustentado, além de corrigir distorções nas já existentes.” 24 (p. 54). O mesmo autor conclui que, o direito ambiental e a legislação devem se adaptar à realidade e necessidade do país. 1.3 – Geoprocessamento O termo “geo-grafia” (do latim geographia) significa terra e grafia, ou seja, a representação da Terra. Conforme Moura (2003) o sufixo “processamento” de geo- processamento, vem de processo (do latim processus), com significação de “progresso”. A partir de tal análise etimológica pode-se dizer que geoprocessamento “significa implantar um processo que traga um progresso, um andar avante, na grafia ou representação da Terra.” (MOURA, 2003, p. 8). O geoprocessamento é um termo amplo, que engloba diversas tecnologias de tratamento e manipulação de dados geográficos, através de programas computacionais. Dentre essas tecnologias, se destacam: o sensoriamento remoto, a digitalização de dados, a automação de tarefas cartográficas, a utilização de Sistemas de Posicionamento Global - GPS e os Sistemas de Informações Geográficas - SIG. Ou seja, o SIG é umas das técnicas de geoprocessamento, a mais ampla delas, uma vez que pode englobar todas as demais, mas nem todo o geoprocessamento é um SIG. (PINA & SANTOS, 2000, p. 14). Pode-se conceituar geoprocessamento como um conjunto de técnicas de coleta, exibição, tratamento de informações espacializadas e o uso de sistemas que as utilizam, ou seja, utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. (ROCHA, 2000). Com o advento do desenvolvimento acelerado da tecnologia e ciência da informática há um avanço cada vez maior da coleta de dados e posterior geração de informações espacializadas, visando a modelagem do espaço através do geoprocessamento, ou seja, procura abstrair o mundo real, transferindo ordenadamente as suas informações para o sistema computacional. Segundo Câmara et al (2000), o objetivo principal do geoprocessamento é fornecer ferramentas computacionais para que os diferentes analistas (considerando os diversos atores sociais envolvidos na produção espacial) determinem as evoluções espacial e temporal de um fenômeno geográfico e as inter-relações entre diferentes fenômenos. Muitos autores consideram o geoprocessamento uma ciência, a chamada ciência da geoinformação e como tal possui um método, o qual se insere dentro da perspectiva do 25 equacionamento das questões referentes à análise espacial frente a distintas aplicações. (CÂMARA et al, 2000). O geoprocessamento, através da representação do mundo real, permite uma transdisciplinaridade capaz de promover a integração de estudos e agregar resultados mais efetivos em uma concepção holística. Autores como Rocha (2000) e Xavier-da-Silva (2001) avaliam o geoprocessamento e suas perspectivas, com base na identificação de novas tecnologias voltadas à análise espacial, transdisciplinaridade, e principais aplicações. O uso do geoprocessamento, não deve ser considerado apenas como uma ferramenta moderna, mas como o meio de integração de diversas disciplinas para solução de problemas comuns e complexos. Xavier-da-Silva (2001) considera geoprocessamento como “um conjunto de técnicas computacionais que opera sobre base de dados (que são registros de ocorrências) georeferenciados, para transformar em informação (que é um acréscimo de conhecimento) relevante.” (p. 2). Deve, necessariamente, apoiar-se em estruturas de percepção ambiental (visão sistêmica, por exemplo) que proporcionem o máximo de eficiência nesta transformação. Segundo o autor, o geoprocessamento pode ser usado no equacionamento de problemas ambientais, promovendo a inserção no contexto geográfico, e conseqüente avaliação das alternativas de solução, segundo graus de benefício e prejuízo que possam trazer à qualidade de vida, fornecendo apoio à tomada de decisão relativa à gestão ambiental. Entende-se que a abordagem espacial permite a integração de dados demográficos, socioeconômicos e ambientais, promovendo a possibilidade de se descobrirem padrões, concentrações, tipologias e hierarquias no espaço, assim como o interrelacionamento das informações de diversos bancos de dados, como entende Pina e Santos (2000). Pode ser realizada através deste estudo a integração da questão ambiental à complexidade urbana considerando a espacialidade dos fenômenos. 1.3.1 - Sistemas de Informação Geográfica As ferramentas computacionais para geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s), permitem realizar análises complexas, integrar dados e criar bancos de dados georeferenciados. (CÂMARA e MONTEIRO, 2004). Assim, os SIG’s podem ser vistos como um tipo bastante particular de sistema de suporte à tomada de decisão, 26 oferecendo mecanismos para a manipulação e análise de dados georeferenciados frente a uma necessidade, para planejamento, controle e gestão do território. Assim, o uso desse instrumental tecnológico contribui no processo de [re]produção do espaço geográfico, uma vez que são utilizadas como meio de orientação. Desde as suas origens o significado do termo geográfica refere-se à qualidade de que as informações encontram-se espacialmente distribuídas, e não às características da análise geográfica. Em conseqüência, como os dados e informações referem-se a uma determinada unidade espacial de mensuração (ponto, área ou volume) que deve ser localizada, assume a característica de serem georreferenciados. Por essa razão, compreende-se que os sistemas são de informações a respeito de dados em unidades espacialmente distribuídas, focalizando os fenômenos ocorrentes na superfície terrestre e os seus atributos. A potencialidade dos SIG’s aplica-se nos procedimentos de análise espacial, mas observa-se recentemente todo um conjunto de esforços visando a elaboração de programas que possibilitem, também, a análise dos dados de séries temporais. (CHRISTOFOLETTI, 1999, P. 29). Xavier-da-Silva (2001) avalia que os Sistemas Geográficos de Informação (SGI)2 podem ser vistos como modelos digitais do ambiente. O autor credita a concepção de sistema como sendo um conjunto estruturado de objetos e atributos, e que apresenta limites, partes componentes, funções internas e externas, tornando-se aceitável também a concepção de ambiente como um sistema com expressão espacial. Pode ser proposto que os ambientes, vistos como sistemas, atravessam sucessivas situações ambientais, em conseqüência da atuação dos processos que sobre eles convergem. O retratar de tais situações ambientais pode ser feito através de um modelo, que pode ser digital. É essencial que este modelo contenha as entidades relevantes para a compreensão das seqüências de eventos (processos) responsáveis pela própria situação ambiental retratada. (p. 13). Os sistemas de informações geográficas surgiram há mais de três décadas e têm-se tornado ferramentas valiosas nas mais diversas áreas de conhecimento. Na verdade, somente no final da década de 70 é que a indústria dos SIG's começou a amadurecer, favorecendo inclusive, no início dos anos 80, o surgimento da versão comercial dos primeiros sistemas, que passaram a ter aceitação mundial. Nas últimas décadas houve um crescimento acentuado das aplicações de SIG's, o que se deve, em parte, ao advento e à disseminação do microcomputador pessoal, além da introdução de tecnologia de relativo baixo custo e alta capacidade de performance, tais como as estações de trabalho (Workstations). Hoje, o papel central desta tecnologia é o de informar e disseminar informação, sendo plenamente incorporado pelo computador, fato que este é uma tecnologia que amplia nossa capacidade de 2 Xavier-da-Silva (2001) denomina o chamado Sistema de Informação Geográfica (SIG) como Sistema Geográfico de Informação (SGI). 27 conhecer: obter, representar, armazenar, processar e disseminar o conhecimento. Assim, na denominada "Sociedade da Informação" o computador é o principal artefato tecnológico. Conforme Santos (1996), as características da sociedade e do espaço geográfico, em um dado momento de sua evolução, estão em relação com um determinado estado das técnicas. No instante atual (a partir de 1980), vigora o paradigma tecnoeconômico conhecido como o período da informação e comunicação, onde os setores de crescimento estão diretamente afeitos ao processo de produção e transmissão da informação. A produção, distribuição e circulação de informação constitui-se não somente como base para a maioria das atividades produtivas, como ela mesma se tornou uma das mais importantes dessas atividades. Matias (2004) ressalta que o advento das chamadas geotecnologias se enquadra nesse contexto à medida que fazem parte da tendência de construção de uma infra-estrutura voltada para aquisição, processamento e análise de informações sobre o espaço geográfico que busca racionalizar o processo de tomada de decisão. Nas condições sociais e econômicas do mundo atual, faz-se necessário decidir de forma correta e no menor tempo possível, aliando eficiência e eficácia. No mundo capitalista, os horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitam, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado. A adoção de um determinado programa SIG frente a uma aplicação segue determinadas regras, assim como revê Thomé (1998, p. 24): Na prática atual a concepção e a implementação de projetos na área de geoprocessamento segue regras conceituais vinculadas à ferramenta computacional selecionada. Entendemos por regras conceituais a semântica [linguagem] do funcionamento de cada SIG, e a maneira como os dados devem estar organizados, levando em consideração o tipo de cada dado, para o adequado tratamento pelo SIG adotado. Este mesmo autor ainda indica que, tendo em vista a diversidade dos modelos conceituais dos SIG’s, a comunicação entre os diferentes produtores de informação georeferenciada torna-se limitada e trabalhosa. A interoperabilidade entre os SIG’s pode ser entendida, como a capacidade de comunicação entre distintos programas. Na visão de Yuan (apud SILVA, 2003, p. 23) “a definição de interoperabilidade diz respeito à capacidade de compartilhar, trocar informações e processos em ambientes computacionais heterogêneos, distribuídos e autônomos.” No 28 entanto, há de ser esclarecido que, a interoperabilidade com base em aplicações geográficas é dificultada pela diversidade desses formatos, processos e significados para dados geográficos. Todo SIG possui uma arquitetura com componentes básicos implementados de formas distintas (Figura 1). Segundo Silva (2003), o crescente desenvolvimento na área de geoprocessamento levou ao surgimento de uma ampla variedade de SIG’s com arquiteturas proprietárias. Ao passo que alguns programas trabalham basicamente com arquivos no formato de vetores (compostos de pontos, linhas e polígonos), outros, utilizam o formato matricial ou raster (composto por pixels associados a valores), gerando assim, a necessidade de se converter os formatos conforme a comunicação entre os programas. Os formatos vetorial e matricial (raster) devem ser compreendidos como formas distintas de se representar dados em um SIG. (ROCHA, 2000). Figura 1 - Estrutura Geral de Sistemas de Informação. Fonte: Câmara e Monteiro (2004, p. 10). Na representação vetorial, a representação de um elemento ou objeto é uma tentativa de reproduzí-lo o mais exatamente possível. Qualquer entidade ou elemento gráfico de um mapa é reduzido a três formas básicas: pontos, linhas, áreas ou polígonos. A representação matricial consiste no uso de uma malha quadriculada regular sobre a qual se constrói, célula a célula, o elemento que está sendo representado. A cada célula, atribui-se um código referente 29 ao atributo estudado, de tal forma que cada elemento ou objeto pertence a determinada célula. (CÂMARA et al, 2000 – Figura 2). Figura 2 - Representação vetorial e matricial de um mapa temático. Fonte: Câmara et al (2000, p. 25). 30 2 – GERENCIAMENTO COSTEIRO E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO GEO CIDADES 2.1 - A zona costeira e o meio urbano A zona costeira é o espaço geográfico de interação entre o ar, a terra e o mar, sendo constituída por uma faixa marítima e outra territorial. Engloba todos os ecossistemas e recursos naturais (renováveis ou não) existentes em sua faixa terrestre, de transição e marinha. Esta zona, em especial, abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental (como manguezais, restingas, estuários, lagoas etc.), cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de fragilidade. (FEEMA, 2007; MMA, 2007). A maior parte da população mundial vive em zonas costeiras, havendo uma tendência permanente ao aumento da concentração demográfica nessas regiões. Araújo et al (2005, p. 63) identifica que “a urbanização sempre ocorreu primeiro em áreas costeiras, e essa tendência histórica continua.” O caráter caótico da produção e ocupação do espaço urbano brasileiro desenvolveu-se na zona costeira, sendo imprescindível nesse sentido o planejamento corretivo e preventivo nesta área, considerada Patrimônio Nacional, “onde desempenham papéis de suma importância os Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Gerenciamento Costeiro, com a utilização e implementação de seus instrumentos, notadamente no que concerne ao planejamento do uso do solo urbano.” (DORNELAS, 2004, p. 168). A zona costeira no Brasil possui 7.367 km de extensão e uma área de 388.000 km2, que atravessa 17 estados, envolve 400 municípios e abriga quase a quarta parte da população brasileira (36,5 milhões de habitantes), com uma densidade demográfica (18 hab/km2) quase quatro vezes superior à média brasileira. (MMA, 2007). A zona costeira concentra 20% da população brasileira, evidenciando uma elevada densidade populacional. Estima-se que nos próximos 20 / 30 anos a população da zona costeira terá quase dobrado. No âmbito estadual essa densidade é ainda mais expressiva, cerca de 80% da população fluminense vive na zona costeira, são cerca de 806 habitantes por km², configurando a segunda maior densidade demográfica dentre os Estados costeiros da Federação. (FEEMA, 2007). 31 Afonso (1999, p. 156) visualiza que, “o caráter caótico da produção do espaço urbano se agrava pela velocidade dos processos na zona costeira. Do ponto de vista ambiental, tal agravamento se acentua pelo alto nível de vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros.” Revendo o fato do acelerado crescimento urbano, especialmente na zona costeira, torna-se imprescindível o controle e o monitoramento do uso do solo em uma perspectiva de ocupação do território. A problemática urbana envolve as más condições ambientais nas cidades, fruto da concentração de vetores de pressão. O monitoramento objetiva informar sobre a qualidade ambiental, assegurando ao ambiente a qualidade compatível com seus usos desejáveis, e reduzindo o custo de combate à poluição, orientando assim, as ações de controle. Considerando o processo de intensa ocupação da costa brasileira, superando um primeiro ciclo de ocupação relativo à lógica do povoamento e interesses da colonização, e já buscando entender o atual estágio de dominação da renda da terra ao capital, Moraes (1999, p. 53) disserta: Poder-se-ia dizer que a assimilação de uma localidade praiana à lógica atual da valorização capitalista do espaço implica, em função da raridade relativa, sua subordinação imediata a um padrão urbano de parcelamento da terra... Assim o aumento da ocupação da zona costeira reafirma e reforça, com bastante ênfase, o caráter urbanizador do crescimento brasileiro. Corroborando com o exposto acima, Moraes (2005) identifica o Estado como o grande agente de produção do espaço por meio de suas políticas territoriais, e logo um grande indutor na ocupação do território, “um mediador essencial, no mundo moderno, das relações sociedade-espaço e sociedade-natureza.” (p. 140). Nakano (2006, p. 20) observa que não obstante a divulgação maciça de imagens dos bairros de médio e alto padrão existentes nas orlas das grandes cidades litorâneas, muitas vezes em propagandas turísticas, não podemos supor que essas áreas sejam apropriadas somente pelos agentes do mercado imobiliário e grupos sociais com maior poder aquisitivo. Os grupos de baixa renda também ocupam porções da orla com seus pequenos estabelecimentos comerciais e locais de moradia. Às vezes estão próximos das áreas mais valorizadas, outras vezes mais distantes, mas sempre junto à orla, nas áreas mais suscetíveis aos impactos naturais. A zona costeira brasileira segue como palco de grandes interesses, e são justamente os de natureza imobiliária os grandes responsáveis pelas transformações existentes. O meio ambiente costeiro em áreas urbanas deve ser entendido à luz do desenvolvimento ou da sustentabilidade urbana. Todos os processos identificados nessas áreas devem ser diagnosticados para que haja um planejamento efetivo calcado em uma visão holística de 32 sustentabilidade, através da gestão da zona costeira baseada num ordenamento territorial. Moraes (2005, p. 144) indica que o ordenamento territorial “visa estabelecer um diagnóstico geográfico do território, indicando tendências e aferindo demandas e potencialidades, de modo a compor o quadro no qual devem operar de forma articulada as políticas públicas com vistas aos objetivos estratégicos do governo.” Marques (2005, p. 98) indica que “a localização das cidades influencia também suas atividades, demandando, muitas vezes, soluções diferentes daquelas adotadas em outras cidades em situações idênticas.” As cidades costeiras, devem então ser pensadas de modo diferenciado, pautando-se no fato de que tais cidades litorâneas apresentam outras formas de degradação ambiental, não presentes em cidades interioranas. 2.2 - Do planejamento à política ambiental A problemática urbana vem convergir na busca pela sustentabilidade ambiental urbana, embora a realidade brasileira venha dificultar este processo frente aos descasos e improvisações institucionais. Não é difícil se imaginar que esta crise nas cidades suscita a necessidade do planejamento. Segundo Christofoletti (1999), o termo planejamento abarca uma ampla gama de atividades, podendo-se distinguir as categorias de planejamento estratégico (se relaciona com as tomadas de decisão, a longo e médio prazos, envolvendo um conjunto de pesquisas, discussões, negociações, etc) e operacional (iniciativas e atividades de controle que se encontram conectadas com a implementação dos planos a serem executados), e ainda usar critérios de grandeza espacial (planejamento local, regional, nacional, etc), ou de setores de atividades (planejamento urbano, rural, ambiental, econômico, etc). Segundo Santos (2004), planejar é estar a serviço de interesses públicos por meio de um ordenamento das atividades humanas. Autores como Franco (2001) revelam a importância do planejamento ambiental ligado à escala urbana e territorial. Recorrendo a Cunha e Coelho (2003, p. 44) “o território reflete a diferente espacialização dos processos de modernização, bem como os ritmos e padrões de degradação ambiental.” Promover a sustentabilidade urbana implica primeiro conhecer (fazer diagnósticos) e, depois, formular estratégias. O planejamento ambiental pode ser definido como uma modalidade de planejamento orientada para as intervenções humanas dentro da capacidade de suporte dos ecossistemas. 33 (FRANCO, 2001). Conforme Xavier-da Silva (2001, p. 21) “o planejamento ambiental é um processo no qual são executados o levantamento e o diagnóstico das condições ambientais com o objetivo de otimizar o uso dos recursos ambientais disponíveis.” Planejamento ambiental pressupõe três princípios básicos de ação humana sobre os ecossistemas, os quais podem ser combinados em diversos gradientes: os princípios de preservação, da recuperação e da conservação do meio ambiente. (FRANCO, 2001, p. 36). As etapas do planejamento, em um âmbito geral, devem perpassar as etapas de identificação do problema; pesquisa, análise, diagnóstico e objetivos; a adoção de um plano (que poderá se ramificar em programas, normas e projetos); a programação; além da avaliação, revisão e atualização. Considera-se como um processo cíclico e participativo, no qual o geógrafo assume importância ímpar no que diz respeito à visão holística do ambiente, considerando aspectos humanos e físicos. Torna-se cíclico, pois, como bem lembra Xavier-da Silva (2001), o processo de planejamento pode continuar após o início da implementação do plano de ação correspondente a planejamentos anteriores. O caminhar do processo do planejamento ambiental implica em gestão (execução das atividades previstas num plano), através do avanço de uma legislação ambiental. Os instrumentos reguladores de gestão são fornecidos pela lei. Conforme indica Marques (2005, p. 179), “é necessário que a lei determine preservação e conservação do meio ambiente, caso contrário, todos ficariam sujeitos a normas morais, sem sanção, comprometendo o bem que pertence a toda a comunidade.” A legislação brasileira garante o direito do cidadão ao meio ambiente sadio. No que se refere ao meio ambiente urbano, as leis municipais contribuem decisivamente para mantê-lo em condições de propiciar qualidade de vida à população. Ou seja, a legislação define os instrumentos, por sua vez a política irá orientar as ações de gestão. Gerir racionalmente, metodicamente, um ambiente, significa acompanhar a evolução dos fenômenos de interesse, comparando as situações encontradas no presente com as que foram previstas no plano de ação e, principalmente, promover a intervenção quando realmente necessária, segundo informação relevante e baseada em novos dados, mediante o consentimento da autoridade competente. (XAVIER-DA-SILVA, 2001, p. 22). A partir da década de 1970, dada às mudanças em nível mundial, com base na crise ambiental o meio científico, governos e sociedade experimentam um momento de ações envolvendo a política ambiental. Tais ações se baseiam, de certa forma, em uma (re)construção do pensamento ecológico. Segundo Cunha e Coelho (2003), observa-se a 34 partir da promulgação da nova Constituição (em 1988), um processo de redemocratização, no qual o envolvimento da sociedade local nas questões ambientais passou a ser estimulado. De acordo com Bredariol e Vieira (1998, p. 38), “para fazer valer nosso direito ao meio ambiente, precisamos conhecer um pouco de ecologia e de política ambiental, vista não apenas como política de governo, mas como parte das políticas públicas voltadas para o interesse da maioria da sociedade.” A perspectiva ambiental gera um movimento pautado no pensar globalmente e no agir localmente. A política ambiental orienta as ações de gestão, entendendo esta como um instrumento legal que oferece “um conjunto consistente de princípios doutrinários que conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção e conservação do ambiente.” (LANNA, 1995, p. 23). A ação ambiental se realiza por meio de diversos instrumentos (preventivos, corretivos, para a resolução de conflitos, etc.). Assim, para a gestão ambiental, considerando como um processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que interagem em um determinado espaço, se destacam as ferramentas de informação técnica, a atuação responsável, o diagnóstico ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o manejo sustentável de recursos naturais e as análises de risco ambiental, dentre outras. Pode-se considerar que a gestão ambiental faz parte de um processo mais amplo de gestão do território, e conforme Cunha e Coelho (2003), tal aspecto ainda não recebeu devida relevância. Como considera Ribeiro (1998) o desenvolvimento sustentável é uma forma de planejamento estratégico, ou seja, de longo prazo, em que prover orientação e informação confiáveis constitui requisito fundamental. Em outras palavras, a produção de informação de boa qualidade, disponível onde e quando for necessária, é requisito básico das políticas ambientais e para o desenvolvimento sustentável. Algumas das funções desempenhadas pelos instrumentos informacionais dizem respeito à geração, ao armazenamento, processamento, à distribuição de informações por meio da pesquisa, da extensão, da educação, e da comunicação. Com base nesta referência, percebe-se que a evolução da política ambiental exige investir em instrumentos de gestão estratégicos, que dependem de sistemas de informação ambiental e bases de dados estatísticos e georreferenciados. A pesquisa e o monitoramento constituem para este autor instrumentos de suma importância. O saber gerado pela pesquisa científica e tecnológica é insumo para a formulação de políticas públicas. Ou seja, a pesquisa e o estudo são necessários para 35 subsidiar decisões políticas de gestão ambiental, que de outra forma, tomadas sem embasamento técnico ou científico, correm o risco de incorrer em erros. O monitoramento objetiva informar sobre a qualidade ambiental, assegurando ao ambiente a qualidade compatível com seus usos desejáveis, e reduzindo o custo de combate à poluição, orientando assim, as ações de controle. Pode ser realizado através de tecnologias sofisticadas ou simples, com indicadores complexos ou simplificados, pelo uso do conhecimento técnico, científico ou popular. Conforme Bredariol e Vieira (1998, p. 77) “a primeira idéia que se tem de uma política pública é a de um conjunto de ações de organismos estatais com o objetivo de equacionar ou resolver problemas de coletividade.” Complementam que “quando analisamos qualquer política pública, percebemos que, além do Estado, atores sociais e políticos participam da sua formulação ou da sua execução.” Em relação a uma gestão do desenvolvimento sustentável pode-se pensar na ecologização das políticas públicas: Os procedimentos e métodos de gerenciamento ambiental democráticos e participativos, baseados em direitos e responsabilidades, são parte integrante da política e da cultura ambiental. Gestão ambiental é essencialmente a gestão de interesses distintos e a mediação entre tais interesses. Ecologizar as políticas públicas é internalizar ações para reduzir impactos ambientais de atividades em todos os setores e fomentar o desenvolvimento harmonizado com o ambiente. A mediação e a resolução não-violenta de disputas e conflitos de interesses entre os vários atores necessitam de canais formais, e os órgãos colegiados institucionalizam essas relações. (RIBEIRO, 1998, p. 105). O Estado tem procurado construir um modelo de gestão que integre interesses diversos. (CUNHA e COELHO, 2003). Neste sentido, é válida a contribuição de Moraes (2005, p. 23) ao avaliar que “os órgãos ambientais não podem ser vistos como mais um setor da administração mas como um elemento de articulação e coordenação intersetorial, cujas ações perpasam diferentes políticas públicas.” Partindo-se do pressuposto de que toda e qualquer política pública deve ser elaborada na perspectiva do desenvolvimento sustentável e, sabendo-se da reconhecida importância do nível local na sua concretização, torna-se fundamental o conhecimento do potencial de integração de instrumentos de gestão de áreas costeiras propiciando, aos atores sociais envolvidos, reais condições para a revisão, atualização e/ou implementação de planos, estratégias de desenvolvimentos de programas e de políticas públicas. (DORNELLES, 2005, p. 3). 36 2.3 - Gerenciamento costeiro A ocupação desordenada do território nacional dá lugar às formas mais graves de degradação do meio ambiental. Com base nisto, Polette (2000, p. 2) avalia: A Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, é sem dúvida uma das grandes oportunidades de reversão deste processo. Mas infelizmente a falta de entendimento do que é o gerenciamento costeiro, as suas potencialidades, e as oportunidades que esta política pública representa para a administração pública dos quase 400 municípios costeiros, é sem dúvida um dos desafios prementes e que se deve ser meta para os governos (federal, estadual e municipal) que se responsabilizam pela manutenção, conservação e, inclusive, a preservação da biodiversidade e produtividade existente na zona costeira, bem como pela melhoria de qualidade de vida da população que ali vive. O ordenamento territorial – que pressupõe zoneamento - é, para todos os efeitos, uma forma de gestão ambiental. Com base nessa premissa, a lei federal que institui a Política Nacional do Meio Ambiente alinha o zoneamento entre os instrumentos de apoio à sua aplicação. (MMA, 2002). Na zona costeira, um importante subcomponente do Programa Nacional do Meio Ambiente foi desenvolvido: o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO), através do qual foi realizado o zoneamento ambiental, na escala 1:1.000.000 de toda a zona costeira do país. Tal ação pode ser considerada como respostas de políticas em nível de Brasil. Nos últimos anos, os estados costeiros têm realizado trabalhos de zoneamento, conforme indica Moraes (1999, p. 217): À medida que o governo federal assumisse as tarefas de macrozoneamento, caberia aos estados a realização das demais modalidades [meso e microzoneamento]... Com base nas características próprias de cada caso, os estados teriam total autonomia para defenir as suas prioridades quanto ao zoneamento, respeitando patamares metodológicos mínimos e comuns. Ainda segundo este autor, através do que se entende por mesozoneamento adota-se uma compartimentação litorânea do trecho da costa estadual, priorizando escalas médias de trabalho e enfatizando aspectos relevantes para a gestão e o planejamento estaduais. Conforme Serafini (2004), no nível administrativo municipal (e distrital) aplica-se o microdiagnóstico, no qual o principal enfoque se traduz na modelagem de impactos ambientais e sociais, na participação social, e na integração com os Planos Diretores, se aproximando do chamado zoneamento urbano. 37 Convém ressaltar que, conforme Serafini (2004) a existência de competências repartidas para o zoneamento ambiental, e em especial para o zoneamento costeiro, não implica que o zoneamento estadual seja o somatório dos zoneamentos municipais, assim como em relação ao zoneamento nacional e estaduais. Para o autor “cada esfera apresenta objetivos específicos ligados diretamente à escala de trabalho envolvida e dinâmicas que transcendem a somatória dos zoneamentos das unidades políticas que a compõe.” (p. 5). O gerenciamento costeiro pode ser definido como “um processo contínuo de diagnose e planejamento do uso sustentável dos recursos costeiros, sob uma perspectiva integrada dos diversos processos e dos diversos atores que atuam na zona costeira.” (FEEMA, 2007, p. 1). À Gestão Costeira, aplicam-se os mesmos instrumentos da Gestão Ambiental. Sob esta perspectiva, "gerenciamento costeiro" nada mais é do que o próprio "gerenciamento ambiental", adaptado às particularidades sócio-ambientais dessa fração do território. (FEEMA, 2007). A atividade de gerenciamento deste amplo universo de trabalho implica, fundamentalmente, a construção de um modelo cooperativo entre os diversos níveis e setores do governo, e deste com a sociedade. Assim, com base neste pensamento, deve-se tentar compatibilizar o que pensam o governo e a academia. E mais do que isso, entender o funcionamento e a estrutura desses espaços, até para se avaliar a melhor forma de gerência. A implementação de novos instrumentos de análise e sistematização, incluídos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), assim como a importância do monitoramento e também do sistema de informações da zona costeira, constituem objetos de estudo e avaliação de pesquisadores. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro tem sido implementado pelo Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, constituído pela Lei 7.661, de 16/05/88 (regulamentada pelo Decreto n° 5.300 de 7 de dezembro de 2004), expressa o compromisso do governo brasileiro com o desenvolvimento sustentável em sua zona costeira, considerada como patrimônio nacional. O PNGC constitui-se de uma base legal, uma estrutura funcional (que agrega os limites / área de abrangência e objetivos) e instrumentos técnicos e normativos (instrumentos tecnológicos aliados a políticas públicas). Os instrumentos de natureza técnica são os instrumentos para a gestão articulada e integrada da zona costeira, os quais podem, e devem estar balizados por pesquisas acadêmicas e o auxílio das universidades. Devem ser considerados também os instrumentos de natureza normativa, em que o Estado e o Município têm papel fundamental, através da implementação e associação dos chamados Plano Estadual 38 de Gerenciamento Costeiro (PEGC) e Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC). Estes instrumentos podem ser plenamente compatibilizados com as mais diversas políticas públicas atuantes na zona costeira. (BRASIL, 2007; DORNELLES, 2005). A área de abrangência do PNGC acolhe todo o território nacional em faixas de zona costeira, identificados pela faixa marítima (até 12 milhas marítimas) e pela faixa terrestre, onde se consideram os municípios defrontantes com o mar; localizados em regiões metropolitanas litorâneas; conurbados às grandes cidades e capitais estaduais litorâneas; municípios situados até 50 km da linha de costa que gerem impacto ambiental na zona costeira; e os municípios estuarino-lagunares. O PNGC preconiza como objetivos: a promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos instrumentos de controle e de gestão da zona costeira; o estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na zona costeira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural; a incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as com o PNGC; o controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação ambiental que ameacem a qualidade de vida na zona costeira; a produção e difusão do conhecimento para o desenvolvimento e aprimoramento das ações de gestão da zona costeira. (BRASIL, 2007, Art. 6º). Em termos de desenvolvimento sustentável de áreas urbanas em ambientes costeiros, a atenção dispensada frente a esses objetivos é de suma importância. Ainda segundo Brasil (2007, Art. 7º), aplicam-se para a gestão da zona costeira os seguintes instrumentos, de forma articulada e integrada: • Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro: conjunto de diretrizes gerais aplicáveis nas diferentes esferas de governo e escalas de atuação, orientando a implementação de políticas, planos e programas voltados ao desenvolvimento sustentável da zona costeira; • Plano de Ação Federal da Zona Costeira (PAF): planejamento de ações estratégicas para a integração de políticas públicas incidentes na zona costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de atuação; • Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro: implementa a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC; 39 • Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro: implementa a Política Municipal de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC e o PEGC, devendo observar, ainda, os demais planos de uso e ocupação territorial ou outros instrumentos de planejamento municipal; • Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO): componente do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA), que integra informações georreferenciadas sobre a zona costeira; • Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA): estrutura operacional de coleta contínua de dados e informações, para o acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação da zona costeira e avaliação das metas de qualidade socioambiental; • Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira (RQA-ZC): consolida, periodicamente, os resultados produzidos pelo monitoramento ambiental e avalia a eficiência e eficácia das ações da gestão; • Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC): orienta o processo de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das condições de sustentabilidade do desenvolvimento da zona costeira, em consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional, como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão; • Macrodiagnóstico da zona costeira: reúne informações, em escala nacional, sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da zona costeira, com a finalidade de orientar ações de preservação, conservação, regulamentação e fiscalização dos patrimônios naturais e culturais. O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) tem participado do PNGC, considerando a importância do litoral fluminense, seja do ponto de vista econômico, seja do ambiental, onde o fortalecimento das atribuições do Estado na gestão do processo de uso e ocupação do litoral encontra-se calcado na Lei Estadual n° 1.204, de 7/11/87, que instituiu o Comitê de Defesa do Litoral (Codel/RJ). Ressalta-se que o referido Estado não possui, ainda, uma lei específica voltada para a previsão de responsabilidade e procedimentos institucionais para a execução do Plano Estadual de Gestão Costeira. (FEEMA, 2007). Para efeito de Gerenciamento Costeiro, o litoral fluminense foi subdividido em 4 setores, a saber: Setor 1, Litoral Sul; Setor 2, Litoral da Baía de Guanabara; Setor 3, Litoral 40 da Região dos Lagos; e Setor 4 referente ao Litoral Norte-Fluminense. Cada um dos setores possui distintos indicadores da costa, no que diz respeito a atividades econômicas e caracterização social, bem como fisiográfica (Figura 3). Figura 3 - Limites da Zona Costeira e setores costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: FEEMA (2007). Conforme Brasil (2007, Art. 14), o Poder Público Municipal, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, planejará e executará suas atividades de gestão da zona costeira em articulação com os órgãos estaduais, federais e com a sociedade, cabendo-lhe: elaborar, implementar, executar e acompanhar o PMGC, observadas as diretrizes do PNGC e do PEGC, bem como o seu detalhamento constante dos Planos de Intervenção da orla marítima, conforme previsto no Art. 25 deste Decreto; estruturar o sistema municipal de informações da gestão da zona costeira; estruturar, implementar e executar os programas de monitoramento; promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no gerenciamento costeiro, mediante apoio técnico, financeiro e metodológico; promover a 41 compatibilização de seus instrumentos de ordenamento territorial com o zoneamento estadual; promover a estruturação de um colegiado municipal. O Artigo 25 do Decreto n° 5.300 de 7 de dezembro de 2004, diz que para a gestão da orla marítima3 será elaborado o Plano de Intervenção, com base no reconhecimento das características naturais, nos tipos de uso e ocupação existentes e projetados e em conformidade com o planejamento federal, estadual e municipal da zona costeira. (BRASIL, 2007). Os Planos de Intervenção na orla constituem os produtos finais do Projeto Orla4. A elaboração desses documentos reflete não só um aumento da capacidade técnica municipal pela apreensão de uma nova metodologia, mas também a criação de um canal de articulação entre agentes públicos e comunitários para a conjugação de esforços para gestão da orla. Os documentos refletem as características de cada local quanto aos seus aspectos ambientais, sociais, institucionais e às peculiaridades do processo de ocupação urbana. (FEEMA, 2007). De acordo com Brasil (2007, Art. 26) para a caracterização sócio-ambiental, classificação e planejamento da gestão, a orla marítima será enquadrada segundo aspectos físicos e processos de uso e ocupação predominantes, de acordo tipologias específicas (considerando aspectos físicos da costa e de urbanização). O levantamento da caracterização da orla deve ser realizado para cada um dos trechos estabelecidos ou, dada sua homogeneidade, para a orla do município como um todo, para classificação e desenvolvimento de cenários orientadores dos Planos de Intervenção. (MMA e MP, 2002). Os conceitos necessários à classificação da orla surgem do cruzamento da qualidade de seus atributos naturais com as tendências de ocupação (considerando assim as tipologias), constituindo o campo de análise para seu enquadramento nas classes genéricas de uso. “Esse procedimento possibilita a identificação de diferentes situações do estado atual de um dado trecho da orla, levando à orientação de estratégias de intervenção definidas para alcançar o cenário desejado.” (MMA e MP, 2002, p. 55). 3 Orla marítima é considerada a faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface direta entre a terra e o mar. (BRASIL, 2007). 4 O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) - é uma iniciativa do Governo Federal proposta pelo Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO), da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). É conduzido através de ação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos (SQA), e o Ministério do Planejamento, no âmbito da sua Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP). Suas ações buscam o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a sociedade. (MMA e MP, 2002; NAKANO, 2006). 42 De acordo com Brasil (2007 Art. 27), para efeito da classificação os trechos da orla marítima devem ser enquadrados em três classes genéricas - Classe A, B e C - nas quais as estratégias de intervenção predominantes são: preventiva, de controle, e corretiva, respectivamente. A Classe A configura o trecho da orla marítima com atividades compatíveis com a preservação e conservação das características e funções naturais, possuindo correlação com os tipos que apresentam baixa ocupação, com paisagens com alto grau de conservação e baixo potencial de poluição; a Classe B abarca o trecho com atividades compatíveis com a conservação da qualidade ambiental ou baixo potencial de impacto, possuindo correlação com os tipos que apresentam baixo a médio adensamento de construções e população, de ocupação recente, paisagens parcialmente antropizadas e médio potencial de poluição; E a Classe C é definida como o trecho com atividades pouco exigentes quanto aos padrões de qualidade ou compatíveis com um maior potencial impactante, possuindo correlação com os tipos que apresentam médio a alto adensamento de construções e população, com paisagens modificadas pela atividade humana, multiplicidade de usos e alto potencial de poluição sanitária, estética e visual. A adoção de um Plano Municipal é importante porque assim também se adotam os instrumentos associados (aos planos Nacional e Estaduais). O município do Rio de Janeiro, apesar de realizar o Plano Diretor Decenal e manter diversas políticas públicas associadas, bem como a proposta de alguns planos e projetos, não institui o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. (CONCEIÇÃO, 2006). Assim como não é atendido pelo Projeto Orla, não instituindo Planos de Intervenção para a orla. Porém, de acordo com o Decreto n.º 27641 de 5 de março de 2007, o município passa a contar com o Comitê de Gestão da Orla Marítima da Cidade do Rio de Janeiro, com coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo como objetivos “estimular a melhoria das qualidades ambientais e urbanísticas da orla marítima da Cidade; determinação dos parâmetros de qualidade da orla; supervisão e controle dos monitoramentos dos indicadores de qualidade da orla; e, organização e controle das atividades econômicas, desportivas, turísticas e de lazer realizadas ou localizadas na orla.” (DIÁRO OFICIAL, 2007, Art. 2). A criação de tal comitê representa um avanço significativo para a gestão e ordenamento das faixas de orla, que pode vir a ser, em um futuro, ampliado e estendido a toda a zona costeira, com a implementação de um Plano Municipal. Dadas as definições apresentadas, o Município do Rio de Janeiro, em relação aos limites da zona costeira identificados no PEGC do Rio de Janeiro, interage em toda a sua extensão com dois setores costeiros, sendo estes o Setor 1 (Litoral Sul – abrangendo toda a 43 porção oeste da cidade), e o Setor 2 (Baía de Guanabara – abrangendo a maior parte da cidade, porções leste, norte e sul); considerando especificamente a classificação da orla, o município do Rio de Janeiro possui características similares aos tipos de orla de urbanização consolidada, com faixas abrigadas, expostas e de especial interesse, sendo assim, referentes à “Classe C”, na qual se pressupõe a adoção de ações para controle e monitoramento dos usos e da qualidade ambiental da orla. As discussões sobre a implementação de planos municipais de gerenciamento costeiro, assim como a gestão da orla marítima, denotam uma necessidade em especial: contemplar as peculiaridades das grandes cidades litorâneas, nas quais a complexidade urbana se torna ainda mais presente. São inúmeros os usos simultâneos, concorrentes, por vezes conflitantes; são diversos os atores e os interesses envolvidos; a presença das problemáticas comuns aos municípios maiores – poluição, tráfego de veículos motorizados, ocupações irregulares, especulação imobiliária – contrastam com o frágil ambiente marinho. A paisagem natural litorânea deu lugar aos ambientes construídos e, não raro, as praias estão diminuídas e descaracterizadas. Por outro lado, nesses ambientes, com certeza, estarão presentes outros instrumentos de planejamento do território – com destaque para o Plano Diretor Municipal – e as práticas de participação social na gestão das políticas urbanas estarão mais consolidadas. (NAKANO, 2006, p. 5). 2.4 - Projeto GEO Cidades O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) iniciou em 1995 um projeto para avaliar o estado do meio ambiente nos níveis global, regional e nacional. O Programa iniciou a elaboração uma série de informes sobre o estado atual do meio ambiente, denominados “Perspectivas do Meio Ambiente Mundial” ou, em inglês, Global Environment Outlook (GEO). O projeto GEO, além de propiciar uma avaliação do estado do meio ambiente dos países e regiões, utiliza um processo participativo que ajuda a fortalecer os conhecimentos e as capacidades técnicas de atuação na área ambiental através da construção de consenso sobre os assuntos ambientais prioritários e da formação de parcerias. (CRESPO e LA ROVERE, 2002). Em 2002, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) apoiou a iniciativa do PNUMA de desenvolvimento de uma metodologia GEO para as cidades. O propósito fundamental do denominado Projeto GEO Cidades é propiciar a avaliação do estado do meio ambiente nos 44 assentamentos urbanos, a partir da consideração dos determinantes específicos produzidos pelo processo de urbanização sobre os recursos naturais e os ecossistemas das cidades e seu entorno, indo de encontro aos interesses da problemática da avaliação urbano ambiental da zona costeira ao avaliar o impacto das cidades e do desenvolvimento urbano em diferentes ecossistemas, bem como propor ferramentas para a tomada de decisões na gestão urbana e ambiental, através de uma metodologia passível de adaptação baseada em uma matriz de indicadores. No curso da história, cresceu a legitimidade do paradigma da sustentabilidade e sua pertinência para lidar com a especificidade do urbano. E o desafio contemporâneo que o GEO Cidades enfrenta é este: selecionar critérios, estratégias e indicadores para ancorar a formulação, monitorar a implementação e avaliar os resultados das políticas urbanas em bases sustentáveis, isto é, promover o desenvolvimento sustentável nas cidades. (CONSÓRCIO PARCERIA 21, 2002, p. 8). Em suma, a perspectiva GEO Cidades visa fornecer instrumentos que permitam realizar a avaliação ambiental integrada do meio ambiente urbano, levando em consideração as características dos ecossistemas onde se inserem as cidades. A avaliação ambiental integrada é um processo de produção e comunicação de informações sobre as questões relacionadas ao ambiente natural e à sociedade, relevantes do ponto de vista de políticas públicas. (LEMOS, 2006 – Figura 4). Figura 4 - Fluxograma do processo GEO Cidades. Fonte: Lemos (2006, p. 14). 45 A metodologia GEO pode ser considerada um instrumento analítico que permite organizar e agrupar, de maneira lógica, os principais fatores que atuam sobre o meio ambiente. Conforme revisam Tayra e Ribeiro (2006), a partir desta estão se construindo indicadores urbano-ambientais em várias partes do mundo. 2.4.1 - Indicadores e Matriz PEIR Os procedimentos relacionados com a sustentabilidade surgiram visando a operacionalidade dos programas de desenvolvimento sustentável, necessitando envolver indicadores relacionados com os componentes ambientais, econômicos, institucionais e sociais, bem como as suas interações. Atualmente, diversos países e entidades multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU), através de suas organizações como a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) e a Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS); além da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), “têm desenvolvido esforços no sentido de estabelecer indicadores ou propor metodologias para a escolha dos mesmos.” (FILHO et al, 2005, p. 734). Indicadores são estatísticas, que, medidas ao longo do tempo e mensuradas em determinado espaço, fornecem informações sobre as tendências e comportamentos dos fenômenos abordados. Na concepção de Romero et al (2004, p. 8), “existem vários níveis e tipos de indicadores, dependendo do objeto de avaliação e do referencial utilizado.” Conforme avalia Furtado (2001 apud ROMERO et al, 2004, p. 9): Em relação ao meio urbano [...] há indicadores que medem aspectos das cidades em relação a padrões ambientais estabelecidos internacionalmente. Outros podem medir elementos mais específicos, como a qualidade de seus espaços, sua dinâmica social, sua economia ou o nível de qualidade de vida que a cidade possibilita à sua população ou a qualidade e a eficiência dos serviços urbanos... Especificamente neste caso pode-se considerar o conceito de indicador como sendo “a representação integrada de um certo conjunto de dados, informações e conhecimentos acerca de determinado fenômeno urbano ambiental.” (PMSP e PNUMA, 2004, p. 5). Sendo então os 46 indicadores capazes de expressar, de maneira objetiva, as características essenciais e o significado desse fenômeno aos tomadores de decisão e à sociedade em geral. Considerando que a perspectiva sistêmica se impõe na abordagem da questão ambiental, e tendo em vista o propósito de estabelecer indicadores de sustentabilidade, percebe-se a preferência pela adoção de um modelo que expresse a cadeia de relações causaefeito. (SEESB, 2006). Modelos sistêmicos ou de integração de causa e efeito visam a expressar as relações entre a qualidade ambiental (estado) e os seus fatores causais (de pressão), bem como as iniciativas geradas ou induzidas, em resposta às constatações propiciadas por esses indicadores. (OCDE, 2002 apud SEESB, 2006, p. 14). Uma primeira proposta conceitual de análise foi apresentada pelo PNUMA, estabelecendo o critério da Pressão – Estado – Resposta. O modelo contempla então, três diferentes tipos de indicadores: os de pressão ou forças controlantes; os de estado, os quais descrevem as condições reais dos sistemas ambientais; e por fim, os de respostas, refletindo as intensidades das medidas adotadas, e sendo úteis na avaliação da efetividade das decisões políticas. (CHRISTOFOLETTI, 1999). Carvalho (2003) indica que, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abarcam 50 indicadores organizados em quatro dimensões (econômica, social, ambiental e institucional). O autor ainda avalia que, o modelo PER tem sido o mais utilizado para uma análise integrada dos IDS. O modelo PER foi a metodologia empregada recentemente para seleção de indicadores adaptados à escala de análise municipal e às características da cidade do Rio de Janeiro. Tal ação, desenvolvida em parceria pelas Secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente, além do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) resultou no Relatório de Indicadores Ambientais da Cidade do Rio de Janeiro, que propõe como desafio “contribuir para avaliação do balanço entre os processos de urbanização e a preservação ambiental na última década.” (IPP, 2005a, p. 13). O modelo que considera as pressões, estado e as repostas possibilitou o desenvolvimento de um elenco de 41 indicadores, adaptados às questões da cidade, distribuídos pelos seguintes temas: caracterização ambiental (estado), ocupação do território, padrões e produção de consumo (pressões), e ações do poder público (respostas). Um outro difundido modelo conceitual é o proposto pela Agência Européia do Ambiente (AEA): a chamado Força Motriz PSIR (pressão-situação-impacto-resposta), que tem como meta analisar os problemas ambientais, buscando explicitar toda a cadeia causal 47 seja pela desagregação dos fatores causais (força motriz e pressões diretas), seja pela desagregação das conseqüências no ambiente (impactos). Segundo uma visão sistêmica o desenvolvimento social e econômico atua como Força Motriz que desencadeia as Pressões sobre o Ambiente levando a alterações no Estado do Ambiente (concentrações de substâncias na água, ar, alterações de uso do solo). Estas alterações podem causar impactos sobre a saúde humana, ecossistemas e materiais, o que pode suscitar uma atuação da Sociedade em resposta, retro-alimentando os demais compartimentos do sistema através de ações de adaptação ou mitigação. (EEA, 1999 apud FRANCA, 2001). A metodologia do Projeto GEO Cidades se baseia na análise de uma matriz de indicadores conhecida como Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR). O modelo PEIR foi desenvolvido originalmente pelo governo canadense, e então aplicado e divulgado pela OCDE. Esse modelo retoma a estrutura do PER, agregando as pressões diretas e indiretas, e enfatizando, essencialmente, a desagregação das conseqüências ambientais na qualidade (estado), explicitando os impactos decorrentes das pressões e processos que causam esses impactos. (SEESB, 2006). Os impactos ambientais podem ser definidos como: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:(I) a saúde, a segurança e o bem-estar da população;(II) as atividades sociais e econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais. (Resolução do CONAMA n.º 001 de 23/01/86). Contribuindo ao tema, Coelho (2006, p. 25) disserta: O impacto ambiental não é, obviamente, só resultado (de uma determinada ação realizada sobre o ambiente): é relação (de mudanças sociais e ecológicas em movimento). Se impacto ambiental é, portanto, movimento o tempo todo, ao fixar impacto ambiental ou ao retratá-lo em suas pesquisas o cientista está analisando um estágio do movimento que continua. Sua pesquisa tem, acima de tudo, a importância de um registro histórico, essencial ao conhecimento do conjunto de um processo, que não finaliza, mas se redireciona, com as ações mitigadoras. A matriz, ou modelo PEIR busca estabelecer um vínculo lógico entre seus diversos componentes (Figura 5), de forma a orientar a avaliação do estado do meio ambiente, desde os fatores que exercem pressão sobre os recursos naturais (os quais podem ser entendidos como as “causas” do seu estado atual), passando pelo estado atual do meio ambiente 48 (“efeito”), e os impactos deste efeito sobre o meio, até as respostas (reações) que são produzidas para enfrentar os problemas ambientais em cada localidade. Figura 5 - Estrutura PEIR. Fonte: MMA (2002, p. 4). Dentro da metodologia adotada pelo Projeto GEO Cidades, a matriz PEIR, serve como o referencial básico para a definição dos indicadores a serem utilizados na elaboração do Informe sobre o estado do meio ambiente local, considerando determinados critérios para a seleção de tais indicadores (Quadro 1). Segundo o Consórcio Parceria 21 (2002, p. 48) “cada um destes padrões de relacionamento das atividades humanas com o meio ambiente demanda um conjunto específico de indicadores capazes de expressar o tipo particular de relação definido por cada um destes padrões.” Por essa razão, os indicadores podem ser organizados segundo cada modelo. CRITÉRIO CARACTERÍSTICAS FÁCIL COMPREENSÃO Devem: permitir interpretações e percepções semelhantes por parte de todos os usuários; ser transparentes, isto é, de facil compreensão para usuários com distintos graus de compreensão e informação; CONFIABILIDADE Devem: ter credibilidade técnico-científica e ter origem em instituições de reconhecida capacidade e confiabilidade técnicas. 49 TRANSVERSALIDADE/ UNIVERSALIDADE DISPONIBILIDADE Devem: poder ser utilizados para conhecer as tendências de diferentes fenômenos, e, ao mesmo tempo, permitir fazer comparações entre diversas realidades locais. Devem: estar disponíveis e apresentar, de preferência, séries históricas na escala territorial de análise, o qual permite compreender o comportamento do fenômeno no tempo. Quadro 1 - Critérios para a seleção de Indicadores Urbano-Ambientais. Fonte: Consórcio Parceria 21 (2002). Considerando que as cidades encontram-se localizadas em ecossistemas que apresentam características ambientais diversas, é importante que a análise do estado do meio ambiente local não esteja limitada unicamente ao uso de indicadores universais. Ou seja, é possível que na elaboração de um relatório e/ou estudo haja a liberdade de se propor a incorporação, e inclusive a criação, de indicadores que reflitam de maneira mais apropriada as características do ecossistema local, de forma a preservar suas especificidades. Christofoletti (1999, p. 172), avalia que “na proposição de indicadores ambientais há ampla quantidade para serem trabalhados nos estudos de escala internacional, nacional e local.” Porém deve-se atentar para o fato de que um sistema de informações PEIR vinculado a uma carta de indicadores esbarra num problema recorrente, o da obtenção de dados. Tayra e Ribeiro (2006) questionam que, em muitos casos, os dados não estão disponíveis na escala desejada ou, simplesmente, não existem, ou ainda possuem qualidade duvidosa; o que certamente compromete a capacidade de o sistema prover informações fidedignas sobre a real situação do espaço analisado. Há de se recorrer então, a formas de adaptação da metodologia, agregando o reconhecimento de um maior número de atores sociais os quais possam contribuir quando da disponibilização de dados e/ou informações focando o recorte em avaliação. A busca por dados secundários, por exemplo, reflete uma forma de adaptação metodológica, sem que acarrete alterações estruturais. Os componentes da matriz PEIR podem ser classificados em: Pressão exercida pela atividade humana sobre o meio ambiente, denominada causas ou vetores de mudança; Estado ou condição do meio ambiente que resulta das pressões; Impacto ou efeito produzido pelo estado do meio ambiente sobre diferentes aspectos; Resposta que corresponde às ações que aliviam ou previnem os impactos ambientais, corrigem os danos ao meio ambiente, 50 conservam os recursos naturais ou contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população local (Figura 6). Figura 6 - Matriz PEIR de análise do fenômeno ambiental. Fonte: PMSP e PNUMA (2004, p. 8). 2.4.2 - Informes GEO Cidades Um dos objetivos gerais do Projeto GEO Cidades têm sido adaptar e desenvolver metodologia GEO para avaliação urbano-ambiental a ser aplicada em cidades da América Latina e do Caribe, que configura uma das regiões mais urbanizadas do mundo em desenvolvimento. (CRESPO & LA ROVERE, 2002; LEMOS, 2006). A participação brasileira, por intermédio dos segmentos governamental - MMA - e não-governamental - Consórcio Parceria 21, entidade formada pela associação de três organizações não governamentais: Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), Instituto de Estudos da Religião (ISER), e a Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH) no Projeto GEO Cidades, teve como uma primeira etapa a formulação de uma metodologia para elaboração de Informes GEO Cidades. Esse processo implicou a realização de 'workshops' técnicos, com o propósito de discutir com especialistas nas questões urbanas e ambientais, os temas preferenciais a serem abordados no documento, assim como a definição do conjunto de indicadores que deverão ser utilizados para avaliar o estado do meio ambiente em nível local. (CONSÓRCIO PARCERIA 21, 2002). Posteriormente houve a aplicação desta metodologia em algumas cidades. Atualmente, em três cidades brasileiras foram produzidos os Informes GEO: Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo (Figura 7). 51 Figura 7 - Capas dos Relatórios (Informes GEO) das cidades do Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. Fonte: Lemos (2006, p. 8). A produção dos Informes GEO comporta dois estágios: o primeiro configura-se pelo processo de avaliação ambiental – levado a efeito mediante o diálogo entre autoridades públicas e cientistas – em que intervêm distintos setores sociais e incorporam-se diferentes perspectivas, em busca de um consenso sobre temas e ações prioritárias; o segundo, corresponde à veiculação, por via impressa ou eletrônica, dos informes gerados, os quais estão sujeitos a contínuas revisões, segundo a dinâmica da situação do meio ambiente, e orientados para subsidiar a tomada de decisões pelos atores sociais pertinentes. (MMA, 2002). O Rio de Janeiro foi a primeira cidade onde se aplicou a metodologia para avaliação urbano-ambiental integrada para Informes GEO Cidades, constituindo-se num estudo piloto. O desenvolvimento do estudo-piloto ocorreu em paralelo à elaboração da metodologia, o que conduziu a diversas alterações durante o processo de trabalho. O processo de elaboração dos Informes GEO Cidades (relatórios) prevê o envolvimento efetivo das diversas áreas de Governo responsáveis pela implementação das políticas setoriais afetas à questão ambiental urbana, porém “tal envolvimento não aconteceu neste primeiro relatório, uma vez que era um estudo-teste da metodologia.” (CRESPO e LA ROVERE, 2002, p. 14). Assim algumas limitações na elaboração do relatório podem ser apontadas, tais como o pouco envolvimento dos demais atores (ONG’s, universidades, governos e empresas), e, inclusive, limitações para 52 coleta de dados, como a dificuldade na obtenção de alguns dados frente aos órgãos públicos competentes. A matriz de indicadores básicos proposta pela metodologia GEO Cidades foi a base utilizada para a escolha dos principais indicadores ambientais e de sustentabilidade do Rio de Janeiro. Assim, através do macrovetor de ocupação do território e principais vetores de pressão associados foram identificados os mais relevantes indicadores de pressão, estado, impacto, e resposta levando em consideração os principais problemas ambientais da cidade do Rio de Janeiro. São Paulo também já conta com seu Informe GEO. A prefeitura do município organizou a construção de um sistema contemplando, no total, 83 indicadores: 23 indicadores de pressão sobre o meio ambiente (como crescimento e densidade populacional, por exemplo); 20 indicadores de estado do meio ambiente (como o de qualidade do ar); 19 indicadores de impacto sobre a saúde humana e meio ambiente; e 21 indicadores de respostas da sociedade. (TAYRA e RIBEIRO, 2006). Numa primeira análise pode-se evidenciar o vínculo existente entre os denominados Informes GEO, relatórios gerados junto ao GEO Cidades, a partir de sua contribuição para a geração e o aprimoramento dos Relatórios de Qualidade Ambiental da Zona Costeira, instrumento que diz respeito ao procedimento de consolidação periódica dos resultados produzidos pelo monitoramento ambiental e, sobretudo, de avaliação da eficácia das medidas e ações de gestão desenvolvidas. (CONCEIÇÃO, 2006). No próximo capítulo serão apresentadas as Áreas de Planejamento como recortes de avaliação e adaptação da metodologia GEO Cidades. As AP’s 2 e 5 representam as unidades selecionadas. As referências documentais relacionadas a experiências anteriores de aplicação de modelos de indicadores e metodologia GEO na cidade do Rio de Janeiro reforçam a utilização das AP’s como unidades capazes de garantir a visualização dos fenômenos na cidade. Logo, tais referências são importantes na condução da caracterização da área de estudo. 53 3 – ÁREA DE ESTUDO: ÁREAS DE PLANEJAMENTO 2 E 5 3.1 - A produção do espaço urbano carioca e problemas ambientais A cidade, núcleo-sede da região metropolitana do Rio de Janeiro localiza-se ao sul do Estado homônimo, no sudeste brasileiro. Possui como limites ao sul, o oceano Atlântico; ao norte, municípios limítrofes da Baixada Fluminense; a leste, a Baía de Guanabara; e a oeste, a Baía de Sepetiba (Figuras 8 e 9). Figura 8 - Localização do Município do Rio de Janeiro (núcleo-sede da Região Metropolitana do Rio de Janeiro), via Estado do RJ – Brasil. Fonte: Adaptado de CIDE (2007) e IBGE (2007). 54 Figura 9 - Limites do Município do Rio de Janeiro. Fonte: Adaptado de IPP (2007). Conforme Gonçalves (2002), a abordagem geográfica da questão ambiental envolve a adequação da escala de análise, bem como a análise da origem dos problemas sócioambientais através de processos sócio-históricos, admitindo assim, uma escala temporal. A cidade do Rio de Janeiro é caracterizada por uma forte diferenciação de áreas, considerando tanto os aspectos físicos bem como a apropriação do espaço pelo homem. O encontro entre o mar e a montanha é a principal marca do acidentado relevo carioca, que possui características marcantes de uma planície costeira. O clima da cidade é tropical (atlântico) segundo a classificação de Köppen (SMAC, 2007), porém com uma diferenciação nos índices pluviométricos: maior nas áreas de maciço e menor nas áreas de baixada. Tal singularidade peculiar é resultado da interação entre o relevo montanhoso e as baixadas, que constituem, assim, os principais domínios fisiograficos da cidade do Rio de Janeiro, aliados à presença da floresta e do mar, com seu complexo quadro litorâneo, pontilhado de ilhas, baías, praias, lagoas, e restingas. (BRANDÃO, 2006). Os Maciços montanhosos da Pedra Branca, de Gericinó-Mendanha e, principalmente, o Maciço da Tijuca orientaram o crescimento urbano. A cidade se expandiu pela vasta planície, acabando por envolver completamente os maciços litorâneos (Figura 10). 55 Figura 10 - Principais compartimentações físicas da cidade do Rio de Janeiro. Fonte: Adaptado de IPP (2007). Ao se realizar um diagnóstico urbano-ambiental para a cidade do Rio de Janeiro é imprescindível considerar o processo de ocupação do território, além da atual dinâmica, inserida no ciclo da matriz PEIR, considerando recortes espaciais e temporais de análise. Sabe-se que o primeiro ciclo de ocupação privilegiou a área central da cidade, com segmentos na atual zona Sul e parte da zona Norte. (ABREU, 1997). Atualmente, essas áreas experimentam seu limiar de ocupação e densificação. O processo que se tem verificado atualmente é o espraiamento da mancha urbana em direção à zona Oeste da cidade, indicando um maior crescimento populacional proporcionado pela expansão urbana. Dada a caracterização social da cidade com grandes desigualdades, e seu veemente processo de expansão e densificação urbana, assim como um quadro físico-natural marcado por áreas ambientalmente frágeis, urge a chamada crise ambiental na cidade. Abreu (1997) em sua obra traça um retrospecto da produção e organização do espaço urbano carioca. Mais do que isso, identifica os atores sociais envolvidos no processo, como o Estado e suas ações urbanísticas; e as formas espaciais resultantes na organização deste espaço, representando uma acumulação de tempo. Sobre a questão da organização espacial deve-se considerar que o espaço urbano é composto por diversas potencialidades, sendo constituído de diversos agentes modeladores na definição de áreas. A complexidade da ação destes agentes inclui práticas que levam a um constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, bem como a densificação do uso 56 do solo, a relocação diferenciada da infra-estrutura e mudanças do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade. (CORRÊA, 1995). Abreu (1997) demonstra como a sucessão de administrações públicas manteve um caráter concentrador no que se refere à distribuição dos serviços públicos no Rio de Janeiro, privilegiando a Área Central e a nobre zona Sul da cidade. Assim, com base na dinâmica dos incorporadores imobiliários nos bairros costeiros “valorizados” da cidade do Rio de Janeiro, partindo do exemplo da expansão urbana verificada nas últimas décadas ao longo da costa da cidade, verifica-se que, numa abordagem histórica, o Estado se une ao mercado imobiliário na intensificação do processo de segregação residencial presente no Rio de Janeiro. A cidade, como um núcleo metropolitano atrativo de população, desenvolveu em seu espaço grandes desigualdades, similares às de metrópoles de Terceiro Mundo. Tais desigualdades, aqui identificadas como disparidades no acesso ao uso do solo urbano, refletem o Rio de Janeiro como uma grande vitrine para a visualização da segregação sócioespacial. Na visão de mercado, a segregação é entendida como a expressão espacial dos diferenciais de renda no acesso ao solo urbano e aos seus serviços, orientadas pelo mercado imobiliário/fundiário e onde os mecanismos institucionais parecem estar em acordo ou subjugados à própria lógica do mercado. (VILLAÇA, 2001). Percebem-se ainda, derivações do processo de segregação sócio-espacial urbana, e pode-se recorrer aos termos “segregação imposta” e “auto-segregação”. Segundo Villaça (2001), a noção de “auto-segregação” refere-se às ações de certos grupos sociais caracterizados pelo elevado poder de compra e de mobilidade residencial, elites que se isolam ou se concentram em determinadas áreas como forma de reprodução de seu poder político e social, tendo como exemplo, o próprio processo de ocupação em bairros emergentes como os da zona Sul pelas camadas mais abastardas. Com relação à noção de “segregação imposta”, a lógica se inverte, pois na relação entre oferta e demanda, atores como o Estado determinam a localização e os processos de mobilidade residencial e espacial de ampla maioria da população. As favelas enclaves na nobre zona Sul carioca, e a presença de um elevado número (em expansão) de conjuntos habitacionais, loteamentos e assentamentos por toda a extensão em direção à desfavorecida zona Oeste da cidade, por exemplo, são testemunhos vivos da complexa relação entre oferta e demanda no processo de segregação imposta, identificado através do isolamento das classes menos favorecidas no espaço. (CONCEIÇÃO, 2006; VILLAÇA, 2001). 57 Entre 1991 e 2000, a população carioca passou de 5.480.778 para 5.857.904 habitantes, o que representou uma taxa média geométrica anual de crescimento de 0,7%. Tal crescimento implicou uma variação da densidade demográfica de 43,7 habitantes por hectare para 46,7 habitantes por hectare na cidade. Os domicílios, no entanto, cresceram mais: agregando cerca de 240.000 novos domicílios, com uma taxa média anual de 1,6%. Logo, o número de pessoas por domicílio caiu de 3,42, em 1991, para 3,22, em 2000. A população moradora em favelas, segundo o IBGE5, cresceu de 882 mil habitantes, em 1991, para cerca de 1 milhão, em 2000 (Quadro 2). Não há dados do IBGE para loteamentos irregulares e clandestinos, mas estima-se que abriguem cerca de 400 mil pessoas. (CEZAR, 2001; IBGE, 2002; IPP, 2005b). Áreas de 1991 Planejamento Subnormal Normal AP 1 85.588 218.107 AP 2 127.561 907.051 AP 3 479.661 1.844.329 AP 4 72.182 454.120 AP 5 117.491 1.174.688 Total 882.483 4.598.295 População 5.480.778 total 2000 Subnormal Normal 77.245 191.697 146.380 849.751 545.011 1.807.571 144.298 573.729 179.849 1.373.515 1.092.783 4.796.263 5.889.046 Quadro 2 - População residente no Município do Rio de Janeiro por setor censitário (Normal e Subnormal) por Áreas de Planejamento - 1991/2000. Fonte: Adaptado de Cezar (2001) apud Crespo e La Rovere (2002). O Rio de Janeiro abarca uma grande desigualdade social em seu território, o que tem gerado um dos principais conflitos urbanos atualmente observados, deflagrando o alto índice de violência na cidade. Convém assinalar que a degradação ambiental na cidade está intimamente ligada à própria degradação humana, considerando que os processos que se verificam na construção de uma segunda natureza são de ordem predatória, os quais estão subjugados à cidade formal e informal. Segundo Fuks (2001), sob a influência de um núcleo argumentativo da “ordem como ideologia”, a cidade do Rio de Janeiro vem passando por um processo de deterioração crescente ligado a desordem urbana, que deve ser enfrentada como um fenômeno 5 O IBGE adota o termo assentamentos sub-normais, ao considerar as favelas (que configura uma denominação da administração municipal). 58 multifacetado a ser combatido em diversas frentes. “Proteger o meio ambiente do Rio de Janeiro significa lutar contra qualquer tipo de agente ou atividade que concorra contra um plano de ocupação racional do espaço urbano” (p. 143), que por sua vez depende da vivência do que pode ser considerado como princípios da ordem e autoridade pública. A partir da ótica da desordem urbana, pode-se considerar que o presente quadro de degradação ambiental na cidade resulta do crescimento desordenado, devido à expansão das habitações populares (com maior expressividade das favelas), e também ao modelo urbanístico caracterizado pela verticalização desenfreada, e promovido pela especulação imobiliária e irresponsabilidade da administração pública. (FUKS, 2001). 3.2 - Políticas públicas na cidade do Rio de Janeiro Moraes (2005, p. 24) revela que “os recortes territoriais fornecem um bom mote para se pensar a implementação da política ambiental, que na verdade nada mais é que a internalização do vetor ambiental nas várias políticas territoriais.” Logo, pode ser revisto o quadro político institucional da cidade do Rio de Janeiro, com enfoque para as políticas urbanas (de caráter ambiental, inclusive) atuantes no território municipal. O Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) é composto por órgãos do Poder Executivo da União, Estados e Municípios. O sistema possui um órgão central, o Ministério do Meio Ambiente, que tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Os órgãos seccionais do SISNAMA são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. Os órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental nas suas respectivas jurisdições. (CRESPO & LA ROVERE, 2002). Os municípios têm recebido, nos últimos anos, responsabilidade crescente na gestão do meio ambiente. Isso tem ocorrido no controle ambiental, na fiscalização, no licenciamento, na educação ambiental e manutenção de áreas verdes. Porém tal responsabilidade deve vir acompanhada de uma conscientização da importância das relações intergovernamentais, bem como são essenciais aquelas com outros grupos e instituições. Os atores governamentais possuem papel decisivo na produção do espaço e gestão do território, 59 devendo qualquer proposta de planejamento evidenciar as ações públicas. A estrutura administrativa do poder local, da cidade do Rio de Janeiro, é formada pelos poderes Executivo e Legislativo, exercidos pela Prefeitura e Câmara municipal respectivamente. A Prefeitura Municipal está organizada em órgãos da Administração direta e indireta. Dentre esses órgãos, destacam-se as secretarias municipais (de urbanismo, meio ambiente, transportes, etc). A Prefeitura também delega atribuições às subprefeituras de bairros e/ou regiões administrativas, as quais possuem um papel descentralizador na administração local. Ao longo das três últimas décadas, o Poder Público, nas três instâncias administrativas, tem se estruturado institucionalmente para atender às demandas da área ambiental. No Município do Rio de Janeiro foi institucionalizado o sistema de gestão ambiental através da criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Fundo de Conservação Ambiental. Conforme Crespo & La Rovere (2002, p. 29), a SMAC “possui as funções básicas de proteger e recuperar o meio ambiente.” Para tal, é composta por quatro Coordenadorias: Controle, Recuperação, Despoluição e Informações e Planejamento Ambiental e um Centro de Educação Ambiental, além de três Gerências de Programas e uma Gerência de Implantação de Projetos Especiais. A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), atua de forma articulada com a SMAC tanto na elaboração de legislação de uso e ocupação do solo, quanto no processo de licenciamento de edificações e atividades. É grande o esforço do Município na questão ambiental urbana, uma vez que o uso e ocupação do solo são competência exclusiva deste nível de Governo. Assim, devem incluir a dimensão ambiental nos Planos Diretores, definindo na legislação urbanística normas de condução do desenvolvimento urbano sustentável, além daqueles de proteção do patrimônio natural, histórico e cultural. Com base na Constituição Federal de 1988 e pautado na abertura democrática e participação popular, foi elaborado o Plano Diretor Decenal do Rio de Janeiro - Lei Complementar nº 16/92. Consta atualmente em vigor o Projeto de Lei Complementar nº 25/2001. (COMPUR, 2007). Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU, 2007), mais do que diretrizes para o desenvolvimento da cidade, o Plano Diretor estabelece instrumentos e regras para o planejamento, visando distribuir mais justamente os recursos aplicados na cidade, funcionando como uma carta de princípios para o planejamento urbano que, com as constantes e rápidas transformações da sociedade, torna-se cada vez mais importante para fazer frente às desigualdades econômicas e sociais nas cidades. Dada a imbricação da crise 60 ambiental à produção do espaço urbano (considerando a organização e reorganização espacial na cidade e caracterização sócio-ambiental) pode-se pensar no Plano Diretor como um instrumento também capaz de promover, ou melhor, integrar o planejamento ambiental ao urbano. Em 1995, em complementação ao Plano Diretor, foi realizado o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, que visava consolidar a cidade como uma metrópole empreendedora e competitiva. Para atingir este objetivo, o Plano Estratégico apresentaria estratégias que se desdobrariam em ações e projetos da administração municipal. Segundo informações da SMU (2007), um Plano Estratégico envolve governo e sociedade numa interface e co-responsabilidade pela definição de novos rumos, ao enfatizar as relações de intercâmbio, negociação e colaboração entre todos os seus segmentos representativos. Revendo os Planos Estratégicos Regionais, percebe-se que estes configuram planos desenvolvidos para determinadas regiões, considerando estratégias e objetivos específicos para determinados bairros. Os Planos Estratégicos Regionais foram articulados entre si visando identificar os principais temas de cada região e a sua inserção no conjunto da cidade. (SMU, 2007). A cidade já conta com um segundo Plano Estratégico, considerado um “desdobramento inovador do Plano anterior”. Nesta nova fase o Plano passa a olhar a cidade heterogênea expressa num conjunto de 12 regiões com características histórico-geográficas distintas (Figura 11). O Plano Estratégico denominado "As cidades da Cidade" é, portanto, um conjunto de 12 planos estratégicos regionais, uma atualização do Plano Geral da Cidade e a implementação de um processo dinâmico e sistemático de monitoramento pela sociedade, prevendo, teoricamente, seu envolvimento na impulsão dos projetos e dos planos e a posterior avaliação de suas próprias propostas. 61 Figura 11 – Divisão de Regiões do II Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. Fonte: SMU (2007). 3.3 - Definição e localização das AP’s Para fins de planejamento, a cidade atualmente está dividida em Áreas de Planejamento (AP’s), sendo cinco ao total (Mapa 1). Tais áreas possuem determinadas Regiões Administrativas (RA’s) auxiliando a administração central, e são compostas por bairros que agregam setores censitários (grupo de quadras nas quais se realizam as coletas de dados demográficos). Historicamente, a iniciativa de se criar uma divisão administrativa regional surgiu com um caráter de Coordenação dos Serviços Locais6 ocorrendo então a partir de 1961, ainda no então Estado da Guanabara, onde o governador Carlos Lacerda instituiu, em caráter experimental, as Regiões Administrativas para três grandes regiões da Cidade: São Cristóvão, Campo Grande e Lagoa. (Decreto 353 de 30 de janeiro de 1961 – PCRJ, 2006). A partir da fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975, a cidade passa a ser capital do novo estado. Em 1977 o poder público se vê diante da necessidade de elaborar um novo plano, Plano Urbanístico Básico (PUB-Rio), que dividia o território 6 Esta divisão regional visava coordenar as atividades dos estabelecimentos e serviços de natureza local ou distrital, esperando-se com isto uma maior eficiência no atendimento a população, tanto no âmbito dos serviços de educação, saúde, assistência social e recreação, quanto nos serviços do Departamento de Abastecimento da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio. (PCRJ, 2006, p. 1). 62 municipal em seis AP’s que contavam com Unidades Espaciais de Planejamento (UEP’s) e instituía os Projetos de Estruturação Urbana (PEU’s) para o planejamento local, respeitando as características dos diferentes bairros e criava políticas setoriais para o desenvolvimento econômico e social. (PCRJ, 2006; SMU, 2007). Apenas em 1985 observa-se uma estruturação plena da divisão territorial na cidade, com a atualização da estrutura organizacional implantada pela Comissão de Plano da Cidade (COPLAN)7 em 1981, através da criação de mais algumas Regiões Administrativas, alterando-se o número de Áreas de Planejamento (em 1985) para cinco e mantendo o número de bairros de outrora. Deste momento em diante não ocorrem mais alterações no número de AP’s, havendo somente a criação e ou revisão de limites de RA’s e bairros. Cabe ressaltar que no período 1985 a 2006, ocorre a criação de bairros e de RA’s em áreas consideradas de favelas, como a da Rocinha (ANEXO A, p. 173). Atualmente o Rio de Janeiro está dividido administrativamente em 5 Áreas de Planejamento, 33 Regiões Administrativas e 160 bairros (Mapa 1). As AP’s possibilitam um olhar direcionado sobre as diferentes áreas da cidade, agregando, para cada uma destas, resultados envolvendo dados e informações provenientes de pesquisas territoriais, contribuindo na administração das regiões que abarcam. 7 Órgão vinculado à secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente extinto através da Lei Orgânica Municipal promulgada em 5 de Abril de 1990. 63 Mapa 1 - Município do Rio de Janeiro, divisão em bairros e Áreas de Planejamento. 64 3.4 - Área de planejamento 2 Segundo informações do documento balizador do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro (IPP, 2005b), a Área de Planejamento 2 da cidade é formada por 25 bairros (Mapa 2), distribuídos por 6 Regiões Administrativas (sendo estas XXVII – Rocinha, IV – Botafogo, V – Copacabana, VI – Lagoa, VIII – Tijuca, IX – Vila Isabel), ocupando cerca de 8,2% do território municipal, o qual abriga cerca de 17 % da população residente da cidade. Correspondem: • RA da Rocinha – Favela/bairro da Rocinha; • RA de Botafogo – Bairros de Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras e Urca; • RA de Copacabana – Bairros de Copacabana e Leme; • RA da Lagoa – Bairros da Gávea, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, São Conrado e Favela/bairro do Vidigal; • RA da Tijuca – Bairros do Alto da Boa Vista, Praça da Bandeira e Tijuca; • RA de Vila Isabel – Bairros do Andaraí, Grajaú, Maracanã e Vila Isabel. 65 Mapa 2 - Bairros por Regiões Administrativas da AP 2. 66 3.4.1 - Aspectos físico-ambientais Uma das principais características da AP 2 é a sua localização privilegiada. Dada a sua configuração geográfica o seu patrimônio natural é formado por serras (compreendendo o Maciço da Tijuca), mar (com contribuição para a Baía de Guanabara), lagoa e rios. No relevo, repousa uma das características marcantes da AP 2, que tem 52% do território acima da cota 100 (Mapa 3). Dada a localização do maciço, a conseqüência climática, além da atenuação térmica altitudinal e da amenidade devida à proximidade oceânica, é a de se formar um anteparo natural colecionador da umidade, resultando em chuvas orográficas, fortes e demoradas na região. O Maciço da Tijuca é formado por um conjunto de serras e montanhas aonde está instalado, em boa parte de sua área territorial o Parque Nacional da Tijuca8 (Figura 12), no qual se instala a maior floresta urbana do planeta, com muitas espécies da fauna e flora características da Mata Atlântica. No maciço predominam as rochas compostas de gnaisse, com presença eventual de massas graníticas, interrompidas por diques de diabásio que sofreram maior desgaste pelo intemperismo, originando gargantas e vales entre as montanhas. (PCRJ, 2004a; PCRJ, 2004b; SMAC, 2007). 8 O Parque Nacional da Tijuca foi criado em 1961 e compreende uma área de 3.300 hectares na qual se insere a Floresta da Tijuca. Entre os pontos turísticos do Parque, além de trilhas, grutas e cachoeiras, encontram-se marcos famosos da cidade, como a Pedra da Gávea, o Corcovado, e o Pico da Tijuca, ponto mais alto do parque, 1.022 metros acima do nível do mar. Atualmente, é gerido de forma conjunta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 67 Mapa 3 - Caracterização física da AP 2. 68 Figura 12 - Abrangência do Parque Nacional da Tijuca. Fonte: Parque Nacional da Tijuca. In: <http://www.terrabrasil.org.br/pn_tijuca/pnt_3.htm> Os aspectos físico-ambientais da AP 2 podem ser apresentados levando em consideração as duas Regiões do Plano Estratégico: Tijuca e Zona Sul (respectivamente ao norte e ao sul / sudeste do Maciço da Tijuca), ambas de ocupação intensa. A Região da Tijuca é formada pelas bacias dos rios Maracanã (Figura 13), Joana e Trapicheiro, com encostas de alta declividade, que vêm sofrendo há décadas um processo de ocupação desordenada. É composta basicamente de taludes propícios a deslizamentos nas encostas e de áreas planas, de sedimentação e baixa drenagem, sujeitas a enchentes, principalmente nos bairros do Maracanã e Praça da Bandeira. Por outro lado a densa cobertura vegetal do Parque Nacional da Tijuca diminui o escoamento superficial e a conseqüente erosão das encostas e o assoreamento do solo nas partes baixas. (PCRJ, 2004a). 69 Figura 13 - Rio Maracanã a jusante da rua José Higino, Tijuca. Fonte: Raphael Filho. In: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp213.asp> Comprimida entre o Maciço da Tijuca, o Oceano Atlântico e a Baía de Guanabara, a zona Sul caracteriza-se por altas declividades nas encostas sul e sudeste do Maciço da Tijuca e por praias formadas por acumulação de sedimentos marinhos. Os principais rios são o Carioca, dos Macacos, Rainha e Canoas. Devido à sua formação, a região apresenta baixa drenagem e alta densidade hidrográfica, porém em alguns pontos acaba por necessitar uma rede de drenagem urbana eficiente não atendida por uma drenagem natural. (PCRJ, 2004b). A Lagoa Rodrigo de Freitas e sua bacia hidrográfica drena a face sul do Maciço da Tijuca. Essa lagoa apresenta uma ligação com as praias de Ipanema e Leblon através do canal de Jardim de Alah (Figura 14), que periodicamente é obstruído por depósitos de areia impedindo a penetração da água do mar. (PCRJ, 1998; CONCEIÇÃO, 2006). A lagoa, em decorrência do processo de urbanização da zona Sul, perdeu significativa parte de seu espelho d’água e características naturais, através de obras e aterros (Figuras 15 e 16). 70 Figura 14 - Canal do Jardim de Alah, Leblon. Foto do autor, em janeiro de 2006. Figura 15 – Esquema da área aterrada (em cor de laranja) da denominada Lagoa Rodrigo de Freitas desde o início da ocupação na zona Sul da cidade. Fonte: IPP (2007). In: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/eourbana/> 71 Figura 16 - Vista aérea (a partir do Corcovado) da Lagoa Rodrigo de Freitas e entorno. Fonte: Foto do autor, em março de 2007. 3.4.2 - Aspectos humanos e caracterização urbana A AP 2, como um todo, possui um histórico de ocupação urbana não muito diferenciado em seus estratos. Nesta área da cidade a ocupação se iniciou já na segunda metade do século XIX, com a implementação do sistema de bondes e expansão da área central do Rio de Janeiro. (ABREU, 1997). De origem rural, a região da Grande Tijuca conheceu o processo de urbanização a partir do início do século XX. A partir dos anos 30 e 40 a Tijuca começa a ser ocupada por uma classe média com valores tradicionais e conservadores, destacando-se dos demais bairros da Zona Norte por seu passado aristocrático. A Região tem um grande valor histórico por seu pioneirismo em inúmeros aspectos ligados ao desenvolvimento urbano e cultural da cidade. (PCRJ, 2004a). Em relação à região da zona Sul, a partir da década de 1940 (século XX) observou-se uma ocupação mais acelerada e densificação das áreas planas através da verticalização, criando uma grande área residencial da cidade das classes média e alta. E, tendo em vista a total urbanização de seus bairros entre as décadas de 1940-1950 inicia-se, a partir de 1945, e mais intensamente na década de 1960, o processo de verticalização. Com a ocupação acelerada de Copacabana e, posteriormente, de Ipanema e Leblon, a disponibilidade de áreas 72 edificáveis diminuía, tornando assim a verticalização um imperativo para o capital incorporador. (PCRJ, 2004b). Logo, a zona Sul da cidade, comprimida entre o maciço da Tijuca e o oceano, apresentaria uma imensa densidade populacional, especialmente, à beiramar. (CONCEIÇÃO, 2006). Desde sua origem, os bairros da zona Sul, foram ocupados pelos segmentos das então emergentes camadas médias, que buscavam tranqüilidade e refúgio, evidenciando um processo de segregação. Nesta AP também se localizam os grandes pontos turísticos da cidade, além de uma ampla gama de serviços e comércio especializado (Quadro 3). Os bairros desta AP 2 estão entre os de maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade, um indicador municipal para avaliação da qualidade de vida nos diferentes bairros considerando parâmetros como renda, escolaridade e longevidade, segundo o IPP (2007). Estes dados evidenciam o alto grau de desenvolvimento sócio-econômico da região. Porém a AP 2 pode ser considerada a área da cidade onde se observam as disparidades sociais mais claramente, através dos enclaves das favelas (Figuras 17 e 18) nas áreas valorizadas litorâneas e circunvizinhas ao Maciço da Tijuca. A partir da identificação de tal quadro, dada a caracterização física, ocupação acentuada e desigualdade social no espaço, diversos problemas urbano-ambientais podem ser apontados, com a observância de que muitos destes problemas são de ordem exclusivamente social, e outros de ordem social agregando o fator físico-ambiental (Quadro 4). Figura 17 - Vista parcial da zona Sul da cidade: áreas litorâneas valorizadas convivendo com a enclave social das ocupações irregulares. Fonte: Lemos (2006, p. 16). 73 Figura 18 - Vista aérea do bairro da Tijuca (destaque para a favelização na vertente do Maciço da Tijuca). Fonte: Daniel Carneiro. In: <http://www.almacarioca.com.br/tijuca2.htm> * Cidade “formal” ** Cidade “informal” * Principal referência da imagem da Cidade em nível nacional e internacional, abrigando os principais pontos turísticos da cidade. * Proximidade com o Centro da Cidade e a Barra da Tijuca. * Áreas, equipamentos, edificações e instituições de referência para a cidade, alguns se impondo como centralidades: Maracanã; Centros de comércio dos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, Tijuca e Catete; Shoppings Centers; Cinemas, teatros, casas de espetáculos; Restaurantes; Campus Universitário da UFRJ, UERJ e de universidades particulares, como PUC, Santa Úrsula e Bennett; Jóquei Clube; Jardim Botânico; Estações Metroviárias; Clubes de Futebol: Flamengo, Fluminense e Botafogo; Hospitais: Miguel Couto, Rocha Maia, Pedro Ernesto, Lagoa e Hospitais Particulares; além de sedes de governo como o Palácio Guanabara e Palácio da Cidade. ** Grandes complexos de Áreas de Fragilidade Urbana: Rocinha, Vidigal, Santa Marta, Pavão-Pavãozinho, Chapéu Mangueira, Tabajaras, Borel, Macacos, entre outros. * Malha viária estruturadora dos eixos Norte-Sul-Centro da Cidade e Barra da Tijuca. * Estilo de vida característico das grandes metrópoles: oferta de todos os serviços, áreas de lazer, cultura e turismo, vida noturna intensa, grande circulação de veículos e pessoas, estrutura social complexa. Quadro 3 - Relação dos principais elementos estruturadores da AP 2. Fonte: Adaptado de IPP (2005b). 74 PROBLEMAS URBANO-AMBIENTAIS Ordem social Sistema viário saturado; Existência de áreas críticas de segurança, relacionadas aos corredores próximos aos complexos e às grandes favelas; Degradação e esvaziamento de alguns bairros em virtude da proximidade das favelas. Ordem sócio-ambiental Ocupação irregular nas encostas; Sistema de drenagem incompatível com o adensamento, resultando em enchentes durante o período de chuvas; Rede de esgotamento sanitário em estado obsoleto; Praias e Lagoa sujeitas à poluição. Quadro 4 - Relação dos principais problemas da AP 2. Fonte: Adaptado de IPP (2005b). 3.5 - Área de planejamento 5 A Área de Planejamento 5 é formada por 20 bairros (Mapa 4) e 5 Regiões Administrativas (sendo estas XVII – Bangu, XVIII – Campo Grande, XIX – Santa Cruz, XXVI – Guaratiba, XXXIII – Realengo), localizadas na zona Oeste do município. Corresponde a 48,4% do território do Município e abriga cerca de 26,6% da população carioca. (IPP, 2005b). Correspondem: • RA de Bangu – Bairros de Bangu, Padre Miguel e Senador Câmara; • RA de Campo Grande – Bairros de Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos; • RA de Santa Cruz – Bairros de Paciência, Santa Cruz e Sepetiba; • RA de Guaratiba – Bairros de Barra de Guaratiba, Guaratiba e Pedra de Guaratiba; • RA de Realengo – Bairros de Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar. 75 Mapa 4 - Bairros por Regiões Administrativas da AP 5. 76 3.5.1 - Aspectos físico-ambientais O território da AP 5 apresenta grande parte de seu terreno composto de áreas planas (Mapa 5), integrando como principais compartimentadores físicos o Maciço do GericinóMendanha (ao norte), os Rios Guandu Mirim e Itaguaí, o Maciço da Pedra Branca (limite leste da AP) e a Baía de Sepetiba. (IPP, 2005b). A configuração geográfica dessa Área de Planejamento possui características próprias, onde são notados em seu terreno serras, planícies e descampados. Esta característica se acentua ainda mais quando se aproxima do litoral, ao extremo oeste, limitando-se com a Baía de Sepetiba, com o adensamento de rios e canais, que aí vão desaguar e a presença de vegetação de pequeno porte, principalmente os manguezais na orla da baía. Essa área está encravada em um grande vale que tem como contrafortes a Serra do Gericinó-Mendanha, que separa o Município do Rio de Janeiro da Baixada Fluminense e, do outro lado, o Maciço da Pedra Branca dividindo a cidade. O Maciço do Gericinó-Mendanha abrange as serras de Madureira, Marapicu, Gericinó e Mendanha e localiza-se na região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Mesquita. Localizado em Campo Grande e Bangu em sua porção carioca (Figura 19), o Maciço do Gericinó-Mendanha é o último reduto de trechos da Mata Atlântica primária do município (a Floresta do Mendanha), e é caracterizado por ser um local de nascentes de rios de água cristalina. 77 Mapa 5 - Caracterização física da AP 5. 78 Figura 19 - Em primeiro plano a vertente norte do Gericinó Mendanha e ao fundo a da Pedra Branca, de frente para a zona Oeste encaixada no vale. Fonte: Alfredo Sirkis. In: < http://www2.sirkis.com.br> O Maciço da Pedra Branca está localizado entre a região da Baixada de Jacarepaguá e o restante da zona Oeste. A AP 5 abarca as vertentes norte-noroeste, oeste e sul-sudoeste do maciço. A vertente norte do Maciço da Pedra Branca configura uma área mais seca, com menos cobertura vegetal (Figura 20), e mais densamente ocupada que a sul. As vertentes sul e oeste apresentam degradação do solo provocadas por cultivos (Figura 21) e queimadas. (COSTA, 2006). Caracterizado por terrenos pré-cambrianos, representados principalmente por um complexo granítico-migmático, além de recobrimentos sedimentares, apresenta feições morfológicas típicas de planície costeira, com presença de morros arredondados. (SMAC, 2007). A região do maciço é protegida desde 1974, quando foi criado o Parque Estadual Maciço da Pedra Branca9 (Figura 22). 9 O Parque Estadual da Pedra Branca possui cerca de 12.500 hectares de área coberta por vegetação típica da Floresta Atlântica (acima da cota 50). Apesar de ser um local protegido, o maciço sofreu com invasões, poluição, erosão e outras conseqüências da falta de atenção com a região. Este quadro começou a se modificar em 1988, quando autoridades municipais se mobilizaram para criar a Área de Proteção Ambiental (APA) da Pedra Branca. 79 Figura 20 - Vertente norte do Maciço da Pedra Branca – Morro do Viegas, Campo Grande. Fonte: Costa (2004). Figura 21 - Vertente oeste do Maciço da Pedra Branca – cultivo de bananas em meio à floresta na Serra do Rio da Prata. Fonte: Costa (2004). Figura 22 - Parque Estadual da Pedra Branca. Fonte: Fundação Instituto Estadual de Florestas. In: http://www.ief.rj.gov.br/unidades/parques/PEPB/conteudo.htm 80 Em relação à drenagem, a área nordeste da AP 5 (englobando a Região do Plano Estratégico correspondente a Bangu) é composta pelas bacias dos rios Sarapuí e Marangá, sendo a primeira formada por afluentes da encosta leste do Maciço do Gericinó e da encosta norte do Maciço da Pedra Branca. A segunda, a bacia do Rio Marangá, afluente do Acari, é formada por afluentes da encosta norte do Maciço da Pedra Branca. Ambos os rios Sarapuí e Acari são afluentes do Rio Pavuna. Essa região compreende uma área de sedimentação, na qual o controle do assoreamento dos rios Pavuna e Acari deve ser uma constante. (PCRJ, 2004c). Ao sul da AP 5, uma segunda área é formada pelos afluentes da Baía de Sepetiba, ao sul do Maciço da Pedra Branca. Os rios Cabuçu e Piraquê drenam a região entre o Maciço da Pedra Branca e a Serra de Inhoaíba. Os rios Portinho e Piracão nascem na vertente sul do Maciço, e o Rio do Ponto nasce na vertente sudoeste da Serra de Inhoaíba. Esta área, situada predominantemente na Baixada de Guaratiba, possui boa drenagem, apesar de sua baixa altitude e estar sujeita a maior precipitação pluviométrica, em função da pouca distância entre o Maciço e a Baía de Sepetiba. O processo de erosão do Maciço da Pedra Branca e a formação da Restinga de Marambaia provocaram o acúmulo de sedimentos na desembocadura dos rios, resultando na formação dos mangues, um ecossistema frágil e facilmente degradável. Observa-se ainda uma outra área, geomorfologicamente distinta das demais, formada pelos canais afluentes da Baía de Sepetiba, da Baixada de Santa Cruz, ao extremo leste da AP 5. Esta extensa área com pouca variação altimétrica levou os jesuítas, seus primeiros colonizadores, a construírem diversos canais de drenagem, que afluem para a Baía. Alguns deles são independentes dos principais rios (Cação Vermelho e Guandu), seguindo diretamente para a Baía, como os canais do Guandu, Itá e São Francisco. A manutenção dessa rede de drenagem é importante para a agricultura da região e minimiza o problema das enchentes, aumentando a drenagem de áreas permanentemente alagadas. (PCRJ, 2004d). A Baía de Sepetiba, localizada no litoral sul-fluminense, banha duas das regiões administrativas da AP 5: a RA de Santa Cruz e a RA de Guaratiba. Nela se situam a Restinga de Marambaia, seu limite com o Oceano Atlântico (Figura 23), além de ilhas como a Ilha de Marambaia e a de Itacuruçá, assim como os refúgios de vida da vegetação litorânea, como os manguezais (Figura 24). Atualmente esta baía sofre uma grande pressão das atividades antrópicas. (SEDECT, 2007 – Figura 25). 81 Figura 23 - Vista panorâmica da Restinga de Marambaia e Baía de Sepetiba. Fonte: <http://www.pointdegrumari.com.br/restaurante.htm>. Figura 24 - Surgimento de vegetação de mangue na orla de Sepetiba. Ao fundo, a baía. Fonte: Foto do autor, 2007. Figura 25 - Visão aérea do bairro de Sepetiba, com enfoque para o canal que deságua na baía. Fonte: Rio-Águas - Secretaria Municipal de Obras (2007). 82 3.5.2 - Aspectos humanos e caracterização urbana Nos primórdios de ocupação da AP 5 os aspectos rurais foram determinantes. Inicialmente, o processo de urbanização da chamada zona Oeste revelou-se no entorno das fazendas, sempre ligado à construção de capelas e igrejas, como ocorria no Brasil colonial. Em um segundo momento, a partir do século XIX, um primeiro núcleo (compreendendo a Região de Campo Grande) foi favorecido pela implantação da estação ferroviária. A partir de então, aliado ao setor de produção de gêneros agrícolas, as indústrias artesanais fomentaram o dinamismo da área em potencial expansão. No período de pós-guerra até 1960, a expansão da industrialização na zona Oeste, intensificou os problemas ligados à poluição do ar e das águas nas áreas urbanas, os quais foram agravados pelo rápido processo de urbanização. (COSTA, 2002). Sua ocupação passou a ser mais acelerada em finais da do século XX, observando na atualidade um vertiginoso processo de expansão em quase toda a sua extensão. Desde então, o povoamento tem ocorrido em função do crescimento dos anéis suburbanos em torno da metrópole do Rio de Janeiro, intercalando manchas densamente ocupadas, com um processo de urbanização diluído, em meio a projetos imobiliários à espera de valorização. (COSTA, 2002). A zona Oeste é reconhecida como um subúrbio distante, área de poucos e concentrados investimentos do poder público. A AP 5 é considerada como uma área de expansão urbana, concentrando os núcleos habitacionais de média e baixa renda, indústrias e atividade rural. De acordo com Costa (2002) a cidade do Rio de Janeiro, nos últimos anos, tem apresentado sua expansão populacional em direção à zona Oeste (podendo ser considerada como uma frente de expansão metropolitana), na qual o aumento das construções em conjuntos habitacionais (Figura 26) e de imóveis irregulares é bastante alto, estimulando um maior crescimento em direção a essas antigas áreas rurais do Rio de Janeiro. 83 Figura 26 – Conjunto habitacional Nova Sepetiba na zona Oeste. Fonte: Foto do autor, 2007. A AP 5 conta com regiões classificadas como de médio-alto desenvolvimento humano segundo o IDH, ocupando as últimas posições quando consideradas as 12 regiões do Plano Estratégico, resultando na porção da cidade de menor desenvolvimento humano. (PCRJ, 2004c; PCRJ, 2004d). Para esta AP pode ser constatada uma certa homogeneidade social, onde as desigualdades não são tão facilmente perceptíveis no conjunto espacial. A AP 5 possui importantes subcentros comerciais influenciando a metrópole. O bairro de Campo Grande, por exemplo, conta com uma eficaz infra-estrutura comercial e de serviços em sua área central, irradiando fluxos e garantindo o desenvolvimento na região, bem como, através da expansão na AP, outros subcentros estão surgindo. A ocupação passa a ser orientada pela especulação no uso do solo nas áreas dotadas de infra-estrutura, próximas aos subcentros. Não obstante, essas áreas “prósperas” concentram a implantação de políticas públicas, tendo como exemplo, diversas intervenções urbanísticas nos últimos anos. Porém, deve-se ressaltar que, a explosão do crescimento populacional em quase toda a extensão da AP 5 relaciona-se a uma ocupação desordenada, reforçando a proximidade territorial entre a cidade informal e a cidade formal (Quadro 5). Em decorrência da acelerada expansão, 84 diversos problemas urbano-ambientais de ordem social e de interação com o ambiente podem ser apresentados (Quadro 6). É crescente a urbanização em direção à orla da Baía de Sepetiba, fruto dos interesses imobiliários e da prática turística nos bairros de Guaratiba e Barra de Guaratiba, principalmente (Figura 27). Figura 27 - Orla urbanizada do Bairro de Barra de Guaratiba. Fonte: ANASPS. In: <http://rj.anasps.org.br/praia1.htm>. * Cidade “formal” ** Cidade “informal” * Proximidade com a Região Metropolitana – ligação com os municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Angra dos Reis através de Santa Cruz; com os municípios de Seropédica e Nova Iguaçu, através de Campo Grande. * Eixos viários estruturadores com o Município e com a Região Metropolitana - Av Brasil, BR 101 , Av. das Américas e Estrada Rio/São Paulo. * Estrada de Ferro – ramal de cargas e passageiros – ligação com a Baixada Fluminense através de Deodoro, além de estações ferroviárias. * Principais corredores de transporte de massa – Av. Brasil e rede ferroviária. * Distritos Industriais de Santa Cruz, Palmares e Campo Grande e Zonas Industriais. * Áreas militares em Deodoro, Realengo, Vila militar, Santa Cruz e Guaratiba, destacando-se em Guaratiba o Centro Tecnológico do Exército e a Restinga de Marambaia, em Santa Cruz a Base Aérea. * Distritos Industriais de Santa Cruz, Palmares e Campo Grande e Zonas Industriais. * Centros de comércio dos bairros de Campo Grande e Bangu. 85 * Presença de núcleos pesqueiros em Guaratiba e Sepetiba. * Áreas de cultivo agrícola, em especial na região de Santa Cruz, onde se situa a colônia agrícola, nas regiões do Mendanha e Rio da Prata em Campo Grande e na região de Guaratiba com expressiva produção de plantas ornamentais. ** Grande número de favelas, loteamentos clandestinos, e conjuntos habitacionais. * Orla marítima parcialmente ocupada por usos institucionais, tais como o Centro Tecnológico do Exército, a FIPERJ e a Embratel em Guaratiba; a Base Aérea em Santa Cruz. * Restaurantes típicos em Barra de Guaratiba. * Hospitais: Rocha Faria e Pedro II. * Complexo Penitenciário de Bangu. Quadro 5 - Relação dos principais elementos estruturadores da AP 5. Fonte: Adaptado de IPP (2005b). PROBLEMAS URBANO-AMBIENTAIS Ordem social Precariedade do sistema de transporte; Precariedade de equipamentos públicos de saúde e educação; Deficiência de equipamentos de cultura e lazer; Incidência significativa de invasões de terras públicas e privadas; Ordem sócio-ambiental Carência de espaços verdes e arborização pública escassa, com efeitos sobre o microclima; Precariedade de saneamento básico - não existindo um sistema separador absoluto; Precariedade de abastecimento de água em várias regiões; Ocupação descontrolada de áreas frágeis de baixada – manguezais e faixas marginais de rios de canais; Aumento progressivo da ocupação das encostas; Expansão das ocupações irregulares: favelas, loteamentos irregulares e clandestinos; Presença de conjuntos habitacionais Alto nível de poluição da baía de Sepetiba desarticulados da malha urbana; devido à ausência de saneamento e poluição industrial; Quadro 6 - Relação dos principais problemas da AP 5. Fonte: Adaptado de IPP (2005b). 86 4 – MATERIAIS E MÉTODO 4.1 - Levantamento de dados e informações O levantamento bibliográfico abrangeu a análise de publicações em geral, em sítios de busca (privilegiando sites de cunho acadêmico, como o Portal de Periódicos da Capes, entre outros); bibliotecas de instituições de ensino e pesquisa: biblioteca de geociências da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), biblioteca de pós-graduação em geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), biblioteca do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ); além de pesquisa junto às secretarias e aos órgãos Municipais: SMAC, SMU e IPP; Fundações Estaduais: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (Fundação CIDE), Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA); e órgãos Federais: IBGE e MMA. O levantamento priorizou a busca por materiais versando sobre o Projeto GEO Cidades, Gerenciamento Costeiro (com ênfase no Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro e Planos de Intervenção na Orla Marítima), Plano Diretor, Planejamento e Gestão Ambiental, Geoprocessamento (aplicado ao tratamento de dados demográficos e ambientais), Interoperabilidade em SIG’s, Geografia e meio ambiente (sustentabilidade urbana, pressão antrópica, estado do meio ambiente, impactos), entre outros. Deve-se destacar que, dentre os atores governamentais competentes, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através de suas secretarias e órgãos vinculados, garante a disponibilidade de um grande acervo de dados e informações sobre a cidade, de fácil acesso a pesquisadores e população instruída. Além de dados brutos e informações a partir destes, também é oferecida uma valiosa coleção de estudos sobre os mais diversos temas, auxiliando no conhecimento e entendimento sobre diversas áreas do município e dinâmicas vigentes no espaço geográfico. Convém ressaltar a importância da disponibilização deste material na rede de computadores (internet) a partir do portal da prefeitura (<www.armazemdedados.rio.rj.gov.br>). 87 4.2 - Seleção de indicadores urbano-ambientais De acordo com o levantamento do “estado da arte” em relação à utilização de modelos sistêmicos de avaliação urbano ambiental do meio, bem como, aos indicadores ambientais adotados e avaliados pelos Programas de Desenvolvimento e Órgãos de Pesquisa e Administrativos, optou-se por uma pré-seleção de indicadores potencialmente designados a uma eficaz avaliação das AP’s da cidade do Rio de Janeiro, com ênfase para a dinâmica de ocupação do território e uso do solo em áreas ambientais frágeis. Nesse sentido, a questão condutora para tal ação é: Quais indicadores seriam mais apropriados a uma avaliação ambiental do meio urbano na zona costeira? Convencionou-se então organizar quadros de indicadores de pressão, estado, impacto e resposta (Quadros 7 a 10), destacando a dinâmica (grupo ou tema) à qual estão vinculados, assim como a fonte do indicador e os produtos esperados a partir de sua mensuração. Buscou-se, para tal, acompanhar a metodologia de organização proposta para os indicadores ambientais da cidade do Rio de Janeiro materializada através do Informe GEO do Rio de Janeiro. (CRESPO e LA ROVERE, 2002). Os atores governamentais, em nível municipal, têm adotado matrizes de indicadores quando da geração de produtos, os quais também consideram o recorte de AP’s. (IPP, 2005a). INDICADORES URBANO – AMBIENTAIS PRESSÃO INDICADOR Crescimento Populacional Mudança do solo urbano para não urbano Redução da cobertura vegetal Evolução da ocupação urbana em áreas vulneráveis DINÂMICA Demográfica Ocupação do território; Uso do solo Ocupação do território; Uso do solo Ocupação do território; Uso do solo FONTE Consórcio Parceria 21; Informe GEO São Paulo Consórcio Parceria 21; IPP Consórcio Parceria 21; IPP Informe GEO Rio de Janeiro PRODUTO ASSOCIADO Análise dos dados de censos demográfico Levantamentos de uso do solo em períodos distintos Levantamentos de uso do solo em períodos distintos Levantamentos de uso do solo em períodos distintos; caracterização sócioespacial 88 Evolução da área urbana em encostas Ocupação do território; Uso do solo IPP População nas Unidades de Conservação – UC’s Demográfica; Ocupação do território; IPP Levantamentos de uso do solo em períodos distintos; Mapeamento físico Dados do censo demográfico; Levantamento espacial de UC’s Quadro 7 - Indicadores de Pressão. INDICADORES URBANO – AMBIENTAIS INDICADOR Percentual de cobertura vegetal ESTADO Nível de urbanização PRODUTO DINÂMICA FONTE Ocupação do território; Uso do solo; Caracterização ambiental Ocupação do território; Caracterização ambiental Consórcio Parceria 21; Informe GEO São Paulo; Informe GEO Rio de Janeiro Levantamento de uso do solo IPP Levantamentos de uso do solo em períodos distintos Qualidade ambiental das terras Caracterização ambiental IPP Qualidade das águas (corpos d’água) Produção e gestão de resíduos sólidos; Caracterização ambiental IPP; Informe GEO Rio de Janeiro ASSOCIADO Levantamento de informações ambientais Levantamento de informações ambientais, demográficas e industriais Quadro 8 - Indicadores de Estado. INDICADORES URBANO – AMBIENTAIS IMPACTO INDICADOR DINÂMICA FONTE População residente em áreas de vulnerabilidade urbana Ocupação do território; Qualidade de vida Consórcio Parceria 21; Informe GEO São Paulo PRODUTO ASSOCIADO Cruzamento de informações de uso do solo e dados demográficos 89 Incidência de inundações e/ou desmoronamentos Perda de amenidades ambientais Danos aos ecossistemas Ocupação do território Ocupação do território; Uso do solo Ocupação do território; Uso do solo; Caracterização ambiental Desequilíbrios nos corpos d’água Ocupação do território; Alteração de microclima Ocupação do território; Uso do solo Informe GEO Rio de Janeiro; Informe GEO São Paulo; Consórcio Parceria 21 Levantamento de informações ambientais e notícias MMA – GEO Brasil Levantamento de informações ambientais; Levantamentos de uso do solo em períodos distintos MMA – GEO Brasil Levantamento de informações ambientais sobre ecossistemas Informe GEO Rio de Janeiro; Informe GEO Rio de Janeiro; Informe GEO São Paulo Levantamento de informações ambientais e notícias Levantamento de informações ambientais; Levantamentos de uso do solo Quadro 9 - Indicadores de Impacto. INDICADORES URBANO – AMBIENTAIS RESPOSTA INDICADOR Plano Diretor Urbano Presença de atividades de Agenda 21 Local Projetos de Reflorestamento DINÂMICA Ocupação do território; Instrumentos Político Administrativos Ocupação do território; Instrumentos Político Administrativos Ocupação do território; Uso do solo; Ações do Poder Público FONTE Consórcio Parceria 21; Informe GEO São Paulo Consórcio Parceria 21; Informe GEO São Paulo Informe GEO Rio de Janeiro; IPP PRODUTO ASSOCIADO Análise de política urbana Levantamento de unidades administrativas com projetos em andamento Levantamentos de uso do solo em períodos distintos; Levantamento e análise de projetos 90 Despesas com Meio Ambiente Áreas protegidas como Unidades de Conservação Ocupação do território; Caracterização ambiental; Ações do Poder Público Ocupação do território; Uso do solo; Ações do Poder Público IPP Levantamento de despesas relacionadas às ações ambientais IPP Levantamento espacial de UC’s; Análise da legislação vigente Quadro 10 - Indicadores de Resposta. A partir da estruturação e observação da carta de indicadores urbano-ambientais para AP’s da cidade do Rio de Janeiro, propõe-se um ciclo geral integrado para cada AP em estudo, em medida de avaliação e exemplificação, envolvendo um ou mais indicadores citados. A metodologia GEO confere certa autonomia na proposição de novos indicadores. Nesta pesquisa, porém, optou-se pela adaptação de indicadores reconhecidos em aplicações de modelos nos assentamentos urbanos em países subdesenvolvidos. A adaptação consiste na agregação de novas variáveis, ou até mesmo na fundição de indicadores. Por se constituírem grandes unidades territoriais distintas, as AP’s 2 e 5 não necessariamente compartilham dos mesmos indicadores em seus ciclos, o que não impede uma comparação e avaliação da aplicação da metodologia GEO Cidades em nível de AP’s. A matriz PEIR proposta para avaliação da AP 2 envolve a Pressão: evolução da ocupação urbana em áreas valorizadas e em encostas; o Estado: percentual de áreas naturais e artificializadas; os Impactos: conseqüências da compressão e saturação do espaço urbano; a Resposta: despesas com o meio ambiente. Para a AP 5 a matriz envolve a Pressão: evolução da ocupação urbana em áreas vulneráveis; o Estado: percentual de áreas naturais e artificializadas; os Impactos: conseqüências da expansão e falta de infra-estrutura urbana; a Resposta: legislação do uso do solo e ordenamento territorial. 91 4.3 - Estruturação da base e banco de dados A modelagem e estruturação da base e do banco de dados da cidade do Rio de Janeiro (AP’s 2 e 5), compreendeu a utilização e suporte dos programas Arcview (versão 9.0), do Sistema de Análise Geo-Ambiental (Vista-SAGA 2007) e do Sistema de Vigilância e Controle (Vicon-SAGA versão de 2007), resultando em produtos tais como distintos mapas temáticos, cartogramas e relatórios de assinaturas, contribuindo para a caracterização do ciclo PEIR das AP’s, bem como um protótipo de banco de dados da orla. Alguns dos materiais utilizados na estruturação da base e banco de dados das AP’s correspondem aos arquivos digitais de bases de dados georreferenciadas, disponibilizadas pelos órgãos competentes quando da disseminação de tais produtos. O Arcview, criado pela empresa americana ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.), constitui-se num programa gerenciador de informações geográficas, com um conjunto de ferramentas para visualizar, explorar, pesquisar, editar e analisar informações associadas a posições geográficas. Os sistemas dessa natureza envolvem a captura (a entrada), o processamento, a exibição e a análise de dados georreferenciados, bem como a produção de informações a partir desses dados. (NEPGEO, 2007). Todas as bases de informações utilizadas nesta pesquisa foram adquiridas10 no formato vetor shape (*shp) do Arcview, e editadas no programa Arcview 9.0, sendo utilizadas as ferramentas de Geoprocessing Wizard para o recorte das unidades territoriais (neste caso, as AP’s) desagregando-as do município, e recorte dos registros de ocorrências associados às unidades em questão; e Start Editing Table e Calculate para o tratamento dos dados demográficos na tabela vinculada ao mapa. Parte dos dados utilizados nesta pesquisa, referem-se às variáveis do censo demográfico do IBGE (1991 e 2000), disponibilizadas em quatro grupos de tabelas (domicílios, pessoas, responsáveis e instrução) vinculadas a correspondentes bases georreferenciadas do município do Rio de Janeiro através da malha de setores censitários. O IBGE cumpre as suas funções, elaborando censos demográficos e econômicos (a cada 10 anos), além de outras pesquisas de fundamental relevância para a sociedade. Os dados espacializados são disponíveis desde a concepção geral da nação até os microdados 10 Bases pertencentes ao NEPGEO - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento do Departamento de Geografia / IGEO / UERJ, adquiridas junto aos órgãos IPP (disponibilizados em sua página) e IBGE (via CD). 92 referentes aos setores censitários. (CONCEIÇÃO e DORNELLES, 2006). Egler (2002) indica a possibilidade de incorporar informações do Censo 2000, disponíveis em nível de bairro (e setor censitário), como um elemento importante para o conhecimento da zona costeira, permitindo assim, grupamentos mais expressivos no que diz respeito à gestão do território. Objetivando a caracterização da ocupação do território, foram espacializadas as variáveis relacionadas a indicadores de caracterização da área de estudo, que podem balizar outros indicadores (universais): Densidade demográfica – indicador elaborado através da variável “pessoas residentes”. Razão entre o número populacional e a área; Renda dos responsáveis por domicílio – indicador calculado através da variável “soma de salários mínimos dos responsáveis por domicílio” em razão da variável “total de responsáveis”. Crescimento populacional – indicador calculado através das variáveis de pessoas residentes em dois recortes temporais (1991 e 2000). Para a caracterização ambiental, os dados utilizados referem-se, basicamente, aos levantamentos de uso do solo em dois períodos distintos (1992 e 2001) disponibilizados pelo IPP. As informações espacializadas estão baseadas no mapeamento e caracterização do uso das terras e cobertura vegetal (Quadro 11) do município promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (PCRJ, 2000). CLASSES NATURAIS Floresta – Floresta ambrófila densa – Mata Atlântica, pouco ou não alterada. Pode também representar uma floresta secundária tardia. Floresta Alterada – Inclui diversas fitofisionomias associadas à alteração das florestas nativas, como raleamento por corte seletivo ou pequenas áreas desmatamento, além de fases sucessionais que seguem a supressão total ou parcial da floresta nativa. Mangue – Inclui várias fisionomias de mangue. Ecossistema estuarino com vegetação adaptada à alta concentração de sal e à mobilidade e pouca oxigenação do solo, que fica alagado durante as marés mais altas. CLASSES ARTIFICIALIZADAS Área Urbana urbanizadas. – Áreas densamente Urbano Não Consolidado – Inclui áreas com ocupação humana esparsa, seja por estarem em processo de ocupação ou por serem áreas onde incidem limitações físicas ou legais para o processo de ocupação urbana. Parques – Considera a vegetação em Parques Públicos. Campo Antrópico – Áreas de origem Apicum – Inclui as áreas de mangue não antrópica em sua quase totalidade. Ocorre cobertas por vegetação, sendo parte principalmente em áreas marginais aos integrante dos ecossistemas de manguezal. maciços constituindo regiões de transição entre áreas urbanas e ocupadas por florestas. 93 Restinga – Inclui os remanescentes de restinga, formações vegetais que colonizam as areias litorâneas. Área Úmida – Inclui áreas com vegetação sobre locais de solos permanentemente encharcados ou sujeitos à inundação Águas Interiores – Inclui as lagoas, rios, córregos e canais, além de áreas estuarinas. Praia – Inclui faixas de sedimento na orla. Afloramento Rochoso – Inclui os afloramentos de rocha de origem natural e costões rochosos. Cultura e Pastagem – Inclui áreas de no mínimo 4 há onde se identificou o uso agropastoril. Solo Exposto – Inclui áreas de solo exposto, seja por ocorrência de terraplanagem, deslizamentos ou outras causas. Quadro 11 - Resumo das classes do uso das terras e cobertura vegetal do Rio de Janeiro. Fonte: Adaptado de PCRJ (2000). O Sistema de Análise Geo-Ambiental, desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LAGEOP/UFRJ), coordenado pelo Professor Jorge Xavier da Silva, é uma versão desenvolvida no sistema operacional Windows (podendo ser obtida, gratuitamente, no endereço <http://www.lageop.igeo.ufrj.br/downloads.php>, necessitando de login para download). O programa possui funcionalidade para a criação de mapas raster e georreferenciamento. Para a estruturação de arquivos raster com base na interoperabilidade possível entre os programas Arcview e Vista-SAGA, foram realizados os seguintes passos: visualização dos arquivos no formato vetorial shape do Arcview 9.0; exportação de feições no formato de figura (*tiff); importação da figura no Vista-SAGA através do módulo componente CRIAR; georreferenciamento da imagem, via pontos de controle do Arcview; processo de rasterização, através do reconhecimento automático das cores da figura; nomeação das classes atribuídas às cores do mapa raster (APÊNDICE A, p. 159). O processo fora realizado para as bases de uso do solo vinculadas aos dois períodos distintos (neste caso as feições de uso do solo de 1992 e 2001), bem como para a base de bairros das AP’s 2 e 5. Conforme estudo já realizado por Moura (2003), o processo de estampar os vetores na base matricial passa pela definição dos índices das cores que serão utilizadas no raster. Há o recurso de atribuir a cada cor identificada no desenho vetorial um índice (das cores indexadas) no desenho matricial final. O Vicon-SAGA consiste num sistema de monitoramento ambiental que se destina, essencialmente, ao armazenamento, atualização e exibição de dados. (LAGEOP, 2005). O programa permite a visualização de bases de dados georreferenciadas, podendo a estas 94 conferir registros de ocorrências e a criação de atributos através de campos e inserção de informações. A alimentação do banco de dados permite a geração de relatórios, bem como consultas visuais. Para a criação de pontos de monitoramento junto ao Vicon-SAGA, recorreu-se a pesquisa de campo. Com o levantamento prévio de informações sobre cada bairro a ser visitado e sua orla associada (focando principalmente os indicadores de impacto e resposta propostos e avaliados), e obtenção de materiais orientadores (croquis de localização), pôde-se percorrer então, os trajetos propostos (Figuras 28 e 29) e visualizar e materializar informações e ilustrações representativas em potencial do ciclo PEIR proposto para as AP’s 2 e 5 tendo como enfoque a orla marítima. Os bairros selecionados, um para cada AP, foram os do Leblon (AP 2) e Sepetiba (AP 5). A justificativa para escolha de tais bairros pautou-se na prédisponibilidade de relatórios e materiais específicos para cada bairro e orlas (CONCEIÇÃO et al, 2003; CONCEIÇÃO, 2006), além de contemplarem áreas de tipologias diferenciadas segundo os principais aspectos envolvendo as fichas de caracterização da orla para os Planos de Intervenção (DORNELLES. 2005), os quais subsidiaram a modelagem do banco de dados no Vicon-SAGA. Figura 28 – Roteiro de campo na praia do Leblon para escolha de ponto a ser monitorado no Vicon-SAGA. Fonte: Planta Digital do Leblon - Folha 287E (<http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/>) / Imagem Google Earth. 95 Figura 29 – Roteiro de campo na praia de Sepetiba para escolha de ponto a ser monitorado no Vicon-SAGA. Fonte: Planta Digital de Sepetiba - Folha 283E (<http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/>) / Imagem Google Earth. Através de interoperabilidade direta entre os programas Vista-SAGA e ViconSAGA11, foram indicados pontos selecionados na base raster visualizada na tela do programa (utilizaram-se as bases de uso do solo de 2001 e de bairros das AP’s 2 e 5), sendo estes plotados como registros. Foram indicadas duas formas de registro, uma para cada base. Para a base de uso do solo, criaram-se pontos (tendo como referência a localização das plantas referentes às áreas e imagens do google earth), através da seleção do modo “desenhar” e utilização da ferramenta “polígono preenchido” (Figura 30), a partir dos quais foram declaradas as ocorrências (entidade) e especificado um formulário associado a elas denominado “Caracterização da orla” (Figura 31), com a criação, inclusive, de atributos (comuns aos dois pontos da orla – Canal do Jardim de Alah no Leblon e Pier de Sepetiba). 11 O Programa Vicon-SAGA somente reconhece o formato de arquivo raster (*rs2) especificamente gerado pelo VistaSAGA. 96 Figura 30 - Tela do programa Vicon-SAGA, processo de declaração de registro - ponto. Figura 31 - Tela do programa Vicon-SAGA, processo de criação de formulário para o ponto e tributação. Para a base raster de bairros, foram selecionados os bairros do Leblon junto à base da AP 2 e de Sepetiba, junto à base da AP 5, através da seleção do modo “desenhar” e utilização da ferramenta “balde” para pintar a feição desejada (neste caso, os bairros – Figura 32). Em seguida a declaração de ocorrência (entidade), optou-se pela criação de um formulário para as feições denominado “Bairro” (Figura 33). 97 Figura 32 - Tela do programa Vicon-SAGA, processo de declaração de registro - feição. Figura 33 - Tela do programa Vicon-SAGA, processo de criação de formulário para a feição e tributação. Após a criação de atributos junto aos formulários, foram preenchidos os campos de informação. A inserção de informações possibilitou, também, a entrada de fotos de cada ponto, além de anexos referentes ao ciclo PEIR das AP’s e dos bairros ao qual cada ponto pertence, ou seja, associando imagens e arquivos aos registros. 98 4.4 - Análises espaciais As Áreas de Planejamento em estudo possuem características sociais e ambientais bastantes diferenciadas. A geração de mapas temáticos representativos de toda essa complexidade urbano-ambiental subsidia um diagnóstico que servirá de base para a discussão comparativa entre os ciclos propostos. Segundo Cruz e Pina (1999, p. 11), os mapas temáticos são “documentos elaborados em variadas escalas, que se destinam à representação gráfica de variáveis temáticas.” Ressalta-se que seus propósitos principais são os de informar a ocorrência de uma variável em uma determinada região e de mapear as características de um fenômeno geográfico para revelar a sua organização espacial. O programa Arcview permite a estruturação de diferentes classificações, assim como a escolha da abordagem. (CONCEIÇÃO, 2006). Quanto ao método de mapeamento, optou-se, com base na avaliação das informações, pelas melhores formas de representação, em mapa, das variáveis sociais (densidade, renda) e informações espaciais (como o uso do solo, localização de favelas, áreas protegidas, etc). Conforme Cruz e Pina (1999, p. 2), “os métodos de mapeamento diferem entre si, dependendo do fenômeno geográfico e da natureza de sua distribuição.” Para o mapa de uso do solo, por exemplo, foi utilizado o método que atribui valores nominais para as áreas, através de cores diferentes, identificando, assim, um mapa corocromático. Os mapas que utilizam as variáveis do IBGE, são mapas coropléticos, nos quais os valores estão sendo associados a áreas. Através deste método, as diferenças nas cores, ou nas tonalidades de uma mesma cor, denotam as diferenças na intensidade do fenômeno, e deixam perceber uma estrutura hierárquica nos dados (Figura 34). 99 Figura 34 - Tela do Programa Arcview 9 – Função de propriedades da camada, na qual são definidos os métodos de mapeamento. O programa Vista-SAGA contempla diversos Módulos para análise ambiental, entre eles, os principais: • Assinatura Ambiental: permite a identificação da ocorrência conjunta de variáveis através de planimetrias. (MARINO, 2005, p. 16); • Monitoria Ambiental: acompanhamento de alterações ambientais de diversas naturezas que tenham significância em uma determinada aplicação. As monitorias constituem uma forma de obter conhecimento sobre agentes modificadores do ambiente e propiciar apoio à busca de soluções para os problemas resultantes. As monitorias podem ser executadas em duas fases: simples e múltipla. (MARINO, 2005, p. 21). A chamada monitoria simples pode ser feita através da comparação da ocorrência da mesma característica ambiental ao longo de duas ocasiões registradas e contidas nos dados inventariados. (LAGEOP, 2007). Esta estrutura de monitoria permite definir imediatamente as seguintes instâncias: os locais onde a característica não existia na primeira ocasião e continua sem existir na segunda; os locais onde a 100 característica deixou de existir; os locais onde a característica passou a existir; e por fim, os locais que não sofreram alteração, mantendo a ocorrência da característica na segunda ocasião registrada. A do tipo múltipla estabelece a monitoria de alterações verificadas nas duas classes geradas pela monitoria simples, permitindo: indicar quais foram as categorias originais substituídas pela ocorrência da nova classe “tornou-se”; além de indicar quais as categorias que substituíram, no mapa mais novo, a classe “deixou de ser”. • Avaliação Ambiental: permite fazer estimativas sobre possíveis ocorrências de alterações ambientais, segundo diversas intensidades, definindo-se a extensão destas estimativas e suas relações de proximidadee conexão, possibilitando correlacionar dados georreferenciados, fornecendo como resultados mapas e relatórios que irão apoiar o processo de tomada de decisão. (MARINO, 2005, p. 25). Objetivando-se o acompanhamento das mudanças da categoria “urbano” (agregação das categorias área urbana, urbano não consolidado, e campo antrópico) foram realizadas as seguintes análises: Monitoria Ambiental do tipo Simples, utilizando-se os cartogramas de uso do solo das AP’s 2 e 5 (1992 e 2001), balizando os indicadores de pressão e estado do meio ambiente; Monitoria Ambiental do tipo Múltipla – Tornou-se, utilizando os mesmo cartogramas expostos acima. Para o processo de monitoria, convencionou-se agregar as classes de uso do solo antrópicas de caráter urbano, através da “agregação de legendas iguais” no módulo “Visualiza”. No módulo monitoria, foram carregados o mapa mais antigo (uso em 1992) e o mapa mais recente (uso em 2001), e através das opções seletivas “bloquear” e “monitorar”, bloqueou-se o “fundo” do mapa raster (área sem informação) e selecionou-se a classe “urbano” (Figura 35). 101 Figura 35 - Tela do Programa Vista-SAGA – Módulo de Monitoria. Para a caracterização ambiental, foram prospectados, através do função de Assinatura Ambiental, os seguintes cartogramas: Uso do solo das AP’s 2 e 5 (1992 e 2001); Monitoria Simples da classe “Urbano” das AP’s 2 e 5; Monitoria Múltipla – Tornou-se da classe “Urbano” das AP’s 2 e 5. No módulo “Assinatura”, fora selecionada a opção “assinar mapa inteiro”, porém com o bloqueio da área de “fundo”, para que não contabilize na prospecção do quadrante, sendo assim assinadas somente as feições de uso do solo (Figura 36). 102 Figura 36 - Tela do Programa Vista-SAGA – Módulo de Assinatura. 103 5 – AVALIAÇÃO URBANO-AMBIENTAL 5.1 - Ciclo PEIR A matriz PEIR proposta para avaliação da AP 2 envolve a Pressão: evolução da ocupação urbana em áreas valorizadas e em encostas; o Estado: percentual de áreas naturais e artificializadas; os Impactos: conseqüências da compressão e saturação do espaço urbano; a Resposta: despesas com o meio ambiente. (CRESPO e LA ROVERE, 2002; CONCEIÇÃO e DORNELLES, 2007b). Para a AP 5 a matriz envolve a Pressão: evolução da ocupação urbana em áreas vulneráveis; o Estado: percentual de áreas naturais e artificializadas; os Impactos: conseqüências da expansão e falta de infra-estrutura urbana; a Resposta: legislação do uso do solo e ordenamento territorial. (CRESPO e LA ROVERE, 2002; CONCEIÇÃO e DORNELLES, 2007b). 5.1.1 – Área de Planejamento 2 5.1.1.1 - Pressão A matriz de indicadores envolve a Pressão: Evolução da população urbana em áreas valorizadas e em encostas. A AP 2 pode ser considerada uma área de grandes densidades e de alta renda, fruto da especulação imobiliária. A evolução da ocupação urbana e densificação nestas áreas valorizadas está ligada a eventos de ordem social e espacial, tais como a verticalização, e ao adensamento populacional, bem como à estagnação do crescimento, verificado a partir da década de 1980, ou seja, ao limite de ocupação das terras disponíveis. Porém, devem ser também considerados os enclaves sociais desta área, que abarcam uma população que vive em condições desfavoráveis, com tendências a estar segregada em espaços disponíveis, tais como as encostas dos Maciços. Com base no mapa de densidade demográfica na AP 2, a concentração da população é perceptível em dois grandes núcleos: o 104 da zona Sul entremeando toda a faixa de orla e a vertente leste-sul do Maciço da Tijuca; e o da Grande Tijuca ao norte do maciço (Mapa 6). Segundo dados oriundos dos dois últimos censos do IBGE (IPP, 2007), o esvaziamento populacional ocorre em praticamente toda a AP 2, inclusive nos bairros de maior especulação imobiliária, como os do Leblon e Copacabana. Contrariamente, nas áreas que concentram população de baixa renda o processo é inverso (Mapas 7 e 8), chegando o crescimento a atingir expressivos percentuais de crescimento (10 % ou mais). A população da AP 2 tem se mantido estável, apesar da intensidade da ocupação residencial, da concentração de atividades turísticas e da qualidade do comércio e dos serviços. Considerando o movimento de expansão da zona oeste, os dados gerais para a AP 2 apontam uma perda de população da ordem de 2,3% entre 1970 e 2000. A segregação na AP 2 resulta do isolamento das favelas na encostas do Maciço da Tijuca (Mapa 9), alardeando uma preocupação vigente em relação à vulnerabilidade urbana, dada as taxas de crescimento apontadas nos últimos anos. A urbanização implica perda, muitas vezes irreversível, de vários recursos naturais existentes. A densidade demográfica também se constitui em importante variável para a qualidade de vida urbana. (CONCEIÇÃO, 2006). A densificação promove a inserção urbana no espaço, horizontalmente e verticalmente, acarretando a diminuição das áreas naturais. 105 Mapa 6 – Densidade demográfica por setores censitários em 2000 na AP 2. 106 Mapa 7 – Crescimento populacional por bairros (entre 1991 e 2000) na AP 2. 107 Mapa 8 – Renda média por bairros em 2000 na AP 2. 108 Mapa 9 – Favelas na AP 2 em 2005. 109 5.1.1.2 - Estado Considera-se para o Estado: Percentual de áreas naturais e artificializadas. Considerando os levantamentos de uso do solo de 1992 e 2001, percebem-se pequenas mudanças nas classes de uso do solo na AP 2 em comparação com outras AP’s (ANEXO B, p. 177). A pequena diminuição dos valores de áreas naturais de 1992 a 2001, é explicada pelo fato de que a AP 2 já experimenta seu limiar de ocupação, além de que a maioria das terras consideradas como áreas naturais estão localizadas em áreas de Maciço, muitas acima da cota 100, o que dificulta a ocupação de certa maneira. Preventivamente, foram criados mecanismos para impedir a ocupação dessas áreas e o processo de favelização em encostas, muito comum na cidade. Considerando os mapas de uso do solo em 1992 e 2001 na AP 2 e as tabelas de assinatura dos mapas associadas, percebem-se que as classes mais alteradas foram: urbano não consolidado, com aumento de cerca de 4 para 5% do total da área; floresta alterada, com aumento de cerca de 8 para 9% do total da área; floresta, com diminuição de cerca de 39 para 37% do total da área (Mapas 10 e 11; Quadros 12 e 13). Considerando as monitorias da classe “Urbano” (junção das classes área urbana, urbano não consolidado e campo antrópico), a partir da monitoria simples, os valores expressam um percentual de mudança de agregação de 1,50% e diminuição de 0,16% da classe no total da área (Quadro 14). Espacialmente, percebese que tais mudanças ocorreram nas bordas e interior do maciço (Mapa 12). A monitoria múltipla indica que as áreas agregadas à classe “Urbano” são provenientes das classes solo exposto, floresta alterada e floresta, principalmente (Mapa 13). A taxa de mudança da classe floresta para urbano expressa cerca de 1,2% do total da área (Quadro 15). 110 Mapa 10 - Uso do solo na AP 2 em 1992. 111 Mapa 11 - Uso do solo na AP 2 em 2001. 112 Cat. - Legendas ÁREA URBANA Total Pixels Total Ha 1578286 3945,7150 Pixels Asn. 1578286 Área Asn. Ha 3945,7150 % Área Asn. 33,2022% % categoría 100,0000 ÁGUAS INTERIORES 109351 273,3775 109351 273,3775 2,3004% 100,0000 CAMPO ANTRÓPICO 319423 798,5575 319423 798,5575 6,7197% 100,0000 SOLO EXPOSTO 14870 37,1750 14870 37,1750 0,3128% 100,0000 FLORESTA ALTERADA 424257 1060,6425 424257 1060,6425 8,9250% 100,0000 PARQUES 54466 136,1650 54466 136,1650 1,1458% 100,0000 PRAIA 39804 99,5100 39804 99,5100 0,8374% 100,0000 FLORESTA 1894715 4736,7875 1894715 4736,7875 39,8588% 100,0000 AFLORAMENTO ROCHOSO 108310 270,7750 108310 270,7750 2,2785% 100,0000 URBANO NÃO CONSOLIDADO 210083 525,2075 210083 525,2075 4,4195% 100,0000 Total 4753565(11883,9125) 4753565 (11883,9125) Quadro 12 - Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 2 em 1992. Cat. - Legendas ÁREA URBANA Total Pixels Total Ha 1596924 3992,3100 Pixels Asn. 1596924 Área Asn. Ha 3992,3100 % Área Asn. 33,5944% % categoria 100,0000 ÁGUAS INTERIORES 109351 273,3775 109351 273,3775 2,3004% 100,0000 CAMPO ANTRÓPICO 308903 772,2575 308903 772,2575 6,4984% 100,0000 URBANO NÃO CONSOLIDADO 265576 663,9400 265576 663,9400 5,5869% 100,0000 FLORESTA ALTERADA 455252 1138,1300 455252 1138,1300 9,5771% 100,0000 PARQUES 54466 136,1650 54466 136,1650 1,1458% 100,0000 PRAIA 39882 99,7050 39882 99,7050 0,8390% 100,0000 FLORESTA 1803199 4507,9975 1803199 4507,9975 37,9338% 100,0000 AFLORAMENTO ROCHOSO 108302 270,7550 108302 270,7550 2,2783% 100,0000 SOLO EXPOSTO 11685 29,2125 11685 29,2125 0,2458% 100,0000 Total 4753540(11883,8500) 4753540 (11883,8500) Quadro 13 - Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 2 em 2001. 113 Mapa 12 - Monitoria do tipo Simples de Urbano com Urbano na AP 2. 114 Mapa 13 - Monitoria do tipo Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 2. 115 Cat. - Legendas NÃO ERA URBANO E CONTINUA SEM SER URBANO Total Pixels Total Ha 2574421 6436,0525 7697 19,2425 71302 2100091 Pixels Asn. 2574421 Área Asn. Ha % Área Asn. % categoria 6436,0525 54,1583% 100,0000 7697 19,2425 0,1619% 100,0000 178,2550 71302 178,2550 1,5000% 100,0000 5250,2275 2100091 5250,2275 44,1798% 100,0000 DEIXOU DE SER URBANO TORNOU-SE URBANO ANTES: URBANO DEPOIS: URBANO Total 4753511(11883,7775) 4753511 (11883,7775) Quadro 14 - Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Simples de Urbano com Urbano na AP 2. Cat. - Legendas NÃO MONITORADO Total Pixels Total Ha 4682209 11705,5225 Pixels Asn. 4682209 Área Asn. Ha 11705,5225 % Área Asn. 98,5000% % categoria 100,0000 3184 7,9600 3184 7,9600 0,0670% 100,0000 7076 17,6900 7076 17,6900 0,1489% 100,0000 61042 152,6050 61042 152,6050 1,2841% 100,0000 DEIXOU DE SER: SOLO EXPOSTO E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: FLORESTA ALTERADA E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: FLORESTA E TORNOU-SE: URBANO Total 4753511(11883,7775) 4753511 (11883,7775) Quadro 15 - Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 2. 116 5.1.1.3 - Impactos Revendo todo o cenário apresentado, podem ser pontuados os Impactos referentes às conseqüências da compressão e saturação do espaço urbano. Estudos realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2007) mostram que a cidade perde a cada ano cobertura vegetal superior à taxa de reposição (reflorestamento). As consequências mais diretas desse fato são o aumento das enchentes e erosão, sobretudo deslizamentos de terras nas encostas (Figuras 37 e 38), que se agravam durante os verões, com o maior volume de chuvas. “Ricos e pobres sofrem o impacto desses desastres naturais, na verdade causados pela imprevidência, mas é a população mais pobre que contabiliza a perda maior tanto em termos materiais quanto em vidas humanas.” (PCRJ, 2001, p. 13). Brandão (2006) avalia que, embora não seja simples estabelecer uma relação direta entre crescimento urbano e impactos pluviais, alguns importantes aspectos ligados à urbanização da cidade do Rio de Janeiro podem ser assim considerados. A conseqüente degradação das encostas dos maciços, crescimento horizontal (em um primeiro momento) e vertical (em um segundo momento) sem regulação, contribuem para o aumento da freqüência de temporais (com influência de ilhas de calor), com conseqüências de desmoronamentos de áreas de risco e enchentes em áreas de saturação. Na AP 2, observado o crescimento nas áreas de favelização nas bordas do Maciço da Tijuca, o processo antrópico de influência sobre o clima é bastante pertinente. Porém, tal situação também é favorecida pela alta concentração de construções verticais e total ocupação horizontal, tendo como exemplo prático a formação de ilhas de calor no bairro da Tijuca (BRANDÃO, 2006), que sofre constantemente com incapacidade de suportar o escoamento de águas pluviais em muitos trechos intra-bairro e áreas vizinhas (Figura 39). 117 Figura 37 - Vista de material deslizado atrás das residências – Morro do Vidigal – 2004. Fonte: GEORIO. In: < http://obras.rio.rj.gov.br/index2.cfm?sqncl_publicacao=676> Figura 38 - Vista de área afetada por deslizamento – Morro do Vidigal – 2004. Fonte: GEORIO. In: < http://obras.rio.rj.gov.br/index2.cfm?sqncl_publicacao=676> 118 Figura 39 - Enchente na Praça Affonso Pena, no bairro Tijuca. Fonte: Destak News. In: <destaknews.blogspot.com/2007_10_24_archive.html> A degradação dos ecossistemas costeiros pela ocupação concentrada revela impactos visíveis nestas áreas ambientalmente frágeis por “natureza”. Fuks (2001), ao analisar ações civis públicas, destaca que a especulação imobiliária fechou canais naturais que sustentavam, com oxigênio e baixa temperatura de suas águas, a vida na lagoa. Muitos empreendimentos da dita cidade formal lançam seus detritos em canais que abastecem a lagoa, assim como os detritos transportados da cidade informal, advindos de outros cursos d’água contribuintes da lagoa. Além dos impactos decorrentes do desequilíbrio da dinâmica costeira e marinha entre a lagoa, canais e mar, com ênfase para o assoreamento do canal Jardim de Alah e erosão da praia do Leblon, os impactos também configuram a perda de vida aquática, considerando pontualmente as recorrentes mortandades de peixes na lagoa (Figura 40), e os constantes índices desfavoráveis de balneabilidade nas praias da região, com situação crítica para a orla de deságüe dos canais. 119 Figura 40 - Mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas em 2002. Fonte: Alma carioca. In: < http://www.almacarioca.com.br/lagoa.htm> 5.1.1.4 - Resposta As ações do poder público indicam a Resposta: Despesas com o meio ambiente e legislação de áreas protegidas como unidades de conservação previstas no Plano Diretor. O volume dos recursos financeiros despendidos no âmbito da administração municipal com a área ambiental está intimamente ligado às políticas de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais. Na AP 2 figuram despesas como a recuperação da Lagoa Rodrigo de Freitas, monitoramento, controle, recuperação e educação ambiental, bem como estabilização de encostas, e drenagem de cursos d’água. Gastos com obras destinadas à recuperação urbana (praças, parques, arborização, etc) devem ser também contabilizados. Parte expressiva do orçamento da Secretaria de Meio Ambiente do município tem sido gasta em ações de recuperação. Dentre essas, a mais visível e significativa é a de reposição de vegetação em bases sustentáveis. (PCRJ, 2001 – Figura 41). 120 Em contrapartida, sabe-se que existe a legislação para o planejamento do uso e ocupação do solo, preservação e conservação das florestas e vegetações naturais, como a institucionalização de áreas protegidas (Mapa 14). Avaliando as diretrizes do Plano Diretor de uso de ocupação do solo um dos principais objetivos (PCRJ, 1992, Art. 44) considera a limitação de crescimento em zonas supersaturadas, priorizando a elaboração dos Projetos de Estruturação Urbana que as contenham. O ato de criação de uma Unidade de Conservação indicará o bem objeto de proteção, fixará sua delimitação, estabelecerá sua classificação e as limitações de uso e ocupação e disporá sobre sua gestão. Segundo o documento do Plano Diretor (PCRJ, 1992; COMPUR, 2007) um dos programas prioritários da política de meio ambiente e valorização cultural do Município diz respeito ao Controle e Recuperação das Unidades de Conservação Ambiental, no qual a elaboração de plano de recuperação e proteção para o Maciço da Tijuca, incluindo suas vertentes não incorporadas ao Parque Nacional, em cooperação com os órgãos federais e estaduais. Figura 41 – Reflorestamento do Morro Dois Irmãos 1994 – 2006 – Bairro do Leblon. Fonte: SMAC (2007). 121 Mapa 14 - Áreas protegidas na AP 2 em 2005. 122 5.1.2 - Área de Planejamento 5 5.1.2.1 - Pressão A matriz envolve a Pressão: Evolução da ocupação urbana em áreas vulneráveis. Nesta AP a densificação demográfica se apresenta nos bairros interioranos, com estratos em direção à orla (Mapa 15). Os centros de bairros de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Sepetiba são as áreas mais densamente ocupadas e urbanizadas. Gradativamente, a ocupação urbana na AP 5 vem se expandindo, o que é atestado pelo crescimento populacional da área, de 124,3% nos últimos 30 anos. (IPP, 2005b), processo inverso do ocorrido na AP 2. Considerando o corte temporal entre os censos de 1991 e 2000 esse crescimento ainda é vigente em toda a extensão do vasto território da AP (Mapa 16). O crescimento ocorre influenciado por uma ocupação de classes média-baixa (concentrando-se nos bairros interioranos – Mapa 17), bem como pelo surto de ocupações marginais em toda extensão da AP 5. O território da AP 5 está em processo de favelização intenso, favorecido pela ocupação irregular e clandestina. Diferentemente da AP 2, os assentamentos sub-normais se concentram em áreas planas (Mapa 18). A AP 5 apresenta 11,6% de seu contingente populacional morando em ocupações irregulares, o que denota uma pressão maior quanto aos problemas acarretados pela ocupação de área que configura caso específico de complexidade ambiental, dada a diversidade no uso do solo ainda detectável nesta AP de ocupação historicamente lenta. 123 Mapa 15 - Densidade demográfica por setores censitários em 2000 na AP 5. 124 Mapa 16 – Crescimento populacional por bairros (entre 1991 e 2000) na AP 5. 125 Mapa 17 – Renda média por bairros em 2000 na AP 5. 126 Mapa 18 – Favelas na AP 5 em 2005. 127 5.1.2.2 - Estado Em relação ao Estado: Percentual de áreas naturais e artificializadas apresenta para a AP 5 consideráveis mudanças. Durante a década de 90, as principais alterações ambientais na cidade do Rio de Janeiro foram a redução da proporção de 33% para 30% de áreas naturais do território, sendo grande parte localizada na AP 5 (ANEXO B, p. 177). Tais mudanças são explicadas pelo fato da AP 5 oferecer um grande estoque de áreas naturais (muitas com características peculiares e de forte interesse ambiental, inclusive). Analisando os mapas de uso do solo em 1992 e 2001 na AP 5 e tabelas de assinatura dos mapas associadas, percebem-se que as maiores alterações ocorreram nas classes: floresta, com considerável diminuição de cerca de 11 para 7% do total da área; solo exposto, com diminuição de cerca de 3 para 1% do total da área; área urbana, com um aumento expressivo de 17 para 24% do total da área (Mapas 19 e 20; Quadros 16 e 17). Considerando as monitorias da classe “Urbano” (a qual, como realizado na avaliação da AP 2, agrega as classes área urbana, urbano não consolidado e campo antrópico), os resultados da monitoria simples e múltipla reforçam o aspecto transformador da dinâmica urbana sobre o meio ambiente na AP 5. O mapa gerado através da monitoria apresenta mudanças de classes distribuídas por todo o território, com destaque para a adição do urbano nas bordas dos maciços da Pedra Branca e Gericinó-Mendanha, e por toda a extensão das áreas de vales e baixada (Mapa 21). Na monitoria simples da classe “Urbano” na AP 5, os valores expressam um percentual de agregação de 7,52 e diminuição de 1,69 da classe no total da área (Quadro 18). A monitoria múltipla indica que as áreas agregadas à classe “Urbano” são provenientes de praticamente todas as outras classes, excetuando a classe “afloramento rochoso”, também pode-se observar que a áreas de floresta alterada foram as mais suscetíveis (Mapa 22). A mudança observada da classe “floresta alterada” para urbano é de cerca de 3,17% do total da área (Quadro 19). 128 Mapa 19 - Uso do solo na AP 5 em 1992. 129 Mapa 20 - Uso do solo na AP 5 em 2001. 130 Cat. - Legendas FLORESTA Total Pixels 172442 Total Ha 6897,68 Pixels Asn. 172442 Área Asn. Ha 6897,68 % Área Asn. 11,75% % categoria 100,00 CAMPO ANTRÓPICO 481592 19263,68 481592 19263,68 32,81% 100,00 FLORESTA ALTERADA 114042 4561,68 114042 4561,68 7,77% 100,00 SOLO EXPOSTO 45905 1836,20 45905 1836,20 3,13% 100,00 URBANO NÃO CONSOLIDADO 133240 ÁREA URBANA 251897 5329,60 10075,88 133240 251897 5329,60 10075,88 9,08% 17,16% 100,00 100,00 ÁGUAS INTERIORES 14435 577,40 14435 577,40 0,98% 100,00 CULTURA / PASTAGEM 124961 4998,44 124961 4998,44 8,51% 100,00 ÁREA ÚMIDA 29721 1188,84 29721 1188,84 2,02% 100,00 MANGUE 55961 2238,44 55961 2238,44 3,81% 100,00 APICUM 26936 1077,44 26936 1077,44 1,84% 100,00 PRAIA 3900 156,00 3900 156,00 0,27% 100,00 RESTINGA Total 12703 508,12 1467735(58709,40) 12703 508,12 1467735 (58709,40) 0,87% 100,00 Quadro 16 - Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 5 em 1992. Cat. - Legendas FLORESTA Total Pixels 116070 Total Ha 4642,80 Pixels Asn. 116070 Área Asn. Ha 4642,80 % Área Asn. 7,90% % categoria 100,00 CAMPO ANTRÓPICO 474258 18970,32 474258 18970,32 32,29% 100,00 FLORESTA ALTERADA 110357 4414,28 110357 4414,28 7,51% 100,00 SOLO EXPOSTO 25387 1015,48 25387 1015,48 1,73% 100,00 5000,52 14123,68 125013 353092 5000,52 14123,68 8,51% 24,04% 100,00 100,00 URBANO NÃO CONSOLIDADO 125013 ÁREA URBANA 353092 CULTURA / PASTAGEM 123186 4927,44 123186 4927,44 8,39% 100,00 ÁGUAS INTERIORES 14331 573,24 14331 573,24 0,98% 100,00 ÁREA ÚMIDA 27511 1100,44 27511 1100,44 1,87% 100,00 MANGUE 56307 2252,28 56307 2252,28 3,83% 100,00 APICUM 26644 1065,76 26644 1065,76 1,81% 100,00 PRAIA 3901 156,04 3901 156,04 0,27% 100,00 RESTINGA Total 12760 510,40 1468817(58752,68) 12760 510,40 1468817 (58752,68) 0,87% 100,00 Quadro 17 - Resultado da assinatura do Mapa de Uso do Solo na AP 5 em 2001. 131 Mapa 21 - Monitoria do tipo Simples de Urbano com Urbano na AP 5. 132 Mapa 22 - Monitoria do tipo Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 5. 133 Cat. - Legendas NÃO ERA URBANO E CONTINUA SEM SER URBANO Total Pixels Total Ha Pixels Asn. Área Asn. Ha % Área Asn. % categoria 490342 19613,68 490342 19613,68 33,42% 100,00 24832 993,28 24832 993,28 1,69% 100,00 110337 4413,48 110337 4413,48 7,52% 100,00 841661 33666,44 841661 33666,44 57,37% 100,00 DEIXOU DE SER URBANO TORNOU-SE URBANO ANTES: URBANO DEPOIS: URBANO Total 1467172(58686,88) 1467172 (58686,88) Quadro 18 - Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Simples de Urbano com Urbano na AP 5. Cat. - Legendas Total Pixels Total Ha Pixels Asn. Área Asn. Ha % Área Asn. % categoria NÃO MONITORADO 1356835 54273,40 1356835 54273,40 92,48% 100,00 21187 847,48 21187 847,48 1,44% 100,00 46454 1858,16 46454 1858,16 3,17% 100,00 29470 1178,80 29470 1178,80 2,01% 100,00 154 6,16 154 6,16 0,01% 100,00 7914 316,56 7914 316,56 0,54% 100,00 4449 177,96 4449 177,96 0,30% 100,00 DEIXOU DE SER: FLORESTA E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: FLORESTA ALTERADA E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: SOLO EXPOSTO E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: ÁGUAS INTERIORES E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: CULTURA / PASTAGEM E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: ÁREA ÚMIDA E TORNOU-SE: URBANO 134 DEIXOU DE SER: MANGUE E TORNOU-SE: URBANO 401 16,04 401 16,04 0,03% 100,00 244 9,76 244 9,76 0,02% 100,00 23 0,92 23 0,92 0,00% 100,00 41 1,64 41 1,64 0,00% 100,00 DEIXOU DE SER: APICUM E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: PRAIA E TORNOU-SE: URBANO DEIXOU DE SER: RESTINGA E TORNOU-SE: URBANO Total 1467172(58686,88) 1467172 (58686,88) Quadro 19 - Resultado da assinatura do Mapa de Monitoria Múltipla (tornou-se) de Urbano com Urbano na AP 5. 5.1.2.3 - Impactos Pode ser considerado como Impactos as conseqüências da expansão e falta de infraestrutura urbana. De acordo com a SEDECT (2007), muitas áreas da AP 5 apresentam problemas ambientais que estão diretamente ligados ao uso inadequado do solo, porém, não se pode ignorar os impactos ambientais decorrentes da carência ou precariedade de infra-estrutura básica (Figura 42). Os núcleos dos bairros apresentam condições mais favoráveis que as áreas de expansão urbana, onde conjuntos habitacionais e loteamentos abrigam um contingente populacional elevado e, habitações clandestinas circundam esses assentamentos em condições muito precárias de higiene, sujeitos ainda a riscos de deslizamentos ou inundações, segundo o tipo de relevo em que se encontram. (GAMA, 1998). Os conjuntos habitacionais e as favelas da AP 5 estão sujeitos a riscos de inundação (Figura 43) e desmoronamento, além das condições de insalubridade, decorrentes da sua instalação em solos que não se destinam a edificações. (SEDECT, 2007). 135 Figura 42 - Falta de infra-estrutura urbana e saneamento no bairro de Sepetiba – problemas agravantes para a ocorrência de impactos na AP 5. Fonte: Secretaria de obras – PCRJ (2007). Figura 43 - Enchente no bairro de Sepetiba. Fonte: Secretaria de obras – PCRJ (2007). Dentre os principais processos de degradação da região podem ser considerados a erosão das vertentes e dos solos, motivadas pelo desmatamento, o assoreamento das redes de drenagens e a poluição dos corpos hídricos por cargas industriais e domésticas. “Entre todas as formas de poluição, a mais crítica é a decorrente da ausência de infra-estrutura de esgoto em praticamente toda a região. A Baía de Sepetiba recebe, anualmente, um aporte estimado em 1,2 milhão de metros cúbicos de sedimentos através dos rios.” (PCRJ, 2001, p. 8). 136 Devido à precariedade, e muitas vezes à inexistência, da infra-estrutura sanitária nas RAs de Santa Cruz e Guaratiba, por exemplo, o destino final do esgoto domiciliar in natura são as praias de Sepetiba e Pedra de Guaratiba, que apresentam constantemente condições desfavoráveis de balneabilidade. (SEDECT, 2007). Muitas vezes a ocupação de território acontece em áreas sensíveis, comprometendo também a conservação dos ecossistemas costeiros. Na zona costeira, esse conflito se verifica pela presença de urbanização, por exemplo, em áreas de conservação ou próximas a ecossistemas extremamente vulneráveis a impactos. (AFONSO, 1999). Argento e Vieira (1989) já identificavam o aumento do assoreamento em Sepetiba em razão da contribuição da ação antrópica. A retificação de canais, o aterro dos manguezais para estabelecimento de área industrial e vilas operárias, o desmatamento a jusante da baixada e o adensamento urbano ao longo de rios e canais contribuintes da baía influenciaram significamente para o aumento do aporte de material à baía, e sendo assim, para o processo de sedimentação da praia de Sepetiba. Com uma ocupação ainda constante na região, esse processo tem sido influenciado também pela degradação do ecossistema em formação. Segundo Conceição et al (2004), constata-se o crescimento de mangue e sedimentação na praia de Sepetiba, visualmente decadente, ao se perceber o esgoto e o lixo sólido misturado à lama de sedimentos, situação vigente nos dias atuais (Figuras 44 e 45). Figura 44 - Assoreamento e degradação na praia de Sepetiba. Fonte: Foto do autor, 2007. 137 Figura 45 - Degradação do ecossistema em formação na orla de Sepetiba. Fonte: Foto do autor, 2007. Conforme MMA (2002, p. 70) ressalta-se a importância econômica e ecológica dos manguezais, uma vez que se estima que 90% dos peixes marinhos consumidos pelo homem são provenientes de zonas costeiras, e grande parte dependem direta ou indiretamente dos estuários e mangues. “São grandes os danos que a destruição destes ambientes ocasionam à biodiversidade das zonas costeiras e oceânicas, além dos prejuízos econômicos e seus reflexos sociais sobre as populações que deles dependem economicamente.” 5.1.2.4 - Resposta Adotaram-se como Resposta: Legislação do uso do solo e ordenamento territorial previstos no Plano Diretor. Conforme Gama (1998), uma estratégia de ocupação que leve em consideração a vocação natural do meio físico para os diversos usos torna-se impreterível. Também ações de caráter preventivo e corretivo, tais como a urbanização de áreas degradadas, e o deslocamento da pressão urbana em áreas dotadas de infra-estrutura, podem ajudar a melhorar a qualidade do meio ambiente urbano. Acredita-se que a instalação e melhoria dos equipamentos urbanos, como redes pluviais, de esgoto e a coleta do lixo, contribuiriam para amenizar grande parte dos problemas existentes nas áreas ocupadas. “Deve ficar claro que, como prioridade de (re)ordenamento, os atributos das unidades de solos têm que ser levados em consideração.” (SEDECT, 2007, p. 28; GAMA, 1998). 138 Com base nas informações da SMU (2007), no bairro de Santa Cruz, por exemplo, adotou-se como estratégia a definição de um novo plano para uso e ocupação do solo, “privilegiando” o meio ambiente. Como objetivo específico traçado é almejada a solução da problemática da ocupação irregular e informalidade, através da regulamentação da uma área de especial interesse urbanístico em Santa Cruz. Também deve ser lembrada a legislação referente à criação de áreas de preservação. A AP 5 possui importantes categorias de conservação: a Área de Proteção Ambiental (APA), Parques, Reservas e Tombamentos (Mapa 23). Como exemplo, é referida a Lei 1208/88 na criação e institucionalização da APA da Orla da Baía de Sepetiba. Os artigos 72 e 129 do Plano Diretor (PCRJ, 1992) destacam a integração de áreas propícias à proteção ambiental; dentre estas podem-se citar na AP 5: as áreas de mangue; a restinga da Marambaia; as Ilhas da Pescaria, das Baleias, de Guaraquessaba, de Guaratiba, de Bom Jardim, do Cavado, do Frade, do Tatu, do Urubu, Nova e Rasa; a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba; as baixadas sujeitas a inundação; as encostas das serras da Capoeira Grande, de Inhoaíba e do Cantagalo; o morro do Silvério (em Pedra de Guaratiba); a área do Sítio Burle Marx. Um dos instrumentos utilizados para ordenar a expansão urbana e industrial na Baía de Sepetiba, além de buscar o controle do uso do solo e dos recursos naturais foi a elaboração do Macro Plano de Gestão e Saneamento Ambiental da Bacia da Baía de Sepetiba. Este plano foi desenvolvido como resposta às pressões de cunho industrial e ocupacional na região. Este instrumento deve estar compatível com as diretrizes de uso e ocupação do solo para a AP 5 definidas no Plano Diretor, que cita entre elas, a prioridade na execução de obras de drenagem na Baía de Sepetiba. (PCRJ, 1992; COMPUR, 2007). Conforme a SEDECT (2007), o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (1992), no seu artigo 71 (corroborado por COMPUR, 2007), preconiza o estímulo ao desenvolvimento turístico e de lazer para a área. Com base em uma nota técnica do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ, 2004e), evidencia-se a proposição de projetos que indicam formas de ocupação e uso na região. O documento indica que, com a criação do “Parque Ecoturístico da Zona Oeste” (Figura 46), toda a população da Área de Planejamento 5 (AP5) poderá desfrutar de uma extensa região urbanizada da orla da Baía de Sepetiba destinada a atividades de lazer, prática de esportes e banho de mar em águas limpas. A principal intervenção do projeto prevê a melhoria das condições ambientais da baía, eliminando o despejo de esgotos sanitários através da implantação de um sistema de saneamento com interceptor e estações de tratamento. 139 Mapa 23 - Áreas protegidas na AP 5 em 2005. 140 Figura 46 - Projeto de intervenção do Parque Ecoturístico da Zona Oeste. Fonte: PCRJ (2004, p. 3). 141 5.2 - Base e banco de dados das AP’s A Base e o Banco de Dados RJ / AP´s 2 e 5 contém, atualmente, um total de 23 mapas, além de bases de dados digitais nos formatos vetorial e raster, sendo estes: mapa de localização do município e AP’s, mapas administrativos e físico das AP’s 2 e 5, mapas temáticos demográficos (densidade de pessoas por setores censitários, renda média por bairro, e crescimento populacional por bairro) das AP’s 2 e 5, mapas de informações ambientais e ocorrências das AP’s 2 e 5 (uso do solo – 1992 e 2001, favelas e de áreas protegidas - 2005). Cartogramas raster de bairros das AP’s 2 e 5, uso do solo (1992 e 2001), de Monitorias simples e múltiplas da classe “urbano” das AP’s 2 e 5, além de relatórios de assinaturas associadas aos mapas raster (APÊNDICE B, p. 172). O protótipo do banco de dados das orlas das AP’s 2 e 5 (Figuras 47 a 51), elaborado com auxílio do Vicon-SAGA, contém informações acerca de orlas distintas (registros de ocorrência) de bairros específicos selecionados (Leblon – AP 2 e Sepetiba – Ap 5), para tal aplicação (APÊNDICE B, p. 172). Figura 47 - Tela inicial de acesso ao banco de dados das orlas das AP’s 2 e 5. 142 Figura 48 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 2 – Formulário de “Caracterização da orla”. Figura 49 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 5 – Formulário de “Caracterização da orla”. 143 Figura 50 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 2 – Formulário de “Bairro”. Figura 51 – Tela de consulta no Vicon-SAGA do registro de ocorrência na AP 5 – Formulário de “Bairro”. 144 5.3 - Análise integrada de políticas: Plano Diretor e PMGC De acordo com os princípios e diretrizes da política urbana do Município, esta tem por objetivo promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante determinadas diretrizes, dentre elas, o condicionamento da ocupação urbana à proteção dos maciços e morros, das florestas, da orla marítima e dos corpos hídricos dos marcos referenciais da cidade, da paisagem e da identidade cultural dos bairros. (COMPUR, 2007, Art. 3). As AP’s 2 e 5 configuram áreas de interesse para uma gestão ambiental integrada pois estão inseridas em uma área urbana costeira. O Plano Diretor do Rio de Janeiro (COMPUR, 2007, Art. 127º) institui que o sistema de gestão ambiental seja vinculado ao sistema municipal de planejamento urbano. Considera que a gestão ambiental seja integrada às outras políticas públicas através do Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelo Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Ainda segundo o documento, o sistema de gestão ambiental compreende, entre outras ações, a implantação de um sistema de informações geográficas para o monitoramento da situação ambiental do município. O SIGERCO/RJ pode e deve ser um instrumento indicado para agrupar tal função, com contribuição da base e banco de dados RJ/ AP’s 2 e 5. O geoprocessamento então, contribui de forma decisiva na implementação de políticas, promovendo além disso, a integração destas. A técnica subsidia análises respaldando o planejamento ambiental. Considerando a ordenação do território, o Plano Diretor traça disposições gerais. Prevê no Art. 38 (PCRJ, 1992) que o território municipal será ordenado para atender às funções econômicas e sociais da cidade, de modo a compatibilizar o desenvolvimento urbano com o uso e a ocupação do solo, suas condições ambientais e a oferta de transportes, de saneamento básico e dos demais serviços urbanos. Com base nisto, ao abordar as condições ambientais, impõe que estas serão consideradas a partir das grandes unidades naturais, como maciços montanhosos e baixadas, e da análise da situação das bacias ou sub-bacias hidrográficas delas integrantes, e serão contempladas nos Projetos de Estruturação Urbana. Neste caso, o documento não faz menção à unidade “zona costeira”. O Plano diretor indica que as Áreas de Planejamento, formadas por agrupamento de várias Regiões Administrativas, podem ser divididas em Sub-áreas de Planejamento, em 145 função de fatores sócio-econômicos e de relativa homogeneidade da ocupação. Para um futuro PMGC, o microzoneamento costeiro deve seguir tal recomendação da política urbana. Um PMGC deve interagir com os preceitos do Plano Diretor, tratando dos aspectos ambientais de forma mais conectada à realidade de um município costeiro, subsidiando ações concretas sobre a zona costeira e orla marítima de forma a reduzir os impactos provocados pela ocupação territorial em áreas distintas, como as AP’s 2 e 5, que vivenciam momentos diferentes de ocupação. Neste caso, inclusive, absorvendo as diretrizes do Plano Estadual, principalmente quando da compartimentação em setores costeiros. Através do ciclo PEIR, promovido pela metodologia GEO Cidades, implementado para as duas AP’s, cada qual agregando distintos indicadores conectados à realidade espacial, pôde-se realizar uma análise comparativa. As referências documentais relacionadas às experiências com modelos de indicadores aplicados no Rio de Janeiro demonstram uma seqüência de indicadores comuns que podem ser visualizados em nível de AP’s. (CRESPO e LA ROVERE, 2002; IPP, 2005a). Neste caso, comparando-se ciclos diferenciados das AP’s 2 e 5, tornam-se latentes as peculiaridades territoriais de cada uma, principalmente em relação aos fenômenos e processos que se podem observar a partir das especificidades de seus ciclos (Quadro 20). Em suma, o ciclo diferenciado das AP’s reforça a importância do tratamento espacial quando da análise de políticas e suas diretrizes. As políticas ganham maior visibilidade quando conectadas à realidade espaço-temporal de cada área. O Plano Diretor configura um item comum dentro da resposta dos ciclos das AP’s 2 e 5, por justamente se apropriar de diretrizes específicas para cada Área de Planejamento da cidade. A aplicação da metodologia GEO Cidades nas AP’s 2 e 5, de certa forma, contribui para a concatenação e avaliação de distintas realidades territoriais às estas diretrizes da política urbana, agregando novas possibilidades. Sendo assim, o GEO Cidades também contribui para o andamento do gerenciamento costeiro do município, visto que o PMGC integrado ao Plano Diretor pode configurar também (mesmo que em medida de proposição) uma resposta dentro do ciclo PEIR. Os produtos então gerados, com contribuição dos instrumentos e da técnica adotados, podem auxiliar o desdobramento e integração das políticas através do diagnóstico, configurando parte do processo de planejamento. 146 Área de Planejamento 2 Área de Planejamento 5 Pressão Estado Impacto Resposta Na AP 2 foram detectados dois vetores principais de pressão, um relacionado à ocupação densificada e já consolidada de áreas de baixada; e outro à uma ocupação crescente em áreas de elevação. O perfil demográfico traçado demonstra uma grande variação de rendas ditando os dois vetores de pressão. Para o estado foram apresentados os percentuais associados às áreas naturais e antropizadas na AP2. Relacionando-se à sua pressão (ocupação densa e consolidada) o monitoramento indica baixas alterações no uso do solo, com exceção das áreas do vetor de pressão de ocupação crescente nas encostas. O mesmo indicador de estado, utilizado nas duas AP’s, apresenta para a AP 5 uma seqüência lógica à sua diferenciada pressão. O grande estoque de terras (muitas ainda sem ocupação) confere à AP 5 uma maior complexidade ambiental que a AP 2, principalmente em relação aos peculiares ambientes costeiros. A partir da interpretação dos vetores de pressão e de sua condição resultante (estado), avalia-se para a AP 2 conseqüências, tais como enchentes e deslizamentos de terra, do espaço comprimido e saturado por seu limiar de ocupação. Dada as limitações de aquisição de dados, as informações foram apresentadas contextualmente. Observa-se o mesmo processo de integração do impacto no ciclo da AP 5. De forma geral, foram descritos impactos como enchentes, assoreamento, e perda de ecossistemas (fauna e flora), diretamente relacionados ao vetor de pressão de ocupação em áreas vulneráveis e à condicionante de consideráveis alterações. Indicadores de resposta específicos e latentes à AP 2 foram apresentados. A AP 2 por se caracterizar uma área com atividades antrópicas enraizadas e com uma relação íntima do homem com seu meio conta com ações concretas e práticas, as podem ser melhor visualizadas e avaliadas em comparação a outras áreas. Na AP 5 a pressão é determinada por um único vetor, conferido pela homogeneidade de rendas baixas e processo de ocupação diferenciado da AP 2, ou seja, uma ocupação historicamente lenta com grande avanço nos últimos anos, considerando assim, áreas vulneráveis. Quadro 20 - Resumo comparativo do ciclo PEIR das AP’s 2 e 5. As respostas na AP 5 se aproximam mais do discurso teórico. Diretrizes previstas no Plano Diretor são facilmente apontadas em planos e projetos que se atestam para a área. Porém a avaliação destes torna-se dificultosa devido a uma não materialidade no que diz respeito às ações preventivas alardeadas. 147 6 – CONCLUSÕES Revendo o fato da dinâmica urbana, torna-se imprescindível o controle e o monitoramento do uso do solo em uma perspectiva de ocupação do território na zona costeira. A metodologia GEO Cidades tem se configurado em uma interessante proposta de análise, potencialmente indicada para o balizamento das fases de um planejamento ambiental, pois além de permitir a ciclicidade do processo, gera subsídios para a tomada de decisão. A aplicação da metodologia em nível de Áreas de Planejamento demonstra o caráter adaptativo do modelo, do município ao local. Comparando-se as duas AP’s observam-se concordâncias e discordâncias em relação aos ciclos gerados. O segmento seqüencial, como exige o modelo, é o mesmo para as duas AP’s (pressão – estado – impactos - resposta), contemplando indicadores inter-relacionados, porém diferenciados. Ou seja, neste estudo utilizou-se a mesma matriz com indicadores diferentes para as AP’s 2 e 5, resultando em dois ciclos que abarcam dados e informações de um mesmo recorte temporal em espaços distintos que apresentam fenômenos, muitas vezes semelhantes, mas que ocorrem de maneira desigual no espaço e no tempo. A ocupação mais vertiginosa que atualmente ocorre na AP 5 com influência direta na transição de grandes áreas naturais para áreas antropizadas, outrora ocorreu nas áreas de baixada da AP 2, porém de forma diferenciada, atendendo a um tipo diferenciado de classe social e levando em consideração o acompanhamento de infra-estrutura urbana, por exemplo. A AP 2, apesar da estagnação de crescimento populacional em quase toda a sua extensão, conta com áreas de saturação urbana em locais mais valorizados (como na orla), evidenciando problemas ambientais. Também questões, tais como as localidades de ocupação irregular com intenso processo de crescimento, merecem especial atenção, na tentativa de se reverter o quadro relacionado aos impactos sócio-ambientais. As ações nesta Área de Planejamento se revelam de cunho corretivo quando da avaliação urbano-ambiental. A AP 5, por se tratar de uma grande unidade espacial de planejamento, além de se constituir uma zona de ocupação territorial historicamente diferenciada da AP 2, representa um desafio para os gestores da cidade, demonstrando que o Rio de Janeiro abarca distintos vetores de pressão no meio urbano. Na AP 5 as significativas alterações ambientais ocorrentes, inclusive, em estratos de ocupação desordenada representam um desafio para o ordenamento territorial. A análise dos indicadores de resposta nos remete às ações de cunho 148 preventivo e corretivo, podendo ser ampliadas e/ou revistas através de novas propostas de planejamento ambiental. Para a AP 5 a ocupação de áreas ainda sem uso deve ser orientada, evitando o uso e ocupação inadequados do solo que causam impactos ambientais. Convém ressaltar a negligência de organismos competentes em ignorar o meio físico e suas restrições de uso, atendendo prioritariamente às necessidades econômicas e políticas, uma vez que a legislação em vigor – Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro – determina as diretrizes para uso e ocupação dos solos. Nos discursos teóricos (legislativos), o meio ambiente sadio é direito de todos. Ao avaliar duas áreas territoriais e antagônicas e socialmente distintas na cidade, percebem-se formas diferenciadas de se lidar com a temática ambiental por partes da sociedade, e isto, sem dúvidas, torna-se impregnado no espaço geográfico. Não entrando numa seara de percepção, mas sim de ação, avalia-se que os discursos de proteção, muitas vezes, convém a interesses isolados. Nesse sentido, os estudos e ações envolvendo o meio ambiente devem contemplar a participação universal da sociedade, para que assim haja o real acesso de todos a um ambiente sadio e democratização dos interesses. Porém, o discurso atualmente ainda pode ser interpretado como muito mais teórico do que prático, já que, como exposto durante todo este trabalho, as políticas se tornam seletivas e o direito ambiental não é vivenciado pela grande parte da população carioca. A proposição de planos e projetos para a AP 5 são válidos, porém as ações se concentram na AP 2. Aliando o acelerado processo de ocupação e crescimento da pressão antrópica com a vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros - não temendo com isto um discurso recorrente - é válido se pensar em formas de avaliação e gestão dos espaços costeiros. Partindo de uma visão crítica, ressalta-se a pouca atenção dispensada à política de gerenciamento costeiro em nível regional e local, considerando a presente área de estudo. Os conflitos de uso do solo nesta metrópole costeira não devem ser pensados como um entrave para ação de gestão da zona costeira, mas sim um estímulo para tal, dada a importância econômica do Rio de Janeiro no cenário nacional, como uma cidade atrativa de fluxos, seu diversificado quadro social, além de suas peculiaridades físicas e potencialidades ambientais. O conflito de interesses entre a população residente e o mercado imobiliário na AP 2, assim como as áreas não ocupadas necessitando de um direcionamento de uso na AP 5, por exemplo, podem ilustrar um desafio real para o planejamento e a gestão territorial no município, levando em consideração a formalização de um futuro PMGC integrando a política ambiental e urbana, e considerando as particularidades espaciais de cada área. 149 A modelagem da base e banco de dados RJ/AP´s 2 e 5 tem possibilitado a utilização de um instrumento potencialmente indicado para a geração de produtos e monitoramento espacial, afim de contribuir metodologicamente a futuras ações envolvendo um sistema municipal de informações do gerenciamento costeiro. O uso da técnica é imprescindível aos geógrafos, tanto no sentido da avaliação como no da projeção em estudos. Assim sendo, pensar na continuidade do avanço das técnicas, na melhoria dos instrumentos informacionais torna-se uma atividade intrínseca à utilização dos mesmos, já que para cada pesquisa e futuras contribuições agregam-se novos desafios, novos olhares. Convém salientar que o presente trabalho não esgota a temática apresentada, deixando lacunas para estudos posteriores, observando o amplo leque de possibilidades analíticas envolvendo o uso das ferramentas do geoprocessamento frente a uma matriz de indicadores que abarca em si complexidade e um grande volume de informações. A função de “Avaliação ambiental”, não utilizada neste estudo, pode ser considerada uma poderosa aliada na prevenção de impactos ao aferir cenários futuros. Sendo assim, o programa Vista-SAGA compreende um leque de possibilidades para a análise ambiental e balizador de indicadores em qualquer tipo de modelo de avaliação urbano-ambiental. A contribuição do Vista-SAGA e Vicon-SAGA para o SIGERCO/RJ pode ser ainda mais exaltada, não só conforme já avaliado neste estudo, mas também relembrando a modelagem destes programas interoperáveis, ao combinar análise, avaliação, e subsídios para a tomada de decisão, que, sem dúvidas, são o cerne de um sistema de informações do gerenciamento costeiro. A temática ambiental, torna-se cada vez mais difundida, e, ao mesmo tempo complexa, pois não há como não considerar em uma análise os processos interativos do território, com destaque para as relações sociais, ações dos distintos atores sociais, e estado do meio ambiente, dinâmicas naturais e induzidas. Seria oportuno exclamar mais uma vez, a importância da formação do geógrafo na consideração de todos estes aspectos. Por fim, cumpre mencionar que as unidades territoriais avaliadas neste estudo podem, e devem, ser desmembradas em diferentes maneiras, sob diversas perspectivas e olhares, como permite a própria amplitude da ciência geográfica. 150 REFERÊNCIAS ABREU, M. de A. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. 3. ed. Rio de Janeiro: IPLANRIO, 1997. 156 p. AFONSO, C. M. Uso e ocupação do solo na zona costeira do Estado de São Paulo: uma análise ambiental. São Paulo: Annablume – FAPESP, 1999. 186 p. ARAUJO, G. H. S.; ALMEIDA, J. R.; GUERRA, A. J. T. Gestão Ambiental de áreas degradadas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 320 p. ARGENTO, M. S. F.; VIEIRA, A. C. O impacto ambiental na praia de Sepetiba. In: Congresso Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente, III, 1989, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 1989. p. 187-201. BERNARDES, J. A.; FERREIRA, F. P. de M. Sociedade e natureza. In: CUNHA, S. B da.; GUERRA, A. J. T. (Org). A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 17-42. BRANDÃO, A. M. P. M. Clima urbano e enchentes na Cidade do Rio de Janeiro. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. da. (Org). Impactos ambientais urbanos no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 47-109. BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 5.300 de 7 de dezembro de 2004. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Decreto/D5300.htm>. Acesso em: 18 agosto 2007. BREDARIOL, C. & VIEIRA, L. Cidadania e Política Ambiental. Rio de Janeiro - São Paulo, Editora Record, 1998. CÂMARA, G. et al. Conceitos básicos em ciência da Geoinformação. In: Fundamentos de Geoprocessamento. São José dos Campos: INPE, 2000. 35 p. CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M. V. Geoprocessamento em Projetos ambientais. São José dos Campos: INPE, 2004. 13 p. CARVALHO, Paulo Gonzaga M. As dimensões do Desenvolvimento Sustentável. Jornal dos Economistas, Rio de Janeiro, nov. 2003. Indicadores, p. 5. 151 CÉZAR. Novas tendências demográficas na cidade do Rio de Janeiro: Resultados Preliminares do Censo 2000. Coleção Estudos da Cidade, PCRJ. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. 58 p. CHRISTOFOLETTI, A. Impactos no meio ambiente ocasionados pela urbanização no mundo tropical. In: SOUZA, M. A. de. et al. (Org). Natureza e sociedade de hoje: uma leitura geográfica. 3. ed. São Paulo: HUCITEC, 1997. p. 127-138. CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 236 p. CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro. Informações cartográficas. Disponível em: <http://www.cide.rj.gov.br/mapas_estado.php>. Acesso em: 20 novembro 2007. COELHO, M. C. N. Impactos ambientais em áreas urbanas – Teorias, conceitos e métodos de pesquisa. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. da. (Org). Impactos ambientais urbanos no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 19-45. COMPUR – Conselho Municipal de Política Urbana da Cidade do Rio de Janeiro. Projeto de Lei Complementar nº 25/2001. Disponível em: <http://www2.rio.rj.gov.br/smu/compur/compur.html>. Acesso em: 15 junho 2007. CONAMA. Resoluções do CONAMA por ano. Disponível em: <http://www.lei.adv.br/conama01.htm>. Acesso em: 01 dezembro 2007. CONCEIÇÃO, R. S. et al. Relatório de Campo sobre Aspectos Costeiros no Rio de Janeiro Sepetiba. Disciplina de Geomorfologia Costeira (Graduação em Gografia). Rio de Janeiro: UERJ, 2004. 18 p. No prelo. CONCEIÇÃO, R. S. Avaliação integrada de área urbana costeira com o suporte do geoprocessamento - Estudo de caso: bairro do Leblon, Rio de Janeiro- RJ. (2006). 127 f. Monografia (Graduação em Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. CONCEIÇÃO, R. S.; DORNELLES, L. M. A. Análise e tratamento de microdados e informações sociais e ambientais na avaliação integrada de área urbana costeira: um estudo de caso sobre o bairro do Leblon – RJ. In: Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, II, 2006, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: IBGE, 2006. p. 1-16. 152 ______. Avaliação urbano-ambiental em Áreas de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro, RJ – Brasil, com suporte do geoprocessamento. (2007a). Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, XII, 2007a, Natal. Anais... Natal: UFRN, 2007a. CD-ROM. ______. Avaliação urbano-ambiental das Áreas de Planejamento 2 e 5 da cidade do Rio de Janeiro, RJ - Brasil, com suporte do geoprocessamento. (2007b). Encontro Nacional da ANPEGE, VII, 2007b, Niterói. Anais... Niterói: UFF, 2007b. CD-ROM. CONSÓRCIO PARCERIA 21. Metodologia para elaboração de Informes GEO Cidades: manual de aplicação. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM/ Instituto de Estudos da Religião - ISER/ Rede de Desenvolvimento Humano REDEH, 2002. CORRÊA, R. L. O Espaço Urbano. 4. ed. São Paulo: Ática, 1995. 96 p. COSTA, V. C. da. Análise do potencial turístico nas Regiões Administrativas (RA’s) de Campo Grande e Guaratiba - RJ. 2002, 189f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Curso de Pós-Graduação em Geografia, UFRJ. Rio de Janeiro, 2002. COSTA, V. C. da. Propostas de manejo e planejamento ambiental de trilhas ecoturísticas: Um estudo no Maciço da Pedra Branca – Município do Rio de Janeiro (RJ). 2006, 325f. Tese (Doutorado em Geografia) – Curso de Pós-Graduação em Geografia, UFRJ. Rio de Janeiro, 325. COUTINHO R. do L. Direito Ambiental das Cidades: Questões Teórico - Metodológicas. In: COUTINHO, R.; ROCCO, R. (Orgs.). O direito ambiental das cidades. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 17-59. CRESPO, S.; LA ROVERE, A. L. N. (coord.). Projeto GEO cidades - Relatório urbano integrado: Informe GEO. Rio de Janeiro: Consórcio Parceria 21, 2002. 193 p. CRUZ, C. B. M.; PINA, M. F. Fundamentos de Cartografia. Rio de Janeiro: CEGEOP/UFRJ, 1999. Unidades 10, 20 e 21. CD-ROM. CUNHA, L. H.; COELHO, M, C. N. Política e gestão ambiental. In: CUNHA, S. B da.; GUERRA, A. J. T. (Org). A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 43-79. 153 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Decreto n.º 27641 de 5 de março de 2007. In: Atos do Prefeito. Disponível em <http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgibin/om_isapi.dll?infobase=06032007.nfo&jump=04&softpag e=_recs#JUMPDEST_04>. Acesso em: 20 dezembro 2007. DIAS, G. F. Populações marginais em ecossistemas urbanos. 2. ed. Brasília: IBAMA, 1994. 157 p. DORNELAS, H. L. Entre o mar e a montanha: o papel das cidades na implementação do gerenciamento costeiro. In: COUTINHO, R.; ROCCO, R. (Orgs.). O direito ambiental das cidades. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 143-171. DORNELLES, L. M. A. Projeto ORLE: Subsídios à gestão integrada da orla marítima do bairro do Leblon, RJ. Rio de Janeiro: Prociência – 2005 (Processo de seleção), 2005. 72p. EGLER, C. A. G. Macrodiagnóstico da Zona Costeira na Escala da União. In: Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, 2002, Santos. Anais... Santos: Agência Costeira, 2002. p. 84-86. FEEMA – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Gerenciamento Costeiro. Disponível em <http://www.feema.rj.gov.br/gerenciamento_costeiro.htm>. Acesso em: 10 setembro 2007. FILHO, S. S. A. et al. Análise e proposição de um modelo de indicadores de sustentabilidade ambiental. Análise & Dados. Salvador, v. XIV, n. 4, p. 733-744, mar 2005. FRANCA, L. P. Indicadores ambientais urbanos: Revisão da literatura. Rio de Janeiro: Consórcio Parceria 21, 2001. 32 p. FRANCO, M. de A. R. Planejamento ambiental para a cidade sustentável. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001. 296p. FUKS, Mario. Conflitos ambientais no Rio de Janeiro: ação e debate nas arenas públicas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. 243 p. GAMA, S. V. G. da. Mapeamento digital de (in)compatibilidades do Uso dos Solos da XIX RA Santa Cruz - Município do Rio de Janeiro. 1998. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1998. 154 GOMES, E. T. A. Inquietação em torno do debate sociedade-natureza no espaço da cidade. In: SOUZA, M. A. de. et al. (Org). Natureza e sociedade de hoje: Uma leitura geográfica. 3. ed. São Paulo: HUCITEC, 1997. p. 146-152. GONÇALVES, C. W. P. Formação sócio-espacial e questão ambiental no Brasil. In: BECKER, B. K. et al. (Org.). Geografia e Meio ambiente no Brasil. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. p. 309-333. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados do Censo demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. CD - ROM. ______. Mapas interativos. Disponível em: < http://mapas.ibge.gov.br/>. Acesso em: 30 setembro 2007. IPP – Instituto Pereira Passos. (2005a). Indicadores Ambientais da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Urbanismo / Pereira Passos, 2005a. 178 p. ______. (2005b). Informações da cidade do Rio de Janeiro para subsidiar a câmara dos vereadores no processo de elaboração do plano diretor. Rio de Janeiro: Urbanismo / Pereira Passos, 2005b. 43 p. ______. Informações da cidade. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/armazemdedados>. Acesso em: 22 setembro 2007. LAGEOP – Laboratório de Geoprocessamento. Manual Operacional do Programa Vista SAGA. Rio de Janeiro: LAGEOP / UFRJ, 2007. 64 p. ______. Manual Operacional do Programa Vicon SAGA. Rio de Janeiro: LAGEOP / UFRJ, 2005. 43 p. LANNA, A. E. L. Gerenciamento de bacia hidrográfica: aspectos conceituais e metodológicos. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Brasília: 1995. 171p. LEMOS, H. M. Programa GEO Cidades - PNUMA. Painel sobre Qualidade de Vida Urbana – ACRJ. Rio de Janeiro: 2006. 24 p. 155 MARINO, T. B. Vista Saga 2005: Sistema de Análise Geo-Ambiental. (2005). 72 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. MARQUES, J. R. Meio ambiente urbano. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. 233 p. MATIAS, Lindon Fonseca. Por uma economia política das geotecnologias. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, v. VIII, n. 170, 2004. MENDONÇA, F. de A. Geografia e meio ambiente. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 80 p. ______. Geografia Física: Ciência Humana?. 3. Ed. São Paulo: Contexto, 1992. 72 p. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Relatório GEO Brasil: Áreas urbanas e industriais. Brasília: PNUMA, MMA, Consórcio Parceria 21, 2002. 86 p. ______. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sqa/projeto/gerco/planocac.html>. Acesso em: 10 junho 2007. MMA – Ministério do Meio Ambiente; MP – Ministério do Planejamento. Projeto Orla: fundamentos para gestão integrada. Brasília: MMA/SQA; Brasília: MP/SPU, 2002. 78p. MORAES, A. C. R. Meio Ambiente e Ciências Humanas. 4. Ed. São Paulo: Annablume, 2005. 162p. ______. Contribuições para a gestão da zona costeira do Brasil: elementos para uma geografia do litoral brasileiro. São Paulo: Hucitec, Edusp, 1999. 229 p. MOURA, A. C. M. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. Belo Horizonte: Ed. da autora, 2003. 293 p. NAKANO, K. (coord). Projeto Orla: implementação em territórios com urbanização consolidada. Coordenação de Kazuo Nakano. — São Paulo: Instituto Polis; Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2006. 80 p. NEPGEO - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento. ArcGis 9.0 – Apostila. Rio de Janeiro: LAGEPRO / UERJ, 2007. No prelo. 156 PCRJ – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Lei Complementar nº16, de 04 de junho de 1992. Dispõe sobre a política urbana do município, institui o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, e da outras providências. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 1 de julho de 1992. ______. Programa de monitoramento dos ecossistemas costeiros urbanos do Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Informações Ambientais, 1998. 48p. ______. Mapeamento e Caracterização do Uso das Terras e Cobertura Vegetal no Município do Rio de Janeiro entre os anos de 1984 e 1999. Rio de Janeiro: PCRJ - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2000. 75 p. ______. Meio ambiente e sustentabilidade. Rio Estudos, Rio de Janeiro, nº 9, p. 1-20, abr. 2001. ______. Retrato das Regiões: Tijuca / Vila Isabel. In: Plano Estratégico 2001/2004. Rio de Janeiro, 2004a. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/>. Acesso em: 10 novembro 2007. ______. Retrato das Regiões: Zona Sul. In: Plano Estratégico 2001/2004. Rio de Janeiro, 2004b. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/>. Acesso em: 10 novembro 2007. ______. Retrato das Regiões: Bangu. In: Plano Estratégico 2001/2004. Rio de Janeiro, 2004c. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/>. Acesso em: 10 novembro 2007. ______. Retrato das Regiões: Campo Grande. In: Plano Estratégico 2001/2004. Rio de Janeiro, 2004d. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/>. Acesso em: 10 novembro 2007. ______. Nota técnica nº13 do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. Rio Estudos, Rio de Janeiro, nº 141, p. 1-14, nov. 2004e. ______. Breve relato sobre a formação das Divisões Administrativas na Cidade do Rio de Janeiro – Período de 1961 a 2006. Rio de Janeiro: PCRJ - Secretaria Municipal de Urbanismo, 2006. 69 p. PINA, Maria de Fátima de; SANTOS, Simone M. Conceitos básicos de Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia aplicados à saúde. Brasília: OPAS, 2000. 121 p. 157 PMSP – Prefeitura do Município de São Paulo, PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. GEO Cidade de São Paulo: Panorama do meio ambiente urbano. São Paulo: PMSP - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; Brasília: PNUMA, 2004. 198 p. POLETTE, M. Estratégia de envolvimento dos diversos atores no âmbito municipal para a implementação das diretrizes do projeto ORLA. Ministério do Meio Ambiente, 2000. 36 p. RIBEIRO, M. A. Ecologizar: Pensando o ambiente humano. Belo Horizonte: Rona, 1998. 392p. RIO-ÁGUAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Saneando Sepetiba. Disponível em: <http://obras.rio.rj.gov.br/>. Acesso em: 14 outubro 2007. ROCHA. César H. Barra. Geoprocessamento: Tecnologia Transdisciplinar. Juiz de Fora: [s. n.], 2000. 220 p. ROMERO, Marta A. Bustos et al. Indicadores de sustentabilidade dos espaços públicos urbanos: Aspectos metodológicos e atributos das estruturas urbanas. In: Seminário A Questão Ambiental Urbana: Experiências e Perspectivas, 2004, Brasília. 21 p. SANTOS, M. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. 142 p. SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 308 p. SANTOS, R. F. dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 184 p. SEDECT - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Aspectos Ambientais - Informações Municipais Básicas. In: Plano de Desenvolvimento Rural / Relatório de Diagnóstico Setorial. Disponível em: <www.rio.rj.gov.br/sedect/PMDR%20Municipio%20do%20Rio/Relatorio%202/Aspectos%2 0Ambientais.doc>. Acesso em: 28 novembro 2007. SERAFINI, L. Z. O zoneamento costeiro e as competências municipais: Uma análise à luz da legislação ambiental brasileira. Disponível em: <http://www.ibap.org/teses2004/teses2004d26.doc>. Acesso em: 01 maio 2007. 158 SEESB - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Indicadores de sustentabilidade ambiental. Salvador: Série estudos e pesquisas - SEI, 2006. 83 p. SILVA, M. L. G. da. Análise da Qualidade Ambiental Urbana da Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição. 2002, 111f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC. Florianópolis, 2002. SILVA, Rovedy A. Busquim. Interoperabilidade na representação de dados geográficos: GEOBR e GML 3.0 no contexto da realidade dos dados geográficos no Brasil. 2003, 146f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) – Curso de Pós-Graduação em Computação Aplicada, INPE. São José dos Campos, 2003. SMAC – Secretaria de Meio Ambiente. Informações Ambientais. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/smac>. Acesso em: 10 junho 2007. SMU – Secretaria de Urbanismo. Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/smu>. Acesso em: 10 junho 2007. TAYRA, F.; RIBEIRO, H. Modelos de indicadores de sustentabilidade: síntese e avaliação crítica das principais experiências. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. XV, n. 1, p.84-95, janabr 2006. THOMÉ, R. Interoperabilidade em Geoprocessamento: Conversão entre Modelos Conceituais de Sistemas de Informação Geográfica e comparação com o Padrão Open Gis. 1998, 188f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) – Curso de Pós-Graduação em Computação Aplicada, INPE. São José dos Campos, 1998. VESENTINI, J. W. Geografia, natureza e sociedade. São Paulo: Contexto, 1992. 91p. VILLAÇA, F. Espaço Intra-urbano no Brasil. 2. ed. São Paulo: FAPESP, 2001. 376 p. XAVIER-DA-SILVA, J. Geoprocessamento para Análise Ambiental. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2001. 228 p. 159 APÊNDICE A - Tutorial para conversão de arquivos shape (*Shp) do Arcview 9.0 para Raster (*Rs2) do SAGA. Este tutorial visa demonstrar passo a passo o processo de conversão de formatos vetorial para matricial (raster). Tal objetivo surgiu através da necessidade em se transformar os arquivos digitais das bases de informação em formato shape (*shp) do Arcview para o formato raster (*rs2) do Saga, para futuras análises de tais bases no programa Vista-SAGA e outros. Inicialmente, pode-se revelar a metodologia utilizada de uma maneira geral: o processo irá se basear na exportação da base de informação a ser rasterizada em formato de figura (*tif) junto ao Arcview 9.0 para posterior importação junto ao Vista – SAGA 2007, compreendendo em tal as etapas de georeferenciamento da imagem, reconhecimento das cores da mesma e autoclassificação da legenda. ETAPAS: 1) No programa Arcview, abrir a base de dados a qual deseja converter para raster; 2) Em “Camadas”, selecionar na legenda cada uma das feições (ocorrências) e na opção “cor de contorno” escolher “sem cor”; 160 Tal procedimento deve ser realizado para que futuramente, durante a indexação de cores o Vista-SAGA não interprete a cor de contorno das feições. 3) Mantendo a janela do programa Arcview aberta, abrir também o programa Vista-SAGA; 4) Na opção “Ferramentas” selecionar “Obter resolução de entrada”; 161 Irá surgir a seguinte tela: 5) Na tela de “Cálculo da Resolução de Entrada”, preencher os campos de escala da camada aberta no Arcview e a resolução desejada; 162 Clique em “Calcular” para obter a resolução de exportação da imagem junto ao Arcview. 6) Voltando ao Arcview, selecione em “Arquivo” a opção “exportar mapa”; 7) Na janela que irá se abrir, escolha o diretório de armazenamento e o nome do arquivo. Escolha o tipo de imagem *TIFF em “salvar como”. Entre com a resolução obtida anteriormente no Vista-SAGA e salve a imagem; 163 8) No programa Vista-SAGA clique no módulo “Criar Rs2” 164 9) Já dentro do módulo, em “Imagem” selecione “abrir”; 10) Busque o diretório no qual foi salvo o arquivo *TIFF exportado no Arcview, e clique em “abrir”; A imagem surgirá na tela: 165 11) Novamente em “Imagem” selecione a opção “Georreferenciar mapa”; 166 Irá surgir a seguinte tela: 12) Clique em “ok” e, com a ferramenta zoom, escolha um ponto para informar as coordenadas UTM; Escolha o ponto de acordo com uma borda de feição, ou encontro entre feições, etc, que facilitem a identificação do ponto. Acompanhe as coordenadas junto ao Arcview. 13) Com o cursor (em forma de cruzeta) clique sobre o ponto desejado; 167 14) Preencha os campos de “Latitude” e “Longitude” (UTM) e de “Resolução”, que deverá ser a mesma resolução (em metros) outrora indicada. Clique em “Georreferenciar”; Observe que a partir do primeiro ponto a imagem já está georreferenciada: Convenciona-se indicar outros pontos para uma maior precisão do georreferenciamento. 15) Na barra de menu, selecione a opção “Raster” e clique em “Novo”; 168 Perceba que a tela de visualização da imagem ficará escura. Isto se dá porque o programa sobrepõe sobre a imagem um plano de fundo, como uma tela de pintura sobre a base. 169 16) Novamente em “Raster” escolha a opção “Auto classificar legendas”; Automaticamente, o programa irá reconhecer todas as cores contidas na imagem, representando cada categoria ou ocorrência, e para cada uma irá uma categoria na legenda. Com um duplo clique sobre uma categoria na legenda, têm-se a opção de renomeá-las*. 170 • Para uma mapa de uso do solo, por exemplo, basta indicar o nome da classe de uso do solo correspondente à cor. 17) Em “Raster” no menu principal, escolha “Salvar”; Irá surgir a tela para escolha do diretório de armazenamento e nomeação do arquivo raster a ser salvo: 171 Finaliza assim o processo de conversão do arquivo de imagem digital exportado do Arcview para o formato digital raster. Sendo assim, a base raster já se encontra disponível para futuras análises junto aos módulos de análise ambiental do Vista-SAGA. 172 APÊNDICE B – CD-ROM contendo a Base e Banco de Dados Raster das AP’s 2 e 5 da Cidade do Rio de Janeiro. 173 ANEXO A - Resumo da legislação das Divisões Administrativas da Cidade do Rio de Janeiro por Áreas de Planejamento (2 e 5), segundo suas Regiões Administrativas e Bairros. Área de Planejamento 2 Regiões Administrativas IV RA BOTAFOGO V RA COPACABANA Legislação de RA Código e nome do Bairro Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 015 e alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 VI RA LAGOA Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 016 Glória 017 Laranjeiras 018 Catete 019 Cosme Velho Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 020 Botafogo Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 021 Humaitá Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 022 Urca Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 023 e alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 024 VI RA LAGOA Flamengo Legislação de Bairros Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 025 de 23 de agosto de 1985 e pela Lei No 1995 de 18 de junho de 1993, que delimita a RA e o Bairro da Rocinha Leme Copacabana Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Ipanema Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 026 Leblon Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 027 Lagoa Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 028 Jardim Botânico Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 029 Gávea Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 e pela Lei No 1995/93, que delimita a RA e Bairro da Rocinha 174 VIII RA TIJUCA IX RA VILA ISABEL XXVII RA ROCINHA 030 Vidigal Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 e pela Lei No 1995/93, que delimita a RA e Bairro da Rocinha 031 São Conrado Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 e pela Lei No 1995 de 18 de junho de 1993, que delimita a RA e Bairro da Rocinha Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 032 e alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Praça da Bandeira 033 Tijuca 034 Alto da Boa Vista Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 035 e alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Maracanã 036 Vila Isabel 037 Andaraí 038 Grajaú Criada pelo Decreto No 6011de 4 de agosto de 1986 e Delimitada pela Lei 154 No 1995 de 18 de junho de 1993, modificando o limite da RA da Lagoa Rocinha Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Criado e Delimitado pela Lei No 1995 de 18 de junho de 1993, alterndo os limites dos bairros de Gávea; Vidigal e São Conrado. Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - Diretoria de Informações Geográficas IPP/DIG Pesquisa realizada em Decretos e Leis publicadas no Diário Oficial Notas: 1 - Estão aqui retratadas as legislações que determinam atualmente os limites dos Bairros, Regiões administrativas e Áreas de Planejamento Retratamos esta realidade a partir do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985, considerando suas alterações até a Lei No 3852 de 23 de novembro de 2004 2 - Ver também em www.armazemdedados.rio.rj.gov.br texto "Breve relato sobre a Formação das Divisões Administrativas na Cidade do Rio de Janeiro - 1961 a 2006 Legenda Estrutura Administrativa que teve alteração de limite ou de organização interna 175 Área de Planejamento 5 Regiões Administrativas XVII RA BANGU XVIII RA CAMPO GRANDE XIX RA SANTA CRUZ Legislação de RA Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985. Sendo seus limites retificados pelo DecretoNo 8095 de 8 de setembro de 1988 e pela Lei No 2654 de 5 de junho de 1998, que 140 retira os bairros de Deodoro; Vila Militar; Campo dos Afonsos; Jardim Sulacap; Magalhães Bastos e Realengo, para a RA de Realengo.Tem sua composição de bairros alterada devido à criação do bairro de Gericinó, pela Lei Nº 3852 de 23 de Novembro de 2004. Bangu 142 Senador Camará 160 Gericinó Campo Grande 145 Senador Vasconcelos 146 Inhoaíba 147 Cosmos Santa Cruz 150 Sepetiba Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 151 1981 e alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 153 Criada pela Lei No 2654 de 5 de junho de 1998, incorpora os bairros de Deodoro; Vila Militar; Campo dos Afonsos; Jardim Sulacap; Magalhães Bastos e Realengo, que estavam na RA de Bangu Paciência 149 152 XXXIII RA REALENGO Santíssimo 144 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 148 1981 e alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 134 Legislação de Bairros Padre Miguel 141 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 143 1981 e alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 XIX RA SANTA CRUZ XXVI RA GUARATIBA Código e nome do Bairro Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985, com alteração pela Lei No 3852 de 23 de Novembro de 2004, que cria o bairro de Gericinó Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Criado pela Lei No 3852 de 23 de Novembro de 2004, e que altera o limite do bairro Bangu Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Barra de Guaratiba Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Pedra de Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Guaratiba Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Guaratiba Deodoro Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 176 135 Vila Militar 136 Campo dos Afonsos 137 Jardim Sulacap 138 Magalhães Bastos 139 Realengo Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Denominação; delimitação e codificação estabelecida pelo Dec.No 3158 de 23 de julho de 1981 com alterações do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985 Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - Diretoria de Informações Geográficas - IPP/DIG Pesquisa realizada em Decretos e Leis publicadas no Diário Oficial Notas: 1 - Estão aqui retratadas as legislações que determinam atualmente os limites dos Bairros, Regiões administrativas e Áreas de Planejamento Retratamos esta realidade a partir do Decreto No 5280 de 23 de agosto de 1985, considerando suas alterações até a Lei No 3852 de 23 de novembro de 2004 2 - Ver também em www.armazemdedados.rio.rj.gov.br texto "Breve relato sobre a Formação das Divisões Administrativas na Cidade do Rio de Janeiro - 1961 a 2006 Legenda Estrutura Administrativa que teve alteração de limite ou de organização interna Fonte: Armazém de dados – IPP (2007). 177 ANEXO B - Evolução Percentual das áreas antrópicas no Município do Rio de Janeiro – 1984-2001, com enfoque para as AP’s 2 e 5. Áreas antrópicas (%) Ano Área de Área total Área total 1984 1988 1992 1996 2001 100% 64,9 65, 9 67,0 68,6 70,3 3 439,5 2,8% 87,0 87,3 87,3 87,3 86,8 AP-2 10 043,3 8,2% 44,8 44,9 45,7 46,3 46,6 AP-3 20 349,1 16,6% 94,4 94,5 94,9 95,4 95,9 AP-4 29 378,3 24% 39,6 41,5 45,3 48,1 48,9 AP-5 59 245,7 48,4% 69,4 69,9 70,7 72,3 75,2 Planejamento (ha) (%) Município 122 455,9 AP-1 Fonte: Adaptado de IPP (2005b, p. 67).
Download