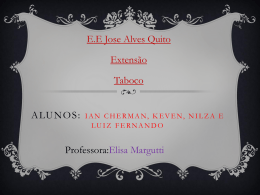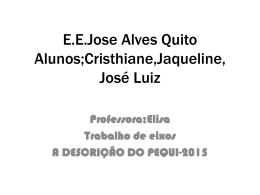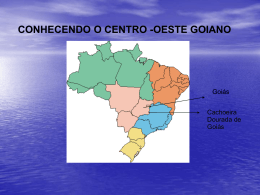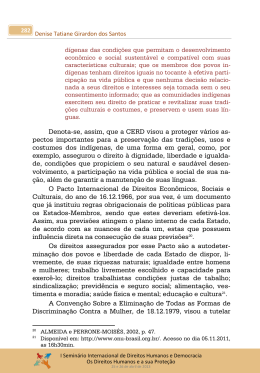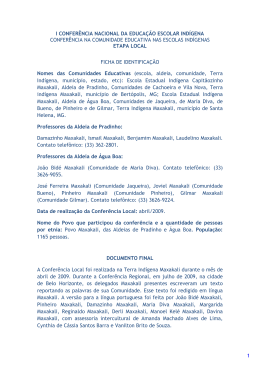1 2 Expediente Faculdades São Sebastião Rua Agripino José do Nascimento, 177 Vila Amélia – São Sebastião – SP CEP11600-00 www.unibrsaoseba.com.br Tel. (12) 3893-3100 Mantenedor Profa. Maria Amélia Governo Merlin Diretor Geral Prof. Fábio Merlin Diretor Acadêmico Prof. Ms. Leandro José Giovanni Boaretto Revista Acadêmica www.unibrsaoseba.com.br ISNN 2175-4659 A Revista Acadêmica é uma publicação semestral, de caráter multidisciplinar. Diretor: Prof. Dr. Álvaro Cardoso Gomes Conselho Editorial Prof. Dr. Álvaro Cardoso Gomes Prof. Ms. Leandro José Giovanni Boaretto Prof. Dr. Silas D’Ávila Silva 3 Apresentação Como toda Instituição de Ensino que se preze, as Faculdades São Sebastião, desde a sua fundação, procuraram acentuar seu compromisso com a educação superior, com a divulgação da cultura e com a produção científica. Desse modo, a criação de um órgão, que divulgasse trabalhos acadêmicos de seus docentes (e de docentes de outras instituições nacionais e estrangeiras), veio se mostrando como algo imperioso, o que fez que seus gestores investissem na criação de uma publicação on-line – a Revista Acadêmica –, cujo fim seria o de apresentar o que de mais atual houvesse no plano da pesquisa e da produção científica. Vem daí que a revista tenha sido planejada com um caráter propositadamente multidisciplinar, reunindo, já neste primeiro número, artigos de diferentes áreas. São Sebastião, verão de 2009. Prof. Dr. Álvaro Cardoso Gomes Diretor 4 Sumário ARTIGOS 1. Algumas considerações sobre os Maxakali “Aldeia Verde”, município de Ladainha, MG, p. 6 Taís Cangussu Galvão ALVES Marivaldo Aparecido de CARVALHO 2. Representações e cenários de coletores de pequi (lontra, norte de Minas Gerais), p. 18 Maria Antonia Ferreira ANDRADE Marília Gomes Ghizzi GODOY 3. Linguística e estudo de literatura, p. 38 Milton M. AZEVEDO 3. Literatura e ciências: o caso de Émile Zola, p. 51 Álvaro Cardoso GOMES 4. Indígenas e portugueses nos primórdios de São Paulo, p. 68 Benedito Antônio Genofre PREZIA 5. O Conceito metafórico explicitado pelas marcas linguísticas na lenda “A Salamanca do Jarau”, p. 99 Roseliane SALEME RESENHA Um romance noir brasileiro: O comando negro, de Álvaro Cardoso Gomes, p. 118. Por Milton M. Azevedo em 29/09/2009 NORMAS EDITORIAIS, p. 121 5 ARTIGOS 6 Algumas considerações sobre os Maxakali “Aldeia Verde”, município de Ladainha, MG Taís Cangussu Galvão ALVES Marivaldo Aparecido de CARVALHO * Resumo: O Povo Indígena Maxakali, ou Povo do Canto, que hoje encontra-se dividido em quatro aldeias situadas no Vale do Mucuri, Minas Gerais, é apontado por vários pesquisadores como uma das poucas tribos do Nordeste Mineiro, que conservou aspectos consideráveis de sua cultura. Originários da Região Sudeste da Bahia, este grupo refugiou-se nas Matas do Mucuri a partir do avanço da sociedade dominante. Na concepção religiosa Maxakali, a mata e os diversos elementos que a compõem constroem, juntamente com o sobrenatural, as concepções de mundo dentro da aldeia, justificando as ações dos indivíduos e do coletivo. Neste sentido, o universo Maxakali apresenta uma forma diferente, da “nossa forma ocidental”, de relação com a natureza. Apoio FAPEMIG (Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais). Palavras-Chave: Maxakali, Vale do Mucuri, Natureza, Território, Colonização. 1. A colonização dos vales de Jequtinhonha e Mucuri e a resistência dos povos nativos Os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri são duas regiões situadas no Norte e Nordeste de Minas Gerais abrangendo também Espirito Santo e a Bahia, que ao fim de Séc. XVIII e início do Séc. XIX eram povoadas por várias tribos indígenas, que viviam nas matas ainda intocadas pelos colonizadores. Os pesquisadores europeus que percorreram a região após a abertura dos portos foram os que produziram os primeiros relatos do ambiente e do modo de vida destas populações, a partir de uma visão etnocêntrica1, obviamente. É comum encontrar nos relatos de alguns destes viajantes, a discussão sobre a humanidade ou não destes índios, expressando assim a idéia de superioridade da sua cultura e afirmando o modelo europeu de civilização como o único realmente humano e que deveria ser seguido. O processo de colonização destas regiões * Discente do curso de Serviço Social da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e MucuriUFVJM e aluna de Iniciação Cientifica da: Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Minas GeraisFAPEMIG; Sociólogo UNEPS-Araraquara/SP, docente da Faculdade de Ciências Biológica e da Saúde/ Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. 1 Conferir Missagia de Mattos, 2004 e Duarte, 2002. 7 teve suas especificidades, mas havia um ponto em comum: os indígenas eram vistos como obstáculos que deveriam ser superados através de uma política indigenista agressiva. Com a independência do país, a violência para com as populações indígenas foi intensificada a partir do projeto de construção da nacionalidade, através da tentativa de homogeneizar a língua, a religião e a cultura, para que fosse consolidado o Estado Brasileiro, também nos sertões do leste. A colonização do Vale do Jequitinhonha se deu a partir do Séc. XVIII, tendo como principal atividade econômica a extração mineral, o que acabou exigindo grande número de escravos, que somados a aventureiros em busca de ouro e diamantes, fizeram com que a região apresentasse uma densidade demográfica relativamente grande. Neste sentido os povos indígenas que ocupavam a região tiveram que lutar de forma desigual com a frente exploratória, refugiar-se em outros territórios, como o Vale do Mucuri, ou submeter-se ao trabalho compulsório. O que aconteceu, porém, foi o trucidamento daqueles que resistiram de forma direta, ou mesmo que submissos ousaram permanecer na região. Já o Vale do Mucuri foi colonizado tardiamente, também de forma violenta, porém em condições diferentes. Esta região esteve isolada até metade do Séc. XIX devido a vários motivos, como o insucesso na busca de ouro, o que fez com que a rota para a entrada no Sertão fosse abandonada, além da proibição por parte do Estado, da abertura de novas minas. Somente a partir de 1808, quando aconteceu a diminuição da quantidade de ouro extraído nas regiões auríferas, é que ocorreu de fato o investimento do Estado na colonização do Vale do Mucuri, com o intuito de adquirir novas formas de sustentação econômica. A região despontou como a solução para a crise que a colônia passava no momento, pois apresentava ampla possibilidade de exploração. Neste período surge o mito do índio Botocudo antropofágico, que era tido como cruel, selvagem, e que deveria ser exterminado, sendo que o Estado determinou através de Carta Régia a Guerra Justa contra os Botocudos, e o incentivo à colonização, alienando as terras dos indígenas, e estes passaram a ser oferecidos pelo Estado como mão de obra gratuita. Em 1847 surge um novo projeto de colonização, com a criação da Companhia de Colonização e Comércio do Mucuri, sob a direção de Teófilo Benedito Ottoni. O 8 projeto visava principalmente viabilizar o escoamento dos produtos através da comunicação entre a nascente e a foz do Rio Mucuri, porém era preciso inovar a política indigenista que vinha sendo efetuada. A proposta de Teófilo Ottoni (2002) era a de intensificar o aldeamento dos indígenas e introduzir nestes a prática da agricultura. Acreditava-se que a agricultura era uma vocação natural da humanidade, e os indígenas só não a realizavam porque não possuem instrumentos nem incentivo. A proposta da companhia era então de aldear, sedentarizar e civilizar as populações para que fossem reduzidos os conflitos e houvesse sucesso no empreendimento, o que de fato mesmo que com alguns problemas aconteceu. Agora a prioridade política não era combater os índios, mas aldeá-los e civilizá-los, o que significa sedentarizá-los, ensinar-lhe a falar o português e o catolicismo. Essa vertente política era perfeitamente ajustada aos interesses econômicos da classe dominante: liberar terras para a colonização e preparar mão-de-obra. Porém após denúncias de alguns viajantes como o Avé-Lallemant, a respeito da postura autoritária de Ottoni, como a imposição de trabalho escravo de chineses e de insalubridade e estado de pobreza dos colonos entre outras coisas, veio acontecer a falência da Companhia do Vale do Mucuri. O Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas passando a trabalhar no sentido de acelerar a expansão da agricultura e do comércio do país, após a falência da Companhia do Vale do Mucuri, passou a conceder melhores possibilidades aos colonos de expandir seu território, acarretando mais uma vez o surgimento de conflito e repressão para com os povos indígenas. A política indigenista, neste momento se voltou para a repressão dos insubmissos de forma extremamente violenta e da conciliação através da tentativa constante de aldear, desta vez buscando intensificar o processo de civilização que deveria ser realizada pelos padres. Apesar de os conflitos terem sido diminuídos, a resistência de vários povos volta a tona demonstrando mais uma vez o insucesso das políticas indigenistas coloniais. Após vários conflitos ocorridos entre indígenas e colonos, aliados a doenças adquiridas 9 pelo contato com os não índios, o que aconteceu foi a varredura destes povos do território do Vale do Mucuri. O que se percebe é que todas as políticas indigenistas implantadas aconteceram de forma a não reconhecer as sociedades indígenas como modelos econômicos possíveis de sobrevivência, desconsiderando as relações autônomas de sustentabilidade, impondo um modelo externo de exploração da natureza como único possível de ser seguido. Uma das tribos que conseguiu, apesar de todas as tentativas de extermínio, permanecer possuidora dos vários aspectos da sua cultura, foi a tribo Maxakali, que hoje encontra-se dividida em quatro aldeias no Vale do Mucuri2. Rubinger, em sua obra Índios Maxakali: resistência ou morte, diz que a capacidade de flexibilidade deste grupo é o fator que possibilitou a resistência tão expressiva após 300 anos de exploração. O autor coloca que este grupo esteve por quatro vezes em situação de risco de eliminação durante todo o processo de colonização, e considera as diferenças na efetivação da colonização dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri como primeiro fator relevante deste processo, levando em consideração tanto as atividades econômicas quanto a postura tomada pelos indígenas frente à colonização. A região do Alto Jequitinhonha durante a colonização foi uma região de economia extrativo-mineral, o que possibilitou uma maior exploração do trabalho compulsório indígena, e com isso a efetivação de lutas constantes e em condições desiguais entre estes povos e os colonizadores, além de que a população desta região ter sido bastante densa, o que não possibilitava o refugio das tribos quando se iniciava a dizimação. O Vale do Mucuri, no entanto, era uma região de economia basicamente agropastoril, comportando grandes propriedades, e apresentando baixa densidade demográfica. Neste sentido pode se compreender que o refúgio foi talvez o primeiro dos aspectos que contribuíram para a resistência Maxakali. Rubinger apresenta ainda a aliança do grupo com os neobrasileiros na luta contra os Botocudos3, como um fator que 2 Aldeia Água Boa e Pradinho no município de Santa Helena e a Aldeia Verde, município de Ladainha e Aldeia Cachoeirinha, Topázio em Minas Gerais, as duas últimas existem a menos de dois anos. 3 Os Maxakali lutavam contra os Krenak, que ganharam o nome pejorativo de Botocudos, devido ao uso de botoques, neste período pela disputa de território, quando eram inimigos históricos. 10 possibilitou a resistência física do grupo, já que os Maxakali eram menos numerosos e mais fracos. A adoção da agricultura também foi um fator relevante para a sobrevivência do grupo; alguns autores colocam os Maxakali como um povo caçador, coletor e nômade, sendo que teve que se adaptar às práticas do plantio agrícola. 2. Pressão territorial, o deslocamento de parte do grupo e o surgimento da Aldeia Verde A territoriedade maxakali perpassa os caminhos traçados pelos mesmos em suas andanças e fugas, mas para o que pretendemos neste artigo, convém reproduzir as informações de Curt Nimuendaju sobre o atual território dos Maxakali4. Os Machacarí consideram como terras desde tempos antigos habitavam na região das cabeceiras do Rio Itanhaém pela margem esquerda, e igualmente a situada em ambas as margens da Água Boa que despeja no Ribeirão do Norte, afluente também do Itanhaém, que corre paralelo ao Umburanas e a oeste dele (...) A terra apesar de ligeiramente acidentada, era ótima para a lavoura. Os Ribeirões Água Boa, Pradinho e Umburanas conduzem excelente água e nunca secam. Hoje, porém, já dois terços desse paraíso dos índios lavradores e caçadores, que estava coberto de mata ininterrupta, estão transformados em vastas pastagens de capim-colônia, na sua maior parte sem uma única vez, pelos intrusos...5 Nimuendaju nos conta também, da ação de um senhor chamado Joaquim Fagundes, que declarava ter amansado os Maxakali e que gastara muito dinheiro para chegar a cabo do seu trabalho; seguindo esta lógica Joaquim Fagundes resolve vender as terras dos indígenas como forma de pagamento pelos gastos que afirmava ter dito. Como possuía uma boa convivência com os Maxakali vendeu as terras sem os mesmos perceberem. A presença destes novos intrusos não incomodou de imediato os Maxakali, mas logo surgiram conflitos com os intrusos que tentaram se arrogar de donos da terra, chamados por eles de “português ruim”. Estes conflitos iniciais se aprofundaram e 4 5 A descrição dada por Nimuendaju se refere as Aldeias de Água Boa e Aldeia de Pradinho. Curt Nimuendaju. “Índios Machacari”. Revista de Antropologia, p. 53-61, 1958. 11 ocorrem até os dias de hoje, a demarcação das terras deixou uma faixa de terrenos entre as duas Aldeias Pradinho e Água Boa, o que torna “comum” a ocorrência de conflitos entre indígenas e fazendeiros por conta de terras. No segundo semestre de 2005, após um processo de retomada de parte do território indígena, que divide as duas aldeias, aconteceu um conflito interno entre os Maxakali, o que fez com que dois subgrupos tivessem que se retirar das aldeias, e se estabelecerem em outros territórios, até que fosse realizada a compra de novas terras pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Um destes grupos é o grupo liderado por Noêmia Maxakali, que encontra-se desde janeiro de 2007, em um território comprado pela FUNAI, de 552 hectáres de terra, no Município de Ladainha, Vale do Mucuri. A Aldeia Verde, ou “Ham Yuxux”, habita sessenta famílias somando mais ou menos 300 indivíduos, número flutuante devido aos constantes deslocamentos dos Maxakali. A Aldeia Verde encontra-se ainda dividida em quatro outros “subgrupos”, que são representados cada qual por suas lideranças6. Percebe-se porém que um dos grupos apresenta-se como central, ocupando uma região onde geralmente acontecem as reuniões e onde encontram-se a casa de rezas e o terreiro para a realização dos rituais religiosos7 . O Grupo que mantém este lugar é o de Noêmia Maxakali, que é vista como uma liderança “geral” dos subgrupos. A região onde se localiza a Aldeia Verde no Município de Ladainha (MG) possui uma grande parcela de mata, elemento essencial para a realização da religião Maxakali, porém tem se apresentado como insuficiente para realizar a auto sustentação econômica do grupo. A maior parte da área é composta por morros e por um solo de baixa fertilidade. Ao percorrê-la pode se notar as roças de mandioca, que haviam sido plantadas há meses, e que apresentavam-se de forma bastante miúda, confirmando a precariedade do solo. Apesar de ser recortada por riachos e pequenos córregos e até mesmo uma pequena cachoeira, há dificuldade por parte dos indígenas de acesso. A água em algumas áreas é de boa qualidade, como no grupo de Totó, e ainda A região 6 Existe o Grupo de Totó, Grupo de Tavinho, Grupo de Noêmia e o Grupo de Pinheiro, este último no final de 2008 voltou para a aldeia de Água Boa, causando uma diminuição na demografia da Aldeia Verde. 7 Os Rituais religiosos podem ser realizados em cada subgrupo, porém até o momento só existe um local onde todos os índios se reúnem. 12 oferece ainda bastante material para a realização de artesanato como sementes, madeiras e a fibra da umbaúba, que é utilizada pelas mulheres maxakali para a confecção de redes de pesca, bolsas, colares e brincos. Os artesanatos Maxakali são pouco valorizados pela população que envolve a aldeia, porém quando recebem visitantes ou quando partem para as cidades, sempre tentam vender algo que confeccionam. O que se percebe é a enorme quantidade de ervas medicinais conhecidas e utilizadas por eles para a cura e prevenção de doenças, para pintura de rituais; além de bambus (com os quais confeccionam um tipo de “apito” que é utilizado para chamar a criança do sexo masculino, quando está na hora de ser iniciada nos mistérios da religião). Lembremos que a religião é uma atividade essencialmente masculina, a Casa de Rezas só pode ser vista e ocupada por homens. Folhas são também utilizadas (colhidas na mata), nos encontros religiosos com o sobrenatural não apresenta risco à saúde, porém em outros lugares, onde as crianças costumam tomar banho com freqüência, apresenta-se como nociva acarretando frequentemente febre e diarréia nos kitokos8. A pesca é realizada por homens e mulheres tanto com anzóis, redes, ou a partir de uma técnica de utilização de uma planta que, quando colocada na água adormece o peixe possibilitando que se realize a pesca com a própria mão. A “floresta” abriga animais de pequeno porte para a caça, como a paca e o tatu, que são capturados com armadilhas (mundéu), sendo que animais como o jacaré e lontra não podem ser caçados pois representam um referencial religioso nos rituais de cura. . O português é falado basicamente pelas lideranças, sendo que a Escola Maxakali permite que o indígena inicie o estudo desta língua somente após ter aprendido a língua Maxakali, geralmente depois dos sete anos de idade. 8 Criança em Maxakali. 13 Figura 1 - Mapa da Aldeia Verde feito pelo Povo Maxakali 3. Mata, Ritual e Yãmiy9 Ao analisarmos a história do Povo Maxakali, percebemos que a mata teve uma importância considerável no processo de resistência do grupo quando estes precisavam se refugiar. Porém a importância da mata na cultura Maxakali apresenta uma relevância ainda mais significativa, já que ela é considerada como um dos locais onde vivem os espíritos maxakali. Para os Maxakali um território é considerado bom, quando este possui uma mata, pois esta é tida como o local onde moram os espíritos. Suely Maxakali na Semana dos Povos Indígenas10 em 2007, quando questionada sobre a importância da mata para a cultura Maxakali, diz: É muito importante porque os nossos espíritos fica dentro, e tem muita caça também, que nós, nossos pajé, considera como que essas caças também são espíritos, que há uma lei pra matar né. Têm umas caças que nós não pode matar, que é o jacaré , dentro da nossa aldeia nós não pode matar . Quando a gente saiu pra cá (novo território), agora nós estamos em uma terra, agora tem mato , mas a gente estamos gostando muito desta mata, porque nosso espíritos fica dentro , e também é lá em Água Boa nós não fazia religião de dia não. Só fazia de noite porque não tinha mata também. Porque agora tá 9 Expressão usada pelo Maxakali para designarem seus espíritos. Evento ocorrido na UFVJM, em Teófilo Otoni/MG, Abril de 2007. 10 14 fazendo direto, é de dia, de noite até no outro dia, religião. Porque os nossos rituais também não é coisa pequena também, é coisa grandão. É possível notar neste sentido que a concepção Maxakali não enxerga todo território como um elemento que deve ser voltado para a produção, sendo que este pode ser compreendido também como um elemento simbólico de sua cultura. Daí pode-se compreender uma percepção diferenciada da natureza, por parte do Maxakali, é uma percepção polissêmica que perpassa a espiritualidade e a materialidade necessária para o viver Maxakali. A casa de rezas, local onde se inicia o ritual religioso deve estar com a porta virada para a mata e só pode ser visitada por homens, sendo que as mulheres são proibidas de adentrar no centro religioso, participando somente do ritual no terreiro. No centro do terreiro encontram-se “três troncos” que possuem um sentido religiosos (Pau da Religião, como dizem os Maxakali), chamados de Mi-manáum11, que atuam como via de comunicação entre o espírito e o ser vivo. São eles o tronco do morcego, da mulher e do gavião. O canto acontece em todos os rituais, geralmente puxado pelos membros mais velhos da tribo. A religião tem providenciado estabilidade e continuidade, dando significado à existência dos indivíduos dessa tribo. Nessa cultura, a religião é papel masculino, e portanto, separa os homens das mulheres. É uma responsabilidade de todos os homens iniciados, sendo também uma força unificadora em toda a sociedade12. A iniciação religiosa acontece quando a criança do sexo masculino está em média com 10 e 12 anos de idade. Chegada a hora da criança conhecer a casa de rezas, um membro da tribo passa em torno das casas emitindo um som, assobio com um pedaço de bambu como se fosse uma flauta, sendo que os pais das crianças acompanham os filhos até o local. Na casa de rezas o menino vai aprender os segredos dos rituais, ficando lá durante um mês. Mesmo depois que a criança sai, o pai deve permanecer sempre por 11 Expressão usada por Nimuendaju, 1958. Frances Blok Popovich. “A Organização Social dos Maxakali”. Páginas 01-51. Dissertação Apresentada ao Departamento de Sociologia da Universidade de Texas, 1980. 12 15 perto para evitar que ele comente algo com a mãe ou com outra mulher da tribo. Estas condições são perfeitamente compreensíveis pelas mulheres, que concordam ser uma característica cultural que deve ser respeitada. Figura 2 - Kuxex ou casa de rezas do Povo Maxakali Na religião Maxakali existem vários espíritos, sendo que todos encontram-se relacionados com algum animal da floresta. Suely Maxakali fala sobre a variedade de espíritos na iniciação religiosa: Só os meninos homens... e não é só meu só não. Pega de uma ali, pega de outro ali, pega de outro ali. Mas não é só um religião (espírito) que pega só não. Um espírito de gavião, um espírito de morcego, um espírito de outro ali, espírito de toda caça. E todo espírito da caça que vão pegar ele tem uma pintura diferente. (SUELY MAXAKALI) Os Yãmiy, ou espíritos do canto, são aqueles que durante o ritual religioso, saem da mata e vêm encontrar com os indígenas para trazer proteção e ensinamentos. E é aí que podemos compreender o fato de as ações, mesmo cotidianas, terem relação com o espiritual na aldeia Maxakali, pois são os Yãmiy, de acordo com a cultura Maxakali, quem carregam a sabedoria, e repassam para os índios durante o ritual religioso. 16 O fluxo correto dos Yãmiy,implica o próprio processo de construção do conhecimento e da recriação e reordenamento da tradição. O conhecimento pertence aos espíritos e os homens só têm acesso a eles através da realização dos ciclos cerimoniais chamados Yãmiyxop. O que permite a atualização do conhecimento é a relação entre os espíritos e os humanos13. Durante o ritual religioso são realizadas partilhas de alimentos. Geralmente compartilha-se um animal de médio ou grande porte, o que representa para o grupo a ação da solidariedade e reafirmação da sua identidade. É neste momento, quando há o encontro entre os dois mundos, de acordo com Oliveira14, que o corpo se espiritualiza e a alma se corporifica. As ações realizadas no cotidiano dos Maxakali possuem ligação muito próxima com os rituais por eles realizados. Uma ação não ocorre aleatoriamente, mas sim a partir de um conhecimento adquirido pela experiência vivenciada. A morte de um indivíduo Maxakali, quando ocorre de forma violenta, pode causar desintegração no grupo, sendo que a casa e os pertences do morto devem ser queimadas para evitar a lembrança e o sofrimento dos parentes. A justiça acontece de forma recíproca, ou seja, os parentes da vítima podem vingar-se do assassino, matandoo. Na concepção Maxakali quando ocorre este tipo de morte, a alma do morto fica desorientada e tenta voltar para algum corpo geralmente de um parente, o que poderá trazer doenças ou até mesmo a morte. Neste sentido acontece o luto da família e ao mesmo tempo o medo do aparecimento da alma do parente15. Os Maxakali também acreditam, como muitos povos indígenas, que os seus mortos possam virar animais, neste sentido quando enterram seus mortos costumam enfiar um pau cumprido bem na altura do coração e vão lá periodicamente verificar se o morto verdadeiramente morreu, quando há uma dúvida eles queimam a sepultura. Numa de nossas visitas aos Maxakali 13 João Luiz Pena. Os índios Maxakali: a propósito do consumo de bebidas de alto teor alcoólico. Revista de Estudos e Pesquisas, p. 99-121, dez. 2005. 14 Luciane Monteiro Oliveira. “Razão e Afetividade: A iconografia Maxakali marcando a vida e colorindo os cantos”, 2006. 15 Frances Blok Popovich. Op. cit. 17 de Topázio verificamos uma sepultura que tinha sido queimada há pouco tempo com gasolina; o motivo apresentado fora de que o morto tinha virado “bicho”. É possível propor que a relação natureza e cultura estabelecida pelos Maxakali apresenta um olhar horizontal sobre a natureza, colocando os elementos desta em uma mesma posição ocupada pelo ser humano. Esta visão encontra-se representada nas ações do cotidiano que são direcionadas a partir do encontro com o sobrenatural, durante os rituais religiosos. Referências bibliográficas AVÉ-LALLEMANT, Robert. Viagem pelo norte do Brasil no ano de 1850. Instituto Nacional do Livro/Ministério da educação e Cultura, Rio de Janeiro, 1961. DUARTE, Regina Horta “Olhares Estrangeiros. Viajantes do Vale do rio Mucuri”. Revista Brasileira de História, Vol. 22. São Paulo, 2002. MISSAGIA MATTOS, Izabel. Civilização e Revolta: Os Botocudos e a catequese na província de Minas. Bauru, EDUSC, 2004. NIMUENDAJU, Curt. “Índios Machacari”. Revista de Antropologia, VI, No 1, São Paulo, 1958, p. 53-61. OLIVEIRA, Luciane Monteiro. “Razão e Afetividade: A iconografia Maxakali marcando a vida e colorindo os cantos”.Tese apresentada como exigência parcial para obtenção de título de Doutora em Educação, na área de Cultura, Organização e Educação no Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.2006, São Paulo. OTONI, Teófilo. Notícia sobre os selvagens do Mucuri. Org. Regina Horta Duarte. B.H: Editora UFMG, 2002. PARAÍSO, Maria Ilda Baqueiro. “Os grupos Indígenas do Vale do Mucuri: seus deslocamentos e atitudes perante o avanço da sociedade nacional (1840-1890)”. Páginas 01-43. X Reunião Brasileira de Antropologia, Salvador, 1996. PENA, João Luiz. Os índios Maxakali: a propósito do consumo de bebidas de alto teor alcoólico. Revista de Estudos e Pesquisas, FUNAI, Brasília, v.2, n.2, p. 99-121, dez. 2005. POPOVICH, Frances Blok. “A Organização Social dos Maxakali”. Páginas 01-51. Dissertação Apresentada ao Departamento de Sociologia da Universidade de Texas, 1980. Composto pela Sociedade Internacional de Linguística. Cuiabá, MT. RUBINGER, Marcos Magalhães. Maxakali: o povo que sobreviveu: estudo de fricção interétncia em Minas Gerais. In: RUBINGER, Marcos Magalhães. Et al. Índios Maxakali: resistência ou morte. Belo Horizonte: Interlivros, 1980. p. 9-117. 18 Representações e cenários de coletores de pequi (lontra, norte de Minas Gerais) Maria Antonia Ferreira ANDRADE Marília Gomes Ghizzi GODOY * Resumo: Neste artigo as autoras registram dados sobre a sobrevivência e as representações da vida de coletores de pequi (Caryocar brasiliense Camb.) no cerrado, região norte de Minas Gerais (município de Lontra). Os relatos colhidos e textualizados durante anos de pesquisa e de convivência com os coletores, por uma das autoras, permitem refletir sobre as condições de vida diante de processos de produção de conhecimentos que se projetam no meio ecológico marcado pelo extrativismo e pelas precárias condições de trabalho***. Palavras-Chave: pequi, cerrado, coletor de pequi, Lontra. O cerrado16 possui uma área de dois milhões de quilômetros quadrados. Entre chapadas e vales, com uma vegetação que vai do campo seco às matas de galeria, ocupa um quarto do território nacional. São paisagens que dominam nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Piauí e Distrito Federal. Destaca-se pela sua biodiversidade (flora e fauna), que pode ser interpretada pela vasta extensão territorial. No Brasil, constitui o segundo maior bioma brasileiro (o primeiro é a floresta amazônica). São milhares de espécies da fauna, flora e outros tipos de organismos, além de paisagens de grande beleza cênica17. Caminhando para o território norte-mineiro encontra-se uma breve contextualização do cerrado, sua ocupação, sua população e processos articulados à vida da comunidade por nós observada: Lontra. Trata-se de um município que em 2005 * Mestre pelo Curso de Mestrado Multidisciplinar em Educação, Administração e Comunicação; Mestre em Antropologia Social (USP) e Doutora em Psicologia Social (PUC-USP). Professora do Mestrado Multidisciplinar em Educação, Administração e Comunicação. *** Consideramos aqui os dados de campo de Maria Antonia Ferreira Andrade. A autora dispõe de autorização que lhe concede autonomia em relatar situações pessoais e particulares dos coletores de pequi. 16 Por cerrado, entende-se um tipo bastante característico de cobertura vegetal: é uma savana tropical na qual uma vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas, coexiste com árvores esparsas, baixas, tortuosas, casca grossa, folhas largas e sistema radicular profundo. 17 POZO, Osmar Vicente Chévez. O pequi (Caryocar brasiliense): uma alternativa para o desenvolvimento sustentável no cerrado no norte de Minas Gerais. Dissertação de Mestrado em Administração Rural apresentada à Universidade Federal de Lavras, MG em 1997. 19 apresentou uma população de 8.507 habitantes, sendo que a maior concentração situa-se na zona urbana (IBGE). A partir de 1959 a região norte e nordeste de Minas, inserida no polígono das secas passou a pertencer à área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Figura 1- A cidade de Lontra e o cerrado Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Convivem no cerrado diferentes populações humanas. Algumas destas populações estão no bioma há centenas de gerações, outras há poucos anos. Algumas aí conseguem extrair e produzir o suficiente para seu sustento, sem grandes modificações nos ecossistemas. Estruturam-se meios de subsistência que se retratam pela utilização da natureza, como é o caso da coleta do pequi. As populações mais antigas do cerrado são os povos indígenas: Xavantes, Karajás, Avá-Canoeiros, Krahôs, Xerentes, Cairapós, Xacriabás18 e muitos outros que foram dizimados antes mesmo de serem conhecidos. As chamadas populações tradicionais do cerrado incluem não só os indígenas, mas também povos negros ou miscigenados que, por muito tempo, ficaram em relativo isolamento nas áreas deste bioma; tiveram que adaptar seus modos de vida aos recursos naturais disponíveis. 18 Os Xacriabás ainda existem numa cidade circunvizinha à Lontra, a cidade São João das Missões. Nesta cidade, o prefeito é índio, a maioria dos vereadores que compõem a Câmara Municipal são índios e os órgãos públicos são construídos em formatos de ocas. 20 O desconhecimento quanto à forma de aproveitamento dos cerrados pela agricultura, permitiu que subsistisse praticamente em estado natural, uma região equivalente a um quarto do território nacional, estrategicamente localizada no centro do país19. A idéia, até então considerada, era que o cerrado era “terra que só servia para aumentar as distâncias”20. Com o decorrer dos anos e desde a colonização caracterizou-se uma cultura local, às vezes reconhecida como “a cultura sertaneja”. A valorização de saberes e recursos locais projetaram-se na coleta e comercialização do pequi. Uma dinâmica econômica foi sendo projetada e tornou-se um alvo na definição do modo de vida de pessoas da região. Nos últimos tempos têm-se falado muito sobre a relevância do pequizeiro e do seu fruto pequi, nativo do cerrado, na vida da população, foi ele utilizado desde as comunidades primitivas até hoje, sendo indicado como alternativa para o desenvolvimento local. Entretanto, até que ponto o cerrado projeta o espaço de construção para a vida dos coletores de pequi? Em contato com os coletores de pequi desde há mais de 10 anos, a convivência e compartilhamento de uma das autoras (Maria Antonia) com esses catadores, pode-se ordenar um material etnográfico revelador sobre a sua vida e a sua sobrevivência na cidade observada (Lontra). 1. “CHEGOU A ÉPOCA DE COLETAR PEQUI” A vida econômica em Lontra gira predominantemente na pecuária e na atividade agrícola. Destaca-se a produção de cana, banana, mandioca, milho. A pecuária é destinada à produção leiteira e ao fabrico de queijos e requeijões que são comercializados em várias regiões do Estado e principalmente São Paulo. As atividades industriais e de serviços tentam reverter este destaque conseguindo liderar no contexto urbano e na definição do PIB local nos últimos anos. 19 POZO, Osmar Vicente Chévez. Opus cit. RIBEIRO, Ricardo Ferreira. : Pequi: rei do Cerrado – Roendo o fruto sertanejo por todos os lados. Belo Horizonte: Rede Cerrado, 2000. 20 21 A inserção das atividades de coleta do pequi ordena um ritmo de produção expressivo da população marginalizada ao contexto econômico global. São empregados ocasionais nas atividades comerciais, rurais ou moradores de pequenas chácaras. Diante dos rendimentos irrisórios, os catadores se deslocam em grupos, em famílias, para os locais designados como “tabuleiros”, expressivos de serem as áreas de concentração da atividade extrativista. O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.), árvore típica do cerrado brasileiro é também conhecido pelos nomes de pequiá, pequiá-de pedra, pequerim, pequiá-bravo, amêndoa-de-espinho, grão-de-cavalo, suari, pequerim e piqui. A árvore do pequizeiro tem uma vida útil estimada em cerca de 50 anos, podendo atingir uma altura de até 10 metros; sua produção inicia-se a partir do oitavo ano. Floresce, sendo suas flores brancas e grandes consideradas melíferas, e frutifica anualmente. A floração ocorre durante os meses de setembro a novembro; seus frutos amadurecem e caem no final de novembro até fevereiro, de acordo com a região. Cada árvore pode produzir, dependendo da umidade, de 500 a 2.000 frutos a cada safra. Os frutos caem, quando maduros, e então ocorre a cata no chão. Se colhidos verdes, no pé, antes do tempo, não apresentam o mesmo sabor. O consumo do pequi abrange a parte interna (a amêndoa) e a polpa amarela. Da amêndoa é extraído o óleo branco usado na indústria de cosméticos, em cremes e sabonetes; na medicina popular é usado no combate de gripes e bronquites. Usa-se também como lubrificante e ainda na iluminação. Da polpa amarela do pequi, principal parte comestível, é explorada toda uma alternativa de renda pelo sertanejo, desde o óleo e o licor até a fabricação de sabão. No uso doméstico, além de servir à alimentação humana, a polpa no seu estágio final é também utilizada como ração para porcos, galinhas e outros animais domésticos. É preciso entender como a coleta retrata-se no cenário das mais antigas atividades humanas. Sabendo-se que esta prática é também um marco da hominização e definição primitiva do homo sapiens há pelo menos 10 mil anos ela indica traços profundos na definição da consciência. Os estudiosos a compreenderam como uma representação que se inseriu na forma de um jogo; não poderia ser confundida com trabalho no sentido ocidental e moderno. 22 Sabendo-se da predominância de uma ideologia paleolítica surge expressiva da percepção do humano, de si mesmo e do mundo envolvente. Conforme Carvalho o traço fundamental desta ideologia é a idéia de não acumulação; ela resulta de uma compreensão do mundo regida pelas trocas constantes entre os homens e a comunidade humana e entre estes e as entidades sobrenaturais capazes de gerar um equilíbrio e continuidade do fluxo da vida21. Figura 2- Pequizeiro coberto de pequis Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Foto 3- Pequis no pequizeiro 21 CARVALHO, Marivaldo Aparecido. Passos que não deixam marcas na terra. Araraquara. UNESP. Dissertação de mestrado (2001, 197 páginas), p. 70-71. 23 Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Figura 4- Casa construída com a renda da venda do pequi (depois) Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Figura 5- Pequis coletados 24 Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal), (2007) Figura 6- Alojamento construído à beira da BR 135 para vender pequis Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) O traço distintivo desta ideologia compreendendo uma cosmovisão mítica requer um universo onde a natureza surge como apropriação do meio de trabalho e onde o caráter comunal torna-se imperante. 25 Na linguagem entre os coletores de pequi e na projeção cíclica do período expressivo da dádiva natural ocorre uma demanda do sentido primordial da coleta. O mundo racionalizado, a sociedade de consumo, uma projeção das individualidades e do desejo de posses, do desejo de colocar os pequis na rota comercial ocorrem em contraste com o poder que a palavra, os laços de amizade e de tradição cultural atuam na coletividade dos catadores. As práticas culturais e a forma como a coleta do pequi projeta-se na ordenação da sobrevivência indicam o universo simbólico expresso de forma complexa e pela combinação dos vários tempos onde se insere as identidades dos coletores. 2. Convívio e representações no espaço da coleta Figura 7- Pai e filha na coleta do pequi Foto: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) As moradias construídas dentro do cerrado para morar enquanto ocorre a safra do pequi é um alojamento construído de palha de buriti. Neste local residem muitas famílias por um tempo significativo e que para eles, habitantes nômades, têm um significado muito especial. É a esperança e a perspectiva de que terão um dinheirinho para comprarem o que lhes falta em casa. Figura 8- Acampamentos de famílias catadoras de pequi no interior do cerrado 26 Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Observa-se que as famílias criam situações de alojamento através de abrigos dos mais diferenciados tipos. Figura 9- Alojamento de catadores construído de palha de buriti e plástico Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Em alguns alojamentos eles ainda têm fogão e talheres para fazer as refeições. Noutros nem isso. Figura 10- Fogão e preparo da refeição 27 Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Em algumas situações observa-se que o fogão fica diretamente no chão e é improvisado dentro de uma lata de óleo grande. Ali, eles preparam o café da manhã. O almoço. Figura 11- Fogão improvisado no acampamento (II) Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Figura 12- Local de dormir (I) 28 Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Camas construídas umas próximas às outras. As camas para dormir são construídas com recursos da própria natureza. Fazem forquilhas e armam suas camas, colocando sobre as mesmas esteiras e lençol de cama como observamos nas figuras a seguir. Em algumas barracas nem isso. A cama é feita diretamente no chão, com sacas de estopa. Figura 13- Local de dormir (II) Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Cama feita no chão de esteira de palha e saca. Figura 14- Interior do acampamento 29 Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Esta foto permite entender que dentro de um acampamento não há divisão de espaços. 3. COLETORES DE PEQUI: TRAJETÓRIAS E REPRESENTAÇÕES É difícil e gratificante o trabalho de quem é forçado pela circunstancia a lidar com o pequi. É difícil, mas necessário que se levante ainda pela madrugada para catar pequi. Como é o caso da família Lopes que tem o seu Antonio como chefe de família, dona Ana esposa e os quatro filhos, sendo que o caçula tem apenas cinco anos. Figura 15- Marido e mulher juntos na coleta do pequi Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Amanheceu o dia e os catadores estão dispostos para a grande empreitada. 30 O ambiente descrito permite entender o clima de convívio e de cooperação que emerge na atividade de coleta. O trabalho projeta-se numa dinâmica de espontaneidade onde é predominante o empenho em obter vantagens diante de um esforço coletivo. Figura 16- Catadora de pequi diante da coleta Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Seu Aparecido, 45 anos e Dona Heronilde 40 anos, têm seis filhos. A filha mais velha tem quinze anos, mãe solteira que também mora na mesma casa. A despesa é significativamente grande, uma vez que depende do líder. Dona Heronilde trabalha prestando serviços para as pessoas; lavando roupa, passando roupa, e mesmo enfrentando serviço de meeira no plantio de hortaliças. Para catar pequi acordam às 03h00min horas da manhã. Ela faz o café, prepara alguma coisa para levar ao acampamento. Na falta do arroz e do feijão, ela faz uma farofa de ovos com farinha de mandioca para passar o dia. Logo após preparar o que comer, todos saem para a cata do pequi. O meio ambiente apresenta-se de forma natural e sua disposição ecológica indica que a movimentação não ocorre de forma fácil. Caminhar entre as matas exige esforço, entretanto, para aqueles que se empenham nessa forma de vida, de subsistência, então o esforço compensa. A única forma de ganhar um dinheirinho é aproveitando a safra do pequi. Catando pequi, depois vendendo. Esse dinheiro já ajuda nas despesas da casa, comprar roupa para as crianças..Na época da safra do pequi, minha vida melhora muito. Paga as dividas que deve e que por falta de serviço e 31 dinheiro, acaba acumulando. A alimentação em casa melhora. Fora dessa época, aí é preciso rebolar. Trabalho como gari ganhando 180 reais por mês, lavo roupas pros outros, faço faxina. Na época do pequi, aí até os meninos ajudam para aumentar a renda. Minha felicidade é ver todo mundo ganhando o seu ganha pão. Minha distração é quando trabalho com todo mundo junto, quando tenho paz e saúde em casa. Heronilde (coletora de pequi) A família Pedro Lopes na época da safra se aloja no mato em barracas feitas de palha de buriti. Assim cada um segue um rumo com uma saca na mão. Quando encho a saca de pequi volto para barraca, despejo os pequis que estão dentro da saca e saio novamente à procura do fruto precioso. Até meu filho mais novo de três anos sai atrás da mãe com uma sacola de plástico na mão e quando encontra um pequi é como se estivesse encontrado um pirulito, ou ganhado um sorvete. Pedro Lopes (catador de pequi) Figura 17- Catador de pequi no trabalho Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Observamos na foto que na jornada de coleta, o catador de pequi come da polpa do pequi para se alimentar. Esta situação é observada com frequência. Outro grupo trabalha no alojamento desde as cinco horas da manhã para “roletar”22 o pequi. Trabalho árduo, difícil e artesanal. Estas pessoas levantavam às quatro horas da manhã para preparar suas marmitas. Cada um segue ao canto do rancho com um caixote, uma faca e um pano para limpar as mãos; o pequi solta um óleo que faz com o que o fruto escorregue das mãos e dificulte as roletas. 22 Cortar em redor. Forma de trabalho que tem grande procura, pois o pequi roletado é preparado em conserva e comercializado. 32 Figura 18- A despolpa do pequi Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) Os componentes do grupo apresentam uma relação muito amistosa uns para com os outros, dividindo entre si o pouco de alimento que levam. Uns levam biscoito e café, outros farofa de feijão e outros ainda casadinho (feijão misturado com arroz). Observase que o alimento propicia uma grande interação entre os coletores. Às quinze horas quando sobrava alguma comida do almoço, eles lanchavam. Quando não tinha a sobra do almoço para lanchar; mordia o pequi e jogava um punhado de farinha na boca. Ao contrário, comem farinha com rapadura para deixá-los fortes até chegar a hora de voltar para casa. Algumas vezes os acampamentos se estendem por 2 a 3 dias. Às dezoito horas, horário de retornar para casa, percebia-se o cansaço no rosto de cada indivíduo, pois afinal a posição com que ficavam para trabalhar era de cócoras ou sentado num “sepo”23 no meio de vários caixotes. Acompanhei a rotina de Dona Conceição e suas duas filhas na época da safra do pequi (ano 2007). Acordam. O dia ainda está escuro e mal dá tempo pra tomarem café. Caminham a pé umas duas horas até chegar no acampamento. Chegando ao lugar onde vão catar pequi, se juntam aos demais que encontram, e depois se dividem em grupos para sair pelo mato afora. Ao encherem as sacas, retornam ao acampamento e lá mesmo retiram a casca do fruto e muitas vezes até a polpa do fruto. Passam-se as horas e a fome começa 23 Ascento feito do tronco da madeira. 33 a evidenciar. Naquele dia tinham levado pra comer durante o dia, uma garrafa de café com umas bolachas. Afirma Dona Conceição: Fora a época da safra do pequi, minha vida é cuidar de casa, não tenho outra fonte de renda. Pois não tive estudo para ter uma profissão melhor. O final de ano é uma época boa que a gente tem para pegar num dinheirinho - época da safra do pequi. Isto é uma benção para nós. Porque ajuda a gente ter uma alimentação melhor, comprar mistura pra tomar café. Inclusive minha filha está fazendo faculdade, o curso de Matemática na Unimontes, graças ao dinheiro que nós ganhamos com o pequi, o qual ela pagou a taxa de inscrição. Mesmo vivendo situações muito difíceis as pessoas viviam felizes, demonstram alegria no convívio. Dona Conceição transparecia no seu semblante sua satisfação daquele trabalho, pois sabia que saindo dali iria compra o que estava faltando em sua casa. Para Dona Zilá, 38 anos, a situação é ainda mais grave uma vez que é mãe solteira, tem quatro filhos. Para dar seus filhos o que comer, trabalha lavando roupas, ganhando nem o necessário para a feira do mês. Mas com a chegada da colheita do pequi, dona Zilá fica feliz. Vai aproveitar para ganhar dinheiro; saindo de casa às três horas da manhã segue para coletar pequi e depois retirar a polpa. Com esse dinheiro garante a alimentação de seus filhos por algum tempo. Fica despreocupada, pelo menos nessa época. Minha vida é isto que você esta vendo (mostra a casa). Vivo sem nenhum conforto, com muita dificuldade. Na época do pequi é que a situação melhora um pouco. Passado esse tempo, sou obrigada a trabalhar como empregada domestica para não passar fome. Dona Laide Francisca de Aquino, casada, 5 filhos, marido lavrador, mais popularmente conhecida como Laíde, é uma das beneficiadas pela comercialização do pequi. Ambos são vendedores ambulantes e se alojam em algumas esquinas da cidade. Com o dinheiro que ganham nesse período, conseguem sustentar a família e, 34 “dependendo das vendas”, conseguem ficar por até cinco meses sem trabalhar após o fim da temporada, sem ter que sair às fazendas, para trabalhar como bóia-fria: Minha vida é muito difícil, trabalho demais dia e noite. Apesar de ter problemas de saúde. Trabalho muitas vezes sem agüentar. Na época da safra é bom, porque a gente tem dinheiro, não passa sem dinheiro e quando não tem pequi é muito sofrido. O dinheiro que eu ganho dá pra fazer a feira e ainda sobra graças a Deus, compra remédio. Dá pra muita coisa. Criei meus filhos assim e dessa forma vou levando a vida. Meu marido trabalha como diarista. Disfarce!? (ela se referiu a lazer) nós não temos, só trabalho mesmo. Jose Aldair Corrêa de Carvalho - 44 anos casado com Ivanilde Teodoro Carvalho de Corrêa (2 filhos): Minha vida é muito corrida. Trabalho bastante, trabalho pra valer. Levanto de madrugada e só paro 07h00min/ 08h00min da noite – pegando pequi. Assim é a vida. A nossa vida melhorou um pouco né. Na época do pequi comemos melhor. Trabalha muito, mas vive melhor. Sobra sempre um pouco. Eu mesmo tenho uma carroça comprada com o dinheiro do pequi. Melhora bastante a vida. A gente come e não fica devendo. Porque geralmente, fora do pequi, mesmo a feira a gente compra fiado. Na época do pequi a gente não fica devendo (Compra os alimentos e paga a vista). Fora desta época a gente trabalha, um dia pra um, outro dia pra outro. Muitas vezes não acha serviço. Pega um frete aqui, outro dacolá com a carroça. A nossa distração é a televisão, fora isso só serviço. Dona Ana e seu Almiro têm 11 filhos. Todos vivos, dentre os 11 filhos, 8 são casados. Um dos filhos casados mora em Patos de Minas e outro com sua família em Belo Horizonte. Os demais moram todos aqui ao redor de mim. A vida na época da safra do pequi e bom, muito bom. Na época da safra, a gente ganha um dinheirinho bom. Até as crianças pequeninhas aqui pega pequi (risos). E a gente faz óleo, vende. Um litro de óleo aqui custa 5,00. Tem ano que a gente tira 170 litros de óleo de pequi. Pra nós aqui o pequi é a coisa mais importante que tem. Os primeiros preços então são os melhores, os outros nem tanto, mas ainda assim, ajuda. Com o dinheiro do pequi a gente compra muita coisa. Compra o que falta, paga as contas que deve, faz a feira. Essa estante (Dona Ana aponta para a estante) foi comprada com o dinheiro do pequi. A televisão também. Fora essa temporada, a situação fica mais difícil pra gente. Depois que passa a gente não tem dinheiro certo. Fica mais difícil. E preciso ajudar o marido na roça pegando na enxada. 35 Seu Jaime, 72 anos e Dona Lúcia 56 anos de idade, possuem oito filhos. Destes, três são casados e cinco solteiros. Dentre os três filhos casados, dois moram com suas respectivas esposas dentro de casa; juntamente com os filhos solteiros. A despesa da casa é alta, mesmo tendo uma vida rotineira simples. Para não passar necessidade, é preciso trabalhar muito. Entretanto, o maior entrave é a falta de trabalho devido à região ser tipicamente pobre e carente. “Então o jeito é se virar do jeito que dá” diz seu Jaime. Uma das formas que eles encontram par não passarem fome é aproveitar a época da safra do pequi. O pequi é uma das fontes de rendas mais certas que nós temos aqui no Norte de Minas né. Dá no tempo da colheita. Aqui na região é muito parado de serviço, dinheiro muito difícil. Então são varias pessoas que buscam um recurso em cima do pequi. Agora, outra renda fora do pequi é difícil. A gente que já acostumou aqui, acaba dando os jeitinhos. Às vezes no caso daqui de casa, as meninas trabalham fora, como domésticas ganham um pouquinho. Mexe aqui, cria galinha, vende ovos. A renda é esta, fora da época da safra do pequi. Nós aqui também fazemos a despolpa do pequi. No ano passado fizemos 2.300 quilos de polpa. A renda é boa. Eu mesmo com minha família aqui, trabalhando pouquinho, é melhor que se eu fizer qualquer outra coisa. Já teve muita gente que já entrou nisso ai. O dinheiro arrecadado ajudou muito, o primeiro dinheiro que a mulher ganhou, ela comprou geladeira, som. O meu eu invisto em outras coisas. Eu tenho gado comprado com o dinheiro do pequi. Eu juntei o dinheiro e comprei 5 novilhas boas. E tem mais outras coisinhas que a gente tinha vontade de comprar e que agora de pouco a pouco a gente conseguiu. Muita gente vive do pequi. Se for contar o catador e o comprador que compra para os caminhoneiros. É muita gente. E mais ou menos 80% da população vive do pequi na região. Aí, quando passa a safra do pequi o negócio fica mais difícil. Do contrário, muitas pessoas têm que sair para trabalhar fora. Aqueles que não saem, têm que aproveitar muito o pequi. Eu tenho um cunhado que quando passa a época do pequi, ele tá com a casa preparada de bens para o ano e ainda fica com dinheiro. A margem de lucro do pequi é muito boa. Teve um ano que eu fiz quase 5.000 quilos de polpa, sobrou para mim também quase R$ 5.000,00Mas eu também acho que se a extração continuar da forma como está; vai ficar ruim da gente trabalhar porque, tá muito procurado. Do jeito que ta a pesquisa em cima do pequi, vou lhe falar ele vai ficar procurado demais. Do pequi se faz até sabão. O pequi no meu tempo de mais moço era usado só pra fazer sabão. Às vezes alguma pessoa tirava pra fazer gordura. Hoje ele esta tão bem aproveitado. 4. SUSTENTABILIDADE E COOPERATIVISMO 36 Desde alguns anos a coleta do pequi, a economia extrativista e as políticas em defesa do cerrado tornam-se visíveis no universo descrito. Ordenam-se tendências que emergem no sentido de uma valorização do coletor e da atividade em um contexto de definição de direitos e oportunidades aos coletores. Criou-se em LONTRA uma associação com o objetivo de registrar e ordenar iniciativas dos coletores, e de proporcionar soluções de sustentabilidade. Figura 19- Momento em que o coletor recebe dinheiro pela venda dos pequis Fonte: Maria Antonia Ferreira Andrade (arquivo pessoal) A valorização do cerrado, uma definição da coleta inserida no universo dos direitos e garantias ao coletor tornam-se temas que indicam uma nova era para os coletores e sua emancipação cultural, o controle dos recursos em direção a um crescimento cultural e econômico. Considerações finais As considerações apresentadas permitem observar a prática da coleta do pequi e as representações culturais dos coletores como expressão de uma condição humana e de um compartilhamento comunitário. A economia extrativista desperta-se como uma esperança de prosperidade em um universo de tradições marcadas pela própria condição da coleta e compartilhamento entre coletores no cerrado. 37 Abstract: In this article the authors register given on the survival and the representations of the life of collectors of pequi (brasiliense Caryocar Camb.) in the open pasture, region north of Minas Gerais (city of Lontra). The stories harvested and textualizados during years of research and convivência with the collectors, for one of the authors, allow to reflect ahead on the conditions of life of processes of production of knowledge that if they project in the ecological way marked by the extrativismo and the precarious conditions of work. Key words: pequi, open pasture, collector of pequi, Lontra. Referências bibliográficas BARRADAS, M.M. Morfologia do fruto e da semente de Caryocar brasiliense (piqui), em várias fases de desenvolvimento. Revista de Biologia, São Paulo, v. 9, n. 1-4, p. 6995, 1973. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Plantar, colher, comer: um estudo sobre o campesinato goiano. Rio de Janeiro: Edit. Graal, 1981. BOAVENTURA, Santos Souza de (Org.). Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências revisitado. São Paulo: Cortez, 2004. CARVALHO, Marivaldo Aparecido. Passos que não deixam marcas na terra. Araraquara. UNESP. Dissertação de Mestrado, 2001, 197 páginas. POZO, Osmar Vicente Chévez. O pequi (Caryocar brasiliense): uma alternativa para o desenvolvimento sustentável do cerrado no Norte de Minas Gerais. Lavras: UFLA, 1997. 100p. Dissertação de Mestrado em Administração Rural. Colégio Agrícola de Montes Claros-Vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG. RIBEIRO, Ricardo Ferreira. : Pequi: rei do Cerrado – Roendo o fruto sertanejo por todos os lados. Belo Horizonte: Rede Cerrado, 2000. 38 Linguística e estudo de literatura Milton M. AZEVEDO* Resumo: O presente trabalho 24 , tomando como ponto de referência a literatura de expressão portuguesa, propõe-se a analisar o que poderia ser a contribuição da linguística aos estudos literários. Palavras-chave: linguística, literatura. Em um congresso realizado na Universidade de Indiana em 1958, Roman Jakobson comentou a lacuna existente entre os estudos de linguística e os de literatura, e fez recomendações sobre como se poderia desenvolver a colaboração entre os dois campos, chegando a sugerir que no futuro “... a linguist deaf to the poetic function of language and a literary scholar indifferent to linguistic problems and unconversant with linguistic methods are equally flagrant anachronisms”25 Não obstante essa sábia recomendação, a linguística e a crítica literária continuam sendo áreas de investigação institucionalmente separadas, de maneira que tanto nos Estados Unidos como alhures, os estudos de graduação e pós-graduação em uma delas não inclui necessariamente matérias da outra. Há, não obstante, profissionais interessados em promover a cooperação entre os dois campos. O presente trabalho, tomando como ponto de referência a literatura de expressão portuguesa, propõe-se a analisar o que poderia ser a contribuição da linguística aos estudos literários. Segundo Derek Attridge, as atas do congresso da Universidade de Indiana (Sebeok 1960) “turned out to be one of the founding documents in English of what we 24 Este artigo, baseado nos trabalhos “Toward a Definition of Literary Linguistics” (Congresso da Modern Language Association, Filadélfia, Dezembro de 2004) e “Sobre a contribuição da linguística literária aos estudos de literatura” (28° Simpósio de Tradições Portuguesas, Universidade da Califórnia, Los Angeles, Abril de 2005), foi publicado na Revista Portuguesa de Humanidades 9: 1-2 (2005), 151-162, a cujo Editor se agradece a amável autorização para reproduzi-lo aqui. Alguns dos exemplos provêm de Azevedo 2003. Todas as citações conservam a ortografia original. * University of California, Berkeley. 25 Roman Jakobson. [1958]. “Closing statement: Linguistics and poetics,” em Sebeok 1960, 350-377. Republicado em Weber 1996, 10-35. 39 can call ‘literary linguistics’”.26 De fato, a expressão ‘literary linguistics’ tem sido usada em universidades britânicas (possivelmente seguindo o modelo de um programa oferecido pela Universidade de Strathclyde), como designação de uma atividade interdisciplinar em que a linguística é aplicada à análise de textos, “to examine how the analysis of texts reflects back on linguistic theory,” interpretando-se o adjetivo “literário” numa acepção ampla, que inclui “oral literature as well as written literature, and also media texts, including print journalism, radio and television”.27 O tema tem sido explorado em publicações como o livro The Text and Beyond. Essays in Literary Linguistics, organizado pela linguista norte-americana Silvia Bernstein, com quinze trabalhos que demonstram que “linguistic approaches to literature could extend beyond the text to all those things outside it that contribute to our understanding of language: history, culture, politics, social context” (Bernstein 1994, “Preface,” xi). Apresentam-se também trabalhos sobre as relações entre lingüística e literatura no âmbito das associações profissionais, como a American Association of Teachers of Spanish and Portuguese e a Modern Language Association of America. Esta última mantém uma divisão intitulada “Linguistic Approaches to Literature”, cujas sessões, nos congressos nacionais, incorporam trabalhos reveladores de uma pesquisa interdisciplinar diversificada, orientada à busca de uma interface entre a linguística e os estudos literários.28 O campo da linguística literária tem dois grandes objetivos complementares. O primeiro é a aplicação de teorias, técnicas e procedimentos derivados da linguística à análise de textos, tendo em conta a ressalva de Michael Toolan acerca de que “the term ‘literature’ itself is historically variable . . . and different social and cultural assumptions can condition what is regarded as literature”.29 O segundo objetivo consiste em pesquisar tais aplicações a fim de desenvolver uma base teórica coerente. Conforme se 26 Dereck Attridge. [1986] 1996. “Closing statement: Linguistics and poetics in retrospect.” Em Weber 1996, 36-53. p. 37. 27 Nigel Fabb. 2001. “The Programme in Literary Linguistics.” (http://homepages.strath.ac.uk). 28 Por exemplo, no congresso da Modern Language Association of America de 2004, as três sessões da Division of Linguistic Approaches to Literature incorporaram doze trabalhos sobre aspectos sintáticos do texto, semântica, análise do discurso, teoria da tradução, linguística de corpus e pragmática (PMLAPublications of the Modern Language Association of America, 119:6, 1502, 1546-47, 1588-89). 29 Michel Toolan. (1992: ix). 40 nota nos trabalhos reunidos em Freeman (1970), alguns dos interesses e procedimentos da linguistica literária encontram precedente nos estudos de estilística, caracterizada há três décadas por G. W. Turner como “that part of linguistics which concentrates on variation in the use of language, often, but not exclusively, with special attention to the most conscious and complex uses of language in literature”.30 Segundo a conceituação mais recente de Peter Matthews, incluiu-se na estilística “any systematic variation, in either writing or speech, which relates to the type of discourse or its context rather than to differences of dialect”.31 Para a consecução daqueles objetivos adotam-se duas perspectivas complementares. A primeira envolve a análise dos textos, a fim de demonstrar métodos capazes de elucidar as estruturas da linguagem. Isto implica aceitar os textos literários como fonte de dados para a análise lingüística, inclusive aquelas estruturas que possam ter uma baixa incidência estatística na fala espontânea. E numa visão mais ampla, inclui-se também o que se pode aprender através da comparação de amostras de fala real com a representação literária de modalidades não-padrão dialetos e socioletos, falas híbridas, linguajar de forasteiros, pidgins e crioulos, através do dialeto literário.32 Como as modalidades não-padrão constituem parte integral da língua, o estudo de sua representação oferece meios formais para compreender a sua estrutura e como se relacionam com a variedade padrão. A segunda perspectiva tem que ver com o lugar da linguística literária no âmbito acadêmico. Um programa mínimo de iniciação à linguística literária deveria incluir noções de linguística, elementos de diacronia, dialetologia e sociolinguística, e práticas de sua aplicação ao texto literário. Integrando os estudos de língua e de literatura, tal 30 G. W. Turner. Stylistics. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1973, p. 7. Peter Matthews. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 1977, p. 357. 32 A noção de dialeto literário foi caracterizada por Sumner Ives ([1950] 1971:146) como “a stylized representation of speech by means of nonstandard, regional, social, or even individual features”. Veja-se também Azevedo 2003. Sobre as outras falas mencionadas, vejam-se Bakker, Peter & Mous Maarten (orgs.), Mixed Languages. Fifteen Case Studies in Languages Intertwining. Amsterdam: IFOTT, 1994. Romaine, Suzanne. Bilingualism. 2nd edition, Oxford, Blackwell, 1995; Ferguson, Charles A. “‘Foreigner Talk’ as the name of a simplified register”, International Journal of the Sociology of Language, 28, 1981, 9-18; Sebba, Mark. Contact Languages. Pidgins and Creoles, New York, St. Martin’s Press, 1997; McWhorter, John H., Defining Creole, Oxford University Press, 2005. Têm particular interesse os estudos sobre dialeto literário na Language and Literature 10:2 (2001). 31 41 programa familiarizaria os alunos com os métodos da análise linguística de vários tipos de textos, começando pelos mais antigos, como o seguinte: —Ai, donzela! - disse Lançalot - que ventura vos adusse aqui? Que bem sei que sem rezom nom veestes vós. —Senhor, verdade é; mais rogo-vos, se vos aprouguer, que vaades comigo aaquella foresta de Camaalot; e sabede que manhãa, hora de comer, seeredes aqui. (A Demanda do Santo Graal, em Magne, 1944, p. 38). Um tal texto, embora simples, pode apresentar dificuldades aos leitores não habituados à linguagem da época e desconhecedores dos processos diacrônicos pelos que passou o idioma. A questão do léxico inclui problemas como o uso de ser por estar e formas arcaicas como adusse, aprouguer, vaades, sabede, veredes, foresta, manhã ( = amanhã). Além de facilitar a compreensão e esclarecer os processos de variação diacrônica, a análise diacrônica prepara o terreno para a compreensão do emprego de arcaísmos como recurso literário de velha tradição, refletida na passagem seguinte: --Armas, armas! que é gente de Baião!... Besteiros, às quadrelas! Homens em chusma às levadiças da carcova!. E Gonçalo, coçando a testa com a rama da pena, rebuscava ainda outros verídicos brados, de bravo som Afonsino . . . (Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires, p. 199.) Eça nos mostra Gonçalo Ramires, fidalgo português de finais do século dezenove, procurando dar à crônica familiar um tom verossímil, mediante uma linguagem arcaizante, supostamente evocadora da fala medieval, para ajudar o leitor a visualizar uma cena que pouco tem que ver com a sua época. Além disso, é possível ver-se nesse trecho uma sutil sátira à moda dos autores românticos, como Walter Scott e seus seguidores continentais, que temperavam a narrativa e o diálogo com palavras e construções arcaicas, criando assim um dialeto literário medievalizante, como no fragmento seguinte: - A la fé, dom coudel - bradava o cavaleiro - que não deveis passar o vau. Já vo-lo disse: a ordem do alferes-mor é que rodeemos o burgo e o castelo a 42 dois tiros de besta das barreiras. Segui-me, ende, se vos praz. (Alexandre Herculano, O Bobo, p. 141. As dificuldades encontradas pelo leitor atual incluem termos obsoletos, como besteiros, quadrelas, chusma, levadiças, carcova, infanções, prestameiros, alcaides, que requerem uma explicação não somente léxica como também cultural. Na morfologia, há substantivos compostos, como homens em chusma, chefes de linhagem, bairros coutados, (bairros) honrados, que também requerem clarificação. E na sintaxe, aparece uma oração subordinada sem conjunção subordinativa, a mui excelente rainha dos Portugueses vos roga espereis, uso hoje circunscrito a estilos formais. As técnicas de análise linguística são particularmente elucidativas no caso de textos em linguagem não-normativa, como nos dois exemplos seguintes, representativos da fala popular brasileira: Agora nem num sei si devo contá o resto, Frorinda, pruque eui quero é num te màtratá, já tava bem tonto quano incontrei ela. Nunca tinha visto simiante criatura, mais ela vinha vistida de apache, que agora as muié deu pra vistí carça no Carnavá... intão jurguei que ocê havia de ficá sintida de seu hôme num demostrá que era capáis de tudo, dei um tapa na padaria dela que ela vuô longe. (Mario de Andrade, “Foi sonho”, p. 32.) Prá não tá cum mais mapiage, eu digo a Vossa Senhoria, seu doutô, que nós tudo vivia alli dento daquelle mucambo, coberto de capim de côco da praia, munto mais mió que o seu Perzidente, no seu Palaço, aqui na Côrte. Faz cinco dia que cheguêmo nésta Vinida da sua Capitá e eu já tôu ardendo prá cahí na madêra! (Catullo da Paixão Cearense, “O olho d’agua”, p. 230.) Entre os traços salientes dessa fala popular encontramos casos de rotacismo (Florinda > Frorinda, calça > carça, julguei > jurguei), apócope de /r/ final de palavra (maltratar > matratá, vestir > vistí, doutor > doutô, capital > capitá), realização de lh como semivogal, formando ditongo (mulher > muié, semelhante > simiante), ditongação de vocal antes de /s/ implosivo (capaz > capaiz), e metátese (presidente > persidente). Na morfossintaxe, escasseiam os pronomes átonos, de resto pouco 43 frequentes na fala brasileira, 33 falta a concordância nominal e verbal (as muié deu, nós vivia) e aparecem formas verbais populares como [nós] cheguêmo por chegamos (em português europeu, chegámos) e comparações não-padrão: munto mais mió (<melhor). Há nesses textos, além dos dados sobre variação sincrônica e dialetal, abundantes dados sobre a variação linguística em função da estratificação social. No fragmento de Eurico encontramos formas de tratamento como senhor conde, dom coudel, mui excelente rainha e graciosíssima senhora, e nos textos de fala popular brasileira coexistem as formas pronominais de você e tu, e as formas de tratamento Vossa Senhoria, seu doutô, e seu Perzidente, cuja explicação requer informação sobre a praxis sociolinguística de cada época e ambiente. O exemplo seguinte oferece-nos um comentário explícito sobre a variação no uso dos pronomes tu e você no português brasileiro na primeira metade do século XIX. A ação tem lugar em 1834, na então Província do Rio Grande do Sul, mas o personagem Felipe provém da Corte, ou seja, do Rio de Janeiro. Santa: O que não tolero é que trates minha neta de você! ... Você! -- ora, já se viu? Leocádio: Você é uma expressão de carinho que se usa na Côrte, mamãe. Santa: Entre brancos?! Felipe: Sem dúvida, dona Santa. Não há menosprêzo em tal tratamento. Santa: Pois aqui no Sul, há! “Você” é para os negros, estás ouvindo?! “Tu”, “vós”, “senhora”, ou bico calado, estás ouvindo?! (Ernani Fornari, Sinhá moça chorou, 38-39) Textos como este assinalam que certas distinções entre variação regional e variação social são apenas uma questão de enfoque metodológico, já que na língua real ambas tendem a sobrepor-se. Além disto, a coexistência de dois idiomas pode 33 Sobre pronomes clíticos no português brasileiro, ver Cyrino, Sonia Maria Lazzarini,“Observações sobre a mudança diacrônica no português do Brasil: Objeto nulo e clíticos.” Português Brasileiro. Uma viagem diacrônica. Campinas: Editora da Unicamp, 163-184, 1993; Galves, Charlotte, “Ênclise e próclise: geometria ou álgebra, morfologia ou sintaxe?” D.E.L.T.A. 6:2, 1990, 255-272; Nunes, Jairo M., “Direção de cliticização, objeto nulo e pronome tônico na posição de objeto em português brasileiro.” Português Brasileiro. Uma viagem diacrônica. Campinas, Editora da Unicamp, 1993, 207-222; Pagotto, Emilio G., “Clíticos, mudança e seleção natural.” Português Brasileiro. Uma viagem diacrônica. Campinas, Editora da Unicamp, 1993, 185-206; Raposo, Eduardo, “On the null object in European Portuguese”. Studies in Romance Linguistics. Dordrecht, Foris, 1986. 44 condicionar a formação de falas híbridas, que têm sido empregadas em literatura, freqüentemente para fins cômicos. No Brasil, a semelhança entre o italiano e o português contribuiu para o desenvolvimento de uma fala híbrida ítalo-portuguesa nas comunidades de imigrantes procedentes de diversas regiões da Itália.34 No começo do século XX, ouvia-se em São Paulo, tanto na capital como no interior do estado, uma fala mista de italiano dialetal e português popular, que constitui a base da paródia idiomática desenvolvida por Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, publicada sob o pseudônimo de Juó Bananére. No exemplo seguinte, uma personagem discorre sobre o tema do atavismo: O tavismo é uma robba che fiz u padre e chi apaga u patu é u figlio. Per insempio: —u padre é uno imbriagone e inveiz é u figlio che incomincia da pigá us frango p’ras esquina senza bibé né uno pidacinho di pinga. Altro insempio: —u padre mata uma pirsona e disposa u figlio é chi vá preso p’ra gadéa. També as veiz só as robba do avó che incomincia da parecê inzima os nipoto. Ansí, per insempio, o avó do Xico fui sapatiere no Braiz també o Xico tê da sê sapatiere. (Juó Bananére, “La legge del tavismo” 147.) Notamos nessa passagem vários processos fonológicos do português popular brasileiro, como a ditongação da vogal antes de s (em vez > inveiz; cf. it. invece ‘em vez’) ou Braiz por Braz (hoje, Brás), bairro paulistano de concentração italiana. Há reflexos articulatórios italianos, como na sonorização de [k] > [g] (cadeia > gadéa), e modificam-se palavras mediante a perda ou acréscimo de fonemas: apaga u patu < paga o pato, tavismo < it./port. atavismo. Há também criações populares, como port. pop. despois > disposa, it. persona > pirsona, e hibridismos como imbriagone (cf. it. ubriaco + one, port. embriagado), bibé (cf. port. bebe(r), it. bibere), inzima os nipoto (cf. port. em cima + nipoto < it. nepoti ‘netos’), per insempio (cf. it. per esempio, port. por exemplo). As formas italianizadas incluem incomincia da + infinitivo (cf. 34 it. Sobre o italiano no sul do Brasil, ver Costa, Rovílio e Battistel, Arlindo I., Assim vivem os italianos. 3 vols. Caxias do Sul: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes e Editora da Universidade de Caxias do Sul, 1982. Parte da análise da fala híbrida ítalo-brasileira provém de Azevedo 2003, capítulo V. 45 comincia da + infinitivo), sapatiere (port. sapateiro + it. -iere), tê da sê (cf. port. tem de ser). Uma década mais tarde, outro escritor paulistano, Antonio Alcantara Machado, retratou estilizadamente a fala ítalo-brasileira: — Parlo assim para facilitar. Non é para ofender. Primo o doutor pense bem. E poi me dê a sua resposta. Domani, dopo domani, na outra semana, quando quizer. Io resto à sua disposição. Ma pense bem! (Antonio Alcantara Machado, “A sociedade”. Brás, Bexiga e Barra-Funda, 73) Encontramos aí, descontadas as repetições, palavras italianas (domani, dopo, io, ma, non, parlo, poi, primo, resto), portuguesas (a (art.), à, asim, bem, dê, disposição, doutor, me, na, o, ofender, outra, para, pense, quando, quizer, semana, sua) e outras comuns a ambos idiomas (e, é, me, quando, sua; cf. it. e, è, me, quando, sua). Embora à primeira vista este texto possa parecer uma mescla casual, os enunciados seguem um mesmo padrão, começando por uma palavra ou expressão italiana e passando logo ao português, que predomina na sintaxe e no léxico. Além disso, embora as sete orações comecem em italiano, somente em três a introdução funciona como oração principal, com um verbo conjugado (parlo, non é, io resto), e as demais começam com uma estrutura adverbial (primo, e poi e domani, dopo domani) ou uma conjunção (ma). Forma-se assim um discurso italizanizado, eficaz para criar uma ilusão de oralidade. Outro caso de hibridismo linguístico é a variedasde chamada emigrês, resultante do contato do português com o inglês nos Estados Unidos e no Canadá, mediante processos descritos por Pap e mais recentemente por Dias.35 A passagem seguinte mostra uma representação literária do emigrês: 35 Leo Papp. Portuguese-American Speech. New York: King’s Crown Press. 1949; Eduardo Mayone Dias. Falares emigreses. Uma abordagem ao seu estudo. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1989. 46 Terceirense: Micaelense: Terceirense: Micaelense: Co’ essa agora me engataste, / Pusest’me p’las tuas solas! / A América da gente / É um Portugal... com dólas. Isso, agora é que lhe destes! / Diz-me lá, mas sê-me franco: / Há quanto tempo não botas / Umas dolinhas no banco? Não sou burro de trabalho, / Nunca faço avataime, / Nem sou forreta c’ma tu / Que nunca gastas um daime? Eu cá faço economisas / Mas a frisa, é sempre cheia. / Tenho carro e talaveja / e a minha rècapleia. (Onésimo Teotónio Almeida, “Cantoria ao desafio”, Ah! Mònim dum Corisco!, 144145.) Os empréstimos léxicos, adaptados à fonologia portuguesa, incluem nomes de elementos tecnológicos inexistentes no ambiente original do imigrante, como dólas (< dollars), dolinhas (dólas (< dollars) + inhas), avataime (< overtime “horas extra”), daime (< dime “moeda de dez centavos”), frisa (< freezer “congelador”), talaveja (< television “televisão”), rècapleia (< record player “toca-discos”). Uma vez adotados, muitos desses termos tendem a permanecer indefinidamente na fala das gerações seguintes, que costumam ser mais escolarizadas, bilingües e que, com toda probabilidade, têm o inglês como idioma dominante. Tendo-se desenvolvido em circunstâncias de contato para a comunicação ao vivo, sem uma representação escrita, tais falas mistas costumam ter uma estrutura fluida, flexível, que permite muita variabilidade interna, manifestada na coexistência de formas paralelas. É o caso da fala tradicionalmente chamada fronteiriço (esp. fronterizo), ou dialetos portugueses do Uruguai, que apresenta estruturas morfológicas e sintáticas relativamente simplificadas, embora não tanto como os pidgins ou crioulos. O vocabulário é formado de palavras de ambos idiomas, além de muitas criações híbridas próprias, conforme se vê no fragmento seguinte, do escritor uruguaio Saúl Ibargoyen Islas: —Boa noite, siora... La siora disculpe... —Disculpo, sí, mosiño béin educado —dijo, ojos tenía ahora, seda fina en ellos, máscara desatándose. —Yo... eu quiría falar con la siora, si la siora quizer... —Si, lóyico, aquí mismo da. 47 —Si la siora no encuentra mal, puedo invitar una cerveza, digo, un licorsiño, para falar mejor... Miró alrededor, panuelo y perfume, hombres, mujeres, gurises, disfraces de esa noche, disfraces de casi siempre ¡vaya uno a investigar! Luego miró para mí, de las patas al pelo, todo miró, no voy a decir lo que vio, que ella se acuerde. —¡Nunca tiña visto mozo tan bunito! —dijo, mostró la lengua, cortita era, sí, rosada, moviéndose. —La siora disculpe, soy medio guascón, me llamo Joaquim Coluna. —¡Quéin no es guascón pur aquí, mosiño! Tudos son, con plata o sin plata —dijo, encerrando la lengua, bichito rosado, escapándose. —Tambéin no soy daquí, de la ciudá, vengo poco, es cerca y lejos ¿cómo esplicarle? —¿No me convidó con un licorsiño? —el bichito rosado, escondido, en su cuevita. (Saul Ibargoyen Islas, “El carnaval de María Boneca”, Fronteras de Joaquim Coluna, Caracas: Monte Avila Editores, 1975. 105-106.) Este texto, onde conversam o protagonista Joaquim Coluna e a prostituta María Boneca, recria literariamente a fala fronteiriça. O encontro ocorre numa cidadezinha de fronteira, onde se misturam os dois idiomas, e durante um baile de carnaval, ambiente em que se dilui a demarcação entre realidade e fantasia. A fala de ambos contém construções derivadas no português, como tambéin no (port. também não, esp. tampoco) ou miró para mí (port. olhou para mim, esp. me miró). A palavra afirmativa sí aparece numa construção aportuguesada, que, ao contrário do espanhol, ecoa na resposta o verbo da pergunta (Disculpo, sí, cf. port. desculpo, sim, esp. Sí, le disculpo). Também é português o uso de ter como auxiliar em nunca tiña visto (cf. port. nunca tinha visto, esp. nunca había visto). Há variabilidade na alternância dos pronomes yo e eu, e no fato de que Coluna, usando uma pronúncia que evoca a brasileira (quiria, cf. esp. ‘quería’), cumprimenta María Boneca em português (boa noite), empregando o tratamento a siora, que alterna com la señora em outras passagens.36 A variabilidade impregna o texto, pois se a voz de Coluna-narrador mantém-se mais próxima do espanhol (dijo, ojos tenía ahora, seda fina en ellos, máscara desatándose, miró alrededor, que ella se acuerde), a fala de Coluna-personagem é 36 Sobre Ibargoyen, veja-se Magdalena Coll, “La narrativa de Saúl Ibargoyen como representación literaria de una frontera lingüística”, Hispania 80: 4 (1995), 745-752. 48 sistematicamente híbrida. A ortografia funciona como um mecanismo que, além de evocar a oralidade, proporciona ao dialeto um espaço próprio, situado entre o português e o espanhol -- uma zona de sombra formada por um dialeto literário, um tertius quid que constitui a chave para a compreensão do amálgama cultural. Tal fala fronteiriça guarda alguma semelhança com certos linguajares híbridos mais precários, resultantes da permeabilidade geográfica e cultural das regiões de fronteira, como a fala representada no romance Mar paraguayo, de Wilson Bueno: 37 Que terror puede ser la beleza! Añaretã, añaretãmenguá. De que monstruosidades y sinistro fascínio es un niño de duros muslos cavalo, a las diez de jueves en diciembre, do lado de lá da rua, bate bate pi’abereté, ô pi’á, coração e el bajo-ventre, t i)egui, t i)egui, do lado de la instaurando la convulsión, tugu i)vaí, justo ali donde las vizinhas... (Wilson Bueno, Mar paraguayo, São Paulo: Secretaria do Estado da Cultura do Paraná e Editora Iluminuras, 1992, p. 26. ). Apesar de sua aparência, que poderão estranhar os leitores desacostumados às falas híbridas, trata-se de um discurso coerente, que mantém o suspense da narrativa do começo ao fim do romance. Encontram-se ali vocábulos portugueses e espanhóis, palavras comuns a ambas as línguas e outras do guarani, como añaretã ‘inferno’ ou añaretãmeguá ‘coisa infernal’, que têm um papel significativo na narrativa, embora não se mesclem facilmente com as outras duas línguas. Sendo tais falas híbridas essencialmente orais, a ausência de uma representação escrita padronizada estimula uma morfologia e uma sintaxe flexíveis, que aceitam a coexistência de formas alternativas, promovendo assim uma variabilidade morfossintática interna ao sistema. A morfologia verbal gera combinações de uma raiz portuguesa com uma desinência espanhola, e há também hibridismos sintáticos. Abrangendo uma ampla gama de possibilidades ao nível da parole, esse linguajar se define ao nível da langue como um meio singularmente expressivo para uma narradora que constitui, também ela, um híbrido cultural. Em consequência, a variabilidade do código reforça a marginalidade da personagem, apresentando-a como um ser subalterno, cuja fala mestiça constitui seu único recurso para apreender e transmitir a sua peculiar 37 Parte desta análise provém de Azevedo 2004. 49 visão da realidade. Por outro lado, a persistência desse linguajar questiona nossa percepção das noções de identidade linguística. Culturalmente, achamo-nos condicionados a distinguir entre o português e o espanhol, mas não a reconhecer que algo como o portunhol possa ter sua própria identidade. Não obstante, o fato de sermos capazes de ler a sua prosa -quer dizer, de engajá-la em um diálogo significativo- revela a sua viabilidade comunicativa e também, como dialeto literário, caracteriza mimeticamente a voz narradora, conferindo validez à sua especificidade cultural. Estes comentários sugerem que a aplicação de métodos linguísticos à análise de textos é capaz de elucidar os processos de manipulação da linguagem conducentes à criação de efeitos literários como o uso de dialetos e socioletos, a exploração das relações sociais mediantes variáveis como as formas e os pronomes de tratamento, ou a distribuição de informação em termos de tópico e comentário. Não obstante, seria prematuro, dado o estado de nossos conhecimentos, pretender desenvolver uma teoria de linguística literária. Ao contrário, parece prudente adotar uma atitude eclética, que estimule a exploração do texto como construção linguística, enfocando-o de diversos pontos de vista e definindo os métodos explicitamente, de modo a permitir a verificação independente das conclusões alcançadas na análise de propriedades formais do texto que reflitam elementos de fonologia, morfologia, sintaxe, variação regional e/ou social, e outros aspectos linguísticos. Dessa maneira, à medida que se desenvolver uma metodología analítica de linguística literária, deverá ser possível começar a definir um conjunto de princípios teóricos sobre a maneira pela qual a linguagem constrói o texto literário. Fontes ALCANTARA MACHADO, Antonio, [1928] 1972. “A sociedade”. Brás, Bexiga e Barra-Funda. São Paulo, Editorial Hélios, 1972. ALMEIDA, Onésimo Teotónio, “Cantoria ao desafio”, em Ah! Mònim dum Corisco! Lisboa, Edições Salamandra, 3a ed, 1998. AANDRADE, Mario de, [1933], “Foi sonho”. Em Os filhos da Candinha, São Paulo, Livraria Martins, 1943, pp. 31-35. CATULLO DA PAIXÃO CEARENSE, “O olho d’agua,” em Poemas Bravios, 10a ed. Rio, Befdeschi, 1951. FORNARI, Ernani, [1940], Sinhá Moça chorou. São Paulo: Livraria Martins, 1941. 50 HERCULANO, Alexandre, [1843]. O Bobo. Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1992. IBAGOYEN ISLAS, Saul. “El carnaval de María Boneca”, em Fronteras de Joaquim Coluna, Caracas: Monte Avila Editores, 1975. MACHADO, Alexandre Ribeiro Marcondes. “La legge del tavismo”. Citado em Antunes, Benedito, 1998. Juó Bananére: As Cartas d’Abax’o Pigues. São Paulo, Editora Unesp, 147, 1912. MAGNE, Augusto (ed.). A Demanda do Santo Graal. Vol. I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944. QUEIROZ, Eça de. A Ilustre Casa de Ramires. Lisboa: Lello e Irmãos, 1961. Referências bibliográficas ATTRIDGE, Derek. [1986] “Closing statement: Linguistics and poetics in retrospect.” Em Weber 1996, 36-53. AZEVEDO, Milton M. Vozes em Branco e Preto. A Representação Literária da Fala não-padrão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. ___________________. “Language hybridity: Portunhol as a Literary Device in Wilson Bueno's Mar Paraguayo.” Revista Portuguesa de Humanidades 8, 267-278, 2004. BERNSTEIN, Cynthia Goldin (org.). The Text and Beyond. Essays in Literary Linguistics. Tuscaloosa e Londres: The University of Alabama Press, 1994. DIAS, Eduardo Mayone. Falares emigreses. Uma abordagem ao seu estudo. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1989. FABB, Nigel. 2001. “The Programme in Literary Linguistics.” (http://homepages.strath.ac.uk) JAKOBSON, Roman. [1958] “Closing statement: Linguistics and poetics,” em Sebeok 1960, 350-377. Republicado em Weber 1996, 10-35, 1960. MATTHEW, Peter. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 1997. PAP, Leo. Portuguese-American Speech. New York: King’s Crown Press. 1949. PENNY, Ralph.. A History of the Spanish Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. RODRIGUES LAPA. Crestomatia arcaica. Lisboa: Gráfica Santelmo, 1960. SEBEOK, Thomas A. (org.). Style in Language. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960. SIMPSON, Paul. Language through Literature. An introduction. Routledge, 1997. TURNER, George W. Stylistics. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1973. WEBER, Jean Jacques (org.). The Stylistics Reader. From Roman Jakobson to the Present. London: Arnold, 2996. 51 Literatura e ciências: o caso de Émile Zola Álvaro Cardoso GOMES* Resumo:Este artigo trata da questão da multi/interdisciplinaridade, entendida como o benéfico intercâmbio de disciplinas, para vencer a barreira do monolitismo da especialização. Tomando como modelo o romance naturalista e experimental de Zola – mais especificamente, Thérèse Raquin –, procura mostrar como a simples transferência de método – no caso, das ciências experimentais para a Literatura –, implicando a soberania de uma ciência sobre outra, resulta num falhanço, num equívoco, que impede o frutífero diálogo entre diferentes áreas científicas. Palavras-chave: multidisciplinar, interdisciplinar, Revolução Industrial, especialização, Positivismo, naturalismo, romance experimental. Os trabalhos científicos mais recentes têm dado ênfase especial às discussões acerca da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que supõem uma ruptura com a barreira monolítica da disciplina, entendida como uma “categoria organizadora dentro do conhecimento científico”. A disciplina, ao instituir “a divisão e a especialização do trabalho” , reflete, em sua concepção, tanto as influências do Positivismo, alicerçado nos princípios da “Razão Triunfante”, quanto da Revolução Industrial, cujo sucesso dependia da especialização e da divisão da força de trabalho, com a conseqüente economia de recursos e a produção em massa de bens de consumo. Com a disciplinaridade, baseada na “exploração científica e especializada de determinado domínio homogêneo de estudo”38, observa-se a criação de áreas de competência, ilhas de conhecimento estanques, que levam ao solipsismo científico do pesquisador e à percepção dos objetos como fenômenos auto-suficientes. Fechados em * Professor Titular da FFLCH da Universidade de São Paulo, Visiting Professor na UCB, Berkeley, EUA, professor titular do programa de pós-graduação multidisciplinar da Universidade São Marcos (São Paulo), autor, entre outros livros, de A estética simbolista, A poética do indizível, A melodia do silêncio,etc. 38 IRIBARRY, Isac Nikos. Aproximações sobre a transdisciplinaridade: algumas linhas históricas, fundamentos e princípios aplicados ao trabalho de equipe, Psicologia: reflexão e crítica, v. 16, nº 3, Porto Alegre: Universidade Federal do rio Grande do Sul, 2003. 52 suas fronteiras, os pesquisadores hiper-especializados tornam-se (ou procuram se tornar) donos do poder, não admitindo incursões em seus campos de trabalho, provocando, com isso, uma visão distorcida da realidade, compreendida, apenas e tão somente, da óptica exclusivista da especialização. Do mesmo modo que o operário especializado de uma linha de montagem vê o mundo da perspectiva de sua especialização, o pesquisador, encerrado nos limites do seu mundo de pesquisa, acaba por não ter uma noção mais complexa de realidade, obrigando-se a captar dela fragmentos, aquilo que sua óptica limitada lhe permite ver. Não seria aqui demais lembrar a personagem Peter Kien da obra-prima de Canetti, Auto-de-fé, que, fechado em sua imensa biblioteca de sinologia, passa o tempo a compulsar obsessivamente os tomos de sua especialidade e, com isso, aliena-se completamente da realidade e do seu tempo39. O intelectual do romance lê o real apenas como um palimpsesto, um códice, que o encerram num tempo/espaço fictício e/ou textual. O resultado disso é ele ser vítima dos oportunistas de plantão que se aproveitam de sua absoluta incapacidade de lidar com a realidade cotidiana e de reagir a seus estímulos, para explorá-lo e roubá-lo. Essa tendência monolítica, altamente especializada das ciências – de que a situação de Piter Kiern é uma grande metáfora – vigorou com muita força nos meados do século XIX, quando havia então a supremacia da Biologia, da Sociologia sobre as demais formas de conhecimento, sob a égide do Positivismo, que procurava compreender o universo a partir do método experimental e da abordagem objetiva dos fenômenos: “o Positivismo filosófico é, assim, um sistema resultante da aceitação do método científico como o único meio de atingir o conhecimento válido”.40 Isso levou os positivistas à tentativa de interpretarem o Universo e o homem de acordo com leis precisas, válidas tanto para os seres brutos quanto pra os seres animados, como rezava, por exemplo, o Determinismo de Taine, para quem o homem não passava de uma “machine aux rouages ordonnés”.41 Ao eleger as ciências experimentais (e, por extensão, a inteligência analítico-científica), como o meio mais adequado de se compreender o mundo, o homem do século XIX obrigava-se a ter uma visão estática, 39 3ª ed., trad. bras., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, /1991/ FURST, Lílian R. e SKRINE, Peter N. O Naturalismo, trad. port., Lisboa: Lysia, /1975/, p.32. 41 “Máquina d engrenagens ordenadas”, Histoire de la litérature anglaise, apud FURST, Lílian R. e SKRINE, Peter N. O Naturalismo op. cit, p. 34. 40 53 unilateral e, sobretudo, fragmentária da realidade e ainda mais do homem, contrariando, inclusive, o modo natural de o sujeito perceber os fenômenos. De acordo com a teoria da percepção, o sujeito, no momento primeiro da abordagem do real, costuma captá-lo em bloco e não em unidades decompostas em partes e/ou artificialmente organizadas. A inteligência analítico-científica é que, para melhor apreendê-lo, fragmenta-o, dividindoo em partes sem um todo, pelo efeito da análise. Se o método científico-analítico facilita enormemente a tarefa cognitiva, por outro lado, ajuda a falsear a visão do real, no sentido de que representa mesmo uma deformação do real, ao concebê-lo como partes sem um todo, como unidades autônomas ou mesmo como unidades organizadas por categorias, por sistemas. É o que nos ensina Bergson: Se passássemos em revista as faculdades intelectuais, veríamos que a inteligência não se sente à vontade, que não está plenamente em sua casa, a não ser quando atua sobre a matéria bruta, e em particular sobre os sólidos. Qual é a propriedade mais geral da matéria bruta? Ela é extensa, ela nos apresenta objetos exteriores a outros objetos e, nesses objetos, partes exteriores à parte. Sem dúvida nos seria útil, em vista de nossas manipulações ulteriores, considerar cada objeto como divisível em partes arbitrariamente destacadas, sendo cada parte, divisível ainda ao nosso capricho, e assim por diante, ao infinito. Mas para a manipulação presente, é-nos necessário antes de tudo, tomar o objeto real com o que lidamos, ou os elementos reais nos quais o reduzimos, por provisoriamente definitivos e os tratar como unidades. Fazemos alusão à possibilidade de decompor a matéria o quanto queiramos e a quanto nos agrade quando falamos da continuidade da extensão material (...). O seccionamento da matéria, em corpos organizados, é relativo aos nossos sentidos e à nossa inteligência (grifos do original).42 É por isso que o filósofo francês, no início do século XX, acaba por defender a intuição como a faculdade suprema para melhor se aproximar do mundo em toda sua complexidade, em detrimento da inteligência, pelo fato de esta só se representar “claramente o descontínuo, a imobilidade”43. A conseqüência dessa atuação da inteligência analítico-científica está na imobilização do real, com a eliminação de sua duração temporal, na sua subdivisão em partes autônomas entre si, para estas que sejam 42 43 BERGSON, Henri. A evolução criadora, trad. bras., Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 167. Idem Ibidem, p. 140-141. 54 depois organizadas dentro de sistemas, rigidamente controlado por leis imutáveis. Esse foi o desiderato de Taine, por exemplo: ao entender o homem como uma “máquina de engrenagens ordenadas”44, pensava em fazer dele, de acordo com a utopia positivista, um objeto passivo, pronto a ser compreendido pela observação, descrição e análise absolutamente imparciais. Desaparecem assim as nuanças – o ser humano é, a rigor, apenas o resultado da herança genética, do meio, do momento histórico e, como tal, captado pela observação, reduz-se a uma fórmula, mesmo que isso implique sua compreensão inerte, estática, imutável. Nesse caso, outras variantes não serão consideradas, como por exemplo, o vasto mundo do inconsciente, infenso à abordagem experimentalista e que, por isso mesmo, merecerá uma atenção toda especial de Freud, no início do século XX. A psicanálise derrubará o seguro edifício do Positivismo/Determinismo ao pôr em questão os métodos experimentais, as leis deterministas e ao considerar, como fundamentais na compreensão do homem, dados aparentemente aleatórios provindos, por exemplo, dos sonhos. Essa maneira monolítica de pensar oriunda do Positivismo teve como efeito a produção de especialistas e o maior o isolamento das Ciências (e por que não dizer também das Artes?), cada uma fechada em seu nicho, pronta a estudar o inerte e incapaz de captar o móbil, os aspectos durativos do real. Contudo, no pós-guerra do século XX, começam a surgir tendências que se voltam contra a especialidade, contra a irredutibilidade dos modelos e promovem, ao mesmo tempo, as relações mais dinâmicas entre as Ciências. Fernand Braudel observa com propriedade que, apesar da genialidade de Marx, muitos de seus modelos se tornaram esquematizados e rígidos, porque foram “imobilizados em sua singeleza, e deu-se-lhes o valor de lei, de explicação prévia, automática, aplicável a todos os lugares, a todas as sociedades”45; é ilusão, portanto, tentar reduzir a complexidade do social a um modelo, a uma linha de explicação por melhor que ela seja. Com o advento da interdisciplinaridade, verifica-se que as fronteiras monolíticas das ciências terminam por desaparecer, na medida em que acontece a “transferência de métodos de uma disciplina 44 45 FURST, Lílian R. e SKRINE, Peter N. Op. cit., p. 34. BRAUDEL, Fernand. História e ciências sociais. Trad. port., Lisboa: Presença, /s.d./, p. 37-38. 55 a outra”46. Assim, por exemplo, os métodos matemáticos sendo transferidos pra o plano da Física, provocando o surgimento da Física Matemática. Lembramos também o frutífero diálogo estabelecido entre a Literatura e a História, com a transferência de métodos para a abordagem de mesmos objetos. Se a Literatura, nos meados do século XIX, durante a vigência do Romantismo, sob a influencia da nova ciência, a Arqueologia, se propunha a revolver o passado, mormente o da Idade Média, realizando verdadeiras escavações, compulsando documentos históricos, para a elaboração do chamado “romance histórico”, com a Nova História, a partir da década de XX, a História se servirá de expedientes literários, mais especificamente a investigação do universo da afetividade, para elaborar a sua “história das mentalidades”. A documentação, antes reservada aos documentos ditos oficiais, compreenderá agora o mundo das cartas pessoais, dos diários, das receitas alimentícias, para tentar compreender o homem em sua insignificância do dia-a-dia. A História não se voltará tão somente para o espetaculoso da Grande História, que contemplava os atos transformadores das elites, com que a literatura oficial foi sempre muito generosa, mas também para o mundo de criaturas muitas vezes anônimas, escondidas nas brumas do tempo, como o pobre moleiro de O queijo e os vermes47, que o historiador acompanha, tentando compreender o sentido de suas visões e do choque que isso provoca na religião oficial. Nesse sentido, Literatura e História, de uma maneira ou de outra, sempre se beneficiaram dessa benéfica autêntica troca de métodos. Mas também seria possível ver essa transferência de métodos, talvez antecipando as discussões interdisciplinares, em certas experiências mais ousadas levadas a cabo nos fins do século XIX por artistas, que tentavam atingir a chamada “correspondência entre as artes”, durante a vigência do Simbolismo/Decadentismo. Sob influência das teorias místicas de Swedenborg, concernentes ao princípio das correspondências, ou seja, de que tudo que existe no Universo se corresponde, vive em consonância com uma alma universal, os artistas do período buscavam uma linguagem universal, integradora de todas as artes, feita ao mesmo tempo de sons, olores, cores e valores espirituais. Essa fusão de diferentes artes teve sua profissão de fé no 46 47 IRIBARRY, Isac Nikos, op. cit., p. . GINZBURG , Carlo. 3ª ed. trad. bras., São Paulo: Cia das Letras, 1987. 56 emblemático poema de Baudelaire “Correspondências”, em que o poeta francês propunha a plena integração dos sentidos e do espírito, ao dizer que “há perfumes frescos como carnes de crianças,/doces como os oboés, verdes como as pradarias”. A erupção do odor seria responsável pela imediata fusão de sensações, como se o perfume, num instante epifânico, tivesse um aspecto tátil, visual, auditivo, mas também espiritual. O que Baudelaire poetizou (e mesmo J.K.-Huysmans transformou em prosa poética, com seu exótico romance A rebours48) é levado ao extremo nas experiências de um Helmholtz com os instrumentos falantes e, sobretudo, nas do poeta finissecular René Ghil que, em Traité du verbe, buscou integrar, em rigorosas tabelas, o valor fonético das vogais com as cores, com o som de determinados instrumentos e com sentimentos49. Ao compor um poema, de acordo com sua teoria, o poeta, escolhendo com rigor as articulações entre vogais e consoantes, evocaria sonoridades específicas que, por sua vez, evocariam cores e sentimentos. Um falhanço enquanto proposta científica, os experimentos de René Ghil revelaram-se, contudo, como uma benéfica tentativa de romper as rígidas fronteiras entre as artes e, por conseqüência também, as fronteiras impostas aos nossos sentidos, que, controlados pela inteligência, deixam de estabelecer correspondências entre si. Verifica-se, assim, que, ao longo da história, houve tentativas não só de escapar da camisa de força imposta pelo Positivismo, que propugnava pelo monolitismo na pesquisa, ao erigir as Ciências experimentais como única via de acesso ao conhecimento da realidade, como também para romper as fronteiras das formas de conhecimento, de modo a tornar mais dinâmicos e totalizadores os modos de entender o real, já por si só complexo e irredutível a ser apreendido de uma maneira simplista e redutora. A transferência de métodos de uma ciência para outra, por conseguinte, é extremamente benéfica porque favorece à melhor compreensão da realidade multifacetada, para evitar que ela venha a ser sistematizada de acordo com uma única linha de explicação por mais complexa e bem pensada que seja tal linha. Todavia, essa transferência deve ter duas vias, sem que haja hierarquias, ou o predomínio de uma 48 Nesse romance decadentista, a personagem Des Esseintes isola-se do mundo em sua mansão, onde procura aguçar os sentidos ao máximo, promovendo exatamente a comunhão entre diferentes sensações. Entre seus experimentos, um dos mais interessantes deles é um curioso órgão de licores que, estimulando as papilas gustativas, recordam sonoridades, ou seja, verifica-se aí a busca de integração das sensações. 49 Paris: Nizet, 1978 Em méthode à l’oeuvre. Traité du verbe: États successifs.. Textos apresentados e comentados por Tiziana Gorupi.. 57 ciência sobre a(s) outra(s). Quando acontece de haver hierarquias ou a supremacia de um método sobre o outro, verifica-se o equívoco metodológico. E é sobre um equívoco metodológico que gostaríamos de tratar nos limites deste ensaio: o do chamado “romance experimental”, perpetrado pelos adeptos do chamado Naturalismo, movimento literário que teve seu auge nos meados do século XIX. Surgindo quase como mero epifenômeno do Positivismo/Determinismo, essa tendência procurou adequar os métodos literários aos rigorosos métodos científicos então vigentes. Escolhemos como objeto de análise a obra do escritor francês Émile Zola que não só escreveu ensaios teóricos sobre a questão – O romance experimental – como também, no conjunto de seus romances, principalmente os do ciclo dos Rougon-Macquart e Thérèse Raquin, procurou colocar em prática a teoria experimental. Se não bastasse isso, também escreve um prefácio à segunda edição desse último livro, por meio do qual, tenta não só explicar o modo como concebeu o romance, como também tenta programaticamente explicitar as relações entre os métodos das ciências biológicas e os métodos romanescos. Mas vamos ao ideário de Zola, expostos no volume de O romance experimental que originariamente foi publicado em 1880, reunindo ensaios que haviam saído em periódicos russos e franceses. Já nas primeiras páginas do longo ensaio, o escritor francês aponta para o estreito relacionamento entre os métodos de composição romanesca e os métodos científicos: A volta à natureza, a evolução naturalista que empolga nosso século, impulsiona aos poucos todas as manifestações da inteligência humana num mesmo caminho científico. Mas a idéia de uma literatura determinada pela ciência causou surpresa, por não ter sido bem explicitada e compreendida. Farei aqui tão-somente um trabalho de adaptação, pois o método experimental foi estabelecido com uma força e uma clareza maravilhosas por Claude Bernard, em sua Introdução ao Estudo da Medicina experimental. Este livro, de um cientista cuja autoridade é decisiva, vai servir-me de base sólida. (...) No mais das vezes, bastará substituir a palavra “médico” pela palavra “romancista”. (os grifos são meus)50 50 Trad. bras., São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 25. 58 Claude Bernard foi um famoso fisiologista francês (1813-1878), membro da Academia de Ciências e da Academia Francesa, que realizou importantes pesquisas no campo teórico-prático no campo da Medicina, tendo alcançado muita notoriedade, sobretudo, pelos seus métodos de caráter experimental. Entusiasmado com isso e abraçando o credo positivista-naturalista, Zola procura adaptar, de maneira literal, os métodos científicos à Literatura, na medida em que vê esta como que determinada pelas Ciências. Conforme observa Ítalo Caroni, “o romance experimental nada mais é do que a forma ideal da literatura destes novos tempos científicos. Observador-experimentador, o romancista redige a ata, ou relatório (le procès-verbal) de uma experiência”51. O problema reside na simples “adaptação” de um método eficaz nas Ciências e cuja eficácia não pode ser comprovada na área da Literatura – e isso faz que Zola parta de uma falsa premissa, ao construir os alicerces dessa aproximação metodológica: Claude Bernard demonstra que este método aplicado ao estudo dos corpos brutos, na Química e na Física, deva ser igualmente aplicado ao estudo dos corpos vivos, em Fisiologia e Medicina. Vou tentar provar por minha vez que, se o método experimental conduz ao conhecimento da vida física deve conduzir também ao conhecimento da vida passional e intelectual.52 O argumento de Zola é no mínimo falacioso, porque, em realidade, ele não consegue provar com sólidos argumentos, ou mesmo com argumentos científicos, como que é possível essa adaptação e/ou transplante da metodologia científica para a literária. Nada há que sustente que o “método experimental”, tão eficaz na análise da vida física, o seja também no “conhecimento da vida passional e intelectual”, já que se trata de departamentos distintos. Partindo dessa falsa premissa e, por conseguinte, transformando o trabalho do romancista num sub-produto, já que ele deverá agir estritamente como um cientista, o escritor francês constrói assim o seu edifício do “romance experimental”. A começar que, fiando-se nos princípios científicos de então, acredita que há leis fixas para todos os fenômenos, e que, por conseguinte, o homem não passa de um máquina, “cujos mecanismos o experimentador poderá desmontar e montar”. De modo equivalente, os filósofos e escritores poderão também “desmontar e 51 52 Introdução a O romance experimental, op. cit., p. 18. O romance experimental, op. cit., p. 26. 59 montar” o mecanismo dos “atos passionais e intelectuais”: “Em uma palavra, devemos trabalhar com os caracteres, as paixões, os fatos humanos e sociais, como o químico e o físico trabalham com os corpos brutos, como o fisiólogo trabalha com os corpos vivos”53, ou seja, do ponto de vista do escritor francês, as leis que regem o comportamento dos corpos vivos são as mesmas que regem os “caracteres, as paixões”. Ipso facto, adotando-se o método experimental, seria possível analisar e descobrir o mecanismo que determina o funcionamento dos “caracteres e paixões”. Mas, para que isso seja levado a cabo, é necessário um novo romance, segundo Zola, que, desprezando a “imaginação”, investe na “observação” e na “experimentação”, implicando que o escritor se torne impessoal: “quero dizer que o romancista não é mais que um escrivão que se abstém de julgar e de concluir”, se precavendo de intervir no destino das personagens, nos rumos da obra, que se torna assim uma espécie de “ata”.54 Entender o romance como uma ata ou mesmo um “relatório da experiência que o romancista reproduz sob as vistas do público” tem como conseqüência o distanciamento quase que absoluto do escritor do objeto que pretende observar e analisar. O romance é concebido como um laboratório, dentro do qual as personagens, extraídas da realidade (“um fato observado fará eclodir a idéia da experiência que deve instituir”), são inseridas, sofrendo os impactos do meio e sendo observadas pelo “cientista” em que se transformou o escritor, para que este possa tornar-se “mestre da vida para dirigi-la”. E como o escritor pretende controlar seu experimento? Com que fim, se não pode interferir em todo o processo? A finalidade passa a ser uma finalidade moral, no sentido de que o romancista, com seu laboratório, visa a “dominar o homem”, ou ainda, visa a “possuir o mecanismo dos fenômenos do homem, mostrar a engrenagem das manifestações intelectuais e sensuais”55, transformando-se em mestre da “vida”, com vistas a poder fazer uma análise crítica do entorno social e, ao mesmo tempo, agir sobre ele, a fim de modificá-lo. E, desse modo, o autor acaba por desenhar a grande utopia naturalisto-socialista a que almeja: 53 O romance experimental, op. cit., p. 39 e 41. Idem, p. 102 e 103. 55 Ibidem, p. 43. 54 60 Quando os tempos tiverem caminhado, quando possuirmos as leis, bastará agir sobre os indivíduos e sobre os meios, se quisermos chegar ao melhor estado social. (...) Ser mestre do bem e do mal, regular a vida, regular a sociedade, resolver com o tempo todos os problemas do socialismo, e, sobretudo, trazer as bases sólidas para a justiça, resolvendo pela experiência as questões da criminalidade, não é ser os operários mais úteis e mais morais do trabalho humano?56 Passando da teoria à prática, é nossa intenção ilustrar como Zola aplica tais princípios ao experimento que é o romance. Em Thérèse Raquin, romance passional, ele não só dá amostras do método narrativo em si, realizado à luz dos procedimentos científicos, como também, no prefácio da obra, procura explicar os procedimentos adotados na escolha do tema, das personagens e na metodologia empregada no tratamento dos seres vivos, submetidos a uma experiência que é muito similar à do de um fisiologista. Acredito que valeria mesmo a pena transcrever trechos desse prefácio à segunda edição francesa, que é de 1868 (a primeira edição é de 1867): Em Thérèse Raquin, eu quis estudar temperamentos e não caracteres. Escolhi personagens soberanamente dominados pelos nervos e pelo sangue, desprovidos de livre arbítrio, arrastados em cada ato de suas vidas pelas fatalidades da própria carne. Começa-se, espero, a compreender que o meu objetivo foi um objetivo científico antes de tudo. Que se leia o romance com cuidado e ver-se-á que cada capítulo constitui o estudo de um caso curioso de fisiologia. Numa palavra, não tive senão um desejo: considerando um homem vigoroso e uma mulher insaciada, procurar neles o animal, e mesmo ver unicamente o animal, lançá-los num drama violento, e observar escrupulosamente as sensações e os atos desses seres. Eu simplesmente fiz com dois seres vivos o trabalho que os cirurgiões fazem com os cadáveres” (os grifos são meus).57 No primeiro dos fragmentos, chama a atenção a escolha a priori das personagens a serem estudadas, anteriormente à concepção do enredo, que fatalmente deverá ser abafado em prol da “observação” escrupulosa, do “estudo” de “temperamentos” e “não 56 57 O romance experimental, op. cit., p. 48. 2ª ed., trad. bras. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 10. 61 de caracteres”, isso porque aqueles deverão permitir, dada à sua materialidade – a questão dos nervos e do sangue – a abordagem científica, ao contrário destes, que envolvem imponderáveis, como, por exemplo, os aspectos psicológicos, a que a ciência da época ainda não tinha acesso. Outro ponto que chama a atenção é a questão do “livre arbítrio”, inexistente, no caso das personagens, que só agirão determinadas por leis rígidas, imutáveis, por influências rigorosas do meio, da raça, do momento histórico, conforme propugnavam as leis deterministas. Em não havendo “livre-arbítrio”, torna-se mais possível acompanhar o comportamento dos “temperamentos”, ainda mais se estes são dominados implacavelmente pelos nervos e pelo sangue, porquanto ocorrerá a previsibilidade desse futuro comportamento. Desse modo, pouca diferença há entre o exame das reações de tais seres, inseridos num “drama violento”, realizado pelo escritor-cientista, e a dissecação de cadáveres realizada por cirurgiões ou mesmo o exame de duas substâncias distintas, colocadas numa solução, por um químico. As personagens passam a ser entendidas como mecanismos de uma máquina e, como tal, não tendo livre-arbítrio, agem sob impulsos, o que faz que o romancista se abstenha de julgamentos morais. O homem é o que é em função do meio que o determina e dos antecedentes de raça que o impelem, por exemplo, à paixão e mesmo ao crime. Conforme dizia Taine, “o mal e o bem são produtos como o vitríolo e o açúcar”, ou seja, mal e bem são emanações físicas, meros produtos do corpo, implicando, portanto, que sejam considerados independentemente de seu valor moral, analogamente ao “açúcar” e o “vitríolo”. Ao conceber o romance como um laboratório onde fará experimentos, Zola obriga-se a repensar esse gênero narrativo, não mais entendido como pura ficção e, como tal, produto do imaginário, mas, pelo contrário, entendido como um documento, uma ata, em que se registrará um fato observado e extraído da realidade, ou mesmo como um laboratório dentro do qual se realiza um experimento: a interação de temperamentos opostos sob os efeitos deletérios de um meio. Seja num caso, seja noutro – o romance como ata/documento ou como laboratório –, o romancista, confundido com um cientista, deve necessariamente sacrificar a imaginação em favor da observação, da análise, já que, conforme as palavras do próprio Zola, ele mergulhou “cópia exata e minuciosa da vida”. Chama a atenção o adjetivo “exata”, porque ele 62 constitui uma evidente falácia. O que se entende por exatidão e mesmo “cópia” numa transposição, por meio de palavras de fatos da vida real? E até onde vai, portanto, a exatidão ou ainda de que critérios se serve Zola para determinar que seu romance seja uma “cópia exata” do real? Pelo simples fato de ele ter colhido o material do seu livro diretamente da realidade? Em suma, a idéia que Zola tem em mente para o novo romance, em tudo oposto ao romance romântico, que tinha por base a análise de caracteres, as paixões da alma, é baseada na mais estrita mimese, o que implica a completa subserviência do escritor ao mundo da realidade objetiva, no qual não pode interferir, ao adotar obrigatoriamente o comportamento de um cientista, de um fisiologista. Thérèse Raquin, portanto, não só a partir de seu prefácio, mas também a partir de sua composição, configura-se como um exemplo do romance-laboratório imaginado por Zola e, nesse sentido, peca pelo esquematismo. Antes de introduzir o drama passional, que constituirá o eixo da obra – o envolvimento amoroso entre Thérèse, seu marido Camille e o amante Laurent –, Zola prepara cuidadosamente o meio ambiente, que determinará o comportamento das personagens. E o meio é o pequeno e insalubre beco, onde se situa a loja de armarinhos e a casa da família Raquin, assim descrito em toques impressionistas pelo olho aparentemente objetivo e impessoal do narrador: No fim da rua Guénégaud, quando se vem do Sena, encontra-se o beco do PontNeuf, uma espécie de corredor estreito e sombrio que vai da rua Mazarine até a rua De Seine. Esse beco tem, no máximo, trinta passos de comprimento por dois de largura; é forrado de lajes amareladas, gastas e soltas que ressudam continuamente uma umidade acre; o teto de vidro que o cobre, cortado em ângulo, parece preto de tanta sujeira. Nos belos dias de verão, quando o sol forte queima as ruas, uma claridade esbranquiçada cai dos vidros imundos e se arrasta miseravelmente pelo beco. Nos dias horríveis de inverno, nas manhãs de nevoeiro, os vidros lançam apenas escuridão sobre as lajes viscosas, uma escuridão manchada e infecta. À esquerda cavam-se lojas sombrias, baixas, esmagadas, que deixam escapar baforadas frias de túmulo. (...) mais ao fundo, por detrás das prateleiras, as lojas tenebrosas são outros tantos buracos lúgubres nos quais se agitam formas bizarras.58 58 Op. cit., p. 15. 63 O suposto caráter impessoal da descrição que, exigência do método naturalista de Zola, é acentuado pelo uso do sujeito indeterminado junto ao verbo “vir”, em “quando se vem do Sena”, a designar um passante qualquer, que serve como testemunho, escolhido pelo escritor para certificar a localização e o tamanho exato do beco. Mas a impessoalidade é atenuada quando a sensação de umidade adquire a qualidade “acre” ou quando o verbo “parecer”, resultante de um juízo, de uma impressão pessoal. Mais adiante, essa interferência do narrador torna-se mais patente ainda, quando ele diz que a “claridade esbranquiçada” “cai” e “se arrasta miseravelmente, quando a escuridão é considerada “infecta” e, sobretudo, quando se utiliza um símile – “de túmulo” – para caracterizar a qualidade da friagem que provém das lojas sombrias. A lembrança da morte é imediatamente evocada, não só pela frialdade, mas também pelas sombras, pela escuridão. Ora, o intento de Zola é criar um cenário sombrio, insalubre, doentio, e as interferências do narrador – longe de adotar a absoluta objetividade – é a de provocar no leitor sensações físicas – de frio e de sombra – de modo a fazê-lo não apenas ler uma descrição anódina do real, mas ter diante de si um simulacro desse mesmo real, desperto e vivo, graças ao recurso do estilo impressionista. Mas Zola vai um pouco mais longe ainda: como a mostrar essa intimidade entre os corpos inanimados e os corpos vivos, ele, de certo modo, permite que os objetos tenham um comportamento que se aproxima do humano: a “claridade esbranquiçada” “se arrasta miseravalmente”, os “vidros lançam apenas escuridão”, as “lojas sombrias” “deixam escapar baforadas frias de túmulo”. É nesse cenário tenebroso que irá se situar a loja da família Raquin, e um prenúncio da influência desse meio insalubre sobre as personagens já se verifica no final do capítulo: O marido, que tremia constantemente de febre, punha-se na cama; nesse meio tempo a mulher abria a janela para fechar as venezianas. Ficava ali, por alguns minutos, diante do grande paredão negro, grosseiramente rebocado que se ergue e se estende acima da galeria. Passeava sobre esse paredão um olhar vago e, muda, vinha deitar-se, por sua vez, numa indiferença desdenhosa.59 59 Op. cit., p. 19. 64 Em realidade, vamos encontrar aqui, como nos romances clássicos, os índices que irão explicar o comportamento futuro das personagens e a cisão de um casamento mal resolvido:a doença do marido e o vazio vivido pela mulher, vazio esse representado pela contemplação do paredão. O negror da pintura é a representação visível, pictórica, sensível de um nada essencial ou a tradução do íntimo da esposa. No capítulo seguinte, ainda levantando esses índices, Zola tratará da origem familiar dos jovens, do temperamento de cada um, de modo a, baseando-se nos determinantes de raça e meio, conforme os postulados taineanos, justificar a derrocada do casamento de conveniência entre Thérèse e Camille, derrocada essa que é ativada pela intromissão de um elemento estranho a eles: Laurent. Desse modo, o romance visa a estabelecer uma relação de causa (fatos passados) e efeito (fatos futuros) entre os fatos, na medida em que obedece, com rigor, a uma lógica irrefutável: Thérèse e o amante Laurent, desprovidos de livrearbítrio, são o que os antecedentes familiares e o meio determinam e, desse modo, como numa reação química, sofrerão um processo de intensificação dos temperamentos: a natureza nervosa de Thérèse agirá poderosamente sobre a natureza sangüínea de Laurent: A natureza ríspida e nervosa de Thérèse Raquin havia agido de uma maneira estranha sobre a natureza rude e sangüínea de Laurent. Outrora, nos dias de paixão, suas diferenças de temperamento haviam feito daquele homem e daquela mulher um casal fortemente unido, criando entre eles uma espécie de equilíbrio, completando por assim dizer seus organismos. O amante dava o sangue, a amante os nervos, e viviam um no outro, tendo necessidade dos seus beijos para regular o mecanismo dos seus seres. Mas um desequilíbrio acabava de se produzir; os nervos superexcitados de Thérèse haviam dominado. Laurent viuse repentinamente lançado em pleno erotismo nervoso, sob a influência ardente da mulher, seu temperamento foi-se tornando pouco a pouco como o de uma mocinha agitada por uma neurose aguda. Seria curioso estudar as mudanças que, às vezes, se produzem em alguns organismos depois de determinadas circunstâncias. Essas mudanças, que começam na carne, não demoram a dominar o cérebro, e todo o indivíduo.60 60 P. 150. 65 Observe-se a presença de termos científicos como “mecanismo de seus seres”, “nervos”, “organismos”, “neurose aguda” que tentam explicar o comportamento das personagens de uma perspectiva mecanicista e fisiológica. Ainda chama a atenção o fecho do longo parágrafo, no qual Zola propõe o “estudo” das mudanças de “organismos” (e não de caracteres, personalidades, etc.), por efeito de circunstâncias externas. A explicação para esse fenômeno é dada por Zola em outras passagens do livro: A natureza e as circunstâncias pareciam ter feito aquela mulher para aquele homem, e tê-los empurrado um para o outro. e Essa comunidade, essa penetração mútua é uma realidade de psicologia e de fisiologia que sempre acontece com os seres que são lançados violentamente um contra o outro por grandes abalos nervosos.61 Ou seja: as personagens são dominadas e determinadas pela “natureza, pelas “circunstâncias” por “grandes abalos nervosos” e nunca agem movidos por uma vontade própria. Assim, empurrados “um para o outro”, entregam-se a uma paixão carnal que os levará ao adultério e ao crime. Como se constituíssem o açúcar e/ou o vitríolo taineano, agem sem escrúpulos, dominados por uma força que os ultrapassa. A exemplo de uma reação química em que os elementos interagem, somente sob o efeito de reagentes, também eles interagem, impulsionados por circunstâncias externas. Isso se verifica inclusive na mudança radical por que passa Laurent: sob o influxo do temperamento nervoso da mulher, ele que é um animal sangüíneo, forte, violento, se torna mais delicado e chega a se transformar num artista, quando uma sensibilidade desconhecida lhe vem à tona: Ele não podia adivinhar o terrível abalo que havia transformado aquele homem, desenvolvendo nele nervos de mulher, sensações agudas e delicadas. Certamente, um fenômeno estranho havia acontecido no organismo do assassino de Camille. 61 P. 56 e 117. 66 Pela análise é difícil atingir tais profundidades. Laurent talvez tivesse se tornado artista como havia se tornado medroso em conseqüência do grande desequilíbrio que abalara sua carne e seu espírito. Antes ele sufocava sob o peso esmagador do seu sangue, vivia cegado pelo espesso vapor de saúde que o envolvia; agora, emagrecido, fremente, tinha verve inquieta, as sensações vivas e pungentes dos temperamentos nervosos.62 Examinando-se de perto o arcabouço de imagens e de conclusões pseudocientíficas do romance de Zola, verifica-se que ele, em nome da doutrina naturalista, tentou de todas as maneiras transferir radicalmente uma metodologia – o da medicina experimental – para o campo das artes. Em realidade, Thérèse Raquin tem por base um velho motivo, já explorado à exaustão pelos romancistas do século XIX: o do eterno triângulo amoroso, bem como o da derrocada do casamento burguês, entrevistos em obras clássicas como Madame Bovary, Ana Karenina, O Primo Basílio, D. Casmurro, entre outras. Contudo, o velho motivo recebe uma nova roupagem: a linguagem científica, que visa a dar objetividade à narrativa, visando a substituir o imaginário pelo experimental, pelo observável. O dano maior é provocado com certeza absoluta pela simples transferência de métodos ou ainda pelo tirania do método científico, que determina, de maneira categórica, como deveria se produzir o conhecimento. Em conseqüência disso, os resultados são medíocres: Thérèse Raquin não consegue jamais esconder seu aspecto melodramático, seu caráter folhetinesco, encoberto pela linguagem moderna, pela linguagem científica. As personagens-títeres, agindo sob impulsos, sob o efeito do sangue, dos temperamentos não têm estofo e nem dimensão humana. O que salva a obra do malogro total, do equívoco do transplante de métodos, é a capacidade descritiva de Zola, seu talento natural para a elaboração de cenários impressionistas. O mais são veleidades, caprichos de que o escritor se livrará – felizmente – em suas obras de maturidade, como L’Assomoir, La Terre e Germinal. Abstract: This article questions the concept of multi/inter-disciplinal studies, understood as the beneficial exchange among disciplines in the interest of preventing the monolithic approach of specialization. Taking Emile Zola’s experimental naturalist work as a point of departure, this article analyzes the complexity of methodological 62 Op. cit., p. 172-173. 67 transference, in this case, that of the experimental sciences to Literature. Specifically in his novel Thérèse Raquin, the implied sovereignty of one science over the other, preventing fruitful dialogue between the disciplines, meets with failed, equivocal results. Key Words: multi-disciplinary, inter-disciplinary, Industrial Revolution, specialization, Positivism, Naturalism, Experimental Novel. Referências bibliográficas Fontes: ZOLA, Émile. O romance experimental, trad. bras., São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 25. ___________ Thérèse Raquin. 2ª ed., trad. bras. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 10. Obras teóricas BERGSON, Henri. A evolução criadora, trad. bras., Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 167. BRAUDEL, Fernand. História e ciências sociais. Trad. port., Lisboa: Presença, /s.d./, p. 37-38. CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. A produção do conhecimento: teoria e ciência dos modelos (epistemas, histórico e conceituação da interdisciplinaridade), Tempo & memória, São Paulo: Unimarco, 2004, nº 2, p. 101. CANETTI, Elias. Auto-de-fé, 3ª ed., trad. bras., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, /1991/ FURST, Lílian R. e SKRINE, Peter N. O Naturalismo, trad. port., Lisboa: Lysia, /1975/, p.32. GHIL, René. Paris: Nizet, 1978 Em méthode à l’oeuvre. Traité du verbe: États successifs.. Textos apresentados e comentados por Tiziana Gorupi.. GINZBURG , Carlo. 3ª ed. trad. bras., São Paulo: Cia das Letras, 1987. IRIBARRY, Isac Nikos. Aproximações sobre a transdisciplinaridade: algumas linhas históricas, fundamentos e princípios aplicados ao trabalho de equipe, Psicologia: reflexão e crítica, v. 16, nº 3, Porto Alegre: Universidade Federal do rio Grande do Sul, 2003. 68 Indígenas e portugueses nos primórdios de São Paulo Benedito Antônio Genofre PREZIA* Resumo: este trabalho tem como objetivo mostrar como os Tupi de Piratininga se posicionaram na segunda metade do século XVI frente ao projeto colonial português, implantado no planalto paulista. Apresentando a localização das aldeias na região, nos focamos no relacionamento desses indígenas não só com os jesuítas, que implantaram um projeto missionário, mas sobretudo com os portugueses, que passaram a viver no entorno da Casa de São Paulo, procedentes de Santo André, a partir de 1560. Com a guerra de Piratininga, desencadeada por pajés e alguns líderes descontentes, em 1562, embora vitoriosos, os portugueses continuaram sendo pressionados por indígenas independentes, entrando a vila numa fase defensiva, que irá durar até o final do século. A partir daí, grupos paulistas entram pelo sertão na busca de escravos indígenas. Palavras chave: tupi, São Paulo quinhentista, resistência indígena. Introdução Não sem razão o historiador John Monteiro lamenta que “apesar de sua preponderância demográfica, o elemento indígena tem ocupado um espaço reduzidíssimo na historiografia paulista”. Diante do “papel heróico, atribuído ao bandeirante”, continua esse historiador, o indígena “quando não é apresentado como mero objeto, fica esquecido pela historiografia tradicional”. 63 Se não bastasse essa ausência, há alguns equívocos históricos, sendo o maior deles o que atribui aos Guaianá64 ou Guaianazes – supostamente de cultura e língua tupi * Doutor em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, tendo sido o presente texto base da palestra São Paulo indígena, proferida no Arquivo Municipal de São Paulo, nessa cidade, no ciclo de palestras Conhecendo o Arquivo Histórico, em março de 2009. 63 Vida e morte do Índio: São Paulo colonial. In: VÁRIOS AUTORES. Índios no estado de São Paulo: resistência e transfiguração, 1984, p. 21. 64 Sigo neste trabalho as orientações da Associação Brasileira de Antropologia-ABA, que propõe que os nomes dos povos indígenas sejam grafados com maiúscula e sem flexão de número e gênero e que o /c/ seja substituído pelo /k/. 69 -- sua localização e moradia onde hoje é a cidade de São Paulo. Este erro se mantém até hoje, sendo veiculado nos meios de comunicação, como ocorreu na novela da TV Globo A muralha, além de guias turísticos, publicações populares65 e eruditas66. Este estudo terá um olhar sobre os primórdios de São Paulo, não a partir do português e do litoral, como faz a historiografia oficial, mas a partir do povo Tupi, primeiro ocupante do planalto, mostrando que a convivência não foi tão pacífica como a história oficial tentou mostrar. Não irei me aprofundar sobre a relação dos indígenas com os jesuítas, tema que trabalhei na minha tese, havendo outros estudos que poderão atender a este ponto67. 1.Os tupi do sudoeste Embora a presença Tupi no planalto tenha sido preponderante, não foi exclusiva, já que esse povo encontrou outros povos que os antecederam. Esses eram grupos coletores, chamados genericamente de Tapuias, e prováveis remanescentes das populações dos sambaquis do litoral, cuja idade remonta a cinco mil anos68. Dois desses povos conviveram com os Tupi e deixaram traços na história local: os Maromomi ou Guarulho e os Guaianá ou Guaianazes69. Devido ao recorte aqui dotado, vou me ater apenas ao povo Tupi, que teve um estreito contato com os portugueses, tanto com os colonos, como com os missionários, marcando grandemente a cultura regional. A presença de indígenas da família tupi-guarani na bacia dos rios Paraguai e Paraná é bem antiga e abrangente, remontando pelo menos a 500 anos antes da era presente. Embora não seja consenso, sobre a rota de dispersão, acredita-se que tenha partido do atual Paraguai, dispersando-se tanto para o Oeste, chegando ao sul da Bolívia, como para o Leste, vindo em direção à bacia do rio da Prata, alcançando o litoral. 65 ANDREATO, Elifas. Almanaque Brasil de Cultura Popular, set. 2003, p. 22. PETRONE, Pasquale. Aldeamentos paulistas, 1995, p. 31. 67 Ver PREZIA, Benedito, Os Tupi de Piratininga. Acolhida, resistência e colaboração. Tese de doutorado, PUC-SP, 2008. Ver também SUESS, Paulo & OUTROS, Conversão dos cativos. Povos Indígenas e missão jesuítica. 2009. 68 Ver GASPAR, Madu. Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro, 2000, p. 46. 69 Ver meu trabalho “Os indígenas do planalto paulista”. In: BUENO, Eduardo. Nascimentos de São Paulo, 2004, p. 52-83. 66 70 Apesar dessa grande dispersão, preferiram as regiões úmidas – próximas a rios navegáveis e ao litoral –, evitando regiões secas, como o cerrado, e nunca vivendo em locais acima de 400 metros70. A única exceção foi o planalto paulista, pois apesar da altura (700 metros), a região era cortada por três grandes rios, como se verá mais à frente. 1.2 Os Tupi do planalto e suas aldeias O povo que se localizou no planalto paulista autodenominava-se Tupi, tendo sido chamado por seus vizinhos de Tupinikim71. Vários outros povos de tradição tupi tiveram contato com ele, numa relação conflitiva, como os Guarani do Guairá (PR) e Itatim (MS), os Tupinambá ou Tamoio do Rio de Janeiro e os Temiminó do Itatim e Paranapanema (PR). Com sua chegada ao planalto, iniciou-se uma nova fase de ocupação no Sudeste, pois expulsaram outros povos de tradição coletora, como os Guaianá/Guaianases e Maromomi/Guarulho, que se deslocaram para as serras do Mar e Mantiqueira. Como povos de região úmida, os Tupi optaram pelo local onde hoje é a cidade de São Paulo, devido à sua configuração hidrográfica. Essa verdadeira mesopotâmia era formada por três rios: Anhembi (= rio das anhumas), chamado depois de Tietê (= “mãe do rio”, isto é, rio que fecunda a terra72); pelo Jurubatuba-açu (= rio das palmeiras jerivás, o grande), denominado mais tarde de Pinheiros, sendo que na sua nascente ainda hoje conserva o nome de rio Grande; e Tamanduateí (= rio do tamanduá bandeira). Estes dois últimos tiveram um papel importante nestes primórdios de colonização portuguesa, pois faziam a ligação do planalto com os núcleos do litoral. Para os portugueses desta fase, o rio Tietê não tinha quase nenhuma importância, como 70 Sobre esta preferência geográfica e sobre a dispersão da família tupi-guarani no Brasil ver PROUS, 1992, p. 371-425. 71 Sobre este vocábulo, ver meu trabalho Os indígenas do planalto paulista nas crônicas quinhentistas e seiscentistas, 2000, p. 162-169. 72 VLB [c. 1570], 1953, v. 2, p. 27. 71 se vê num mapa seiscentista da região de São Paulo, no qual este rio nem figura (ver mapa fig. 3)73 As aldeias Segundo o Pe. Anchieta, as aldeias do planalto eram em número de doze 74. De todas elas, as crônicas jesuíticas registraram apenas o nome de quatro, todas dentro da referida mesopotâmia. Por isso elas serão aqui identificadas pelos rios. As aldeias do rio Tamanduateí À beira do Tamanduateí foi conservada apenas a memória da aldeia de Piratininga (pira= peixe + tininga= seco, lugar onde há peixe a secar), antiga povoação do cacique Tibiriçá e que devia ficar na região onde hoje é o bairro da Luz, como registrou a toponímia quinhentista75. Os jesuítas falam de outras aldeias, mas sem dar nome, como o fez Pe. Leonardo Nunes, numa carta de 1550, relatando o contado com os indígenas desta região76. Certamente deve ter havido uma aldeia onde hoje está o museu do Ipiranga, já que responde às características típicas de um núcleo habitacional tupi, isto é, estar próximo a um rio e ficar no alto de uma colina. As aldeias do rio Jurubatuba Às margens do rio Jurubatuba, hoje Pinheiros, havia a aldeia de Jurubatuba (Geraibatiba, Jeribatiba), morada do cacique Kaiobi, situada provavelmente nas nascentes do rio Jurubatuba-açu,77. 73 ANÔNIMO, Mapa Capitania de San Visente, c. 1630. Real Academia de la Historia. Madrid. In: Calendário Imprensa Oficial..., 2000. O autor certamente deve ter sido um jesuíta, pelas indicações lingüísticas contidas. 74 Breve Informação do Brasil, 1584. In: TH, p. 53. 75 É o que diz a carta de data de terras de Brás Cubas, de agosto de 1567: “...começará a partir pela banda oeste que vai daí do caminho de Piratininga (...) sempre pelo dito caminho assim como vae passando o rio Tamanduateí e daí corta direito sempre pelo dito caminho que vai a Piratininga, que está na borda do rio Grande [Tietê] que vem do Piquiri [Tatuapé] e ai vai correndo direito para o sertão” (In: FREITAS, Tradições e reminiscências...1978, p. 192). O nome da aldeia vem seguramente do fato que na região, após as cheias do Tamanduateí, apareciam muitos peixes mortos e secos. 76 Carta aos padres e Irmão de Coimbra, CPJ, v. 1, p. 208. 72 Além dela, havia Ybirapuera (ybirá= paliçada + puera= o que foi, lugar onde houve uma aldeia com cerca), e que devia ficar na colina onde mais tarde foi construída a matriz de Santo Amaro78; e Guarapiranga (guará= garça + piranga= vermelha), às margens do rio Guarapiranga, onde se localiza hoje o bairro do mesmo nome. As crônicas registram também uma outra Ybirapuera, onde mais tarde foi construída a capela de Nossa Senhora da Assunção. É bem possível que tenha sido construída onde está hoje a igreja de Nossa Senhora do Socorro, no bairro do Socorro, que fica à margem direita do rio Pinheiros79. As aldeias do rio Tietê Às margens do Tietê houve a aldeia de Ururay (ururâ= jacaré de papo amarelo + y= rio, rio do jacaré de papo amarelo), onde, segundo a tradição paulista viveu o cacique Piquerobi, irmão de Tibiriçá80. Em 1583, neste local foi fundada a missão de São Miguel, que se transformou no atual bairro de São Miguel Paulista. Na colina da Penha houve também uma aldeia, como atestam fragmentos de cerâmica, encontrados em 200581. Sua localização responde também aos padrões de assentamento tupi. Carapicuíba foi igualmente uma aldeia, como atesta a documentação quinhentista82 tendo se tornado depois a fazenda de Afonso Sardinha, que a deixou como herança aos padres jesuítas. Outras localidades paulistas devem ter sido aldeias, como Barueri, na parte Oeste, e Taquaquecetuba, hoje Itaquaquecetuba, na parte Leste do Tietê. Os núcleos portugueses e missões, que surgiram com a ocupação do planalto, mostram que tanto os missionários como os colonos ocuparam áreas já testadas pelos indígenas como boas de se morar. 77 Sobre essa aldeia ver a referência de NÓBREGA, Carta a Tomé de Sousa [1559], Cartas do Brasil, 1988, p. 217. 78 Ver BERARDI, Maria H. Santo Amaro, 1969, p. 24. 79 Relatório Seiscentista. In: TAUNAY, Notícias das minas de São Paulo..., [1953] 1980, p. 38. 80 LEME, Luiz G., Genealogia Paulistana, 1903, v. 1, p. 45. 81 LOPES, Reinaldo. Cerâmica revela aldeia tupi (Folha de São Paulo, 25.01.2005, p. A 18). 82 Cartas de Datas de Terra, 12.10.1580. 73 Quanto à disposição física, as aldeias tupis eram circulares, como as aldeias tupinambás do litoral, com seis ou sete casas, ao redor de um pátio central. Nas regiões mais expostas aos ataques inimigos, eram protegidas por duas altas cercas, feitas com troncos de árvores, chamada ybirá, como mostram os desenhos do alemão Hans Staden, que viveu entre os Tupinambá de Ubatuba83. Daí vem o nome de Ybirapuera, dado a locais onde houve aldeia cercada de paliçada. 2. Os europeus no planalto A chegada dos portugueses no planalto de Piratininga foi feita de forma paulatina e sem confrontos, pois a região ficava isolada do litoral e sem pressões de outros europeus. Desejando ter um posto avançado na rota que levava ao Peru, onde estavam as riquezas cobiçadas pelos europeus, Martim Afonso de Sousa, enviado pelo rei Dom João III, em 1532, numa expedição guarda-costa e exploratória, deixou no planalto um grupo de portugueses – degredados e marinheiros de sua tripulação – para que criassem um povoado. Este núcleo, implantado às margens do Tamanduateí, então chamado rio Piratininga, não devia ficar longe da aldeia de Tibiriçá84. A experiência fracassou, pois viviam demasiadamente afastados do litoral e muito próximos da cultura indígena. Casados com mulheres nativas, iam formando uma família mestiça, o que levou a serem absorvidos pelos costumes tupis. O mais famoso deles foi João Ramalho, que já vivia aqui, pois deve ter chegado por volta de 1510, segundo o Ir. Pero Correia85. Não se sabe o motivo de sua vinda ao Brasil, mas seguramente foi um degredado, pois pouco se fala de seu passado. Aqui casou-se com uma das filhas de Tibiriçá, que a tradição conservou o nome de Bartira (deformação de Ypotyra= flor)86, indo morar com o sogro, tendo muito poder e ascendência sobre os indígenas da região. 83 Duas viagens ao Brasil, 1988, p. 101. Naveguaçam q’ fez ... PLMH, v. 1, V-VIII partes, p. 503. 85 Carta ao Pe. Belchior Barreto, 20.06.1551 (CPJ, v. 3, p. 222). Azevedo Marques acredita que tenha vindo na expedição de João Dias Solis, em 1513 (AHGSP, v. 2, p. 41). 86 LEME, Luiz G. da Silva. Genealogia paulistana, 1903, v. 1, p. 30. 84 74 2.1 A vila de Santo André A partir de 1549, com a vinda do jesuíta Leonardo Nunes para São Vicente, o grupo passou a receber a visita deste missionário que se incomodava com aquela situação, pois alguns mestiços andavam nus pelos matos e nem sabiam o português87. Por isso sugeriu que voltassem a se agrupar num povoado, para ter uma vida cristã. Por isso João Ramalho construiu uma capela, sob a invocação de Santo André, e que serviu de base para a futura vila, que foi erigida em 1553 pelo governador Tomé de Sousa, quando de sua viagem às capitanias do Sudeste. Deste período há uma descrição nada elogiosa desses moradores, feita pelo alemão Ulrich Schmidel. Vindo do Paraguai para embarcar-se em São Vicente, passou por Piratininga em junho de 1553, afirmando em suas memórias que o local parecia “um covil de bandidos”. Apesar de terem sido “bem recebidos”, aqueles moradores inspiravam “mais temor que os próprios índios”88. Com dificuldades os andreenses tentaram fazer uma vila aos moldes portugueses, com Casa do Conselho, vereadores e juízes, mas tudo muito rudimentar, pois poucos eram os que tinham condições de assumir tais cargos89. Os moradores viviam de troca de mercadoria com os indígenas e do tráfico de escravos, que eram vendidos para os engenhos de cana do litoral. Devido ao escravismo e aos hábitos indígenas, sobretudo a antropofagia, os jesuítas criaram atritos com este grupo. 2.2 A Missão dos jesuítas A chegada dos padres no planalto ocorreu em agosto de 1553, pois o Pe. Nóbrega desejava criar em Piratininga um posto avançado, não para alcançar o “ouro do Peru”, mas o coração dos Carijó, como eram chamados os Guarani. Estes se mostravam mais religiosos e acolhedores que os Tupi, tendo já abandonado as práticas antropofágicas. 87 NUNES, Pe. Leonardo, Carta aos padres e Irmãos de Coimbra, 20.06.1551 (CPJ, v. 1, p. 236). Histoire véritable d’un voyage..., [1567] 1837, p. 245. 89 Ver Actas da Câmara Municipal da vila de Santo André da Borda do Campo, 1914. Ver também TAUNAY, Affonso de. João Ramalho e Santo André da Borda do Campo, 1953. 88 75 A 28 de agosto, festa da degolação de São João Batista90, foi fundada a Casa de São Paulo, com uma capela e moradia para os padres e para crianças indígenas que estavam em São Vicente, secundados por um grupo de 50 indígenas que haviam aceito o cristianismo. O dia 25 de janeiro, suposta fundação da vila, na realidade foi o dia da missa solene da festa de São Paulo, que comemorava a inauguração oficial da missão91. Os Tupi do planalto estavam atraídos por aqueles Abaré (= gente santa92), quais novos pajés, ofereciam a saúde terrena e a celeste. As crônicas e cartas dos jesuítas mostram que muitos nativos haviam aderido aos padres não apenas pela parte religioso, como também por suas ações caritativas e terapêuticas. E aproveitavam-se dos tratamentos para divulgar a nova religião: “Acreditam que nós possuímos o poder de restituir a saúde, por temos conhecimento de Deus e o pregarmos. (...) E por isso as mulheres nos mostram muita afeição” 93. E, como dizia Anchieta, ao comentar o caso de um jovem ferido num combate, “curamos-lhe as feridas até sarar e, entretanto, por remediar as chagas de sua alma, o instruímos nos rudimentos da fé”94. Havia também os pequenos presentes e ofertas distribuídos pelos padres, como roupas, facas, anzóis, agulhas e outras miudezas. Era a prática assistencialista, que fez o cronista escrever “que os padres da Companhia são pais dos índios assim das almas como dos corpos”95. 2.3. Os indígenas frente à missão Apesar de se aliarem aos padres e aos primeiros povoadores portugueses do planalto, muitos Tupi com o tempo passaram a trabalhar como agregados nas fazendas, 90 NÓBREGA, Carta ao Pe. Luís Gonzada da Câmara, 31.08.1553 (CPJ, v. 1, p. 522-523). ANCHIETA, Quadrimestral de maio a setembro ao Pe. Inácio de Loyola, 1554, CAP, p. 74. 92 Os jesuítas traduzem este vocábulo como padre diocesano, religioso e pajé (VLB, v. 2, p. 62). Este vocábulo parece referir-se a uma palavra arcaica – aré –, encontrada também na língua maromomi para designar padre (VIEGAS, In: HCJB, v. 9, apêndice, p. 542). 93 Id., Carta trimestral de maio a agosto de 1556, agosto de 1556 (CAP, p. 109-110). 94 Id., Carta aos Padres e Irmãos de Coimbra, abril de 1557 (CAP, p. 121). Sobre os tratamentos terapêuticos, ver LOMONACO, Maria Aparecida T. Práticas médicas indígenas e jesuíticas em Piratininga. In: NATALINI, Gilberto & AMARAL, José Luiz (org.). 450 anos de história da medicina paulista, 2004, p. 3-31. 95 ANÔNIMO [FONSECA, Pe. Luís da] Primeiros aldeamentos da Bahia. In: TH, p. 180. 91 76 criando vínculos de servidão, quando não de escravidão. Eram cada vez mais solicitados para todos os trabalhos: domésticos, rurais, urbanos e até no transporte de carga. O trabalho servil na realidade era feito por indígenas prisioneiros de guerra. Para obter mais escravos, muitas guerras eram artificialmente provocadas e com o tempo, toda a colônia foi montada nesse regime. Por isso Anchieta, na época das grandes epidemias, chegou a escrever: “Morta a escravaria e índios, não há viver nessa terra” 96. A pressão portuguesa sobre as aldeias e sobre os indígenas cristãos e, sobretudo, a proliferação de doenças e epidemias, que começaram a grassar no planalto a partir de 1560 97, fizeram com que as aldeias do planalto fossem se despovoando. O próprio Tibiriçá morreu de peste no dia de Natal de 1562, assim como muitos outros indígenas.98 O temperamento inquieto e a mobilidade tradicional do Tupi levaram também a este esvaziamento. Em 1557, apenas quatro anos depois da fundação, o Pe. Luís da Grã se queixasse: “são tão acostumados a se mudar quando suas casas ficam velhas, que a cada três ou quatro anos se mudam. (...) Assim foi neste povoado [Piratininga], que restou apenas uma casa com cinco ou seis homens casados” 99. Convém notar que nesta fase inicial, não havia uma missão nos moldes clássicos, pois a atuação dos padres junto às aldeias indígenas ocorria de forma itinerante. As missões estáveis, chamadas de Missões do Padroado Real, foram surgir apenas em 1583100. 3. A guerra de Piratininga Nem todos os grupos familiares Tupi aceitaram a catequese, como foi o caso do cacique Piquerobi, da aldeia de Ururay. Outros segmentos do interior resistiam também às investidas escravistas que se mostravam cada vez maiores. 96 ANCHIETA, Carta ao Pe. Cláudio Acquaviva, 1.01.1582 (CAP, p. 308). Sobre as epidemias em São Paulo, ver Anchieta, na carta de 16 de abril de 1563 (CAP, p. 197). Ver também o livro CIMI, Outros 500, construindo uma nova história, Salesiana, 2001, 87-99. 98 Id., ib. 99 Carta ao Pe. Inácio de Loyola, 7.04.1557 (CPJ, v. 2, p. 361). 100 Ver minha tese Os Tupi de Piratininga. Acolhida, resistência e colaboração, 2008, p. 301-344. 97 77 Santo André, por seu isolamento na “borda do campo”, tornava alvo de ataques, tanto de Tupi rebeldes, quanto dos temidos Tupinambá de Ubatuba , chamados Tamoio. Desta forma, pressionada também pelos padres, que desejavam que aqueles moradores tivessem uma vida mais cristã101, em 1560, ela foi extinta por ordem do governador Mem de Sá e transferida para a colina de Piratininga, onde estava a Casa de São Paulo. Aquela transferência não diminuiu a pressão indígena, provocada, sobretudo, pelos grupos Tupi de Mogi, na região da atual Mogi das Cruzes. No ano de 1560, houve também forte pressão dos Tupi do sertão – talvez os Tupi do Tietê – , que continuavam atacando não só portugueses que voltavam do Paraguai, como também destruíam roças e aprisionavam indígenas que trabalhavam nas fazendas, tanto homens, como mulheres102. Os moradores sentiam-se encurralados, pois os inimigos indígenas penetravam por novos caminhos, assaltando “povoações e fazendas de todos os moradores donde tomavaõ seus escravos e quamtos achauaõ [achavam]”103. O plano para enfrentá-los partiu do governador Mem de Sá, quando esteve em São Vicente, determinando uma contra-ofensiva. Com o apoio de indígenas fiéis, os moradores de Piratininga planejaram uma incursão no território inimigo, respondendo não apenas a estas agressões, como também mostrando força a seus aliados, os Tupi do planalto. E, como dizia o texto da carta que dirigiram à Rainha Dona Catarina, “castygando os comtrayros avyryaõ [haveriam] os nossos Imdjos também [ter] medo”104. Foi feita uma convocação aos portugueses e aos indígenas aliados, sendo chamados até os de aldeias mais distantes. O resultado foi aquém do esperado, sobretudo por parte dos portugueses, pois ao invés de 300 homens brancos que imaginavam reunir, vieram apenas “30 homens bramquos e 30 mamçebos [jovens] mestyços da tera [terra]” 105. 101 “(...) trabalharam muito os Padres para que passassem [os moradores de Santo André] a Piratininga” (ANCHIETA, Carta ao Pe. Diego Laynes, 30.07.1561. CPJ, v. 3, p. 376). 102 ANCHIETA, Carta ao Pe. Diego Laynes, 1.06.1560 (CPJ, v. 3, p. 263). 103 Carta dos oficiais da Câmara. de S. Paulo a D. Catarina..., 20.05.1561 (PLMH, p. 352). 104 Id., ib. 105 Id., ib.. 78 A primeira campanha militar foi contra os Tupinambá que subiam do litoral para o Vale do Paraíba, de onde desfechavam ataques contra moradores de Piratininga106. Tiveram uma importante vitória, matando a muitos, tendo sobrevivido quase que somente crianças107. Pelas cartas jesuíticas nota-se igualmente uma resistência dissimulada de algumas famílias Tupi do planalto, e que começava a ter posturas mais agressivas. Nessa documentação vê-se a atuação dos karaíba, isto é, dos pajés ambulantes. O povo Tupi era eminentemente guerreiro e religioso, ouvindo muito seus pajés. E diante da pressão portuguesa, o espírito de luta reascendeu também nos Tupi planalto, instigados pelos karaíba, que pregavam uma “guerra santa”, com a destruição da missão e a morte dos padres: A maior parte destes [indígenas] (...) fez outras moradas, não longe daqui [talvez Ururay], onde agora vivem, porque ultra [além] de eles não se moverem nada às coisas divinas, persuadiu-lhes agora uma diabólica imaginação. Que esta igreja é feita para sua destruição, na qual os possamos encerrar e aí, ajudando-nos os portugueses, matar aos que não são batizados, e aos já batizados, fazer nossos escravos 108 . A preocupação com a segurança da missão e dos portugueses que formavam a vila de Piratininga, ocupou todo o tempo desses moradores, pois nos primeiros meses do ano de 1562 não houve, efetivamente, sessão da Câmara, parecendo que todos se preparavam diante das “novas q’ eles [os Tupi rebelados] se ajuntavão” 109. Sentindo a gravidade da situação, os vereadores e o capitão de São Vicente, João Colaço, convocaram João Ramalho para que aceitasse ser “capitão para a guerra”. E exigiam, também, a adesão de todos às suas ordens, sob pena de serem presos, pagando uma multa de 20 cruzados, ficando a metade do valor para o denunciante e a outra metade para custear a guerra. Caso não se tivesse este valor, o morador deveria 106 Ver mais detalhes desta expedição guerreira, em ANCHIETA, Carta ao Pe. Diego Laynes, de 30.07.1561 (CPJ, v. 3, p. 378). 107 ANCHIETA, Carta ao Pe. Diego Laynes, 30.07.1561 (CPJ, v. 3, p. 379). 108 ANCHIETA, Carta aos Padres e Irmãos de Portugal, fim abril, 1557 (CAP, p. 119). 109 É o que se depreende da ata de maio, embora esteja deteriorada (Sessão de 2.05.1562, ACSP, v. 1, p. 14). 79 passar um ano degredado em Bertioga110. Chama a atenção o alto valor da multa para uma população pobre, como a de Piratininga 111. É possível que o próprio João Ramalho colocasse certa resistência em assumir o cargo, pois teria dificuldade em deixar sua moradia, que ficava distante da vila. Por isso, o escrivão, ao redigir a ata, afirmava que “o dito capitão será obrigado a servir” 112. O levante liderado pelos Tupi de Ururay deve ter contado com a adesão de outros grupos que estavam descontentes com as imposições missionárias, pois houve a adesão de “outras aldeias circunvizinhas, que estavam neutrais, e de muitos outros, que de nós fugiam por descontentes”, escrevia Anchieta 113. Desta forma, vê-se que o envolvimento de indígenas já batizados deixava os missionários bastante inseguros, pois eles conheciam os pontos vulneráveis da vila. Os indígenas que se aliaram aos portugueses também se prepararam para a guerra. Esta preparação envolveu as lideranças tradicionais, sobretudo Tibiriçá. Este tornou-se uma figura de destaque naquele momento, pois as desavenças com os padres, que ocorreram anteriormente, já deviam estar superadas. Convocou para Piratininga os indígenas das aldeias do entorno – Anchieta afirmava serem sete ou oito 114 –, incluindo três, que eram formadas pela parentela desse cacique. Ao deixá-las, os indígenas derrubaram as casas, abandonando as lavouras, como costumavam fazer em caso de guerra. Nos cinco dias que antecederam o ataque, pregou Tibiriçá continuamente “de noite e de dia aos seus pelas vielas (como é seu costume) que defendessem à Igreja, que os Padres haviam construído para ensiná-los a eles e a seus filhos, [e] que Deus lhes daria vitória contra seus inimigos” 115. Um sobrinho de Tibiriçá e um dos líderes da rebelião – Jaguanharon (= cão bravo) –, temendo pela vida do tio, foi até Piratininga pedir para que ele se retirasse de lá com os parentes116. O Pe. Vasconcelos afirma que era o filho de Piquerobi117. 110 Id. ib. Para os valores da época, ver SIMONSEN, R. História econômica do Brasil ([1937] 1978, p. 70). Um cruzado de ouro valia 400 réis, um manto novo, 4 mil réis (10 cruzados) e um escravo, 12 mil réis (Invent. Pero Leme, IT, v. 1., p. 45-47). Assim tal multa correspondia ao preço de quase dois escravos. 112 ACSP, v. 1, p. 14. 113 Carta ao Pe. Diego Laynes, 16.04.1563 (CPJ, v. 3, p. 548). 114 Carta ao Pe. Laynes, 16.04.1563 (CPJ, v. 3, p. 550). 115 Id., ib. 116 CCJ, L. 2, n. 136, v. 2, p. 77. 111 80 “Todavia”, como narra Anchieta, o cacique Tibiriçá “teve mais amor de nós e dos cristãos que de seus próprios sobrinhos que considera como filhos”. Não abandonou o local, mas pelo contrário, passou para os padres as informações que recebera e preparou-se para a guerra com “uma espada de pau [borduna] muito pintada e enfeitada de penas de diversas cores, que é um sinal de guerra” 118. Todos se preparavam, sendo que as mulheres o fizeram à maneira cristã, realizando uma vigília noturna, “com velas acesas ante o altar, e também deixaram as paredes e bancos da igreja bem marcados de sangue, que soltava das disciplinas [chicotes de flagelação de penitência]” 119. O grande diferencial da peleja era o local onde se encontrava a missão, no alto da colina, tornando-a uma vrdadeira fortaleza. Segundo Anchieta, os portugueses, com a ajuda dos indígenas, haviam construído também uma paliçada, ao redor da igreja, no estilo tradicional tupi 120. Na manhã do dia 9 de julho de 1562, os Tupi rebelados surgiram, com um grande contingente em frente à colina. Anchieta talvez tenha exagerado ao dizer que os cristãos e os indígenas da missão “eram muito poucos”, certamente para realçar a vitória, supostamente milagrosa, sobre “a grande multidão de inimigos pintados e enfeitados com penas” 121. A crônica jesuítica descreveu o combate com tintas bem fortes: Eis que ao romper da alva do dia oitavo da Visitação da Virgem Senhora Nossa, dão os inimigos de improviso sobre a vila de Piratininga, com tão grande estrondo de gritos, assovios e bater de pés e arcos, segundo seu costume, que parecia que o mundo vinha abaixo e se arruinavam os montes vizinhos. Todos pintados, empenados, jactanciosos, prometendo-se a vitória; e deixando nas costas canalha [um grupo] de velhas carregadas de asados, em que diziam, haviam de cozer as carnes dos cativos, conforme as leis de seus costumes bárbaros 122. 117 VVJA, v. 1, p. 81. Carta ao Pe. Laynes, 16.04.1563 (CPJ, v. 3, p. 551). 119 Id., ib. 120 Id., p. 553. 121 Id., ib. 122 VASCONCELOS, Simão, VVJA, v. 1, p. 81-82. 118 81 No relato deste confronto, Anchieta também enfatizou a divisão que houve entre parentes, já que se enfrentavam “irmãos contra irmãos, primos contra primos, sobrinhos contra tios”, incluindo também “filhos, que já eram cristãos e que estavam conosco, contra seus pais que eram contra nós” 123. No final do primeiro dia de combate, Jaguanharon, por conhecer a Missão onde vivera algum tempo, buscou entrar pela lateral. Percebendo que as mulheres haviam se refugiando na casa dos padres, tentou pular a cerca, penetrando pela horta. Porém, surpreendeu-o um outro indígena que estava de vigia, sendo este jovem guerreiro atingido na barriga por uma flecha, morrendo no local. A dificuldade em alcançar a Missão, a morte de Jaguanharon e de muitos outros indígenas devem ter interferido no ânimo do grupo atacante. Mesmo assim, a pressão continuou até à tarde do segundo dia, quando bateram em retirada, destruindo as plantações e matando o gado que encontraram pelo caminho124. Esta vitória reforçou a hegemonia dos padres e consolidou a permanência dos portugueses em São Paulo. Terminado o ataque, muitos Tupi que viviam dispersos decidiram morar no entorno da colina de Piratininga, num claro reconhecimento da superioridade dos novos moradores. 4. São Paulo de Piratininga: uma vila sitiada Se a localização da vila na colina de Piratininga era estratégica, por si só não bastava para enfrentar novos e possíveis ataques, sendo este o motivo da construção de um muro de taipa e de cercas de proteção. A colaboração dos Tupi aliados foi importante nessa fase pós-conflito. Depois de um ano, os jesuítas escreviam que “eles mesmos [os indígenas] cercaram agora de novo com os portugueses e está [a vila] segura de toda investida”125. 4.1 O muro da vila 123 ANCHIETA, Carta ao Pe. Diego Laynes, 16.04.1563 (CAP, p. 195). Id., ib. 125 ANCHIETA, Carta ao Pe. Diego Laynes, 16.04.1563 (CAP. p. 196). 124 82 Embora necessária, a construção desse baluarte de proteção se arrastou por muito tempo. Em novembro de 1563, cinco meses depois do ataque, fora nomeada uma comissão de 12 pessoas para terminá-lo, sob pena de cada um pagar uma multa de “cyncuo tostois” [cinco tostões ou 500 réis], caso não realizasse o trabalho126. Em fevereiro do ano seguinte, continuava inacabado, já que Salvador Pires, procurador do Conselho, determinava que os oficiais da Câmara cobrissem “a guarita que estava pa trás do muro e mais acabar de cobrir as serquas [cercas] e o q’ for necesario”127. A partir deste texto, é possível imaginar que parte das casas estivesse protegida pelo muro em construção e que algumas outras ficassem defendidas por uma paliçada, pois a construção de taipa exigia mais tempo. O clima do planalto continuava tenso, pois, ao mesmo tempo, proibia-se que as pessoas andassem pelo caminho do mar que levava ao litoral, “pr quãto [porquanto] estavamos esperado por gera [guerra]”, e pedia-se que ninguém saísse da vila sem a licença dos oficiais128. São Paulo continuava sendo uma vila sitiada. Esperava-se, também, por um cadeado, que seria colocado na nova porta para controlar a entrada dos inimigos ou estrangeiros. Quem não seguisse estas determinações, incluindo a ajuda para a compra do cadeado para o portão principal, teria que pagar cinco cruzados para o Conselho ou teria que ser mandado por seis meses, em degredo, para Bertioga129. Era necessário, portanto, haver um porteiro, encarregado de abrir e fechar este portão. Em 1575, a Câmara se queixava que havia tempos que estava a vila sem alguém para fazê-lo e, por isso, obrigava a Pero Fernandes que assumisse o cargo130. Com o tempo, o porteiro tornou-se uma espécie de oficial de justiça, levando também intimações131. 126 ACSP, 5.11.1562 (Ib., p. 16-17). Este valor correspondia a uma rede nova (Testamento de Pero Leme, o velho, de 9.09.1592, IT, v. 1, p. 45). 127 ACSP, 1.02.1563 (Ib., p. 22). 128 Id., ib. 129 Id., ib. 130 Id., 21.03.1575 (Ib., p. 68-69). 131 Id., 29.11.1578 (Id., p. 126). 83 Os vereadores estavam sempre atentos quanto a esta proteção, pois “os muros da villa estavam denifiquados e estavão caindo” e propunham que cada um consertasse e cobrisse a parte que lhe correspondia, isto é, a que ficava em frente de sua casa, sob pena de ser “condenado a uma multa de cem réis para o conselho” 132. À medida que a pressão indígena ia cessando, este muro, ao invés de proteger a vila, começava a dificultar as idas e vindas dos moradores para suas roças, fazendo com que se abrissem passagens perto das casas, o que o deteriorava mais ainda. Como este muro não devia proteger muito, o alpendre da igreja continuava sendo uma espécie de trincheira em caso de ataque, pois, em 1591, quando foi proposta a ampliação do muro, a razão dada era para que “aja espaso pa pelejaren”, não ficando as pessoas confinadas àquele local 133 , pois a ordem era: “[ao ter] rebate de guerra [toque do sino] as mulheres e filhos dos homeis q’ viven fora, nos aravalldes [arrabaldes] e dos que estavão auzentes se recolhião [recolhessem] ao alpendre da igreja134. As reformas seguirão intermitentes até 1594135. Sem ter quem o reformasse, foi caindo pela ação do tempo. Depois deste ano, não se fala mais no muro da vila. 4.1 O cotidiano na vila As famílias vindas de Santo André instalaram-se no alto da colina, tornando-se esta área o primitivo rocio, isto é, o perímetro urbano que era de propriedade da Câmara. As demais famílias que vieram do litoral ou que foram se formando com os novos casamentos, tinham possibilidade de conseguir terrenos, desde que justificassem o pedido perante o Conselho, como se vê nas atas da Câmara, ao longo dos séculos XVI e XVII136. Uma das primeiras atividades dos moradores foi a criação de gado. A região entre o Tamanduateí e o Tietê, coberta por campos, era um excelente local de pastagem. 132 Id., 14.04.1576 (Ib., p. 94). O valor não parecia grande, pois era o preço de uma ceroula, mas representava uma certa importância nessa sociedade carente de dinheiro circulante (Inventário de Damião Simões, 14.03.1578, IT, v. 1, p. 3). 133 Mais à frente anotavam: (Ib., p. 415). 134 ACSP, 16.02.1591 (v. 1, p. 415). 135 Id., sessão de 04.06.1594 (v. 1, p. 494.) 136 Ver pedido de 50 braças feita por Maria Afonso ao Conselho ( Id., 2.03.1583, ib., p. 202-203). 84 As casas eram simples, feitas de pau-a-pique ou taipa de mão, numa técnica de tradição indígena137. Desta maneira, foi feita também a primeira casa dos jesuítas138. Aos poucos, estas casas foram sendo substituídas por outras mais sólidas de taipa de pilão, tradição que os portugueses trouxeram do Oriente, da cultura árabe139. Construções de pedras não houve nesta época, embora na região não fosse difícil encontrá-las. Os moradores do planalto optaram por técnica mais simples, já que poderia ser facilmente executada pelos indígenas, que eram muitos, cuja mão-de-obra era de pouco valor. Deste período inicial nada restou, exceto uma parede da segunda casa dos jesuítas, construída no final do século XVI, como se pode ver no Páteo do Colégio. A vida destes moradores era bem modesta, como relatava Nóbrega: Estamos en tierra tan pobre y miserable que nada se gana con ella, porque es la gente tan pobre, que por más pobre que seamos, somos más ricos que ellos. (...) Y se enferma uno de la Compañía [de Jesús], si no tiene remedio de Portugal, en la tierra no ay quien se lo dé, antes lo esperan todos de nosostros, y estos no solamente los gentiles [indios], sino también los cristianos. 140 Quase todos os portugueses eram casados com mulheres indígenas, não só devido à ausência de mulheres lusitanas, como também devido à tradição tupi do cunhadismo. Nem sempre a documentação regional registra a procedência indígena das mulheres, sobretudo por haver uma grande preocupação de realçar a linhagem européia das primeiras famílias. O cunhadismo é o costume tupi de oferecer ao visitante as moças solteiras como esposas ou concubinas, tornando-se o novo esposo um aliado do sogro, com deveres e obrigações. Por sua vez, os irmãos da esposa, os cunhados, passavam a ter uma ligação 137 Anchieta registra esta prática nativa: “[os indígenas] andam nus e habitam casas de madeira e barro, cobertas de palha ou cascas de árvores” (Quadrimestral de maio a setembro, 1.09.1554, CPJ, v. 2, p. 113). 138 ANCHIETA, Carta quadrimestral de maio a setembro de 1554, 1.09.1554, CPJ, v. 2, p. 110-111. 139 VASCONCELLOS, Sylvio. Sistemas construtivos adotados na arquitetura do Brasil. Arquitetura e Engenharia, 1951, p. 5. 140 Carta ao Pe. Diego Laynes, 12.06.1561 (CPJ, v. 3, p. 365-366). 85 mais estreita com o novo parente. Os portugueses aproveitaram-se desta tradição indígena para aumentar seu poder e ascendência sobre as diversas famílias nativas. O vestuário era igualmente simples. Andar descalço era prática usual de todos, tanto indígenas, como portugueses, como observava o cronista em 1583: “o andar descalço é costume nesta terra e isto não é incômodo ou trabalho, como se fosse na Europa, e desta maneira andam também os muito ricos e honrados desta terra” 141. Trinta anos depois, a situação permanecia a mesma, e talvez com maior mestiçagem, pois em 1610 o visitador dos jesuítas, o Pe. Jácome Monteiro assim descrevia a população de São Paulo: Os moradores são pela maioria Mamalucos [mamelucos, mestiços] e raros Portugueses; e mulheres [portuguesas] há só uma, a que chamam Maria Castanha [Castanho]. São esses de terrível condição; o trajo seu, fora da povoação, é andarem (...) pés descalços, arcos e frechas, que são suas armas ordinárias. 142 Convém observar que as pessoas já falavam tupi como segunda língua, devido à mestiçagem cada vez mais crescente. Somente no século seguinte é que o tupi torna-se uma língua geral, ficando o português restrito aos atos públicos.143 4.2 Os símbolos portugueses do poder A vitória dos Tupi, e a posterior derrota dos Tupinambá do litoral, juntamente com a expulsão dos franceses trouxeram mais calma ao Sudeste, possibilitando aos portugueses a construção da vila. Desta forma foram aos poucos erguendo, fora do núcleo primitivo, os padrões da civilização cristã e portuguesa, como a cruz, a Casa do Conselho, a cadeia, o pelourinho e a forca. A cruz. Esta foi erguida não só na saída da vila que levava para o caminho do mar, como também na serra de Paranapiacaba, antes da descida para o mar, como se vê 141 CARDIM, Información de la Provincia... ib., p., 156. In: LEITE, HCJB, v. 8, p. 395. 143 Ver a longa nota “A língua geral em S. Paulo”, em HOLANDA, Sérgio B. Raízes do Brasil, 1979, p. 88-96. 142 86 no mapa seiscentista. É possível que o alto da serra, em plena mata atlântica, fosse escolhido como um local privilegiado para espantar os espíritos maus e proteger os viajantes que passavam pela mata e enfrentavam a serra. O Conselho. A Casa do Conselho ou a Câmara, onde eram realizadas as reuniões dos vereadores, apresentava-se como outra importante referência para os moradores do planalto144. Demorou muito para ser edificada, ou por falta de recursos ou simplesmente por incúria dos povoadores. Sua construção seria iniciada somente em 1574, quatorze anos depois da instalação da vila. A edificação foi lenta, pois na sessão de 21 de março do ano seguinte. os camaristas ameaçavam multar o construtor Álvares Anes em “quinhentos rs [réis]” para que “depois da festa [da Anunciação] acabase de fazer a casa do co [Conselho], q’ era obriguado e a acabace de fazer ate quinze dias do mez d’abrill, so [sob] pena de pagar a dita pena”145. Durante todo este tempo, as sessões foram realizadas em casa de particulares, como a de Jorge Moreira, “por não haver cazas do cõselho” 146. Não foi registrada a data de sua inauguração, mas deve ter ocorrido no início de abril de 1576, pois, no dia 14 deste mês, a sessão já fora realizada nas “cazas do conselho”147. Esta casa era uma construção de taipa, coberta de palha, cuja edificação demorara dois anos para ser concluída. Por ser um edifício simples, necessitava de constante manutenção, o que não costumava acontecer. Três anos depois de sua conclusão, em julho de 1579, os oficiais da Câmara pediam que o procurador do Conselho exigisse que os moradores a cobrissem melhor, “porquanto chove nela por as paredes”. Cada um deveria mandar uma “peça”, isto é, um 144 Sobre a Câmara ou Conselho ver os trabalhos de ALVES, O município, dos romanos à Nova República (1986); GARCIA, História política e administrativa do Brasil (1500-1810), sobretudo o cap. 5 (1956, p. 91-106). 145 ACSP, 21.03.1575 (v.1, p. 68). 146 Id., 4.01.1562 (Ib., p. 11). 147 Id., 14.04.1576 (Ib., p. 95). 87 escravo indígena para tal trabalho ou dar “dous feixes de sapé, e quem tiver menos [recurso], hun [feixe]”, sob pena de se pagar meio tostão de multa [50 réis] 148. Somente em 1585 a vila terá uma nova Casa do Conselho coberta de telha. Sua localização não é precisa, mas talvez ficasse próximo à saída da vila, quase em frente ao Caminho do Mar, onde hoje é a avenida da Liberdade, ao lado da Igreja São Gonçalo, onde, por muito tempo, funcionou também a cadeia. Como os dois edifícios quase sempre estavam conjugados, é bem provável esta hipótese149. Havia um corpo administrativo municipal que buscava fazer frente às necessidades da vila nascente: dois vereadores, um escrivão, um juiz, um procurador do Conselho, um alcaide e cinco almotacéis. Ao serem empossados, todos, segundo o costume da ápoca, faziam juramento sobre os Santos Evangelhos150. Os vereadores eram eleitos através de um complexo sistema de votação de “grandes eleitores”, isto é, só podiam votar os “homens bons”, que eram as pessoas de posses151. É possível que neste início, não se tenha cumprido as exigências das Ordenações do Reino ao pé da letra, pois todos os moradores eram pessoas de pouca posse. Eram também excluídos desta função os peões, isto é, pessoas sem qualificação, degredados, mouros, judeus, comerciantes e, evidentemente, os indígenas152. O alcaide, chamado também de alcaide pequeno, era uma espécie de oficial de justiça, pois eram “depositários dos bens públicos e avaliadores dos bens penhorados ou inventariados”153. Os almotacéis154 eram os que se responsabilizavam pelo cumprimento das leis, cobravam os impostos e as coimas, que eram multas aplicadas aos donos de animais que deixavam pastar em propriedade alheia. 148 Id., 18.07.1579 (Ib., p. 148). Era uma multa pequena, correspondendo ao valor de um par de sapatos de mulher usados (Inventário de Damião Simões, IT, v. 1, p. 3). 149 Sobre a localização da cadeia no séc. XIX, ver “Planta da Imperial Cidade de S. Paulo feita pelo Cap. Rufino Felizardo e Costa” (1810/1841)”. In: MOURA, São Paulo de outrora (1932, p. 6). 150 Id., ib. Sobre os cargos e funções do município português ver o texto de GARCIA, Rodolfo, “O município”. In: Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil (1500-1810), 1956, p. 92106. 151 Quanto ao procedimento da escolha deste cargo, ver GARCIA, Ensaio sobre a história política..., 1956, p. 99-102. 152 Id., ib., p. 103. 153 Id., ib., p. 94. Este vocábulo deriva-se do árabe al´qadi (= juiz), herança moura, que se conservou na administração portuguesa (CUNHA, Dicionário etimológico..., 1982, p. 26). 154 Este vocábulo deriva-se do árabe al-muhtásib, o cobrador de imposto (Id., ib., p. 34). 88 Havia os meirinhos, uma espécie de guarda municipal. Nos primórdios de São Paulo são identificados o meirinho português e o meirinho indígena, como foi o caso de Cristóvão Sairobaqua [Sarobaca?], “índio cristão”, que aparece no episódio da prisão de espanhóis que surgiram na vila, sendo que um deles matou um frade 155 . Geralmente o meirinho indígena atuava junto a esse povo. Neste período houve o capitão do gentio, isto é, capitão dos índios, e Domingos Luiz Grou foi nomeado em março de 1562, atendendo ao pedido dos membros do Conselho156. Era uma determinação vinda de Mem de Sá, que estabelecia um responsável para assuntos indígenas. Os moradores tentavam suprir todos os cargos previstos nas ordenações do reino, mas era apenas uma tentativa de se implantarem as normas da administração municipal portuguesa, pois as pessoas não estavam preparadas para tais cargos e não havia condições materiais para exercê-los. Por incrível que pareça, ainda em 1587, decorridos 27 anos de sua fundação, a vila não possuía o Livro das Ordenações, que era a lei máxima portuguesa, pois o almotacel João Maciel reclamava aos vereadores “q’ lhe desem o livro das ordenações pa regerse e saber o q’ devia fazer per bem de seu regimento”157. Em situação de conflito armado era escolhido um capitão de guerra ou capitão-mor de ordenança, como ocorreu com João Ramalho, em 1562, frente ao ataque dos Tupi158. A cadeia. Os outros símbolos da vila portuguesa, como a cadeia, o pelourinho e a forca – sobretudo estes dois últimos – tornar-se-ão símbolos de uma sociedade repressora. A população de Piratininga, formada por aventureiros, degredados, mestiços e indígenas, não tinha nenhum interesse nesses instrumentos repressivos. Convém lembrar que a tortura e maus tratos nunca foram práticas correntes na tradição tupi, como escreveu Anchieta: 155 ACSP, 9.11.1583 (Ib., p. 223). Id., 9.03.1563 (Ib., p. 24). 157 Id., 13.06.1587 (Ib., p. 316). 158 Id., 24.06.1562 (Ib., p. 14). 156 89 [Os Tupi] são inclinados a matar, mas não são cruéis: porque ordinariamente nenhum tormento dão aos inimigos, porque se os não matam no conflito de guerra, depois tratam-nos muito bem, e contentamse com lhes quebrar a cabeça com um pau, que é morte mui fácil, porque às vezes os matam de uma pancada. (...) Se de alguma crueldade usam, ainda que raramente, é com o exemplo dos portugueses e franceses 159. Isto explica porque a cadeia demorou muito a ser construída. Ainda em janeiro de 1579 a sessão da Câmara teve que se realizar na casa de Antônio Preto, pois “a caza do comselho q’ era toda hua e estar ocupada com hu prezo”160. Antônio Bicudo, ao assumir o cargo de juiz em 1579, estranhava que um tal de Domingo Ruiz vagava pelas ruas da vila, embora fosse acusado de roubo. Prendendo-o, verificou que na Câmara e, por conseguinte, na cadeia não havia carcereiro, “nem ferros, nem cadeado” e, por isso, deixou o réu em liberdade161. Em novembro de 1583 apareceram alguns espanhóis, vindos certamente do Paraguai. Um deles, Pero Dias, o coxo, depois de ter discutido com um frade franciscano que estava de passagem pelo planalto, e que o repreendia por estar blasfemando, agrediu-o, matando-o a punhaladas. Todo o grupo espanhol foi preso pelo meirinho português, ajudado por outros moradores e pelo meirinho indígena, com seus auxiliares índios. Entretanto, tiveram que ser soltos, pois não havia “prizois [prisões] e quasereiro [carcereiro]”, sendo este o motivo do ofício enviado por Bicudo ao capitãomor de Santos, protestando por esta situação162. Dois anos depois, sem haver ainda a cadeia, os oficiais da Câmara resolveram tomar a loja de Francisco Pires para usá-la como prisão. Em julho deste mesmo ano, foi notificado que ele teria sua loja de volta, certamente por ele ter reclamado contra tal arbitrariedade163. A cadeia será construída somente no século XVII, passando estes anos sem haver nenhuma prisão por falta de condições materiais. A maior parte dos que cometiam delitos fugia para as aldeias indígenas, tornando-se “homiziados”. 159 ANCHIETA, Informação do Brasil..., 1584 (TH, p. 329). ACSP, 24.01.1579 (Ib., p. 135). 161 Idem ibidem. 162 Idem, 9.11.1583 (Ib., p. 223-224) 163 Idem, 20.07.1585 (Ib., p. 271). 160 90 A forca. Esta demorou igualmente para ser erguida, o que ocorreu por volta de 1576. Houve um boicote para sua construção, pois, neste ano, o procurador do Conselho pedia “q’ suas mercês [os vereadores] mãdacen allevantar a forqua q’ estava no chão toda caída”, assim que houvesse dinheiro para pagar a mão-de-obra164. É possível que tivesse sido erguida, neste mesmo ano, no centro da vila. Rodou por vários locais, pois ninguém tinha interesse de vê-la próximo à sua casa. Dez anos depois, em 1587, estava junto ao rio Tamanduateí e, já no final do século, em 1598, encontrava-se no outeiro de Tabatinguera, para incômodo dos carmelitas que já haviam chegado à vila e que tinham construído seu convento não muito longe dali165. Os frades também reclamaram deste lúgubre monumento, que foi removido para “de fronte da cruz q’ está no caminho de birapoera [Ibirapuera, atual Santo Amaro]”, 166, na saída sul. Este local mais tarde passou a se chamar Largo da Forca167. Após a abolição da pena de morte no Brasil, tornou-se Largo da Liberdade. Não há registro de que ela tivesse sido usada nestes primórdios, nem mesmo no caso de um soldado castelhano que matou um frade. Parece que era mais para a intimidação do que para execuções. O pelourinho. Outro instrumento odiado pelos moradores foi o pelourinho168. Embora muito usado na Europa, onde havia uma “liturgia punitiva”, no dizer de Foucault169, em São Paulo parece não ter sido utilizado nestes primórdios para moradores portugueses, por ser justamente um instrumento de humilhação pública. Mas 164 ACSP, 27.05.1576 (v. 1, p. 98). Ver esse outeiro no mapa do Cap. Felizardo e Costa (1841), não devendo ser confundido com a rua Tabatingüera, que ficava mais próxima do centro histórico (In: MOURA, São Paulo de outrora, 1932, p. 6). 166 ACSP, 28.11.1598 (v. 2, p. 48). 167 Sobre o Largo da Forca, ver MOURA (id., p. 126-136). FREITAS reproduz também um desenho de 1874, que retrata o “morro da forca”, colina onde se erguia o patíbulo, onde hoje se ergue a Igreja das Almas, no Largo da Liberdade, que durante muito tempo foi chamada de Igreja dos Enforcados (Tradições e reminiscências paulistanas, [1921] 1978, p. 24-25). 168 O vocábulo deriva-se do francês pilori, que por sua vez provém do latim pila (= coluna). Era um “poteau où l’on attachait les condamnés que l’on exposait au regards public » (Petit Larousse Illustré, 1983, p. 764). Na Europa foi adotado, sobretudo, nos países onde houve a Inquisição, sendo que na França foi abolido em 1789, durante a Revolução Francesa (In: FOUCAULT, Vigiar e punir, [1975] 2008, p. 12). 169 FOUCAULT, ib., p. 31. 165 91 é possível que tivesse sido usado para castigar escravos indígenas, embora nas minhas pesquisas não tenha identificado nenhum fato ocorrido. Era uma coluna de pedra ou de madeira, instalada numa praça principal da vila ou da cidade, onde eram colocadas as pessoas sentenciadas, que, atadas pela cintura, eram açoitadas. Ali o sentenciado poderia ser enforcado ou “dar tratos de polé” 170. Polé era uma forma de tortura, que consistia em manter o preso, com os pulsos amarrados e suspensos numa argola, tendo um peso de ferro aos pés para produzir maior estiramento e dor171. Embora fosse o símbolo da vila portuguesa, em São Paulo foi erguido somente em 1587. Neste ano houve pressão da Câmara para sua construção, pois Gonçalo Fernandes e Jorge Moreira, que haviam se comprometido com esta tarefa, quando vereadores, deixaram de fazê-lo. Na gestão seguinte, o ouvidor Antônio Bicudo cobrou o trabalho e lhes impôs uma multa de “cinquo cruzados para o concelho”172. Os acusados tentaram justificar-se, afirmando que não haviam levantado o pelourinho pelo fato de o tronco encontrar-se ainda no mato, cortado, mas parcialmente queimado, num evidente sinal de rejeição por parte da comunidade. A pena pecuniária lhes foi comutada e o pelourinho deve ter sido erguido neste mesmo ano173. A iconografia paulistana é muito pobre e omissa neste particular. Sua localização primitiva não é identificada, mas um mapa de 1841 localiza o Largo do Pelourinho atrás da Igreja de São Gonçalo, próximo à atual praça João Mendes174. A igreja. Competindo com a Câmara, a igreja foi, certamente, o edifício de maior referência. Durante muito tempo, a única igreja existente foi a dos jesuítas. Era o local onde se realizava o culto religioso e, na porta da igreja, à saída da missa dominical, um almotacel lia as ordens e diretivas municipais, seguindo a tradição portuguesa175. 170 Ver GARCIA, R. História política e administrativa do Brasil, 1956, p. 97. Sobre a ostentação do suplício, ver o estudo de FOUCAULT, acima citado, sobretudo, o capítulo 2 (Id., ib., p. 30-56). 172 ACSP, 7.02.1587 (v. 1, p. 309-310). 173 Id., ib., p. 310-311. 174 Ver mapa citado do Cap. Felizardo e Costa (In: MOURA, P., 1932, p. 6). Quanto ao pelourinho paulistano do século XIX, ver texto do autor nesta mesma obra (p. 117-125). 175 ACSP, 1.12.1583 (v. 1, p. 225). 171 92 Com o tempo e, sobretudo, com os conflitos com os jesuítas desencadeados pela questão da escravidão indígena, foi solicitada a nomeação de um pároco diocesano, o que ocorreu em 1591176. A partir de então, pensou-se em construir uma matriz. Sua construção foi muito postergada. Somente em 1612, 20 anos depois da chegada do vigário, os moradores conseguiram concluir a igreja177. Alguns atos religiosos eram regulamentados pelas Ordenações reais, como as três principais procissões: a da Visitação de Nossa Senhora, a do Anjo da Guarda, “que tem cuidado de guardar e defender” a vila e a de Corpus Christi, chamada também de Corpo de Deus. Eram obrigatórias a todos os moradores que vivessem “ao redor [da vila] uma légua”178. Devia haver outras procissões de preceito, como as de São Sebastião e Santa Isabel179. Havia nesta época um bom relacionamento dos jesuítas com os povoadores do planalto, pois como escrevia Cardim “eles têm grande amor e respeito, e por nenhum modo querem aceitar cura [padre diocesano]”180. Mas esta situação se alterou à medida que os jesuítas passaram a defender os indígenas. 4.3 A continuada pressão indígena Os Tupi rebeldes não capitularam com a derrota de 1562. Continuaram pressionando, sobretudo no final dos anos 80, devido às incursões que os paulistas faziam em suas terras, em busca de escravos. A partir de 1590, inicia-se um novo período de confrontos, a ponto de a Câmara convocar pessoas que estavam refugiadas no sertão, por terem cometido crimes e outros delitos, “porquanto o gentio estava já junto nas frontras [fronteira] e era certeza vir já marchando con grande guerra” 181. A reação continuava dos remanescentes dos Tupi 176 ACSP, 1.08.1591 (ib., p. 426-427). SOUZA, N. Catolicismo em São Paulo, 2004, p. 79. 178 Ver Ordenações Filipinas, no 48 (1975, p. 357). 179 Ver TAUNAY, São Paulo nos primeiros anos, [1920], 2003, p. 67 180 Informação da missão..., 1583, Tratados da terra..., 1978, p. 214. 181 ACSP, Auto que fez o Sr. Capitão Jerônimo Leitão e pregão que mandou deitar 15.04.1590, v. 1, p. 398-399. 177 93 de Mogi, que continuavam atacando a partir do Vale do Paraíba, e dos Tupi do Tietê. Era também uma resposta ao nascente tráfico de escravos que já atingia estas regiões. Em março de 1590, a população de São Paulo recebia a notícia através de dois participantes de uma entrada, João Vallenzuella, espanhol, e um índio cristão, tecelão. Na região do rio Jaguari, um dos formadores do rio Paraíba, na tapera de Iaroubi [Jarobi] o grupo português havia sido atacado, morrendo Gregório Affonso. A notícia que chegara dava conta que Cunhaqueba havia morto a Isaque Dias “e que fiquara [ficara] hu genro de Carobi, Jundiapoen, e outros prezos pa os matarem e juntamente dizen q’ he toda gente da entrada morta e acabada”. E havia o recado: todo aquele que fosse ao Vale do Paraíba seria morto 182. O texto da ata não é claro, mas parece que um grupo, chefiado por Cajapitanga – que parece ser indígena de Piratininga – , estava colaborando com estes contrários. Por isso, a Câmara propunha fazer uma devassa para apurar os fatos e caso fossem confirmadas as suspeitas, seriam presos os traidores. E pedia que a população estivesse “prestes com armas e mãtimentos pa quando for tempo” para ir combater o grupo inimigo. Pedia-se igualmente que os muros da vila fossem reforçados183. O muro que protegia a vila já não era suficiente, pois havia o risco de indígenas que poderiam chegar pelo médio Tietê. Foi então construída uma fortificação no Jurubatuba, atual rio Pinheiros, como até hoje indica um topônimo 184 . Era a ambuaçava, que aparece nas atas da Câmara deste período e que era também conhecida como “o forte”185. Ambuaçava deve originar-se do vocábulo tupi paulista boaçâ, que significa “salvar”, seguramente no sentido de “lugar onde pode se proteger”186. No final deste mês de março, os camaristas pediam que “se ponha gente na ambuaçava na alldeia de Caiapurui [Carapicuíba]”187. Assim pode ter havido dois fortes, um na junção dos rios Pinheiros e Tietê, e outro na aldeia de Carapicuíba, onde hoje é Osasco. 182 Idem, 17.03.1590, ib., p. 388-389. Idem ibidem. 184 “(...) se fará na ambuaçava desta parte ãtre [entre] ambos os rios pa q’ ellles fiquen de suas partes por muro e parede” (Id., 11.04.1590, ib., p. 394). No alto de Pinheiro, perto do atual Parque Vila Lobos, há o bairro Boaçava, talvez um nome que indicaria ali a existência este forte. 185 Testamento de Afonso Sardinha, o velho (AHGPSP, v. 2, p. 374). 186 MARTIUS, Glossaria linguarum brasiliensium, 1863, p. 120. 187 Idem, 26.03.1590 (Ib., p. 391). 183 94 A situação era tão crítica que foi solicitada ajuda ao capitão-mor, em Santos, para enviar homens e munições “com mta brevidade”, pois, segundo as informações passadas pelos índios cristãos e pelos espias, estes inimigos deveriam chegar pelo caminho do mar. E confirmavam que a única solução para estes conflitos era “cada hun ir buscar o seu remédio”, isto é que se escravizassem estes insurgentes188. O ataque temido ocorreu em junho desse ano de 90, desfechado por um grupo Tupi que vinha do médio Tietê, por Santana do Parnaíba. Segundo o relato dos camaristas, numa grande investida, “mataram tres homens brãquos [brancos] e ferirão outros muitos e matarão muitos escravos e escravas e índios e índias xpãos [cristãos] e destruirão muitas fazendas asin de brãquos [brancos] como de índios 189. Nesta ofensiva, ocorreu um fato surpreendente: o ataque contra a igreja do aldeamento de Pinheiros, onde “quebrarão a imagem de nossa sra do rozairo [Nossa Senhora do Rosário] dos pinheiros”190. Na realidade a imagem era de Nossa Senhora da Conceição. Vê-se que estes Tupi já haviam morado em Piratininga, pois a ata afirma que “herão nossos vezinhos e estavão amiguos connosquo e herão nossos compadres e se comoniquavão connosquo guozãdo [gozando, partilhando] de nossos resgates [mercadorias] e amizades e isto de muitos annos a esta parte” 191. O fato de serem indígenas “compadres” dos portugueses e terem quebrado a imagem de Nossa Senhora, parece indicar, novamente, um conflito com indígenas que viveram com a missão, trazendo um lado de revanche religiosa, certamente instigados por karaíbas e pajés. Esta hipótese é provável, embora a documentação não seja explícita, mas para o indígena não há separação entre o religioso e o político. Com o reforço vindo de Santos, sob o comando do capitão-mor Jerônimo Leitão, os Tupi foram rechaçados e um indígena, acusado de quebrar a imagem da santa, foi preso e atado à cauda de um cavalo, para um castigo exemplar192. É possível 188 ACSP, 9.04.1590 (v. 1, p. 393). Id., 7.07.1590 (Ib., p. 404). 190 Idem ibidem. 191 Idem ibidem. 192 Bras. 15, p. 366; Annua Lit. 1590-1591 (Id., ib.). 189 95 que tenha sido morto em seguida, mais como “bode expiatório”, pois em ataques coletivos é difícil identificar um único responsável. A resposta dada pelos portugueses foi o aumento das expedições escravistas, sob pretexto de punir os revoltosos, criando na verdade o maior tráfico de escravos indígenas da.colônia. As incursões atingiram, sobretudo, o médio Tietê, em Pirapitingui, na região de Itu, de onde trouxeram muitos cativos. Por ser um grupo numeroso, não aceitaram passivamente o cativeiro. Por isso, um mês depois, a Câmara lançava uma ordem para que todos que tivessem “escravo macho trazido desta guerra, de catorze anos para riba, dentro de 20 dias, os venda fora da terra, sob pena de ser perdido tal escravo (...) pelo muito dano que se pode seguir em eles fugindo para o campo [Vale do Paraíba]”193. Foi uma postura inédita, tomada em situação de desespero. A venda deveria ser para os engenhos do litoral, grande consumidor de escravos. Lá estariam mais seguros e morreriam logo, pois a vida útil de um indígena num engenho não passava de cinco anos. Assim termina esta fase, que foi o início de uma outra, mais sangrenta para os indígenas. Conclusão A partir desse final de século XVI irá iniciar um grande movimento de tráfico de escravos, recebendo os paulistas o nome de bandeirantes. Após o extermínio dos indígenas dos rios Paraíba e Paranapanema, passaram eles a devassar os sertões de Minas e Goiás, auxiliados pelos Tupi que lhes mantiveram fiéis. Abandonando as missões, esses indígenas voltaram a seu passado andarilho e guerreiro, numa simbiose cultural, ajudando a consolidar uma saga que se tornou heróica para a história oficial, mas trágica para os povos indígenas194. 193 194 ACSP, ata de 15.06.159, v. 1, p. 422. Para esse período, ver a obra de MONTEIRO, J. Negros da terra, 2009. 96 O que busquei com este trabalho foi mostrar o caráter guerreiro e a resistência que parte dos Tupi do planalto paulista ofereceram aos portugueses aqui instalados, lutando durante várias décadas contra a perda do território e de sua cultura. Abreviaturas ACSP: Atas da Câmara de São Paulo. AHGSP: Marques, Azevedo, Apontamentos Históricos, Geográficos... da Província de São Paulo, 2 v. CAP: Anchieta, José de. Correspondência ativa e passava. CCJ: Vasconcelos, Pe. Simão de. Crônica da Companhia de Jesus, 1663. CPJ: Leite, Pe. Serafim (org.) Cartas dos Primeiros Jesuítas, 3 v. IT: Inventários e Testamentos HCJB; Leite, Pe. Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, 10 v. PLMH: Pauliceae Lusitana Monumenta Historica, Lisboa. RGCSP: Registro Geral da Câmara Municipal de S. Paulo. TH: Anchieta, José de. Textos históricos. VLB: [Vale, Pe. Leonardo], Vocabulário da Língua Brasílica, 2 v. VVJA: Vasconcelos, Pe. Simão. Vida do Venerável Padre José de Anchieta, 2 v. Referências bibliográficas Actas da Câmara Municipal da vila de Santo André da Borda do Campo. São Paulo: Prefeitura Municipal, 1914. ALVES, Odair Rodrigues. O Município. Dos Romanos à Nova República. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 1986. (Col. Portas Abertas, v. 14). Atas da Câmara da cidade de São Paulo. 2ª ed. São Paulo: Divisão do Arquivo Histórico do Departam. Cultura, 1967, v. 1. ANCHIETA, José de. Cartas. Correspondência ativa e passiva. São Paulo: Loyola, 1984. (Obras completas, v. 6). ----------. Textos históricos. São Paulo: Loyola, 1989. (Obras completas, v. 9). ANDREATO, Elifas. Almanaque Brasil de Cultura Popular, set. 2003. ANÔNIMO. Capitania de San Visente [c. 1630]. Real Academia de la Historia. Madrid. Mapa. In: Calendário da Impr. Ofic.Estado S. Paulo, 2000. BERARDI, Maria Helena Petrillo. Santo Amaro. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo/Secr. Educ. e Cultura, 1969. (Série História dos Bairros de São Paulo, v. 4). CARDIM, Pe. Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil.1625. São Paulo: Ed. Nacional, 1978. (col. Brasiliana, v. 168). ---------. Información de la Província del Brasil para nuestro Padre. In: MAURO, Frédéric. Le Brésil au XVIIe siècle. Coimbra, 1963, p. 125-166. Cartas de Datas de Terra (1555-1600), São Paulo: Departamento de Cultura, 1937, v. 1. CIMI, Outros 500, construindo uma nova história, Salesiana, 2001. 97 CORTESÃO, Jaime. Pauliceae Lusitana Monumenta Historica, Lisboa: Ed. IV Centenário Cidade de São Paulo, 1956, v. 1, parte V-VIII. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. FREITAS, Afonso de. Tradições e reminiscências Paulistanas. 3a. ed. São Paulo: Gov. Est. São Paulo, 1978, p. 179-192. (Col. Paulística, v. 9). FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir, [1975], Petrópolis: Vozes, 2008. GARCIA, Rodolfo. O município. In: Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil (1500-1810), Rio de Janeiro: José Olympio, 1956. GASPAR, Madu. Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. (Col. Descobrindo o Brasil). HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 13ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. KATINSKY, J. Casas bandeiristas. São Paulo: Instituto de Geografia/USP, 1976. LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2004, 10 v. ------------. (org.). Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil. São Paulo: Ed. Comissão do IV Centenário, 1954, 3 v. LEME, Luiz Gonzaga da Silva. Genealogia Paulistana. São Paulo: Duprat & Companhia, 1903, 9 v. LEME, Pedro Taques de A. Paes. Notícias das Minas de São Paulo e dos Sertões da mesma Capitania. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, [1953] 1980. (Col. Reconquista do Brasil, Nova Série, v. 27). LOMONACO, Maria Aparecida Toschi. Práticas médicas indígenas e jesuíticas em Piratininga. In: NATALINI. Gilberto & AMARAL, José Luiz. 450 anos de história da medicina paulista. São Paulo: Associação Paulista de Medicina/Imprensa Oficial do Estado S.Paulo, 2004. LOPES, Reinaldo. Cerâmica revela aldeia tupi. São Paulo: Folha de S. Paulo, 25.01.2005, p. A 18. MARQUES, Manuel E. de Azevedo, Apontamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísticos e Noticiosos da Província de São Paulo [1876]. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980, 2 v. (Col. Reconquista do Brasil, Nova Série, v. 3-4.). MARTIUS, Carl Friedr. P. Von Glossaria Linguarum Brasiliensium. Glossários de diversas lingoas e dialectos que fallao os índios do Império do Brasil. Erlangen: Druck Von Jungen & Sohn, 1863. MONTEIRO, John. Vida e morte do índio: São Paulo colonial. In: VÁRIOS AUTORES. Índios no estado de São Paulo: resistência e transfiguração. São Paulo: Comissão Pró-Índio de São Paulo/ Yankatu, 1984. --------. Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. 5ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. MOURA, Paulo C. de São Paulo de outrora, São Paulo: Melhoramentos, 1932. NÓBREGA, Manoel da. Cartas do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1988. (Col. Reconquista do Brasil, 2a. série, v.147). Petit Larousse Illustré. Paris: Livr. Larousse,1983. PETRONE, Pasquale. Aldeamentos paulistas. São Paulo:Edusp, 1995. 98 PREZIA, Benedito. Os Indígenas do planalto paulista nas crônicas quinhentistas e seiscentistas. São Paulo: Humanitas/USP, 2000. --------. Os indígenas do planalto paulista. In: BUENO, Eduardo. Os nascimentos de São Paulo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p. 52-83. PROUS, André. Arqueologia brasileira. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1991. SCHMIDEL, Ulrich. Histoire veritable d’un voyage curieux fait par Ulrich Schmidel de Staubing. 1567. Paris, Ternaux-Copans, 1837. SIMONSEN, Roberto. História Econômica do Brasil (1500-1820). São Paulo: Ed. Nacional, 1978. (Col. Brasiliana, formato grande, v. 10). [SOARES, Pe. Francisco]. Coisas notáveis do Brasil [c.1594], Rio de Janeiro: MEC/INL, 1966, v. 1. SOUZA, Ney de (org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo. São Paulo: Paulinas, 2004. SUESS, Paulo & OUTROS, Conversão dos cativos. Povos Indígenas e missão jesuítica. São Bernardo do Campo: Nhanduti, 2009. STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. 1557. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1988. (Col. Reconquista do Brasil, v. 17). TAUNAY, Affonso de E. João Ramalho e Santo André da Borda do Campo, São Paulo, 1953. ---------. São Paulo nos primeiros anos. São Paulo no século XVI. [1920-1921] São Paulo: Paz e Terra, 2003. [VALE, Leonardo do]. Vocabulário na língua brasílica, c. 1580. Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Etnografia e Tupi-Guarani, v. 23). São Paulo: Universidade de São Paulo, boletim n. 137, 1952, v. 1; Id., ib., boletim n. 164, 1953, v. 2. VASCONCELOS, Simão de. Crônica da Companhia de Jesus. 1663. Petrópolis: Vozes; Brasília:INL/MEC, 1977. (Col. Dimensões do Brasil, v. 5 e 5 a). ---------. Vida do Venerável Padre José de Anchieta. 1672. Rio de Janeiro: Impr. Nacional, 1943, 2 v. (Col. Biblioteca Popular Brasileira, v. 3). VASCONCELLOS, Sylvio. Sistemas construtivos adotados na arquitetura do Brasil. Arquitetura e Engenharia, 1951. 99 O Conceito metafórico explicitado pelas marcas linguísticas na lenda “A Salamanca do Jarau” Roseliane SALEME* Resumo: Neste artigo analisa-se a lenda A Salamanca do Jarau, de João Simões Lopes Neto, no que tange à Inquisição Espanhola, vista desde a perspectiva do conceito metafórico, teoria proposta por Lakoff e Johnson a partir de 1980. A intenção é levantar as marcas linguísticas que revelam a grande metáfora implícita no texto, assim como a interligação entre os continentes, europeu e americano, nos períodos históricos nos quais se desenrola a narrativa. A análise parte da explicação das lendas e mitos contidos na lenda, seguindo pela perspectiva da metáfora cognitiva, virando em seguida o avesso da tecitura do texto para desentranhar o jogo de palavras escaramuçado de forma brilhante nesta lenda considerada de cunho regional. As considerações incitam a que outras análises sejam elaboradas de sob outros vieses. Palavras-chave: Língua Espanhola, Inquisição Espanhola, Conceito Metafórico, Linguística, Literatura Iberoamericana. A lenda a “A Salamanca do Jarau” de Simões Lopes Neto traz implícitas marcas da Inquisição Espanhola que vêm à luz pelo estudo do conceito metafórico195 que desvela a visão subjetiva do dizer, o aspecto relativo da verdade, ‘unificando assim razão e imaginação’196. É importante ressaltar que o objetivo deste trabalho não é um estudo etimológico, nem literário, pois o levantamento dos vocábulos permite outras leituras do texto, realçando um elo entre aquele período histórico espanhol e os fatos presentes na lenda, sendo que esta tem como palco principal os acontecimentos na região sul do Brasil. O objeto desta análise são os fatos contados pelo tapejara Blau Nunes, personagem apresentada no primeiro parágrafo como um guasca de bom porte (...) e 195 George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors we live by. 1980. Reprinted by permission of University of Chicago Press. 196 Sonia Álvarez. Tese de doutorado: Contos de computador e a educação pelos valores. São Paulo: PUC, 1998, p.15. 100 [que] nesse dia andava campeando um boi barroso..., e de suas peripécias ao envolverse com os demais personagens da lenda. O desenrolar da história e suas consequências situam-se num período de tempo relativamente longo, de mais de duzentos anos, ou seja, o tempo que durou o encantamento ao qual ficaram presos os personagens da princesa moura e do sacristão. Quando Blau Nunes responde ao sacristão que conhece a lenda que este contava sobre a entrada da salamanca e lhe diz que a ouvira da boca de sua avó charrua, pode-se então, situar os acontecimentos da lenda em torno de 1810. Explicando melhor, o velho tapejara contava 88 anos e os charruas, antigos habitantes da região da campanha sulriograndense, foram parte dizimados na luta contra os espanhóis, e outra parte absorvidos pela civilização portuguesa no século XIX.197 Dessa conturbada época da formação da província do Rio Grande, alguns fatos devem ser evidenciados como a presença dos jesuítas que se comunicavam com os charruas valendo-se dos guaranis pela diferença das línguas faladas por esses nativos. A dominação espanhola tentava infiltrar-se no território rio-grandense para reduzir o domínio português e estes embates perduraram por três séculos. Os reinos de Espanha, por sua vez, viviam grandes conflitos internos desde a tentativa da reconquista de seus territórios dominados pelos mouros que, a partir do ano de 711, haviam entrado na Península favorecidos pelas lutas internas pelo poder. É interessante salientar que essa conquista foi feita de forma rápida e em quatro anos o antigo reino visigótico deixara de existir, sendo que nos próximos oito séculos a Península Ibérica se converte em campo de perenes lutas contra esses invasores, reconquistando palmo a palmo cada reino. Apesar de serem os mouros os conquistadores, com o passar do tempo foram convertendo-se à religião católica, denominados então moçarabes, formando uma força que segue um crescendo de dominação entre os diversos povos que habitam a península, até que no século XV, tornou-se impraticável a convivência desses povos. As diversas disputas entre as dinastias da península fizeram com que os reis Fernando e Isabel, no século XV, herdassem um reino financeiramente abalado e politicamente conturbado, seguindo a tendência europeia de acomodação entre as 197 Arthur Ferreira Filho. História Geral do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1960, p.12. 101 classes dominantes e a coroa. Um dos resultados desta política foi implantar a Inquisição Espanhola para “impor em todas as comunidades da península, a ideologia de uma única classe: a aristocracia dos leigos e dos eclesiásticos”.198 Implícito a essa afirmativa está a ideia da ‘limpieza de sangre’, mote para o banimento dos considerados hereges e dos não-conversos, para as atrocidades e horrores cometidos, estabelecendo-se o poder dos tribunais em toda Espanha numa ferrenha perseguição racial e econômica e que contava com o apoio popular. À expulsão dos conversos e não-conversos judeus seguiu-se o período de expulsão dos moçarabes em 1609, tudo isso justificado pela Igreja que proclamava não serem sinceros tanto uns quanto outros, pois que judaizavam ainda ou seguiam o Corão e essas práticas eram tidas como demonizadas. Esse assunto dos conversos serviu para segregar e marginalizar, judeus e mouros, dos cargos municipais e outros de projeção social. As acusações de heresia proliferavam e se faziam presentes nos sermões e prédicas, sem se levar em conta que não havia dado tempo a ambos de se adaptarem às práticas do catolicismo. O perigo que representavam era o que significavam como indivíduos imersos no sistema social e aos suspeitos de heresia restavam o açoitamento, as multas, a vergonha pública, ou o desterro e as galeras199, tudo usado como moldura de uma estratégia política seletiva. A legitimação desses atos foi a formação do Tribunal da Inquisição e no século XVII o esforço evangelizador a que se propunham delimitou-se com precisão moral e ética pelo Concílio de Trento, depurando a ortodoxia católica. Enfim é, pois, de alguns mouros que aportaram no sul do país, por esses banimentos, que trata a lenda A Salamanca do Jarau, e nesta breve análise pretende-se demonstrar o trabalho do conceito metafórico, da Inquisição Espanhola, que ocorre durante a narrativa de modo implícito e explícito. De acordo com Lakoff a teoria dos modelos cognitivos provê um possível mecanismo da operação da metáfora na linguagem, mas mais do que isso pode dar conta 198 199 Henry Kamen. A Inquisição na Espanha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p.10. Tradução e adaptação minha de : (...) penas de azote, multas, vergüenza pública y en ocasiones, el destierro o las galeras. Jaime Contreras. Historia de la Inquisición Española. (1478-1834)- herejías, delitos y representación. Madrid: Arco Libros, 1997, p. 38. 102 de nosso entendimento de mundo, desde os conceitos físicos até os mais abstratos e científicos e da linguagem.200 Lendas e mitos: o trabalho oculto Ao elaborar a estilização da lenda, o autor, não só recolheu materiais de fontes diversas, como uniu à diversidade vocabular sulina elementos essenciais que por criar outros ambientes, esferas virtuais que flutuam por sobre as palavras, resultam num material que permite uma releitura com os elementos simbólicos nela presentes. Meyer 201 , profundo estudioso de Lopes Neto, em um prefácio de Lendas do Sul explica que a verdadeira fonte da lenda da Salamanca estava na Reseña Histórico-Descriptiva de Antiguas y Modernas Supersticiones del Río de La Plata e não nos escritos do padre Teschauer, que por sua vez reproduzira Granada, como pensara anteriormente. Porém esquece-se de citar o poeta argentino Rafael Obligado, que na famosa e conhecida ‘payada’ a Santos Vega refere-se à cueva de salamanca, onde a personagem faz tratos com o diabo. Tanto no sul do Brasil, norte da Argentina, sul do Chile e regiões do Paraguai, correm essas lendas sobre as salamancas e os tratos possíveis para enriquecer a custa de vender a alma ao diabo. Retomando a análise, o fantástico nas narrativas populares evidencia peculiaridades do imaginário, ressaltando os mitos, e, nessa recopilação da lenda, em particular, pertencentes à primitiva religiosidade e à superstição dos habitantes do Brasil, que “são verdades para o povo que o cultiva, [e] está profundamente enraizado no seu tecido social”, presentes em suas narrativas. Lembrando ainda que ‘lenda é um termo advindo do latim legenda, “coisas que devem ser lidas”, (...) [sendo que] o uso 200 Tradução minha de: “The theory of cognitive models provides a possible mechanism for the operation of metaphor in language, but more than that it can account for our entire understanding of the world, from concrete physical concepts to the most abstract scientific concepts and language.” George Lakoff. Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. University of Chicago Press, 1987, p.8 201 João Simões Lopes Neto. Lendas do Sul. Nota Introdutória de Augusto Meyer. Porto Alegre: Globo, 1976, p. 3. 103 mais corrente aproxima-a da saga, que é um relato referente ao passado, (...) tal como se transmitiu de geração em geração (...).202 A metáfora como processo cognitivo Aliado às tentativas de resolver as grandes dicotomias da sua própria natureza humana, em especial à primária que é a da vida e da morte é o homem impulsionado à elaboração das imagens na intenção de resolver para si e seus semelhantes estas contradições. Constitui-se assim o conceito metafórico das analogias as quais lançamos mão para transformar uma ideia que tem relação real ou suposta com outra ideia, atentando-se para “distinguir a metáfora num sentido amplo, como onipresente princípio da linguagem, da metáfora num sentido estrito, como tropo ou figura de estilo” 203 . Assim, as revelações permitidas pelas metáforas ajudam a humanidade a obter as explicações necessárias para o entendimento de sua jornada, sensibilizando-a por entre as alegorias, sobre as ‘cadeias simbólicas’204 evocativas de ausências e abstrações. Considerando-se que “o conhecimento é um problema da imaginação e da coerência, justifica-se, assim, o foco na metáfora porque ela unifica razão e imaginação”.205 É pois, com este material de aproximação que se desfragmentam em palavras outras as multifacetas dos universos que constituem o caleidoscópio da vida. A metáfora em sua função específica atua como um “órgão de transparência da realidade” seja por “iluminar a opacidade das coisas” seja para “mostrar como elas são por dentro.206 Este o uso adequado da metáfora: revelar.” 207 O conceito metafórico vai atuar, refratando e expandindo simultaneamente, multicolorindo, o que era visto de modo unilateral, sendo esta expansão que aproxima o real do imaginário, e vice-versa, agindo então como força 202 Luciana Maria de Jesus, Helena Nagamine Brandão (coord.) Gêneros do discurso na escola – mito, conto, cordel. São Paulo: Cortez, 1999. p. 52/53. 203 Salvatore D’ Onofrio. Literatura Ocidental. São Paulo: Ática, 1997, p.38 204 Ibidem, p. 44 205 Sonia Álvarez. Tese de doutorado: Contos de computador e a educação pelos valores. São Paulo: PUC, 1998, p.24. 206 Gilberto de M. Kujawski. Fernando Pessoa, o Outro. Petrópolis: Vozes, 1979, p.10, Grifo do autororiginalmente aspas. 207 Ibidem, p.12. 104 catalisadora da “pulsão”, princípio desencadeador, num jogo de encaixes que transmuta uma coisa para a outra. Assim, o homem permite que se ligue o seu interior ao mundo exterior, estabelecendo “o processo cognitivo”208 ao expressar seus pensamentos, concretizados em palavras diferentes daquelas usadas para definir questões ou arrazoamentos, resolvendo desta forma suas emoções expandidas no plano inconsciente, traduzidas no plano consciente pelos conceitos metafóricos. O conceito metafórico na lenda A personagem Blau Nunes depara-se com o Santão da salamanca (o sacristão encantado) e o saúda com a fórmula: - Laus’Sus-Cris’!...209 demonstrando o evidenciamento da consciência religiosa e da supremacia da força central da Igreja, naquela época, ao habituar as pessoas a demonstrações de fé. Para surpresa de Blau Nunes, o sacristão sabe dos propósitos do velho tapejara. No diálogo encetado entre ambos, o sacristão lhe revela conhecer sua intenção de alcançar o boi barroso. Blau, porém, desconhece ser o sacristão vítima de encantamento antigo, preso a sortilégios havia 200 anos devido ao seu envolvimento amoroso com a princesa moura. A lenda passa a ser narrada pelo sacristão em uma metalepse, pois que, toda a conexão mediata estabelecida entre o mundo real e o mundo possível, está nessa troca dos narradores, configurado no universo da ficção.210 Assim passa-se de um narrador intradiegético – Blau Nunes - para um narrador homodiegético – o sacristão transmudado no santão do cerro, lembrando ainda que o primeiro narrador, extradiegético, 211 dá lugar aos outros dois e mais adiante, ao longo da narrativa, à princesa. Realinhando a análise, quando esta princesa aporta em terras do sul da América, em companhia dos espanhóis mouros, que a trazem por ser bruxa e velha, e bela e 208 Lakoff & Johnson:1980. Forma abreviada e estranha é certo, porém expressiva da saudação- Louvado seja Jesus Cristo! Zeno Cardoso Nunes, Rui Cardoso Nunes. Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1982, p. 63. 210 Carlos Reis, Ana Cristina M. Lopes. Dicionário de Narratologia. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 232/233. 211 Dominique Maingueneau. Elementos de Linguística para o texto literário. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.39. 209 105 princesa, ao mesmo tempo, comprova-se a metáfora da lenda; os mouros expulsos dos reinos de Espanha eram considerados hereges e a heresia sofria o pulso das perseguições sem trégua dos tribunais da Inquisição Espanhola, que ditava os comportamentos do catolicismo ocidental. A princesa-moura trouxera seu cordão herético encantado e recebe a visita de Anhangá-pitã, o diabo dos índios, que conhecia a verdadeira situação dos moçarabes, que apesar de conversos “jamais haviam sido catequizados, desconhecendo, por isso, a religião cristã”212; por seus sortilégios e magias o diabo nativo transforma a princesa em teiniaguá com cabeça de pedra de rubi vermelho e brilhante como brasa, ela, talismã agora, que capturada tornaria seu possuidor o ser mais rico do mundo. Ao transformá-la assim está convertendo-a em uma salamandra, um gênio que governa o fogo e nele vive sendo daí a teiniaguá uma sinédoque de todas as mulheres. Explicando melhor, converte-se na encarnação de todas as mulheres, ‘domesticada e adestrada’213 para enquadrar-se aos padrões ideais de comportamento, fora dos quais estariam condenadas à exclusão, em uma dupla degradação, ou seja, o banimento por ser moura e por ser mulher em essência. A princesa moura ao propor riquezas e amor ao sacristão, vaticinando o futuro de ambos pelo que já estava escrito mostra-se assim: Sobre a cabeça da moura amarelejava nesse instante o crescente dos infieis...214 Somente a hegemonia católica poderia tachar de infiel àqueles que por seguirem uma orientação religiosa diferente, uma crença mais ortodoxa, apoiar-se-ia em uma supremacia calcada no terror, na tortura e nas promessas de condenação eterna, como relata o sacristão: Afrontei o arrocho da tortura, entre ossos e carnes amachucadas e unhas e cabelos repuxadas.(...) os padres remordiam a minha alma, prometendo o inferno eterno e espremiam meu arquejo decifrando uma confissão...215 Os delitos, o avesso da trama, o jogo das palavras 212 Henry Kamen.A Inquisição na Espanha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p.141. Mary Del Priore. Ao sul do corpo: condição feminina, Maternidades e mentalidades no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995, p. 26. 214 João Simões Lopes Neto. Lendas do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997, p.38. 215 ibidem. p. 39. 213 106 A resistência da moura-salamandra, à presença do diabo em sua vida, fugindo, remete à memória dos recém saídos de terras espanholas fugidos da aceitação de dogmas e preceitos. O diabo nativo, Anhangá-Pitã, cansa-se por despender muito tempo e ensinamentos à moura, cochila, e ela escapole para a lagoa, de onde sai após um tempo não determinado, das águas borbulhantes de quentura, direto para os braços do sacristão que ali chegara por uma atração magnética. E é este, a outra ponta da metáfora, pois após ser encantado se converte no ‘santão do cerro’, age prisioneiro do ‘fado’ e do ‘destino’, forças tidas como supremas à vontade. Sua função como sacristão era a de cuidar ‘dos altares e ajudar a missa dos santos padres da igreja de São Tomé, do lado poente do grande rio Uruguai’. Referência clara à missão castelhana e à luta dos espanhóis pela posse das terras. Ao deparar-se com a salamandra saída do lago fumegante, persigna-se o sacristão e expõe sua condição de converso pela afirmação: “Tudo o que volteia no ar tem seu dia de aquietar-se no chão”. Esta é uma referência aos safarditas vindos ao sul do Brasil fugidos da opressão e ação do Santo Ofício. Nomeiase safardita ao judeu espanhol, que desenvolveram um dialeto próprio e até os dias de hoje mantém suas tradições e registros das “juderías”, que eram os bairros a eles destinados. Voltando aos fatos da lenda, nesse ínterim, o sacristão aprisiona a salamandra em uma guampa216 por ver nela o poder da riqueza infinita e transbordam, seus sonhos ambiciosos em seus olhos injetados de cobiça, usando isso como escudo por temer confrontar-se com a fêmea essencial, a princesa em forma de bela e sedutora mulher, que lhe conta haver sido transformada pelo diabo nativo em teiniaguá de cabeça de carbúnculo e que era desejada e temida porque era ‘a rosa dos tesouros escondidos dentro da casca do mundo...’ Aparece aqui a metáfora do carbúnculo, referência a uma pedra de cor rubi, uma granada lapidada em forma de cabochão, ‘utilizadas (...) quatro pedras engastadas em 216 Chifre preparado para ser usado como copo ou vasilha para guardar líquidos em: Zeno Cardoso Nunes, Rui Cardoso Nunes. Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1982, p. 235. 107 ouro para fabricar o peitoral do Sumo Sacerdote de Israel, os carbúnculos’ 217. Por outro lado esse termo é a referência a um edema maligno, e se comparado à mulher, ao negarlhe a esta a sua sexualidade plenamente vivida, pode-se ouvir ecos misóginos de discursos sedimentados em sermões moralistas. Outra metáfora possível é a da decisão do sacristão em alimentar o bichinho aprisionado e para tanto busca um porongo de mel de lexiguana e eis uma breve análise desse termo – lexiguana - nos mostra que o radical modificado produz um disparate218, somente cabível na sequência das metáforas: leche e iguana. Ou seja, o sacristão deduziu que o único alimento possível para a salamandra seria o “leite de iguana”. Ao levar o alimento para o animalzinho o sacristão se depara com a princesa e ao fitar os olhos mouros que o miravam repletos de sentimento de entrega, não resiste e cede frenética e voluptuosamente, e perde o escudo religioso atrás do qual resistia às chamadas tentações do pecado, quer dizer à entrega ao amor físico e sem barreiras. Vivendo em contradições por um lado, ao sucumbir aos apelos da paixão e por outro, a consciência de falhar com suas obrigações nos ritos religiosos, a denúncia dos delitos de amor estampada em suas faces encovadas e nas profundas olheiras, o faziam sentir-se próximo à heresia e vulnerável aos julgamentos e ao sumário, ou seja, “mistura bizarra de acusações que o incriminavam (...) como um mau cristão...” Consente ainda em misturar o mel do sustento da moura com o vinho do sacrifício da Missa, e o bebem em um cálice de ouro consagrado e ali no lugar sagrado vivem mais uma noite de amores. Desperta o sacristão cercado pelos santos padres e é jungido em manilhas de ferro, sujeito aos éditos de fé, por incorrer em delitos como a blasfêmia, a feitiçaria, a negação da fornicação como pecado mortal. É exposto à encenação de uma cerimônia solene de declaração do anátema219, quer dizer, ser separado do corpo de fiéis e amaldiçoado, excluído por excomunhão da comunidade à qual pertencia. 217 Exodus 28, 15-30. Tomando-se o vocábulo ‘lexiguana’ e utilizando-se a pronúncia do morfema ‘x’ com som de ‘ch’, em seguida aproximando o grafema/fonema ‘lex’ transportado para o vocábulo equivalente a leite em espanhol: ‘leche’, teremos dois vocábulos leche e iguana. Lembrando ainda que iguana e salamandra são animais da mesma espécie, sáurios, concluímos o raciocínio executado pela personagem sacristão. 219 Francisco Bethencourt. História das Inquisições:Portugal, Espanha e Itália- séculos XV-XIX. São Paulo, 2000, p. 254. 218 108 A sequência da lenda traz uma série de termos inerentes a práticas do tempo da Inquisição, como a de sua condenação à morte do garrote e todo o ritual que se segue, do povo clamando por sua morte, o sino dobrando finados, o cortejo de gente d’armas, os santos padres, o carrasco e o povaréu, descrição dos séquitos usuais nas execuções do Santo Ofício.220 Sucedeu que ocorre um cataclisma, contado nesta parte da lenda, que faz a terra tremer, o vento estoura as águas da lagoa, redemoinhando, aumentam as rezas dos padres, e mais uma sequência de palavras, vindas direto das práticas do Santo Ofício, testemunham uma vez mais a presença da Inquisição sobre a gente do sul: o alcaide, vestido de samarra amarela, o carrasco atento ao garrote, os alguazis ordenando a morte, e a água benta espargida pelos padres. Confrontam-se novamente os conceitos metafóricos, pois samarra, pejorativamente refere-se a padre, ou seja, o alcaide ao vestila atestava o jugo da Igreja e que cabia aos prelados determinarem as execuções e punições infligidas; aguazil, funcionário administrativo e judicial, aquele que precedia o cortejo dos condenados à morte e por outro lado a morte por garrote, que garantia àqueles que queriam morrer como cristãos a alternativa da morte por sufocação pelo fumo da fogueira.221 Por força dos encantamentos da teiniaguá este quadro da condenação é modificado por ventos fortes e pela convulsão da lagoa, que findam por afastar algozes e povo que desesperados fogem diante da fúria dos elementos, sendo o condenado transportado pelas forças mágicas para o lado do Nascente, na barranca do Uruguai, indo viver com a teiniaguá no paiol das riquezas do Cerro do Jarau. Torna-se então o vulto encantado, vivendo por duzentos anos na abundância das riquezas acumuladas pelos povos da América do Sul, detendo o poder de contratar a sorte na salamanca famosa. Concede a Blau Nunes, por tê-lo saudado no início do encontro, entrar na salamanca e escolher o que quiser, salientando que se for saudado pela terceira vez como cristão, seu encantamento cessará. Blau Nunes entra na salamanca, ‘não há ninguém lá dentro, mas se escuta vozes de gente, vozes que falam...falam, mas não se entende o que dizem, porque são línguas atoradas que falam. 220 Ibidem, p.254 221 Ibidem, p.153,73. 109 As línguas atoradas, acima citadas, são uma referência clara, dos povos que professam O Tora, a lei mosaica, os judeus que haviam sido condenados, e se encontravam presos, encantados, pelas práticas hereges como cristãos conversos. Observa-se aqui toda a carga alegórica, representativa da libertação de um povo, perseguido por sua fé, dizimado por suas convicções para limpeza de sangue, descritos nos éditos de fé.222 Pode-se observar ainda a circularidade do embreante ‘lá’, promovendo um significado diferente caso fossem utilizados outros dêiticos de espaço, como ‘ali’ ou o uso de um substantivo comum designando o lugar: ‘a gruta’, ou ainda ‘a salamanca’. 223 Retomando os fatos da lenda, Blau passa por sete provas e de todos os tesouros oferecidos deseja apoderar-se da teiniaguá, o que não lhe é permitido e por forças mágicas volta à boca da furna; reencontra o sacristão que o presenteia com uma onça de ouro furada pelo condão mágico, que dará a Blau, quantas quiser, porém uma de cada vez. Esta onça furada, guardada dentro da guaiaca o converte em um rico solitário e infeliz, porque a todos que pagou com o ouro mágico tiveram a perda de tudo que tinham e mais o que dele haviam recebido. Blau, esmorecido pelo isolamento devolve a onça ao sacristão saudando-o novamente como cristão. Quebra-se o encantamento, o Cerro do Jarau expele fogo e rolos de fumaça negra e os tesouros da salamanca são queimados. Para Blau o cerro ficou como se fora de vidro, mostrando em seu interior todos os povos prisioneiros que entre ‘urros, gritos, tinidos, silbidos, gemidos, caminhavam para a libertação. Após toda convulsão no cerro a ‘velha carquincha transforma-se na teiniaguá...a teiniaguá na princesa moura...a moura numa tapuia formosa...e logo o vulto de face branca e tristonha tornou à figura do sacristão’ e em seguida ‘num guasca desempenado’... Este final apocalíptico remete-nos ao mito de éden terrestre224 e de acordo com as escrituras225, na abertura do quinto selo, vêm-se as almas dos mortos; no sexto selo os 222 Ibidem, p.163,164. Dominique Maingueneau. Elementos de Linguística para o texto literário. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.8,10. 223 224 José Luiz Del Roio. Igreja Medieval. São Paulo: Ática, 1997, p.143,144. 110 montes se moveram de seus lugares e ao tocar das trombetas a terra foi abrasada, um monte arde em fogo e subiu fumo do poço como se fora uma grande fornalha, e foi visto um mar de vidro, da mesma forma que o Cerro do Jarau tornou-se transparente. A analogia do encantamento do sacristão por duzentos anos coincide com o período mais calmo das Missões, e este final catastrófico da explosão do Cerro, com a expulsão dos jesuítas, que deixa as reduções indígenas sem guias. Porém de toda essa destruição, no final da lenda, segue adiante o casal formado pela ‘linda tapuia e o guasca desempenado’, pairando acima da desagregação social, da derrota de suas crenças seculares, do abandono de seus cultos, da violência e injustiças de seu desterro. Seguem míticos Adão e Eva, ‘descendo a várzea limpa, (...) bordada de (...) bibis roxas’, que seriam flores ou como no Oriente, senhora e princesa muçulmana?226 A Influência Espanhola confirmada pela Metáfora do Enunciado O enunciado da lenda A Salamanca do Jarau vem acompanhado de dois subtítulos, ou seja, O Cerro do Jarau, A Salamanca, que despertam no leitor uma curiosidade, como se houvesse um conflito inicial, incitando o prosseguimento da leitura para chegar ao ponto no qual o autor nos explique os porquês dessa triplicidade e de como se dará o encontro dos enunciados como texto. A primeira palavra do segundo enunciado, Cerro, aporta na língua portuguesa sem sofrer nenhuma transformação etimológica ou de grafia; é homógrafa e homônima de Cerro em espanhol, significando elevação do terreno no castelhano, e colina pequena e penhascosa no nosso idioma; porém, significa ainda, em sentido familiar e figurado para os hispânicos: ‘Echar o irse por los cerros’, o sair do tema. Quer dizer, na primeira palavra do enunciado, Lopes Neto, nos mostra uma pista de que a lenda vai por caminhos outros, diferentes dos que possam repercutir em uma primeira leitura. 225 Fragmentos do Apocalipse de São João Apóstolo, Livro III cap. 6; vers.9,12; cap.III. vers. 7,8; cap. 15, V.2 Bíblia Sagrada 226 Bibi, s.f. Erva da família das iridáceas (Cypella plúmbea Lindi); No Oriente, senhora ou princesa muçulmana. Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira. Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Gamma, s/d. 111 Cabe ao leitor não ingênuo perceber que essa expressão é um “reflexo dos conceitos metafóricos sistemáticos, que estruturam nossas ações e nossos pensamentos. Estão ‘vivos’ em um sentido mais fundamental: são metáforas nas quais vivemos.”227 A partir do primeiro título da lenda, a explicitação do conceito metafórico é clara, está configurada a sua presença indiscutível, pois a lenda conta a história do amor do sacristão com a princesa moura sim, mas o conceito metafórico marca sua presença neste enunciado submerso revelando que o tema não está restrito a uma narrativa folclórica ou a uma junção de histórias correntes dos povos das regiões do sul da América, uma ‘crendice de fronteira’228, e tampouco a compilação de trabalhos de outros autores. Torna-se claro que o ‘sair do tema’ é um percurso que elaborado com cuidado proporciona ao leitor enveredar por um caminho demarcado circunstancialmente e que identificado com critério permite a chegada a este tema que no início paira acima da própria lenda, condensando a presença da Inquisição Espanhola no sul do Brasil. A Salamanca como está proposta por Lopes Neto, no terceiro enunciado, e novamente depara-se com algo inusitado, uma ambiguidade nesta proposta. E aqui é o próprio autor que se encarrega de aclarar esta duplicidade de significado por aposição, pois ao ser adicionado o artigo ‘a’, a dubiedade de sentido transforma o substantivo próprio Salamanca em outro substantivo, salamanca, comum. Dirimindo dúvidas quanto a essa licença gramatical, o próprio Lopes Neto elucida, por intermédio de Blau Nunes, a questão, explicando que chamaram salamanca à furna do encontro para uma luta na campanha gaúcha, e que esse nome espalhou-se, para todas as demais furnas, ‘em lembrança da cidade dos mestres mágicos’.229 Blau explica ao sacristão o que ouviu de sua avó charrua230: Na terra dos espanhóis, do outro lado do mar, havia uma cidade chamada – Salamanca - onde viveram os mouros, que eram mestres nas artes de 227 Tradução minha de: (…) reflejo de conceptos metafóricos sistemáticos que estructuran nuestras acciones y nuestros pensamientos. Están "vivos" en un sentido más fundamental: son metáforas en las que vivimos. El hecho de que estén fijadas convencionalmente al léxico de nuestra lengua no las hace menos vivas (…). George Lakoff , Mark Johnson. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, 1986, p. 95. 228 Augusto Meyer. Guia do Folclore Gaúcho. Rio de Janeiro: Tecnoprint, s/d, p.70. 230 João Simões Lopes Neto. Lendas do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997, p.29. 112 magia; e era numa furna escura que eles guardavam o condão mágico por causa da luz branca do sol, que diz que desmancha a força da bruxaria... A delimitação territorial aponta, sem dúvida, a região de onde saíram os mais importantes inquisidores espanhóis, uma parte elitizada de homens com formação universitária que passaram seus anos estudantis nos principais Colégios Maiores de Salamanca e eram doutores em direito civil, direito canônico, e, licenciados, quase todos, homens de igreja e pertencentes ao ramo secular231. A Diversidade do Jogo: A Lenda e os Mitos, Cruzados com o Conto e a Realidade A leitura da lenda A Salamanca do Jarau nos instiga a questionamentos quanto ao seu gênero discursivo. Afinal estamos diante de uma lenda ou de um conto? E o conceito metafórico nos permite elucidar a questão, pois é o agente que define a ideia e outros objetos utilizando de adjetivações outras não pertinentes à sua categoria ou espécie; amealhou-se para tanto outros conceitos que permitem o entendimento desse jogo de situações proposto pelo autor da lenda, objeto desta pesquisa. Bettelheim discorrendo sobre os contos traz uma elucidação que sustenta a proposta acima: ‘Era uma vez’ – este início sugere que o que se segue não pertence ao aqui e agora que nós conhecemos. Esta indefinição deliberada no início dos contos simboliza que estamos deixando o mundo concreto da realidade comum. Da mesma forma, a lenda A Salamanca do Jarau se inicia, pontuando que entraremos em um mundo permeado pelo maravilhoso: “Era um dia... 232 , em seguida o autor apresenta o narrador “... um gaúcho pobre, Blau, de nome, guasca de bom porte; (...) e nesse dia andava campeando um boi barroso. (...) Campeando e cantando. (...)”. O uso do verbo introdutório no imperfeito do indicativo define uma atemporalidade subjetiva, 231 Jaime Contreras. Historia de la Inquisición Española. (1478-1834)- herejías, delitos y representación. Madrid: Arco Libros, 1997, p.65 232 João Simões Lopes Neto. Lendas do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997, p.25. 113 pois a data não é fixada, alertando ainda o leitor para que receba o texto à Margherite Duras: “sem ordem cronológica”. 233 O que Blau canta, é uma melodia que fala do boi barroso perdido, melodia esta composta em quadras, e versos octossílabos, a pajada tão difundida na cultura gauchesca. Este uso de versos octossílabos retoma o teatro de Lope de Vega, no século XVII, na Introdução da peça El Caballero de Olmedo, e seguindo por outro viés em uma canção popular, que cita ‘um perigoso intelectual da Espanha’, preso pela Inquisição e acusado de não ser cristão, ademais de apontar a heresia e o ateísmo: Olavide es luterano, Es francmasón, ateísta Es gentil, es calvinista, Es judío, es arriano,234 Es Maquiavelo, ¿es cristiano?(…) A presença do boi barroso na lenda comprova uma vez mais o conceito metafórico, pois, como um guasca de bom porte como Blau, vivido e acostumado às lides do campo estaria buscando um ‘boi que nunca se deixa encontrar por ninguém’? 235 ; essa menção tem como objetivo introduzir a payada, forma do gaúcho cantar os fatos de sua terra e de sua gente. Como foram demonstradas nos parágrafos acima, as marcas do gênero conto estão presentes na lenda, porém outro jogo linguístico se estabelece aqui, no confronto dos dois idiomas, o espanhol e o português, pois lenda como foi explicado anteriormente refere-se às ‘coisas que devem ser lidas’, sem assinalar a qual leitura deva ater-se quem busca desvendar um texto. Vale lembrar que os conquistadores espanhóis pelas atrocidades cometidas no período do descobrimento da América, sua colonização e as lutas por territórios para alargar os reinos, escreveram com o sangue dos povos conquistados a leyenda roja. Explicando melhor, a sanha por ouro e prata, a cobiça desenfreada pela posse dos tesouros dos nativos das terras recém-descobertas 233 Dominique Maingueneau. Elementos de Linguística para o texto literário. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.73. 234 Seguidores de Arrio, que colocou o cristianismo em uma moldura judaica, o que resultou para o ocidente em um Deus Supremo, secular e mais atraente. Anos mais tarde, Constancio abraçou o arrianismo e os concílios por ele convocados exilaram aos líderes ortodoxos. 235 João Simões Lopes Neto. Lendas do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997, p. 63. 114 desencadeou o extermínio dessas populações. Os charruas, tribo do sul do país, fazem parte da leyenda roja, pois foram dizimados no período da conquista das regiões do Rio da Prata, comprovando a veia sanguinária espanhola naquela época. Paralelo a esse termo encontramos outro que lhe faz eco: a leyenda negra e, para explicar com mais ênfase trazemos as palavras de Fray Bartolomé de Las Casas, em sua “Brevísima relación de la destrucción de las Índias”, no fragmento a seguir que trata da matança dos nativos: (...)alimentou a chamada ‘leyenda negra’, onde a Espanha aparecia como uma ave de rapina que tivesse descido sobre o Novo Mundo, causando os piores e mais sangrentos males. Conta ainda esse mesmo frei no capítulo que cita o Rio da Prata que as grandes províncias e os reinos da América, na época Índia, foram despovoados e destruídos e que tanto as matanças como as crueldades eram atos muito estranhos, tal a proporção e a frieza com que eram executados. Um dos governadores relata ainda o frei, ordenou que seus correligionários se dirigissem a um povoado dos nativos e que lhes retirassem todo o alimento, e os eliminassem, assim, os espanhóis cumprindo essa absurda ordem passaram a espada cinco mil nativos. Foram escritas então as duas ‘leyendas’ espanholas. E como definido no dicionário o termo refere-se a acontecimentos extraordinários e admiráveis, que parecem imaginários, porém, são verdadeiros, e o seu reverso, para contrapor o jogo metafórico, ainda na definição dicionarizada, uma composição literária que conta esses acontecimentos. Como se pode constatar, ‘leyenda’, em espanhol, trata da realidade, uma realidade crua, sangrenta e cruel, e não de um mundo imaginário. Algumas Considerações Neste ponto uma afirmação de Meyer, da qual se discorda nesta análise, de que o início da lenda A Salamanca do Jarau é de um tom banal, ao contrário, reforça os muitos caminhos pelos quais podem prosseguir outras investigações. Longe de ser um tom banal o autor nos brinda com uma informação relevante, no seguinte trecho: 115 Era um dia... um dia, um gaúcho pobre, Blau, de nome, guasca de bom porte, mas que só tinha de seu um cavalo gordo, o facão afiado e as estradas reais236, (...) Pois foram exatamente essas palavras, agora sublinhadas, estradas reais, que deram o norte a esta pesquisa e se abrem para novos caminhos que, se percorridos, ao se interpretar os fatos apresentados na lenda, por outros meandros, irão revelar uma gama diversificada de refrações policrômicas pelos muitos labirintos ainda não investigados. Buscou-se no excerto acima obedecer à diagramação do início da lenda em que a ambiguidade se dá pela ruptura da continuidade da oração na linha seguinte e pela anáfora do dêitico temporal ‘um dia’, reafirmando assim que esse fora um dia especial e não um dia qualquer. Salienta-se ainda que antes do início desta investigação apurou-se não haver outro estudo com esta abordagem, a do conceito metafórico, e reforça-se a afirmativa que nessa lenda cada palavra ali colocada esconde, traz implícitos, outros significados, alguns dos quais se conseguiu investigar e decifrar, trazendo um pouco da mágica e da perspectiva iluminada com que o autor Simões Lopes Neto a elaborou. Referências ÁLVAREZ, S. Tese de doutorado: Contos de computador e a educação pelos valores. São Paulo: PUC, 1998. As pedras preciosas e a raça humana. 6-saiba mais – Pequena História das Joias. Disponível em www.simonjoias.com.br BETHENCOURT, F. História das Inquisições – Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. BETTELHEIM, B. A Psicanálise dos Contos de Fadas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. BÍBLIA SAGRADA. Trad. PE. Antônio P. de Figueiredo. Rio de Janeiro: Barsa, 1974. JESUS, L. M. & BRANDÃO, H. N. (coord.) Gêneros do discurso na escola – mito, conto, cordel. São Paulo: Cortez, 1999. CONTRERAS, J. Historia de la Inquisición Española (1478-1834)- herejías, delitos y representación. Madrid: Arco Libros, 1997. 236 Grifo meu. 116 DEL PRIORE, M. Ao sul do Corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil-Colônia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1995. FERREIRA, Arthur F. História Geral do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1960. FERREIRA, Aurélio B. de H. Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Gamma, s/d. GARCÍA-PELAYO, R. Larousse- diccionario usual. México: Larousse, 1994. HOWELL, Steve R. Metaphor, Cognitive Models, and Language. KAMEN, H. A Inquisição na Espanha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. KUJAWSKI, G. de M. Fernando Pessoa, o outro. Petrópolis: Vozes, 1979. LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. University of Chicago Press, 1987. LAKOFF, G.; & JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago and London: University of Chicago Press, 1980. LAS CASAS, Bartolomé fray. Brevísima relación destrucción de las Indias. Barcelona: Cambio 16, 1992. LOPES NETO, João Simões. Lendas do Sul. Nota introdutória de Augusto Meyer. Porto Alegre: Globo, 1992. _________________________. Lendas do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997. MAINGUENEAU, D. Elementos de linguística para o texto literário. São Paulo: Martins Fontes, 1996. MEYER, A. Guia do Folclore Gaúcho. Rio de Janeiro: Tecnoprint, s/d. NUBIOLA, Jaime. El Valor Cognitivo de las Metáforas. Verdad, bien y belleza. Cuando los filósofos hablan de los valores. Cuadernos de Anuario Filosófico n° 103, Pamplona, 2000, pp. 73-84. http://www.unav.es/users/ValorCognitivoMetaforas.html Acesso em 19/09/2009. NUNES, ZENO C.; NUNES, RUI C. Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1982. ONOFRIO, S. D’. Literatura Ocidental. São Paulo: Ática, 1990. REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de Narratologia. Coimbra: Livraria Almedina, 1998. ROIO, J.L.del. Igreja Medieval. São Paulo: Ática, 1997. VEGA, LOPE. El Caballero de Olmedo. Madrid: Cátedra, 1992. 117 RESENHA 118 Um romance noir brasileiro: O comando negro, de Álvaro Cardoso Gomes. Por Milton M. Azevedo em 29/09/2009 É inevitável que haja certa ambiguidade com respeito à narrativa policial numa sociedade em que a distinção entre policiais e criminosos nem sempre é clara, onde a confiança do cidadão na justiça costuma ser matizada, e os leitores desconfiam de histórias com um final feliz em que o criminoso é castigado. É em tal contexto cultural que se insere o romance de Álvaro Cardoso Gomes, O comando negro (Editora Globo, setembro de 2009), cujo protagonista e narrador, o incorruptível detetive Douglas Medeiros, é capaz de recusar um suborno de meio milhão de dólares, embora viva sempre a um passo da pobreza. Lotado num distrito policial na cidade de Campo Grande, uma das áreas mais violentas da Grande São Paulo, Medeiros narra suas aventuras, num estilo que lembra os clássicos do romance policial noir — Dashiel Hammett, Raymond Chandler, Ross Macdonald, Mickey Spillane — situando-nos no contexto da intensa violência urbana que se implantou como rotina nas grandes cidades brasileiras. Combinando mistério, detecção e aventura, a narrativa nos conduz por uma montanha russa de emoções, alternando vinhetas cômicas com episódios de ação rápida, pancadaria, tiroteios e violência crua: “Atirei com a .40, arrancando a tampa da cabeça do zarolho. Pedaços de miolo e sangue espirraram pra cima e pros lados…” Tais cenas 119 formam o pano de fundo da ação principal, em que Medeiros, ainda não recuperado de uma grande tragédia amorosa, é convidado a participar em sua expulsão simulada da polícia, por corrupção, para que possa infiltrar-se no quartel general do Comando Vermelho, “a mais poderosa facção criminosa de São Paulo”. O objetivo de tal farsa consiste em resgatar uma adolescente de classe alta, chamada Claudinha, que se transformou voluntariamente em namorada do Nenzinho, “rei dos traficantes em São Paulo”. Ao descrever o seu ambiente de trabalho, marcado por confrontações com superiores e colegas incompetentes ou corruptos, Medeiros revela-se dotado de uma personalidade contraditória, inteligente, mas refratário à introspecção, perturbado por uma baixa auto-estima que o leva a viver em condições deploráveis: “Abri a porta do apartamento e senti o cheiro conhecido de pó e de fast-food estragado na pia, o odor do mundo dos homens solitários.... os móveis desconjuntados, a tevê que só funciona a tapas e pontapés, o sofá com o estofamento rasgado e cheio de corcovas…” Embora formado em Direito, Medeiros tem poucos interesses intelectuais, embora aprecie ler narrativas sobre detetives durões como Philip Marlowe, protagonista de romances de Raymond Chandler como O Longo Adeus. Mas ao contrário de Marlowe, que lia poesia e jogava xadrez, seu refinamento estético não vai além de escutar canções de Nina Simone. Sem as dimensões de um herói trágico, Medeiros aparece-nos mais próximo ao operário chapliniesco do filme Tempos Modernos, aprisionado por enormes engrenagens cuja complexidade e propósito não logra compreender. Mas, incorruptível e corajoso até a temeridade, Medeiros é um policial tenaz, para quem — como para Marlowe — a detecção não é um processo abstrato, e sim o resultado de uma combinação de fatores como a persistência, a capacidade de recolher fragmentos de informação, e um pouco de sorte. Uma vez infiltrado no Comando Vermelho, Medeiros tem que participar em atividades ilegais, como o contrabando de drogas, entrando em situações que conduzem a enfrentamentos violentos: “Me joguei no chão, ao mesmo tempo em que sacava o Magnum e atirava no peito do oficial... atirei quatro vezes seguidas, atingindo dois dos soldados... me levantei sujo de terra vermelha e fui até o Escobar.... estava caído no chão e sangrava pela boca. Tentava desesperadamente alcançar a pistola... dei-lhe um pontapé no 120 queixo... fui até o oficial. Estava caído de costas com um rombo no peito. Um belo estrago do Magnum.” Finalmente Medeiros descobre a garota que deveria liberar, que “se destacava pela beleza selvagem, pelo jeito provocativo como mexia as ancas, empinava os peitos e movia as coxas... Os cabelos curtos e pretos emolduravam os olhos cor de mel e a boquinha de lábios cheios, vermelha que nem uma gota de sangue.” Porém as coisas não são tão simples, já que a jovem, psicologicamente dominada pelo Nenzinho, recusase a ser libertada, criando complicações que aumentam cada vez mais e obrigam Medeiros a arriscar repetidas vezes a própria vida. O leitor habituado à literatura policial e detetivesca perceberá que as referências a Chandler sugerem, que numa sociedade onde a autoridade pública deixa de ser confiável e a corrupção se integra na estrutura social, o detetive durão e honrado é um desejável anacronismo. Permeia O comando negro uma linha de crítica social, refletindo a perspectiva de um narrador cuja visão cínica do crime como problema endêmico de um estado de desordem social o impele a interpretar a lei com bastante elasticidade. Nesse ambiente ambíguo, Medeiros reflete o relacionamento simbiótico de policiais e criminosos, embora apareça, paradoxalmente, como o único tipo de policial capaz de conseguir alguns resultados positivos, ainda que a sua integridade o obrigue a nadar contra a corrente. Arrastando-nos numa torrente de ação, emoções, violência e situações profundamente humanas, O comando negro é um magnífico romance noir que empolga e estimula a seguir lendo até chegar à confrontação final. *Milton M. Azevedo é professor titular de linguística hispânica no Departamento de Espanhol e Português da Universidade da Califórnia em Berkeley e autor de vários livros, como Vozes em Branco e Preto. A Representação Literária da Fala Nãopadrão (Edusp, 2003), Portuguese. A Linguistic Introduction (Cambridge University Press, 2005), e Introducción a la lingüística española, 3a edição (Pearson PrenticeHall, 2009). 121 NORMAS EDITORIAIS 1. A Revista Acadêmica publica trabalhos originais de professores das Faculdades São Sebastião e de outras instituições nacionais ou internacionais, na forma de artigos, revisões, comunicações, notas prévias, resenhas e traduções e que tenham relevância acadêmica. 2. Os trabalhos podem ser redigidos em português, espanhol, inglês, italiano ou francês. 3. Só serão aceitas resenhas de livros publicados no Brasil nos últimos três anos e, no exterior, nos cinco últimos anos. 4. Os originais submetidos à apreciação da Comissão Editorial deverão ser acompanhados de documento de transferência de direitos autorais. 5. Os artigos terão a extensão máxima de 30 páginas, digitadas em fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 e margens de 2,5 em. 6. As notas devem ser obrigatoriamente de rodapé, remetidas, portanto, ao pé da página. 7. As imagens, quando houver, devem ser remetidas junto com os artigos, com extensão jpg. 8. Os artigos devem ser acompanhados de resumo de 10 linhas, no máximo, e de palavras-chave, em português, no início, logo após o título. 9. As resenhas não devem exceder a sete páginas. 10. O título do trabalho deve vir centralizado, fonte Times, corpo 12, em negrito, caixa baixa (usar maiúscula só com a primeira palavra ou com nomes próprios ou patronímicos). 11. O nome do autor deve vir à direita, logo abaixo do título, com um asterisco remetendo para o pé da página a titulação e a instituição à qual se vincula. 12. Caso o artigo seja resultante de uma pesquisa contemplada com auxílio financeiro, a instituição responsável pelo auxílio deve ser mencionada. 13. Os trabalhos devem ser enviados por e-mail para o seguinte endereço: [email protected], em formatoWord for Windows 97. 14. Todos os textos serão submetidos a dois pareceristas. No caso de divergências na avaliação, a Comissão Editorial enviará o trabalho a um terceiro consultor. 122 15. Cabe à Comissão Editorial a decisão referente à oportunidade da publicação das contribuições recebidas. 16. Normatização das notas: SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico: subtítulo. Tradução, edição, Cidade: Editora, ano, p. ou pp. SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro em redondo. In: Título do livro em itálico. Tradução, edição, Cidade: Editora, ano, p. x-y. SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico. Cidade: Editora, vol., fascículo, p. x-y, ano. 17. As notas explicativas devem ser reduzidas ao mínimo e remetidas ao rodapé por números, situados na entrelinha superior. 19. “Anexos” ou “Apêndices” só serão incluídos se forem considerados absolutamente imprescindíveis à compreensão do texto. 20. As figuras e suas legendas devem ser claramente legíveis após sua redução no texto impresso de 10 x 17 cm. As legendas das ilustrações nos locais em que aparecerão as figuras devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, e iniciadas pelo termo “Figura”. 21. Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores. 22. Os trabalhos que não se enquadrarem nas normas da revista serão devolvidos aos autores, ou serão solicitadas adaptações, indicadas em carta pessoal. Prof. Dr. Álvaro Cardoso Gomes Diretor Responsável
Baixar