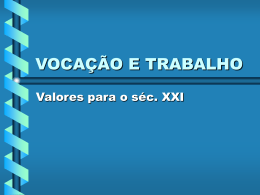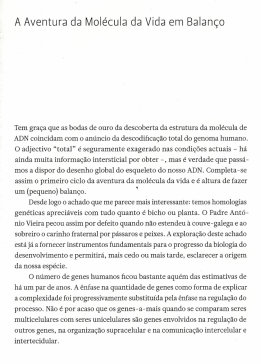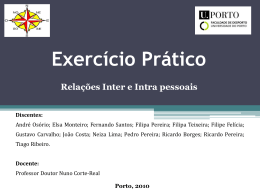1st ANNUAL SYMPOSIUM PROGRAM (14th/15th December 2009, CCB - Pequeno Auditório, Lisbon, Portugal) Day 1 | Monday, 14th Dec 17h30 Ron DePinho: Telomeres in Cancer and Aging 18h30 Benedita Rocha: The Role of D1 Cyclin in Lymphopoiesis Day 2 | Tuesday, 15th Dec 09h30 Adrianno Aguzzi: Molecular Biology on Prions 11h00 Nuno Sousa: The Stressed Brain 12h00 Judy Lieberman: Silencing Sexual Transmission of HSV-2 and HIV 14h30 Aaron Cypess: Brown Adipose Tissue: Location, Significance and Health Implications 15h30 Maria Mota: Approaching Malaria from Various Angles 17h00 Dyann Wirth: Malaria: A 21st Century Solution for an Ancient Disease Ron DePinho: Telomeres in Cancer and Aging Para que não restassem dúvidas da importância dos telómeros, o cientista Ronald A. DePinho arrancou a sua palestra relembrando que o prémio Nobel da Medicina de 2009 foi dado a investigadores que descobriram como é que esta estrutura protege os cromossomas. Tanto o cancro, o envelhecimento, como as doenças degenerativas estão relacionados com os telómeros – a parte terminal dos cromossomas. O médico norte-americano é director de um instituto dedicado ao estudo aplicado do cancro (Belfer Institute for Applied Cancer Science) que faz parte do Instituto de Cancro de Dana-Farber, é professor de medicina e genética na Escola Médica de Harvard e investiga há mais de uma década o funcionamento dos telómeros, focando-se na sua ligação com o cancro e o envelhecimento. Nas pessoas, o cancro está fortemente ligado ao envelhecimento. A partir dos 60 anos a incidência desta doença aumenta na população de uma forma vincada com prevalência nos tumores que são originados em células do tecido epitelial – que reveste as superfícies externas e as cavidades do corpo – como o cancro da pele, da mama, da próstata, dos pulmões ou do cólon. Os telómeros são centrais para manter a estrutura dos cromossomas cada vez que estes são replicados – sempre que é necessário que uma célula se divida. Se não existissem, os terminais dos cromossomas não eram replicados e a molécula ia ficando sucessivamente mais pequena e disfuncional. Mesmo com os telómeros e com a ajuda de uma enzima chamada telomerase, que vai restituindo estas estruturas, os cromossomas vão perdendo os terminais. Geralmente, chega a um momento em que já não asseguram o funcionamento da célula e há mecanismos que a matam. Se estes mecanismos falham, contudo, a célula torna-se cancerígena. A investigação feita pela equipa do Ronald DePinho centra-se no estudo de ratinhos, que ao contrário dos humanos têm telómeros grandes, com uma actividade da enzima telomerase muito maior. Estes ratinhos raramente apresentam cancros com origem em tecido epitelial. A equipa do cientista foi tentar compreender as diferenças entre a fisiologia dos ratinhos e dos humanos, para compreender a importância dos telómeros. Através de engenharia genética, produziram ratinhos sem a telomerase e com telómeros curtos. Os ratinhos rapidamente apresentaram sinais de envelhecimento parecidos com os humanos, como o pêlo branco e fraco, órgãos com problemas de funcionamento e morte precoce. Mas os cancros com origem em tecido epitelial, iguais aos dos humanos, só apareceram quando cruzaram estes ratinhos com ratinhos que não tinham o gene que produz a enzima p53 – responsável por levar as células à morte quando os cromossomas apresentam-se danificados. O que mostra que nos humanos, mesmo com a enzima p53 activa, existem processos que permitem desenvolver este tipo de cancros que não têm lugar em ratinhos saudáveis. A equipa descobriu que tanto nos ratinhos sem a enzima p53 e com telómeros pequenos como nos humanos, o desenvolvimento de células tumorais depende da quebra dos cromossomas e da multiplicação de genes específicos. Por isso, antes de a célula se começar a replicar intensivamente, como é característico nos tumores, já o seu genoma se encontra completamente alterado. Ironicamente, é necessária uma activação da telomerase e manutenção dos telómeros para que o genoma se mantenha estruturado e a célula cancerígena possa se replicar indefinidamente. Compreender estes mecanismos é um passo importante para perceber como se desenvolve esta doença. O cientista também falou na importância dos telómeros no envelhecimento. Mostrou um estudo feito pela sua equipa em que produziram ratinhos com um problema semelhante ao sindroma de Werner – uma doença genética rara em humanos, que acelera o envelhecimento a partir da adolescência devido à mutação no gene de uma enzima relacionada com a manutenção dos telómeros. Benedita Rocha: The Role of D1 Cyclin in Lymphopoiesis Na palestra dada por Benedita Rocha, a investigadora defende que a maior interrogação dos imunologistas é a capacidade que as células do sistema imunitário têm para se dividir. Não só um linfócito (um tipo de glóbulo branco) não diferenciado pode dar origem a mil biliões de biliões de células (um 1 seguido de 15 zeros), como depois de se diferenciar continua a ter uma capacidade de se replicar muito grande. Ao passo que as células dos outros tecidos replicam-se muito menos depois de se diferenciarem. Por isso, a equipa da médica e cientista que pertence à Faculdade de Medicina René Descartes, em Paris, está determinada em perceber o que se passa no ciclo celular destas células. Em particular, o que se passa com as ciclinas do tipo D, uma família de três moléculas que está envolvida no ciclo celular. Nos linfócitos, destas três enzimas, a D1 parece ser a única que sente os estímulos que chegam às células e viaja até ao núcleo para fazer chegar a mensagem desses estímulos. Fazendo com que se expressem novos genes para dar progressão ao ciclo celular, ou seja, a duplicação do genoma para que a célula se possa dividir. O gene da enzima D1 é composto por cinco regiões de ADN funcional que codificam a enzima e que estão separadas ao longo do gene, o ADN que está entre estas regiões, mesmo fazendo parte do gene, não codifica nenhuma parte da enzima. Os cientistas inutilizaram o funcionamento da enzima D1 em ratinhos, tornando inoperacional a região três. Deste modo, testaram a sua função. Os resultados foram bizarros. Ao observarem a divisão dos linfócitos produzidos nestes ratinhos, os cientistas encontraram um grupo que apresentava uma multiplicação maior de linfócitos e outro onde os linfócitos multiplicaram-se muito pouco. Através do artigo publicado por outros investigadores, os cientistas descobriram que as regiões 4 e 5 do gene da ciclina D1 podiam ser expressas independentemente do resto do gene. Estas regiões podem acabar depois no núcleo e estimulam a expressão de outros genes, nomeadamente os genes das ciclinas D2 e D3 que afinal são capazes de substituir a função da ciclina D1. O que permite que o ciclo celular dos linfócitos se dê normalmente, havendo a duplicação destas células. Isto foi o que aconteceu no grupo dos ratinhos em que os linfócitos não se multiplicam. Ao contrário da ciclina D1, as regiões 4 e 5 não se degradam. Por isso há um acumular destas moléculas, originando uma duplicação maior do que em linfócitos de ratinhos normais. No caso dos ratinhos com poucos linfócitos, os cientistas foram à procura das outras duas ciclinas D e não encontraram. Neste caso não houve expressão das regiões 4 e 5. Ainda não há justificação para que um grupo de ratinhos se tenha comportado de uma forma e outro doutra, mas a variabilidade natural pode ser uma explicação. Este estudo altera a forma como se olha para o comportamento das ciclinas durante o ciclo celular e, segundo a investigadora, obriga a rever o que se passa em outros tecidos celulares. Adrianno Aguzzi: Molecular Biology on Prions Como disse na palestra, Adriano Aguzzi está obcecado com os priões há 20 anos, antes e depois destas estranhas proteínas estarem na ordem do dia, durante os últimos anos do século XX, devido à doença das vacas loucas. Os prião são proteínas com uma estrutura anormal capaz de converter outras proteínas saudáveis em proteínas com estruturas anormais. Se uma molécula destas chega ao cérebro de uma pessoa pode perverter outras moléculas e causar demência como é o caso da doença de Creutzfeldt–Jakob também chamada de encefalite espongiforme. Durante a crise das vacas loucas documentaram-se vários casos da passagem da doença das vacas para pessoas, o que mostra que estamos perante um agente infeccioso que cumpre um ciclo de vida como as outras doenças. Depois do problema das vacas loucas ter saído das parangonas dos jornais, Adriano Aguzzi, que trabalha no Instituto de Neuropatologia, na Universidade Hospital de Copenhaga, continuou a estudar este agente incomum. Uma das questões que o investigador lançou é porque é o sistema imunitário não arranjou forma de lutar contra os priões ao longo da evolução, já que existem vários agentes infecciosos com o mesmo comportamento que causam doenças também em outros animais? A resposta, sugere Aguzzi, é que talvez exista uma função biológica para proteínas que sofrem este tipo de transformações: já foram encontradas em leveduras e nas estruturas da pele onde são armazenados os pigmentos que dão cor à pele. Talvez esta seja uma boa forma de armazenar moléculas que assim se mantêm estáveis durante muito tempo. Mas há mais questões que a equipa do investigador tentou responder nestes últimos anos: Como é que os priões alcançam o cérebro? Adriano Aguzzi percebeu através do estudo de ratinhos que o ciclo de vida do prião é certeiro. Quando entra no organismo do roedor, primeiro coloniza órgãos linfáticos, onde infecta os linfócitos B, passado muito tempo passa para outras células dendríticas – ambos fazem parte do sistema imunológico. Finalmente estas células levam os priões para o cérebro, onde estes se espalham e matam os ratinhos. A grande incógnita era como é que os priões passam das linfócitos B para as células dendríticas. O que a equipa chegou à conclusão é que estas duas células estão estritamente ligadas durante as infecções que vão surgindo em qualquer animal e assim podem passar do linfócito para a célula dendrítica que eventualmente acaba por fazer a proteína chegar ao cérebro onde causa a doença. O que ainda está por explicar é que mecanismos se dão no cérebro para o desenvolvimento da doença e consequente neurodegeneração e que cascatas patogénicas é que têm lugar. Estas são questões que necessitam de ser respondidas, defende o investigador. Nuno Sousa: The Stressed Brain O stress pode ser bom, mas Nuno Sousa está interessado nos efeitos do stress crónico, que tem um efeito negativo e desencadeia alterações importantes no cérebro. O investigador, que lidera uma equipa na Universidade do Minho, está focado neste problema há algum tempo e iniciou a sua palestra explicando que o stress crónico se não causa a morte celular no hipocampo, uma região do cérebro importante para a memória e aprendizagem, pelo menos diminui o seu volume. Quando uma pessoa ou um animal está sob stress crónico, há um aumento de libertação de esteróides, no caso do Homem, do cortisol. Esta hormona pode se ligar a dois receptores membranares consoante a quantidade que é produzida. Em casos extremos, de mau stress, o cortisol aumenta tanto de concentração que consegue ligar-se ao receptor de glucocorticóides que se situa nas membranas do hipocampo e leva à diminuição do volume desta região do cérebro. Os investigadores já detectaram ligações entre esta diminuição de volume e sinais de depressão e demência. O que Nuno Sousa tem estado interessado é se este efeito nesta região cerebral tem consequências noutras regiões do cérebro, se apenas eleva os níveis de ansiedade, ou pode também alterar comportamentos. O investigador descreveu algumas experiências levadas a cabo pela sua equipa. A equipa do investigador compreendeu que o que leva à perda de volume no hipocampo não é a morte celular. Através de ferramentas histológicas, conseguiram verificar que após o stress crónico ou o aumento de esteróides em ratinhos, certas células nervosas do hipocampo atrofiam. A árvore dentrítica destas células – prolongamentos da membrana celular destas células que servem para comunicar com as outras – diminui de tamanho. Depois disto tentaram perceber como é que ficava a memória geográfica dos ratinhos que sofreram este stress através de uma experiência específica. O trabalho da equipa mostra que este stress induz dificuldades neste tipo de memórias. A nível fisiológico a equipa identificou de facto uma perda de qualidades dos neurónios da região. No entanto, quando deixaram os ratinhos descansar eles não só recuperaram a fisiologia antiga como voltaram a ser capazes de responder aos desafios de memória geográfica que são processados na região do hipocampo. Para perceber e descriminar melhor a função dos dois receptores responsáveis por traduzir o sinal enviado pelos esteróides realizaram uma experiência em que estimularam o receptor de glucocorticóides. Como consequência voltou a haver uma diminuição do volume do hipocampo e descobriram uma diminuição de uma molécula relacionada com a integridade dos neurónios. A equipa do investigador testou também se os efeitos do stress no hipocampo tinham consequências noutras partes do cérebro, especificamente no córtex pré-frontal. Normalmente existe uma ligação clara dos circuitos neuronais entre estas duas regiões. Através de jogos que testam esta ligação, verificaram que os ratinhos stressados têm dificuldades em realizar estes jogos. Os estudos fisiológicos mostraram também que existe uma diminuição do volume no córtex pré-frontal mas não uma perda de neurónios. Segundo o investigador, há uma progressão destas mudanças do hipocampo para o córtex pré-frontal, ou seja, o que acontece não é fruto de um efeito independente do stress. A equipa também descobriu que o stress crónico tem um efeito no comportamento dos ratinhos que reflecte alterações de tamanho em tecidos do cérebro. Numa experiência em que os ratinhos carregavam num botão para ganharem comida, testou-se a capacidade de adaptação dando previamente a comida aos ratinhos. Estes não tinham que carregar em nada porque o alimento estava sempre disponível. Enquanto os ratinhos normais conseguiam fazer esta ligação e iam deixando de carregar no botão, os que sofriam de stress crónico alteraram o comportamento e mantiveram constantemente o hábito de carregar no botão. Nuno Sousa revelou que por trás deste efeito estava a alteração do volume de dois tecidos do córtex pré-frontal em que um atrofiou e outro aumentou. A equipa fez ainda experiências paralelas com humanos mostrando que o stress crónico pode alterar o nosso comportamento e fazer-nos tomar acções menos felizes. Judy Lieberman: Silencing Sexual Transmission of HSV-2 and HIV As novas terapias contra o HIV, o vírus responsável pela sida, podem vir a basear-se em processos biológicos celulares que não se conheciam há 20 anos. Judy Lieberman trabalha na Escola Médica de Harvard, em Boston, com o ARN de interferência, também chamado de micro ARN. O ARN de interferência é uma pequena molécula de ARN que se descobriu há pouco mais de uma década e que tem o poder de impedir a expressão dos genes. O código genético, formado pela molécula de ADN, codifica aminoácidos, as unidades base que constroem todas as proteínas que existem no corpo humano. Um gene específico codifica uma série de aminoácidos que todos juntos vão dar uma proteína. Entre o ADN e a proteína existe uma molécula que faz a passagem de informação entre o material genético e a proteína chamada ARN mensageiro. É neste ARN mensageiro que o recém-descoberto ARN de interferência se agarra, impedindo a proteína de ser produzida. Estas pequenas moléculas servem assim de reguladores da produção de proteínas. Ao compreenderem esta nova estrutura e a forma de actuar na natureza, os investigadores aperceberam-se que podiam potencialmente silenciar a expressão de um gene qualquer. Bastaria conhecer a estrutura desse gene e fabricar um micro ARN capaz de se ligar ao ARN mensageiro que vai normalmente dar origem à proteína. Na palestra, a primeira experiência que Judy Lieberman descreveu foi o silenciamento de um gene ligado à morte celular nas células do fígado do ratinho. Ao injectarem através de uma veia da cauda uma quantidade de micro ARN para este gene tiveram resultados positivos, conseguindo evitar a morte destas células. Daí a questão: será que o ARN de interferência é a próxima geração de drogas capaz de ter como alvo todos os genes? O que a investigadora pensou foi na produção de uma droga capaz de impedir a transmissão do HIV por contacto vaginal. Para isso seria necessário ou silenciar os genes do HIV ou silenciar genes das células hospedeiras do HIV de modo a impedir a propagação da doença. O primeiro passo da equipa da investigadora foi, através do ARN de interferência, silenciar em laboratório a proteína membranar CCR5 que é a principal porta de entrada para o HIV nas células do sistema imunitário que o vírus infecta, como os linfócitos T CD4+ ou os macrófagos. Os resultados foram positivos, e o objectivo da experiência foi alcançado. Seguidamente a equipa tentou experimentar fazer o mesmo no modelo mais próximo da transmissão vaginal humana do HIV. Para isso, voltou ao ratinho, mas desta vez com o vírus do herpes, que também pode ser transmitido pela vagina. Um dos maiores problemas foi ultrapassar a forma de colocar na vagina o micro ARN para que o complexo entre nas células correctas e impeça a infecção. Utilizaram-se micro ARN para dois genes que em conjunto impediram que 80 por cento dos ratinhos fossem infectados pelo herpes e morressem. O ARN não só comprovou ser eficiente, poderoso, mas teve também a vantagem de manter-se cerca de três semanas nas células sem ser degradado, o que garante uma protecção de longo prazo e é vantajoso para uma terapia semelhante no caso do vírus da sida. Aaron Cypess: Brown Adipose Tissue: Location, Significance and Health Implications A palestra de Aaron M. Cypess foi inteiramente dedicada a um tipo de gordura que é pouco falada, a gordura castanha. Nos livros científicos a gordura castanha é associada quase sempre e em exclusividade aos bebés e aos animais que vivem em zonas frias. Este tipo de tecido, que se acumula especialmente na zona dos rins e numa região do pescoço, tem como função libertar calor para manter o corpo quente, e não tem uma função de armazenamento de lípidos como a gordura normal. Ao contrário das outras células do corpo, as baterias das células da gordura castanha, as mitocôndrias (que se encontram em grande número nestas células e dão a cor castanha ao tecido), têm um processo químico especial para libertar calor a partir da quebra de moléculas de açúcar, e utilizam este processo quando o corpo sente frio. Este tecido está altamente irrigado para que este calor passe para o sangue e aqueça todo o corpo. Sempre se pensou que a dimensão e importância deste tecido fosse desprezável nos adultos, mas este investigador de Escola Médica de Harvard encontrou provas contrárias. O investigador tem estado preocupado com o aumento de obesidade na população norte-americana nas duas últimas décadas, que se pensa ser a causa para o aumento de doenças como por exemplo a diabetes. Há alguns anos o cientista descobriu haver um tecido parecido com a gordura castanha, num exame de uma mulher que tinha tido cancro. O tecido estava situado na zona das costas junto ao pescoço. Através de estudos histológicos – a observação de fotografias de microscopia – e genéticos comprovou-se que o tecido era de facto o tecido adiposo castanho. Através de mais estudos o investigador conseguiu perceber que quase todos os adultos têm gordura castanha, e que é um tecido funcional e dinâmico. Mas há tendências: este tecido aparece mais nas mulheres do que nos homens; quanto mais peso e mais velhos forem os indivíduos, menos gordura castanha se observa; e quando a temperatura é mais baixa, aparece mais gordura castanha, que desaparece quando a temperatura é mais alta. Portanto, mesmo nos adultos, continua a haver uma relação associada com a temperatura. Apesar de haver muito por descobrir, nomeadamente como é que se dá o controlo deste tecido, porque é que aparece mais em mulheres do que em homens, e que relação terá com a outra gordura branca – que se acumula por excesso de alimentação e que tem efeitos negativos na saúde das pessoas – e com o tecido muscular. Mesmo assim, Aaron M. Cypess, acredita que se for possível controlar o funcionamento deste tecido, como aumentá-lo, ou torná-lo mais activo, poderá ajudar a combater a obesidade, já que há um consumo anormal de calorias para a produção de calor. Ainda assim, o investigador reitera que a melhor forma de reduzir o peso será sempre através de uma alimentação equilibrada e exercício. Maria Mota: Approaching Malaria from Various Angles Não é só uma questão do número de pessoas que morrem por ano devido à malária. A investigadora portuguesa Maria Mota, líder de uma equipa sediada no IMM, defende que existem muitas questões biológicas em relação à doença que é necessário responder. Uma das mais importantes que só agora é que se começa a compreender é o grau de interligação que as fases humanas da malária têm entre si. Esta doença é causada por um parasita que tem como hospedeiros um mosquito e o ser humano, e que mata mais de um milhão de crianças por ano. Ao longo do ciclo de vida, o parasita atravessa vários estádios. Quando o plasmódio é injectado na circulação sanguínea de uma pessoa, por um mosquito, o primeiro objectivo é chegar ao fígado. Aqui infecta células e multiplica-se, alterando a sua forma. Ao sair do fígado infecta os eritrócitos, multiplica-se mais uma vez, rebenta com as células sanguíneas e infecta novos eritrócitos, num processo cíclico. O modelo estudado pela equipa de Maria Mota é o ratinho. Neste modelo quando o parasita sai do fígado já se multiplicou em 30 mil novos parasitas em apenas 48 horas. Nas células sanguíneas o parasita pode replicar-se, consoante a espécie, entre 15 a 20 indivíduos. A equipa de Maria Mota está interessada em compreender o rácio de multiplicação no fígado e que ambiente é que o hospedeiro proporciona para permitir o parasita ter este grau de crescimento. Já fizeram um mapa dos genes do hepatócito que se vão tornando activos ao longo da infecção do parasita e determinaram alguns genes importantes para o seu desenvolvimento. A importância de conhecer esta fase é enorme, já que é no fígado que se dá a explosão da doença em que um parasita dá lugar a 30 mil. Na fase seguinte será sempre muito mais difícil exterminar a doença, por isso Maria Mota deposita todo este esforço para perceber como é que se pode bloquear esta fase. Seguidamente, a investigadora explicou duas investigações diferentes que mostram a interacção entre a fase do fígado e a fase sanguínea do parasita. Na primeira, chega a conclusão que a enzima Hemoxigenase-1 é muito importante tanto nas duas fases. A Hemoxigenase-1 degrada a hemoglobina que é libertada dos eritrócitos impedindo que esta tenha um efeito tóxico no organismo. Os ratinhos que não têm grande capacidade para degradar a hemoglobina mostram ser extremamente vulneráveis a uma espécie de malária cerebral e acabam por morrer. Ao mesmo tempo, sem a produção desta enzima o parasita não consegue multiplicar-se no fígado. Assim, um organismo que produza muita Hemoxigenase-A por um lado está vulnerável à infecção mas não morre de malária cerebral, o que é conveniente tanto para o hospedeiro como para o parasita, que pode viver mais tempo e propagar-se mais. Se pelo contrário, um hospedeiro produz pouca enzima tem mais hipóteses de não ser infectado, mas se o for, acabará por morrer mais rápido, o que também não é positivo para o parasita. A segunda investigação teve início quando a equipa de Maria Mota descobriu que quando um hospedeiro, um ratinho, já tem a infecção no sangue, se for outra vez infectado pelo plasmódio que vai atacar o fígado, este não se consegue multiplicar nas células hepáticas. Isto porque a infecção no sangue faz, através de um processo complexo, reduzir o ferro que está disponível nas células hepáticas e que é necessário para a multiplicação do parasita. Maria Mota defende que estes dois exemplos mostram que as duas fases estão interligadas. O que é evidente passados tantos milhões de anos de evolução. A investigadora alerta que é contraproducente estudá-las de uma forma independente. Dyann Wirth: Malaria: A 21st Century Solution for an Ancient Disease Dyann Wirth é directora da Iniciativa para a Malária de Harvard e uma especialista sénior desta e de outras doenças tropicais. Na palestra, Wirth começou por referir que as doenças infecciosas só são responsáveis por 35 por cento das mortes do mundo, uma percentagem muito mais pequena se restringirmos ao mundo ocidental, mas muito maior nos países em desenvolvimento. O que falha aqui são as faltas de meios, de acessos e de bons sistemas de saúde. A malária é uma doença causada por um parasita que tem como hospedeiros um mosquito e o ser humano e passa por um ciclo de vida complexo, que mata mais de um milhão de crianças por ano. Apesar de parecer uma realidade mais ou menos longínqua, durante muitos séculos houve malária em Portugal e em grande parte da Europa. As campanhas de erradicação desta doença durante os anos de 1950, 60 e 70 do século passado tiveram sucesso em muitas regiões do mundo, foram ajudadas por uma droga poderosa chamada cloroquina que durante quase duas décadas dizimou o plasmódio. Mas o parasita acabou por ganhar resistências em dois lugares diferentes do mundo, um no sudeste da Ásia que rapidamente se espalhou pela Eurásia e África, e outro que surgiu na região da América Central, que se espalhou pela América do Sul. Estas mutações ajudaram a impedir a erradicação da malária no mundo. Desde aí, as drogas que têm surgido têm tido um tempo de vida cada vez mais curto. Actualmente já existem casos de mutação da artemisinina, a única droga que combate a malária. A rede de investigação a que a investigadora está associada está particularmente interessada na genética do parasita. Através de um estudo completo do genoma de parasitas de várias regiões do mundo esta larga equipa conseguiu compreender quais os genes com mais variabilidade do plasmódio, ou seja aqueles que têm capacidade de mutar mais, verificaram que o plasmódio infecta os ancestrais humanos há mais de seis milhões de anos, que foi alvo de alguns momentos de forte selecção em que a população foi reduzida. Finalmente, o maior agente que pressionou a evolução do parasita foi o próprio sistema imunológico humano. A investigadora tornou claro que há uma série de genes que são altamente conservados em todas as estirpes do plasmódio, que estão envolvidas no metabolismo celular básico, enquanto os genes relacionados com as moléculas da superfície celular e que estão em contacto com as células dos hospedeiros têm muita variabilidade. Ou seja, têm uma grande capacidade de mutação, óptima para fintarem o nosso sistema imunitário. Em geral, os medicamentos contra a malária atacam estas moléculas, mas o parasita rapidamente muta, e esta mutação espalha-se por toda a população. É por isso que quando as análises genéticas identificam uma região genética igual em toda a população, estamos perante um grande sinal de uma mutação importante para a sobrevivência do parasita que ocorreu no passado e se espalhou ao longo das gerações por toda a população. Dyann Wirth retirou algumas conclusões destes dados. Por um lado defendeu que se deveria apostar em medicamentos que ataquem proteínas muito conservadas, já que é muito difícil a mutação do gene destas proteínas ter sucesso, porque qualquer alteração tende a destruir a funcionalidade da molécula e é deletério para o parasita. Por outro lado, em laboratório, torna-se muito mais fácil descobrir onde atacam os novos químicos que estão a ser testados e matam os parasitas. Assim que surge a mutação do parasita e este passa a ser resistente à droga, através de uma análise genética, pode-se identificar qual é o gene mutado e a proteína que estava a ser atacada pela droga. Para que serve isto? Identificar quais os medicamentos que vão ganhar rapidamente resistência antes de sair do laboratório e fabricar novos cocktails capazes de resultados melhores.
Download