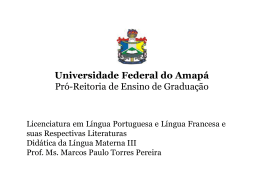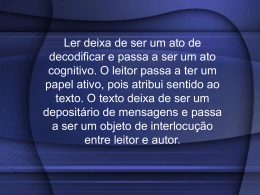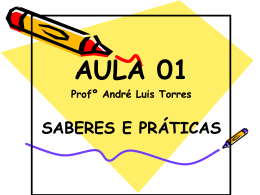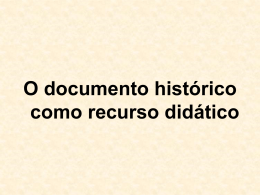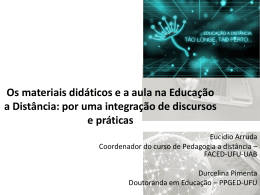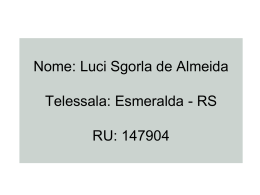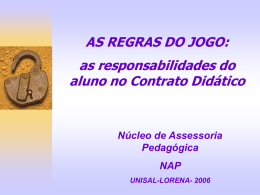ISSN 2317-644X UNIVERSO PEDAGÓGICO Faculdade Capixaba de Nova Venécia – Multivix v. 02 n. 01 Jan./Jun. – 2014 – Semestral Diretor Executivo Tadeu Antônio de Oliveira Penina Diretora Acadêmica Eliene Maria Gava Ferrão Diretora Geral Profª. Sandrélia Cerutti Carminati Coordenadora Acadêmica Profª. Elen Karla Trés Coordenadora Administrativo-Financeira Profª. Silnara Salvador Bom Coordenador de Graduação Profª. José Junior de Oliveira Silva Bibliotecária Profº. Alexandra Barbosa Oliveira Comissão Editorial Profª. Eliene Maria Gava Ferrão Profª. Elen Karla Trés Profº. José Junior de Oliveira Silva Profa. Francielle Milanez França Coordenadores de Curso André Mota do Livramento Cássio Santana Fávero Edileuza Aparecida dos Santos Magalhães Ivan Paulino Maxwilian Oliveira Olívia Nascimento Boldrini Sabryna Zen Rauta Ferreira Talita Aparecida Pletsch Universo Pedagógico / Faculdade Capixaba de Nova Venécia / – Nova Venécia: Cricaré, (Jan/Jun. 2013). Semestral ISSN 2317-644X 1. Produção científica – Faculdade Capixaba de Nova Venécia. I. Título UNIVERSO PEDAGÓGICO SUMÁRIO ARTIGOS O PAPEL DA TRADUÇÃO ORNAMENTAIS ADELTON SOUZA DA SILVA TÉCNICA NO SETOR DE ROCHAS 05 PATRIARCALISMO: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE UMA IDEOLOGIA 24 MODELADORA DE COMPORTAMENTOS ANDRÉIA LIMA DA SILVA LEONICE BARBOSA LUCINÉIA SCHULTZ MIRIÃ BORGES DE ANDRADES RAYANNE VIANA DA SILVA O LIVRO DIDÁTICO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO FEITA 42 PELOS PROFESSORES E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS ADELSON COUTO DE OLIVEIRA LEONICE BARBOSA LEITURA: FATOR PRIMORDIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 67 PLENA ANA LÚCIA POMPERMAYER HÉLIA LUCAS BARBOSA PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO SILVA CRÍTICA À DITADURA DA BELEZA E DO DESENVOLVIMENTO 89 INTELECTUAL NA OBRA “A HORA DA ESTRELA” DE CLARICE LISPECTOR ADRIANA VASCONCELLOS GUIDE GEORGIA SANTOS RODRIGUES SILVA JOVÂNIA BÔA MARTINS LEONICE BARBOSA VANESSA PEREIRA DE SOUZA ISSN 2317-644X EDITORIAL É missão de uma Instituição de Ensino Superior (IES) o ensino, a extensão e a pesquisa. Quanto ao ensino, os Cursos de Licenciaturas da Faculdade Capixaba de Nova Venécia – UNIVEN funcionam regularmente. No fazer da extensão universitária, onde nossos acadêmicos de Licenciatura participam de projetos comunitários e solidários, destacamos nossa participação em ações globais, com parcerias diversas, cursos e projetos de extensão. No momento, estamos inserindo nossos acadêmicos na iniciação científica, procurando o despertar dos discentes na pesquisa científica em Licenciatura e nessa messe, fazemos a publicação de nossa REVISTA PEDAGÓGICA. Em nosso primeiro número, apresentamos alguns artigos originais, que nos foram encaminhados, pelos docentes e discentes da Faculdade Capixaba de Nova Venécia – UNIVEN. Nossa proposta é de um periódico semestral, com a divulgação de artigos, projetos, pesquisas e relatos de experiência diversos, etc. Estamos abertos para contribuições diversas, críticas, que muito nos ajudarão na melhoria do trabalho acadêmico. Que tenhamos todos uma boa leitura. 5 O PAPEL DA TRADUÇÃO TÉCNICA NO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS ADELTON SOUZA DA SILVA Graduação em Letras Português/Inglês pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia, Pós Graduação em Letras-Português/Inglês pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia, Pós Graduação em Tradução pela Universidade Gama Filho. e-mail: [email protected] RESUMO O presente artigo científico tem como objetivo subsidiar a importância da Tradução Técnica e seu papel no setor de Rochas Ornamentais no Brasil, especialmente no Estado do Espírito Santo, que tem crescido significativamente no decorrer dos anos e se tornando destaque mundial nas feiras internacionais do mármore e granito. Neste aspecto, o aumento da participação de empresas de tecnologia e investidores internacionais neste ramo faz com que o trabalho da tradução técnica amplie seu espaço no mercado da tradução. A partir de uma pesquisa bibliográfica e pesquisa direta através de entrevistas, análise de conteúdo e pesquisa de mercado, tem-se a necessidade de abordar as vantagens de se ter um glossário técnico compreendido na área, já que o Inglês e o Português, como sendo línguas-alvo de estudo, lidam em paralelo ao uso dos maquinários importados e exportados, assim como todo o processo de beneficiamento e comércio do mármore e granito. PALAVRAS-CHAVE: Rochas Ornamentais, Tradução técnica, Glossário. ABSTRACT The present article has the objective of subsidising the importance of Technical Translation and its role in the sector of Ornamental Rocks in Brazil, specially in Espírito Santo State, which has raised significatively during the past of years and becoming the mundial top at international fairs of marble and granite. In that respect, the increased participation of enterprises of technology and internationals investors in this area of business makes the technical translation work expands in the translation market. Starting with a bibliography research and direct research through interviews, content analysis and market research, it has the necessity of approach the advantages of having a glossary specialized at the field of knowledge, since focus languages English and Portuguese lead side by side to the use of imported and exported machinery, as well as the whole processing and commerce of marble and granite. KEY-WORDS: Ornamental Rocks, Technical Translation, Glossary. 1 INTRODUÇÃO Segundo dados da revista sobre rochas ornamentais publicada pelo Ministério da Educação (2007, p. 5), cada vez mais o comércio internacional tem feito parte da cultura brasileira e vice-versa, inclusive no que se trata ao grande aumento da importação e exportação de Rochas Ornamentais, o qual se entende por granito e mármore. A partir de fatores econômicos, as rochas estão ganhando mais espaço no mercado mundial e, 6 consequentemente, depara-se com a necessidade da tradução da língua fonte a respeito esclarecer e unir empresas que trabalham no ramo. Tem-se como base para a pesquisa entrevistas com diretores empresariais, análise de conteúdo, pesquisa de mercado e as revistas bilíngues, tais como, Rochas de Qualidade, Tracbel Magazine, Inforochas, como também catálogos disponibilizados pelo Sindicato de Rochas do Espírito Santo (SINDIROCHAS) localizada no município de Nova Venécia. Outro fato que se torna relevante para a tradução é a questão da maioria das empresas capixabas que fazem parte da produção e processamento de rochas ornamentais, em específico as localizadas na região do município de Nova Venécia e as localizadas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, possuem pouco conhecimento da importância de possuírem e organizar um glossário bilíngue (português-inglês) que uniformize os termos mais abrangentes no que diz respeito a extração, instalação de maquinários, beneficiamento, corte e acabamento, catálogos de tipos de granito e rochas extraídos pelas empresas da região e convertidos para o Inglês, já que a cada ano é realizada a Feira Internacional do Mármore e Granito na cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, onde atrai corporações do setor vindas do mundo inteiro e o Brasil é sempre destaque pela qualidade exótica de minérios extraídos no país. A partir desta reflexão, a escolha pelo tema deu-se pela necessidade e a importância do tradutor na tradução técnica como suporte para as empresas que trabalham no ramo, a fim de realizar uma tradução adequada, de forma que cause o mesmo impacto e fidelize os propósitos do original sem perder a fidelidade e a naturalidade da língua-objetivo para a tradução. Essa necessidade de tradução de termos técnico-científicos é apontada por KRIEGER E FINATTO (2004, p. 190) ao defender que os tradutores compreendem que os termos técnico-científicos constituem-se, consequentemente, em peças-chave de representação e de divulgação do saber científico e tecnológico. Daí a importância de identificá-los e traduzi-los adequadamente, embora os termos não sejam os únicos elementos que permitem que a comunicação profissional cumpra suas finalidades. Ao utilizar este ponto de vista, BARROS (2004, p.21) afirma a Terminologia, na qualidade de disciplina científica que estuda as chamadas línguas (ou linguagens) de especialidade e seu vocabulário, desempenha um papel fundamental nesse processo. Portanto faz-se necessário também conhecer sobre o estudo da Terminologia e os Glossários técnicos na área de estudo pelo fato de assumirem uma grande importância na organização e uniformidade de comunicação dentro das empresas que trabalham no ramo de rochas ornamentais. 2 O CRESCIMENTO DO BRASIL EM RELAÇÃO AO MÁRMORE E O GRANITO Pode-se considerar, baseado nas informações do Sindicato de Rochas do Espírito Santo, que quando se trata de Rochas Ornamentais, o Brasil não poderia ficar de fora, pois sempre possuiu e possui uma imensa quantidade de riquezas minerais com grande potencial exportador no setor, inclusive no setor de rochas ornamentais. Segundo os dados estatísticos informados pelo Sindirochas, o Brasil é o oitavo país em exportação de blocos e o quinto maior exportador de rochas ornamentais acabadas. Isso significa que atualmente o mercado de rochas no país movimenta cerca de 2 bilhões e 100 milhões de dólares por ano, incluindo a movimentação do mercado externo e interno e as transações de máquinas, equipamentos, insumos e materiais de consumo e serviços. São mais de 1200 variedades de rochas ornamentais encontradas em solo brasileiro e exploradas por doze mil empresas espalhadas por todo território nacional, do qual mil empregos diretos são gerados. 7 Segundo o Diretor Superintendente do SEBRAE/ES, João Felício Scárdua, o setor de rochas ornamentais, particularmente o granito, possui uma importância fundamental para a economia capixaba e também para o Brasil. O Espírito Santo é referência mundial no mármore e granito, e líder na produção mundial de rochas, possui um polo importante de construção de máquinas para esse setor para todo o país. Mais de 90% do parque industrial brasileiro do setor estão sendo feitos no Espírito Santo. O Estado representa cerca de 50% da produção de todo mercado nacional, é ainda o principal produtor, processador e exportador de todo Brasil e o segundo maior pólo industrial do mundo no setor. O Estado abriga o maior complexo portuário da América Latina, movimentando cerca de 20% das mercadorias que entram e saem do país, com uma capacidade logística integrada bastante favorável ao comércio exterior. Por isso, o Estado tem se tornado uma das melhores opções de investimentos do país a cerca deste segmento, atraindo as atenções de grandes grupos multinacionais que a cada ano se instalam. A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, apoiado pelo SEBRAE, tornou-se um grande arranjo produtivo local de rochas ornamentais, sendo sede do maior evento do setor na América Latina: A Feira Internacional do Mármore e Granito (Cachoeiro Stone Fair), e também Vitoria Stone Fair, localizado na cidade de Vitória, capital do Estado. A cada edição essas feiras reúnem centenas de empresas em torno país e do exterior, sendo uma referência mundial no calendário de eventos do setor. Para o presidente do Sindirochas, Áureo Vianna Mameri, dentre várias feiras no mundo, no Espírito Santo a Feira teve início em Cachoeiro de Itapemirim, importante polo processador de rochas ornamentais de produção de máquinas e componentes para o setor, o qual se tornou uma importante atividade econômica. A Feira do Mármore e do Granito – Vitória Stone Fair é a terceira mais importante feira do mundo, onde reúne a cada ano mais de 400 expositores nacionais e internacionais, onde o número de compradores extrangeiros aumenta significativamente a cada ano provenientes de mais de 60 países e de 22 Estados brasileiros, onde só dos Estados Unidos são mais de 3 mil visitantes que marcam presença no evento. É através disso tudo que linguístas como GAUDIN (1993) acreditam que a elaboração de glossários em torno desse campo de estudo adquire uma amplitude inovadora e contribuem importantemente para esse ramo empresarial, pois são úteis para uma melhor compreensão dos textos, já que muitos termos técnicos são encontrados apenas em dicionários especializados. E, quando o leitor se depara com os textos técnicos em língua estrangeira e procurar esses termos num dicionário não específico, ficará bem difícil compreendê-los. Assim sendo, o início dos estudos dos termos técnicos que abrangem a área de Rochas Ornamentais será de grande utilidade embora seja até então pouco explorado pelos funcionários bilíngues das empresas desse ramo. 3 ENTENDENDO A TRADUÇÃO TÉCNICA NO CAMPO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS. Dentre vários campos da Tradução, existe a Tradução Técnica. Apesar de não ser muito reconhecida, até mesmo no universo acadêmico, a Tradução Técnica é uma área da Tradução de suma importância pelo fato de que esta modalidade carrega um fardo de responsabilidade no que diz respeito à precisão das informações que devem ser mantidas. Em se tratando da área de Rochas Ornamentais, a Tradução Técnica não leva em conta apenas os termos relacionados ao mercado mineral, toda essa gama de material extraído da terra interfere consequentemente em outras áreas, tais como a arquitetura, a arte, a engenharia mecânica, etc. Pois todas essas áreas estão interligadas entre si, visto que o 8 granito e o mármore são motivos de decoração e alvenaria. Para POLCHLOPEK (2009, p. 104): “[...] os textos técnicos não permitem muitas variações estilísticas, o que, no entanto, não lhes diminui o valor, visto que atuam diretamente no processo de disseminação de dados e experiências tecnológicas e científicas. [...] Se traduzir é, à parte os termos teóricos, transporo um texto de uma língua para outra, não se pode esquecer de que a língua é parte integrante da cultura [...]. Conhecer tais especificidades deve fazer parte do processo de tradução tanto quanto o domínio da terminologia em questão, no sentido de buscar um texto funcionalmente adequado para o leitor-destinatário ou grupo.” A partir dessa reflexão, a Tradução técnica não é alvo apenas de transportar informações de um idioma para outro, e sim alvo de pesquisa, de forma que o Tradutor busque, através de outros campos de conhecimento, a objetividade para que atinja a necessidade denotativa dos termos empregados naquela área do conhecimento em questão. A Tradução Técnica possui algumas características que a diferencia das outras áreas da Tradução, as quais podem ser consideradas o uso de terminologias, que não são necessariamente utilizadas quando se trata de um texto literário, por exemplo. Como aponta POLCHLOPEK (2009, p. 105), os textos técnicos são aqueles que apontam um caráter de manual, documento, artigo, que exigem um vocabulário específico para cada área de especialidade. A Terminologia se dá a partir do estudo dos termos, segundo RIBEIRO (2009, p.165): “O trabalho terminológico pode assumir características muito variadas, dependendo se ele é realizado como atividade fim, para elaboração de dicionários ou padronização em setores da economia, por exemplo, ou como atividade de apoio, como é o caso na tradução. Uma das principais diferenças está no tempo dedicado à atividade: no trabalho terminológico como atividade fim, o tempo é todo voltado a essa tarefa, ao passo que no processo tradutório o tempo dedicado à terminologia é limitado pela urgência dos projetos e pela necessidade de conclusão de outras tarefas, como revisão, editoração e controle de qualidade do material traduzido. Outra diferença está na extensão do material analisado: enquanto para a terminologia como atividade fim procura-se que o corpus de consulta seja o mais representativo e extenso possível, na tradução, em geral temos acesso apenas a um determinado texto (que será traduzido) e eventualmente a outro material de referência fornecido pelo cliente.” A partir disso, os termos ligados às Rochas Ornamentais assumem uma fundamental importância para o desempenho das empresas, principalmente para uniformizar a tradução e diferenciar alguns léxicos para evitar transtornos de compreensão. Tem-se o exemplo das palavras Granito e Mármore, por exemplo, que no Inglês se entende por Granite e Marble, de primeira vista, parecem ser sinônimos, pois para um termo composto estes assumem o nome de Rochas Ornamentais/ Ornamental Rocks. Porém para a Tradução Técnica, há uma diferença peculiar entre esses dois termos que por sua vez pode causar confusão a um tradutor ao se deparar com alguma dessas duas rochas. Essa diferença consiste em distinguir o mármore do granito pela sua cor e desenhos das tonalidades. O mármore é composto por um mineral e por calcita. Já o granito é formado por três minerais (quartzo, feldspato e a mica). Na prática, isso significa que o granito é bem mais duro, resistente e menos poroso do que o mármore, que risca com mais facilidade. Um dos fatores que influi na oferta comercial desses diversos tipos é sua raridade: quanto mais 9 raro, mais caro. O mármore sofre com a ação do tempo e da poluição, por isso deve ser utilizado preferencialmente em ambientes internos. Já o granito, que é mais resistente, pode auxiliar em bases de construções e monumentos. Portanto o conhecimento técnico do Tradutor vai muito além do seu conhecimento linguístico, é importante que ele desconfie e busque sempre novos mecanismos de pesquisa. Hoje existem vários recursos que auxiliam na tradução de termos técnicos como o EuroDicAutom, e grupos de tradutores que compartilham informações a respeito da melhor tradução para certos termos. 4 O PAPEL DO TRADUTOR NA PESQUISA E CRIAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO TÉCNICO. Baseado nas pesquisas biográficas nas revistas ROCHAS DE QUALIDADE, TRACBEL MAGAZINE, INFOROCHAS, constatou-se a presença de vários termos que apenas se usa nessa determinada área de atuação. Embora várias palavras que também são empregadas na tradução literária, que contribuem para o enriquecimento do processo de elaboração do dicionário terminológico, como cita POLCHLOPEK (2009, p. 108): “O papel do tradutor em qualquer modalidade de texto é uma questão que suscita inúmeros debates, visto que envolve não somente a figura do profissional quanto à competência e habilidade tradutórias (ou terminológicas e gramaticais), mas também outros elementos vinculados ao processo: questões de equivalência textual, fidelidade, funcionalidade do texto e, até mesmo, o próprio conceito de tradução.” A partir dessa reflexão, pode-se dizer que o tradutor desempenha um papel fundamental para o entendimento do receptor do texto original, principalmente quando se trata de um texto de tamanha responsabilidade, citando o manual de instruções como exemplo, pois a adequação da língua para que o operário entenda e as palavras certas usadas com cuidado de não causar transtorno no equipamento é de responsabilidade do Tradutor. Por esse motivo, faz-se necessário o profissional da tradução criar um material de apoio que sirva de base, tanto pessoal quanto para o cliente de forma que não se crie mais de uma tradução para um determinado termo. Abaixo encontram-se alguns exemplos de corpora escolhidos de forma aleatória utilizando a metodologia atribuída chamada Linguística de Corpus a partir de leitura dinâmica de termos mais frequentes contidas nas revistas que, pelo conhecimento do leitor, tais expressões não são vistas em revistas comuns, nem tão pouco os termos isolados são encontrados em dicionários não especializados. Linguística de Corpus se compreende a partir do raciocínio abordado por SARDINHA (2004) no qual relaciona o sentido original da palavra corpus à corpo, conjunto de documentos. Essa busca por termos técnicos contou com os conhecimentos adquiridos pelo terminólogo na leitura das revistas técnicas citadas acima, assim como a assessoria de um técnico especializado na área de mineração. Por se tratar de conteúdo não digitalizado, tal pesquisa não permitiu um estudo mais aprofundado no que diz respeito aos recursos de softwares que possibilitam uma análise mais exata dos termos escolhidos que farão parte do glossário, ainda que levaria muito tempo escanear todo o material para fazer um trabalho mais focado cujo também não é o principal objetivo apresentado pelo artigo. Apesar de parecer estar fragmentadas, devido à quantidade de informações presentes nesta análise de conteúdo, tais informações se fazem necessárias, para um maior entendimento do assunto abordado. Vejamos os fragmentos extraídos da revista bilingue TRACBEL MAGAZINE (2012, p.12): 10 O mercado da mineração: Brasil, China ou Brasil e China? Notícias recentes mostram que a Mineração brasileira, seja com relação ao mercado interno, seja com respeito ao mercado externo, tem tudo para continuar sua trajetória atual de sucesso. [...] E, no que concerne à infraestutura, mostra: (a) “O Brasil é um país em desenvolvimento que recebeu mais investimentos privados em infraestrutura, [...] The mining market: Brazil, China or Brazil and China? The latest information shows that the Brazilian mining, regarding both home and foreign markets, is expected to continue its successful current route. [...] And regarding infrastructure, it shows that: (a) “Brazil is the developing country that has recieved more private investiments. Fragmento da revista bilingue ROCHAS DE QUALIDADE (p.48, 46, 42): Lareira executada em mármore Travertino Fireplace executed in Travertino Romano Romano e detalhes em mármore Marrom marble, with details in Marrom Imperial Imperial. marble. [...] [...] Lareira concebida em Pedra São Tomé Fireplace conceived in stacked Pedra São filetada e sóculo de mármore Rosso Verona Tomé, with polished Rosso Verona marble polido. moldings. [...] [...] Parede concebida em canjiquinha de Pedra Wall conceived in stacked Pedra Mineira Mineira e bordas da piscina em pedra and pool borders in white Castelatto stone. Castelatto branco. Baseando-se nos conhecimentos de Terminologia, como explica KRIEGER e FINATTO (2004) de que a Terminologia é uma área de conhecimentos e de práticas cujo principal objeto de estudos teóricos e aplicados são os termos técnico-científicos utilizados no âmbito de atividades profissionais especializadas, tendo a missão de veicularem conceitos próprios de cada área do conhecimento. Para dar continuidade à identificação dos termos terminológicos, segue-se o raciocínio do autor KRIEGER e FINATTO (2004) de que dois tipos procedimentos metodológicos podem ser adotados: a Lingüística de Corpus; e o outro, de caráter teórico, a Terminografia Lingüístico-Textual, que se valem de recursos informáticos como WordSmith Tools, por exemplo. Percebe-se que ao analisar ambos textos acima, pode-se encontrar palavras e expressões que se utilizam apenas neste campo de linguagem a qual está ligada ao ramo da mineração. A partir dos estudos feitos por KRIEGER e FINATTO (2004), um dos tópicos a serem observados é a relevância que a palavra ou expressão tem para a área de conhecimento específico, a quantidade de repetição que a palavra aparece ou selecionar a palavra por questão de averiguação de análise para uma tradução melhor. Sendo assim, a partir da leitura feita dos fragmentos encontrados nas revistas acima, e pôde se observar presença de alguns termos que são considerados relevantes para a criação de um dicionário técnico. 11 4.1 ELABORAÇÃO DE GLOSSÁRIO TERMINOLÓGICO Assim como afirma LEPRE (2007 p. 20) o glossário funciona como uma amostra sucinta, portanto não será uma obra de consulta para uma pesquisa mais aprofundada, da área de Rochas Ornamentais. É interessante lembrar que em caso de um prazo mais longo para realização desse trabalho, seria atribuído mais úteis para o glossário confeccionado, assim como ilustrações de peças mecânicas para melhorar o entendimento, fotos ilustrativas de tipos de granito e um estudo mais aprofundado das nomeclaturas dos mármores que são extraídos tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo para se criar uma tradução melhor dessas nomeclaturas durante as feiras internacionais, tornando-se assim, uma obra mais complexa para se elaborar. Como já mencionado antes no que se trata Linguística de Corpus, é necessário uma explicação dos conceitos que o envolve. SARDINHA (2000) relaciona o sentido original da palavra corpus à corpo, conjunto de documentos (segundo o dicionário Aurélio), os quais para serem objetos de estudo devem ser originais e naturais do idioma em estudo, eles são analisados de uma forma superficial, ao passo que são utilizados para fins de pesquisa linguística. Por isso pode parecer superficial para alguns pesquisadores do assunto. Para a elaboração do glossário proposto neste estudo, vale lembrar da Terminologia, uma das ideias abordadas neste trabalho. WELKER (2004) menciona que o termo, unidade mínima da Terminologia, se distingue da palavra por ser utilizado no interior de uma linguagem de especialidade. Ao contrário da palavra “comum” que é mais conotativa, o termo tende a exibir uma abrangência mais denotativa. Assim, os termos técnicos possuem somente um sentido somente para cada termo em uma situação de uso bastante específica. Um exemplo dessas determinações são os diferentes sentidos específicos de chapa em Mecânica na área de Mineraçãoe em Odontologia. A partir desse raciocínio, o uso desses termos aparecem relacionados a um complexo campo léxico ao ser retratado ao campo da especialidade, oposto da palavra em seu uso comum no idioma. KRIEGER e FINATTO (2004) relatam a importância da Terminologia, que pode ser vista como uma disciplina cujo objetivo é descrever o uso de termos técnicos na esfera internacional, cujo estudo tem conquistado cada vez mais espaço no campo linguístico na área da Tradução. Tendo em vista essas autoras, a aplicação dos estudos de Terminologia encontra-se, principalmente, na produção de dicionários e glossários, pois, mesmo que a definição dos termos traga um “efeito dicionarístico”, é seu conhecimento algo merecedor de destaque. KRIEGER e FINATTO (2004) afirmam, ainda, a esse respeito que a falta de homogeneidade e sistematicidade na organização e na maneira de registrar a informação sobre uma dada terminologia pode impedir a comunicação entre sistemas de diferentes organizações, tanto nacional como internacionalmente. Glossário, segundo KRIEGER e FINATTO (2004, p. 51), “Costuma ser definido como repertório de unidades lexicais de uma especialidade com suas respectivas definições ou outras especificações sobre seus sentidos”. A palavra glossário ainda pode ser entendida como o resultado das ocorrências de um texto específico, no qual se armazenam as palavras-ocorrências dele extraídas. É devido ao fato de sua manifestação no texto que o autor busca esclarecer no final da obra o uso do léxico ou expressões mais rebuscadas , auxiliando o pesquisador na interpretação das palavraschave da obra. O fator-chave de um glossário é o vocabulário, isto é, o conjunto de palavras existentes num ambiente mais técnico, e não no conjunto das palavras fundamentais de uma língua. Na maioria das vezes, o uso de glossários se faz presente também no campo da mineração, por se tratar de uma determinada área científica que visa unificar a utilização desses glossários no universo dessa área, fazendo com que sejam os mesmos em qualquer lugar 12 do mundo. Esse tem sido o propósito da Terminologia, na tentativa da unificação de termos universais e é de suma importância no que trata aos glossários. KRIEGER e FINATTO (2004, p. 179) afirmam que “Infelizmente, é inegável a carência de instrumentos de referência em português brasileiro, o que obriga tradutores a atuarem como verdadeiros ‘pesquisadores-exploradores’ das linguagens especializadas. Desse modo, produzem seus próprios materiais de apoio e ‘fazem’ glossários”. Desta forma, decidiu-se buscar os próprios textos expostos nas revistas abordadas acima com limitação de espaço e analisadas manualmente, já que o tema ainda é novo e pouco abordado no campo virtual. Por isso, foi descartado o estudo dos textos eletrônicos cuja análise é feita por programas computacionais específicos, como o WordSmith, mencionado por SCOTT (1999), no sentido de que seria tarefa muito árdua e demasiadamente demorada ter que escanear todo o material de estudo, pois os textos, quando escaneados, geram inúmeras imperfeições, trazendo a necessidade de revisá-los. Entretanto, mesmo fazendo uso de análise das próprias traduções apresentadas nas revistas, é muito importante que o tradutor técnico de tal especialidade, o qual intenciona elaborar seu próprio glossário de termos, RIBEIRO (2009), saiba reconhecer e utilizar os recursos hoje disponíveis para recolher e organizar um conjunto de dados úteis e confiáveis. Contudo, as ferramentas de uso, tais como os tradutores on-line, devem ser utilizadas com cautela, pois, mesmo com todos os seus atributos, elas não substituem o bom senso e a criatividade do ser humano. Já que o objetivo deste trabalho é apenas demonstrar a importância de elaboração de glossários na área de estudo, torna-se desnecessária uma lista extensa de verbetes do glossário em sua totalidade, visto que é preciso que se colete uma quantidade bem extensa do corpus de estudo para que se possa aumentar o tamanho do glossário. Dessa forma, seguem abaixo somente os alguns itens do glossário elaborado com base nos textos apresentados na tabela anterior: Português Inglês mercado da mineração mining Market mercado interno home Market mercado externo foreign Market Infraestrutura Infrastructure mármore Travertino Romano Travertino Romano marble mármore Marrom Imperial Marrom Imperial marble filetado (a) Stacked Pedra São Tomé Pedra São Tomé sóculo de mármore marble moldings canjiquinha de Pedra Mineira stacked Pedra Mineira pedra Castelatto Branco white Castelatto stone Mesmo fazendo uso da própria tradução paralela encontrada no material de estudo, o sucesso na busca pela tradução correta dos termos de interesse depende de um conhecimento mínimo do inglês por parte do pesquisador, LEPRE (2007), já que terá que induzir os significados corretos dos itens estudados. 13 Quando se apresenta um modelo de glossário como o exibido acima, com a tradução de seus termos retirados dos textos estudados, tem-se a impressão de que tal processo não é complexo e que sua elaboração pode ser realizada em um curto período de tempo, pelo método simples. No entanto, observando o respectivo glossário acima, pode-se notar que nem todas as palavras são cognatas ao português, o que faz com que alguns termos se tornem mais complexos na sua interpretação. Assim como nota-se também quem nem todas as expressões possuem uma equivalência no outro idioma, como é o caso de mármore Marrom Imperial e Pedra São Tomé, por exemplo. Uma sugestão de autoria própria para solucionar esse tipo de problema seria traduzir, por meio de dicionários bilíngues, os termos que são comuns em ambos idiomas seguindo a estrutura gramatical do idioma objetivo, sendo: > mármore Marrom Imperial – Brown Imperial marble; > Pedra São Tomé – San Tomé Stone. Baseado nas observações que se obteve neste exemplo de glossário, da mesma forma que é bastante útil, pois facilita bastante o trabalho do tradutor em outros projetos de tradução, por outro lado pode ser uma fonte insegura já que nem sempre se sabe que as soluções encontradas são de fontes confiáveis, principalmente quando se faz o uso da própria tradução encontrada. Como afirma RIBEIRO (2009, p. 166), podemos deduzir que: “[...] essa prática de pesquisa vem acompanhada de todos os riscos de utilização de “corpora” não criteriosos, sobre os quais não há controle de qualidade dos textos escritos e dos glossários elaborados, por exemplo. Qualquer pessoa, falante de qualquer idioma, pode criar um glossário ou escrever um texto sobre um assunto que não domina e esse tipo de texto não pode ser considerado uma fonte confiável. Muitos textos encontrados são também traduções, das quais não é possível precisar o nível de qualidade e confiabilidade. Além disso, pode ser difícil diferenciar esse tipo de texto daqueles confiáveis durante a pesquisa.” Por isso, não lhe basta somente o conhecimento “técnico” para a criação de glossários da língua inglesa, também será necessário o conhecimento do sentido bastante específico de alguns desses termos em inglês e de seus equivalentes em português, além do conhecimento das ferramentas principais de Informática para obter um resultado satisfatório. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Desde a década de 1990, a Tradução Técnica tem garantido um papel cada vez maior no Brasil, RIBEIRO (2009). Por esse motivo, o papel do Tradutor na área da Tradução Técnica vem crescendo paralelamente a esse grande crescimento econômico que o Brasil vem conquistando ao longo do século XXI. Porém, considera-se hoje que o Brasil necessita, urgentemente, resolver seu gargalo de infraestrutura e que, conforme destaca as pesquisas feitas atualmente, é o quarto país do mundo maior receptor de investimento direto estrangeiro. Tudo sinaliza para a continuação do crescimento da demanda por bens minerais, ou seja, a mineração como um dos lideres do desenvolvimento da economia brasileira. Quando a atenção volta ao Estado do Espírito Santo, nota-se uma despreocupação por parte das empresas em relação ao treinamento empresarial dos membros a se adequar a essa nova realidade internacional que o Estado vem presenciando ao longo dos anos. Segundo pesquisas realizadas pela revista VEJA (2012, p.87 a 88), o ensino do inglês é notoriamente deficiente no Brasil. Na escola pública aprende-se pouco ou nada. Num estudo 14 feito com 76 países fora da linha de frente do ensino avançado do inglês aplicado no mundo dos negócios, o Brasil ficou em 67º lugar. Portanto, a expectativa que o papel do profissional tradutor neste setor financeiro tende a crescer cada vez nos próximos anos pelo fato de que há necessidade das empresas investirem na infraestrutura qualificada para atender a imigração de investidores internacionais no Brasil. 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS _________. Arquitetura. Rochas de qualidade. Jul/Ago. de 2012, ed.225, SP. BAKER, Mona. Corpora in translation studies: an overview and some suggestions for future research. John Benjamins, 1995 (Target 7.2, 223-243). BARROS, Lídia Almeida. Curso Básico de Terminologia, ed. USP- Universidade de São Paulo, 2004. BERBER SARDINHA, Tony. Lingüística de Corpus. Barueri, Manole, 2004. CATFORD, J. C. A linguistic theory of translation: an essay in applied linguistics. London: Oxford University Press, 1965. _________. Cresce a participação de empresas de tecnologia na Cachoeiro Stone Fair. Inforochas. Maio/Jun. de 2012, n° 68, SP. GAUDIN, F. Pour une socioterminologie. Des problèmes semantiques aux pratiques institutionelles. Rouen: Publication de l´Université de Rouen, 1993. KRIEGER, M. G. & FINATTO, M.J.B. Introdução à Terminologia: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2004. LEPRE, Larissa. A elaboração de glossários bilíngues para a interpretação de textos em Inglês com base em um corpus paralelo. Ed. UFSC-Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 15 MAMERI, Áureo Vianna. Feira Internacional de Rocha e Granito. Nova Venécia, Sindirochas, 27 de Jul. 2012. Depoimento feito ao professor Adelton Souza da Silva. _________.O mercado da mineração. Tracbel Magazine. 09 de Abr-Jun. de 2012, nº 32, SP. _________. Para soltar a língua. Veja. SP, 29 de Ago. de 2012. POLCHLOPEK, Silvana. Tradução Técnica: Armadilhas e Desafios. Anhanguera Educacional, 2012, nº 19, S.A, SP. RIBEIRO, Gabriela Castelo Branco. Tradução técnica, Terminologia e Linguística de corpus: A ferramenta Wordsmith tools. PUC, Rio de Janeiro, 2009. _________. Rochas Ornamentais. ed. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia, Brasília, 2007. SCÁRDUA, João Felício. Mercado financeiro do Espírito Santo. Vitória, SEBRAE, 27 de Fev. 2012. Depoimento feito durante a 33ª Feira Internacional do mármore e granito (Vitoria Stone Fair). SCOTT, Mike. WordSmith Tools. Version 3.0, 1999, Disponível em www.liv.ac.uk/~ms2928. WELKER, A. H. Uma pequena introdução à Lexicografia. Brasília: Thesaurus, 2004. 16 ANEXO GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS IN STONE PORTUGUÊS ENGLISH à vista on sight abóbada vault absorção absorption aço inoxidável stainless steel adjacente adjoining aglomerante binding agent água de resfriamento cooling water águas subterrâneas ground water alavanca lever amarelado yellowish amostra gratuita free sample anúncio advertisement, ad. aplicação installation arame wire ardósia slate arenito sandstone arquitetura architecture atacadista wholesaler balaustrada balustrade, railing balaústre baluster bancada de cozinha kicthen top banco stone bench basalto basalt biqueira water drip bisotadora chamfer machine bisotê chamfer bloco block Definições e esclarecimentos tipo de vidro ou espelho com lapidação nas laterais. 17 bloco quadrado squared block borda bisotada bevelled edge broca drill, bore hole cabeça de parafuso screw head caixa de marchas gear box calcáreo limestone camada layer, bank caminhão lorry, truck carro, carrinho trolley carta de crédito letter of credit cavalete a-frame cavidade hollow certificado de origem certificate of origin cinza grey coluna column comércio atacado wholesale comprimento da máquina machine length comprimento do golpe stroke length comprimento útil de corte useful cutting height concreto cement / concrete construção civil civil works contabilidade bookkeeping, accounting contra-marcha down cut corrosão biológica chemical corrosion corrosão química damage cortadora de contorno contouring machine cúpula dom data estimada de chegada E.T.A. data estimada de saída E.T.D. de bom gosto tasteful decantador silo decanter 18 depósitos de rejeitos overburden, overlay shelf, waste pile desenhos drawings desgaste wear and tear diagrama diagram diâmetro diameter dimensão dimension diretor geral, gerente general manager dolomito dolomite eixo axis elasticidade elasticity embutidos embedded empilhadeira fork lift empresa de navegação shipping company enceradeira waxing machine enchimento de isopor peanut fill ensaio de deslizamento slippage test ensaios de abrasão abrasion tests espessador thickener espuma de embalagem packaging foam esquadrejadora squaring machine esquadrejar os blocos block squaring estudo de confiabilidade feasibility study exportação export fábrica factory, works fabricação production fatura invoice ferramentas de mão hand tools fio de diamante diamond wire fissura, rachadura, trinca fissure floculante flocculant folheto, folder brochure, leaflet, catalogue 19 forma, chapa form, shape formação profissional vacational training fóssil fossile frete load, freight frete aéreo air freight frete marítimo ocean freight frontão gable furar com broca drill, bore furo drilling machine furo de fixação anchor holes furos de fixação perpendiculares cross anchor holes geada frost geologia geology geologist geólogo/a granito granite grátis free of change gravura engraving guia, meio-fio kerb guindaste crane imagens esculpidas carved images jambas post jato d'água water jet cutting jato de pressão rotating pressure jet jato de pressão giratório biological corrosion jazidas deposits lado do bloco side of block lado posterior da chapa back side of slab ladrilhos tile, pavers ladrilhos pavers lajota flat stone lama sludge,mud 20 lama prensada solid cakes lápide tombstone, gravestone lavado com ácido acid wash limpeza cleaning lintel lintel lintel é uma peça dura de materiais diversos (madeira, pedra, ferro, etc.) que assenta nas ombreiras e constitui o acabamento da parte superior de portas e janelas.. litografia petrography Técnica de gravura envolve a criação de marcas (ou desenhos) sobre uma matriz (pedra calcária) com um lápis gorduroso. Ltda. Ltd. mancha de umidade wet spot mandril fixed machinery maquinário machinery marca de fábrica trade mark marcha sincronizada up cup mármore marble martelo pneumático pneumatic drill/ hammer matéria prima raw material materiais maciços solid materials metros quadrados square metre modalidade de pagamento conditions of payment modelo pattern moldura moulding / welding monolâmina monoblade monolito monolithic olho de forja nozzle macaco, ferramenta Um monólito é uma estrutura geológica, como uma montanha, por exemplo, constituído por um única e maciça pedra ou rocha, ou um único pedaço de rocha colocado como tal. 21 operações de limpeza cleaning process pagamentos a receber receivables pantógrafo pantograph parafuso screw parafuso de chumbo lead screw paralelepípedos paving sets parapeito parapet peça de reposição spare part pedra pome pumice stone pedreiras quarries peitoril window sill perfiladora shape cutter perfuração drilling permeável permeable pigmentação pigmentation pinos bolts pisos paving/pavers plástico de bolhas de ar bubble paper pó de sinterização sintering powder politriz polishing machine politriz automática belt polisher politriz das bordas edge polishing machine ponte bridge cane ponte transversal transversal bridge ponto de pressão pressure point porosidade porosity porto port preço de compra purchase price preço de lançamento introductory price quartzito quartzite máquina de polir 22 quebradiço brittle quebra-luz, treliça screen ramo area of business ranhura, rasgo groove registrado legalmente registered rejeição refusal rejeito wastage rendimento output resina putty resistência à compressão compressive strength resistência à flexão resistence to flexion resistência à pressão compressive resistance resistência ao deslizamento slip prevention resistência às geadas frost resistance resistência às geadas resistence to ice responsabilidade liability revestimento covering rocha rock rocha stone rochas em bruto rough stone rochas ornamentais ornamental rock rochas processadas processed stone rodapé plynth ruinoso danger of collapse S.A. plc serviço após venda after sales service sociedade anônima public limited company sulcos, anti-derrapante antislip grooves talha bloco block cutter talhadeira, ponteira conveyor belt mais comum como refugo, aquele material que não serve para exportar. 23 taxa fixed cost, fee teste examination, testing teste de carga load test, testing loads tijolo brick titular de uma firma comercial company owner trabalho artesanal handcraft trabalho manual manual work trava steel bolt treliça screen umidade humidity válvulas valve varanda railing ventosa suction cup viga cruzada cross beam volante flyweel zona de preparação planing zone zona industrial industrial zone 24 PATRIARCALISMO: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE UMA IDEOLOGIA MODELADORA DE COMPORTAMENTOS Andréia Lima da Silva1 Leonice Barbosa2 Lucinéia Schultz 3 Miriã Borges de Andrades 4 Rayanne Viana da Silva 5 RESUMO O trabalho que se segue é fruto de pesquisas bibliográficas a respeito da construção histórica da ideologia conhecida como Patriarcalismo. Analisaram-se os conceitos básicos que envolvem essa ideologia, a sua origem histórica buscando as respostas na pré-história, ou seja, no princípio da sociedade destacando o meio em que o patriarcado pode melhor se desenvolver: a família. Após estes apontamentos a análise recaí sobre os órgão difusores, aqueles que são responsáveis por difundirem e propagarem tal concepção. Para finalizar foi feito um exame da sociedade atual, visando perceber os aspectos patriarcais que permanecem vigentes e que atuam de forma tácita sobre os comportamentos. Palavras-chaves: Patriarcado. Gênero. Conduta feminina. ABSTRACT The following work is the result of bibliographic research on the historical construction of the ideology known as Patriarchalism. We analyzed the basic concepts involving this ideology, its historical origin seeking answers in prehistory, ie the principle of the company highlighting the medium in which patriarchy can better develop: the family. After analyzing these notes relapsed on national broadcasters, who are responsible for diffuse and propagate this concept. To finish an examination was made of the current society to realize the patriarchal aspects that remain in force and act tacitly on behavior. Words-Key: Patriarchate. Genre. Feminine behavior. 1 INTRODUÇÃO Encontra-se na sociedade ideologias, ou seja, ideias que moldam os mais variados tipos de comportamentos. Com isso é notório que alguns modos de agir sejam repassados ao longo dos anos. Por exemplo, a distinção das atividades embasadas no gênero. Dizia-se que as meninas deveriam permanecer em seus lares cuidando dos afazeres domésticos, enquanto aos meninos era dada a liberdade de sair de casa para trabalhar e aproveitar a vida, sendo que este era o responsável por sustentar o lar tomando o posto de patriarca. Com isso nasce a ideologia do Graduada em Letras Português/Inglês pela faculdade Capixaba de Nova Venécia – MULTIVIX. Mestranda em Ensino na Educação Básica (CEUNES_UFES) – Especialista em Língua Portuguesa e respectiva Literatura – Professora Orientadora de TCC Multivix – Nova Venécia. 3 Graduada em Letras Português/Inglês pela faculdade Capixaba de Nova Venécia – MULTIVIX. 4 Graduada em Letras Português/Inglês pela faculdade Capixaba de Nova Venécia – MULTIVIX. 5 Graduada em Letras Português/Inglês pela faculdade Capixaba de Nova Venécia – MULTIVIX. 1 2 25 Patriarcalismo que concedia aos homens uma elevada posição social e restringia a mulher ao mundo doméstico com funções e obrigações pré-estabelecidas. Por muito tempo tomou-se essa visão patriarcal como a maneira correta de viver e suas concepções foram repassadas sem que houvesse um questionamento ou que homens e mulheres procurassem saber a origem das mesmas. Este trabalho analisa a origem desse sistema de ideias que é capaz de moldar os comportamentos, sejam eles femininos ou os masculinos. Para fundamentação da pesquisa optou-se pela pesquisa exploratória com revisão bibliográfica e apropriação das fontes secundárias. Visando uma maior compreensão do assunto proposto, organizou-se o trabalho da seguinte forma: primeiro uma conceituação dos aspectos pertencentes a essa ideologia encaminhando para uma análise histórica apontando seu início e seu principal meio de atuação. Coube um exame dos órgãos que são responsáveis por difundirem essa ideologia para assim trazer esse exame para a atualidade mostrando as ideias que permanecem na sociedade moderna, porém de maneira implícita. Após estes apontamentos tornar-se-á possível conhecer e compreender melhor esse regime social que imperou por muito tempo nas comunidades e que permanece atuando e moldando o comportamento de uma sociedade que dita-se como moderna. 2 CONCEITOS PATRIÁRQUICOS O conceito, segundo a Nova Enciclopédia de Pesquisa Fase ([s.d], p. 2312), sobre patriarcado é: [...] Dignidade, condição ou jurisdição de patriarca; princípio social oposto ao matriarcado, estabelecendo a descendência e a hierarquia pelo lado paterno; tempo durante o qual um prelado exerce as funções de patriarca; diocese dirigida por patriarca; residência ou palácio do patriarca. [...] Em outras palavras, patriarcado é uma formação social que se organiza segundo as condições estabelecidas pelo lado paterno, ou seja, o que rege esse tipo de comunidade são as ordens estabelecidas pelos homens para que os seus interesses sejam correspondidos. Tal regime ocorre dentro das famílias, no meio político e também religioso. Com esse regime voltado para os interesses paternais, Amora (2009) define esta sociedade como sendo patriarcal, que obedece às leis e costumes estabelecidas pelo patriarca que é o chefe superior, ou seja, o supremo na hierarquia social. Com essas ideias vigentes, cria-se um aspecto ideológico que impregna a sociedade fazendo com que a difusão dessas ideias não dependa somente do patriarca, mas sim de todo aquele que tomar para si esses conceitos e começar a colocá-los em prática na sua vida. Desta forma tem-se como patriarcalismo segundo a Nova Enciclopédia de Pesquisa Fase (s.d, p. 2312): “[...] Regime patriarcal, vida patriarcal; costumes e hábitos sociais das comunidades primitivas em que impera o patriarcado [...].” 26 a. ORIGEM DO PATRIARCALISMO Para saber a origem do patriarcalismo é preciso conhecer o início da formação social, ou seja, verificar nos primórdios das civilizações o surgimento dessa hierarquia patriarcal na qual o homem passou a ocupar o lugar de ser soberano. Schimidt (1999) aponta as primeiras comunidades como sendo divididas de forma coletiva. Todos plantavam, caçavam, pescavam. Os alimentos eram divididos de forma igual para todos os habitantes e desta forma todos enfrentavam as mesmas dificuldades e trabalhavam em conjunto para superá-las. Como não havia uma divisão particular dos bens, homens e mulheres praticavam as mesmas atividades, tinham o mesmo poder de optar e tomar as decisões. Um fato curioso abordado por Schimidt (1999) é que a mulher era livre para relacionar-se com qualquer homem, sendo normal uma mesma mulher ter relações sexuais com vários homens e por isso nem sempre era possível definir quem eram os pais das crianças e estas por sua vez eram criadas por toda a comunidade. Com o passar dos anos a população cresceu e com esse crescimento veio a necessidade de dividir o trabalho para que toda a comunidade fosse atendida com qualidade. Os homens passaram então a exercer as tarefas que exigiam mais vigor físico e as mulheres, como estavam na maioria das vezes grávidas ou amamentando, ficaram responsáveis pela agricultura, artesanato e principalmente a criação dos filhos. Bonifazi e Dellamonica (2002, p. 19) dizem que no período Paleolítico já havia a seguinte divisão: Os homens se dedicavam à caça e à pesca, enquanto as mulheres coletavam vegetais, grãos, frutas, raízes, mel e ovos. Elas realizavam essas tarefas em grupos, munidas de instrumentos para cavar a terra e de bolsas de peles para guardar o que colhiam. Além disso, cozinhavam os alimentos. Provavelmente, os meninos aprendiam com os mais velhos a caçar, procurar lenha, fabricar ferramentas de trabalho e usar armas. As meninas por sua vez, acompanhavam as mulheres na busca de alimentos. Essa divisão criou os extremos da sociedade: homens de um lado e mulheres de outro. Os primeiros ficaram a frente dos grupos por realizarem as tarefas visivelmente mais complexas, enquanto que a segunda teve que se subordinar ao primeiro por ter recebido as tarefas menos complexas e assim menos valorizadas. Passa agora a existir uma divisão de gênero na sociedade que é muito bem explicada por Kramarae e Treichler (apud VIEZZER, 1989, p. 108): “numa divisão entre homens e mulheres causada pelas exigências sociais de heterossexualidade, as quais terminaram impondo a dominação sexual masculina e a subordinação sexual feminina”. Essa divisão feita a partir do gênero deu à mulher uma posição social secundária, pois a partir de agora ela passa a ter lugares e funções definidas que limitaram a sua ascensão. Além disso, Viezzer (1989) aponta essa característica como fator perceptível na história da humanidade. 27 Com base em todos esses esclarecimentos a respeito do patriarcalismo, cabe ressaltar que o regime patriarcal permeou todas as esferas sociais atingindo todas as classes vindouras sendo que essas foram também responsáveis por manter e propagar tal conceito. Lembrando que em cada camada social que emergiu, havia um patriarca, ou seja, havia aquele ser que deteve em suas mãos o poder, o controle sobre os demais e estes poderiam ser filhos, esposas e mais adiante escravos e trabalhadores daquele meio social. Depois de abordado esse aspecto mundial, cabe agora uma análise do meio em que essa ideia patriarca torna-se mais visível e passível de reflexão: a família. b. A FAMÍLIA PATRIARCAL Cabe aqui uma explicação a respeito do modelo familiar que impera patriarcalismo. Para isso é necessário fazer um panorama geral da trajetória família, dando ênfase ao modelo adotado no Ocidente, que é a parte geográfica qual o Brasil está inserido, e logo após o modelo familiar brasileiro no qual personagens Lúcia e Aurélia encontram-se. no da na as Segundo o dicionário Aurélio (2001, p. 312) família significa: “Pessoas aparentadas que vivem, [...], na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. [...] A que é constituída pelo casal e seus filhos; [...]” Esse modelo familiar padrão (pai, mãe e filhos) visto na sociedade ao longo dos tempos teve um início não muito organizado, passando assim por várias transformações. Segundo um estudo realizado por Engels (1984), que por sua vez tomou como base os estudos de Morgan, as famílias primárias não possuíam uma divisão exata dos seus membros e de suas funções. Inicialmente a única divisão existente quanto à divisão familiar era: “A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos” (MARX; ENGELS, apud ENGELS, 1984, p. 70). Desta forma, a única diferenciação existente era entre aquele que podia gerar um filho, a mulher, e aquele que não podia, o homem. Com isso nos primeiros modelos familiares as pessoas tinham total liberdade de se relacionarem sexualmente umas com as outras sem nenhuma restrição quanto ao parentesco, exceto os pais e as mães. Tal modelo foi nomeado como Família Consanguínea. Já num estágio mais avançado os irmãos foram restringidos, ou seja, entre pais, mães e irmãos não poderia haver relações sexuais, esse modelo foi chamado de Família Panaluana. A partir daí, as famílias começaram a organizaremse em pequenos grupos. Cabe ressaltar aqui que nesse modelo familiar a mulher tinha um papel muito importante, como ela gerava os filhos ela era a única a reconhecer de fato os seus, quanto aos homens eles deveriam criar todas as crianças em comum já que a paternidade não tinha como ser comprovada. Em sequência veio a família Sindiásmica, que era formada por um único pai e uma única mãe e esta tinha que se manter fiel até o fim do relacionamento. A partir de agora o homem passa a limitar a vida da mulher impondo-lhe fidelidade, sendo que ele poderia continuar tendo relações com outras mulheres (ENGELS, 1984). 28 Com a passagem do tempo as relações entre homens e mulheres foram estreitandose até chegar ao modelo de Família Monogâmica. O estudo da história primitiva revela-nos, ao invés disso, um estado de coisas em que os homens praticam a poligamia e suas mulheres a poliandria, e em que, por conseqüência, os filhos de uns e outros tinham que ser considerados comuns. É esse estado de coisas, por seu lado, que, passando por uma série de transformações, resulta na monogamia. Essas modificações são de tal ordem que o círculo compreendido na união conjugal comum, e que era tão comum em sua origem se estreita pouco a pouco até que, por fim, abrange exclusivamente o casal isolado, que predomina hoje (ENGELS, 1984, p. 31). O modelo monogâmico é a forma mais organizada de família, pois consiste num núcleo familiar conhecido e restrito. Com a diminuição, neste caso a extinção, da liberdade sexual, a mulher passou a relacionar-se somente com um homem e este passou a ter o controle sobre ela, pois esta passa a receber uma série de restrições referentes à sua conduta e os seus filhos passaram a ser controlados também, para que na hora da partilha dos bens não houvesse dúvidas de quem eram os verdadeiros herdeiros. Nesse estágio os homens já haviam acumulado riquezas com as divisões de terras, produção de alimentos, entre outras atividades desenvolvidas socialmente, daí vem a importância da legitimidade dos filhos. “A monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mesmas mãos - as de um homem - e do desejo de transmitir essas riquezas, por herança, aos filhos deste homem, excluídos os filhos de qualquer outro” (ENGELS, 1984, p. 82). A partir dessa estrutura familiar a mulher assume um papel subordinado ao homem, tal prova é que ela teve que aceitar a poligamia masculina e contentar-se com a sua monogamia. Com isso o homem passa a impor as suas vontades, baseadas nos seus objetivos pessoais, aliás, é interesse dele saber quem são os seus verdadeiros herdeiros já que os bens acumulados não podem ser deixados para qualquer um. Nota-se aqui um interesse que não é afetivo e sim econômico. O casamento passa a estar vinculado com a ideia de perpetuação dos bens, isto é, o casamento não possui inicialmente um caráter amoroso, o que valia não eram os sentimentos, mas sim a maneira encontrada para que as riquezas obtidas não fossem perdidas ao vento. Engels (1984, p. 70) diz que: “Foi a primeira forma de família que não se baseava em condições naturais, mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva, originada espontaneamente.” Percebe-se também que juntamente com a concepção monogâmica regida por interesses econômicos veio a concepção patriarcal que é baseada na hierarquia paterna, ou seja, o seio familiar é regido pelos interesses paternos e guiado por um chefe (AMORA, 2009). Esse regime patriarcal pode ser percebido com mais detalhes nas funções dadas às mulheres, que passaram a ter a sua vida limitada às tarefas de casa, ou seja, a mulher deveria ser uma ótima mãe cuidando da educação dos filhos, principalmente das filhas que eram ensinadas desde cedo a guardarem a sua virgindade. Os 29 deveres de casa também eram cobrados como, lavar, passar, cozinhar, organizar a casa de forma que todos ficassem confortáveis nela. Acima de tudo a cobrança maior estava relacionada à fidelidade da esposa que não poderia sob nenhuma hipótese relacionar-se intimamente com outro ser que não fosse seu marido, mas isso não impedia que o marido pudesse se relacionar com outras mulheres, na verdade a monogamia só existia para elas. Em outras palavras, a mulher era vista somente como a procriadora e cuidadora da casa e dos filhos, nenhuma outra função significativa era atribuída a elas e com isso ficaram basicamente cativas do seu lar que na realidade não podia nem ser considerado seu, já que todas as decisões eram tomadas pelo homem, até mesmo as que dizem respeito ao destino dos filhos (o que eles seriam ou com quem se casariam futuramente). Quanto à mulher legítima, exige-se dela que se tolere tudo isso, e por sua vez, guarde uma castidade e uma fidelidade conjugal rigorosas. [...] todavia, para o homem, não passa afinal de contas, da mãe de seus filhos legítimos, seus herdeiros, aquela que governem a casa e vigia as escravas – escravas que ele pode transformar (e transforma) em concubinas, à sua vontade. A existência da escravidão junto a monogamia, a presença de belas e jovens cativas que pertencem, de corpo e alma, ao homem, é o que imprime desde a origem um caráter específico a monogamia – que é a monogamia só para mulher, e não para o homem. E, na atualidade, conserva-se esse caráter (ENGELS, 1984, p. 67). A mulher mergulha num mundo patriarcal dirigido pelo homem que concede funções específicas a ela: no matrimônio a esposa fiel, na maternidade a boa mãe e excelente cuidadora do lar e dos filhos. Com isso o patriarcalismo passa a imperar no meio familiar formando assim esse novo meio de organização social que é a família patriarcal formada pela monogamia. 2.3 FORMAÇÃO E ATUAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA PATRIARCAL BRASILEIRA Em Casa Grande & Senzala, Gilberto Freire (2005) descreve a formação da família brasileira pautada numa sociedade basicamente agrária e patriarca, tendo como mística de apresentação a casa grande, ambiente onde regiam os mandos e desmandos dos senhores coloniais. Sob a guarda desses senhores estavam sua numerosa família, seus agregados e escravos. A casa – grande completada pela senzala representa todo um sistema econômico, social, político: de produção, (a monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); de transporte (o carro de boi ,o bangue, a rede, o cavalo); de religião (o catolicismo de família, com capelão subordinado ao pater famílias, culto dos mortos etc.); de vida sexual e de família( o patriarcalismo polígono)de higiene do corpo e da casa (o “o tigre”, a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés); de política ( o compadrismo ). Foi ainda fortaleza, banco, cemitério hospedaria, escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e viúvas e acolhendo os órfãos (FREIRE, 2005, p. 36). A aristocracia rural do Brasil colônia disseminou na sociedade uma cultura de delimitação dos papeis sociais. O primeiro palco para a atuação dos senhores coloniais foi o seio familiar, este sofreu rígidos controles para instrução de seus 30 membros. As características paternalistas dessa família foram criando uma figura patriarcal com poderes não somente sobre seus membros, agregados e escravos, mas também se estendendo para fora das fronteiras de suas terras, permeando também os aspectos econômicos e sociais do Brasil colônia. Esse modelo de família fundamentada nos moldes patriarcais, já vigentes na Europa, associado à realidade da sociedade colonial escravocrata fez com que a família patriarcal servisse como molde para a formação política da sociedade colonial brasileira. De acordo com Alves ([s.d] p. 05): “a família patriarcal era o mundo do homem por excelência. Crianças e mulheres não passavam de seres insignificantes e amedrontados, cuja maior aspiração era as boas graças do patriarca”. Esse modelo patriarcal passa a ter simbolicamente um sentido mais amplo, transformando-se em regime social, O PATRIARCADO. Freire (2005, p. 510), em Casa Grande & Senzala, descreve os modos pelos quais os filhos e filhas dos senhores rurais eram tratados: Só depois de casado arrisca-se o filho a fumar na presença do pai; e fazer a primeira barba era cerimônia para que o rapaz necessitava sempre de licença especial . Licença sempre difícil, e só obtida quando o buço e a penugem da barba não admitiam mais demora. A menina, a esta se negou tudo que de leve parecesse independência. [...] criadas em ambiente rigorosamente patriarcal, estas viveram sob a mais dura tirania dos pais – depois substituída pela tirania dos maridos. A essa época, segundo Freire (2005), esposa e filhos achavam-se quase no mesmo nível dos escravos. Cabia ao patriarca zelar pela moral da família e fazia isso de modo tirano para impor seu poder senhorial sobre os seus. Suas filhas eram muito cedo submetidas a casamentos arranjados para a garantia de sua honra, muitas vezes com homens de idade já avançada. O que interessava nesses acertos era a defesa da virgindade delas até o casamento. “Ai vinha colher - lhe verde o casamento: aos treze, e aos quinze anos. Não havia tempo para explodirem em tão franzinos corpos de menina grandes paixões lúbricas, cedo saciadas ou simplesmente abafadas no tálamo patriarcal” (FREIRE, 2005, p. 423). Os filhos mantidos sob seus mandos, não tendo mesmo já adultos a autonomia de decisões, esses teriam que aprender desde cedo a explorar seus extintos sexuais com as negrinhas, agindo como os garanhões que a sociedade da época cobrava. Sua esposa deveria permanecer silenciosa e resguardada aos afazeres do lar, orientação dos filhos e satisfação do marido. No entanto esse mesmo patriarca que zela pela moral da família mantém uma vida promíscua regada dos prazeres sexuais com as negras de sua senzala, pois a ele, pelo patriarcado, é dado esse direito de soberano. Em Sobrados e Mucambos, Freire (2004, p. 207) diz: A exploração da mulher pelo homem, característica de outros tipos de sociedade ou de organização social, mas notadamente do tipo patriarcalagrário tal como o que dominou longo tempo no Brasil convém a extrema 31 especialização ou diferenciação dos sexos. [...] Por essa diferenciação exagerada, se justifica o chamado padrão duplo de moralidade, dando ao homem todas as liberdades de gozo físico do amor e limitando a mulher a ir para a cama com o marido, toda a santa noite que ele estiver disposto a procriar. E ainda, a respeito dessas características, explica Follador (2009, p. 8): “eram treinadas para uma vida reclusa, onde o casamento, a administração da casa, a criação dos filhos eram seus maiores deveres, além de terem que “tolerar as relações extra matrimoniais dos maridos com as escravas”“. Casa Grande & Senzala, ainda a esse respeito, discorre: “Entre brancos e mulheres de cor estabeleceram-se relações de vencedores com vencidos - sempre perigosos para a moralidade sexual” (FREIRE, 2005, p. 515). Com o passar do tempo a sociedade patriarcal rural começa a ceder espaço para uma sociedade semi-patriarcal e urbana, agora vivida pelas experiências dos sobrados da cidade que se contrapõem às casas grandes do engenho. Transições socioeconômicas associadas à chegada da família real influenciam o desprestígio dos engenhos. Uma série de influências sociais- principalmente econômicas – algumas anteriores a chegada do príncipe mas que só depois dela se definiram ou tomaram cor, começaram a alterar a estrutura da colônia no sentido do maior poder real. Mas não só do poder real que revigorou , mesmos nas mãos moleironas de D. João ; também das cidades e das industrias ou atividades urbanas. Também estas se avigoraram e ganharam maior prestígio” (FREIRE, 2004, p. 106). Faz-se necessário agora lançar um olhar cauteloso sobre o perfil dessas mulheres, tendo em vista que o perfil idealizado pelo patriarcalismo para aquelas do tipo casadouras é um perfil que não abrange as mulheres de todas as camadas sociais. A sociedade foi ao longo dos tempos produzindo diferentes perfis em que cada um estava para atender as necessidades daquela sociedade patriarcal. Dentro dessa sociedade pode-se então perceber dois perfis femininos distintos: o da senhora casta e digna de família e o da desprovida da tão valorizada castidade, aquela que se destina ao concubinato e à prostituição. Apesar de todos esses modelos e regras que as mulheres deveriam seguir para serem qualificadas como honradas, existiam aquelas que não se encaixavam em tais modelos, fosse por situações passageiras ou permanentes, ligadas ao modo de vida. Geralmente esses padrões eram ditados para as mulheres brancas, pois as escravas, negras alforriadas e mestiças já eram mal vistas pela sociedade, consideradas como mulheres sem honra. Porém, mesmo as mulheres brancas nem sempre conseguiam manter esse ideal, como era o caso das mulheres pobres. Elas precisavam trabalhar fora de seus lares e isso já as caracterizava, na maioria dos casos, como mulheres públicas (FOLLADOR, 2009, p. 10). Percebe-se assim que aquelas mulheres que não se encaixavam dentro do perfil idealizado para o casamento e procriação recebiam todo um tratamento marginalizado, como descreve Follador (2009, p. 10): 32 [...] as mulheres sem honra eram aquelas, na maioria, ligadas direta ou indiretamente à prostituição, e, aquelas ligadas ao submundo das ruas. As escravas, por exemplo, eram consideradas mulheres sem honra. No geral, a existência dessas mulheres ligadas à prostituição era aceita na sociedade pelas famílias ricas e pela Igreja, já que ambos os segmentos viam-nas como uma forma de proteger a sexualidade das virgens de boa família. Cabia ainda a essas mulheres a iniciação sexual dos varões das famílias abastadas. A prostituição era, em muitos casos, a única forma de algumas mulheres pobres e marginalizadas sobreviverem e sustentarem a família. Sendo assim a manutenção desse sistema contribuía para que o segundo perfil feminino atendesse necessidades da sociedade patriarcal como o serviço executado por aquelas mulheres pobres e/ou negras. Outro fato relevante é que as mulheres que por motivos de classe social ou raça prestavam-se a prostituição foram durante o período colonial vistas como protetoras da virgindade e moral das mulheres brancas e de posses, pois satisfaziam os desejos profanos masculinos. Partindo desse esclarecimento Follador (2009, p. 7) ainda trata dos castigos aplicados àquelas mulheres que tinham um desvio de comportamento. Reconhecida como “guardiã da infância”, a mulher, mais do que nunca, tinha um exemplo a seguir, o de Maria. Aquelas que transgredissem o modelo “esposa-mãe-dona-de casa-assexuada” eram consideradas desviantes do perfil, do papel social, que a sociedade espera. Essas mulheres desviantes eram julgadas e culpabilizadas pela sociedade na qual viviam simplesmente por não quererem ou não poder se encaixar no molde mariano. A prostituta, por exemplo, era considerada um “anti-modelo” da mulher-mãe, apesar de os homens que elaboravam tais modelos a considerarem como um “mal necessário”. Assim, na edificação de um exemplo ideal de mulher, as desviantes seriam associadas à imagem da prostituta. Apresentaram-se os esclarecimentos das visões femininas das mulheres dentro da família patriarcal brasileira e a maneira como tais eram retratadas de diferentes pontos de vistas. 3 OS DIFUSORES DO PATRIARCALISMO 3.1 A RELIGIÃO A religião cristã exerce um forte poder persuasivo sobre o homem, pois ela trabalha com a crença, ou seja, trabalha com aquilo que o ser humano acredita, com aquilo que foi embutido em sua mente e tem por base a Bíblia sagrada que é tida como o livro da verdade por ser intitulado como a “Palavra de Deus”. Sendo Deus o criador todo poderoso e detentor de todo o poder, como não acreditar em sua palavra? Daí vem a credibilidade da igreja em ditar aquilo que segundo a Bíblia seria correto. A igreja passa a dirigir a vida das pessoas e sendo uma instituição regida por homens, no caso do período romântico o cristianismo imperava, ditava aquilo que era da vontade deles. Isso se dá pelo fato de a palavra de Deus não ser acessível a todos, desta forma os padres diziam aquilo que lhes convinha sob o nome de Deus, o que tornou a religião um instrumento de dominação e subordinação social. 33 Com isso pode-se dizer que a igreja difunde as ideias patriarcais através da crença, sabendo-se da influência da fé, usava-se de uma interpretação subjetiva, vinda dos sacerdotes e de certos textos bíblicos em relação ao sexo feminino. Uma característica do ser humano é embasar os seus comportamentos naquilo que se acredita, sendo a igreja uma instituição forte e criada por pessoas de sumo poder, tem a missão de guiar o povo, ela cria assim essa mentalidade nas pessoas para perpetuar todos os ideais estabelecidos por tais crenças. Desde sempre os seres humanos usaram a fé e a razão para buscar a verdade orientar suas atividades. Mas a religião e a ciência se institucionalizaram também como instrumentos privilegiados para a perpetuação da subordinação da mulher ao homem e para o estabelecimento de uma ordem na qual a opressão, a dominação, o machismo, o patriarcalismo e, enfim, o capitalismo são variáveis da subordinação (VIEZZER, 1989, p. 95). A igreja atua de forma dominadora sobre a vida de todos os regimentos sociais inclusive a família e, em especial, a mulher. As ideias patriarcais originadas nos primeiros modelos de família, explicitados anteriormente, encontraram na religião um alicerce de firmação, em outras palavras os conceitos patriarcais foram firmados com o auxílio religioso. Na esfera social e no contexto histórico, ao longo do tempo, a mulher ocidental ocupa espaços e lugares diferentes do homem e continua sendo vista como ser doméstico e também como objeto sexual. Nas escolas, através da educação formal, os veículos de comunicação, bem como a religião, tem favorecido para a reprodução de uma ideologia patriarcal que transpõe todas as esferas da sociedade e reforça a submissão das mulheres ( JESUS, [s.d], p. 2). A mulher vê-se vigiada pela sociedade e por uma ordem maior, “a divindade” exercida por aqueles que podiam fazer esse discurso autorizado. Segundo Silva et al ([s.d], p. 72) a função da igreja em relação a mulher era: Era função da Igreja “castrar” a sexualidade feminina, usando como contraponto a idéia do homem superior a qual cabia o exercício da autoridade. Todas as mulheres carregavam o peso do pecado original e, desta forma, deveriam ser vigiadas de perto e por toda a vida. Tal pensamento, crença e “medo” acompanhou e, talvez ainda acompanhe, a evolução e o desenvolvimento feminino. Como comprovação dessa difusão feita pela igreja encontram-se na Bíblia alguns exemplos que mostram essa subordinação feminina ao homem, em destaque está um deles que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2:18 (ALMEIDA,1993, p. 4) “Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe sela idônea.” A própria religião traz explicitamente, baseando nas escrituras sagradas, que a mulher é um ser que deve estar à disposição do homem, sendo incapaz de agir por si só. Segundo Viezzer (1989, p. 95) “Através do livro de Gênesis, Deus se tornou masculino, macho, e fez um homem parir uma mulher.” Pelo fato de a mulher ter vindo das costelas de Adão, interpreta-se que a mulher deve ao homem total obediência. 34 3.2 A FAMÍLIA Como já foi explicitado sobre os modelos familiares, viu-se que a mesma exerce um forte poder persuasivo sobre seus membros. Na sua origem patriarcal a família criou na mente feminina o dever de obediência e subordinação aos homens e com a afirmação desses conceitos, feitos pela igreja, a família tornou-se um mecanismo de propagação do patriarcalismo e isso ocorre quando a mãe, intitulada responsável pela educação dos filhos, repassa a eles os mesmos ensinamentos que ela recebeu. Segundo o livro bíblico de Provérbios 13:24 (ALMEIDA, 1993, p. 646) que relata: “ O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina.” Descreve exatamente essa perpetuação através da educação familiar. Um exemplo a ser dado é que a menina é ensinada a ser uma boa dama, a cuidar da casa, a cozer, costurar, lavar, passar e ser uma esposa boa e obediente sempre ao lado do seu esposo, virgem até o casamento, os seus brinquedos e brincadeiras bem femininas como bonecas, casinha e chazinho, resumindo tudo aquilo que os primórdios da família intitulou como o comportamento correto para a mulher. Os meninos são criados para serem fortes, sustentarem a casa, terem uma vida sexual ativa desde antes do casamento e a ser o herói. É perceptível, por exemplo, que na própria família a educação ocorre de forma diferenciada. Enquanto o menino aprende a ser forte, corajoso e frio, a menina é estimulada a ser frágil, insegura e emocional. Isto fica evidente nas brincadeiras, ou seja, o menino é estimulado a ser racional, normalmente ganha bola para jogos de futebol que favorece para a agressividade da disputa, bonecos de super heróis com poderes além do normal entre outros. Enquanto a menina é presenteada com bonecas, jogos de cozinha, brinquedos que reforçam o caráter passivo e materno, que durante muito tempo, acredita-se biologicamente ser inato a mulher (JESUS, [s.d], p. 4). Conclui-se que a mãe, dentre os demais familiares, alimenta o conceito patriarcal nos pequenos atos das filhas, como brincar de boneca, impondo automaticamente, na mente da menina, as atividades de cuidar, zelar, ser mãe, entre outros. E aos meninos a ideia de domínio e poderes supremos também é passada através de simples gestos como brincar de super-herói salvando a mocinha. Desta forma ocorre uma precoce divisão de gênero, difundindo o patriarcalismo dentro das famílias. 3.3 A EDUCAÇÃO A escola torna-se uma difusora quando trata de maneira generalizada a classe, por exemplo, alunos e alunas são sempre chamados de alunos, no masculino, isso demonstra que o que impera até mesmo nas palavras é o uso do masculino. Observe que numa simples expressão cotidiana a ideia patriarcal é propagada em sala de aula. Segundo Jesus ([s.d], p. 3). A escola não apenas absorve diversas representações sociais, mas configura-se como um importante instrumento de veiculação e perpetuação de modelos androcêntricos, nos quais, o homem se mantém no centro das discussões. Ao começar pela forma generalista, na linguagem escolar, onde meninos e meninas são predominante tratados de “meninos”, ou seja, a 35 utilização de um termo masculino para tratar crianças e adolescentes de sexos biologicamente e culturalmente opostos de um sexo em detrimento de outro. Salienta-se que a maioria dos profissionais da educação é do sexo feminino e ainda assim impõem aos alunos que o sexo masculino domina a classe feminina, ao chamar todos da sala de “meninos”. Jesus ([s.d], p. 5) diz que “a maioria dos profissionais em educação são mulheres.” Outra forma encontrada pela educação de propagar o patriarcalismo é encontrada nos livros didáticos, que dificilmente trazem assuntos pertinentes à história dos movimentos feministas e em outros casos históricos omitem alguns fatos. Na análise dos livros didáticos mencionados, apenas o que traz uma abordagem sobre a história cotidiana, apresentam um maior números de figuras ilustrativas, como também se reporta, ainda que de forma resumida, sobre os movimentos feministas no século XIX. Os demais que possuem uma abordagem mais tradicionalistas as representações da mulher além de serem mínimas, quando aparecem fazem referências aos padrões do sexo feminino ligado a papéis domésticos e de pouca importância para a história da humanidade, ou seja, as mulheres aparecem como meras coadjuvantes (JESUS, [s.d], p. 4). Cabe agora traçar um paralelo no que diz respeito à difusão dessa ideologia com os elementos até agora abordados: a religião usa os ensinamentos bíblicos, os quais a família não questiona por ser um livro sagrado, e a educação, os livros didáticos como um forte aliado desse difusor. A partir dos pontos destacados, conclui-se que a educação propaga as ideias patriarcais através de alguns dos seus recursos que são: os mestres e os materiais de divulgação do “saber”, como os livros didáticos. 4 VISÃO DA MULHER MODERNA SOB A ÓTICA PATRIARCAL Para retratar o patriarcalismo na atualidade toma-se como base o livro A Capitoa (2014), da autora Bernadette Lyra, natural de Conceição da Barra, Espírito Santo, formada em Letras pela UFES, mestre em Comunicação e doutora em Cinema. Ela retrata na sua obra a vida de três mulheres, Ana, Luiza e Antônia, que assim como Lúcia e Aurélia estavam mergulhadas numa sociedade patriarcal. A escolha desta obra dá-se pelo fato de ela servir de apoio para estudos recentes, já que se trata de uma obra atual, que embora aborde uma sociedade da era colonial, servirá de base para comprovar as raízes patriarcais abordadas desde o início deste trabalho, salientando o quanto este tema está presente na sociedade brasileira do século XXI, sendo alvo para vários estudos. Nesta obra a autora teve a sensibilidade de relatar o tratamento que era dado às mulheres na época das capitanias hereditárias, reafirmando os aspectos apresentados na era colonial e demonstrando que as marcas patriarcais foram capazes de ultrapassar os séculos perdurando até a contemporaneidade de forma implícita. 36 Na obra, Lyra (2014) retrata a submissão feminina, mostrando que a mulher deveria estar debaixo do julgo masculino tendo sua vida dirigida por ele e tendo que ser educada para proporcionar uma vida agradável e satisfatória dentro e fora dos lares. Era esperado da mulher que admitisse a sua inferioridade perante os homens, por isso era dado a eles total decisão da vida das mesmas, dos seus filhos e dos negócios não permitindo e nem aceitando que a mulher pudesse governar (LYRA, 2014). A Capitoa retrata fielmente a religião como difusora do patriarcalismo, sendo ela a direcionadora da educação feminina, transmitindo às tutoras a maneira como elas deveriam educar as meninas, e os responsáveis por castigá-las publicamente, caso estas se desviassem dos caminhos por ela apontados. Tal educação previa o resguardo da virgindade e o casamento por interesse, que era escolhido pelo patriarca, a fim de garantir às famílias bons negócios no futuro. As filhas de Dom Pedro Correa estavam à missa matinal com a ama. - Vejam meninas – disse a ama apontando. – Veja a herege com o rótulo dos pecados pregados no peito. Isabel, a caçula, tapou a vista com os dedos. - Por quem está dona Isabel a chora?- disse a ama. – Por uma desavergonhada que beijava o rabo ao demo? Tomara que os clérigos a levem a fogueira! - Tenho medo – falou Isabel em soluços. -E tenha! Saibam as meninas que se faltarem à missa aos domingos, aquela criatura do inferno virá puxar-lhes os pés (LYRA, 2014, p. 29). Há dentro de A Capitoa (2014) o dito dos perfis femininos adequados e aqueles que eram marginalizados, a mulher perfeita para se casar é representada por Luiza, já o perfil de mulher marginalizada é representado por, Ana e Antônia, que eram as prostitutas, desta mesma obra e que serviam para o deleite masculino, fazendo com os homens o que as esposas castas e religiosas não faziam. Essa breve análise possibilita perceber que os estudos atuais ainda estão voltados para esse tema, tendo em vista as mudanças temporais ocorridas, nas quais a mulher pode ganhar um novo espaço, porém percebe-se que este espaço torna-se limitado pela mesma sociedade que o concedeu, já que esta carrega em suas entranhas a ideologia patriarcal que condiciona homens e mulheres a vivenciarem os efeitos da mesma que se apresenta de forma cada vez mais implícita. Pode-se notar que mesmo no século XXI quando a tecnologia, a medicina, o comércio e todas as outras áreas passaram por grandes avanços, o comportamento social ainda coloca a mulher como coadjuvante não dando à mesma o seu devido lugar de sujeito social e não indivíduo limitado por sua condição natural. O mesmo avanço social que na pré-história motivou a separação do trabalho por gênero possibilitou que a mulher do século XX e XXI conquistasse muitos avanços referentes ao mercado de trabalho, ambiente no qual elas puderam crescer e se destacar. Mas essas conquistas não foram bem aceitas pela sociedade, pois esta ainda via e vê a mulher como aquela que deve cuidar do seu lar e família. A política de industrialização de bens de consumo atingira a população em sua totalidade, isso abria um mercado de trabalho que possibilitava a existência de mão-de-obra feminina. No entanto, como lembra Venâncio o discurso vigente era de proteção à fragilidade e à moral feminina, mas o que 37 se pretendia era a defesa dos conceitos pré-estabelecidos de que o trabalho feminino poderia “causar um mal estar social” (MESTRE, 2004, p. 77-78). Segundo Rezende e Pereira (s.d) a mulher conquistou vários direitos, como o de trabalhar fora de casa, estudar e se profissionalizar, porém isso não passou de um acúmulo de tarefas, ou seja, ela tem que cumprir todas as tarefas destinadas a ela desde a pré-história, como cuidar da casa, da educação dos filhos, ser uma boa esposa, uma boa filha e ainda se sair bem profissionalmente e caso ela fracasse poderá ser julgada e apontada como incapaz. É perceptível que a jornada de trabalho da mulher multiplicou-se como reflexo das suas conquistas. Tais eventos carregam consigo certas condições, por exemplo: a mulher que opta pela carreira profissional almejando uma posição social melhor é mal vista já por muitos, já que muitas abdicam à maternidade, seja para alcançar seus objetivos profissionais, seja pelo fato de decidirem não se tornarem mães, pois a sociedade julga que para a mulher ser completa é necessário que exerça tal função, naturalmente imposta a ela, fato que em A Capitoa é retratado no capítulo intitulado “A procriação”, demonstrando que este pensamento teve origem nas épocas mais remotas de nossa sociedade. Todas estavam destinadas a casar ou amancebar. E, principalmente, parir. Uma mulher sem filhos era olhada com dó por alguns; por outros, com desprezo. - As estéreis tem o canal entupido. - Elas são como as mulas. O que ninguém admitia era que os maridos e os amantes pudessem disso ter culpa (LYRA, 2014, p. 107). À mulher foi dado o direito de julgar se o seu relacionamento atende as suas necessidades amorosas, sendo que ao perceber o enfraquecimento da sua relação ela pode divorciar-se, porém ela ainda passa a ser vista com desdém. Um pouco antes de esta geração atingir sua maturidade biológica e, portanto, capacidade de se tornar mãe, a ciência anunciava a descoberta da pílula anticoncepcional (final da década de cinqüenta).Então, para estas mulheres, abria-se uma possibilidade mais do que real: escolher ser ou não ser mãe. Se até a geração anterior a contingência de casar levava-as à maternidade e ainda sob determinação da vontade masculina, agora elas podiam decidir exercer ou não tal função. Porém, se em termos orgânicos isso era uma verdade, no aspecto social os fatos eram diferentes. Nas décadas de 1960 e 1970, ainda imperava o conceito de que a maternidade era um exercício mais que obrigatório – quase a única – ou uma das únicas formas de se alcançar felicidade. Claro, desde que sob a proteção do casamento ou ao menos em uniões estáveis. Jaggar e Bordo acreditam que o significado de ser mãe continuava, no século XX, muito parecido ao que era julgado indiscutível nos oitocentos: a maternidade era vista como um "instinto" próprio ao gênero feminino, a reprodutividade inextricavelmente ligada à sexualidade e à sociabilidade, e a capacidade de relacionamento ainda era pautada pela procriação (MESTRE, 2004, p. 125). Com relação à sexualidade, a mulher continua tendo que atender os moldes patriarcais perpetuados que pregam seja a preservação da virgindade, seja inibição do seu prazer e seja a escolha ou consequência de ser mãe antes de casar-se. Em 38 outras palavras, a mulher que não casa virgem, ou que engravida antes de casar-se tem que estar preparada para enfrentar o julgamento social, o mesmo acontece quando a mulher, mesmo casada, busca os prazeres sexuais de forma diferente do convencional. As moças da época de Heide recebiam como orientação explícita que não permitissem liberdades ao namorado, pois ao fazê-lo atrairiam para si a desaprovação social. O olhar do outro estava sempre atento para impedir que as jovens dessem aquilo que ficou convencionado ser um "mau-passo", ou seja, ceder aos prazeres do sexo, quer de forma total com relacionamento sexual, quer na forma de abraços e beijos "roubados" em meio a um baile (MESTRE, 2004, p. 66). É importante ressaltar que nos últimos anos as questões que envolvem a sexualidade feminina estão em evidência, pois a mídia possibilita o fácil acesso a dados e a criação das redes sociais serve como meio de divulgação ou denúncia de fatos relacionados a imposição de comportamentos femininos. Além disso, os maus tratos sexuais sofridos pelas mulheres ganharam um grande espaço na mídia e foram alvos de estudos e pesquisas em diversas áreas o que não acontecia no passado, na época das capitanias, por exemplo, quando Antônia sofria abusos sexuais e esses eram tidos como normais (LYRA, 2014). Scarpati (2013) apresenta que a consequência dos estupros está contida na ideia patriarcal de que a mulher é um ser inferior e como tal, seu corpo pode ser utilizado pelo ser superior, o homem, da maneira que ele entender. Esse tema está tão presente na sociedade que a revista Carta na escola publicou no mês de Maio de 2014 uma reportagem digna de quatro páginas, intitulada “À sombra do vagão: O assédio às mulheres em transportes coletivos e a mácula do espaço público como reprodutor da violência de gênero”, escrita por Carla Cristina Garcia, que relata e debate os dados sobre as pesquisas realizadas sobre o assédio sexual que as mulheres vivenciam nos espaços públicos e os motivos que geram essa violência, alicerçados nos conceitos patriarcais que ainda culpam as mulheres pelos assédios e estupros. A matéria também discute a eficácia da Lei Maria da Penha, que puni os agressores, mas não é capaz de erradicar os atos violentos contra as mulheres e analisa que muitas delas não têm coragem de denunciar por serem desencorajadas pelas autoridades: [...] as vítimas afirmam serem desencorajadas, quando vão a delegacia, a levar a denúncia adiante. Elas são informadas de que “não vai dar em nada”. Além de pertencer à nossa cultura machista tal orientação faz com que milhares de mulheres vítimas de assédio sexual se calem, o que torna os registros da violência imprecisos (GARCIA, 2014, p. 35-36). Considerando todas essas abordagens, fica comprovado o quão contemporânea e importante é a discussão sobre o patriarcalismo, já que como comprovado nesse tópico existem resquícios na sociedade moderna que ainda afetam negativamente a vida das mulheres, que não podem usufruir integralmente de suas conquistas e que não possuem o direito de se comportarem da maneira contrária àquela ditada pelo patriarcado como certa. 39 Ressalta-se aqui a necessidade de aprofundamento dos estudos voltados para a análise de como o processo educativo pode contribuir para desmistificar os ideais patriarcalistas presentes já na infância e que são alimentados pelos difusores persistindo no decorrer das vidas dos homens e mulheres de uma sociedade que precisa, o quanto antes, adequar-se às mudanças necessárias para que de fato o sexo feminino seja respeitado, fazendo com que essa condição não seja estopim de diferenciação de direitos. 5 CONCLUSÃO Concluiu-se que o patriarcalismo é o regime ditado pelo homem, colocando-o como ser superior sobre os demais, principalmente a mulher; teve origem na formação da sociedade primitiva, quando esta por necessidades seletivas, dividiu-se, primeiramente baseada nas tarefas de subsistência e depois com o propósito de perpetuar os bens, dividiu-se em grupos familiares regidos pelo homem. Esse modelo familiar por sua vez passou por diversas modificações, nas quais a figura feminina ficou cada vez mais restringida, tendo assim sua vida delimitada e ditada pelo ser masculino. Diante da necessidade de delimitação deste trabalho, optou-se por analisar as sociedades ocidentais com ênfase na brasileira, já que é nesta que o autor e as obras escolhidas encontram-se. Sendo uma herança dos moldes europeus, a sociedade brasileira transformou o patriarcalismo explícito do colonialismo em implícito da sociedade romântica. O patriarcado conta com o auxílio de algumas instituições sociais que servem como difusoras de seus ideais. Dentre eles, foram ressaltadas a religião, a família e a educação que têm por finalidade transmitir os conceitos patriarcais, validando-os e reafirmando-os. Vale ressaltar que além dessa tarefa, a religião e a família são responsáveis por conduzir, julgar e condenar o comportamento feminino se este não estiver de acordo com as normas impostas. Já a educação, ao contrário da família e religião, não julga e nem condena, porém dita as normas sobre a ótica patriarcalista. A partir dessas observações, houve a necessidade de trazer o tema abordado para a atualidade, com o intuito de perceber se essas ideias ainda permanecem. Conclui-se que, o patriarcado ainda se faz presente na atualidade agindo, porém de maneira implícita, mas perceptível a ponto de ser tema de literaturas, periódicos, imprensa, textos acadêmicos de diversas áreas de conhecimento. 6 REFERÊNCIAS 1. ALMEIDA, A. Alves de. Nova enciclopédia de pesquisa Fase. v. 8. Rio de Janeiro: Fase, s.d, p. 2311-2312. 2. ALVES, Roosenberg Rodrigues. Família patriarcal e nuclear: conceito, características e transformações. 2009. Disponível em<http://pos- 40 historia.historia.ufg.br/uploads/113/original_IISPHist09_RoosembergAlves.pdf > Acesso em 04 Nov. 2013. 3.AMORA, Antonio Soares. Minidicionário da Língua Portuguesa. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 524-525. 4. BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. 2. ed. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. 5. BONIFAZI, E.; DELLAMONICA Umberto. Descobrindo a história: idade antiga e medieval. São Paulo: Ática, 2002, p. 14-25. 6. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984. Disponível em: <http://efchagasufc.files.wordpress.com/2012/04/2-a-origem-da-familia-dapropriedade-privada-e-do-estado.pdf>. Acesso em: 02 Nov. 2013, p. 28-91. 7. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio século XXI escolar: o mini dicionário da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 312, 630. 8. FOLLADOR, Kellen Jacobsen. A mulher na visão do patriarcado brasileiro: uma herança ocidental. 2009. Disponível em<http://200.233.146.122:81/revistadigital/index.php/fatoeversoes/article/vie wFile/3/102> Acesso em: 04 Nov. 2013. 9. FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 50. ed. São Paulo: Global, 2005. 10. ______. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado e desenvolvimento urbano. 15. ed. São Paulo: Global, 2004. 11. GARCIA, Cristina. À sombra do vagão: O assédio às mulheres em transportes coletivos e a mácula de espaço público como reprodutor da violência de gênero. Carta na escola. São Paulo, Confiança, n. 86, p. 34-37, Mai, 2014. 12. JESUS, Sandra Alves Moura de. A mulher e a história: um papel desigual. [s.d]. disponível em: <http://www.fja.edu.br/proj_acad/praxis/documentos/ensaio_03.pdf>. Acesso em 20 Out. 2013. 13. LYRA, Bernadette. A Capitoa. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2014. 14. MESTRE, Marilza Bertassoni Alves. Mulheres do século XX: memórias de trajetórias de vida, suas representações (1936-2000). Curitiba, 2004. Disponível em <http://marilzamestre.com/arquivos/66204_12.pdf> Acesso em: 22 Out. 2013, p. 77-80. 41 15. REZENDE, Elma de Fátima, PEREIRA, Erlândia Silva.os múltiplos papéis da mulher trabalhadora: um olhar do serviço social. [s.d]. Disponível em< http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv3n5/artigo17.pdf> Acesso em 18 Março de 2014. 16. SCARPATI, Arielle Sagrillo. Os mitos de estupro e a (IM)parcialidade jurídica: a percepção de estudantes de direito sobre mulheres vítimas de violência sexual. Vitória, 2013. Disponível em < http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_5228_Scarpati%2c%20A%20%20Disserta%E7%E3oCompleta%20%20Os%20Mitos%20de%20Estupro%20e%20a%20%28im%29parcialidade% 20jur%EDdica.pdf> Acesso em: 10 Mai. 2014. 17. SCHMIDT, Mário Furley. Nova história crítica. São Paulo: Nova Geração, 1999, p. 57-71. 18. SILVA, Glauce Cerqueira Corrêa da et al. A mulher e sua posição na sociedade: da antiguidade aos dias atuais. [s.d]. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v8n2/v8n2a06.pdf>. Acesso em 20 Out. 2013. 19. VIEZZER, Moema. O problema não esta na mulher. São Paulo: Cortez, 1989, p. 95-163. 42 O LIVRO DIDÁTICO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO FEITA PELOS PROFESSORES E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS 6 ADELSON COUTO DE OLIVEIRA7 LEONICE BARBOSA8 RESUMO No intuito de certificar a relevância dos livros didáticos foram necessárias as referências de vários autores especializados na área. Entretanto, o livro não é uma obra que surge do nada e sem intencionalidade, por isso o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi colocado em pauta, sendo ele responsável pela distribuição de obras didáticas nas escolas públicas nacionais, analisou-se o seu funcionamento, e também os modos em que o livro é avaliado, além de relatar sobre todos os responsáveis sobre o desempenho do atual programa e suas incumbências. Mas também, traçou-se um histórico de todos os programas de partilha de obras didáticas sobre responsabilidade do governo federal, sendo assim mostradas suas falhas e incongruências que fizeram cada um deles ter seu funcionamento interrompido. Na perspectiva de colaborar na escolha das obras didáticas, pautou-se um livro ideal de Língua Portuguesa, baseando nas diretrizes apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, pelo fato deles serem portadores de um acervo de regras que devem ser cumpridas pelos professores em todo o território nacional, o que o torna uma vertente para os editores de obras se adequarem no momento de inscreverem um livro do PNLD. PALAVRAS-CHAVE: Livro. Metodologia. Professor. Parâmetros. ABSTRACT Ensuring the relevance of the textbooks was necessary to reference several authors specialized in the area. However, the book is not a work that comes out of nowhere and without intentionality, so the Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) was placed on the agenda, it is responsible for the distribution of textbooks in national public schools, was analyzed its operation, and also the ways in which the book is evaluated, in addition to reporting on all those responsible for the performance of the program and their responsibilities. But also drew up a history of all programs sharing textbooks on responsibility of the federal government, so show your flaws and inconsistencies that made each of them have stopped their operation. From the perspective of collaborating in the selection of textbooks, guided it an ideal book for Portuguese, based on the guidelines set out in the Parâmetros Curriculares 6 Versão resumida doTrabalho de Conclusão de Curso apresentado ao programa de Graduação em Letras da Faculdade Capixaba de Nova Venécia, como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, Inglesa e Respectivas Literaturas. Professora orientadora Leonice Barbosa. 7 Graduado em Letras Português/Inglês e suas Respectivas Literaturas. E-mail: [email protected] 8 Mestranda em Ensino na Educação Básica (CEUNES_UFES) – Especialista em Língua Portuguesa e respectiva Literatura – Professora Orientadora de TCC Multivix – Nova Venécia. 43 Nacionais, the fact of them being in possession of a collection of rules that must be met by teachers across the country, which makes it a shed for publishers of works achieved guided when you enroll a book in PNLD. KEYWORDS: Book. Methodology. Teacher. Parameters. 1 INTRODUÇÃO Para melhorar os recursos de suas aulas o professor tem que se adequar a vários instrumentos. Pode observar que, o principal e fundamental desses é o livro didático que ele utilizará, por meio dele será introduzido todo o conteúdo para o aluno, uma vez que além de necessário ele é obrigatório. Portanto, este trabalho tem como objetivo rever as formas que os professores têm feito uso dos Livros Didáticos, com a intenção de observar se a obra está sendo usada frequentemente, e se esse uso está sendo bem usufruído pelos docentes e alunos. Destarte, percebe que esse instrumento é obrigatório em sala de aula, mas ao professor cabe o trabalho de usufruí-lo de maneira sábia, para não fazer desse meio a sua única forma de aplicação de conteúdos em sala de aula. Doravante, os gestores do PNLD também são frisados aqui, desde as funções creditadas ao Fundo Nacional de Educação, às secretarias estaduais de educação, às municipais, às escolas e aos professores, elencando a importância de cada um deles nesse processo de escolha dos livros didáticos, pois, cada um tem funções específicas, tanto de lançar editais que são seguidos e acompanhados pelas editoras para poderem entrar na concorrência de terem seus livros elegidos, quanto às secretárias municipais que devem promover seminários discutindo sobre a importância das obras didáticas nas escolas, como também interpelar aos pais a importância de devolver os livros. Sabe-se que as normas de ensino nas escolas públicas são instauradas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), com esse ideal, percebe-se que ele também tem que estar presente nas obras didáticas das redes básicas de ensino, portanto, uma linha de características que se fazem presentes nos PCN serão avaliadas em referências aos livros de Língua Portuguesa, contemplando a concepção de ensino por vários autores que frisam a importância de se trabalhar a gramática de uma forma menos cristalizada, e usando mais os gêneros textuais, principalmente aqueles que fazem os discentes refletirem acerca de vários assuntos. Portanto, os meios que envolvem o livro, sua produção, controle e aplicação estarão focalizados nesse projeto, designando afirmações coesas acerca deles, na finalidade de encontrar soluções para os problemas que ainda permeiam o uso da obra didática em sala de aula. 2 LIVRO DIDÁTICO: UM INSTRUMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO OU UMA PRÁTICA ARCAICA? Para alcançar a excelência no ambiente escolar é preciso munir-se de instrumentos que possibilitem a progressão na aprendizagem. O livro didático se adéqua claramente a essa finalidade, como ferramenta necessária à construção do 44 conhecimento pelo aluno. Além disso, é referência para os docentes pela rica seleção de metodologias, contribuindo também com os mais variados temas e em diferentes situações. A partir dessa definição, percebe-se que o professor tem papel fundamental no tocante ao uso do Livro Didático (LD) e na harmonia da prática pedagógica, mas também desempenha a função de fazer as aulas serem produtivas, sendo por meio das obras didáticas ou não. Theobald (apud Talamini, 2009, p. 03) relata que “O professor pode ser tomado na dimensão do intelectual, que investiga, produz e transforma por meio de experiências organizadas, coletivas e situadas, as relações sociais e as relações de saber em que está inserido”. Sendo assim, é notório relatar que o LD é dotado de um pensamento intelectual, filosófico e sociológico de um determinado autor, e que o professor que está usando esse tipo de obra pode ter o mesmo pensamento ou não, e isso é refletido nos alunos, ao momento em que o docente planeja suas aulas e analisa cada parte da literatura no intuito de repassar a ideia que está presente em um LD ou rejeitá-la. Freitag (apud TALAMINI, 2009) afirma que no Brasil os LD deixam a desejar no que tange ao ensino, e que ele é apenas um mero emaranhado de sequências vazias e históricas, e que seguem apenas leis que surgiram desde o início das políticas públicas do livro didático e deixa de fora os ideais de grupos que poderiam contribuir para a formulação de parâmetros, como conselhos de pais, partidos políticos, sindicatos e equipes científicas. O que na visão dele, pode tornar o LD precário e atrapalhar no trabalho do docente, e fere a ideia de que: Assim, pode-se dizer que os livros didáticos se inserem nesse espaço de produção das aulas como um elemento relevante para a definição dos conhecimentos a serem ensinados e aprendidos, não apenas por trazerem, em si mesmos, os conteúdos sob determinada forma, mas também porque os professores e alunos se apropriarão desse artefato, produzindo diferentes resultados do ponto de vista do conhecimento. (TALAMINI, 2009, p. 24). Ademais, a obra didática revela-se como uma ponte de interação e valorização cultural, atestando a diversidade dos povos e a incluindo no campo das diversas classes sociais. Cury (2009, p.120) menciona que “O livro didático representa importante e indispensável mediação para assegurar o direito à cidadania: o direito à educação escolar”. Freitas e Rodrigues seguem esse mesmo raciocínio e enfatizam que: O livro didático faz parte da cultura e da memória visual de muitas gerações e, ao longo de tantas transformações na sociedade, ele ainda possui uma função relevante para a criança, na missão de atuar como mediador na construção do conhecimento. O meio impresso exige atenção, intenção, pausa e concentração para refletir e compreender a mensagem [...]. (FREITAS, RODRIGUES, 2007, p. 1). Entretanto, ao longo da história, o livro didático é avaliado por muitos intelectuais como referência irrelevante, fonte superficial de estudos. Mantovani (2009, p. 16) argumenta que “durante muito tempo, o livro didático foi entendido como uma 45 produção cultural menor e, por conta disso, era desconsiderado por bibliógrafos, educadores e intelectuais de vários setores”, e conclui que: [...] o livro didático é por vezes desvalorizado e, geralmente, desvalorização está relacionada ao imediatismo de seu uso. Por um ele cumpre uma função específica na vida dos indivíduos por intrínseco ao contexto escolar; por outro, torna-se descartável e sem quando está fora de seu contexto original. (MANTOVANI, 2009, p. 17). essa lado, estar valor Choppin também manifesta sua opinião sobre a desvalorização que já se instalara no imaginário social, sobre o valor dos livros didáticos, segundo ele: [...] as investigações históricas sobre os livros didáticos foram esquecidas durante muito tempo e que essa negligência pode ter ocorrido pela ideia de um status secundário dos manuais didáticos em relação a outros livros. No entanto, indica que há cerca de vinte anos essas investigações tiveram um crescimento considerável, reconhecendo os manuais escolares como fundamentais para a memória da educação. (CHOPPIN apud TALAMINI, 2009, p. 14 e 15). Cabe registrar que as obras didáticas continuam sendo de vital importância, mesmo com o mundo atual liberando vários acessos que podem ser mais atraentes que os próprios livros didáticos, como sendo o centro referencial para aplicação das aulas e meio totalmente eficiente no momento de transmissão de conteúdo. É o que Silva e Carvalho relatam [...] com as características atuais da nossa sociedade, onde a comunicação e os inovadores meios tecnológicos são de fácil acesso, o livro didático ainda se constitui no principal recurso de direcionamento de professores e alunos em sua prática pedagógica e atividades escolares. Os professores utilizam o livro didático como principal manual de orientação para sua aula e os alunos são orientados para a realização de suas tarefas (exercícios, pesquisas, estudos), tornando-o roteiro principal ou exclusivo do processo de ensino-aprendizagem, na escola ou em casa. (SILVA E CARVALHO, 2004). O conceito da obra didática como unidade exclusiva de instrumento pedagógico, citado por Freitas e Rodrigues é aplicável e aceitável no meio educacional atual, pois, constata-se que o livro didático ainda é um referencial por excelência. Contudo, o professor deve ir ao encontro de outros meios, ferramentas que podem atribuir conhecimento aos discentes. Essa busca em outros meios se faz presente na metodologia de muitos educadores, e em sua pesquisa acerca do uso das obras didáticas, Cavéquia notou a participação de outros meios. Segundo ela: Podemos inferir, de acordo com a análise de nossos dados, que os professores consideram o trabalho com leitura em sala de aula algo muito importante. Por conta disso, declararam que oferecem textos dos mais variados gêneros, pertencentes a diferentes esferas de circulação social. Uma pesquisa em que se procurasse avaliar a competência leitora desses alunos provavelmente nos forneceria indicadores que validassem ou não a prática desses professores na formação de leitores. No entanto, ficamos, aqui, conforme nosso objetivo de pesquisa, com o indicador de que a maioria dos professores fazia uso frequente de outros materiais de leitura, além do LDP. (CAVÉQUIA, 2011, p. 89). 46 Essa afirmação leva a crer que ao docente é irrelevante apegar-se somente às obras didáticas, e deixar a deriva outros instrumentos e meios capazes de contribuir para um eficiente trabalho pedagógico. Porém, trata-se propor que além da obra didática é relevante a prática de maneiras diferentes para apoiar a atitude instrutiva de ensino. E Pereira comenta que: [...] é inegável que o material didático, em especial o livro, seja um instrumento importante para o trabalho do professor. Por conta disso, o livro tem representado um papel significativo no processo de ensinoaprendizagem. Nos professores, há tanto os que têm nele seu único material de trabalho, quanto os que o utilizam apenas como apoio às suas aulas nas atividades escolares, mas, mesmo assim, não chegam a abrir mão dele. (PEREIRA apud MANTOVANI, 2009, p. 23). Doravante, a presunção de um horizonte para além do livro didático necessita ser amplamente considerado, pois o entendimento e o conhecimento não têm limites e novas janelas se abrem no momento em que o professor e o aluno procuram novas oportunidades de ensino e aprendizagem. Após concluir os dados de sua pesquisa acerca do livro didático, Cavéquia afirma: Quando dizem que “na realidade de nossos alunos, havia necessidade de outros encaminhamentos”, não é possível pressupor a que outros encaminhamentos o professor se refere. No papel social da autoria, temos por pressuposto que as respostas sugeridas no LD podem — e devem — ser questionadas por professor e alunos. Para isso, é necessário que o docente leve os leitores-em-formação a pensarem a leitura autônoma e criticamente [...] (CAVÉQUIA, 2011, p. 87). Entretanto, essas necessidades ou outros encaminhamentos entram em consenso a partir do momento em que, quem está ensinando tem um espaço de conhecimento significativo e que por meio dos livros didáticos consegue avançar no tocante ao ensino. Todavia, nota-se que não há um instrumento que possa substituir a obra didática em sua função primordial, a qual seria a transmissão de conhecimento. Ramanatto disserta que [...] a situação em sala de aula no Brasil não permite que o livro didático seja substituído nas atividades escolares pela palavra do professor nem pelos modernos meios tecnológicos de comunicação, visto que a esse material são atribuídas inúmeras funções, como ser fonte de informações e ser instrumento que permite a comunicação no tempo e espaço. Há que se considerar também que a importância do livro didático está condicionada ao uso que o professor faz dele. Certamente, os resultados serão positivos se o material for empregado corretamente e for explorado de forma a alcançar os objetivos esperados, anulando os pontos fracos do livro e ressaltando os pontos fortes. (RAMANATTO apud MANTOVANI, 2009, p. 24). Conseguintemente, o uso da obra didática pode estar compelido ao estratégico modo de como o docente a trata, uma vez que as concepções apontam que ela é o meio, totalmente, eficaz de transbordar conhecimento ao aluno. Porém, os LD estão sempre em processo de aprimoramento e se tratando de instrumento pedagógico tem acrescido sua gama de conteúdo, e contribuído para o campo de ação do professor. Nesse sentido, Silva e Carvalho comentam que: 47 Desta forma, não podemos desconsiderar as novas funções que o livro didático, acompanhado de variados meios de ensino, podem desempenhar atualmente, notadamente na utilização de novas “narrativas” e novos discursos, como novas abordagens que buscam trabalhar questões atuais de forma crítica e utilizando-se de nova linguagem mais atual e conforme a realidade em que os alunos vivem, sem assumir uma concepção ingênua a respeito do caráter ideológico do livro didático. (SILVA E CARVALHO, 2004). Com isso, percebe-se que a obra didática é o passo inicial para a metodologia e a sequência pedagógica dos educadores, não se trata de uma ferramenta obrigatória de manuseio pelos professores em sala de aula, mas também não é algo descartável que o docente deixará de se munir com ela. Entretanto, trata-se de um começo, um auxílio que é a introdução de todo o trabalho que ele poderá apresentar. Simões et all relatam que: Acreditamos que, sendo o livro didático um auxiliar do professor no processo ensino-aprendizagem, este devia ter clara consciência do seu significado. Todo professor deveria, do ponto de vista pessoal/acadêmico, estabelecer uma definição do significado de livro didático, com o objetivo de entender a sua função, para depois disso iniciar a sua tarefa de educador. Obviamente, devido à dinâmica da procura do saber, essa definição seria, somente, um parâmetro inicial que o professor melhoraria durante a sua vida acadêmica, buscando a plenitude dela. (SIMÕES et all, 2006, p. 73). Levando em consideração a formação profissional do professor, nota-se que, ele precisa ter um conhecimento básico, e no mínimo razoável de qual seria o significado e a utilidade dos LD em sala de aula, mas a falta de ciência do que fazer com a obra didática não se torna o único problema na hora de praticar o uso dela no ambiente educacional, além disso, a grande carga horária que ele possuem faz com que, muitos desses profissionais não tenham tempo para buscar outros meios para se trabalhar no ambiente educacional, ficando a mercê dos livros. Santos e Reinaldo afirmam que: O livro didático de língua portuguesa (LDLP), nesse caso, passa a ser o responsável pela tarefa de estruturar as aulas, já que o professor, devido à sobrecarga de trabalho, sem tempo para preparação e correção das atividades escolares, faz, muitas vezes, uso único e exclusivo desse recurso. (SANTOS E REINALDO, 2009, p. 50). Simões et all (2006) tratam desse ponto, e relatam que na formação profissional do professor deveria ter um foco de como utilizar as obras didáticas e formas que encadeariam aos alunos o interesse pela leitura, mas também, se necessário, ter uma redução no tempo de trabalho dele, além da escola disponibilizar seminários e intercâmbios, tudo no intuito de contribuir com o trabalho eficaz da obra didática em sala de aula. Esse tempo para busca de outros meios de ensino deve ser tirado, pois a produção da obra literária que o professor utiliza deve ser revisada por ele mesmo, porque mesmo os editores seguindo as normas dos editais lançados pela União ele pode não satisfazer e nem suprir as necessidades dos alunos de uma determinada região. Talamini expõe que: 48 Mesmo que o autor do manual apresente explicitamente os conteúdos que ele considera relevantes e a metodologia que ele pensa ser a mais adequada ao desenvolvimento das unidades de ensino, o professor pode desenvolver suas aulas de maneira distinta da proposta elaborada, pois os docentes não “olham” para o manual da mesma forma que o autor “olhou” ao produzi-lo. (TALAMINI, 2009, p. 22). Sendo assim, o conhecimento que o professor tem da disciplina colabora para um melhor resultado na aplicação do conteúdo. Até porque o autor da obra não tem o mesmo conhecimento que o docente possui. Todo o saber e, também o conhecer as necessidades do aluno devem ser advindas da prática anteriormente citada por Simões, (formação profissional e seminários relacionados aos trabalhos com as obras didáticas). Santos e Reinaldo amplificam essa ideia ao comentarem que: Nesse contexto é válido ressaltar que parte dessas ciências não se limita a produzir conhecimentos, mas procura incorporá-los à prática do professor. Essa articulação entre as ciências e a prática docente é estabelecida através da formação inicial e continuada dos professores, já que é principalmente no decorrer de sua formação que os professores entram em contato com as ciências da educação. (SANTOS E REINALDO, 2009, p. 50). Talamini (2009), ao inferir um conceito sobre o uso dos LD por parte dos professores, salienta que a eles é necessária a busca e escolha de obras que se enquadrem nas perspectivas que tiveram no período da formação profissional de cada um, permitindo um trabalho diversificado e coerente com a obra didática, e atribuindo um valor dinâmico a cada LD, seja ele de qualquer disciplina, o que garante sua satisfação no momento do ensino. Simões et all (2006, p. 75), na mesma linha teórica, relatam mais uma vez sobre a questão da formação profissional e dizem que “o livro didático deixará de ser um veículo complementar que auxilia o processo ensino-aprendizagem, passando a ser o veículo principal desse processo. [...] Para isso, é necessário, por parte do professor, o domínio seguro da matéria e bastante sensibilidade crítica dela. Contudo, o uso dos livros didáticos é necessário nas salas de aula, porém os professores devem estar atentos a tudo que aprenderam na formação profissional, ater-se também as necessidades que cada aluno tem, e procurar metodologias que se baseiam em outros instrumentos pedagógicos, além de dispor de tempo extra, no qual pode estudar essas questões, tudo no intuito de progredir bem com a utilização dos LD, contribuindo para o conhecimento por parte dos discentes. 3 O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO COMO POLÍTICA PÚBLICA: CONTEXTO HISTÓRICO E FUNCIONAL Após analisar a importância do livro didático como ferramenta de ensino e o uso que os professores fazem dele, faz-se necessário explanar o contexto histórico do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD - como política pública sob a responsabilidade do Ministério da educação – MEC. Manini em seu artigo acerca dessa política pública relata que (ROJO apud MANINI, 2011) “O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem por objetivos básicos a aquisição e a distribuição, universal e gratuita, de livros didáticos para os alunos das escolas públicas do 49 Ensino Fundamental brasileiro.” Segundo Batista (2003, p. 28) “o livro tornou-se, sobretudo, um dos principais fatores que influenciam o trabalho pedagógico, determinando sua finalidade, definindo o currículo, cristalizando abordagens metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, o cotidiano da sala de aula”. Visando maior integração entre aluno e professor, o governo federal introduz no ambiente escolar, por meio do Ministério da Educação (MEC), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) com o propósito de fazer o professor escolher um livro que mais se enquadre no campo social e intelectual do aluno. Essa tentativa vem desde o início do século XX, onde o governo buscou fundamentar programas que incumbisse aos docentes a oportunidade de optar pelas obras didáticas que melhor sustentaria as suas aulas, (Talamini, 2009). Entretanto, é necessário salientar que o PNLD não foi o primeiro programa de distribuição de livros didáticos pela Federação Brasileira, ou seja, ele é um retoque de outro (s) já existente (s) que se iniciou pela Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) criada pelo decreto-lei nº 1.006/1938, e que era (Filgueiras, 2008, p. 01) “encarregada, entre outras funções, de examinar e autorizar o uso dos livros didáticos que deveriam ser adotados no ensino das escolas pré-primárias, primárias, normais, profissionais e secundárias de toda a República (escolas públicas e privadas).” Pelos critérios da então Comissão Nacional do Livro Didático, estabelecidos pelo citado decreto, os professores têm autonomia para trabalhar o conteúdo dos livros didáticos, desde que optem pelas obras que constam da relação de títulos já avaliados e aprovados pela Comissão, pois o Decreto-Lei nº 1.006/38 responsabilizava a CNLD somente para avaliar os LD, já os educadores escolhiam os livros, (Filgueiras, 2008). As avaliações feitas pela CNLD contavam com 7 (sete) avaliadores. Conforme consta no Decreto Lei n° 1.006/38 (apud FILGUEIRAS, 2008, p. 01), eram “pessoas de notório preparo pedagógico e reconhecimento moral”, além de não poderem possuir vínculos com editoras que participassem do programa. Os avaliadores da Comissão eram divididos em 2 (duas) categorias, uma que envolvia técnicos em normas de Língua Portuguesa e outra que ficava responsável por analisar a parte metodológica, (FILGUEIRAS, 2008). Todavia, a CNLD foi Julgada como um órgão atuando em benefício próprio, uma vez que os representantes das comissões avaliadoras eram vistos exercendo maior poder político, na defesa dos interesses das editoras e colocando o propósito pedagógico de lado. Mantovani (2009, p. 28) destaca que “Houve muitos questionamentos sobre a legitimidade desta comissão e as questões levantadas acabaram por inviabilizar o cumprimento das propostas. Os intelectuais da época atribuíam à comissão uma função mais controladora, de caráter político-ideológico, do que didática”. Sendo assim, feriam os critérios para a análise dos livros didáticos. Entretanto com roteiro a ser seguido, com fichas onde se registravam as notas das categorias objeto do julgamento, que iam de aspectos ortográficos a metodológicos. Os pareceres deveriam também conter diagnósticos referentes ao físico do livro. Aspectos como 50 formato, dimensão e feição gráfica recebiam notas que eram atribuídas por um relator e dois revisores, (Filgueiras, 2008). Filgueiras (2008) observa que nas primeiras avaliações muitas obras foram excluídas porque as editoras infligiram os artigos 21 e 23 do Decreto-lei n° 1.006/38. O artigo 21 referia-se ao uso de linguagem defeituosa, conceitos errados de natureza técnica ou científica e que também não tinham o preço de acordo com o mercado da época, sendo seus valores exorbitantes em relação aos outros exemplares. Já o artigo 23 mencionava a questão dos erros relacionados à ortografia nacional oficial, contidos nos materiais didáticos. Nota-se, portanto, que os pareceres muitas vezes eram superficiais nas análises, excluindo obras sem muitas explicações ou justificativas. Em uma análise preliminar dos pareceres, observou-se que o roteiro de avaliação não era seguido de forma rígida. Os relatórios de avaliação dos livros didáticos eram diferentes uns dos outros. Alguns seguiam o roteiro, outros apenas indicavam quais artigos do Decreto-lei n° 1.006/38 o livro didático infringia, sem maiores esclarecimentos. (FILGUEIRAS, 2008, p. 06). À vista disso, entende-se que essas primeiras avaliações mostravam-se algumas vezes falhas. Segundo Filgueiras (2008, p. 6), “poucos pareceres chegavam a descrever especificamente quais eram os erros nos livros didáticos”. Em seu trabalho mais recente, a autora afirma que: Para cada um dos elementos da ficha, a CNLD deveria atribuir notas que seriam somadas, formando uma única nota em cada divisão. Não poderiam ser autorizados os livros que obtivessem nota 0 em qualquer elemento da divisão valor didático, ou menos de 50% do total de pontos atribuídos, em conjunto, às divisões formato, material e feição gráfica. As avaliações encontradas, no entanto, não seguiam sistematicamente a ficha de julgamento. (FILGUEIRAS, 2013, p. 174). Entretanto, nem todas as avaliações eram feitas desatentamente ou buscando privilegiar o ideal político da época. Havia membros da comissão que detalhavam todos os aspectos das obras, mostrando as infrações e incoerências, além de apresentar as modificações que deveriam serem feitas, (Filgueiras, 2008). Para Filgueiras (2008), o programa começou a repercutir de forma negativa devido às falhas que ele apresentava. Uma das acusações relacionava-se à falta de idoneidade pelo fato de ter na banca avaliadora pessoas que possuíam obras para serem examinadas, mesmo sendo esse tipo de conduta proibida pela CNLD. Além disso, havia por parte da banca avaliadora reclamações quanto à necessidade de contratação de mais funcionários para ajudar nos pareceres dos livros, pois o julgamento das obras estava atrasando muito. Somam-se a esses fatores também os seguintes: Segundo Mantovani (2009, p. 28) “ocorreu em função da inoperância e da ineficiência do processo, que acabava em impasses e frustrações decorrentes: da centralização do poder; do risco da censura; das acusações de especulação comercial e de manipulação política, relacionada com o livro didático.” 51 A comissão permaneceu ativa até o fim da década de 60. Após muitas críticas, a CNLD não suportou a pressão e, como registra Filgueiras (2008, p. 12) “de todo modo, a CNLD continuou existindo, sendo extinta somente em 1969, pela Portaria Ministerial n° 594”. Em meio ao turbilhão de desaprovações que circundava a CNLD, outro programa já vinha em fase de aprimoramento. É notório relatar que, com a extinção da CNLD o problema com a distribuição dos livros didáticos veio a crescer e ficar mais inconstante, porque todos os roteiros criados com a mesma ideia e finalidade da então comissão se constituíram em fracassos indiscutíveis. Segundo Matovani (2009, p. 29) “Por um longo período, a questão do livro didático não foi solucionada. Os entraves estavam relacionados à ineficácia da política governamental e a um novo elemento – a especulação comercial – visto que o livro didático havia se transformado em um lucrativo produto de mercado”. Observa-se que no período de 1966 a 1985 foram quatro programas de diferentes mantenedores. Ainda no ano de 1966, segundo Freitas e Rodrigues (2007) houve um acordo entre o MEC com uma empresa Norte-americana, a United States Agency for International Development9 (USAID). Desta união nasceu a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), a qual se comprometeu a distribuir mais de 51 milhões de livros em um espaço de 3 anos. Porém as críticas vieram fortemente. Criticava-se a passividade do MEC e do Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNEL), porque a USAID era a única responsável, tanto pela edição, quanto pela produção e distribuição das obras didáticas. Para Witzel (apud Mantovani, 2008, p. 30) “Por conta dos resultados lamentáveis do trabalho desenvolvido pela COLTED foi criada uma comissão de inquérito para apurar irregularidades do comércio de livros, principalmente o do livro didático”. Segundo Freitas e Rodrigues (2007), após o rompimento do MEC com a USAID e o fim da COLTED, no ano de 1970 o Instituto Nacional do Livro (INL) tomou a direção da distribuição dos livros didáticos e formulou o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as responsabilidades administrativas e financeiras em correlação à ordenação do material de auxílio escolar. Pouco tempo após, o INL também foi retirado do poder de produção de livros e outra organização se tornou responsável pela distribuição dos livros. Segundo Freitas e Rodrigues (2007) “Cinco anos depois, em 1976, o INL foi extinto e a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) tornou-se responsável pela execução do PLIDEF. Por meio do decreto nº 77.107, de 4/2/76 o governo iniciou a compra dos livros com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.” Ainda houve mais um programa. Freitas (2007) afirma que em 1983 a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) tomou o lugar da FENAME e incorporou vários programas de distribuição de livros, chegando a ressuscitar o PLIDEF. Nesse período houve críticas duras à FAE e já se discutia a possibilidade do professor ter a alternativa de escolher o livro didático com o qual iria trabalhar em sua aula, além de se constatar novos abusos de poder da parte das editoras e do governo. 9 Empresa norte-americana com estatal no Brasil. Durante o período do Regime Militar o Ministério da Educação firmou várias parcerias com ela, inclusive a de distribuição de livros didáticos. 52 Também dessa vez, a política adotada era centralizadora e assistencialista e acabou apresentando os seguintes problemas: dificuldade de distribuição do livro dentro dos prazos previstos, lobbies das empresas e editoras junto aos órgãos estatais responsáveis e autoritarismo implícito na tomada de decisões pelos responsáveis no governo. (WITZEL apud MANTOVANI, 2009, p. 32). Em 1985, com a publicação do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, o atual Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é oficialmente criado e traz em seu bojo várias mudanças, segundo o site do FNDE (2012) “Indicação do livro didático pelos professores; Reutilização do livro [...]; Extensão da oferta aos alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias; Fim da participação financeira dos estados, passando o controle do processo decisório para a FAE.” Porém, criar um novo programa e deixá-lo sob o controle da FAE não foi uma decisão acertada. Freitas e Rodrigues (2007) são categóricas ao afirmarem que o PNLD só se firmou como política pública educacional, ao ser assumido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE). Ter o FNDE como órgão executor do PNLD foi considerado altamente benéfico, pondo fim à oscilação preocupante em todos os programas anteriores. Na visão de Freitas (2007) “só com a extinção da FAE, em 1997, e com a transferência integral da política de execução do PNLD para o FNDE é que se iniciou uma produção e distribuição contínua e massiva de livros didáticos.” Até então, os programas que distribuíam livros didáticos empenhavam-se na garantia da quantidade. Porém com o novo programa, o governo se propõe a estudar a realidade do cotidiano do professor e, acima de tudo, centralizar uma política pública enquadrada nessa realidade. Batista (2003) faz referência ao período de 1990, em que o MEC começa a dar importância ao trabalho do educador e resolve estudar formas de se relacionar com os autores e as editoras para elaborar um novo programa para conduzir o professor à opção de escolha dos livros, iniciando o processo de pesquisa com as partes envolvidas na distribuição dos livros. Após a criação das juntas de análise, foi preciso uma conversa com os responsáveis pelas edições dos livros didáticos. Segundo Mantovani (2009, p. 42, 43) “Em 1995, com a criação de comissões por áreas de conhecimento para elaborar critérios de avaliação, discutindo-os com autores e editores, estava iniciada a avaliação sistemática dos livros, sob a denominação de avaliação pedagógica”. Percebe-se que as análises iniciadas em 1990, quando começaram as negociações com os autores e editoras, surtiram efeito. As mudanças são evidenciadas no primeiro guia do Programa Nacional do Livro Didático distribuído para todas as escolas públicas brasileiras. Segundo Mantovani (2009, p. 45), o guia “apresentava não só os princípios e critérios que nortearam a avaliação como também as resenhas das obras recomendadas para a escolha do professor.” No entanto, os parâmetros apresentados pelo MEC, para a escolha do livro, geraram conflitos entre o ministério e os autores, pois estes consideraram que as justificativas apresentadas por categoria para a exclusão de algumas obras, eram 53 incoerentes. Segundo Batista (2003, p. 31) haviam os “Excluídos; recomendados; Recomendados com ressalvas; Recomendados”. Não Mesmo com as especificações do primeiro Guia do livro didático recebendo desaprovação dos editores, os docentes usufruíram diretamente das obras e delas fizeram bom uso. Batista (2003) comenta que, com base no Guia, os professores tiveram noção de quais seriam os melhores livros que iriam se encaixar na sua metodologia de trabalho e que iriam atender às especificações do projeto políticopedagógico da escola. Considerando as violentas críticas lançadas pelas editoras, o MEC flexibiliza as regras e permite a reapresentação dos livros classificados na categoria “não recomendados” e “excluídos”. De acordo com Mantovani (2009, p. 45) “Nesse programa foram mantidas as estratégias e os critérios de avaliação e também a divulgação dos resultados. Além disso, as obras excluídas ou não recomendadas puderam ser reinscritas.” As alterações feitas no programa de atendendo aos pedidos dos editores, também facilitou o trabalho dos professores. Batista (2003, p33) “o MEC [...] Publicou, então, num único volume, o Guia, contendo resenhas dos livros recomendados com distinção, simplesmente recomendados ou recomendados com ressalvas. Os livros não recomendados foram apenas relacionados ao final do Guia.” Apesar de o programa sofrer diversas alterações, a primeira distribuição dos livros diretamente avaliados pela comissão do PNLD e escolhidos pelos professores aconteceu exatamente treze anos após a criação do programa, pelo Decreto nº 91.542, de 19/8/85, segundo consta no Balanço Geral da União: A partir de 1998, o PNLD passou a distribuir livros a todos os alunos do Ensino Fundamental e em 1999 realizou o 1º controle de qualidade nos livros. No ano de 2000, pela primeira vez, três meses antes do início do ano letivo de 2001 foram entregues os livros selecionados e escolhidos pelos professores de 1ª a 4ª séries, bem como a complementação de 5ª a 8ª séries. (BRASIL, 2002, p. 130). Em 1999, com o início da realização do controle de qualidade do livro didático, houve alterações significativas, visando ao êxito metodológico, exigindo-se maior rigor no campo da coesão e da coerência. Eliminou-se a categoria dos não recomendados e, de modo articulado, acrescentaram-se aos critérios de exclusão, a incorreção e incoerência metodológicas possibilitando, desse modo, a seleção de livros cuja abordagem metodológica favorecesse apropriadamente o desenvolvimento das competências cognitivas básicas (como a compreensão, a memorização, a análise, a síntese, a formulação de hipóteses e o planejamento). (BATISTA, 2003, p. 34). Outras alterações foram aplicadas ao guia do programa de distribuição dos livros no ano de 2004, que já haviam sido indicadas no programa de 2002 devido a quatro problemas, Segundo Peluso (apud Mantovani, 2009, p. 62) são eles: “Inscrição de livros duplicados do mesmo autor [...]; Dificuldade de avaliar uma coleção em seu conjunto [...]; Descontinuidade do processo docente por conta da categorização dos 54 livros e não das coleções; Manutenção das mesmas falhas entre dois programas consecutivos”. As alterações implantadas objetivando a superação dos problemas detectados contribuíram significativamente para a melhoria do programa. Ou seja, analisando os quatro pontos, definiu-se que, ao invés de eliminar somente um livro, causando “prejuízo” a toda a coleção, permitiu-se que ele pudesse ser reinscrito no próximo guia, para evitar que na reprovação de uma obra toda a coletânea fosse desligada do programa. Porém, como afirma Mantovani (2009) para reinscrever a obra no programa, ela deveria ser corrigida conforme as exigências da comissão avaliadora, antes de ser reapresentada. Nota-se que todas as normatizações causaram impactos positivos na qualidade dos livros e, consequentemente, nas opções de obras para o docente escolher, pois este pode contar com livros didáticos diversos, novos autores e novas coleções, além de ter um instrumento mais adequado à sua metodologia de trabalho. Segundo Batista (2003, p. 38) “Constata-se que o PNLD demarcou padrões de melhor qualidade para os livros didáticos brasileiros. A simples inscrição de livros no PNLD deixou de significar que estes seriam, automaticamente, oferecidos às escolas para escolha”. Todo o processo histórico do PNLD o consolida como uma política pública sólida e coerente, capaz de atender às demandas, pelo menos teoricamente. O PNLD, enfim, por meio dos debates que se seguiram à implementação do processo de avaliação de livros didáticos, envolveu um número crescente de segmentos sociais no debate educacional, construindo, ao fim de seus primeiros cinco anos, um consenso em torno de seu papel fundamental para construir, com a comunidade escolar e universitária e com as editoras envolvidas no esforço de melhoria dos materiais didáticos, um novo padrão de qualidade para o livro escolar. (BATISTA, 2003, p. 39). Vale mencionar que o funcionamento do PNLD em 1998, onde os professores realmente tiveram participação direta na escolha do LD, incluiu somente o ensino fundamental, ou seja, as turmas de 1ª a 8ª séries. No entanto, em 2004, começou a inclusão de livros para a etapa final de estudos da educação básica: o ensino médio, denominado Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, distribuindo livros no ano de 2005, e no ano de 2007 foi distribuído o primeiro Guia do Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), o qual teve o nome alterado juntamente com a modalidade de ensino no ano de 2010, passando a ser nomeado Programa Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, (Brasil, 2013) Segundo Talamini (2009), a partir da data em que o programa passou a funcionar ele tem sofrido várias alterações, e tudo isso para tentar impulsionar um Guia com resumos que estejam nos certames do campo pedagógico de determinado docente. No entanto, as desaprovações partem dos professores, por ainda não entenderem bem como os critérios são aplicados, chegando mesmo a desconfiar da idoneidade do programa do livro didático atual. Mantovani usou a pesquisa de Val em seu trabalho, e nela professores chegaram a responder que: “A gente sempre duvidava sobre quem caracterizava aqueles livros com aquelas estrelas. Quem está falando? É o governo? Qual interesse? 55 Interesse em se ter uma educação de qualidade? Interesse econômico? Colocam o de 3 estrelas para melhor? Ou para ser o mais viável financeiramente?” “O Guia tem um fundo comercial e de propaganda e não retrata bem o que são os livros.” “Escolha fora de sala de aula não é escolha; obras ruins para os especialistas podem ser as melhores para a escola.” (VAL apud MANTOVANI, 2009, p. 76 e 77). Sendo assim, para esses professores questionados, o PNLD passa a ser uma vitrine para as editoras, que não têm se importado com a qualidade e utilidade dos LD, e não permite que os docentes participem desde o princípio da avaliação e escolha, colocando aos organizadores do programa uma falta de conduta ética e prejudicando o trabalho de quem conhece e vivencia a realidade e as dificuldades que a educação tem passado, por falta de um direcionamento de obras em que a opinião dos educadores seja levada em consideração. Várias críticas têm sido feitas, seja por professores, seja pelas Editoras, sobre o processo de avaliação realizado pelos especialistas, consultores contratados pelo MEC. Entre os motivos apontados pelas empresas do setor, um refere-se ao fato dos especialistas excluírem do Guia algumas obras de vendagem garantida no mercado, isto é, títulos que são reconhecidamente preferidos por um número significativo de professores e que deixam de compor as listas para a escolha. Os professores por sua vez, em relação à mesma situação, dizem se sentir privados de sua decisão de escolha de obras que consideram importantes para a prática escolar e que ficam excluídas do Guia pela avaliação dos especialistas. (TALAMINI, 2009, p. 9). As críticas ainda continuam, e chegam ao ponto de incoerência dos editais do programa. Pois num determinado edital uma obra é aprovada e recebe três estrelas, ou seja, está em total acordo com as diretrizes de ensino. No entanto, essa mesma obra didática pode ser facilmente reprovada pela mesma comissão avaliadora em outra avaliação para um ano posterior. O problema não está focado no caso da obra ser validada ou invalidada, a questão se fundamenta no fato de que a alteração de um edital para o outro são tidas como genéricas e, também são insuficientemente usadas pela comissão avaliadora, ou seja, eles são praticamente os mesmos (MANTOVANI, 2009). Sampaio e Carvalho também notaram essa incongruência. As distorções e incoerências são verificadas entre um Programa e outro, quando obras aprovadas com louvor em uma edição do PNLD são reprovadas no Programa seguinte sem que nenhum novo critério de avaliação tenha sido apresentado no edital subsequente. Após três anos utilizando um material aprovado com distinção, por exemplo, os professores recebem a notícia de que aquele livro foi reprovado e já não pode mais ser utilizado. (SAMPAIO E CARVALHO, 2012, p. 04). As incoerências levam ao conceito de que o programa do livro didático pode danificar o conceito da obra didática como sendo relevante e eficaz, além de meio de difusão de conteúdo e valores, a partir do momento em que há divergência e conflitos em avaliações feitas pela comissão. Se por um lado se atribui uma grande importância a esse recurso de ensino, reconhecendo-o como fundamental nas instituições de ensino, principalmente devido à precariedade de recursos destinados às escolas 56 públicas, por outro lado são freqüentes as opiniões de pesquisadores e professores que apontam o livro como um vilão para o ensino, uma vez que traz - em seu conteúdo e forma - ideologias, preconceitos, incoerências teórico-metodológicas. (TALAMINI, 2009, p. 10). O prazo de validade do livro é outra parte que recebe julgamento negativo, segundo Carvalho e Sampaio (2012) o período de utilidade de três anos é de interesse direto das editoras, as quais saem ganhando com a venda exorbitante de obras didáticas, além de ferir o ideal que os LD escolhidos pelas comissões são coesos e coerentes para se trabalhar em salas de aula, o espaço trienal não daria margens para um LD sair das normas exigidas pelos editais anteriormente lançados. É importante ressaltar que na perspectiva aqui defendida, essa provisoriedade ou instabilidade dos manuais didáticos não é tomada como um problema, mas como uma condição deste objeto da cultura escolar, cuja natureza é diferente da de outras obras. Por outro lado, a atualização das informações e das idéias pedagógicas é um dos critérios utilizados na avaliação dos livros didáticos dentro do PNLD e, portanto, estabeleceu-se uma dinâmica própria de elaboração/produção/circulação, de conservação/substituição dos livros, que é regulada tanto pelos critérios de avaliação como pelos períodos ou intervalos em que os editais são abertos, os Guias são divulgados e as escolhas ocorrem. (TALAMINI, 2009, p. 11). Portanto, o PNLD sendo o programa principal de distribuição de obras didáticas do Brasil se torna relevante por incluir instrumento de auxílio aos docentes no momento de executar suas aulas, e também de apoio aos alunos para ter acompanhamento significativo dos conteúdos das aulas. Entretanto, ele recebe algumas desaprovações de uns especialistas, pois esses relatam ainda haver jogo de parceiros, no qual o governo lança editais de acordo com as propostas das editoras que lucram quantias altas ao venderem livros para o programa. Além disso, há queixas de alguns professores que participam somente do último momento de escolha dos LD, e relatam a falta da opinião deles na proposta de um livro eficiente para se aplicar nas escolas em que eles exercem seu trabalho. 4 ENTRE O LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA, O PCN DE LINGUA PORTUGUESA E O TRABALHO COM A GRAMÁTICA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES As instituições de ensino das redes públicas brasileiras contam com parâmetros curriculares que devem ser seguidos pelos docentes no momento de ministrar suas aulas, eles são chamados de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). São padrões, tanto para os professores quanto para as editoras que inscrevem seus materiais no PNLD, com o intuito do contribuir para uma didática eficiente, isto é, proporcionar aos docentes variados meios de executarem suas aulas. Neste tópico, pretende-se abordar a influência dos PCN nas obras didáticas de Língua Portuguesa da educação básica. A introdução dos PCN nas escolas públicas aconteceu em 1998, e causou impacto no ambiente educacional da educação básica, pois a partir desse momento os educadores puderam ter contato com essa preciosa diretriz, e desta forma puderam rever seus meios metodológicos, podendo assim, buscar melhorias e efetivar um ensino realmente satisfatório aos alunos. “Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao reconhecerem a complexidade da prática educativa, buscam auxiliar o professor na 57 sua tarefa de assumir, como profissional, o lugar que lhe cabe pela responsabilidade e importância no processo de formação do povo brasileiro”, (BRASIL, 1997, p. 10). Entretanto, trabalhos acerca de diretrizes e currículos para se estabelecer no ambiente educacional das escolas públicas já vinham sendo estudados em longo prazo, e contavam com vários profissionais da área da educação de todo o país, pesquisas no ambiente educacional em toda a União, como também relatos no âmbito escolar em outras nações, e tudo para a então fundamentação dos PCN. Segundo consta na introdução dos parâmetros (1997, 15) “O processo de elaboração dos PCN teve início a partir do estudo de propostas curriculares de Estados e Municípios brasileiros, da análise realizada pela Fundação Carlos Chagas sobre os currículos oficiais e do contato com informações relativas a experiências de outros países”. A partir desses estudos criaram parâmetros específicos para cada disciplina, fica evidente que o ensino de Língua Portuguesa nas escolas tem como base a inclusão social, o repasse do saber, o incentivo ao fim do preconceito, a formação para a cidadania, mas, acima de tudo, prover o professor para ser eficiente no momento de aplicar suas aulas. De acordo com o PCN de LP (2001, p. 13) “A finalidade dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa é constituir-se em referência para as discussões curriculares da área – em curso há vários anos – e contribuir com técnicos e professores no processo de revisão e elaboração de propostas didáticas”. Esse princípio também se concretiza no Guia PNLD de Língua Portuguesa (2013, p. 7). “O acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos direitos fundamentais do cidadão. A educação escolar, como instrumento de formação integral dos alunos, [...] ao pleno desenvolvimento do educando, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho”. Sendo assim, nota-se que os valores propostos pelos PCN de Língua Portuguesa estão presentes no Guia PNLD da mesma disciplina. Contudo, é preciso analisar as propostas e as prioridades linguísticas que os dois lançam, e saber se ainda caminham em sintonia. O Guia de LP de 2013 define padrões a serem alcançados com os livros que o ele lança. Alguns deles são incumbir ao aluno o desenvolvimento da linguagem escrita e oral, ter a capacidade de reconhecer os gêneros literários, domínio das variações lingüísticas no Brasil, e a busca por uma boa produção textual, (Brasil, 2013). Os PCNs de LP também tratam dessas questões com prioridade. Eles ditam os seguintes princípios para serem alcançados pelos alunos: Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do discurso; Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio: [...] Conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, procurando combater o preconceito linguístico; Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais que se expressem por meio de outras variedades; 58 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise linguística para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica. (BRASIL, 2001, P 33). Olhando nessa ótica, o PNLD e os PCN de LP necessitam estarem em acordo um com outro. Sendo assim, no momento de escolher as obras que irão preencher os Guias, a comissão deve estar ligada às propostas didático-pedagógicas e dessa forma optar por obras que se relacionam diretamente com o os parâmetros curriculares. Ao analisar a relação dos PCN com os Guias PNLD de LP, Manini (2009) observou que “a sugestão didático-pedagógica do PNLD é coerente com o que propõem os PCN: partir das situações de uso da língua, para a análise e a reflexão linguística, conforme as necessidades das atividades de leitura, produção de texto e oralidade”. Entretanto, Sposito (apud Mantovani, 2009, p. 72 e 73), critica tal relação de dependência, argumentando que, tanto as diretrizes curriculares quanto os PCN são fontes de direcionamento e sugestão sem caráter obrigatório, na visão dela Não há essa linearidade e o fato dela não existir não é causal, é intencional. As diretrizes e os parâmetros como os próprios nomes assim os definem não são de obrigatoriedade de adoção pela Rede. [...] Pode haver obras que seguem os PCNs e são excluídas e obras que rejeitam completamente os parâmetros e as diretrizes e são aprovadas. (SPOSITO apud MANTOVANI, 2009, p. 72 e 73). Todavia, passando pelo pressuposto de que o PNLD e os PCN estão vinculados e adequados e a interação é capaz de contribuir para a formação de um livro eficiente para os professores e, na perspectiva de uma obra capaz de munir os alunos de conhecimento específico na disciplina de português, o guia de LP informa que: Para alcançar esses objetivos, o livro didático deve veicular informação correta, precisa, adequada e atualizada, procurando assegurar que os componentes curriculares [grifos meus] e as áreas de conhecimento articulem seus conteúdos, a partir da abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que contemplem diferentes dimensões da vida humana, tanto na esfera individual, quanto global, regional e local. (BRASIL, 2013, p. 9). É notório que muito se deve levar em consideração na hora de elaborar o LDP, assegurando o bom funcionamento nas diversas camadas sociais. Cavéquia (2011) relata que no momento de organizar um LDP os autores devem ter uma função social definida para cada gênero, levando em conta o nível de ensino em que ele ser inserido. Entretanto, é necessário avaliar o teor da gramática no LDP, que vem sendo muito criticado durante anos por ainda induzir ao ensino de normas complicadas que, diretamente, influenciam na metodologia e causam confusões na mente do aluno, principalmente no momento em que o professor faz a apresentação de tantos termos complexos pertencentes a ela, e isso de forma isolada, que leva até mesmo ao constrangimento de quem está começando a aprendê-la. Neves (2010, p. 09) diz que “A proposta é fugir da absurda visão de que a gramática constitui um conjunto 59 de esquemas isolado e autônomo, a que o aluno tem de simplesmente ser apresentado, para irrefletidamente se entregar à sua catalogação”. Sendo assim, a prática da gramática que se apresenta nos LDP deve ter como finalidade contribuir com o aprendizado contextualizado de cada parte. O convívio com a linguagem pressupõe a adoção da gramática aplicada ao contexto, por ela se fazer necessária para a formação do aluno. Assim, não se justifica tratar o ensino gramatical desarticulado das práticas de linguagem. É o caso, por exemplo, da gramática que, ensinada de forma descontextualizada, tornou-se emblemática de um conteúdo estritamente escolar, [...] discute-se se há ou não necessidade de ensinar gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão verdadeira é o que, para que e como ensiná-la. (BRASIL, 2001, p. 28). Após esses conceitos cabe investigar como o ensino de Língua Portuguesa está sendo introduzido nas escolas, como o livro está mediando os docentes e, acima de tudo, como os educadores estão fazendo uso deles. E, ainda, se realmente os LP estão suprindo a carência dos professores em relação ao ensino e a aprendizagem que necessitam estar focados nos parâmetros dos PCN. Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. É o que aqui se chama de competência linguística e estilística. Isso, por um lado, coloca e evidencia as virtualidades das línguas humanas: o fato de que são instrumentos flexíveis que permitem referir o mundo de diferentes formas e perspectivas; por outro, adverte contra uma concepção de língua como sistema homogêneo, dominado ativa e passivamente por toda a comunidade que o utiliza. Sobre o desenvolvimento da competência discursiva, deve a escola organizar as atividades curriculares relativas ao ensino-aprendizagem da língua e da linguagem. (BRASIL, 2001, p. 23). Sendo assim, na questão pedagógica do ensinar gramática, tem sucesso quando ela vem junto aos conteúdos linguísticos, e de uma metodologia que busque a cada instante rever para o aluno os conceitos de texto e gênero, com a plena intenção de transmitir a ele os conceitos pertinentes ao ciclo de ensino. Evidenciado pelo Guia PNLD de LP de 2014. [...] a metodologia é transmissiva quando a proposta de ensino acredita que a aprendizagem de um determinado conteúdo deve dar-se como assimilação, pelo aluno, de informações, noções e conceitos, organizados logicamente pelo professor e/ou pelos materiais didáticos adotados. Este é o caso do tipo de ensino de gramática que ocorre por meio da definição de conceitos e regras, seguida de exemplos e exercícios de aplicação. Bons resultados nesse tipo de abordagem exigem uma organização rigorosamente lógica da matéria e, sobretudo, uma adequada transposição didática de informações, noções e conceitos que leve em conta o patamar de conhecimentos e as possibilidades dos alunos. (BRASIL, 2013, p. 24). Portanto os autores citados se fixam no fato primordial de ensino da gramática, por meio da introdução de gêneros linguísticos, os quais facilitam a forma de apresentação da mesma aos alunos, e ainda se mantêm nos padrões dos PCN de LP. Nesse sentido Neves (2010, p. 98) afirma que “No fechamento destas reflexões, 60 cabe registrar a necessidade de atenção aos gêneros no tratamento da língua portuguesa nas escolas.” Com isso, é ponderoso avaliar a necessidade de haver nos LDP a intencionalidade de criar um leitor crítico, capaz de interagir e identificar os mais variados gêneros discursivos. É por meio da proposta apresentada no livro que os professores podem explorar melhor as metodologias e contribuir para formar cidadãos autônomos, pessoas independentes. Posicionar-se criticamente (ter uma atitude responsiva ativa crítica) frente a uma leitura, seja ela da Palavra ou a do Mundo, parece-nos ser o ponto central da formação do leitor pretendido. Afinal, para constituir sujeitos, o professor deve ser como um arquiteto cognitivo, que proporciona por meio das estratégias metodológicas a construção do aprendizado pelo próprio aluno de forma autônoma e integrada. Desse modo, torna-se possível ao indivíduo ter um posicionamento crítico perante as leituras que fizer. (CAVÉQUIA, 2001, p. 61). No entanto, a didática de fazer o aluno raciocinar e criar seu próprio contexto de mundo está ausente no LDP. E alguns livros ainda vêm com um ensino arcaico, uma metodologia ultrapassada que segue a linha das repetições e fica distante o ideal de formar um cidadão crítico. Os conceitos ainda fazem parte de enunciados vagos e sem caráter intelectual, não produz aos alunos a vontade de pensar, é um emaranhado de definições no mínimo confusas, atrapalhando o progresso de elaboração de conhecimento pessoal, Neves (2010). Porquanto, em um dos seus primeiros trabalhos acerca de análise do LDP, em 2002, Brakling constatou algumas incoerências nas obras, levando o ensino padronizado na mesmice. Em um dos livros aprovados pela comissão avaliadora do PNLD notou No que se refere aos aspectos discursivos selecionados, verifica-se a presença – na definição apresentada – de elementos da estrutura narrativa, apenas: fatos, personagens, tempo e lugar. Embora haja uma indicação de que os fatos devem ser organizados numa sequência que preveja uma relação de causa e efeito, não há qualquer menção à estrutura propriamente do texto, quer dizer, à forma como esses elementos comporão a narrativa, organizados nos segmentos introdutores de características do cenário da narrativa, apresentação da situação inicial da mesma, introdução do problema/situação de conflitos vividos pelas personagens, que rompe com o equilíbrio inicial, resolução do problema e constituição de um novo equilíbrio, desfecho. (BRAKLING, 2003, p. 234). Provavelmente essa análise feita por Brakling, evidencia a falha na metodologia nos LDP daquele ano, pois a mesma não propiciou ao discente a capacidade de levar o conhecimento de gêneros além do que o livro lhe dá, que na verdade é limitada. E tendo em mente que os gêneros estão além do que um pequeno texto no LDP traz e acima das perguntas e respostas que ele releva, nota-se que a concepção do conhecimento além da sala de aula é coerente e deve estar nos Guias de LDP para serem coerentes aos PCN. Tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma sequência subjacente de textos) definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais...). Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 61 sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais [...] Como tal os gêneros são formas textuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas. O domínio discursivo constitui muito mais uma “esfera da atividade humana” no sentido bakhtiniano do termo [...] (MARCUSCHI apud MADEIRA, 20012, p. 33). Com o mesmo propósito de Marcuschi, chega-se ao ponto em que a obra didática deve trazer estruturas competentes para o aluno, para a formação e participação dele nas aulas. Contando que, o ensino de Língua Portuguesa deixa de ser algo enfadonho e maçante, contribuindo para a satisfação do aluno, o que, consequentemente, gera o interesse. Assim posto, cabe-nos ressaltar que, para se elaborar um LDP, muito mais do que conhecimentos teóricos e práticos acerca de ensino e aprendizagem de língua/linguagem, é necessário dispor de uma afinada capacidade de estabelecer relações entre os signos aos quais se tem acesso. Tendo isso por princípio básico, o autor deve se lançar à tarefa de organizar os conteúdos e os objetivos, encadeando as ideias de modo a formar um tecido, uma trama bem feita — a tecitura do LDP. É preciso, ainda, pressupor os leitores/usuários/destinatários do material didático (professores e alunos) e idealizá-los de modo que seja possível propor um trabalho que, além das exigências de ensino de linguagem, seja-lhes agradável de ser lido/utilizado. (CAVÉQUIA, 2008, p. 45). Essa proposta de Cavéquia deve ser exibida nos LDP, pois se trata um paramento mencionado pelos PCN (2001, p. 37) “O texto produzido pelo aluno, seja oral ou escrito, permite identificar recursos linguísticos que ele já domina e os que precisa aprender a dominar, indicando quais conteúdos precisam ser tematizados, articulando-se às práticas de escuta e leitura e de análise linguística. Portanto, os LDP são portadores dos mais variados tipos de gêneros textuais, eles são responsáveis pela reflexão que os alunos terão, mas também articulam a precisão de interesse deles em relação ao assunto, o que contribui para o processo de absorção de conteúdo, dando a quem está participando das aulas uma leitura diferente do que se tem contato fora do ambiente escolar. No entanto, Neves observa que há um gênero que não é muito trabalhado nos LD e, consequentemente, nas aulas. Obviamente, não é apenas do modo a ser aqui exemplificado que se provoca reflexão em sala de aula, mas vou dar o exemplo significativo desse tipo de oportunidade, que é o trabalho com o humor. Pode até parecer estranho dizer isso, mas as piadas são textos particularmente provocadores de reflexão, instigantes, e por isso mesmo, de boa escolha para o trabalho com a linguagem nas escolas. (NEVES, 2010, p. 173). Os LDP até trazem algo direcionado aos gêneros humorísticos, mas não suficiente, até porque os meios em que se buscam textos para se implantar nas obras são diversificados, mas a intencionalidade de se trabalhar o humor fica a deriva e outros gêneros têm a preferência na hora de se elaborar uma obra didática. Os conteúdos com cunho humorístico aparecem nas charges e quadrinhos, mas poucas vezes. Cavéquia (2011, p. 46) diz que “Atualmente, a maneira de obter os textos para compor o corpus do LDP se dá realizando leituras nas mais variadas fontes: livros de literatura [...], materiais de publicidade, enfim, em um universo ricamente vasto e diversificado”. 62 Nesse sentido, também se revela a informação de Madeira (2012, p. 39) ao comentar que “Percebe-se que há certa preocupação de diversificar a escrita, de criar algumas situações autênticas de comunicação para conduzir o aluno ao domínio do gênero textual e o ambiente escolar também é próprio para isso”. E Neves enfatiza que: E se extrapolarmos o nível construcional e pensarmos, de modo geral, no próprio processo de interação linguística, também podemos compreender de que modo rupturas que, no uso comum, poderiam ser consideradas falhas na comunicação – enganos, distrações ou imprecisões – podem ser utilizadas para provocar riso. Assim [...] ilustrariam, se fossem narrativas de fato real, uma falha decorrente de mau ajustamento entre o universo de referência (o conhecimento de mundo) do falante e do ouvinte, mas, no gênero em que se encontram, fazem rir. (NEVES, 2010, p. 177). Portanto, os alunos, que na maioria das vezes, interessam-se por gêneros humorísticos, estarão bem servidos no quesito, quando os LDP trouxerem um trabalho melhor preparado com as piadas. No princípio serão instigados a se aprofundarem na investigação liguística e gramatical da mesma, conhecendo o ambiente em que elas podem ser empregadas e contribuindo para a conceituação das partículas gramaticais, análise sintática, semântica, etc. e sem perder o foco previsto no PCN de LP. As possibilidades de aprendizagem dos alunos colocam limites claros para o tratamento que dado conteúdo deve receber. Uma abordagem pode não esgotar as possibilidades de exploração do conhecimento priorizado, o que torna possível retomá-lo com diferentes etapas do processo aprendizagem a partir de tratamentos diferenciados – grau de aprofundamento, relações estabelecidas. (BRASIL, 2001, p. 38). Sendo assim, a concepção de Neves (2010) é fugir da absurda visão que a gramática deve ser repassada de forma cristalizada, sem causar uma reflexão contribuir diretamente para o campo cognitivo do aluno, porque esse quase sempre decora os conteúdos com a intenção de fazer uma boa prova, e no mais não há reflexão, fica ausente o aprendizado e acontecem falhas grotescas no momento de construção de conhecimento, portanto, qualquer gênero que convide o discente a participar da aula é suficiente para o crescimento do seu campo cognitivo direcionado ao conhecimento da gramática normativa. Cavéquia observou que: [...] o caminho percorrido no trabalho de autoria levou-me a aprendizagens singulares e enriquecedoras. Nestas reminiscências é possível concluir que se tornou claro, à medida que o tempo foi passando, que o ideal de um profissional autor de LDs consiste em um sujeito imbuído de um repertório textual diverso, pois a matéria-prima do LDP é constituída de variados textos, por meio dos quais perpassam as mais diversas ideologias. Portanto, vivenciar múltiplas leituras, percebendo as “vozes” que as perpassam, consiste em um fator inerente ao processo de constituição do autor. (CAVÉQUIA, 2011, p; 45). No Guia de LP para o ano de 2014 (2013) é efetivo o trabalho excessivo com a leitura, as resenhas apresentadas neles procuram estabelecer ao aluno a tarefa de produzir bons textos, contribuir para a oralidade e melhorar o conhecimento 63 linguístico, contribuindo para o processo de reflexão em relação aos mais variados assuntos. É, a partir do que os alunos conseguem intuir nesse trabalho epilinguístico, tanto sobre textos que produzem como sobre os textos que escutam ou leem, que poderão falar e discutir sobre a linguagem, registrando e organizando essas intuições: uma atividade metalinguística, que envolve a descrição dos aspectos observados por meio da categorização e tratamento sistemático dos diferentes conhecimentos construídos. (BRASIL, 2001, p. 28). Portanto, os editais lançados pelo PNLD mesmo se alterando minimamente de um edital para outro, vêm se alterando a procura de melhorar, no intuito de contribuir para que o docente possa executar um bom serviço, quando mediado pelos LDP, em sala de aula. Entretanto, é visto que há muito que aprimorar, para que os PCN estejam introduzidos de forma concreta nos Guias PNLD de LP. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Tendo em vista do trabalho e seus ideais iniciais, houve a descrição do uso do material didático fundamental que é o livro didático, procurou-se fundamentação teórica na perspectiva de elaborar respostas para justificar as hipóteses, como também concluir os objetivos principais do mesmo, os quais estão diretamente ligados ao funcionamento do PNLD, a introdução do livro didático com fonte irrepreensível de repasse de conteúdo e também o uso dos PCN na elaboração dos LD. Portanto, em primeira instância, conclui-se que o livro didático, é sim, muito utilizado pelos professores, porém, mais do que deveria ser, uma vez que os docentes devem estar atentos a tantos outros meios que podem servir como ponte integradora de conteúdo aos alunos. Conseguintemente, os livros lançados pelo PNLD deveriam ficar ausentes de falhas, entretanto, ele ainda é falho em alguns aspectos, porque alguns livros são excluídos sem ao menos o professor ver se ele poderia suprir as necessidades da escola onde ele trabalha, pois são eliminados pela comissão avaliadora escolhida pelo FNDE. E por fim, os PCN são compostos de técnicas de ensino coerente, e que respeitam os trabalhos com os mais variados tipos de gêneros textuais, de coformidade, os Guias do PNLD de LP também trazem essa forma de execução, no entanto, as diretrizes são pouco vistas nos guias, e os livros didáticos ainda continuam a trazer o ensino cristalizado da gramática, ficando ausentes todas as diretrizes de se trabalhar a formação de cidadão presentes nos parâmetros curriculares. 6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BATISTA, Antônio Augusto Gomes (Org). LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LETRAMENTO E CULTURA. Campinas: Mercado das Letras, 2003. BRASIL, Ministério da Educação. BALANÇO GERAL DA UNIÃO. 2001. Disponível em: 64 <http://www.cgu.gov.br/publicacoes/BGU/Arquivos/2001/VolumeI/Capitulo%20V/V.06 %20-%20MIN%20DA%20EDUCACAO.pdf> Acesso em: 05 nov. de 2013 ______, Ministério da Educação. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. 2012. Disponível em: < http://www.fnde.gov.br/fnde/institucional> Acesso em: 20 mar. 2014. ______, Ministério da Educação. PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO – PNLEM. 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13608&Ite mid=859> Acesso em: 18 mar. 2014. ______, Ministério da Educação. PROGRAMAS – PNLD: Histórico. 2012. Disponível em < http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico> Acesso em 23 mar. 2014. ______, Ministério da Educação. RESOLUÇÃO NÚMERO 44 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013. 2013. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/5029resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-44,-de-13-de-novembro-de-2013> Acesso em: 01 jun. 2014. ______, Secretaria de Educação Fundamental. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 2001. ______,. Ministério da Educação. GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS: PNLD 2014: Língua Portuguesa: Ensino Fundamental: Anos Finais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2013. ______,. Ministério da Educação. QUEM SELECIONA OS LIVROS QUE ENTRAM NO GUIA DO LIVRO DIDÁTICO? 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=160:quemseleciona-os-livros-que-entram-no-guia-do-livro-didatico&catid=132&Itemid=230> Acesso em: 06 abr. 2014. ______,. Secretaria de Educação Fundamental. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília : MEC/SEF, 1997 CAVÉQUIA, Marcia Aparecida Paganini. LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: Dizeres Dos Professores. 2011. Disponível em: <http://www.uel.br/pos/mestredu/images/stories/downloads/dissertacoes/2011/2011_ -_CAVEQUIA_MArcia_Aparecida_Paganini.pdf.> Acesso em: 23 abr. 2014. CURY, Carlos Roberto Jamil. LIVRO DIDÁTICO COMO ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE. Abril, 2009. Disponível em: <www2.pucpr.br/reol/index.php/dialogo?dd99=pdf&dd1=2591> Acesso em: 20 abr. 2014 65 FILGUEIRAS, Juliana Miranda. As avaliações dos livros didáticos na Comissão Nacional do Livro Didático: A Conformação Dos Saberes Escolares Nos Anos 1940. Abril, 2013. Disponível em: < http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/article/viewFile/372/354> Acesso em: 13 abr. 2014. FILGUEIRAS, Juliana Miranda. OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS NA COMISSÃO NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO. Set. 2008. Disponível em: <http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XIX/PDF/Autores%20e%20Artigos /Juliana%20Miranda%20Filgueiras.pdf.> Acesso em: 07 abr. 2014. FREITAS, Neli Klix. RODRIGUES, Melissa Haag. O LIVRO DIDÁTICO AO LONGO DO TEMPO: A FORMA DO CONTEÚDO. 2007. Disponível em: <http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/plasticas/melissaneli.pdf> Acesso em: 15 fev. 2014 GIL, Antônio Carlos. COMO ELABORAR PROJETOS DE PESQUISA. - 4. ed. - São Paulo : Atlas, 2002. BRAKLING, Kátia Lomba (Col.). LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LETRAMENTO E CULTURA. Campinas: Mercado das Letras, 2003. LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade .FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA CIENTÍFICA 1, 5. ed. São Paulo : Atlas 2003. MADEIRA, Mônica Saad. LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: O Ensino De Gêneros Textuais. 2012. Disponível em: <http://www2.unigranrio.br/pos/stricto/mestletrascienciashumanas/pdf/dissertacoes/D issertacao-Monica-Saad.pdf.> Acesso em: 29 mar. 2013. MANINI, Daniela. PCN E PNLD: Parametrização do Ensino de Gramática. Maio, 2011. Disponível em: < http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Pcn-e-PnldParametriza%C3%A7%C3%A3o-Do-Ensino/31724.html> Acesso em: 04 fev. 2014 MANTOVANI, Kátia Paulino. O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO – PNLD: Impactos na Qualidade do Ensino Público. 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-24112009-152212/pt-br.php> Acesso em: 20 nov. 2013. NEVES, Maria Helena de Moura. ENSINO DE LÍNGUA E VIVÊNCIA DE LINGUAGEM: Temas em confronto. São Paulo: Contexto, 2010. OLIVEIRA, Luciano de. PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD): Aspectos Históricos E Políticos. Disponível em: <http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais17/txtcompletos/sem18/CO LE_2079.pdf.> Acesso em: 03 abr. de 2014. 66 OLIVEIRA, Sílvio Luíz de. TRATADO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA: Projetos de pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thonsomn Learning, 2002. ROJO, Roxane (Col). LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LETRAMENTO E CULTURA. Campinas: Mercado das Letras, 2003. SANTOS, Cícero Gabriel dos. REINALDO, Maria Augusta Gonçalves de M. A ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E O USO DESSE MATERIAL EM SALA DE AULA: Implicações Para O Ensino da Escrita. Jun. 2009. Disponível em: < http://www.linguaeducacao.net/press/05.pdf> Acesso em: 05 abr. 2014. SILVA, Robson Carlos. CARVALHO, Marlene de Araújo. O LIVRO DIDÁTICO COMO INSTRUMENTO DE DIFUSÃO DE IDEOLOGIAS E O PAPEL DO PROFESSOR INTELECTUAL TRANSFORMADOR. 2004. Disponível em: <http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/evento2004/GT.2/GT2_ 24_2004.pdf> Acesso em: 23 fev. 2014. SIMÕES, Maria Tereza Moraes et all. O USO DO LIVRO DIDÁTICO NA VISÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA SECUNDÁRIA: Considerações Gerais. 2006. Disponível em: < http://dfis.uefs.br/sitientibus/vol2/Miltao_Main-SPSS.pdf> Acesso em: 28 abr. 2014. TALAMINI, Jaqueline Lesinhovski. O USO DO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: A Relação Dos Professores Com Os Conceitos Presentes Nos Manuais. 2009. Disponível em: < www.ppge.ufpr.br/teses/M09_talamini.pdf> Acesso em: 15 mar. 2014. 67 LEITURA: FATOR PRIMORDIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA PLENA ANA LÚCIA POMPERMAYER10 HÉLIA LUCAS BARBOSA11 PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO SILVA12 RESUMO Com a presente pesquisa deseja-se defender a indiscutível importância da leitura como fator primordial para a construção da cidadania plena e identificar as principais dificuldades encontradas para aceitá-la como instrumento indispensável no auxílio ao desenvolvimento intelectual e social dos adolescentes e dos jovens. Em princípio, apresentam-se algumas ponderações relevantes sobre o quadro de desinteresse destes pela leitura, na atualidade. Considera-se urgente mudá-lo, pois a prática da leitura é essencial ao processo de formação do ser humano, social, intelectual e comunicativo. Na tentativa de identificar os obstáculos à sua concepção, indaga-se: O que fazer para despertar no adolescente e no jovem o gosto pela leitura e para tornar essa atividade um evento cotidiano em suas vidas? Ressalta-se então, o propósito de analisar os obstáculos enfrentados pelos educadores e educandos, no contexto escolar, para se criar o interesse pela leitura e reconhecer sua importância. Metodologicamente, a pesquisa é exploratória, com abordagem qualitativa. Inicialmente, busca-se a fundamentação teórica, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se de fontes secundárias, com o intuito de descrever a importância da leitura e da literatura, o papel do professor, a influência das mesmas sobre a escrita e a urgência de atualização das metodologias de incentivo à leitura. Tudo isso visando à formação do leitor com ampla visão de mundo, tornando-o capaz de perceber, analisar e compreender qualquer informação ou acontecimento dentro dos variados contextos e situações em que está inserido. Os resultados da pesquisa confirmam que o hábito da leitura aumenta a capacidade crítica do leitor e o torna hábil, independente e autônomo, compreendendo e criando opiniões próprias sobre qualquer assunto, sem sujeitar-se a manipulações. Por isso, é necessário desconstruir a realidade de baixa qualidade vista nas produções textuais, atualmente feitas sem qualquer preocupação com a coerência e coesão, que são fundamentais para a compreensão de um texto e desfazer a ideia de que a leitura é um ato obrigatório, desagradável, realizado somente com o objetivo de cumprir com deveres, para criar melhor aceitação e mais interesse pela inclusão da leitura no dia a dia de jovens e adolescentes. PALAVRAS-CHAVE: Formação de leitores. Influência da literatura. Leitura e escrita. Texto e leitor. 10 Graduado em Letras Port./Inglês pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia, Multivix. Graduado em Letras Port./Inglês pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia, Multivix. 12 Graduado em Letras Port./Inglês pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia, Multivix. 11 68 1 INTRODUÇÃO O escritor Ariano Suassuna afirma em entrevista à Revista Nova Escola (2007) que, não é alguém que tem a leitura como hábito, mas sim, como uma paixão, que sempre lhe propicia grande encantamento, e por isso, lê por sentir prazer e alegria através desta prática. Kleiman (2004) afirma que o comentário mais ouvido pelos professores acerca do ensino da leitura é que os alunos nem a apreciam nem a valorizam. É uma triste constatação, considerando-se o fato de que a mesma é instrumento indispensável à formação de cidadãos desenvolvidos e bem qualificados social e intelectualmente. Portanto, para que haja interação entre o indivíduo e o mundo e, para que ele seja atuante na sociedade, deixando de ser somente expectador das ideias e opiniões alheias, precisa aprender a ler. Assim, o mesmo cria em si a capacidade crítica, expressiva e participativa, pois, quanto mais conhecimento for adquirindo, menos alienado será. Aprende a fazer as escolhas certas, preservar a sua identidade e interagir junto aos outros. No entanto, segundo Petit (2008) desenvolve-se entre os jovens grande aversão à leitura, pois estes julgam o livro um instrumento ultrapassado, que vem perdendo espaço para outros que melhor se adequam à modernidade. Deve-se então, considerar o papel do professor, que segundo Machado (2008) deve ser essencialmente leitor, reconhecendo a importância da leitura no processo ensino-aprendizagem. Visando o avanço intelectual e comunicativo necessário aos jovens e adolescentes, chega-se à conclusão de que é urgente examinar e avaliar as metodologias utilizadas atualmente e buscar novas metodologias de incentivo à leitura. Buscar atualizar o ensino e motivar à leitura para transformá-la em prática comum à vida de jovens e adolescentes dentro e fora do contexto escolar. Torna-se indispensável acentuar a importância da leitura para o ensino, bem como a sua indiscutível influência na aprendizagem e na formação do ser social, comunicativo e bem preparado para relacionar-se nas diversas ocasiões às quais está exposto permanentemente. 2 REFERENCIAL TEÓRICO 2.1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA A FORMAÇÃO DO SER HUMANO INTELECTUAL, SOCIAL E COMUNICATIVO A leitura é a base construtora de homens capacitados e bem preparados para a vida social, profissional e comunicativa de qualidade. Ao analisar esse tema, percebemse amplas possibilidades de desenvolvimento que podem ser ocasionadas pela sua prática, tendo em vista que a leitura proporciona maior capacidade crítica, comunicativa e até mesmo aumenta a qualidade de raciocínio e compreensão do mundo à sua volta. 69 Fogaça (2002, p. 133), afirma que: “nesta era da comunicação e informação, a sociedade não mais permite leituras que objetivem uma mesma interpretação, estável e universal, nem mesmo leitores apenas de livros”. Percebe-se que o ser humano encontra-se fragilizado e inseguro diante dos vários contextos com os quais se depara. A leitura, indiscutivelmente, é fundamental à vida humana. Ela é necessária à vida em sociedade e oportuniza àquele que a pratica, maior interação junto ao meio em que vive, abrindo seus olhos para conceitos antes inimagináveis, ampliando seus conhecimentos e rompendo com a ideia de que a leitura é limitada, monótona e tediosa. A leitura amplia os horizontes, abre as portas do desconhecido, descortina as janelas do conhecimento, quebra paradigmas e decifra enigmas, anula os estereótipos da apatia e da mesmice, tornando o homem cidadão consciente e atuante. Além disso, com o surgimento das atuais e diversas formas de expressão artística, torna-se necessário ao homem ampliar seu contato com a leitura, pois é esta que lhe propicia maior entendimento de si mesmo e do contexto em que se encontra, das histórias dos povos que lhe cercam e das múltiplas linguagens e códigos com os quais pode se deparar. A ausência de conhecimento cultural, histórico e linguístico muitas vezes é o grande empecilho à compreensão do mundo. Fogaça (2002, p. 133) diz que: “[...] hoje se faz cada vez mais necessário que o sujeito seja capaz de compreender as muitas linguagens e múltiplos códigos que o envolvem, como por exemplo, pintura, cinema, teatro, propaganda, histórias em quadrinhos”. Nota-se, portanto, que é através dos conhecimentos e aprendizados acumulados por meio da leitura que se forma o ser humano crítico, capaz de ver, compreender, raciocinar e discutir qualquer situação, capacitado para enfrentar a vida e os obstáculos a ela apresentados. De acordo com o professor Barbosa (1994, p. 121), Já algum tempo vivemos uma mudança qualitativa da concepção sobre o ler. Ler é uma atividade voluntária, inserida num projeto individual e / ou coletivo. Na diversidade de situações sociais com que se defronta, o leitor deve mobilizar estratégias adequadas, de acordo com a sua intencionalidade no ler. Observa-se que a leitura extrapola o simples ato de decodificar letras e imagens, por ser um processo que desenvolve no leitor o desejo e a capacidade de, através dessas ações, criar significados para os objetos, palavras e situações. Percebe-se também que a leitura, através dos inúmeros conhecimentos e habilidades, proporciona ao leitor a capacidade de compreender melhor o mundo. Sobre isso, Lerner (2002, p. 17), assegura, 70 O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recorrem aos textos buscando respostas para os problemas que necessitam resolver, tratando de encontrar informação para compreender melhor algum aspecto do mundo que é objeto de suas preocupações, buscando argumentos para defender uma posição com a qual estão comprometidos, ou para rebater outra que consideram perigosa ou injusta, desejando conhecer outros modos de vida, identificar-se com outros autores e personagens ou se diferenciar deles, viver outras aventuras, inteirar-se de outras histórias, descobrir outras formas de utilizar a linguagem para criar novos sentidos [...]. Entende-se que a leitura é processo de formação, de ensino e de aprendizagem, tendo como base o conhecimento das diversas linguagens vivenciadas no cotidiano, na incansável busca pelo conhecimento. É a leitura que amplia a capacidade intelectual, social e comunicativa de quem a pratica e torna o leitor apto a relacionarse com outras pessoas, de diversos povos, linguagens e culturas. Geraldi (apud MAIA, 2007, p. 28) diz: Aprender a ler é, assim, ampliar as possibilidades de interlocução com pessoas que jamais encontraremos frente a frente e, por interagirmos com elas, sermos capazes de compreender, criticar e avaliar seus modos de compreender o mundo, as coisas, as gentes e suas relações. Isto é ler. Reforça-se a ideia de que a leitura é um procedimento com sentido amplo, que ultrapassa a ideia de simples decodificação de sinais gráficos (escritos). Ler é compreender esses sinais e os reconhecer como parte importante no caminho para a interpretação. É unir às emoções, contextos e conhecimentos do leitor. Na opinião de Aguiar (apud VIANA, 2001, p. 4), Salienta-se, portanto, que o conceito de leitura que subjaz a esta proposta não se limita à decodificação dos sinais gráficos, mas é bem mais amplo e exigente. Para os autores, ler é colocar-se diante do texto, acionando todas as suas capacidades cognitivas e emocionais para interagir com os sentidos dali emergentes. E mais: o material escrito é um esquema de pistas, indicações e vazios que podem ser preenchidos e combinados de inúmeras maneiras, segundo as condições do leitor. Logo, quanto maior a experiência de leitura, mais eficiente é o resultado final. O ato de ler desperta no leitor a curiosidade, a admiração e o desejo de ler sempre e cada vez mais, pela vasta qualidade de conhecimentos que se adquire. Ler faz com que o mesmo supere seus limites buscando sempre algo a mais, oportunizando melhores possibilidades de tomar decisões e defender suas ideias. A qualidade do aprendizado do aluno em todo o período escolar está fundamentada nas leituras realizadas e na compreensão da multiplicidade que o texto promove, abordando todas as disciplinas e transmitindo cultura e valores para gerações futuras. Maia (2007, p. 29) ensina que, “[...] a leitura é uma atividade necessária não só ao projeto educacional do indivíduo, mas também ao projeto existencial, e que, além de ser um ato que se realiza no âmbito da cognição, apresenta caráter social, histórico e político”. 71 Conclui-se, neste tópico, que a leitura tem importância fundamental para a formação humana, sabendo que a mesma pode proporcionar grandes desenvolvimentos sejam eles para a sua atuação em âmbito social, cultural, profissional ou comunicativo. Permite a quem a prática alcançar crescimento em suas qualidades racionais, relacionais, críticas e interpretativas dos conhecimentos, emoções e fatos cotidianos do mundo e das pessoas à sua volta. Mediante o exposto, faz-se necessário introduzir novo questionamento: Como formar bons leitores? 2.2 A FORMAÇÃO DO BOM LEITOR Ao refletir sobre a importância da leitura para a formação do homem enquanto ser social, apto a relações de convivência e comunicação junto aos seus pares, pretende-se focar no personagem fundamental, protagonista do processo: o leitor. Quanto maior o domínio da capacidade leitora e interpretativa, menor a possibilidade de manipulação e submissão às minorias dominadoras. É o que Petit (2008, p. 100) esclarece: Mas ler pode fazer com que a pessoa se torne um pouco mais rebelde e dar-lhe a ideia de que é possível sair do caminho que tinham traçado para ela, escolher a sua própria estrada, sua própria maneira de dizer, ter direito a tomar decisões e participar de um futuro compartilhado, em vez de sempre se submeter aos outros. Percebe-se que o leitor assíduo é o grande beneficiado no processo, pois através da leitura, adquire conhecimentos e capacidades diversas, que o torna apto à interação cultural, social e intelectual. Sabe onde, quando e o que aceitar ou questionar adequadamente, deixa de ser alienado, ou manter-se preso às opiniões, ideias e manifestações alheias. Segundo o saudoso e admirável mestre Freire (1992, p. 15), Mas, é importante dizer, a “leitura” do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. Inserir a prática da leitura ao cotidiano é muito positivo, pois leva o ser humano a crescer nas interações sociais e a construir seus próprios princípios. A cada leitura feita de uma obra, ampliam-se as possibilidades de interpretá-la de maneira diferente, pois ela sempre fala algo novo ao leitor, dependendo do contexto, momento e situação em que está lendo. Mistura-se assim, ficção e realidade na descoberta de novos sentidos para o texto e para a vida de quem o lê. Sobre a leitura, Rodrigues (2006, p. 71) discorre que, A leitura é uma experiência profundamente pessoal. Resulta da permanente confrontação entre a obra do autor e as histórias da vivência do leitor. Com esse entendimento, pode-se deduzir que o leitor é uma espécie de co-autor de toda obra artística. 72 Sabe-se que, na atualidade, a leitura está universalizada e é acessível a todos, independente de fatores como idade, cor, sexo ou raça, religião, condição socioeconômica, situações essas que já foram impedimentos à leitura no passado. O acesso à leitura é possível a todo instante e em todo lugar, através do contato com cartazes, propagandas, objetos, automóveis, roupas e outros elementos frequentemente utilizados em todos os contextos da sociedade e que podem ser observados e compreendidos conforme os níveis de formação de cada indivíduo ou comunidade. Silva (2000, p. 31) ensina que: A atividade de leitura se faz presente em todos os níveis educacionais das sociedades letradas. Tal presença, sem dúvida marcante e abrangente, começa no período de alfabetização, quando a criança passa a compreender o significado potencial de mensagens registradas através da escrita. Considera-se que a leitura se desenvolve através das relações, experiências e conhecimentos adquiridos pelo indivíduo no convívio social. Sabe-se que o ser humano tem em si aptidões naturais para o desenvolvimento da leitura, bem como, utilizá-la para favorecê-lo cultural e historicamente. O mesmo autor afirma que, Falar em condições para o desenvolvimento da leitura é, ao mesmo tempo, colocar o problema das condições reais para o desenvolvimento do próprio homem dentro de uma sociedade concreta. Isto porque o ato de ler, via de acesso para a apropriação dos bens culturais registrados pela escrita, é um atributo única e exclusivamente humano (SILVA, 1985, p. 22). Vale destacar que o homem e a leitura estão diretamente ligados, mas é necessário desenvolver a aptidão natural para ler, analisar e compreender a realidade à sua volta para enriquecer seus campos de conhecimento. E Silva (1985, p. 22) continua: “esta vinculação é importante à medida que revela o poder peculiar do homem em ‘ler’ os dados da realidade, analisá-los, transformá-los e registrá-los em seu próprio benefício cultural e histórico”. A leitura começa a se desenvolver no âmbito familiar, por meio de histórias contadas pelos familiares e continua na escola com o processo de alfabetização. Existem inúmeras possibilidades para o desenvolvimento deste processo, ou seja, vários são os métodos que auxiliam no aprendizado da leitura. Desse modo, é importante fazer escolhas corretas na apresentação dos conteúdos, para que a criança perceba as diversas sensações ao entender a relação entre o lúdico e o real. Feil (1987, p. 65) atribui especial valor a esse momento: É importante lembrar que os primeiros contatos com a leitura são fundamentais para a formação de um bom leitor. Se a leitura for apresentada sob uma forma lúdica, agradável e significativa, certamente se estará aí proporcionando o nascimento de um bom e verdadeiro leitor. 73 Praticar a leitura desde cedo na escola contribui com o crescimento do conhecimento que a criança adquire, desenvolvendo habilidades para sua evolução, bem como, como aprendizado do que ainda não sabe. A leitura é o caminho para a construção do conhecimento. Através dela é possível a circulação de informações e a elaboração de novos conhecimentos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa - PCN (BRASIL, 2001, p. 54), rico material de apoio pedagógico da escola, faz reflexão sobre a prática da leitura na formação de cidadãos leitores: A leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino. Para que possa constituir também objeto de aprendizagem, é necessário que faça sentido para o aluno, isto é, a atividade de leitura deve responder, do seu ponto de vista, a objetivos de realização imediata. Como se trata de uma prática social complexa, se a escola pretende converter a leitura em objeto de aprendizagem deve preservar sua natureza e sua complexidade, sem descaracterizá-la. A criança precisa ser o tempo todo estimulada. Ela escolhe o que quer fazer nesta fase (alfabetização). É necessário escolher textos chamativos que prendam sua atenção, que estejam dentro de sua realidade e que estimulem a sua imaginação, envolvendo emoção e prazer. Feil (1987, p. 67) indica para esta fase: Na literatura adequada a essa fase, a imaginação e a realidade devem se fundir. Os livros devem abordar ações e atos, que desenvolvam situações de aventura, onde a inteligência e a afetividade sejam os fatores dinamizadores. Histórias alegres, que realcem a astúcia, questionamento de valores ultrapassados. Narrativas populares. As gravuras devem ser gradativamente substituídas por textos. É necessário escolher textos com diversos objetivos, sendo primordial evidenciar os vários significados que ele pode conter. Disponibilizar materiais impressos é outro fator importantíssimo, pois atrai as crianças e permite o contato direto entre elas, os conhecimentos que já possuem e o texto, tornando a leitura um ato prazeroso. Os PCN (BRASIL, 2001, p. 57) destacam que, Uma prática constante de leitura na escola deve admitir várias leituras, pois outra concepção que deve ser superada é a do mito da interpretação única, fruto do pressuposto de que o significado está dado no texto. O significado, no entanto, constrói-se pelo esforço de interpretação do leitor, a partir não só do que está escrito, mas do conhecimento que traz para o texto. Pouco a pouco, conduzido por influências sociais, culturais e educacionais, o homem alcança maior conhecimento, sob o qual forma suas próprias interpretações, ideias e opiniões, construindo sua própria leitura de mundo, de forma espontânea e atendendo a seus interesses próprios. Como bem argumenta Kleiman (2004, p. 35), Cabe notar que a leitura que não surge de uma necessidade para chegar a um propósito não é propriamente leitura; quando lemos porque outra 74 pessoa nos manda ler, como acontece frequentemente na escola, estamos apenas exercendo atividades mecânicas que pouco tem a ver com significado e sentido. Aliás, essa leitura desmotivada não conduz à aprendizagem; [...]. A formação plena do ser humano é construção permanente, é processo, é dinâmica. Em cada fase de sua vida o homem tem a oportunidade de evoluir intelectual e comunicativamente, acumulando conhecimentos possibilitados pela concepção de leitura de qualidade, que abrange conceitos que vão além da decodificação de códigos, que respeita os conhecimentos de mundo que cada indivíduo possui e que tem a oportunidade de aperfeiçoar a cada vez que pratica essa atividade. Conforme descrito por Freire (apud KLEIMAN, 2004, p. 83), No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, re-inventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendidoapreendido a situações existenciais concretas. Portanto, mais do que aprender, é preciso apreender. Só assim a leitura torna-se vida, ou seja, o aluno toma gosto, tem prazer, entende o que lê e experiencia o conhecimento, aplicando-o em seu cotidiano. Reafirma-se que a leitura é indispensável à vida em sociedade, por ser elemento formador de cidadãos críticos, com maior qualidade e capacidade na expressão dos saberes, ideias e opiniões, fortalecendo o exercício de sua cidadania. Candido (apud SOUZA, 2006, p. 81) ressalta: [...] a literatura não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos e orais, como acontece com a própria vida, da qual é imagem e transfiguração. Isto significa que ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções; seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor o livro pode ser fator de perturbação e mesmo de risco. Daí a ambivalência da sociedade em face dele, suscitando por vezes condenações violentas quando ele veicula noções ou oferece sugestões que a visão convencional gostaria de proscrever. Com isso, entende-se que o bom leitor é aquele que faz perguntas a si mesmo enquanto lê atentamente, consegue criticar e interagir com o texto, relacionando-o com a sua própria vivência e experiência, conseguindo transformá-lo ou reconstruí-lo conforme a sua própria interpretação. 2.2.1 O USO DA LITERATURA NA FORMAÇÃO DO LEITOR Mergulhar nas águas profundas da imaginação através da literatura é experiência singular na vida das pessoas em qualquer idade e em qualquer tempo. Na fantasia os seres são livres mesmo em meio à sociedade que os procura dominar. A literatura, portanto, mesmo em tempos de globalização e tecnologia, ainda ocupa papel de destaque no que se refere ao ato de ler. Souza (2006, p. 83) afirma que, 75 Negar, portanto, a importância do exercício da leitura da literatura, em tempos de civilização atual, é não reconhecer no outro o direito e o dever de inscrever-se historicamente em sociedade. Isso pressupõe e implica percepção, interpretação e re-escrita pelo lido com o gozo da escrita ou da plena ativação dos cinco sentidos. Tendo em vista a condição natural de raciocínio e apreensão de conhecimento do homem, trabalhar a literatura com os alunos torna-se estímulo às suas habilidades individuais e à imaginação. Desde muito tempo a literatura é utilizada como método de ensino-aprendizagem, devido à variedade de temas que podem ser trabalhados desde a criança em processo de alfabetização até os jovens mais exigentes. Cademartori (apud MAIA, 2007, p. 47, 48) defende que, [...] a obra literária, enquanto interpretação do real, através da ficção e da fantasia, constitui-se não apenas em instrumento de formação, mas também em instrumento de libertação do jugo do adulto, uma vez que “a literatura surge como um meio de superação da dependência e da carência por possibilitar a reformulação de conceitos e a autonomia do pensamento”. A função da literatura durante a infância é incentivar a criança, aproveitando-se de sua imaginação como fonte de criação, fazendo com que cresça e se torne jovem com espírito crítico e posteriormente adulto com capacidade de se reinventar todos os dias. A literatura tem o poder de transformar o fantástico em situação real, transmitindo reflexão pessoal e crítica, devido às descobertas do imaginário. Held (apud MAIA, 2007, p. 51) utiliza-se da seguinte argumentação: [...] razão e imaginação não se constroem uma contra a outra, mas, ao contrário, uma pela outra. Não é tentando extirpar da infância as raízes da imaginação criadora que vamos torná-la racional. Pelo contrário, é auxiliando-a a manipular essa imaginação criadora cada vez com mais habilidade, distância. O que supõe, quase sempre possível, mediação do adulto, diálogo. A leitura de livros cria em quem a pratica grande progresso em competência literária, ou seja, propicia maiores possibilidades de compreensão dos textos com os quais se depara. Sabendo-se que a prática da leitura é a única atividade que ensina a ler verdadeiramente, faz-se imprescindível que os professores se apropriem dos livros e, através deles, alcancem maior experiência leitora para, posteriormente, transmitir aos seus alunos. Sobre a leitura literária na escola Colomer (2008, p. 18) diz: A leitura de livros faz a competência literária de meninos e meninas progredir enormemente. Por isso sempre acreditou-se que “ler se aprende lendo”.Neste espaço trata-se então, naturalmente, de colocar os livros para trabalhar ao lado dos professores para acumular experiência leitora. Como a maioria dos prazeres da vida, a qualidade só pode ser apreciada por comparação, de modo que não são suficientes “alguns poucos livros bem lidos”. Pelo contrário, os dados de que dispomos nos dizem que a quantidade de livros lidos importa e a leitura de textos extensos revelou-se um dos grandes indicadores de sucesso na formação de um bom leitor. 76 A leitura de obras literárias é feita individualmente, cada aluno interpreta de forma diferente, considerando-se as relações sociais e os aspectos relevantes do contexto no qual o indivíduo está inserido. O texto literário promove no leitor o exercício de diversas habilidades, relacionando linguagem, imaginação, emoções, etc. Bragatto Filho (apud MAIA, 2007, p. 53) assim se expressa em relação ao livro: Com ele aprende-se, reflete-se, compara-se, discerne-se, questiona-se, investiga-se, imagina-se, viaja-se, emociona-se, diverte-se, amadurece-se, transforma-se, vive-se, desenvolve-se a sensibilidade estética e a expressão linguística, adquire-se cultura, contata-se com as mais diferentes visões de mundo etc. Valorizar as personagens das obras literárias, desperta interesse maior nos alunos, pois eles os descaracterizam trazendo para sua realidade, utilizando o raciocínio vivenciado na própria interpretação. Zanchetta (2004, p. 103) diz que: “os leitores levam para a narrativa seus modelos próprios de pessoas”. Para se realizar trabalhos com a literatura, objetivando a construção de conhecimento e gosto pela leitura, é necessário desenvolver atividades que envolvam a obra literária em sua totalidade, oferecendo, também, situações que façam com que o aluno pesquise a vida e o estilo do autor, bem como, o momento histórico em que a obra foi escrita. Cavalcanti (1997, p. 157) argumenta: O professor deve procurar criar diferentes situações de aprendizagem, nas quais os alunos, sentindo-se motivados pelos desafios que elas propõem, mergulhem no maravilhoso mundo das histórias conhecendo um pouco da história de seus criadores. Ser capaz de ler é também saber caminhar pelas trilhas imaginárias das bibliotecas do mundo inteiro, é conhecer as afinidades entre os estilos e escritores, é, principalmente, ter informações acerca das obras e seus autores. Cabe ao professor a função de guiar para o caminho dos livros e das pesquisas, sempre ao lado de seus alunos, na descoberta da imensidade de personalidades literárias, sobretudo, a busca e o desejo de conhecimento histórico e atual dos diversos significados que há por trás das obras. O notável escritor literário Saramago (apud KOCH; ELIAS, 2010, p. 46) afirma: “as histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas”. Conforme dito por Azevedo (2004) referindo-se ao texto literário ou a obras literárias deve-se considerar que a ficcionalidade os diferencia dos demais textos em circulação na sociedade. Entre eles destacam-se dois: Ficcionalidade – Dá-se ênfase ao imaginário e à falta de ligação com a realidade. 77 Subjetivismo – Observa-se a visão particular do autor e a sua maneira de ver o mundo ao seu redor, perdendo-se assim a objetividade dos textos ligados à informação. Entre as linguagens utilizadas na literatura tem maior relevância a conotativa, que é repleta de plurissignificações, e apresenta os chamados “neologismos”, que são palavras inventadas pelo autor. Azevedo (2004, p. 40), escritor de vários livros para crianças e jovens, ilustrador e mestre em letras, discorre sobre o assunto: [...] o texto literário por definição, pode e deve ser subjetivo; pode inventar palavras; pode transgredir as normas oficiais da Língua; pode criar ritmos inesperados e explorar sonoridades entre palavras; pode brincar com trocadilhos e duplos sentidos; pode recorrer a metáforas, metonímias, sinédoques e ironias; pode ser simbólico; pode ser propositalmente ambíguo e até mesmo obscuro. Tal tipo de discurso tende à plurissignificação, à conotação, almeja que diferentes leitores possam chegar a diferentes interpretações. É possível dizer que quanto mais leituras um texto literário suscitar, maior será a sua qualidade. No texto literário expõe-se o lado emocional, os sentimentos, a afetividade, os sonhos utópicos e as experiências pessoais. Apesar de sua literalidade, os textos trazem, muitas vezes, reflexões, mensagens, críticas e até protestos camuflados em linguagem poética. Sobre esse ponto também discorre Azevedo no mesmo texto: Através de uma história inventada e de personagens que nunca existiram, é possível levantar e discutir, de modo prazeroso e lúdico, assuntos humanos relevantes, muitos deles, aliás, geralmente evitados pelo discurso didáticoinformativo – e mesmo pela ciência – justamente por serem considerados subjetivos, ambíguos e imensuráveis (2004, p. 40). Segundo Machado (2008) existe uma política educacional, embora implícita, que deseja cada vez mais um menor contato do aluno com a literatura, ao propagar textos muito fragmentados, até que esta chegue a desaparecer ou não seja mais reconhecida. Apesar de tudo isso a UNESCO encampou a proposta e fez essa recomendação para toda a América Latina: a de que se procure incluir leitura de narrativas (história e/ou literatura) na formação dos professores, em todos os níveis. Não sei se isso fez diferença ou se teve algum efeito prático (MACHADO, 2008, p. 57). Há muito tempo, usava-se a literatura apenas para ensinar gramática e atualmente criaram-se novos pretextos para desmerecer o seu ensino no contexto da educação. Sobre isso, Machado (2008) faz algumas considerações entre as quais convém destacar que as pessoas que trabalham com a Língua Portuguesa apresentam o argumento de que o tempo é insuficiente para repassar e aprender os conteúdos programados. No entanto, é inegável que a literatura é de grande contribuição para a formação do leitor, pois ela é atemporal e está presente em toda a história da humanidade. Suas tramas e personagens permitem conhecer o passado, viver o presente e mudar o 78 futuro, envolvendo o leitor e fazendo com que ele tenha prazer em ler, experimentando sensações e despertando sentimentos até então desconhecidos. 2.2.2 O PAPEL DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES O professor exerce papel fundamental nos processos de ensino-aprendizagem, em especial no incentivo à leitura. Trata-se de alguém responsável por mediar os conhecimentos com clareza e objetividade, demonstrando sempre autoconfiança. Para isso, faz-se necessário que o mesmo se comprometa com a prática da leitura, construindo novos conceitos, saberes e habilidades. A atuação cotidiana do professor, dentro e fora do contexto escolar, serve de exemplo intelectual e social para a vida de seus educandos e contribui para a sua formação socioeducativa. Se chamarmos de ‘‘saberes sociais’’ o conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade e de ‘‘educação’’ o conjunto dos processos de formação e de aprendizagem elaborados socialmente e destinados a instruir os membros da sociedade com base nesses saberes, então é evidente que os grupos de educadores, os corpos docentes que realizam efetivamente esses processos educativos no âmbito do sistema de formação em vigor, são chamados, de uma maneira ou de outra, a definir sua prática em relação aos saberes que possuem e transmitem. Parece banal, mas um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros (TARDIF 2012, p. 31). Em primeiro lugar o professor deve admitir que está sempre em processo de aprendizagem. E ter humildade de reconhecer suas limitações é importante para que se estabeleça o processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo que nem sempre o que ensina é o detentor de todo conhecimento, mas que o ensino pressupõe uma reciprocidade. Parafraseando o dito popular: “é dando que se recebe”, pode-se afirmar: “é ensinando que se aprende”. Adverte Freire (1992, p. 27): Só educadoras e educadores autoritários negam a solidariedade entre o ato de educar e o ato de serem educados pelos educandos; só eles separam o ato de ensinar do de aprender, de tal modo que ensina quem se supõe sabendo e aprende quem é tido como quem nada sabe. A leitura precisa estar presente em todos os momentos da vida estudantil e englobar todo o currículo. Cabe, portanto, a todos os professores estimularem em seus alunos o prazer pela leitura. É preciso deixar claro que, para a formação de leitores é necessário que professores de todas as disciplinas escolares, sintam-se na responsabilidade de promover o desenvolvimento da leitura com seus alunos. É o que explica Silva (2008, p. 24), ao afirmar que “a promoção da leitura é uma responsabilidade de todo corpo docente de uma escola e não apenas dos professores de língua portuguesa. Não se supera uma dificuldade ou uma crise com ações isoladas”. 79 A escola tem como responsabilidade despertar no aluno o gosto pela leitura. Mas, ao atribuir o aspecto de obrigatoriedade tornou-a aos olhos do estudante rotina exaustiva. Anos atrás se lia para melhor entendimento de deveres e valores a serem cumpridos, atualmente lê-se como forma de cumprimento da obrigação imposta pela escola, para obedecer aos seus critérios. Em contrapartida, Orlandi (apud SILVA, 2008, p. 23) enfatiza que: “somente assim, ou seja, recuperando a naturalidade do ato de ler e combatendo a parafernália artificial enraizada nas escolas, parece ser possível a encarnação da leitura na vida dos alunos”. Salienta-se que é dever do professor mediar a contextualização dos livros, textos e temas, considerando-se que, em cada época histórica, faz-se leituras diferenciadas, pela leitura de mundo de cada um. Levar os alunos a fazer conexões entre obras do passado e do presente, através da intertextualidade, desperta neles maior interesse e facilita a compreensão da obra em todas as dimensões. Sobre a função docente em relação à leitura, Colomer (2008, p. 18) diz: Aqui, a função essencial do docente é assegurar que o corpus disponível é o mais adequado para os seus alunos. O aspecto que queremos destacar neste espaço é que a seleção dos livros deve levar em consideração que as leituras têm sempre um marcante componente geracional em todo o conjunto do sistema literário. É fácil ver que as leituras de determinados livros supõem nexos de coesão em cada geração social como, por exemplo, as canções de uma época ou os acontecimentos sociais ou técnicos vividos durantes essas datas. É imprescindível a participação do professor no processo de aprendizagem e de apreciação da leitura pelo aluno. O professor deve ser alguém que ama os livros e tem prazer na prática do ato de ler. Deve ter os livros como companheiros inseparáveis em seu dia a dia, na escola e fora dela. Kleiman (2004, p. 11) afirma que, [...] conhecendo o professor as características e dimensões do ato de ler, menores serão as possibilidades de propor tarefas que trivializem a atividade de ler, ou que limitem o potencial do leitor de engajar suas capacidades intelectuais, e, portanto, mais próximo estará esse professor do objetivo de formação de leitores. O professor precisa ser leitor assíduo. Para contaminar o outro é necessário estar contaminado. Nenhuma metodologia funciona sem o seu comprometimento. Silva (2008, p. 89) afirma que, Em essência, ser professor é assumir um compromisso com o conhecimento, com a busca incessante do conhecimento. E é fazer com que o aluno participe desse compromisso, dessa busca. Ambos, em processo de interação e envolvimento recíproco, sensibilizam as suas retinas no intuito de melhor compreenderem os fenômenos da realidade. O educador deve ser a ponte na construção do conhecimento do educando. Silva (2004) afirma que o desafio maior no processo de ensino-aprendizagem é saber ler 80 o mundo contemporâneo e prestar atenção na expansão súbita de informações que são lançadas a todo o momento. Sobre esse assunto é importante atentar-se para a ponderação de Machado (2008, p. 54) ao questionar como almejar alunos leitores, se não se investe na formação de professores leitores: Achando inconcebível que se possa delegar a função educativa em nossos países a quem não está acostumado com a leitura de relatos e não teve contato com eles nem mesmo em sua formação profissional, resolvi defender com veemência a necessidade de professores leitores. Lajolo (2000), pinta o retrato do professor ideal, moderno, comprometido em ensinar ao aluno a leitura prazerosa e envolvente, que desperte a fantasia e a imaginação e o leve a ver criticamente o mundo. Ao final dessa descrição a autora indaga aos professores se eles não desconfiariam de tão belo retrato, e se reconheceriam a si mesmos dentro dele, pois ele está muito distante da realidade vivida na maioria das escolas e que nenhum professor que use de sinceridade se identificaria nesse modelo. Para o professor desenvolver a leitura com seus alunos é necessária preparação, isto é, competências e habilidades. Precisa ter conhecimento para transmitir segurança, mesmo se deparando com a falta de material disponível nas escolas. Dessa forma, o professor fica sujeito a utilizar materiais envelhecidos e cada vez mais, realizar trabalhos improvisados nas orientações de incentivo à leitura. Zanchetta (2004, p. 92, 93) cita que, Surgem, então, potencializados problemas próprios ao estágio inicial de formação dos alunos leitores, agravados pela orientação precária do professor, e dois tipos de abordagem que tendem à infertilidade. De um lado, está a ideia de considerar a leitura uma atividade exterior ao indivíduo, [...] de outro lado, estão às propostas de trabalho voltadas para o pressuposto de que a leitura literária é uma atividade individual, não passível de “engessamento”. O professor deve ser modelo de leitor a ser seguido, em oposição à realidade encontrada em muitas escolas, em que a leitura é um hábito que ocupa pouco ou nenhum espaço em seu dia a dia. Poucos leem nas horas vagas e, tratando-se de professores, tal atitude é inadmissível. Maia (2007, p. 33) afirma sobre esse assunto, É, pois, no espaço da sala de aula que as tão adversas condições enfrentadas pelo professor se fazem refletir. Há transmissão de conteúdos dispensáveis e omissão de outros mais significativos; estimula-se, na teoria, o aluno a falar e escrever com suas próprias palavras, mas, na prática, exige-se a repetição de respostas dadas pelo autor do livro (interpretação?!); faz-se um discurso apologético sobre leitura, porém o professor não convence o aluno pelo exemplo, porque, ressalvadas as exceções, ele próprio não é um leitor. 81 Em se tratando de educadores docentes, independente do campo de atuação, mas especialmente quando atuando com adolescentes e jovens, é de suma importância que esteja plenamente cônscio de sua responsabilidade na formação de leitores aptos a atuarem como cidadãos responsáveis e participantes na sociedade. Zilberman, (2008, p. 115) afirma que: “afinal, é durante esse período, vivenciado, sobretudo entre os 14 e os 18 anos, que se forma a consciência de cidadania, isto é, a pertença de um sujeito a uma sociedade, a um grupo e a um tempo”. Entre as dificuldades encontradas pelos professores está a superficialidade do ensino da língua na grande maioria das faculdades, principalmente no curso de letras, o que resulta em um professor perdido quando precisa ensinar e orientar o tema sobre o qual ele não apresenta nenhum domínio, nem conhecimento. Sobre isso, discorre Maia (2007, p. 37), A organização curricular dos cursos de letras permite apenas análises superficiais das diferentes abordagens sobre o ensino e aprendizagem da língua, havendo mesmo uma disputa entre os defensores de vertentes tradicionais e de vertentes atualizadas. Com as ponderações até aqui apresentadas, pode-se constatar que o professor precisa ser leitor assíduo. Para contaminar o outro é necessário estar contaminado. Nenhuma metodologia funciona sem o comprometimento do educador. De acordo com Maia (2007) outros pontos a considerar são a má remuneração dos professores, a desvalorização do trabalho e falta de material adequado, que tem comprometido o seu desempenho, impedindo-os de se atualizarem. Esse é um grave problema, pois para alcançar êxito no processo de ensino, o professor deve passar por constantes capacitações. Silva (2008, p. 33) declara: [...] Entendo a formação do professor como contínua no horizonte de dois compromissos básicos: um com o conhecimento e outro com a dinamização desse conhecimento junto a diferentes grupos de alunos. É no bojo desses dois compromissos que a prática social da leitura adquire a sua relevância pedagógica maior. O primeiro dos grandes desafios para se mudar as metodologias é, portanto mudar o relacionamento entre professor e livro, pois é o educador o grande formador de opiniões da sociedade, desde os tempos antigos até a atualidade e, como tal, precisa ser mediador do contato entre o aluno e a leitura. Ler para pensar ou pensar para ler? As opiniões divergem, mas o que é fato unânime é que ambos os processos são dependentes, eles andam juntos numa relação de interdependência. 2.3 A LEITURA NA ATUALIDADE Segundo informa a Revista Língua Portuguesa (2012) o índice de analfabetismo funcional no Brasil é de 27% e quase metade da população é alfabetizada no nível básico. A maior parte desconhece os elementos necessários para a escrita de bilhetes. Percebe-se na atualidade uma grande carência de habilidade de leitura. 82 Em tempos atuais, as palavras continuam sendo valiosas para a educação. Mesmo na era da internet, o que continua prevalecendo - e que também é preciso para saber se beneficiar desse meio de comunicação mundial - é conhecer palavras. É evidente que ler é fundamental em qualquer era. Coelho (2008, p. 214) declara: A literatura é sempre uma experiência de vida transformada em palavra. Toda imagem precisa de um texto para ser reconhecida como ‘‘algo’’. Enfim, o poder da palavra vem sendo redescoberto, como fator-chave para a construção de uma nova educação. Nota-se, segundo a mesma autora, a existência de uma enorme disputa encarada no contexto educacional atual entre o mundo cibernético (imagem) e o mundo das letras, que causa uma divisão entre os instrumentos modernos e a redescoberta da leitura. Uma das causas desse problema é o acesso rápido a toda e qualquer informação, através da internet. O indivíduo afasta-se cada vez mais do livro que, apesar de preterido, continua ocupando posição de destaque como fonte produtora de conhecimento. Segundo Lisboa (apud SILVA, 2000, p. 55), [...] um computador eletrônico pode acumular toneladas de dados sobre a vida e o mundo, mas isso não o transforma num sábio. Falta-lhe a centelha magnífica do conhecimento no singular – o que só é concedido ao ser humano, tenha ele uma grande cultura ou não. A era atual é a era da tecnologia, são inúmeras as ofertas de diversão por ela apresentadas, entre os quais estão os jogos eletrônicos, redes sociais, aparelhos de telecomunicação, etc., que prendem a atenção e ocupam a maior parte de tempo das pessoas, tornando-as alienadas a outras formas de interação, entretenimento e comunicação. Diante da revolução tecnológica, à escola cabe enfrentar desafios e passar por reformas para adaptar-se a essa geração, inovando dentro dos conceitos de língua e literatura e, ainda, adequando-se ao uso deste novo benefício, a internet. Coelho (2008, p. 215) afirma, Incorporar esse instrumental midiático a seus novos projetos de educação e ensino é, sem dúvida, um dos grandes desafios enfrentados pela reforma educacional. Desafio que resulta do ainda precário sistema de interação existente entre o objeto básico de ensino (Língua e Literatura) e o novo instrumental (Internet). E obviamente uma nova formação docente. Incluir computadores dentro da sala de aula e ligados à internet é importante e motivacional. Mas a questão a ser resolvida é a reconstrução do saber, desafio esse que os educadores precisam enfrentar. Até quando a internet vai continuar encantando? É preciso reconhecer sua influência sobre a comunidade escolar estudantil: a rapidez de raciocínio dos alunos, a visão mais perceptiva, a curiosidade neles despertada, etc. Mas, Coelho (2008, p. 215) prossegue afirmando: “é ainda cedo 83 para prevermos qual será a verdadeira influência desse novo instrumental cibernético sobre a formação das novas gerações”. Ressalta-se que já se evidenciam problemas causados pelo uso incorreto desse inovador instrumento, chamado internet. Como exemplo concreto cita-se a desvalorização da Língua Portuguesa em sua forma culta, pela forma imperfeita da escrita empregada pelos internautas. A necessidade de reduzir palavras e criar abreviações é comum, mas apenas o grupo de pessoas que interage entende o que está escrito. Sabe-se que a língua materna cria a identidade de uma população, mas a mesma vive em processo de mutilação pela sua má aplicação empregada pelos internautas. Para os conhecedores e estudiosos da língua este fenômeno é absurdo e causa estranheza no quesito estético do texto. Coelho (2008, p. 215) ressalta ainda que, [...] A ameaça de degradação ou deterioração da língua portuguesa pelo uso sistemático do dialeto ‘‘internetês’’ – palavras reduzidas a poucas letras ou signos que tornam o texto incompreensível para quem não souber decifrá-las. Se é verdade que tal ‘‘dialeto’’ se faz necessário, por causa das condições materiais do instrumental (espaço reduzido, velocidade exigida, necessidade de síntese etc.), não é menos verdade que a nova educação precisa urgentemente criar um ‘‘anticorpo’’ a essa ameaça à língua portuguesa, incentivando os estudos linguísticos e literários. Sabe-se que o Brasil anda esmolando em matéria de leitura, apesar do nível de escolaridade ter avançado nos últimos anos. Isso se dá muitas vezes porque o leitor apesar de possuir diversas experiências, as utiliza indevidamente como instrumento de desenvolvimento para suas ideias. Para melhorar o hábito da leitura dentro das escolas cabe ao professor valorizar e avaliar os conhecimentos prévios que cada aluno possui diante do tema de um texto. Kleiman (2004, p. 13) diz que: A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. De acordo com Martins (1994) no passado, (nas civilizações greco-romanas) quem sabia ler era visto como pessoa de muito valor, ou seja, culturalmente falando era rico, alguém que cresceria na sociedade e, possivelmente, mudaria de classe social muito rápido, poderiam conseguir ascensão social, também por meio de seu trabalho, o que hoje é incomum, tendo em vista que para inserir-se no mercado de trabalho é necessário formação e alto nível de conhecimento adequado ao campo onde se pretende atuar. Conforme assegurado por Charmeux (1997, p. 14), A leitura tornou-se hoje, portanto, uma ferramenta indispensável à vida em sociedade, mesmo que não levemos em conta qualquer preocupação cultural. Isto não diminui em nada sua função cultural. Mesmo havendo 84 outras formas de acesso ao patrimônio cultural, graças às técnicas audiovisuais, ler continua sendo ferramenta privilegiada de enriquecimento pessoal, pela manejabilidade e pela presença constantemente disponível dos objetos em que ela se faz presente, pela diversidade dos modos de acesso a ela, e pela extrema economia de sua utilização, a qual lhe permite ser, a todo o instante, um objeto de degustação e de prazer incomparável. Apesar dos avanços tecnológicos do presente século, entende-se que a leitura ocupa ainda posição de destaque enquanto elemento formador do cidadão consciente, crítico e atuante dentro da sociedade globalizada e cada vez mais competitiva. Mesmo a leitura sendo desvalorizada por muitos, ela continua exercendo seu papel de transformadora da realidade. 3 CONCLUSÃO A importância da presente pesquisa justifica-se através da percepção e da análise da atual realidade social, quanto à decadência do hábito da leitura pelos jovens e adolescentes. Portanto, apresentam-se aqui ponderações relevantes quanto à situação em que se encontra a leitura, a importância de sua prática, a formação de um bom leitor, a literatura como parte imprescindível desse processo, o papel do professor no desenvolvimento dessa atividade, a influência da mesma sobre a escrita e a urgência de atualização nas metodologias de incentivo e ensino da leitura. Objetiva-se aqui conhecer e analisar os obstáculos enfrentados pelos educadores e educandos, no contexto escolar, para se criar o interesse pela leitura e o reconhecimento de sua importância. Observa-se, porém, através das constatações apontadas pelos autores aqui dispostos, inúmeros empecilhos para o ensino e aceitação da inserção da leitura no cotidiano dos jovens e adolescentes dentro e fora do contexto escolar, tais como o desinteresse dos mesmos em relação à leitura, as inúmeras metodologias que apesar de ultrapassadas continuam a ser utilizadas, o pouco incentivo e desvalorização da prática leitora. À vista disso, destaca-se que a leitura é de suma importância para a formação de um ser humano social, intelectual e comunicativo, tendo em vista que possibilita a quem a pratica a aquisição de capacidades diversas, tais como: a ampliação de sua visão do mundo, que lhe permite perceber, analisar e compreender qualquer informação ou acontecimento dentro dos variados contextos e situações em que se encontra; o aumento de sua capacidade crítica, que o torna hábil, independente e autônomo, de forma que passa a conhecer, compreender e criar ideias e opiniões próprias sobre qualquer assunto, sem se deixar manipular por outros; aptidão para cumprir com as exigências da atualidade quanto aos aspectos sociais e profissionais, inserindo-se ao grupo de cidadãos que, por competência própria, pode concorrer a cargos profissionais. Em seguida, destaca-se a importância do uso da literatura para a formação do leitor. Esta, apesar de atualmente estar menosprezada ou até descartada, deve ser considerada instrumento fundamental para esse processo, pois estimula a capacidade natural do ser humano, de raciocinar e apreender. Além disso, desenvolve sua habilidade de criar conceitos e opiniões e, com isso, tomar posições 85 diante de determinada situação. Ao utilizar a imaginação, as emoções e a sua visão sobre tal tema, o leitor é capaz de analisar, compreender e criticar corretamente, adequando-se a qualquer contexto. Outro importante ponto a ser salientado no processo de aquisição da leitura é o papel do professor que, enquanto mediador dessa atividade, deve sempre estar em contato com a leitura, para fazer transparecer a importância da mesma em sua própria formação social e profissional. Ao ser exemplo de leitor assíduo, o professor exerce maior influência sobre seus alunos e, sendo ele o profissional responsável pelo fortalecimento dessa prática, principalmente no contexto escolar, deve ter como base a necessidade da contextualização de livros, textos e temas, firmada no princípio de que, em cada época é possível fazer diferentes interpretações e leituras de uma obra. Através disso, fazer com que os alunos criem conexões entre obras do passado e do presente para, com a releitura, despertar no aluno maior interesse, facilitando a análise e compreensão da obra. Considerando a leitura um processo de construção de conhecimento, destaca-se aqui a influência que exerce a sua prática no desenvolvimento da escrita. Para fazer uma conexão entre os processos de leitura e escrita, o presente trabalho ressalta a interdependência existente entre elas, segundo a qual esses processos tornam-se companheiros inseparáveis. Só é possível produzir bons textos quando se mantém o constante exercício da leitura, desenvolvendo maior compreensão do mundo e de si mesmo e adquirindo saberes diversos. Consequentemente, analisando, compreendendo, contextualizando e criando ideias e opiniões próprias, que servem de base para a produção textual. Ou seja, para ser um leitor eficiente deve-se observar também o ensino da escrita, pois existe um estimado elo que as une: O conhecimento. Ainda em relação à leitura observa-se que, atualmente, as metodologias utilizadas nas escolas deixam a desejar no quesito incentivo à leitura. Deve-se fazer uma atualização das mesmas. Essa necessidade de atualização sustenta-se na proposta feita à escola de ensinar a prática, tanto da leitura quanto da escrita. Lê-se para escrever e escreve-se para ler, para fazer daquele que pratica essa atividade parte de um mundo social, globalizado, que exige que os jovens e adolescentes estejam preparados para vencer os desafios cotidianos da vida em sociedade, criticando e refletindo sobre o próprio pensar. Conclui-se que o papel ocupado pela leitura, de construtora de conhecimento, formadora social, intelectual e comunicativa, criadora e desenvolvedora de capacidades diversas, é de indiscutível importância para a vida do ser humano. Considerando-se que a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo descobrir novos métodos para despertar no adolescente e no jovem o gosto pela leitura, além do reconhecimento e incentivo da mesma, os estudos realizados, através da contribuição dos autores referenciados apontam, portanto, que deve-se, investir em novos métodos, para mudar a atual realidade de desinteresse em que se encontra a leitura, pois a mesma prepara aquele que a pratica para atender aos princípios da sociedade contemporânea e globalizada, que exige do cidadão habilidade intelectual, social e comunicativa, que o possibilita relacionar-se e exercer corretamente o seu papel enquanto ser social. 86 Consequentemente é urgente desconstruir a realidade de baixa qualidade nas produções textuais, atualmente feitas sem qualquer fundamentação técnica, basicamente sem coerência e sem coesão e desfazer o estereótipo que torna a leitura um ato obrigatório, desagradável, realizado pelo simples dever de cumprir com determinadas atividades propostas. A partir disso e, simultaneamente, criar melhor aceitação e maior interesse pela inclusão desse hábito ao cotidiano de cada jovem e de cada adolescente. 4 REFERÊNCIAS 1. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 2. AZEVEDO, Ricardo. Formação de leitores e razões para a literatura. In: SOUZA, Junqueira Renata de (Org). Caminhos para a formação do leitor. São Paulo: DCL, 2004. 3. BARBOSA, José Juvêncio. Alfabetização e leitura. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. 4. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. Língua Portuguesa. 3. ed. Brasília: MEC/SEF, 2001. 5. CAVALCANTI, Zélia (Coord.). Alfabetizando. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 6. CHARMEUX, Eveline. Aprender a ler: vencendo o fracasso. Tradução: Maria José do Amaral Ferreira, 4. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 7. COELHO, Nelly Novaes. Literatura e leitura em tempos de internet. In: INSTITUTO C&A; [apoio] FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL (Org). Nos caminhos da literatura. São Paulo: Petrópolis, 2008. 8. COLOMER, Teresa. Andar entre livros: a leitura literária na escola. In: INSTITUTO C&A; [apoio] FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL (org). Nos caminhos da literatura. São Paulo: Petrópolis, 2008. 9. COLASANTI, Marina. Avaliando minha dívida com a leitura. In: INSTITUTO C&A; [apoio] FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL (Org). Nos caminhos da literatura. São Paulo: Petrópolis, 2008. 10. D’ ONÓFRIO, Salvatore. Metodologia do trabalho intelectual. São Paulo: Atlas, 1999. 11. DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2012. 87 12. FEIL, Iselda Terezinha Sausen. Alfabetização: um desafio novo para um novo tempo. 13. ed. Ijuí: Vozes/ Fidene, 1987. 13. FERRÃO, Romário Gava. Metodologia científica: para iniciantes em pesquisa. Linhares, ES: Incaper, 2003. 14. FOGAÇA, Adriana Galvão. A contribuição das histórias em quadrinhos na formação de leitores competentes. In: SOUZA, Santinho Ferreira de (org). Olhares e perguntas sobre ler e escrever. Vitória: Flor&Cultura, 2002. 15. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 27. ed. São Paulo: Cortez, 1992. 16. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 17. KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. 10. ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 2004. 18. KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 9. ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 2004. 19. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 20. LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 2000. 21. LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Tradução Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002. 22. MACHADO, Ana Maria. Alguns equívocos sobre leitura. In: INSTITUTO C&A; [apoio] FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL (Org). Nos caminhos da literatura. São Paulo: Petrópolis, 2008. 23. MAIA, Joseane. Literatura na formação de leitores e professores. São Paulo: Paulinas, 2007. 24. MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 19. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 25. NASPOLINI, Ana Tereza. Didática de português: tijolo por tijolo: leitura e produção escrita. São Paulo: FTD, 1996. 26. NATALI, Adriana. O apagão da leitura. Revista Língua Portuguesa, ano VIII, n.83, p. 40 – 43. 2012 27. ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso e leitura. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 28. PETIT. Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. Tradução Celina Olga de Souza. São Paulo: 2008. 88 29. RASTELI, Alessandro. Biblioteca escolar: leitura e formação cidadã. Revista Presença Pedagógica, n. 116, p. 15-19, mar/abr, 2014. 30. REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA. A supercrise da leitura. São Paulo, ano VIII, n. 83, set. 2012. 66p. 31. RODRIGUES, Maria Antonieta Sampaio. Leitura da arte e sua função para o homem. In: SOUZA, Santinho Ferreira de. Percursos com a leitura. Vitória: Flor&Cultura, 2006. 32. SILVA. Ezequiel Theodoro da. A produção da leitura na escola: pesquisas x propostas. 2. ed. São Paulo: Ática, 2008. 33. SILVA. Ezequiel Theodoro da. Leitura & realidade brasileira. 2. ed. Porto Alegre: Mercado aberto, 1985. 34. SILVA. Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da leitura. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 35. SOLÉ, Izabel. Estratégias de leitura. Tradução Cláudia Schilling. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 36. SOUZA, Santinho Ferreira de. Percursos com a leitura. Vitória: Flor&Cultura, 2006. 37. SUASSUNA, Ariano. Todo professor deve ter um pouco de ator. Revista Nova Escola. São Paulo, n. 203, p. 16, Jun/Jul, 2007. Entrevista concedida a Paulo Araújo. 38. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 14. ed. Petrópolis: RJ: Vozes, 2012. 39. VIANA, Antônio Carlos (coord.). Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 2001. 40. ZANCHETTA, Leitura de narrativas juvenis na escola. In: SOUZA, Junqueira Renata de (Org). Caminhos para a formação do leitor. São Paulo: DCL, 2004. 41. ZILBERMAN, Regina. O ensino médio e a formação do leitor. In: INSTITUTO C&A; [apoio] FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL (Org). Nos caminhos da literatura. São Paulo: Petrópolis, 2008. 89 CRÍTICA À DITADURA DA BELEZA E DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL NA OBRA “A HORA DA ESTRELA” DE CLARICE LISPECTOR ADRIANA VASCONCELLOS GUIDE13 GEORGIA SANTOS RODRIGUES SILVA14 JOVÂNIA BÔA MARTINS15 LEONICE BARBOSA16 VANESSA PEREIRA DE SOUZA17 RESUMO O desenvolvimento deste trabalho foi realizado em torno da obra A hora da estrela de Clarice Lispector, renomada escritora modernista, que por meio da personagem Macabéa representou as condições de indivíduos marginalizados, que não se amoldaram aos padrões estabelecidos pela sociedade. O preconceito da ditadura da beleza e do desenvolvimento intelectual se constituiu como algo inerente à sociedade da época e tornou-se o tema central da obra literária, sendo, portanto, objeto da presente pesquisa. O estudo mostra ainda que atualmente este tema é recorrente. PALAVRAS CHAVE: Preconceito. Sociedade. Ditadura. Beleza. 1 INTRODUÇÃO Segundo Marconi e Lakatos (2000, p. 264), “o principal objetivo do investigador é despertar o interesse pela questão em pauta”. A crítica à ditadura da beleza e do desenvolvimento Intelectual na obra A hora da estrela,de Clarice Lispector, é o tema do presente trabalho de conclusão de curso. A concentração do tema está no preconceito que se estabeleceu sobre a personagem Macabéa. Esta pesquisa terá como base o contexto da literatura modernista do Brasil, investigando as marcas linguísticas que comprovam a veracidade do preconceito sobre a personagem Macabéa. O problema levantado está sintetizado no fato da narrativa A hora da estrela trazer em seu conteúdo um alto teor de crítica à ditadura da beleza e do desenvolvimento intelectual da personagem. A criação do estereótipo de Macabéa deu-se a partir de um princípio cuja marca é a insignificância: nada há nela, nem beleza, nem competência, nem eloqüência, que impeça o fato de ser substituída por outrem. A vida de Macabéa é o retrato da coletividade dos “incompetentes para a vida” (LISPECTOR, 1998, p.24), dos subjugados, dos facilmente manipulados, dos desinformados. Graduada em Letras, pela MULTIVIX – Nova Venécia. Graduada em Letras, pela MULTIVIX – Nova Venécia. 15 Graduada em Letras, pela MULTIVIX – Nova Venécia. 16 Mestranda em Ensino na Educação Básica (CEUNES_UFES) – Especialista em Língua Portuguesa e respectiva Literatura – Professora Orientadora de TCC Multivix – Nova Venécia. 17 Graduada em Letras, pela MULTIVIX – Nova Venécia. 13 14 90 Além do aspecto social até aqui mencionado, o presente trabalho, após ter sido aprovado, tornar-se-á instrumento de acesso às pesquisas para estudantes de graduação em Letras, pois tanto o conteúdo quanto a bibliografia dispensará informações ao pesquisador, estendendo-se esta utilidade aos leitores da literatura brasileira, principalmente aos apreciadores dos romances modernistas de Clarice Lispector. O objetivo geral será então identificar na obra A hora da estrela, por meio das situações e abordagens criadas pela escritora, os registros sobre as dificuldades enfrentadas por indivíduos marginalizados no processo de adaptação ao novo ambiente cultural. Revisar a biografia e a bibliografia da escritora Clarice Lispector; localizar a escola literária de A hora da estrela apontando o contexto social de produção das obras da autora; identificar a crítica da ditadura da beleza e da competência intelectual através das marcas linguísticas, mostrando que as diferenças sociais e intelectuais vivenciadas por Macabéa não se limitam à personagem, mas trata-se de um problema de caráter social; estabelecer o reconhecimento de que as literaturas são instrumentos de reflexão do momento histórico em que estas são produzidas, fazem parte dos objetivos a serem alcançados no desenvolvimento deste trabalho. A crítica à sociedade e o fim da personagem expressam que a ruptura com o preconceito dar-se-á apenas por meio da morte da estrela, a existência de evidências que comprovam a passividade ingênua de Macabéa diante do preconceito sofrido por ela, uma vez que aceita a humilhação sem contestar e a existência de marcas linguísticas que comprovam a condição da nordestina em seu viver no mundo, sendo marginalizada cultural e socialmente, são hipóteses levantadas que norteiam as investigações que poderão explicar o problema. Este trabalho será desenvolvido através de pesquisas exploratórias, utilizando-se como técnica para coleta de dados a bibliográfica baseando-se em fontes secundárias, como livros, artigos científicos, sites e etc. que servirão de fundamentos para toda a investigação proposta. 2 REFERENCIAL TEÓRICO 2.1 AS MANIFESTAÇÕES DA ARTE POR MEIO DA LITERATURA “O vocábulo literatura provém do latim literatura, que por sua vez deriva de littera e significa o ensino das primeiras letras. Com o tempo ganham sentido de arte das belas, ou arte literária”. (MASSAUD, 2003, p. 20). Os homens sempre narraram histórias acerca dos fatos que eram por eles vivenciados. Dessa forma muitos mitos e histórias eram conservados vivos na memória do povo, representando seus valores culturais e considerados importantes para transmitir experiências, provocar reflexões e servir de modelo para as gerações que se seguiram. 91 Segundo Leite (2000, p. 6), “Quem narra, narra o que viu, o que viveu, o que testemunhou, mas também o que imaginou, o que sonhou, o que desejou. Por isso narração e ficção praticamente nascem juntos”. O ato de contar histórias era então uma forma de imitar o que já havia acontecido de fato, ou ainda aumentar, inventar, criar novas situações. A ficção então é que dá conta de abranger o real e o imaginário. Segundo Coutinho (apud NICOLA, 2004, p. 38), A ficção distingue-se da história e da biografia, por estas serem narrativas de fatos reais. A ficção é produto da imaginação criadora, embora, como toda arte, suas raízes mergulham na experiência humana. Mas o que distingue das outras formas de narrativa é que ela é uma transfiguração ou transmutação da realidade, feita pelo espírito do artista, este imprevisível e inesgotável laboratório. A ficção não pretende fornecer um simples retrato da realidade, mas antes criar uma imagem da realidade, uma reinterpretação, uma revisão. É o espetáculo da vida através do olhar interpretativo do artista, a interpretação artística da realidade. Com o surgimento da escrita, os mitos e histórias ganharam lugar na literatura. Para Massaud, (2003, p. 22). [...] por mais generosa que seja a ideia duma literatura oral, popular, esta não passa de folclore, e só adquire status literário quando escrita pelos próprios autores ou pelos interessados na matéria; em suma, quando oferecido à leitura e esta é, inquestionavelmente, a primeira condição para que uma obra possua caráter literário. Os temas da cultura ocidental foram registrados e reconhecidos como fontes imprescindíveis para aquisição de conhecimentos sobre o início das civilizações. Essas obras clássicas são o ponto de partida para o estudo dos temas universais da humanidade: aIlíada e Odisséia (Homero, séc. VI a.C.), Eneida(Virgílio 30-19 a.C.). A canção de Rolando (Anônimo, 1130-1170), Cantar do Meu Cid (Anônimo, sec. XI), A canção dos Nibelungos (Anônimo, séc. V), A divina comédia (Dante Alighieri, 1.555), Dom Quixote(Miguel de Cervande, 1547-1616), O Corvo (Edgar Allan Poe,1845) e o Processo (Franz Kafka, 1925). O teor dos conteúdos das produções literárias da cultura ocidental foi forte influenciador para os intelectuais de todos os tempos da história literária. Com o passar dos anos, os críticos literários reconheceram que as obras deveriam ser consideradas de acordo com o período em que foram criadas, permitindo-se que as produções ao serem lidas, estudadas ou criticadas tivessem o respaldo do momento histórico para contextualizá-las. A história da Literatura Portuguesa, a começar com O Medievalismo (séc. XIII ao séc. XV) e O Renascimento (séc.XVI) retrataram o panorama histórico nacional de Portugal, há nelas registros sobre as grandes expedições marítimas. Em 1500, por meio dessas navegações, os portugueses descobriram um novo mundo, ou seja, o Brasil, e aqui introduziram a Língua Portuguesa, a cultura européia e as produções artísticas e literárias. A carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil tornou-se a primeira crônica literária que registrou a realidade brasileira no século XVI. 92 Segundo Caminha, (apud NICOLA, 2004, p. 54), [Quarta-feira, 22 de abril] (...) E à quarta feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam fura-buchos. E neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente d’um grande monte, mui alto e redondo e d’outras serras mais baixas a sul dele e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome o Monte Pascoal e à terra a Terra de Vera Cruz. Portanto, os períodos literários do Brasil colonial são: O Quinhentismo ou Literatura Informativa, O Seiscentismo ou Barroco, O Setecentismo ou Arcadismo. Após o Brasil ter se formado nação, os períodos literários que seguem ao Setecentismo são: Romantismo, Realismo/Naturalismo, Modernismo e Literatura Contemporânea. Uma escola literária somente se iniciava quando a outra declinava, pois o marco para o término de uma escola e o início da outra era evidenciado quando os movimentos artísticos tornavam-se oposições aos parâmetros das literaturas vigentes, uma vez que a historia da sociedade reflete-se na literatura. No entanto, entre todos os temas abordados nas obras literárias, a mulher sempre ocupou lugar de destaque, pois a sua figura tem se constituído fonte de inspiração para as produções artísticas. 2.2 DITADURA DO PADRÃO DE BELEZA FEMININO Por muitos anos vive-se em uma sociedade chamada democrática, onde o respeito e o livre arbítrio, teoricamente, são direitos sociais conquistados. Porém, inconscientemente e por imposição da sociedade o ser humano se direciona a um caminho ditado pela visão alheia, ou mesmo da própria mídia. Essa alienação desmonta o poder de escolha do indivíduo, que em busca de aceitação social, adere a um conjunto de regras coletivas exteriores, independentes da consciência, o que se estabelece então, é uma ditadura que deforma o livre arbítrio. O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), prestou relevante contribuição ao analisar as atitudes e comportamentos dos indivíduos, para assim compreender os problemas e as transformações que surgiram advindas do capitalismo e a necessidade da adaptação após essas mudanças, identificando a existência de um sistema que condiciona a sociedade o que ele chamou de “fatos sociais”. Segundo Nova (2011, p. 78-79), Em seu livro As regras do método sociológico, Durkheim registra as suas formulações básicas quanto à concepção especificamente sociológica da sociedade, ao campo de estudo da sociologia e ao método apropriado e à investigação cientifica dos fenômenos sociais. “a sociedade não é simples soma de indivíduos e sim sistema formado pela associação, que representa uma realidade especifica com seus caracteres próprios” (...). Não é demais ressaltar que, para Durkheim, portanto, nem todo acontecimento humano é fato social. Não basta que um fato ocorra na sociedade para merecer a qualificação de social. Assim, a sociologia, 93 obviamente não se ocupa de todos os fenômenos verificáveis na sociedade, mas apenas, daqueles que apresentam as características que determinam seu caráter especifico. À Sociologia compete estudar apenas os fatos sociais, e estes “consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao individuo dotados de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe”. Acrescenta Durkheim que além do poder de coerção externa sobre os indivíduos – sua característica mais importante - e da exterioridade em relação às consequências individuais, o fato social (...). A sociedade tem desenvolvido no âmbito da consciência e das emoções um padrão de beleza inalcançável, visto principalmente pelo público feminino, onde a maioria das mulheres, buscando adequar-se aos padrões exigidos pela coletividade adota uma postura consumista, desenfreada e muitas vezes exagerada em busca de aceitação pessoal e social. Conforme o psiquiatra e cientista Augusto Jorge Cury, autor de várias obras como: Mulheres inteligentes, relações saudáveis (2011); Ditadura da Beleza e a revolução das mulheres (2005), entre outras, e fundador da Academia de Inteligência (instituto que promove o treinamento de psicólogos, educadores e profissionais de recursos humanos), O padrão inatingível de beleza amplamente difundido na TV, nas revistas, no cinema, nos desfiles, nos comerciais, penetrou no inconsciente coletivo das pessoas e as aprisionou num único lugar em que não é admissível ser prisioneiro: dentro de si mesmas. (CURY, 2005, p. 3). Os maiores interessados na influência dos padrões de beleza são os produtores de cosméticos e de todos os mais diversos produtos que procuram atender as exigências desse mercado tão consumista, que é o feminino. Sendo estes os principais predadores da consciência frágil de uma pessoa com baixa autoestima. Conforme Jarid Arraes (REVISTA FORUM, 2013) 18: O fato de que a indústria de beleza é voltada para as mulheres não é uma descoberta recente. A feminista Naomi Wolf já havia escrito sobre o assunto em 1991, quando publicou “O Mito da Beleza”, livro onde explica como as duras cobranças sobre a aparência física feminina dificultam a vida das mulheres. Os padrões de beleza exigidos pela sociedade é uma verdadeira máquina lucrativa, onde uma minoria visa os lucros e contabiliza os ganhos, enquanto a maioria se vê massacrada numa eterna busca de uma aparência inatingível e ficcional. Segundo Jarid Arrares: Além de incitar um gasto exorbitante com produtos de beleza, provocar insegurança nas mulheres em troca de lucro financeiro também causa danos profundos e frequentemente irreversíveis. Em um mundo que cobra o humanamente impossível do sexo feminino, a hostilização, falta de oportunidades e baixa autoestima tornam as vidas das mulheres extremamente desafiadoras. (REVISTA FORUM, 2013) Subidem As próprias mulheres têm se tornado alvo e ao mesmo tempo predadoras de si mesmas diante dessa ditadura, ao passo que, em grande escala, graves doenças 18 Revista Fórum. Padrão Imposto, mulheres aprisionadas. 2013. Disponível <<http:www.revistaforum.com.br|questãodegenero|padrão-imposto-mulheres-aprisionadas. em 94 como: bulimia, anorexia, obesidade e desnutrição, causadas por transtornos alimentares entre outras, vão surgindo, devido à insatisfação do ser humano com o próprio corpo. Cury (2005, p. 4), relata sobre essa ditadura da seguinte forma: Essa ditadura assassina a auto-estima, asfixia o prazer de viver, produz uma guerra com o espelho e gera uma auto-rejeição profunda. Inúmeras jovens japonesas repudiam seus traços orientais. Muitas mulheres chinesas desejam a silhueta das mulheres ocidentais. Por sua vez, mulheres ocidentais querem ter a beleza incomum e o corpo magríssimo das adolescentes das passarelas, que frequentemente são desnutridas e infelizes com a própria imagem. Mais de 98% das mulheres não se vêem belas. Isso não é uma loucura? Vivemos uma paranóia coletiva. É importante salientar que esses distúrbios causados pela falta de autoestima abrange uma sociedade global, onde o grau de afetividade tem diminuído e por sua vez não se atém aos verdadeiros valores do ser humano. Segundo relato da psicóloga Jorge em seu artigo Ditadura da Beleza - uma visão subjetiva (2013-2014)19, Constantemente recebo em meu consultório mulheres inseguras, com a autoestima bastante comprometida, em geral, sozinhas, em busca de um parceiro. Não atender a esses padrões, muitas vezes compõe a lista de fatores que minam sua segurança. Não conseguem valorizar sua beleza, nem mesmo outros aspectos tão interessantes de suas personalidades! Fico pensando o quanto a valorização desses atributos externos está tão arraigada em nossa consciência que deixamos de olhar para o que realmente importa: a essência, que se encontra dentro de cada um de nós! Esse padrão sistematizado de beleza tem promovido grande dificuldade de aceitação aos desgastes e as marcas deixadas no corpo, pois à medida que os anos vão sobrevindo, o medo da velhice assombra de forma cruel, surge entãoa capacidade de lutar a qualquer custo contra a flacidez levando a população feminina a ir além das normalidades permitidas pela saúde, a ponto de colocar em risco a própria vida. Segundo Jarid Arriaes (REVISTA FORUM, 2013)20: A insegurança das mulheres diante da possibilidade de confrontar o padrão de beleza faz com que debates pertinentes ao assunto encontrem poucos espaços efetivos. Não obstante, é necessário um esforço genuíno para alcançarmos algo em termos de avanços políticos feministas. O padrão de beleza é como uma corrente que ludibria e limita as mulheres, permitindo que avancem somente até certo ponto e sob condições rígidas. Enquanto valores arbitrários e subjetivos como feminilidade e beleza, ou mesmo estados temporários como a juventude continuarem a ser exigidos das mulheres, não haverá libertação plena. 19 JORGE, Samara. Ditadura da mulher: uma visão subjetiva. 2013-2014. Disponível em <<http:WWW.samarajorge.com.br.-ditadura_blz.html. 20 Revista Fórum. Padrão Imposto, mulheres aprisionadas. 2013. Disponível em <<http:www.revistaforum.com.br|questãodegenero|padrão-imposto-mulheres-aprisionadas. 95 É bem verdade que a ditadura da beleza também atinge os homens. Mas muitos estudiosos concluem que os mesmos são os determinantes do estereótipo mais buscado pelas mulheres. Agora, eles produziram uma sociedade de consumo inumana, que usa o corpo da mulher, e não sua inteligência, para divulgar seus produtos e serviços, gerando um consumismo erótico. Esse sistema não tem por objetivo produzir pessoas resolvidas, saudáveis e felizes; a eles interessam as insatisfeitas consigo mesmas, pois quanto mais ansiosas, mais consumistas se tornam. (CURY, 2005, p. 4). Essa ditadura tem feito vitimas até crianças e adolescentes, que desde cedo têm tido sua consciência persuadida por uma mídia que impõe o estereótipo belo e intelectual, e discretamente contamina o consciente emocional do ser humano conduzindo-o a comportamentos nocivos à própria autoestima. Conforme Camargo (2014)21, graduado em sociologia e política pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo- FESPSP, mestre em sociologia pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e colaborador do Brasil Escola. o consumismo desenfreado gerado pela mídia em geral foca principalmente adolescentes como alvos principais para as vendas, desenvolvendo modelos de roupas estereotipados, a indústria de cosméticos lançando a cada dia novos cremes e géis redutores para eliminar as “formas indesejáveis” do corpo e a indústria farmacêutica faturando algo com medicamentos que inibem o apetite. (...) Preocupados com a busca desenfreada da “beleza perfeita” e pela vaidade excessiva, sob influência dos mais variados meios de comunicação, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apresenta uma estimativa que cerca de 130 mil crianças e adolescentes submeteram-se no ano de 2009 a operações plásticas. 3 MARCAS LINGUÍSTICAS IDENTIFICADAS NA OBRA A HORA DA ESTRELA Na obra A hora da estrela de Clarice Lispector, a protagonista Macabéa é retratada como alguém sem significância na sociedade por suas características físicas, que não se encaixavam nos padrões de beleza da época. Clarice Lispector criou o narrador Rodrigo S.M., para descrever a veracidade da história, o que implica em um paradoxo proposto pela autora “e é claro que a historia é verdadeira embora inventada” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Rodrigo S. M., num ato de denúncia, descortina a vida de algumas mulheres que por vezes são ignoradas e até mesmo esquecidas pela sociedade. Sua personagem, a Macabéa, apesar de existir, é o retrato da inexistência, mas a vida dela não podia sequer ser comparada a das moças que se prostituíam por tratar-se de uma pessoa que não fazia falta a ninguém. CAMARGO, Orson. Mídia e culto: a beleza do corpo, 2014 – disponível <<http:WWW.BrasilEscola.com sociologia.a influência-mídia-sobre-os-padrões-belezahtm. 21 em: 96 É notório que a autora confere à obra o seu caráter subjetivo “que cada um a reconheça em si mesmo” (LISPECTOR, 1998, p.12). Dessa forma Clarice mostra a história de muitas moças nordestinas com a mesma situação, classificação na sociedade e competência intelectual, tudo isso para denunciar a condição de muitas dessas pessoas retirantes, como um grito por elas, pois a condição de aparência física e intelectual lhes impõe elevado grau de inferioridade que lhes impedem de dar o grito. Esse grito representa a condição de serem vistos na sociedade como seres de significância. O que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então eu grito. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. (LISPECTOR, 1998, p. 13 e 14). Ao descrever a vida de sua personagem, uma retirante nordestina que emigrou para a cidade do Rio de Janeiro, o narrador S.M. se esforça para usar um humilde vocabulário na elaboração dessa história, ou seja, apropriou-se de uma linguagem simples para que leitor compreendesse a dimensão de seu conteúdo. (...) tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente – mas sem fazer estardalhaço da minha humildade que já não seria humilde – limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado n o sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o terceiro ano primário. (LISPECTOR, 1998, p. 15). Rodrigo S.M relata mais um agravante, é que, para muitos, ela se tornara invisível, como se não existisse, apesar da sua inocência quanto ao fato. “A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham”. (LISPECTOR, 1998, p. 15 e 16). A personagem Macabéa é comparada com animais que por não ter ninguém por eles, seguem sem rumo seu próprio destino. O narrador, ao fazer a comparação, sugere ao leitor à falta de perspectiva de sua personagem. “Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte: ela como uma cadela vadia era teleguiada exclusivamente por si mesma. Pois reduzia-se a si”. (LISPECTOR, 1998, p. 18). Nada possuía, nem era possuída de ninguém. Não tinha família, namorado, dinheiro, aparência, sonho, sensualidade, só tinha o nada para construir sua particular insignificância na vida. Mesmo dizendo que precisa escrever com simplicidade, despojando–se de si mesmo numa tentativa de adaptar-se ao nível da personagem, o narrador descreve o fato como um ato difícil. Segundo ele, esta situação ocorre pelo fato da vida de Macabéa não apresentar acontecimentos dignos de serem mencionados. 97 Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Ah que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho a contar parece fácil e à mão de todos. Mas a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados apalpar o invisível na própria lama. (LISPECTOR, 1998, p.19). Rodrigo S. M., desenvolve um processo de construção e desconstrução da personagem em busca de definir a sua identidade, enfatizando que ela não tinha nenhuma outra perspectiva de vida e nem direito de escolha, inclusive estava totalmente desajustada em uma sociedade que por meio de seus moldes préestabelecidos exigia de Macabéa um padrão de comportamento além de suas possibilidades. O narrador fazia questão de dizer que sua personagem, apesar de ninguém a enxergar, ela estava ali representada naquela excessiva magreza. De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada: a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu: cuidai dela porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. (LISPECTOR, 1998, p.19). Rodrigo S. M. admite que durante a narração, ele precisou abster–se de seus hábitos rotineiros (saudáveis e higiênicos) para conseguir descrever fielmente a sua personagem. Agora não é confortável: para falar da moça tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só cochilar de pura exaustão, sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr no nível da nordestina. (LISPECTOR, 1998, p.19). O narrador questiona o fato da moça nordestina nunca ter contemplado sua nudez, “pudor ou vergonha?” Pergunta o narrador. Os padrões de beleza femininos não seriam encontrados em Macabéa. No entanto, a visão do espelho propõe uma relação entre o narrador e a personagem, pois ambos se olham ao espelho e o reflexo obtido da imagem dele, um rosto cansado e barbudo e da protagonista a vergonha de ver seu corpo nu, afinal, nem ele nem Macabéa se sentiam inseridos em uma sociedade que ditavam padrões inatingíveis aos dois tipos de indivíduos marginalizados. Vejo a nordestina se olhando no espelho e – um rufar de tambores - no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos inter trocamos.(...) A moça tinha ombros curvos como os de uma cerzideira. Aprendera em pequena a cerzir. Ela se realizaria muito mais se se desse ao delicado labor de restaurar fios, quem sabe se de seda. Ou de luxo: cetim bem brilhoso, um beijo de almas. Cerzideirinha mosquito. Carregar em costas de formiga um grão de açúcar. Ela era de leve como uma idiota, só que não era. Não sabia que era infeliz. É porque ela acreditava. Em quê? Em vós, mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa – basta acreditar. Isso lhe dava às vezes estado de graça. Nunca perdera a fé. (LISPECTOR, 1998, p. 22 e 26). 98 O narrador intensifica ainda mais a situação de insignificância da moça quando se refere as suas origens, conferindo um perfil degradante aos seus antecedentes. Com palavras não eruditas, mas com alto teor depreciativo, Rodrigo S. M., personagem narrador conduz o leitor ao retrato de Macabéa. Com base nas características físicas, psicológicas e sociais descritas é impossível que o leitoridentifique alguma forma de beleza nela, como pretende a autora. “Outro retrato: nunca recebera presentes” (LISPECTOR, 1998, p. 40). Ao referir-se a palavra “retrato”, Lispector remete o leitor à sensação de já ter visualizado a Macabéa como em uma fotografia, e acrescenta mais informações para a sua composição, degradantes, é claro! ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de um não sei o quê com ar de se desculpar por ocupar espaço. No espelho distraidamente examinou de perto as manchas no rosto. Em Alagoas chamavam-se “panos”, diziam que vinha do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada de pó branco e se ficava meio caiada era melhor que o pardacento. Ela toda era um pouco encardida, pois raramente se lavava. De dia usava saia e blusa, de noite dormia de combinação. Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era morrinhento. E como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela era iridescente, embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava. Ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio. (LISPECTOR, 1998, p. 27). Há uma complexidade no meio urbano capitalista que requer de seus moradores um nível mais elevado de conhecimento de mundo, de refletir rapidamente, e Macabéa era totalmente desprovida desses recursos, pois ela, sendo produto do interior de Alagoas, era, portanto, inadequada aos grandes centros urbanos, consequentemente vivia sem perspectiva, sem determinação, sem sonhos, caracterizando uma vida vazia e sem sentido. Segundo Lispector, (1998, p. 23), “Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade – para que mais que isso? O seu viver é ralo”. O narrador fala de uma pessoa sem muita instrução quanto ao asseio de seu corpo. Acostumada a viver sem objetos básicos e necessários como um cobertor nas noites frias, a moça estava doente, com tuberculose, que é uma enfermidade grave, cujos sintomas ela já sentia como: o cansaço exaustivo, excessiva magreza e sono de péssima qualidade. Macabéa, uma moça que veio para a cidade a procura de trabalho, sem condições financeiras, criada pela tia, maus antecedentes, provavelmente não adquiriu ensinamentos o suficiente para comportar-se bem e defender-se. Há em Clarice, na pessoa de seu personagem narrador, uma forte intenção de que o leitor tenha condições de mensurar as dificuldades cotidianas, os preconceitos e discriminações que as Macabéas da vida vêm enfrentando socialmente em todos os tempos, mas, o romance A hora da estrela reporta o leitor à década de setenta, época em que foi escrito, quando as manifestações feministas começaram a conquistar um espaço profissional para as mulheres, e estas saindo de seus lares, se projetaram para os grandes centros urbanos sem nenhum preparo físico, psicológico e financeiro. 99 Moça essa que dormia de combinação de brim com manchas bastante suspeitas de sangue pálido. Para adormecer nas frígidas noites de inverno enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Dormia de boca aberta por causa do nariz entupido, dormia exausta, dormia até o nunca (...) – que ela era incompetente. Incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. (LISPECTOR, 1998, p. 24). As manifestações trouxeram as conquistas, mas não trouxeram preparo para que estas se instaurassem. O narrador menciona o banheiro como um lugar que faz alegoria à vida de sua própria personagem. Trata-se de seu espaço-refúgio, pois foi para lá que se dirigiu no momento em que recebeu a notícia de sua provável demissão. O espelho baço e escurecido, a pia imunda, rachada e cheia de cabelos, ao descrever o banheiro, o narrador estabelece um diálogo entre o ambiente e a moça, uma mútua linguagem de desconstrução, de degradação. Depois de receber o aviso foi ao banheiro para ficar sozinha, porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Sumira por acaso a sua existência física? Logo depois passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme como de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou: tão jovem e já com ferrugem. (LISPECTOR, 1998, p. 25). A moça não possui um senso crítico capaz de avaliar a veracidade das informações que recebia. Quando ouvia as notícias pelo rádio, muito pouco ela entendia, sua acentuada simplicidade não lhe dava condições de ser alcançada por uma linguagem que visava alcançar um público de massa, se a tia dizia que ovo fazia mal, ela adoecia quando o comia. Alguém sugeriu a ela uma cartomante, prontamente foi ao encontro de uma, a cartomante vendeu ilusões e ela acreditou, enfim Macabéa era facilmente manipulada, parecia até possuir um distúrbio mental que a impedia de avaliar uma situação e emitir pensamentos lógicos a respeito da realidade. Vagamente pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço. Cantavam o cansaço. E as galinhas, que faziam elas? Indagavase a moça. Os galos pelo menos cantavam. Por falar em galinha, a moça às vezes comia num botequim um ovo duro. Mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obediente adoecia, sentindo dores do lado oposto ao fígado. Pois era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra “realidade” não lhe dizia nada. (LISPECTOR, 1998, p. 34). Clarice não atribuiu de fato algum distúrbio mental ao comportamento de Macabea, mas às precárias condições de sua origem, do ambiente em que nasceu e cresceu. Enquanto a vida na cidade grande é muito acelerada e para isso são desenvolvidos equipamentos e produtos tecnológicos que facilitam a vida e promovem rapidez, Macabéa conserva a lentidão, a vagarosidade, mesmo porque, não consegue ser diferente. Acabo de descobrir que para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Dava-se melhor com um irreal cotidiano, vivia em câmara leeeenta, 100 lebre puuuuulando no aaaar sobre os ooooouteiros, o vago era o seu mundo terrestre, o vago era o de dentro da natureza”. (LISPECTOR, 1998, p. 34). Olímpico um dos personagens de A hora da estrela, inicialmente namorado de Macabéa, era também nordestino, mas ao contrário da moça, era ambicioso, pretendia crescer na vida mesmo que fosse necessário ser desonesto para conseguir isso. Ele participou negativamente na história de Macabéa, aproveitando suas características físicas como alvo de seus maldosos ataques. - Claro! Mas viver bem é coisa de privilegiado. Eu sou um e você me vê magro e pequeno mas sou forte, eu com um braço posso levantar você do chão. Quer ver? - Não, não os outros olham e vão maldar! - Magricela esquisita ninguém olha. (LISPECTOR, 1998, p. 52) Entre os dois nordestinos, marginalizados por suas origens, a Macabéa conseguia ser a pior. Olímpico era ambicioso, queria ser deputado, podia gerar filhos, Macabéa não sabia o que era realidade, não pensava no futuro, não podia gerar filhos, seus ovários eram murchos, provavelmente isto também ela não sabia. “Enquanto Olímpico era diabo premiado e vital e dele nasceriam filhos, ele tinha o precioso sêmen. E como já foi dito ou não foi dito Macabéa tinha ovários murchos como um cogumelo cozido” (LISPECTOR, 1998, p.58 e 59). Macabéa, em sua condição de indivíduo social, que necessariamente se relaciona e interage no mundo exterior, mas não sabendo como se comportar espelhava-se em Glória, que, como Marilyn Monroe, passou a ser ícone de beleza para ela. Contava tudo para Glória, com o anseio de captar algumas dicas para compor o seu próprio discurso por que “Glória roliça, branca e morna... ela era satisfatona: tinha tudo o que seu pouco anseio lhe dava. E havia nela um desafio que se resumia em ninguém manda em mim”. (LISPECTOR, 1998, p. 63 e 65). A vanguardista Clarice Lispector, em seu processo de construção e reconstrução da personagem Macabéa, anseia desvendar uma verdade, vista por ninguém, porque o exterior era em si repugnante, mas no fôlego, na essência havia a coragem de repetir o discurso de alguém para tentar emitir o seu próprio discurso, mas nem mesmo ela sabia disso. Utilizava-se de signos linguísticos para conferir peso a sua identidade: consumir Coca-Cola, comer cachorro-quente, ir ao cinema, colecionar propagandas de produtos de beleza, admirar Marylin Monroe, tudo isso para manter conexão com o outro e quem sabe ser aceita. Esqueci de dizer que era realmente de se espantar que para corpo quase murcho de Macabéa tão vasto fosse o seu sopro de vida quase ilimitado e tão rico como o de uma donzela grávida, engravidada por si mesma, por partenogênese. (LISPECTOR, 1998,p.60). A moça era de carne e osso, portanto naturalmente sensível e possuidora da libido, coisas estranhas, a seu ver, acontecia com ela, o que prontamente se resguardava e apelava por ajuda, segundo a instrução tradicional religiosa, vinda nem ela sabe de onde. 101 Macabéa esqueci de dizer, tinha uma infelicidade: era sexual. Como é que num corpo cariado como o dela cabia tanta lascívia, sem que ela soubesse que tinha? Mistério. Havia, no começo do namoro, pedido a Olímpico um retratinho tamanho3x4 onde ele saiu rindo para mostrar o canino de ouro e ela ficava tão excitada que rezava três pai-nosso e duas ave-marias para se acalmar. (LISPECTOR, 1998, p.60 e 61). A hora da estrela se concretiza na morte de Macabéa, seu momento de glória, pois neste instante de fulguração rápida, ela descobre a sua essência e toma consciência de si mesmo. Simultaneamente dá-se a ruptura com o preconceito por meio da sublimação da vida para a morte. A morte representa para todos os seres humanos um momento de reflexão, a autora, então, deixa que o leitor desenvolva suas próprias expectativas em torno desse instante. Nesta hora exata Macabéa sente um fundo enjôo de estômago e quase vomitou, queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso. Estrela de mil pontas. O que é que estou vendo agora e que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo, enfim o âmago tocando no âmago: vitória! E então – então o súbito grito estertorado de uma gaivota, de repente a águia voraz erguendo para os altos ares a ovelha tenra, o macio gato estraçalhado um rato sujo e qualquer, a vida come a vida. Até tu, Brutus?! Sim, foi este o modo como eu quis anunciar que – que Macabéa morreu. Vencera o Príncipe das Trevas, Enfim a coroação. (LISPECTOR, 1998, p. 85). 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS A crítica à ditadura da beleza e do desenvolvimento intelectual na obra A hora da estrela de Clarice Lispector foi o tema escolhido deste presente trabalho, portantoo problema constituiu-se no fato de que a autora tenha construído uma narrativa sobre uma personagem que veio do nordeste, encontrando o preconceito e a humilhação em um grande centro urbano, pois a todo o tempo reitera-se a feiura e a falta de inteligência de sua personagem, a Macabéa. Concluiu-se então que as hipóteses levantadas foram cabalmente comprovadas, uma vez que a obra A hora da estrela em sua narrativa, desenvolve seu papel crítico social, provocando o reconhecimento desse fato ao leitor. Em síntese, o problema que se pretendeu abordar neste trabalho é se de fato há na obraA hora da estrela uma crítica à ditadura da beleza e do desenvolvimento intelectual. A princípio, buscou-se respaldo na História da Literatura Brasileira, uma vez que o problema teceu-se em torno de uma personagem do mundo literário: a Macabéa, do sexo feminino, inserida no contexto do período modernista. O que se fez então foi uma trajetória cronológica para identificar a figura da mulher nos diversos seguimentos literários estabelecendo-se uma conexão desde o período Quinhentista até o período modernista. 102 Logo, encontrou-se neste período modernista,mulheres na vanguarda do seu tempo, entre elas: Clarice Lispector, grande escritora brasileira, que transfigurando a realidade, retratou a vida de Macabéa num glorioso espetáculo, “tentarei tirar ouro do carvão.” (LISPECTOR, 1998, p. 16), sob uma leitura e interpretação simples do que seja não existir existindo,de forma grandiosa e ao mesmo tempo rala, arquitetou sua personagem, a qual sofreu o preconceito da ditadura da beleza e do desenvolvimento intelectual. Confirmou-se também, por meio de teorias das Ciências Sociais, que o preconceito que se estabeleceu sobre a representação de Macabéa é um fato coletivamente compartilhado, portanto trata-se de um fato social. Finalmente, observou-se que mulheres em todo o mundo sofrem em busca dos padrões inatingíveis de beleza, que estes são amplamente divulgados pela mídia e fomentados pelas indústrias de cosméticos. Essas empresas criam um mito da beleza em torno da aparência das mulheres, dificultando suas vidas ao passo que exercem constantes cobranças em torno de sua aparência física, e isso implica o fato de que: mulheres feias, desajeitadas e não produzidas,sejam explicitamente ou implicitamente, rejeitadas. De fato, na obra de ficção modernista de Clarice, a sua personagem existia como se não existisse, e para uma pessoa anônima assim só havia uma esperança de ter o seu momento, o seu instante de glória, o que se deu por meio de sua morte, que estatelada no chão foi alvo dos olhares fugazes dos anônimos que passavam. 5 REFERÊNCIAS 1. ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana – Produção de texto: português, língua, literatura. Vol. único: Moderna, 2008. 2. ALENCAR, José de. Literatura brasileira: Iracema, 1. ed. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 3. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução a metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 5 ed. São Paulo: Atlas S.A. – 2001. 4. ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Caras, Abril: Editora Klick, 2003. 5. BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 41. ed. São Paulo: Cultrix, 1994. 6. CAMARGO, Orson. Mídia e culto: a beleza do corpo, 2014 – disponível em: <<http:WWW.BrasilEscola.com sociologia.a influência-mídia-sobre-os-padrõesbelezahtm. 103 7. CASTELLO, Jose Aderaldo. A literatura brasileira: origens e unidade. Vol. 1, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1999. 8. CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES, linguagens. São Paulo: Atual, 2003. Tereza Cochar. Português 9. CERVO, Amado Luiz, BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 10. COELHO, Nelly Novaes. A literatura feminina no Brasil contemporâneo. São Paulo: Siciliano, 1993. 11. COUTINHO, Afrânio; COUTINHO, Eduardo de Faria. A literatura no Brasil. 6. ed. Volume 1, São Paulo: Global, 2003. 12. ______.______ 6. ed. Volume 2, São Paulo: Global, 2001. 13. ______. ______ 6. ed. Volume 3, São Paulo: Global, 2002. 14. ______.______ 6. ed. Volume 4, São Paulo: Global, 2002. 15. ______.______ 6. ed. Volume 5, São Paulo: Global, 2001. 16. CURY, Augusto. A ditadura da beleza e a revolução das mulheres. Rio de Janeiro, Sextante, 2005. 17. FERRÃO, Romário Gava. Metodologia científica para iniciantes em pesquisa. 3. ed. Vitória: Incaper, 2008. 18. FERREIRA, Nadiajda. Revista literatura, 32. ed., São Paulo: Nadiajda Ferreira, 2005. 19. JORGE, Samara. Ditadura da mulher: uma visão subjetiva. 2013-2014. Disponível em <<http:WWW.samarajorge.com.br.-ditadura_blz.html. 20. LEITE, Lígia Chiappini Moraes. O foco narrativo. São Paulo: Ática, 2000. 21. LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco Ltda., 1998. 22. MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000 23. MASSAUD, Mosés. A criação literária: Poesia, 19. ed. São Paulo: Cultrix, 2003. 24. ______. A literatura brasileira através dos textos. 28. ed., São Paulo: Cultrix, 2007. 25. NICOLA, José de. A literatura brasileira. 16. ed., São Paulo: Scipione, 2004. 26. NOVA, Sebastião Vila. Introdução à sociologia. 6. ed., São Paulo: Atlas, 2011. 104 27. Revista Fórum. Padrão Imposto, mulheres aprisionadas. 2013. Disponível em <<http:www.revistaforum.com.br|questãodegenero|padrão-imposto-mulheresaprisionadas. 28. SÁ, Olga de. A escritura de Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes, 1979. 29. SANTOS, Maria Regina. Amor de Clarice Lispector: a luz da literatura feminina. 2009. Disponível em <<http:www.webartigos-análise-dapersonagem.ana.em. Amordeclaricelispector.a.luzdaliteratura-feminina-16613.> acesso em 28 de Out. 2013. 30. VASQUEZ, Pedro Karp. Autobiografia. Disponível em <http:wwwclaricelispector.com.br/autobiografia.aspx.clarice.por.clarice> acesso em 01 de Out. de 2013.
Download