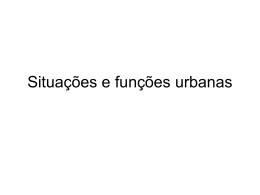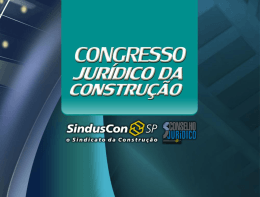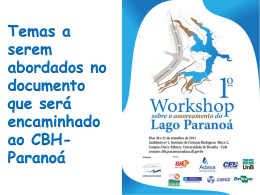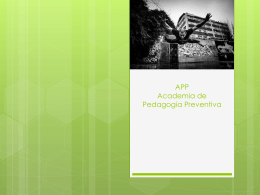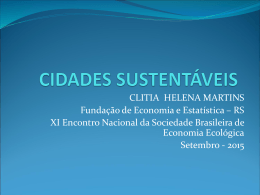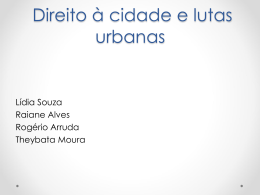Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Desafios das Políticas Urbanas no Brasil: a importância dos instrumentos de avaliação e controle social Angélica A. Tanus Benatti Alvim Arquiteta e urbanista, mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/ USP), professora da graduação e pós – graduação e pesquisadora da FAU/ Mackenzie. Volia Regina Costa Kato Socióloga e Mestre pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; professora da graduação e pesquisadora da FAU / Mackenzie. Luiz Guilherme Rivera de Castro Arquiteto e urbanista pela FAU / USP; mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor pela FAU / USP; professor da graduação e pesquisador da FAU / Mackenzie. Silvana Maria Zioni Arquiteta e urbanista pela FAU /USP, mestre e doutoranda FAU/ USP, professora da graduação e pós – graduação e pesquisadora da FAU/ Mackenzie. 1 RESUMO A partir da constatação de que não se dispõem de metodologias consolidadas de avaliação, acompanhamento e controle na implementação de políticas públicas urbanas no Brasil, este artigo objetiva discutir a atividade de avaliação nos planos, políticas e programas formulados para escala local intra-urbana, trazendo parte dos resultados obtidos em pesquisa realizada durante o ano de 2005. Temse como referência empírica o conjunto de políticas urbanas no Município de São Paulo, entre 2001 e 2004, que busca institucionalizar um processo de planejamento participativo e descentralizado a partir dos marcos legais firmados pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal nº. 10.257 de 2001 - o Estatuto da Cidade. 2 INTRODUÇÃO O campo dos estudos de avaliação de políticas e de programas de ação estatalgovernamentais tem como objetivo aprimorar processos de formulação, implementação, acompanhamento e controle social. No contexto da sociedade brasileira, tais estudos podem contribuir para o fortalecimento de uma cidadania democrática e pluralista, baseada na produção e ampla divulgação de informações e conhecimentos sobre as ações públicas. Frente aos desafios colocados pelo intenso processo de urbanização no Brasil contemporâneo, as questões relativas às políticas ambientais, de gestão das cidades e de organização do território adquirem crescente relevância, colocando novos problemas para o campo de conhecimento e de formação profissional nas áreas de arquitetura, urbanismo e planejamento urbano. Processos de avaliação e acompanhamento sistemáticos de ações urbanísticas - estruturados em torno dos conceitos de eficácia, eficiência e efetividade - podem contribuir para a construção de ambientes urbanos mais equilibrados e justos. Esse artigo elaborado com base na pesquisa “Políticas públicas e de planos de urbanismo na escala local intra - urbana: instrumentos e metodologias de avaliação e acompanhamento” 1 tem como objetivo discutir a atividade de avaliação em planos, políticas e programas na escala local intra-urbana a partir da institucionalização de um novo quadro legal firmado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade em 2001 (Lei Federal nº10.257 de 2001). Destaca-se que esses marcos legais contemplam, sobretudo, o caráter social da cidade, a importância dos processos participativos, bem como a necessidade de procedimentos de avaliação e controle social. A partir da constatação de que não se dispõe de metodologias consolidadas de avaliação, acompanhamento e controle na implementação de políticas públicas urbanas no Brasil, evidencia-se a necessidade da construção de metodologias e de sistemas de indicadores para a análise da eficácia, eficiência e efetividade de planos e ações urbanísticas integrados a políticas públicas formuladas na instância do poder local – isto é, no âmbito do Município. Tomando como referência empírica as políticas urbanas do Município de São Paulo do período de 2001 a 2004, examina-se um conjunto de relações e elementos que encontram-se articulados no interior das políticas urbanas. 3 1. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Em termos gerais, avaliação é ato ou efeito de avaliar, implicando a atribuição de utilidade, de valores ou ambos. A noção de avaliação trás implícita a idéia de análise: decomposição em partes, exame minucioso, esquadrinhamento de um sujeito, objeto, relação ou processo. Traz também implícita a idéia de atribuição de valor, e nesse sentido, as avaliações inscrevem-se no processo político-social no sentido de tomada de posições em relação a quais objetivos e a quais valores dos diferentes grupos sociais esses valores estão referidos. Avaliações de diversos tipos são feitas constantemente por indivíduos, grupos, firmas, categorias e classes sociais, em todas as instâncias da vida social. A avaliação de ações estatal-governamentais não se furta a essas avaliações, feitas cotidianamente e freqüentemente expressas na mídia, embora o foco da avaliação possa apresentar grandes variações. Nos Estados democráticos, as eleições e sufrágios para cargos públicos, gerais ou parciais, representam avaliações periódicas e globais da condução das atribuições de governo do Estado e das ações estatal-governamentais. O significado do termo na expressão política pública aproxima-se do sentido do termo policy na língua inglesa, fazendo referência a um programa ou curso de ação governamental ou referindo-se a um conjunto complexo de programas, procedimentos e regulamentações governamental-estatais concorrentes a um mesmo objetivo geral, quando utilizado no plural – políticas, com o correspondente inglês policies. O correspondente em português ao termo inglês polity – relativo aos aspectos estruturais e de longa duração da organização política e social e ao ordenamento jurídicoinstitucional do Estado – também é política. E o mesmo termo é empregado com relação à esfera das negociações e disputas entre as forças sociais – disputas e negociações político-partidárias nos diversos níveis de poder que se travam a respeito das funções e finalidades do Estado, significado que tem no termo politics seu correspondente na língua inglesa. As políticas públicas em sentido estrito comportam aspectos operacionais da ação governamental-estatal vinculados a objetivos sociais, incluindo o atendimento a demandas sociais específicas, que podem ser setoriais – como por exemplo nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, transportes, etc. – ou de caráter mais geral englobando diversos setores, como as políticas de desenvolvimento (SILVA, 2005). 4 As políticas públicas guardam relação estreita com a política compreendida como “relações de poder entre grupos, categorias e classes” (PRETEICELLE, 1990) que se manifestam nas disputas eleitorais, nos partidos políticos, nos movimentos sociais e nas denominadas organizações da sociedade civil. Pode-se afirmar que mesmo a gestão urbana cotidiana e a adoção de determinados conjuntos de técnicas, instrumentos e modos de organização guardam relação com o universo dessas relações de poder. Para sua efetivação, as políticas públicas implicam a elaboração de planos, programas ou projetos, com o estabelecimento de uma seqüência de ações encadeadas e delimitadas no tempo, contendo definições precisas sobre os meios a serem utilizados, os instrumentos operacionais e os objetivos ou metas a serem alcançados. Se as escolhas feitas nesse nível não são neutras, as relações entre a esfera da formulação e implementação de políticas (policies) e a esfera do processo político (politics) são mais complexas que as de subordinação restrita de uma a outra2. Essas relações não são estabelecidas de modo mecânico ou automático e também não são constantes – estão sujeitas a grande variabilidade em função de múltiplos e diversos processos de mudança e transformação social. Por outro lado, tanto as políticas quanto a política desenvolvem-se dentro de um quadro político-institucional mais estável – isto é, de maior duração – e mais geral (polity), que diz respeito aos próprios processos que constituem e dão estabilidade ao Estado Nacional. Pode-se afirmar que as políticas públicas representam codificações e recodificações (SILVA, op.cit.) das demandas e das práticas sociais pelo conjunto de instituições que forma o Estado. O Estado democrático – e isso é parte constitutiva de suas atribuições e funções, bem como a base para a sua legitimidade e para o exercício de sua hegemonia – o reconhecimento, o tratamento e a proposição de resoluções para as demandas, questões e problemas sociais. Mesmo quando o faça de modo distorcido e incompleto, o conjunto dos enunciados e das práticas vinculadas às políticas públicas é formulado como resposta a demandas concretas de grupos, categorias e classes sociais. Sendo assim, tanto os conflitos e disputas quanto as convergências e coalizões de interesses diferenciados e mesmo conflitantes desses agrupamentos tendem a se reproduzir no âmbito das políticas públicas e da ação estatal-governamental. Pressuposto é que sistemas de avaliação sejam construídos tendo como principal objetivo proporcionar visibilidade às ações de Estado de modo possibilitar a instrumentação dos controles sociais e a sustentação da legitimidade daquelas ações. 5 A avaliação de políticas públicas é, ao mesmo tempo, um processo técnico e político, sujeito a disputas e a diferentes interpretações da realidade por parte dos atores sociais – grupos, categorias e classes. O próprio tema da avaliação de políticas públicas pode receber uma interpretação essencialmente política e uma avaliação negativa, como instrumental introduzido para reforçar o tecnicismo e despublicizar as ações estatalgovernamentais e contribuindo para o processo de despolitização do Estado (BARBOSA, 2003). Entretanto, é inegável que os processos de avaliação impliquem dimensões técnicas que devem ser equacionadas, mesmo quando colocados na perspectiva de publicização dos processos de decisão estatal-governamental sobre as políticas publicas e de seu controle social. Nesse sentido, pressupõe-se que a avaliação de políticas públicas deve tender à “tensão dialética entre regulação social e emancipação social que se reproduz pela polarização constante entre vontade individual e a vontade geral, entre o interesse particular e o bem comum”. (SANTOS, 2002, p. 33) Belloni, Magalhães e Sousa (2000) colocam que se política pública é a ação intencional do Estado, todas as suas ações devem estar voltadas à sociedade e envolver recursos sociais, portanto deve ser avaliada sistematicamente do ponto de vista de sua relevância e adequação às necessidades sociais, além de abordar aspectos de eficiência, eficácia e efetividades das ações empreendidas. Nesse sentido a avaliação faz parte do processo do desenvolvimento da política pública, exigindo uma averiguação sistemática do cumprimento de sua função social. De um modo geral, a instância fundamental da avaliação de uma determinada política pública é determinar o grau em que foram alcançadas as finalidades da política avaliada, o que requer dimensionar o objetivo geral em subconjuntos de objetivos específicos, os quais por sua vez terão metas que serão mensuradas através de indicadores. A introdução de processos de avaliação de políticas públicas como função estatal – a função avaliação – dentro de uma política de modernização do Estado, tem como objetivos gerais o desenvolvimento de políticas e programas mais eficientes e mais eficazes, implicando, portanto a capacitação de quadros técnicos e administrativos para a preparação, execução e avaliação das ações estatal-governamentais3. No contexto mundial, a avaliação de políticas públicas emerge com as grandes transformações da sociedade contemporânea associadas ao fenômeno da globalização, à 6 reestruturação dos processos econômicos no mercado mundial incluindo mudanças nos padrões de investimento de capital, na localização e organização do setor produtivo e nos fluxos financeiros de capital, acompanhados por movimentos de reforma do Estado em direção ao chamado Estado mínimo preconizado pelo neoliberalismo econômico. Novas diretrizes para as denominadas políticas sociais – ou seja, para as atribuições do Estado em relação ao atendimento das necessidades do conjunto da população, particularmente em relação à educação, saúde e previdência – foram formuladas e introduzidas pelas agências multilaterais de financiamento4 fazendo parte de programas de estabilização monetária, ajuste estrutural da economia e reformulação do papel do Estado (OLIVEIRA, 1998; OLIVEIRA, 2000). 2. POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS: NATUREZA E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO Dentro do universo das políticas públicas, as políticas urbanas são aquelas particularmente voltadas para os processos de produção, reprodução, transformação e apropriação do ambiente construído, incluindo as infra-estruturas e estruturas físicas, os serviços e equipamentos urbanos, sua localização relativa no território e as práticas sociais aos quais se articulam e dos quais não podem ser separadas. A modalidade de vínculos que nas ações estatal-governamentais são estabelecidos com os processos sociais, políticos, econômicos, culturais nos quais o território urbanizado, a urbanizar ou a re-urbanizar desempenha um papel central constituem, portanto, o aspecto distintivo das políticas urbanas. Embora a dimensão espacial representada principalmente pela abrangência da escala de atuação seja um aspecto importante de toda política pública, as políticas urbanas distinguem-se pelo fato de seus efeitos provocarem transformações na estruturação do ambiente construído. No Brasil, é possível afirmar que as políticas urbanas na escala local, delimitadas pelos marcos institucionais vigentes, têm assumido contornos conceituais pouco precisos onde podem ser encontrados problemas de naturezas diversas em relação aos atributos destas políticas e à incorporação efetiva de perspectivas e processos de acompanhamento e avaliação com respeito à formulação, aos resultados e aos meios e instrumentos utilizados. Nesse sentido, a afirmação de que a eficácia e efetividade das 7 políticas urbanas e das ações urbanísticas dependem, sobretudo, do envolvimento e participação coordenados de atores sociais diversos, indica a necessidade de construção de arranjos institucionais que desempenhem as funções de mediação entre diversos interesses e necessidades, que agenciem os recursos materiais e humanos disponíveis ou criem novos recursos, e que estabeleçam programas e linhas de ação efetivas, legitimadas e assumidas pelos atores sociais envolvidos. Tais pressupostos conduzem à afirmação de que a legitimidade dessas políticas seria construída e alcançada através do controle social efetivo de sua aplicação através de seu monitoramento contínuo. Isso implica que a própria capacidade de monitoramento deveria construir-se de modo compartilhado.(ALVIM et al., 2006) Inserida no figurino de arranjos participativos da esfera pública, a avaliação de políticas urbanas adquire uma relevância e se reafirma enquanto instância de conhecimento sobre a realidade, campo de disputas políticas, de avanço democrático e de controle social e instrumento técnico de intervenção e de atuação profissional – nas esferas de governo / administração pública. Para que seja possível a colocação da avaliação de políticas urbanas ALVIM et al. (op. cit.) enfatizam dois aspectos considerados fundamentais: Em primeiro lugar, estabelecer o conjunto dos sujeitos, objetos, relações e processos que constituem as políticas urbanas e que serão objeto de avaliação. Trata-se de identificar o modo como essas políticas são formadas, os agentes e elementos que participam de sua constituição, a qual universo de processos e de sujeitos são dirigidas, e com quais motivações e finalidades, de modo a estabelecer um conjunto de atributos que as caracterize. Essas especificações são fortemente dependentes do conjunto das relações constitutivas da formação social particular das quais as políticas urbanas são fruto e nas quais estão inseridas. Trata-se também de estabelecer o conjunto de relações sociais que fornecerá os parâmetros gerais para a atribuição de valores à ação estatalgovernamental através da definição de parâmetros mais específicos, indicadores e índices, qualitativos ou quantitativos. Entretanto, as decisões sobre o que avaliar e quem, sobre como avaliar e quando, sobre quem faz a avaliação e porque, e principalmente em relação a quais interesses e valores de quais grupos, classes e categorias sociais fazer a avaliação – são decisões políticas. 8 Em segundo lugar, trata-se de examinar o próprio processo de avaliação – já que a avaliação pode ser caracterizada como um processo, pois envolve etapas distintas de realização no tempo. Para tanto, é preciso estabelecer os sujeitos que põem o processo em movimento – a quem se dirige e quem a faz? – suas finalidades gerais e específicas, os modos de operação e os instrumentos que são utilizados, os distintos intervalos de tempo em que o processo se realiza. As relações sujeito/objeto do processo de avaliação, tal como afirmado acima em relação às políticas urbanas, não acontece em espaços e tempos abstratos, mas dentro de um conjunto mais amplo de relações que ocorrem dentro de uma formação social particular e em um momento definido de sua evolução histórica. O tratamento dos processos e das metodologias de avaliação de políticas públicas exige, portanto, o seu estabelecimento dentro de um quadro de referências mais amplo, que procure explicar tanto sua gênese quanto seus desenvolvimentos em relação a um conjunto mais amplo de processos e de condicionantes de caráter histórico e social – englobando nesses dois últimos termos os aspectos econômicos, culturais, políticos, jurídicos e institucionais. Se os processos de avaliação estão necessariamente articulados a contextos específicos, dos quais também são fruto e parte, tratar da avaliação das políticas urbanas de caráter local, implica em colocar como horizonte o contexto das atribuições do poder local, de seus objetivos e de suas finalidades intrínsecas frente ao atendimento às demandas sociais e à universalização dos serviços públicos básicos e das infraestruturas. Mas também cabe colocar a perspectiva do caráter emancipatório dessas políticas. O estabelecimento das articulações entre o processo de avaliação e seu contexto, por um lado, e por outro, suas articulações com as características específicas do objeto a ser avaliado – ou seja, os programas e ações derivados de uma determinada política urbana – é o que constitui a base de um marco lógico e conceitual para a avaliação de políticas segundo critérios técnicos. Entretanto, do ponto de vista da decisão política sobre o que avaliar e quem, sobre como avaliar e quando, sobre quem faz a avaliação e porque, e principalmente em relação a quais interesses e valores de quais grupos, classes e categorias sociais, trata-se de um campo de disputa que apresentará resultados diferenciados de acordo com o poder relativo das coalizões político-sociais que se confrontam. Trata-se fundamentalmente de atribuição de valores, e portanto, de aferição de resultados segundo uma escala de valores, e as escalas de valores são construções sociais dentro de uma determinada formação social. 9 Desse modo, os objetivos dos planos, projetos e programas não podem ser examinados independentemente das articulações das forças sociais; ou seja, a avaliação não é neutra, ao contrário, é interessada. A politização das avaliações e dos processos avaliatórios implica a identificação e explicitação dos interesses dos diferentes grupos sociais. Três aspectos mostram-se fundamentais no processo de avaliação de políticas públicas e ações de Estado, inter-relacionados e não necessariamente nesta ordem: a legitimação, ou seja, a busca da legitimidade junto aos diferentes grupos sociais; a validação de seus pressupostos através principalmente de seus resultados; e a publicização, ou seja, a sujeição de pressupostos, objetivos, meios e resultados ao escrutínio público da forma mais ampla possível. As peculiaridades e particularidades da avaliação das políticas urbanas estão articuladas à dimensão espacial/territorial e a seus atributos, ou seja, à avaliação das ações estatal-governamentais nos processos de produção e reprodução do espaço e dos lugares. É fundamental, portanto, estabelecer parâmetros, indicadores e índices qualitativos e quantitativos que permitam verificar a eficiência, eficácia e efetividade das ações estatal-governamentais de regulação, organização e ordenamento do território e da produção do ambiente construído; da organização e da distribuição das atividades urbanas; da organização e distribuição dos serviços e equipamentos públicos. Associado a isso, nesse universo, é fundamental explicitar interesses de atores e agentes e as relações que mantêm com os interesses de grupos, categorias e classes sociais e os valores e as escalas de valoração que lhe são intrínsecas. Nesse sentido, é necessária a diferenciação no estabelecimento de parâmetros específicos, de indicadores e índices por tipo de política, plano, programa, projeto e ação. O grau e a modalidade do vínculo territorial devem ser claramente estabelecidos, assim como a articulação e as interconexões com outras políticas e ações, que podem também assumir diferentes valores em relação aos atributos de caráter espacial/territorial – por exemplo, os vínculos e articulações entre a localização das atividades urbanas, o preço da terra e o sistema de circulação e transportes. A diversidade dos objetos específicos de políticas e suas características particulares – em relação a objetivos, metas e finalidades: aos instrumentos e meios, de 10 ação e operação – não permitem um método único de avaliação, indicando a necessidade de construção de diferentes metodologias articuladas aos diferentes objetos e processos, por um lado e, por outro, ao contexto de aplicação das políticas, incluindo as relações cruzadas entre políticas, planos, programas, projetos, ações. Essas relações não ocorrem apenas horizontalmente no interior da instância local de poder estatal-governamental – com seus diferentes órgãos setoriais nos quais se divide o trabalho de poder executivo da administração, mas também verticalmente em relação a outras instâncias supra-locais (outros municípios, regionais), subnacionais (Estado) e nacionais (Estado-nação). Os elementos comuns a essas metodologias são: a definição de indicadores; a construção de índices; o estabelecimento de sistemas de informação incluindo coleta, armazenamento, análise e interpretação de dados e informações e os meios de circulação e divulgação das informações; as agências ou órgãos de acompanhamento e s instâncias às quais estão vinculadas; as instâncias de validação dos procedimentos de avaliação; os mecanismos e processos de participação com a definição de suas modalidades; os modos como são tratadas as questões de intersetorialidade incluindo efeitos cruzados de políticas e ações, externalidades positivas ou sinergias, externalidades negativas, implicando a análise da gestão, o acompanhamento e a avaliação, de forma integrada. 3. QUADRO INSTITUCIONAL DA POLÍTICA URBANA BRASILEIRA O panorama da política urbana no Brasil, nas últimas décadas, vem indicando um quadro de insuficiência e inoperância da ação do Estado e das agências pública nas cidades. Porém, não se trata apenas da interpretação do contexto de crise mais recente, quando foram impostos limites ao crescimento econômico, crise fiscal e de investimentos do Estado, como reflexos da nova ordem mundial de internacionalização da economia e da predominância de diretrizes neoliberais na política econômica brasileira. O modelo de desenvolvimento urbano brasileiro de muito refletia uma frágil atuação do Estado na regulamentação pública do mercado, das atividades produtivas e 11 até mesmo na provisão de infra-estrutura e serviços públicos, e como corolário na promoção de políticas públicas urbana. As transformações internacionais da década de 1980 se associam ao contexto de falência do crescimento econômico do período militar, a uma situação de grave endividamento público e de visibilidade da extensão das desigualdades sociais, fortemente concentradas nas cidades, que convergem num amplo movimento social pela redemocratização do país. Com efeito, as políticas de modernização econômica do período militar incidem sobre uma urbanização intensiva da sociedade brasileira associada simultaneamente por movimentos de expulsão rural e atratividade urbana, o que se traduz em números significativos: a população urbana que representava menos de 45 % da população total em 1960, dez anos depois já se torna predominante na composição demográfica, atingindo recentemente o patamar de 80% (conforme o Censo Demográfico de 2000). As cidades se transformam no lócus das desigualdades sociais reproduzidas e intensificadas aí pelos processos de segregação espacial e por um crescimento extensivo de periferias carentes e desprovidas de infra-estruturas e emprego. Vários autores (MARICATO 1995; MARTINS 2002; SANTOS 1999; 1996; SCHIFFER 2004; SILVA 2002, 2005; VILLAÇA 1998; 2005), têm salientado a importância das relações entre política urbana e desenvolvimento de modo a reforçar o âmbito e papel da ação pública local nos processos de inclusão social e as implicações dessas ações no processo de modernização e desenvolvimento da sociedade e da economia nacional, contrapondo-se a esse pensamento liberal que apóia um modelo de reforma de Estado de caráter conservador. Conforme Luís Octávio da Silva (2004), já nos primórdios da década de 1980, as competições impostas pela nova geografia econômica têm conduzido a práticas empresariais de administração local permeáveis ao setor privado, transferências de atribuições administrativas e a adoção de novos arranjos políticos locais que transcendem os quadros institucionais vigentes. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada, alicerçada, assim, por duas grandes forças de origens diferenciadas. No âmbito externo, a globalização em curso, fragilizou o Estado-Nação (DOWBOR, 1999), fracionando de forma gradual o núcleo do poder central institucionalizado. De certa forma, a intensidade das mudanças que o 12 processo da globalização determinou nas cidades, principalmente nas metrópoles, se repercutiu na inserção de um leque participativo de atores afetados por este processo, fortalecendo as lutas pela redemocratização já em curso no plano interno. Como bem aponta Compans: A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, havia consagrado alguns princípios integrantes da agenda reformista da coalizão de forças políticas que viabilizaria a transição do regime autoritário, e que consolidaria, posteriormente, na elaboração das constituições estaduais, leis orgânicas e planos diretores das cidades. Tais princípios, basicamente, no restabelecimento da democracia e do Estado de direito, na universalização dos direitos sociais e da distribuição de renda nacional, e na descentralização administrativa.” (COMPANS, 2005, p. 179). Estas múltiplas determinações do contexto histórico se traduzem em concepções e projetos com ênfases diferentes sobre o significado e conteúdo das remodelações do Estado em direção à descentralização e protagonismo do urbano que passam a coexistir na dinâmica política das reformas institucionais, podendo ser vistas como avanço e consolidação dos direitos sociais e da democracia ou, predominantemente como uma necessidade de ajuste do Estado nacional às novas determinações liberais da economia mundial. Na agenda liberal de reforma municipal, defendidas também pelos organismos internacionais, as políticas de cunho redistributivista e implantação de mecanismos mediadores de participação e de legitimação dos direitos sociais são adotados com ressalvas. Nesta concepção, as reformas são encaradas no sentido da eficiência das políticas econômicas e sociais. Contempla a incorporação participativa de modo limitado a atores privados e a grupos sociais específicos, visando, de um lado, a redução do tamanho da maquina administrativa e das funções do Estado com transferência de atribuições e serviços e, de outro lado, como forma de garantir alocação mais eficiente dos recursos aplicados. Em outra concepção oposta a ela, a reforma municipal é vista do ponto de vista dos ideais da gestão democrática e de consolidação da cidadania, sinalizadas pelos movimentos sociais anteriores. No âmbito da pesquisa desenvolvida, o significado de descentralização como ampliação da competência política que o nível do governo local, 13 urbano, adquire, é primordial, seja pelo recorte espacial que se pretende – a escala intraurbana, seja pelas novas instâncias de gestão participativa e controle social que também se relacionam às atividades de acompanhamento e avaliação de políticas públicas (ZIONI & KATO, 2005). A institucionalização da descentralização, no texto constitucional pode ser vista sob a ótica dos níveis de governo, relacionada ao dimensionamento de suas funções onde se colocam as redefinições territoriais do poder público e sob a ótica da participação popular e das definições dos mecanismos democráticos de poder. A Lei Federal nº. 10.257, de julho de 2001 - o Estatuto da Cidade - firmar-se como marco do novo quadro institucional da Política Urbana no Brasil, reconhecendo a importância da cidade na articulação dos processos de desenvolvimento econômico e social. Assim, através desse quadro institucional, reconhece-se a função social da cidade em um país essencialmente urbano, onde a cidade é o local da diversidade e da legitimidade social, representada pelos movimentos populares, força política essencial para garantir o desenvolvimento associado ao processo de inclusão. Trata-se, portanto de um contexto de valorização do processo de planejamento urbano na ação pública. Entretanto, cabe reconhecer tanto a riqueza quanto à fragilidade de sua implementação. Considerado inovador e progressista, o enquadramento do planejamento urbano brasileiro, instituído pelo Estatuto da Cidade, aponta para a superação das práticas patrimonialistas e clientelistas. Pois, são estas práticas, revestidas de roupagem tecnocrática, que reforçam a produção de condições urbanas de concentração social e espacial de serviços e benefícios, combinada à generalização de assentamentos precários onde se abriga a população de mais baixas rendas, ambientalmente prejudicados e prejudiciais. Os instrumentos do Estatuto da Cidade podem ser caracterizados como de indução do desenvolvimento urbano, de regularização fundiária, de financiamento das políticas urbanas e de democratização da gestão das cidades. Ou seja, a implementação desses instrumentos sugere a transformação da ordem urbanística tradicional e a atuação na lógica econômica da cidade. Trata-se, portanto da colocação de objetivos de justiça social e de qualidade de vida, através de estratégias de elaboração de políticas urbanas inclusivas e sustentáveis. 14 O marco legal estabelecido pelo Estatuto da Cidade coloca o Plano Diretor elaborado com a participação dos diferentes setores da sociedade como principal instrumento de política urbana. Define que os municípios com mais de 20 mil habitantes, aqueles localizados em regiões metropolitanas e aqueles considerados aglomerados urbanos deverão, obrigatoriamente até o ano de 2006, ter seus Planos Diretores elaborados incorporando e adequando-se aos preceitos por ele estabelecidos. Os instrumentos de política urbana que os Municípios poderão utilizar devem estar vinculados ao Plano Diretor. Nesse sentido, é fortalecida a figura do Plano Diretor e a necessidade de instalação de um processo de planejamento - como instrumento para o desenvolvimento e a gestão urbana. Para que todo o potencial desses instrumentos seja utilizado como instrumento de gestão orientada a resultados é necessário avaliá-los conforme seus significados – o conceito que os regem, suas finalidades ou objetivos, e seus requisitos de implementação. Do mesmo modo, os instrumentos de financiamento de política urbana, por sua vez, exigem uma avaliação conforme os critérios de apuração de contrapartidas e dos resultados econômicos de sua aplicação. Enquanto que os instrumentos de democratização da gestão urbana vão implicar um quadro analítico próprio dos arranjos institucionais possíveis. Para além dos instrumentos especificamente urbanísticos de uso e ocupação do solo, o projeto de cidade confere ao território do município importância estratégica de definição de alternativas de desenvolvimento econômico local, cabendo ao poder público a função de indução e de articulação da participação social e da implementação de parcerias público-privadas. Porém, a incorporação formal de dispositivos legais não garante em si as possíveis redefinições econômicas e sociais significativas. Conforme Martins (2003), apenas abrem espaço para a manifestação da sociedade, mas podem se tornar inoperantes se não houver interlocutores constituídos e pressão social. 4. POLÍTICA URBANA E GESTÃO MUNICIPAL EM SÃO PAULO A partir de 2001 inicia-se no município de São Paulo a implementação do processo construção das bases da política urbana, através não só da elaboração de um 15 novo plano diretor, orientado pelo Estatuto da Cidade, mas também de instalação de um processo de planejamento descentralizado e participativo previsto na Lei Orgânica Municipal de 19905. A criação das subprefeituras e a aprovação do PDE em 2002 marcam a implementação do processo de planejamento municipal e do processo jurídicoinstitucional para a consolidação de instrumentos que asseguram a participação da sociedade civil e a organização de mecanismos que viabilizem o controle social na cidade de São Paulo. O PDE, elaborado à luz das diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, após debates e apresentações e ajustes na minuta do projeto de Lei foi envido à Câmara Municipal, sendo transformado na Lei nº. 13.430 de 2002, com modificações decorrentes de negociações entre lideranças políticas colocando inclusive em questão a sua legitimidade (ALVIM, CASTRO & BERNARDINI, 2005). Entre 2002 e 2004, ocorre o processo de elaboração com base nas diretrizes estabelecidas pelo PDE e de aprovação Planos Regionais Estratégicos (PREs) bem como das disposições gerais da Lei de Uso e Ocupação do Solo6 no âmbito de cada subprefeitura, num total de 31, lançando-se as bases para um planejamento urbano descentralizado. Foram detalhadas as tipologias de zonas de uso estabelecidas pelo PDE e criada novas tipologias para o município de São Paulo, alterando uma situação de 32 anos sem uma nova legislação de uso e ocupação do solo em uma cidade em constante e rápidas transformações. Cada um dos PREs estabeleceu objetivos e diretrizes de desenvolvimento urbano e ambiental em seu território, os quais se concretizam nas propostas para os elementos Estruturadores e Integradores do PDE e nas disposições da Disciplina do Uso e Ocupação do Solo. A criação de Conselhos de Representantes da Sociedade Civil, que também constitui um mecanismo de garantia da transparência da gestão pública e de controle popular, inicia-se também a partir de 2002, com as subprefeituras, concretizando-se legalmente em 2004, com a regulamentação deste dispositivo da Lei Orgânica. Destacase que a competência desses Conselhos de Representante se estende à participação, em nível local, no processo de Planejamento Municipal e, em especial, na elaboração das propostas de diretrizes orçamentárias, do orçamento municipal bem como do Plano Plurianual e do Plano Diretor e suas respectivas revisões. 16 Sobre a questão da legitimidade e representatividade de processos que pretendem a participação da sociedade civil alguns autores têm observado fragilidades nos processos de participação e desenvolvido diversas críticas. Villaça (2005) apresenta importante crítica sobre o processo de elaboração do PDE, argumentando sobre a legitimidade da participação e o caráter predominantemente ideológico que esse instrumento urbanístico assume em determinados contextos. No entanto, não se pode negar os avanços já obtidos, a partir da Constituição Federal de 1988, no trato das questões urbanas no país e em São Paulo. Assim sendo, as bases para a prática avaliativa e o sistemático acompanhamento e controle social das políticas públicas urbanas, definidas na Lei Orgânica Municipal da instância local do maior município brasileiro demoraram cerca de 15 anos para iniciar seu processo de construção. 5. POLÍTICAS URBANAS EM SÃO PAULO: ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO Na pesquisa em questão analisou-se um conjunto de documentos formulados entre 2001 e 2004 como parte da política urbana do município de São Paulo, buscando identificar, em suas respectivas estruturas, a existência de elementos que expressem e contribuam para os processos de avaliação, acompanhamento e monitoramento daquelas políticas, na perspectiva de seu controle pela sociedade. A concepção adotada nesta pesquisa pressupõe que a avaliação deva ser compreendida como processo que se estabelece com o objetivo de “compreender todas as dimensões e implicações da política avaliada” (BELLONI, MAGALHÃES & SOUZA, 2000, p. 26). No âmbito de uma análise documental, estratégia metodológica adotada pela pesquisa, a avaliação é entendida no sentido de contribuir para o esclarecimento do texto escrito e seu discurso ideológico. Busca-se verificar o encadeamento sóciopolítico das propostas e de suas estratégias de implementação, face aos objetivos explicitados. (BELLONI, MAGALHÃES & SOUZA, op. cit.). Embora tal estratégia coloque que a análise deva identificar concepções orientadoras da política e suas prioridades, expressas não só no documento como nas ações decorrentes e 17 concretizadas, envolvendo a análise das práticas e dos resultados, isso não foi possível, devido ao pouco tempo de formulação e amadurecimento das políticas públicas urbanas no município de São Paulo. Os documentos analisados foram escolhidos, segundo a importância de cada um dentro do contexto de construção das bases da política urbana em São Paulo: o Plano Plurianual 2002 - 2005 (PPA 2002 - 2005); o Plano Diretor Estratégico 2002 2012; o Plano Municipal de Habitação e a Operação Urbana Água Branca. De um modo geral, procurou-se escolher dois conjuntos de documentos: um primeiro que trata da constituição da base legal da política urbana em São Paulo - o PPA 2002 - 2005 e o PDE - e um segundo, que envolve uma política setorial e um instrumento urbanístico de aplicação circunscrita à escala intra-urbana - o Plano Municipal de Habitação e a Operação Urbana Água Branca, respectivamente. O Plano Plurianual elaborado para o quadriênio 2002-2005 constitui-se em uma das importantes referências da política pública municipal, sendo um instrumento de distribuição de recursos relacionados às atividades programadas pelo Poder Público. Embora, o documento analisado não tenha sido formulado em concordância às diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor, como recomenda a Lei Orgânica Municipal, trata-se de um plano que explicita as bases da política pública em fase de construção naquele momento. O Plano Diretor Estratégico 2002-2012, como já colocado, faz parte do processo de planejamento municipal sendo o principal instrumento da política urbana municipal. Todos os demais componentes do processo de planejamento municipal são por ele orientados. Sua elaboração e aprovação marcam a consolidação do processo democrático e participativo, conforme os princípios constitucionais e de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade. O Plano Municipal de Habitação foi escolhido por ser um instrumento de referência da articulação necessária de políticas setoriais às de desenvolvimento urbano no município. É um plano setorial, preconizado pelo PDE, cuja realização vem completar a institucionalização das ações e programas do setor habitacional e para a sua inserção aos marcos legais desta mesma política no nível federal. Corresponde ainda, do ponto de vista das políticas publicas urbanas locais em São Paulo a uma área estratégica 18 para a implementação dos direitos sociais à cidade, marcada por uma tradição de fortes pressões participativas. A Operação Urbana Água Branca, apesar de ter sido formulada e aprovada no inicio da década de 1990, faz parte do conjunto de Operações Urbanas Consorciadas, definido no Plano Diretor Estratégico. De um modo geral, a Operação Urbana é um caso importante de plano urbanístico e de instrumento de política urbana na escala local, intra-urbana. No caso específico da Operação Água Branca, escolheu-se sua análise em função principalmente das novas estratégias adotadas a partir do PDE que buscam reorientar o seu desenvolvimento onde é possível discutir a relação entre objetivos e resultados em função de seu tempo de vigência. Respeitando a natureza de cada documento, procurou-se, através destes casos, identificar os principais elementos que, de certa forma, são peças fundamentais para a concretização da função avaliativa, da monitoração e do controle social: os conceitos e pressupostos adotados, o encadeamento entre objetivos gerais e específicos, relações entre metas e indicadores; descentralização político - administrativa, forma de participação popular, articulação setorial e articulação institucional (entre níveis de governo), bem como previsão de sistema de indicadores e de acompanhamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS A avaliação enquanto uma função pública pode ser entendida como uma forma de aperfeiçoamento da ação pública no sentido da democratização dos processos de tomada de decisão, cujo objetivo de promoção de racionalidade, produtividade, transparência, diálogo, e de transformação de processos de gestão pública ou de governança vai ao sentido da maximização dos direitos sociais. Mesmo que algumas noções muito se aproximem, a avaliação não pode ser confundida com formas de controle e fiscalização da ação de Estado - funções pública onde o caráter da autoridade pública ou do envolvimento dos atores é claro e inquestionável. A partir do reconhecimento do direito à cidade à habitação, do disposto constitucional sobre a função social da propriedade e da democratização da gestão urbana, a política urbana, ainda que mantida no âmbito da ordem econômica da 19 Constituição Federal, assume também aspectos do direito social e dos direitos difusos, e por esse motivo, deverá ser submetida a processos de avaliação para seu aperfeiçoamento. Ou seja, as reflexões finais desse artigo permitem ressaltar que os processos de avaliação surgem em contextos de transformação de paradigmas sobre as relações entre Estado e sociedade civil, esta entendida o conjunto dos movimentos sociais, onde se dará efetivamente a delimitação dos princípios de direitos e as novas formas de regulação social. Antes de estabelecer o meio de comunicação entre gestão pública e atores sociais deve-se atentar, portanto, para a contextualização desse diálogo. É preciso compreender os novos contextos em que se situam as possibilidades de ação pública do Estado, diante da crise paradigmática, no sentido de construção de novas formas de regulação social - novos arranjos institucionais ainda em experimentação e, neste nível, situar a avaliação de políticas enquanto função pública. A partir da Constituição Federal de 1988 dispositivos constitucionais estabeleceram como fundamentos do sistema de governo nacional a soberania e a cidadania, exercidas como poder por meio da representação direta e da participação direta. Sobre esses avanços da democracia representativa, porém, deve-se observar que a participação direta, através do plebiscito, o referendo ou a iniciativa popular de Lei implicam distintas formas de organização e de inserção institucional. Com capacidades desiguais de atuação e práticas políticas variadas, os direitos políticos desses novos atores sociais poderão ser exercidos por meio de ações técnicaspolíticas – como, por exemplo, os processos de avaliação - que fortalecem a representação popular e o controle social, uma vez que a conformação deste controle se vincula aos avanços de democratização das próprias bases sociais e de seu poder de pressão. É nesse sentido que se vincula um caráter emancipatório naquelas políticas públicas que contenham processos internos de avaliação ou pressupostos de controle social, para garantia tanto dos direitos sociais, quanto dos direitos difusos. A defasagem entre as práticas e a inserção formal de instrumentos participativos na regulação urbanística; a identificação de atores de maior legitimidade e representatividade; a fragilidade do caráter propositivo da participação popular na formulação das políticas; ou mesmo, a incertezas quanto à continuidade e sustentação 20 do processo participativo, apontam para a necessidade de construção de mecanismos de mediação e diálogo entre atores com poder de influência desigual, ampliando as possibilidades de controle, de visibilidade e de efetividade das políticas publicas urbanas. As lógicas dos processos de avaliação estariam oscilando conforme seus contextos políticos, diferenciando-se conforme o grau de submissão a interesses de ordem econômica, a convergência entre os interesses de ordem econômica e as demandas sociais e setoriais; e também ainda, enquanto a própria dinâmica de transformação dos processos de tomada de decisão. Embora as bases de política e gestão urbana tenham sido instaladas no Município de São Paulo isso não garante que as políticas propostas tenham efetivamente elementos avaliação e controle social em todas as suas etapas. Mesmo que a concepção da política tenha sido formulada e formalizada, tomando a forma de lei, para sua efetivação será necessário definir os procedimentos de sua aplicação pelos agentes públicos, criar ou adaptar os instrumentos organizativos e administrativos para sua aplicação e estabelecer a fonte de recursos orçamentários para tal. Esses procedimentos por sua vez estão sujeitos também a disputas políticas entre os diversos atores sociais. NOTAS 1 A pesquisa “Políticas públicas e de planos de urbanismo na escala local intra - urbana: instrumentos e metodologias de avaliação e acompanhamento” foi desenvolvida no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brasil) de fevereiro de 2005 a janeiro de 2006, sob coordenação da Prof Dra, Angélica A T Benatti Alvim e contou com o apoio financeiro do Fundo Mackenzie de Pesquisa (Mackpesquisa). Além dos autores, a pesquisa envolveu os professores Gilda Collet Bruna e Marcelo Bernardini, alunos da graduação e pós-graduação bem como o arquiteto Daniel T. Montadonn no âmbito de um convênio estabelecido entre a Universidade Mackenzie e a Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo. Essa pesquisa é produto do grupo de pesquisa “Urbanismo Contemporâneo: redes, sistemas e processos”. 2 Ricardo Toledo Silva (2005, p. 7-8) tomando o exemplo da política habitacional recente na esfera da Administração Federal no Brasil, aponta a existência de uma autonomia relativa entre a esfera de formulação de políticas públicas, a esfera de sua implementação e o conhecimento acumulado sobre a questão ou demanda social. Nas palavras do autor: “Houve momentos nessa trajetória em que a política urbana [de habitação] foi praticamente extinta do organograma da Administração federal, mas o substrato de conhecimento acumulado mostrou-se suficientemente robusto para permitir sua reorganização em torno do mesmo eixo conceitual de origem. Este caso ilustra e ajuda a sustentar a tese de que o interesse público da política material (‘policy’) transcende as formas específicas e incidentais de sua subordinação ao processo político (‘politics’) e que a Universidade Pública, depositária de um saber gerado às expensas de toda a sociedade, não pode omitir-se em relação à primeira, mesmo que a pretexto de presumível atitude crítica em relação à segunda” (id. Ibid., p.8). 3 O termo estatal-governamental é utilizado para evidenciar a relativa distinção entre Estado e governo nos estados democráticos contemporâneos. Entende-se que o termo “ações de governo” teria caráter mais restrito, vinculado apenas ao partido ou coalizão partidária no poder, mudando ou podendo mudar periodicamente através de sufrágio. O termo “ação estatal”, por outro lado, indicaria duração e estabilidade maiores, o que freqüentemente não é o caso para as políticas públicas. (Cf. HÖFLING, 2001, p. 31) 21 4 Particularmente pela OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico e pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 5 Conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 29, a lei orgânica é lei fundamental que rege a administração municipal, dado o seu conteúdo organizacional. Objetiva “organizar o exercício do poder e fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana”. 6 Lei nº. 13.885 de 25 de Agosto de 2004. REFERÊNCIAS ALVIM, Angélica A. Tanus Benatti et al. Políticas Públicas e Planos de Urbanismo na escala local intraurbana: instrumentos e metodologias de avaliação e acompanhamento. (2006) Relatório final de pesquisa. Fundação Mackenzie de Pesquisa (cd-rom). ALVIM, Angélica A. Tanus Benatti; CASTRO, Luiz Guilherme Rivera de; BERNARDINI, Marcelo de Mendonça. FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANOS DE URBANISMO EM ÁREAS CENTRAIS: UMA ABORDAGEM APLICADA AO ENSINO. Ponencias, Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura el rol de las escuelas y facultades en el contexto regional. Loja, Ecuador. BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Os direitos e a avaliação de políticas sociais: a perspectiva das mudanças técnicas num contexto anti-público. Documento eletrônico no portal do Centro Português de Investigação em História e Trabalho Social, 2003. Disponível em: http://www.cpihts.com/2003_10_19 /Rosangela%20Barbosa.htm. Acesso em: 17 maio 2005. BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de; SOUZA, Luzia Costa de. Metodologia de Avaliação em Políticas Públicas: uma experiência em educação profissional. São Paulo: Cortez, 2000. - Coleção Questões da nossa época; vol. 75. COMPANS, Rose. Empreendedorismo urbano – entre o discurso e a prática. São Paulo: Editora UNESP, 2005. DOWBOR, Ladislau. O poder local diante dos novos desafios sociais. IN: CEPAM - Fundação Prefeito Faria Lima. O município no século XXI: cenários e perspectivas. São Paulo: CEPAM, 1999, p.3-23. HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. In Cadernos Cedes, ano XXI, nº. 55, novembro/2001, p. 30-41. 22 MARICATO, Ermínia. O urbanismo na periferia do capitalismo: desenvolvimento da desigualdade e contravenção sistemática. IN GONÇALVES, Maria Flora (org.). O novo Brasil Urbano: impasses, dilemas, perspectivas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1995, p. 261-287. MARTINS, Maria Lucia Refinetti. São Paulo: além do Plano Diretor. Revista Estudos Avançados, São Paulo, n° 47, janeiro-abril, 2003. OLIVEIRA, Francisco. A vanguarda do atraso e o atraso da vanguarda. IN: Os direitos do anti-valor. Petrópolis: Vozes, 1998. OLIVEIRA, Francisco. Privatização do público, destituição da fala e anulação da política: o totalitarismo neoliberal. In: Os sentidos da democracia. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. PMSP/SEMPLA (org.). Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 2002/2012. São Paulo, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEMPLA e Editora Senac, 2004. PRETEICELLE, Edmond. Paradigmas e problemas das políticas urbanas. IN: Espaço & Debates n° 29, 1990, p. 54-67. SANTOS JUNIOR, Orlando Alves; RIBEIRO, Luiz Cesar Queiroz; AZEVEDO, Sergio (orgs). Governança democrática e poder local: a experiência dos conselhos municipais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, Fase, 2004. ______________. Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1996. SCHIFFER, Sueli Ramos (org.). Globalização e estrutura urbana. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2004. SILVA, Luis Octávio. As tendências da gestão urbana contemporânea e a promoção do desenvolvimento local. In: Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento para a região central de São Paulo. São Paulo: EMURB, 2004. SILVA, Ricardo Toledo. Eficiência e Eficácia da Ação Governamental: Uma Análise Comparativa de Sistemas de Avaliação - Relatório Técnico. Brasília: Ipea, 2002. Versão em texto. eletrônico em http://www.ipea.gov.br/TemasEspeciais/Eficienciaeficacia.pdf, Disponível em 14/04/2004. __________________. Estado, Políticas Públicas e Universidade IN: Revista de Cultura e Extensão – USP, n° 0 (zero), julho/dezembro 2005. Arquivo eletrônico (formato PDF) enviado pelo autor em 23 05/setembro/2005. Também disponível em http://www.usp.br/prc/revista/dossie2.html, Disponível em 12/12/2005. VILLAÇA, Flávio. A ilusão do Plano Diretor. Livro eletrônico. 2005. Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos –FAU-USP. Publicações e Artigos. Disponível em:. http//www.usp.br/fau/depprojeto/ labhab/a_ilusao_do_pd_villaca.pdf Acesso 10 dez 2005. _____________. A crise do planejamento urbano in São Paulo em Perspectiva v. 9 n. 2 abr./jun. 1995 p. 45-51. São Paulo: Fundação SEADE ZIONI, S.; KATO,V.R.C. Avaliação de políticas públicas, gestão do território e processos participativos. In: XI SEMINARIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA-SAL, 2005 Anais... Oaxtepec, Morelos, México. 24
Download