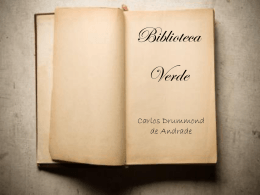1 1ª edição revista Itabuna / Bahia, 2009 3 © 2009 Adylson Machado Todos os direitos desta edição reservados à VIA LITTERARUM EDITORA Rua Rui Barbosa, 934 - Térreo - Centro Itabuna - Bahia, Brasil - 45600-220 Tel.: (73) 4141-0748 :: e-mail: [email protected] www.vleditora.com.br A Lúcia, esposa de sempre e para sempre Cláudia Irene, Vinicius e André, rebentos a mim por ela ofertados Yan, que me faz Gillenormand Revisão Antonio Pazos Garrido, Adylson Machado e Júnia Martins Projeto Gráfico Alencar Júnior Concepção da Capa Vinicius A. Machado Diagramação e Capa Marcel Santos In memoriam Adelaide, mãe e heroína, que nos faz viver a compreensão mais extrema do significado de saudade Valmir Rosa, para que viva com este texto o que não pôde em vida Ilustração da Capa Pietro Antognioni Texto da Quarta da Capa Júnia Martins Agradecemos aos que ansiaram pelo “parto” desta obra, tanto que já quase não acreditavam em sua edição: José Orlando, Geraldo e Robélia, Jéffi- Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) M149a Machado, Adylson Lima. Amendoeiras de Outono / Adylson Lima Machado. – 1. ed. rev. – Itabuna : Via Litterarum, 2009. 392p. ISBN: 978-85-98493-10-7 1. Romance brasileiro. I. Título. II. Série. ton, José Cairo, Brandão, Eduardo, Amilton, Aprígio, Giovana, Júnior, Mendonça e Aray. Diante deles nos vimos, e vivemos, como Orlando Tejo parindo o vaie-vem do sai-não-sai do antológico “Zé Limeira, poeta do absurdo”, tanto o tempo da espera. E a Leno, Miro, Antônio “Gordo” e aos anônimos todos que constroem a Literatura cotidiana viva, com suas pesquisas e causos. CDD 869.93 Ficha catalográfica : Elisabete Passos dos Santos CRB5/533 5 P r i m e i r a Parte P á, palá, patinha tinha, tinha de Dondé Sol-sol, sol-lá sol-sol, sol-lá, sol-fá, mi-ré, dó. Absorto ainda ouve, repetido, o estranho poema melodiado nas colcheias, semicolcheia e mínima, solfejado indolentemente no improviso enternecido para o neto que apalpa uma pata de barro, cabeça comprida e curvada para baixo, adquirida de romeiro de Semana Santa – “ligítimu caxixi, de Nazaré das Farinha, cumádi”. Presenteada meses antes o fazia sorrir, anjo curioso descobrindo o mundo humano, para deleite da avó, debruçada sobre ele com tamanho embevecimento que o ambiente fugia da terra para entronizar-se em paraíso emoldurado sob pincel renascentista. Não entenderia o significado das palavras que integravam o verso – a não ser a melodia fonética que em si produzia, redundante – limitadas apenas a expressar sonoridade. Nenhuma erudição, referencial estético. Ausente preocupação de que reconhecida como tal. Tão somente a liberdade do inopino, a espontaneidade, a ingenuidade amparada na singeleza, manifesta da vontade natural de embalar crianças, nascida como centenas. E, como primórdios de infâncias, tendente a perder-se no tempo, desaparecendo aos poucos, no ritmo que acompanha o próprio desenvolver etário. Suficiente o sorriso, solto, descompromissado, alegre como todo riso infantil, gutural no desdobro, para justificar a existência da composição, impregnada aprioristicamente no menino. Decodificada às primeiras notas, fazia-o – com o indicador – apontar a 6 7 Continuava o canto doce, suave, entremeado com os risos do neto, disparados a partir de algum instante da melodia, aleatoriamente. De onde esse tal Dondé? – pensava. Ou seria d’ondé? De que língua, dicionário ou vocabulário? De estória antiga, dessas contadas por negras bás, nascidas nas senzalas, nos cantos tristes da obrigação de acalentar? Ou de busca inconsciente, sonho de menestrel desfiando versos aos heróis sebastianistas, perdido no imemorial nordestino? Se não tivesse origem definida o seria, quando nada, perfeita antítese da caixinha de pandora, guardada no profundo do coração de todos os avós, e negação de males como tudo o que sai da mente de quem detém o repositório da experiência. Em Os Miseráveis, Victor Hugo, na personalidade dedicada expressa por Gillenormand, traduz uma verdade que percebe absoluta, observada, a primeira vez, não quando da leitura de trechos do francês, no original imposto pelo Professor Josealdey Ladeia nos idos de ginásio em Itapuhy, mas no abstraído viés da ponderação de Argemiro Leal, há mais de quarenta anos, lá em Monte Alegre: mais fácil pai odiar filho que avô deixar de gostar de neto. Verdade plena, cabal, sim. “Casos de agressões a crianças pelos pais, quase uma constante; de avô raridade, se ocorreu alguma!...” – confidencia o velho amigo, sapiente, realçando compreensão das coisas dos homens, como quem se debruça, na de avô, sobre o recém-nascido e nele vê o mistério todo do universo na descoberta tardia, que escapou quando na de pai, também percebendo em si a existência e a essência da vida. Dispensa o café proposto pela garçonette. Quando a se afastar, chama-a pedindo um coquetel. Sentado à mesa, escolhida ao acaso, sente-se personagem viva de um Monet, retratado em enfumaçado traçado impressionista. O olhar parado num ponto qualquer o remete à antessala de casa, onde guarda com carinho escultura de putumuju: a “Vidas Secas” de Adilson Ferreira remonta-o ao sertão nordestino, e ao memorial de realidade permanentemente viva, tantos anos decorridos. Em frente o pedido, posto sob o sorriso gentil de quem o trouxera. Agradece. Na cidade universal que o recebe, como a tantos no curso de metrópole, esmiúça a paisagem urbana, mitos, lendas. Traz da juventude os acordes de Le galope du Diable, e lembranças, das quais se desvia. Perpassa escritores que povoaram a existência milenar, como cenário de histórias e ficções. Circula o olhar em torno à procura de algum. Sublima-se cidadão de Montparnasse, referência intelectual em tempos não distantes. Apátrida pelas circunstâncias abraça a urbe que o guarda. Depende dela, da fama, dos que o remuneram. Para os quais descendente dos “irresponsáveis” perante a mata e o índio: – se a este matam, àquela extinguem. Triste conceito, que entende errôneo, a estigmatizar os seus. Serve entidade que defende povos e coisas da Amazônia: “nations” – como preferiam afirmar. Defesa diversa da esposada antigamente. Concretizava o antissonho, reconhecia, do devaneio em dia de exaltada oração justificando cachaça no buteco provinciano. Não importava o ideal, os povos, a hileia socorrida em discursos inflamados, com unhas e dentes no passado, fisionomia apopléctica, indignada, contra a sanha da universalização oferecida como dogma de fé. Quimera se tornara o que o enlevara como ideia em priscas eras. Satisfazia-lhe o presente. Sobrevivência burguesa: boa morada, vizinhança ilustre, saraus, banquetes, filhos na universidade, expectativa de Sorbonne. Vida em velocidade de largo barroco sob solo de oboés e fagotes. O devaneio de casar a filha na Sacré Cöeur. O sol coava cansaço de fim do dia, fazendo adormecer o crepúsculo, tornando ao leito, carinhoso, a noite. Olhou em torno sem enxergar. Tropa de gongos, de todos os tamanhos, infieira 8 9 patinha, guardada na estante de tábuas sobrepostas a tijolos, junto ao berço tosco, voltando-se então para a cabeça que pendulava no ritmo em que cantava. Pá, palá patinha tinha, tinha de Dondé ascera numa roça pros lados de Pintadas, arruado próximo ao Bonsucesso, na baixada plana a poucas léguas do Monte da Santa Cruz, meca para a região, referencial de romaria na Semana Santa, capelinha branca solta no cume, destacada do fundo azul do firmamento, recebendo promessas dos que alcançaram milagres. Cabaça. Tornou-se único com a morte do que viera primeiro. Segundo dos seis de Tião e Zefa, retirantes de outros tempos, vindos de algum ponto da Chapada Diamantina, que não precisavam, que homiziara antepassados de um baálé fugindo do retorno forçado à África. Dos que enfrentaram a sociedade no janeiro há quase um século, na cidade da Bahia, diluída a tradição no esparsar da fuga. O levante vivo nas memórias, arquivado no silêncio de tantos anos, mesmo que não soubessem porquê, revelando medo que não sabiam explicar. Segredo guardado a sete chaves, como o que os fizera vinculados ao torrão original na transmissão oral dos costumes, travestidos na devoção dos brancos. Não dependeu do aparo da parteira, que chegou atrasada, dada a rapidez entre sinal e choro, ainda que estropiando o burrico ofertado como transporte. Mesmo assim, recebeu nome em homenagem à aparadeira, que teria aparecido – segundo Zefa – e ajudado no parto, quando ainda longe do lugar. Os pais acolhiam-no como mais uma boca para dividir frutos de palma, de xiquexique, a farinha curta e a pouca água na estiagem prolongada. Mas, lado bom, quando crescesse, menino mesmo, constituiria mais um par de braços na enxada, para ajudar a cavar o esturricado nos dias de expectativa de chuva, oportunidade em que semeariam no pó escassas sementes de feijão e milho, pondo em disputa estômago e terra, quase sempre esta levando vantagem. Afinal, a poeira fazia-se torrão – se encontrando apoio tornava-se pródiga, e o sendo, certa a estocagem de grãos, à espera de outra incerta aguagem, esperança de alimentação para futuro distante. Sobreviveu ao mal de sete dias, o que o fazia olhado com atenção, respeito. Leite secou no peito de Zefa. Comeu papa escaldada, de farinha com água, levada à boca pelos dedos da mãe. Ultrapassada a fase, descambou no mingau de café preto com farinha de mesa, ralo aquele, para economizar, alternativa ao quase nada disponível. Cresceu naquele carrasco, aprendeu as artes dos meninos do lugar. Poucas, por sinal, porque no sertão caatingado logo descobrem a necessidade de lutar, correndo atrás de comida e água. A barriguda ensina-os a preservar o líquido, reduzindo neles o impacto da beleza rubra das flores, importância menor no contexto. Difícil compreender a razão de na estiagem a árvore perder as folhas. Reter líquido, meio de a folhagem não consumir água, e que tudo acontecia sob as “ordens de Deus” – ouviu. Parecia morta, galharia exposta, mas vivinha dentro, água reservada. Os olhinhos curiosos descobriram feijão e milho colhidos, guardados em barricas de bacalhau lacradas com breu, resina de jatobá, restos de vela. Maneira de distanciá-los dos insetos e do gorgulho. E fazê-los durar. A inteligência se desvia 10 11 indiana imensa cortando a caatinga, aflora ao intelecto, passos escutados através dos buzos da infância. Perdido em pensamentos, reminiscências difusas começam a formar imagem concreta, perceptível na viagem ao passado. Na esteira da saudade busca a terra distante, deitada em aconchego de travesseiro na fuga do descambo da mata inculta e daninha do Orobó, beijando a encosta Piemonte da Chapada Diamantina, antigo pouso dos que buscavam as minas de Robério Dias, em Jacobina, no início do século XVIII. Semeada na Santa Rosa de Cima pelas mãos de Severino Gomes de Oliveira, para alimentar a futura freguesia de Nossa Senhora das Dores de Monte Alegre. No Brasil distante, outro lado do oceano. Som do chén-nhén-nhén chafuscando n’água da imaginação. Canção ao fundo: Pá, palá patinha tinha, tinha de Dondé N para conhecer os mistérios sertanejos: sempre em torno da água e da comida. Tesouros. Bufa-de-gambá, frutinhos amarelos, doces, que davam sono. Beber do olho do licuri. O umbuzeiro, o juazeiro, mestres maiores, símbolos vivos de proteção da gente do lugar: o primeiro, ofertando sombra, galhos dispostos à rede, batata na raiz guardando água cristalina e fria, mesmo a terra rachando sob o sol inclemente. O juazeiro, o verde a qualquer tempo, dentifrício natural, oráculo de chuvas, sombra perene e alimento para a criação em tempos estios. A dureza das estiagens legava histórias, tornadas lendas na força do repetido, chegando aos versos dos cantadores. Como a que ouviu haver acontecido com Sinhá Inhana, que os pais contavam para lembrar a pedagogia da economia de água e a eternizar o drama da seca, fixando-a no imaginário com as tragédias que origina. Pusera no mundo Zé da Inácia, caboclo forte, famoso no dia-a-dia da roça, habituado a romper léguas à procura de trabalho quando o que fazer escasseava nas redondezas. Mas com a família no fim de semana, trazendo parte do pouco que sobrava do eito. Demora mais quando descambava para os lados de Campo Formoso, fazendo vida de capangueiro a serviço de alguém, premiando a mulher com um ou outro lacaio. Morava num fim-de-mundo, dos primeiros a faltar o de beber, a duas, três léguas de Cuscuz, desnorteando pro Gavião. A mulher e a filharada na companhia da velha Sinhá Inhana, que ajudava nas coisas de casa, olhar menino, apesar dos noventa “de sofrido”. Certo dia a caneca raspou o fundo do pote e voltou vazia, sinal de água de beber no fim. Estando Inácia torrando em febre, o precioso líquido não fora suficiente para atender às exigências de sede da doente, tendo-se acabado ainda no início da semana, quando o homem da casa longe. Sem pessoa a quem transferir a obrigação, rompeu, acompanhada do neto mais velho, que não chegara aos dez, em demanda da cacimba de Eleutério, duas léguas distante. Preocupada com a meninada que ficava, encarregou a mais velha de olhar pelos outros, já esgoelando de sede, enquanto suava a cântaros, lábios rachando. O sol feria o olhar e sapecava a pele quando os dois desandaram, potes de barro sustentados em cabeças arrodilhadas. Pouco se sabia do que ocorrera no trajeto da ida e da vinda. Marcado para sempre o fato de que, pelas cinco, quando o amarelo avermelhava indiferente no poente, Sinhá Inhana chegava, ofegante, ao terreiro, o neto se arrastando atrás, com a salvação da semana. Os meninos, em pranto, que pensou de sede, corriam para ela. A vista turvou-se. Cambaleou. Sentiu a imperiosa necessidade de não tombar. A queda seria a de todos, dependentes do que trazia. Tropeçou sobre si mesma. Aprumou-se. Algo longe zunia nos ouvidos, cabeça nuclearizando milhares de estrelas à frente, miudinhas e velozes, acendendo, apagando, acendendo, apagando... A noite soava nos tímpanos. Acelerando. A vista nublou-se. Percebeu-se desfalecer. Não tinha como evitar. Perdeu a força dos braços, na dormência despencados. O pote caiu desastradamente, no instante em que se aproximavam. O neto, ao tentar segurá-la, não evitou a queda do seu. Quando Lindu passou, estropiando o jumento para não tardar em casa, deu de cara com a cena: a velha Sinhá Inhana, inerte, corpo ainda quente. Em torno os meninos lambiam a terra recém-molhada, disputando com ela cada gota, em desespero. Lá dentro, também morta, Inácia tinha as roupas ainda ensopadas pelo suor, sugado devagar pelo filhinho de braço. Nunca encontrou tempo de viver a infância como soia acontecer à criança de outras paragens. Nenhuma bramura. Quieteza de menino sertanejo vem mais da fraqueza do corpo do que da educação do lar. A pindaíba fere a mente, a leseira judia, escorraça as coisas naturais à criancice, nega conceitos da psicologia para a idade. Calundus nunca os teve, nem mesmo os conheceu ou aprendeu. O isolamento não permite descobri-los. Raros carões. De pequeno, ainda tenra a idade, ajudava nos trabalhos de carrego de água, corte da palma para a criação, capinagem do terreiro quando o sol não se desincumbia, arranque da mandioca, colheita e debulho do milho, enchimento das talhas esvaziadas das chuvas, preparo da palha para feitura do legume do pai. Passar o fubá na urupemba. Encher moringa, catar achas 12 13 N para alimentar o fogão. Juntar ovos espalhados pelos poucos ninhos do terreiro e redondeza. Identificar fujona do piopio buscando ampliar a prole em prejuízo da alimentação. Carrear licuris, para auxílio à dieta e à renda familiar na elaboração de rosários. Postar o cambau na criação antes da solta. Evitar círculo de cabras olhando chão em torno de ouricurizeiro, certeza de jaracuçu amuado, na espreita. Dos deveres a si incumbidos, com reverência especial, temor acelerando o coração, o cobrir espelhos quando relampiava, debruçando o medo sob as orações que sabia – atropeladas – para evitar que o mundo desabasse sobre as cabeças. Depois, correr para o quarto, jogar-se sob os andrajos, agarrado às irmãs, repartindo o pavor. Utilidade para o fenômeno somente livrar mordida de cágado. Acompanhava o pai nas buscas por comida, rastreando a caatinga, em dias de céu inube, seguindo o faro de Boto, cabriolando pelo carrasco. Nambus, perdizes, juritis, rolinhas, pombas, preás, às vezes um tatu, teiús. Jiboia não facilitasse. Até cascavel, se o tamanho permitisse sobra depois de decepada a um palmo da cabeça e da cauda. Quando a estiagem apertava, calangos e catendes serviam de repasto, no espeto, retiradas as vísceras. Nem os ossos, frágeis, dispensavam. Tomavam partido no rumo da batalha contra a fome. Tudo dividido, por menos que fosse. Olhinhos esbugalhados, os dele e das irmãs, fundos e compridos, em torno da novidade surgida, contendo a ansiedade, confiando na aritmética materna a lecionar a ética dos necessitados. Enfrentar o caminho de cabras daquela vida sem esperança, ou, quando muito, de pouca. Acostumando-se a não chorar a morte da bezerra. A crueza do cotidiano não oportunizava dengos. Só o véspero permitia o lúdico despertar para o mistério da infinitude, único devaneio admitido até que o lusco-fusco se perdesse no encontro com a noite, quando chamado para o quase-nada. E aguardar a manhã seguinte, quando, ainda pendido no céu, o guardado no ébano desapareceria tomado pelo amarelo. ove horas. O Chevete, dirigido por Gilvan, se aproxima. No banco dianteiro o companheiro de empreita, Carlão. Incumbidos de conferir se Ferdinando se encontrava na venda da esquina, comprovando o levantado durante a semana. Como observado, diariamente, entre dez e meia e onze, deixava o Sindicato Rural e vinha encontrar-se em João com os amigos. Antes já passara pela Drogaria, ponto de prosa, cachacinha, courinho de porco, piabinha e ovo cozido como tira-gosto. Haviam-no acompanhado durante oito dias. Trajeto sempre este. Saía do trabalho, andava cinquenta metros, dobrava a Rua Almeida Sodré à direita, percorria mais cem até curvar a Carlos Gomes, à esquerda; dali, cento e cinquenta adiante, entrava na Drogaria, pedia uma “pequeninha” de figo e um “courinho” – comido ritualmente, zoando o craac... craac... craac. Quando a terminar levava a dose à boca e num só gole a sorvia. Mastigava a sobra. Então pedia outra. E um courinho. Assim que terminava o primeiro, enquanto “esquentava” a bebida. Vinte a trinta minutos. Gastando prosa: futebol e vida alheia, conversa-quase-nada. Saía, então, rumo a João, circundando dez metros adiante a Getúlio Vargas. Outros cem até o destino. Permanecia até o meio-dia, como obrigação. Haviam estado em frente à sua casa. Tinham a ficha dele. Pessoa sem inimigos. Todos gostavam do jeito alegre e brincalhão. O mesmo após o casamento e o nascimento das duas filhas. Quatro e dois anos. Confirmado. Já em João. A mercearia, na esquina da Getúlio Vargas com a Ruy Barbosa, fazia parte de um comércio ativo juntamente com as casas de José de Itati, Antônio Silva e João de Abílio, todas em esquinas. A de João possuía seis portas, distribuídas pela Ruy Barbosa – duas – e Getúlio Vargas – três – uma na quina da construção. Cereais espalhados pelo centro da casa, mantas de charque empilhadas junto à parede, uma aberta sobre as demais; bebidas em uma das prateleiras próxima ao balcão, para facilitar o servir, tendo ao lado a bacia de esmalte, três-quartos d’água para a lavagem dos copos utilizados; a outra, tomada de marcas de perfumarias e sabonetes, que se misturavam a panelas de alumínio, meadas, agulhas, macarrão, arroz. Próximo do balcão, o mais procurado; distante o 14 15 s fazendeiros deslocavam os peões, acompanhados das mulheres e filhos, vestidos como em dia de festa de padroeiro, de eleição ou de batizado, para as compras na cidade. Em caminhões ou picapes e jipes. Alguns com as famílias em carros de boi, ou charretes. A penca de filhos segura pelas mãos. Uma festa. Trajados como pra missa de domingo. Um ou outro mais para cuiú-cuiú. Para o patrão o orgulho de mostrar a gente. Prestígio. Mais “agregados”, maior presunção de propriedade grande, da força do “coronel”. A expressão motiva demonstrar humildade, fazer-se pequeno quando a vaidade se impunha: – Coronel que nada, burareiro – meneava a cabeça, se assim saudado, para um lado, para o outro, lentamente, buscando impressionar na modéstia e aparente submissão. Maior motivo de prestígio somente a “amizade” com os políticos. Antigamente Gileno Amado, Henrique Alves. Últimos de uma estirpe que representara referência. Tempos de inteira dependência com a quase inalcançável Itabuna. Quando o lugar abria nova fronteira econômica, planejada para fornecer gado à velha Tabocas e Ilhéus. O coronel o cabo eleitoral, segurador do “cabresto” nos confins das matas. Prestigiado na eleição. Corres- pondido se carecia de jagunços para engrossar fileiras em briga pessoal, nomear delegado calça curta. Amigo de chefe político podia refletir tratado de paz. Ou garantia de invadir metros das terras vizinhas. Palmos, às vezes, no empurrão às cercas. Se o líder no poder. Inimigo nem pensar! Muitos se fizeram na força dos contratos. Forma de ampliar domínios, experimentada com sucesso nas terras do cacau. Chegados nos primórdios da conquista, detinham pequenas glebas, alimentaram uma cultura voltada para sobrevivência, distantes dos centros litorâneos. Não porque léguas fossem muitas, mas a quase intransponibilidade da mata os fazia isolados nos cafundós. Roças dispondo, quando muito, de precárias instalações, tocadas à coivara e técnicas primitivas, rondavam áreas fronteiriças aos córregos e riachos. Ali não aparecia o capital financiado, tanta a ausência das garantias exigidas. Permaneceram nesse marasmo durante anos, desprovidos da possibilidade de a ambição fazer-se presente no ampliar dos teres. Quando o arruado deu-se a ganas de gente e as levas retirantes aportaram, saturadas com a expansão do litoral, a parceria do contratista permitiu o surgimento das roças de cacau e uma outra forma de aberta para a pecuária. Esta na área cedida para a agricultura de subsistência, enquanto a mata caía sob o machado para o capim ao lado alcançar o ideal de exploração, madeira sendo moeda dividida. Aos poucos os pequenos lotes foram-se ajuntando na conquista do mais forte e melhor organizado no trato dos recursos. Assim chegaram ao poder visualizado que hoje transitava pelo comércio e feira da cidade. A freguesia, aos sábados, constituída fundamentalmente dos trabalhadores dos coronéis. Paravam veículos, animais e carroças já na porta do comércio preferido e nas imediações, quase não deixando alternativa para os agregados desenvolverem cultura de atores da concorrência. A entrada em qualquer delas consistia o mesmo que cabrestá-los para nelas comprar o da semana. A palavra de “garantia”, se algum o fazia “na cardeneta”, valia mais que assinatura de gerente de banco. O melhor círculo. Safra boa, dinheiro correndo, prateleiras esvaziadas. Safra pequena, 16 17 de menor demanda. Na parte mais baixa das prateleiras açúcar, arroz, macarrão, perfumarias, linhas e meadas; na alta, que exigia escada para alcançá-la, panelas de variados tamanhos, vasilhames de alumínio e esmalte. Junto às portas, pilhas de vassouras de piaçava, em pé, desnudas como buscando vestir-se, sacos de feijão e açúcar não abertos encostados à parede, no rumo do balcão. Três mesas de madeira, rodeadas por quatro tamboretes cada, espalhavam-se desordenadas pelo centro do empório. A procura pelo estoque pontuava alto aos sábados. Freguesia certa, definida, da Mantiqueira, Serra Torta, Colônia, Itati, São José, Gameleira, Ribeirão de João Dias, Cebola, Vela Branca. As mercadorias, umas sobrepostas às outras, sobre o balcão, conforme o pedido do freguês, conta feita no papel de embrulho que depois ajudava a enrolar o sabão, ou as porções de tempero seco. O mercadorias encalhando, pouco negócio, lamento comerciante. Ao pé do balcão as conversas: safra, temporão, valia das coisas, trabalhador, chuva, estiagem, seca, pragas, preço do boi, aftosa, raiva, mela. Regadas a aperitivos, de vinhos populares a aguardente, na profusão de infusões, e solicitada por cada uma delas. Nas escassas mesas (duas, raramente três, para não ocupar espaços) concluía-se a compra ou a venda de pedaço de terra, de roça de contratista. Acertadas contas. Organizado um caxixe. E o sinal, ao pé do ouvido, para empreitada mais complexa, quando a vida de alguém em jogo. Em casos mais amenos, aceno para a surra no que ofendera filha do agregado, caminho mais curto para convencê-lo a constituir família, se o delegado não houvesse conseguido garantir o casamento. Se dentro da venda o espaço para negócio dos “coronéis”, no passeio as trocas, os rolos promovidos pelos peões: rádio, relógio, frutas, anéis, facões, canivetes de “estimação”, jumentos, mulas, cavalos, bezerros, porcos. Canários da terra, sete-cores, coquis, cancães, papa-capins, sabiás, pintassilgos, bicudos acomodados em gaiolas penduradas nas mãos propagandistas. De talisca e de arame. Alguns ainda em alçapões. Tudo para escambo. A ciganagem do ambiente denominou o espaço de “ilha-de-ratos”. Perto, a banquinha de relojoeiro, para conferir a qualidade da mercadoria oferecida, quando se tratava de relógios. E compra, venda ou troca de usados, expostos nos cordéis ou espalhados sobre a superfície, desarrumados. A bebida exaltada forma discussão, gera briga. Os contendores rolam-se pelo chão poeirento, ou enlameado, se choveu. Alguém tenta apartar, e termina no rolo, depois de receber um sopapo. Uns deixam as compras para assistir à peleja, formando um círculo em volta, que se engrossa quanto mais tempo leve o angu-de-caroço. Outros nem se abalam, tal a experiência com freges. O grito de “lá vem a polícia” – partido de um moleque qualquer – logo acaba o aranzel. Em instantes tudo como dantes. Na gritaria das trocas, no fôlego do mercar. Como se nada houvesse acontecido. Mas, nem sempre assim se dera. Agora o lugar existia como cidade. Centro de prestígio político na região. Três deputados. Um na Capital da República, dois na Bahia. Mas – repetia para si mesmo – nem sempre fora assim. Muito diferente dos tempos em que chegou ainda rapazola, fugindo, com a família, de uma seca no sertão da Bahia. 18 19 A parado, como a maioria, pelas mãos de Fausta Marcelina. Beirando os sessenta, liberta pela Lei Imperial 3.353 quando contava vinte e dois anos, quase todos de labuta para o Coronel Libório, que a comprara menina, tirando-a de família que residiu em usina entre Feira e a Bahia. Escapara, com trejeitos, do compromisso de mucama, de quem “a pretendia para prazeres”, dos quais soube fugir – dizia – “na prosa”. O Coronel – falava orgulhosa – passou a ter-lhe grande estima, “protegendo-a dos malfazejos” deste mundo. Tinha sido como um pai. – Fez falta quando morreu, inhô – a lágrima brotava do olhar, ao relatar esse instante. O seu, que quase não conheceu, chegara cabiúna e servira de cambá. Morrera longe, deixando infieira de filhos na senzala. Não sabia se mesmo sobrevivera à guerra. Quando menino ouviu da própria negra – batendo-lhe carinhosa na cabeça, depois da bênção, obrigação de aparado – que “escorregara como quiabo”, jeito de elogiar a arte, o sangue bom, com a ajuda de Nossa Senhora do Parto. Rezava a tradição: se mulher sentia “as dores” alguém corria à casa de D. Hormezinda de Pedro Lima, que cuidava de dirigir-se ao “quartinho dos santos”, abrir o nicho e colocar o Menino Jesus nos pés da Virgem, até que trazida a notícia do nascimento com vida, quando, então, o Menino Deus voltava aos braços da Sagrada Mãe, sob o pálio do agradecimento. Com ele igual. Benigna, a empregada resmungona – a pitar cigarro de palha – mensageira nas duas oportunidades, espalhou o acontecido. Pesado na balança de vender sabão, pratos forrados com folhas da Revista da Semana e d’O Tico-Tico, tornou-se a festa da casa, alegria de primeiro filho. Lixívia, o aroma que conheceu antes do alfazema. Motivo de pirão de parida, para o resguardo. Galinha cozida na panela de barro e mexida com colher-de-pau para não fazer mal. Depois outros sete, um morto aos dois meses. Diarreia que nem o médico conseguiu conter, nem os chás de folha de bananeira e de olho de araçá impediram subisse ao céu ainda novinho. De lá saiu rapazola, nove, dez anos no cangote, acompanhando a família, fugindo da seca que estourava mamona no pé. Receberia por nome Fausto se já não houvesse tantos na cidade, em homenagem à negra aparadeira, que não deixara sequelas do parto. Registrado, no entanto, em homenagem a Santo Antônio – compromisso da mãe – e ao tio, tudo no prazo de lei no cartório de Castorina. Batizado na Igreja de Nossa Senhora das Dores, cabeça molhada por Padre Antônio. Corria o junho de 1926 quando chorou. Exatamente o 26. Dia em que a Coluna ocupou Monte Alegre. G ilvan circulara pela Ruy Barbosa, como combinado. Vira-o no Armazém de Arlindo. Caberia, agora, buscar Faustino, retornar pela mesma Ruy Barbosa, novamente passar em frente ao armazém, acompanhar pelo retrovisor a saída de Solano – a senha – a entrada na venda de João, onde se encontrava Ferdinando. Então o veículo estacionaria, o motor funcionando, ele ao volante, enquanto Carlão e Faustino saltariam e entrariam, cada um por uma porta diferente, e em instantes distintos, apesar da pequena diferença entre um e outro. Tomariam posições diversas em relação a Ferdinando. Carlão junto à parede em frente às portas da Getúlio Vargas; Faustino, chapéu calado sobre os olhos, no balcão, a dois, três metros da vítima. Pediria conhaque, para disfarçar o tempo, já que nunca pusera tal natureza de bebida na boca, e aguardaria o primeiro disparo de Carlão. Como acertado. Sinal para a saída de Solano do armazém de Arlindo, independente da passagem do Chevete, a entrada no recinto de Crispim, confirmando se encontrar na venda. Trocariam cumprimento indiferente, sairia. Como ocorreu. 20 N ascera ainda no sábado, dor do parto despertada com a manhã, quando tudo se precipitara na esteira da notícia. Para uns a três, para outros a cinco, seis léguas da cidade. Quem comprara no amontoado de barracas – onde vendidos farinha de mandioca, legumes, verduras, feijão, arroz na casca, milho seco e na palha, tubérculos vários, carne seca, rapadura, doce de araçá e de marmelo na folha de bananeira, sandálias de couro cru, cachaça, naqueles verdadeiros empórios ao ar livre. Espalhados pelo chão, mesas, camas e cadeiras rústicas, bules e sopeiras, moringas e talhas de barro, caçuás, esteiras, candeeiros e lamparinas, alpercatas sarga-bunda, chapéus de couro, barrigueiras, selas, subprodutos do sisal em vassouras e bonecas, gaiolas e alçapões de talisca, algumas enxertadas de papa-capins, caga-sebos, sanhaços, sofrês, sabiás e tudo mais que falario nordestino possa reunir – sentiu tudo em volta atordoar-se num ruído somente possível em imaginário apocalíptico. A feira, como toda feira provinciana, circundada, quase completamente, pelas tradicionais barraquinhas de café. Nos restaurantes a céu aberto mungunzá, mingau de milho (verde, quando havia), fubá ou puba, para o desjejum. O almoço farto com sarapatel, viúva-de-carneiro, mininico, cozido de carne com osso fresca, galinha ensopada, rabada, carne na brasa em espeto de pau, rolinhas e nambus assados, um tatu ou paca de vez em quando, servido em pratos de esmalte, a colher como talher, misturando-se tudo, salpicado com molho de pimenta, acompanhado da “abrideira” com cobra (fechar o corpo), pratudo (prevenir qualquer mal), pau-de-rato (solicitada pela freguesia masculina), capeba (para os males dos rins), erva-doce (calmante) e uma infinidade de motivos nominando a canjebrina de cana contidos na “drogaria” popular. Esse círculo tornava-se, na balbúrdia, escudo que impedia a saída dos que se perdiam nos encontrões. Em meio ao que se tornara suplício, Aladim, fazendo a feira semanal – pensando na mulher que deixara com os sinais do parto em companhia da sogra, que já pusera sobre os pés da imagem de Nossa Senhora do Parto a 21 eira alta quando a notícia chegou, levando à dúvida se comeriam o comprado, já que a fama dos revoltosos, a eles aportada, envolvia pilhagens... Essa, pelo menos, a verdade oficial manifestada pelo Leitão. De roldão a moral familiar. Estupros. Crianças violadas na presença dos pais. Pior que o “comunismo” infame que arrancava unhas na ponta de faca ou de alicate, como revelado pelos cossacos ano antes, atrocidades praticadas sob o cnute do “stalinismo ateu”. O povo escutara assombrado a fala do intendente, alto em erudita vaidade, recém-chegado da Bahia, revelando o dito pelas “autoridades da República”. Os desgraçados – dizia, circunvindo vaidoso com tantos à volta escutando-o sem interrupção – resistiam ao exército de Horácio de Matos, armado pelo Ministério da Guerra. Haviam descido do Norte, atravessado o São Francisco, após saírem da Jatobá pernambucana, passarem em Lençóis, Minas de Rio de Contas, Condeúba, Jacarací, entrando em Minas Gerais até Serra Nova e a Jatobá mineira, “quase chegando a Belo Horizonte”, voltaram em cima do rastro em manobra de vulto, e subiram novamente para a Bahia, ladeando o Gavião, atravessando o Rio de Contas; chegam a Ituaçu, passam próximos a Lençóis, margearam Remanso, atingem Sento Sé, e quando imaginavam ultrapassado novamente o São Francisco, desciam no rumo do Sudeste, como se quisessem “tomar Feira e a Bahia”. Estariam próximos de Mundo Novo, e Monte Alegre parecia caminho traçado. E ninguém pegava os infelizes. Os homens do Batalhão Patriótico atordoados. Sumiam sem que ninguém visse. Tinham parte com o tinhoso. Por isso os lenços vermelhos no pescoço, sinal daquela patuleia, com certeza. A confusão estabelecera-se, alarido imenso. Alguns correram ao prédio dos Correios e Telégrafos, ansiosos por ouvirem de Augusto, o telegrafista, ou de Alaor, o auxiliar – que displicentemente obliterava selos – a confirmação da informação do esbaforido Nemésio, estropiando o jumento que lhe servia de montaria, escambado dos lados de Mundo Novo, pelos caminhos do Angico. Bijão perdeu o cavalo de estimação no curso da balbúrdia, e atribuiu, de logo, a responsabilidade pelo prejuízo aos “desprezíveis”. Antera, de D. Nosinha, no desespero, sem entender o que acontecia, na falta de árvore para esconder-se, esfolou-se ao subir no mandacaru do fundo do quintal. Ovídio de Margarida tratou de esconder a vaca araçá, estima maior, longe do Recreio. Maneca e Rapamundo abandonaram o gamão no passeio, sobre o banco, esquecendo a aposta, quase ganha por Maneca, momento em que Rapamundo ameaçava jogar os dados sobre o telhado, como ocorria quando em desvantagem. Agostinho Navarro, trancando as portas do bar, nem se preocupava em receber o dinheiro das bebidas vendidas aos fregueses que se esbaforiam porta fora. A notícia, como pororoca amazônica, arrastava a cidade. Os nichos enchendo-se de contritos perdões a Deus, o apocalipse se avizinhando. O falario agravando o desespero de perdição. No alvoroço, santos invocados na penitência improvisada à capela – a igreja, o orgulho do lugar, em homenagem a Nossa Senhora das Dores, não estava concluída, e muito faltava – surpreso ficou o Padre Antônio. Para ele o ansiado há tanto. Em prédicas e sermões, recheados de escatológicas citações sobre a necessidade de mais ajuntamento de fiéis na casa do Senhor, e não encontrando o eco desejado para as súplicas, há muito acreditava só em milagre, que parecia acontecer naquele instante, quando a cidade e redondezas prostravam-se em frente à capela, rezando atropeladamente, sem chamamento, muito menos toque de finados no sino. A missa do sábado terminara. Também os batizados – que haviam rendido tão pouco. Não precisava falar 22 23 do Menino Jesus – quase levado pela multidão desesperada em busca de abrigo e proteção. Para os da cidade, os lares; para os da zona rural, a casa dos amigos, dos conhecidos, ou simplesmente de quem entendesse a aflição e fizesse a caridade de ofertar amparo, fortaleza na imaginação de cada um. Parte considerável descambara para a igreja, último e único torreão disponível. F na fraca coleta. As forças se esvaíam e o ideal de ver concluída a igreja nova se desmoronava a cada sábado, domingo, nova missa ou terço, onde motivava os fiéis para o divino objetivo, em comoventes orações em púlpito. Mas aquela manifestação, espontânea, só podia ser o sonhado no cantinho do imponderável da mente dedicada às coisas do Eterno. A surpresa aumentou ainda mais, ao notar o Coronel Josias Macário, dono de quase tudo no lugar – verdadeira sesmaria entre Bonsucesso e Aroeira – acotovelando à volta, na correria para o altar. Ah! pensava Padre Antônio – arrumando apressado os paramentos – se não fosse tão herege – que Deus me perdoe – a igreja estaria concluída. Mas o desastrado, que Deus me perdoe – repetia, batendo três vezes na própria boca, com a mão direita – negava galo para leilão da Padroeira, ou para o que arrecadava recursos para Maria Beata. Absorto nos pensares – misto de orgulho e humildade, como só na ordenação – sentindo-se realizado como pastor de almas, olhava a realização do prodígio, e como a confirmar as conjecturas, na babel que se formara, braços erguidos sinalizando silêncio, a muito custo conseguiu ser ouvido pelos que lhe estavam próximos: – Dominus vobiscum! – iniciou, olhos fechados em contrição, elevando a mão direita em movimentos suavemente definidos, construindo no espaço o sinal cristão. – Chegado o grande dia irmãos! Para a Glória de Deus, reunidos sem nenhum convite, a não ser o do Altíssimo, que nos tocou doce e silenciosamente o coração, como no dia da Criação. Redenção de culpas, de pecados, graças divinas caem sobre seus filhos, imagem e semelhança d’Ele – apontava o céu, abrindo levemente os olhos. Como a confirmar a abertura do Paraíso para o rebanho. Enquanto falava, a multidão, inchada com novas buscas de abrigo na igreja, o escutava atônita, engasgada com a notícia recém-chegada. A suadeira gerava um fedor insuportável no calor de Saara. O Coronel Josias Macário, postado no primeiro banco, sem entender do que dizia, pensou que ficara “louco”. Incrédulo, desabafou, sem ser ouvido: “tinha se tornado adepto do comunismo ateu, elogiando os revoltosos!” Como podia dizer ser “aquele um grande dia?”. – “Endoidou de vez, só podia ser isso” – concluiu, num muxoxo, categórico em si. O comércio fechara as portas, e os proprietários ainda corriam alvoroçados para as casas buscando um meio de proteger a família, e Padre Antônio na prédica, caminhando para o êxtase, enquanto o povo ampliava o alarido. Se pela zoeira ou não, na casa de Aladim, as dores aumentavam, denotando a proximidade do parto de Adélia. A parteira, logo chamada, cuidava de acelerar o nascer como forma de reduzir o sofrimento. Mesmo assim, quase à meia-noite chorou, descobrindo o mundo. Sábado. Ainda nas cinzas do São João. 24 25 A prendeu a compreender a dor da perda, na própria pele, de repente, como coisa presumível, comum, tal a naturalidade com que acontecia naquelas paragens. Deitara sem nada perceber de anormal. Uma irmã, menor que ele, tossia fraco há dias. Sentia haver algo estranho em razão da preocupação desdobrada da mãe, debruçada sobre o fogão preparando chás e mezinhas, o pai pelos matos à procura de mel de uruçu para juntar aos preparados à base de raiz de fedegoso e mastruz; leite de cabra arrecadado das criações vizinhas para ajudar. Fisionomias mais tensas e preocupadas. Dia seguinte, quando amanheceu, ausente o rebuliço da cozinha, procurou logo se levantar, martelado o juízo, a dizer-lhe que algo acontecera. Esfregando os olhos encaminhou-se para a porta, sonolento, buscando a razão do silêncio. Encontrou o pai abrindo buraco no chão, perto do umbuzeiro, não longe da casa, mais comprido que quadrado. Ficou olhando, sem ainda entender. Imaginou que ideava água. Mas não carecia. Talhas cheias. Ele mesmo não as enchera? Viu-se lacrimejar quando a mãe passou com a irmãzinha, enrolada em panos. Camisinha de pagão bastara para cobrir-lhe o franzino. Par de chiquitos esfarrapados completava o enxoval, lanando os pezinhos que deles não mais careciam. Bracinhos despencados, inertes na magreza. Posta na cova acabada de abrir. Os andrajos que serviram de lençol envolviam-na. Terra jogada por cima. Pedras a circundariam. Pareceu-lhe, no entanto, que o pai não queria sepultá-la, tão lento repunha a poeira de onde tirada antes de colocado o corpo infante. Cruz tosca enfiada no fofo, marca para lembrança. Olhava o vazio do quadro, refletido nos pais. A mãe não chorava, com lágrimas, mas imensa a tristeza no rosto. Prantear representaria pouco para a angústia no olhar distante, descobrindo fim de mundo, contemplando a terra-do-sem-fim jogada sobre o corpinho pelo marido, aos poucos, como se quisesse com isso trazê-la de volta. O pai reagia, instintivo, a cada porção recolocada, como se o fizesse apenas para evitar que o rebento rumasse levado por asas negras, coisa anticristã. Perdia-se nos movimentos, lentos na construção da angústia que o atormentava. Percebeu-se em prantos somente quando a mãe enxugou-lhe as lágrimas, com os próprios dedos – após instante infinito de olhar para a cova como a penetrá-la atravessando o mundo, e buscasse rever o milagre de Lázaro no sertão caatingado – e ao voltar-se para o casebre encontrá-lo de pé, perdido no pensamento refletido no olhar distante, afogado em trovoada. Uma angústia imensa tomava o ar e ocupava o espaço vivo. Notou, infinitude do instante, que ocorria com a família a história que ouvia e imaginava só acontecer com as outras. Uma diferença, no acontecido com a irmã, distanciava-o, no entanto: não houvera ladainhas e encomendações da alminha à noite, como soia acontecer nos arredores, e testemunhara tantas vezes, muito de obrigação do que gosto. Mas a história, a mesma: a terra ressequida, vez em quando, abria-se para seus filhos, como a se renovar, tanto, talvez, à falta de adubos. Levara mais um que teimara em nascer naqueles carrascos de fim de mundo. Só não entendia por que a irmãzinha. A inclemência da morte juntava-se à aspereza daquele torrão, daquela gente, que nesse instante aprofundava em aprendizado na própria pele. Conflitos e contradições, passados despercebidos, reconhecidos em instantes como aquele. E uma tristeza, como nunca sentira, apertava o peito, como em viagem sem volta. Instantes depois só restaria chorar baixinho, longe de casa, escondido entre as pedras do caldeirão seco. Recordando as brincadeiras entre ambos. Subindo pelo umbuzeiro que agora quase a abrigava. Chegou ainda a esmiuçar na mente se não haviam passado cuspe no corpinho da irmã. Tantas vezes vira aquela prática, de ser posta a saliva sobre a parte doente, enquanto rezada a simpatia. Por que não dera certo? 26 27 “Jesus, Maria, José cuspe lembrado remédio é” U m dia a estiagem se tornou seca, prolongada nos quase dois anos. Os caldeirões escassos não mais davam para arrasto da cuia. Chuva de cambueiro não caíra, mais uma vez. Umbu desapareceu. O xiquexique, o mandacaru, a coroa-de-frade pediam água. O rícino esturricava. Faltou banana até para o godó, e nem a malamba seria feita, já que os frangos, poucos, destinados a negócios para ajudar na compra dos mantimentos que não produzia o esturricado. Tempo em que aprendeu, ajudando, a fazer farinha-de-bugã e de olho-de-boi – este que precisava de lavar em sete águas. A pouca encontrada nos tanques, trazida gota a gota, arrastada do fundo lamacento para encher o carote, denunciava tragédia iminente. A perda do pedacinho de terra – e o como aconteceu – marcou-o para sempre, muito mais que o infortúnio do estio prolongado-se sem fim. Nela nascera, terra-escola primitiva onde conhecera o pouco da vida. As raízes fincavam-no àquela realidade, descoberta à unha, parida a fórceps. Chão que o fez herói ao trazer para casa a primeira rolinha. Perícia no badoque. O velho Tião, percebendo vocação para a sobrevivência, ampliou chances presenteando-o com uma espingarda fabricada nos fundos do casebre. Nunca dera dia de trabalho para ninguém. Afinal, a vizinhança, igual a eles: cavando chão como tatu e olhando para o céu adivinhando chuva. Os sonhos do menino – muitos. As lembranças esvaíram-se temporariamente na viagem para a cidade, substituídas pelas novidades no arranchamento e, finalmente, na busca da ferrovia, novo ponto de partida, não sabiam para onde. Os carros de boi e aquela cantoria, encontrados estrada afora, levando retirantes, fixava na mente a marca da tristeza. Vinha-lhe à memória um carreiro antigo, que lhe dissera, respondendo à pergunta curiosa de como o imobilizava, que a junta colocada logo depois do carro devia de se constituir dos bois de freio, os mais fortes: parados estes, os demais o faziam. O velho Agnelo tinha sabedoria, sim, daí a admiração e certo deslumbramento com a figura de barba longa, pele tostada. A quem ajudava, vaidoso, vez em quando, como guia. Sentia-se sábio. Deter daquelas informações fazia-o maior, autoestima ampliada. Voltar a pé, após guiar o gemedor, nada representava, diante do orgulho de que podia fazer alguma coisa, ser útil. Só não explicara o carreiro o porquê daquele som brotado da degola, que tocava tão fundo a alma do menino sertanejo. Certamente de toda a gente sertaneja. Som mistura de rabeca, como a que o cego Zé Beato tocava, emitindo a cantoria triste – como há de ser a nascida da tristeza de quem não enxerga – anúncio de passagem esmolando, saco pendurado num dos ombros, vários embornais, cada para um tipo de caridade oferecida. Já o carro de boi, moroso, sem pressa, gemente, com jeito capenga – cai, como cambota, ora de um lado, ora de outro – desarrumado, estropiado, apanhando – acostumado – do sol escaldante. Atravessa as variantes do trajeto, feito mais para ele, às vezes entre angicos, baraúnas, catingueiras e oiticicas, afugentando passarinhos, calangos, lagartixas e outros bichos de beira-estrada. Seu gemido ecoa no fundo da terra, responde nos serrotes, cala no sentimento do sertão, corta a imensidão da caatinga, assistido pelo juazeiro. Vai, natural, desinteressado, consciente da importância, lento, desfiando escarpas, despreocupado com buracos, indiferente às lombadas, lajedos ou chão. Com o canto orquestra a harmonia para a melopeia do aboio que invade o descampado, encaminhan- do o rebanho espalhado em meio a macambiras, xiquexiques, coroas-de-frade, cansanção, mandacarus, oiticicas e marmeleiros, descortinando vez em quando um juazeiro, para o destino desejado pelo homem. Não tinha saudade de escola, porque nunca viveu a intimidade de livros, mas lembraria sempre da cantoria do ABC e da tabuada dos que frequentavam uma sala apertada no Bonsucesso, quando acompanhou o pai em busca do Coronel Josias Macário. A lousa, instrumento desconhecido, estranho. Nem a régua, acionada no lombo de um ou de outro, deixara de chamar-lhe a atenção, sem causar, no entanto, estranheza ou temor, tão envolvido com a cantilena. Mesmo assim, com reguadas ou não, sentiu amadurecer o estar no meio dos que poderiam ler e escrever. Ou, pelo menos, tornar um dia os filhos que viesse a ter objeto de lambadas para aprender o que não conseguira. 1928. Quatorze anos a idade. Vontade de encontrar um pedaço de seu, diferente da jacobina em que nascera. Para não ter que viver como o pai então vivia. Amadurecendo como determinação. Só que longe do tipo de gente que os expulsara do torrão onde vira a luz e crescera. Na mente, a imagem dos homens da coluna passada em Monte Alegre. Que mexeram no rapazola, despertando o espírito de aventura. A mesma que norteara o sonho de liberdade e independência daqueles andarilhos, como veio a saber quando revelada, anos depois, a verdadeira história, desprovida da paixão de quem contava e da propaganda dos coronéis. Encaminhando reflexões. Amadurecidas no curso dos anos. Descobrindo a luta como veículo para a transformação da vida miserável, saída na qual passou a admitir como possível para mudança “de Norte a Sul” nos destinos dos homens. Que se repetia, teimosa em ser aprendida, porque único meio de viver, de permanecer jogando o olhar para o alto a cada dia. Que se confundia com a própria fé que tinha nos santos de que falava o padre na missa do Natal, liderados pelo menino nascido há tanto para mudar a todos. Como esperança. Expectativa, pelo menos. O tempo diria. Na fuga, não levou coisas materiais. Não as tinha. Nem 28 29 mesmo a espingarda, presente do pai. Mas, bem retidas na mente simples, mais do que quaisquer outras, as histórias contadas por um tio, irmão de Tião, surgidor nas épocas de romaria para o Monte da Santa Cruz, descambado de Capivari, e que falou das coisas de Canudos e do Conselheiro que a construíra, convocando todos para “encher as religiões, povoar os desertos, deixar as riquezas e desprezar o mundo”. Combatera na guerra santa, sob o comando do apóstolo Pajeú, homem de confiança do Santo e um dos seus generais, ao lado de João Abade, Macambira e Antônio Beato. Escapara da matança e da “gravata vermelha” por milagre – dizia num misto de surpresa, tributando o fato à presença do “profeta” – já que um dos muitos que acompanharam Vilanova na missão, mandada pelo próprio Conselheiro, de encontrar voluntários na caatinga para a defesa do lugarejo. Quando voltaram com reforços – nunca esquecera – o arruado cercado pelas tropas do governo, com cerca de seis mil soldados restados dos mais de dez mil que a atacaram para vingar Moreira César, “o Degolador”, o “Corta Cabeça”. Tiveram apenas a condição de assistir, impotentes, a destruição do lugar. Antes escapara da morte, quando da tentativa de tomar a “matadeira”, oportunidade em que perdeu a vida o chefe na missão, Macambira. As histórias enchiam-no de medo e pavor, quando focadas nas tragédias da degola. Também não o atraía a relação dos lugares sempre citados pelo tio, orgulhoso na sapiência de ainda conhecer o universo da geografia do conflito: Angico, Fazenda Velha, Favela, Calumbi, Cambaio, Caldeirão Grande, Jetirana, Juá, Lagoa de Laje, Barriguda, Tipipã, Pinho, Macambira, Trububu. Tanto nome cansava-o, e que interesse podia trazer-lhe?... Mas, o heroísmo de Canudos, a vida mansa e pacata, onde “tudo de todos”, e a resistência aos poderosos, marcaram-no o resto da vida, mesmo depois que o tio se foi para os companheiros, ano antes de deixar o sertão com a família. Devia, presumia, estar comemorando, no paraíso, o tiro, “saído” de sua espingarda naquela tarde, que acertara o coronel Moreira César, emboscado na ratoeira armada em Pitombas, às margens de um ribeirão em S, jurando, vaidoso, que dele ouviu a expressão “eu já levei um”. Não mais morando em Monte Alegre soube da existência de um herói, filho do lugar, no tempo da refrega de Belo Monte: Francolino Pedreira, então capitão, que evitou o desastre das forças do governo, quando assumiu e organizou a batalha contra os comandados de Pajeú, que o surpreendera nos arredores de Canudos, a primeira da última expedição. Contavam, também, lenda ou não, orgulhar-se de haver espetado criança na ponta de baioneta quando da tomada do arraial. No desespero, esvaindo os sonhos com a morte do lugar, entregavam em holocausto o futuro gerado, atirando os filhos à soldadesca, fazendo-o na aflição de verem desaparecer um mundo diverso do em volta, para a glória do Conselheiro, e exemplo para outros povos. “O homem não pode ser escravo do homem” – pregava o Santo. E a gente do governo queria retornar a escravidão. Nunca chegou a conhecer o herói local, mas nutria contra ele certo horror. Saber que ali nascera alguém que combatera o Profeta deixava-o indignado com a terra e a família que o gerara. Um anticristo, só podia ser, como todo o que ajudou a calar a esperança que espraiava do Vaza Barris, e a desaparecer a expectativa que norteara a vida sertaneja há trinta anos, ceifando as que não faziam mal a ninguém, cumprindo certamente o mandado do cão, espalhador de miséria e penúria nesta terra de Deus. Não entendia porquê, mas levava as imagens dos capados do terreiro. Tomavam conta dos pintinhos ao largo do quintal. Brigando contra os inimigos. Mal cantavam como galo a primeira vez e logo castrados. Criavam melhor que as próprias mães. Marcava-o a capação. Triste. Cortado a capa-garrote bem amolado. A quicé não se prestava para o mister. Os bagos trazidos na ponta dos dedos. Mastruz pisado para cicatrizar. Tiravam a ninhada da galinha. Dois dias. Depois nem mesmo permitia encostar-se à “sua” família. Espojava a terra, ciscava o 30 31 entrada dos revoltosos, os pais e os mais velhos contavam, dentre eles Tinhô de Eulália, encontrou a cidade quase abandonada. As dores disparadas com a notícia o fizera nascer duas antes da meia-noite, quando acampados no lugar. As casas tornaram-se centro de oração. Crianças postas a dormir mais cedo, ou melhor, a irem para cama, porque não dava para conciliar o sono, tanto o clima de tensão. Olheiros em pontos estratégicos das estradas que davam acesso ao lugar. Ninguém podia prever por onde entrariam. Perseguidos pelos homens de Horácio de Matos – imaginava-se – dando voltas sobre si mesmos na Chapada. As forças regulares nunca os encontrava. Tinham parte com o demo. O Diabo os envultava. Combinado um sinal com cada um dos postos nas estradas; uma fogueira acesa no Monte da Santa Cruz, assim que a duas léguas da cidade estivessem. Se dia, abafada. Para que fizesse fumaça. Os de maior respeito e autoridade aguardaram, do final da manhã, trancados na intendência, a coluna maltrapilha, que arrastava a poeira vermelha como matiz na indumentária, empastelada em lama assim que a chuva desabou, torrencial, a quatro quilômetros da cidade. Para os de fora reunião importante, proteção dos habitantes. Para os de dentro a covardia, o piriri. O intendente delegara representação para a tarefa ingrata ao Coronel Severiano, que buscava proteger os próprios bens muito mais do que os da comunidade. Até porque perder algo de seu, seria privar a razão de existir. Melhor disputá-los, portanto, mesmo que a vida em jogo. Mais que coragem, a garantia de preservar algum pertence. Imaginava – caso não convencesse o comando a passar ao largo – estabelecer negociação que livrasse o patrimônio particular, ou parte, de qualquer ameaça. Isso o que o encorajava. Encontrou um jeito para auxiliá-lo na tarefa delegada. Expusera a ideia: melhor solução receber bem aquela gente e que Deus se apenasse se incerto o raciocínio. Chamando Aurelino de Dadu, bom de mandado, ao pé de ouvido ordenou a convocação de “mestre” Alcides Navarro e da Filarmônica da Sociedade Lítero-Recreativa 7 de Setembro. Que estivessem a postos, tocando o melhor do repertório quando chegassem. Na realidade a lira estava desativada há muito, sem ensaios regulares. Entretanto, quando necessário, promovia-se o arrebanhamento para a tocata. Assim naquele dia. Logo que contatado, o mestre procurou José Brasil – o “Zé Queixoso” – Pedro Lima, Macilon, Manoel Coin, Amador Leal, Agripino Dórea, Edson Moreira, João Matos (o “Astro dos Pratos”). Alguns fugiram à responsabilidade, alegando a proteção da família. Outros, disseram as más línguas, sofrivelmente sopravam os instrumentos enquanto as calças se molhavam. Fizeram circular, ainda, que Prestes falara a Siqueira Campos: “Nos recebem com música porque não o podem com bala”. Conversa maledicente, certamente, dos que diminuíam o ato da furiosa que tanto agradara e que, com certeza, faria a terrinha entrar para o diário da coluna, não somente como mais um lugar no trajeto áspero percorrido. Silêncio sepulcral, quebrado pelo tropel, em ritmo de trote. Centenas de maltrapilhos e empoeirados, a pé, enlameados com a chuva que os pegara. Estrondou tal a surdez que pairava sobre o lugar. Ocuparam todos os lados, surpreendendo em operação de guerra. O telégrafo descoberto, onde instalados dois dos chegantes. Os da cidade se encontravam em casa, reduto escolhido assim que o mundo desabou com o sinal emitido lá do monte. Os que não conseguiram espaço na igreja, centro de não programada penitência. Só que esperavam por um lado, e surgiram de todos os pontos que permitiam acesso. Três da tarde, sábado de junho. A que Padre Antônio entendeu como milagre, até quando o sacristão – outro Antônio – o tirou do 32 33 lixo, cocorocava vaidoso chamando a filharada. Doravante dele. De sua maternidade avessa. O homem, sofrido. Como cortado a cada dia pelo capa-garrote. E não tinha nem a alegria de capão!... Sem razão pra viver. Nem a de ser pai-e-mãe de filhos alheios. Não havia esperança. E começou a construir, sem mesmo o saber, uma utopia. A êxtase. Assim que Nemésio confirmou a notícia, buscou acalmar os fiéis. Fora uns poucos curiosos, ou destemidos, como Dona Filhinha com o filho Afonso ao lado, segurando-a pela barra da saia, que esperou-os empunhando felpuda branca, pesando com cada gota de chuva, para demonstrar a boa vontade e a paz da localidade. E liderou a gente, que a seguiu em cortês recepção aos da Coluna, aproveitando o mote da presença da filarmônica. Símbolo da sensatez, do equilíbrio. E da verve feminina montealegrense. Não houvera tempo para perceberem nada. O que espiou por frestas de janelas e portas descobriu a cidade ocupada, de forma rápida e planejada, como terra inimiga em tempos de guerra. À frente de homens, mulheres e crianças empoeirados, enlameando-se com a chuva forte que caíra minutos antes, o próprio Luís Carlos Prestes, a pé, ladeado por Siqueira Campos e João Alberto. Na entrada o vazio fê-lo apelar para que não tivessem medo, nada aconteceria a quem quer que fosse. Não eram bandoleiros. Precisavam de animais, roupas, remédios, alimentos, armas e munição. Tudo pago com bônus do novo governo, formado após a caminhada vitoriosa. Evitava usar a palavra revolução. O povo precisava aderir, compreender – continuava – o País exigia mudanças, que pudessem alcançar todos os brasileiros. Milhares, comprometidos com o futuro da Pátria, haviam-se levantado em armas em São Paulo, Aracaju, Manaus, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Falava a uma cidade fantasma, para casas que pareciam vazias, como se abandonada. Imaginou. Pelo menos por uns instantes. Minutos entre o término da fala e a iniciativa do Coronel Severiano, obsequioso na tarefa de boas-vindas. Para surpresa dos chegantes a filarmônica apareceu, saudando-os. Armavam barracas ao largo da Praça da Matriz, afastando os restos da feira, a baixada do Bonfim tomada, a Rua da Baixa, como a do Dendê, a Rua do Capim, a do Sacramento e o Campo do Gado, obstruídas as estradas de Baixa Grande, Viração e Angico. Mulheres desembalavam trouxas, utensílios de cozinha, ajudadas por crianças maiores, quando deixaram o que faziam diante da festa oferecida. A Minerva executava dobrados militares, polcas, marchinhas, maxixes e valsas. Sem o respeitado contraponto do bombardino de Pedro Lima, não encontrado por mestre Alcides, fugido para esconder mulher e filhos na Jabuticaba, a rocinha que possuía. Aos poucos o abrir janelas, pescoço fora à procura do que ocorria. Engrossando o grupo que fizera a festa da recepção. Envolvendo o cansaço e a fuga na melodia da filarmônica, os comandantes viram aproximar-se a comitiva, destacando-se alguém, dois passos à frente: – Bom dia, Comandante – saudou, tenso, o Coronel Severiano, dirigindo-se ao que vira falando para a praça vazia. – Pois não – respondeu Prestes, após deixar nas mãos de um companheiro a sela que retirara do animal que servira a estropiado combatente. – Com quem falo? – indagou. – Coronel Severiano, seu criado, encarregado pelo Conselho Municipal para dar-lhe as boas vindas e ver de que o senhor e sua gente precisam. – Satisfação – disse-lhe o Comandante, retendo o sorriso cansado, barba desalinhada no rosto jovem, satisfeito em ver que suas palavras produziram efeito, e ainda surpreso com a festa. Aquele homem, mesquinho na aparência, de qualquer forma servia de interlocutor entre os que marchavam e a cidade – pensou. E que os recebia de forma inusitada. – Podemos marcar uma reunião para daqui a duas horas – afirmou. Incluindo a presença de outros representantes do lugar, especialmente comerciantes, proprietários de terras e de animais – procurou definir, quanto aos participantes. – Certo, Comandante – retrucou Coronel Severiano, solícito. – Junto à minha barraca – definiu, senhor da situação. – Certo – repetiu o nativo. Todos estaremos lá... E mais Comandante – continuou, prazeroso – hotel e pensões à disposição: água morna, toalhas de banho frescas, lençóis, travesseiros e fronhas lavadinhas aguardando vosmicêis para um descanso. Não dá para todo o mundo; cabe ao seu comando designar os que 34 35 vão se beneficiar do pouso. Cortesia do intendente. E se afastou, célere, em direção à Intendência. Lá os interessados no resultado do diálogo não escutado, observando pela fresta das janelas o que se passava – os que não integraram o grupo de onze destemidos, que o acompanharam na missão, da qual – graças a Deus – se desincumbira bem, pelo menos até o instante. O Coronel Severiano coordenou as conversas com Prestes e Siqueira Campos, quando se encontraram junto à barraca de campanha, rodeada de outras que a protegiam, deixando-a no centro de uma “praça de guerra”. Ouviram do Comandante que não tivessem medo. Não eram bandidos. Mas defensores de um Brasil mais justo. Que não podia ser governado sob permanente estado de sítio. Afinal – como disse o companheiro Juarez Távora – “a revolta é o último dos direitos a que deve recorrer um povo livre para salvaguardar os interesses coletivos; mas também é o mais imperioso dos deveres impostos aos verdadeiros cidadãos”. Esse o caminho que tiveram de enfrentar, sem outra saída. – Cada morte nesta luta nos leva a prosseguir. Perdemos Gumercindo há pouco. Mais um que ficara pelo caminho. A campanha os levaria à vitória final, em breve. Queriam, como de outros lugares por onde passara, o apoio espontâneo, democrático e cívico, representado por animais descansados, medicamentos, roupas, cobertores, pólvora e munição, tecidos e mantimentos. De logo o que requisitava – deixou claro. Todos os colaboradores receberiam, parte em dinheiro, parte em bônus da futura administração do país, que seriam resgatados, com juros, após a instalação do governo vitorioso, antes mesmo da realização das eleições gerais, depois de implantado o voto universal para homens e mulheres. Esperava a compreensão cívica dos cidadãos daquele lugar, a ser lembrado pela história que se fazia construir. Registrariam no diário o inesquecível acolhimento, e a cidade estaria presente na memória dos homens de bem que sonhavam pátria mais digna no futuro graças, inclusive, à hospitalidade, com registro na história oficial que se escrevia a partir daquela luta. Finalmente, que ficassem tranquilos. Se houvesse alguma dúvida, pudessem 36 perguntar. Apenas o convite para o recital e um jantar ao estado-maior da Coluna. No dia seguinte, portas do comércio abertas. Nem parecia domingo. Só para a freguesia chegada. Propriedades vistoriadas, e relacionadas pelo futuro governo, como cada um dos animais delas saídos. A carne abatida das rezes, carneiros e cabritos criteriosamente pesada antes de salgada. Nenhum medicamento e gaze ficou nas farmácias. Tecidos e cobertores escolhidos pela dimensão da utilidade, não da vaidade. Cada um recebeu, como anteriormente definido, o valor do vendido. Batizados realizados pelo Padre Antônio. Comunhão para os revolucionários. O sermão pedia por eles. Rezando para que a “tal” revolução vencesse, o mais depressa possível, os Coronéis Severiano e Josias Macário, os maiores colaboradores, segundo o próprio Comandante Prestes, bolsos repletos de bônus do futuro governo. O céu, de nuvens macias, contrasta com a dureza da terra rachada. Disputa com os lajedos o direito de traduzir a crueza do ambiente. Materializam ambos, na peculiaridade dos contrastes, a esperança e a realidade. Vez em quando o verde trazido pela chuva confunde-os. Transforma o pecador em deus. Naquele mundão vazio envolvem os mistérios todos da vida: quando vestem a serra fazem o homem reviver, quando escondem o horizonte elevam-no a Deus, instante em que percebe o infinito inalcançável na ponta dos dedos, em hora do ângelus. Beira a contemplação mística a postura do sertanejo nordestino a olhar o firmamento. Peculiar estesia. Concretiza a esperança de alimento, de água para mais tempo. Aprende, pela necessidade, a ler o espaço, a acompanhar o deslocamento do nuvear, o rumo da brisa, o voo das aves. Os fatos da natureza integram-se à existência, confunde o etéreo impalpável em concreta consubstanciação. O amanhecer pode refletir a esperança de chuva, conforme as cores que manifeste. O mais ou menos do avermelhado da aurora traduz reações como o alimentar, o matar a sede. Aquela 37 permanente convivência torna-o um estóico, impassível ante a dor e a adversidade, transforma-o num único ser. Panteísta nas atitudes, se integra à própria essência das coisas que vislumbra com o olhar perscrutivo na teimosia do dia a dia, que decodifica na sua construção empírica. Como a beleza, ou outro sentimento abstrato, a vida que o circunda não pode ser definida. Apenas sentida. Em dimensão próxima à incompreensão do que à volta, porque este o universo, limite de percepção e conhecimento. Sua razão, uma antítese platônica: carece de fugir do mundo real para encontrar aparências, já que a realidade é a mais cruel manifestação de que poderia dispor como espécie dotada de algum valor crítico. Bem e mal perdem a identidade particular, sobrevivida apenas no instante em que invoca um ou outro, trazendo-os ou afastando-os conforme a dependência do instante. Especula o modelo mecânico e o divino, fazendo uso no momento preciso em que cada interpretação se configure necessária. Extrapola, entretanto, a dimensão estética formal, extasiando o observador, objeto da própria observação, endógeno-exógeno, alfa-ômega do cosmos que cria através de sutil aprendizado, vivenciado na teimosia, dia a dia, mês a mês, ano a ano, amparado no empírico da repetida tragicidade. Vive para perder. Vitória o desafio de continuar perdendo ao tempo em que sobrevive. Assim, sublima o tempo, derrotando-o a cada dia de sobrevida, em surda vingança, quando a própria vítima não reconhecida em si mesmo. Herói se torna na dialética do nascer-morrer, síntese no sobreviver, que ali adquire foros de ressurreição diária. Não tem outra história para conhecer senão a de que dispõe: a sua história. O conceito de civilização esgota-se no grotão, no leito do córrego seco, cavando-o em busca de água. Limita-se na possibilidade de o mandacaru frutificar, na espera do amadurecimento do fruto, aí tornado alimento, percebido quando fulorou. Ética vincada ao dia-a-dia deste resistir, razão por que não fere o semelhante para tirar-lhe o pouco que lhe falte. Antes, até, divide com ele o quase nada que dispõe. Compreende a existência observando-a de fora para dentro, buscando o interior, o âmago, razão por que da incompreensão de tanta angústia, sacrifício, do qual não escapa, apesar de não ser o criador. Nunca fecha totalmente a porta, no entanto. Deixa sempre uma fresta para que a esperança material possa um dia entrar, e não se negue a fazê-lo sob a alegação de que não encontrara a chance. Confia, mesmo apanhando diariamente, numa eternidade de vida. A assertiva esotérica ou alquímica de que tudo que está em cima está embaixo e vice-versa, vivida sem nunca ter ouvido de quem quer que seja sobre tais mistérios, tidos para iniciados. Chega-lhe através das superstições, das adivinhações, das simpatias, das reverências, das incelenças, das rezas para tudo. E assim a terra rachada torna-se nuvens macias, brancas, caminhando devagar no espaço, alternando-se em bois, carneiros, corredeiras, semblantes vários, produzindo um conjunto de fartura que o leva a sorrir ainda quando o sol inclemente caustica a pele tostada. Miragem divisada, repetida como consolo. Então descobre-se caminhando sobre as nuvens, permitindo-lhe olhar do alto a terra em mosaico, rachada, agora embaixo. Esperança renovada. A cada dia. E tudo, nesse instante, paisagem confundida, traduz rumores de imenso campo no qual restam apenas um ramalhar de árvores frutíferas, agitadas pela brisa querubina, embalada ao som de harpas, tendo ao fundo suave ronronar de corredeiras que rolam águas de entre grotões cobertos de arco-íris. Onde não mais nem céu, nem algodões, nem a dureza da terra rachada. Ao fundo, a melopeia monótona e plangente de um aboio que dá o ritmo à vida naqueles fins de mundo. Às vezes a imagem de Dom Sebastião, ressuscitado de Alcacerquibir, norteia a permanência da esperança, trazida do inconsciente... das histórias ouvidas, não sabe quando, dos tempos imemoriais. O rei menino, por ter sido rei e menino, nunca morreu. E se faz naquelas paragens através de qualquer manifestação carnal contra o status quo: jagunço, cangaceiro, beato, político destemido, desde que envolto no traçado comum de gritar por melhores condições de vida. Essa, sempre contida no binômio alimento-água. 38 39 esde a passagem dos revoltosos o desencanto com o lugar. Estiagens mais longas. Mais uma vez, além da chuva de cambueiro, faltara a de “todos os santos”. Permanente carão na vida do sertanejo. Recorria com mais frequência ao Coronel Josias Macário nos empréstimos para comida. Muitas vezes nem mesmo dinheiro. Apenas quatro, cinco pratos de crueira a moeda do mútuo. A alimentação da família. Complementada com pimenta. Ou um ovo de galinha, cozido, esmigalhado em farofa, dele rarefeita, licuris para disfarçar. Depois de algum tempo de relação negocial, percebeu que parecia de olho em coisa sua. Deu de andar mais pros lados da terrinha, como fizera com a dos outros, quando quis delas se apossar, sabia. Chegava faceiro, como não quer nada, puxava prosa. Relanceava a vista para dentro da tapera, amiudando os olhos, enxergando longe. O que buscava? – pensou Tião. Não sabia. Tampouco presumia. O desgraçado metrava a casinhola, imaginando-a de seu, com o pedacinho de terra, quando não mais pudesse pagar os pratos de farinha tomados? – não sossegou consigo mesmo. Não podia ser... sempre não cumpria no prazo? Não, o condenado não tomaria aquelas terras como o fizera de outros como ele – afirmou convicto. Não entendia. Mas começou a botar tenência nas visitas. Zefa também desconfiando. E a suspeita aumentou quando do acerto, depois de retornado da Marujada de São Benedito, em Jacobina. Lá na casa dele, em Bonsucesso. Não tão ríspido, como nas vezes anteriores. Já três anos naquele puxa-encolhe de tomar e pagar, não imaginava novidades como aquela: agrados do Coronel. Até que não se conteve. Pediu licença a Tião para visitar a casa com regularidade como pretendente à Maria Antônia, a filha de quinze anos. A proposta quase o levou ao chão. Mesmo informando-o ser muito nova para assumir compromissos fincou pé. Passou as mãos pela cabeça do filho, que o acompanhara na viagem. Ainda mais essa! Zefa estranhou o amor perdido, e começou a matutar sobre o que se passava com o libertino. A fama corria até a Bahia das coisas que fazia com as mocinhas das redondezas, jogadas depois na rua da amargura. De corar nos tempos de casa-grande e senzala, quando muita coisa tolerada pelas circunstâncias. Respeito nunca teve por nenhuma, que o dissessem as desonradas a troco de um mísero prato de farinha para alimentar pai, mãe, irmãos menores. Vivendo agora em casas de tolerância. Por que, de repente, com Maria Antônia, menina quieta nos afazeres, caseira? – alguma coisa queria aquele istrupiço. “Sai mandu, praga rúin, laia de serpente” – bodejava consigo mesma, enquanto fazia o sinal da cruz. Não disse nada a Tião. Procurou a filha, contou-lhe o ocorrido. A menina estremeceu, pedindo pelo amor de Deus que a mãe não deixasse aquilo acontecer, e revelou-lhe o nojo que nutria pelo Coronel, desde o dia em que a encontrou buscando água no Caldeirão Grande encostado ao umbuzeiro de Eleuté- 40 41 Tudo, no entanto, parece contrastar com uma permanente tentação de abandonar o sertão. Uma constante. Como a resistência em permanecer, combater, enfrentar. Olhando para o céu, decifrando o imponderável. O mar, mistério maior para os que chegam a conhecê-lo. Centro de lendas para o distante sertão sertanejo, ressequido. “O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão” – a profecia inexplicada oriunda da Canudos mítica, como a imagem do fundador. Interpretada nas noites de lua e prosa, misturada aos contados de valentia em época de lobisomem e boitatá, sob fundo de viola. O oceano atrai o bronco, não pela majestade física, mas por existir em essência: água. Em quantidade impossível de ser gasta. Extasia-o. Certamente o sal o repelirá, trazendo-o à reflexão, de que “Deus dá tudo no limite do merecimento”. E a vontade de fugir reforça o caráter atávico de permanecer, repetindo, em cada geração, a vocação de sofrer à espera de dias melhores. Olhando para o alto, decifrando nuvens... Ampliando o alfabeto. Se do espanto nasce a filosofia, como via Hegel a origem fenomênica do resultado do questionamento grego, o sertanejo cristaliza o próprio espanto, aristotélico porém, ato e potência, explodindo a origem de tudo que o cerca. D rio: conversa mole, saltou da mula queimada, perguntando pela família, e ela sem desconfiar. Até quando disse que era bonita e que, muito bondoso, tava ajudando a família a comer, que merecia gesto de apreço. Ao se aproximar mais, se sentindo imprensada entre ele e a árvore, o miserável agarrou-a pelo braço. Apesar da recusa e do pedido para que a deixasse em paz, passou-lhe a mão por entre as pernas, arrastando a barra do vestido para cima, não respeitando nem os nomes de Deus e de Nossa Senhora que fizera pronunciar, na conclusão do pedido. Tentou escapar, mas não deu como. Rasgou a calcinha, ao tempo em que tentava beijá-la. Abaixou uma alça do vestido, fazendo-o ainda mais descer, para trazer às mãos um seio enrijecido, sobre o qual babou sôfrego. Abafada, sem ar, não conseguia respirar. Perdia a noção das coisas. Desesperada, percebeu a nova investida da mão direita dele nas coxas, forçando-as a abrirem-se. Conseguia, no desespero, trancá-las em torquês. Ele lambendo os dois seios, trazido o outro como o primeiro. Tomado de ânsia incontida, passeava o colo com língua e dentes. Agora, num arrefecimento de seu esforço, a mão penetrava no sexo, arrancando pelos, dolorindo. Perdia as forças da resistência. O pavor aumentava. Esmorecia. Moral e fisicamente. Estava a ponto de esquecer-se, não resistir, não tinha mais como suportar, “que Deus tivesse pena”. Perdeu a noção do tempo. Os instantes pareciam horas. O corpanzil jogou-a no chão, ofegante. Vestido afastado para cima. O que restava da última vestimenta íntima acabada de rasgar, coxas afastadas. Já se debruçara o desgraçado sobre ela, mãos afobadas, uma prendendo-a ao chão à altura dos ombros, outra abrindo a braguilha, trazendo para fora “a porcaria”. Sentiu, desesperada, que o maldito se encaminhava para penetrá-la, grunhindo como um porco, depois de haver lambuzado a perseguida com cuspe. Aproveitara-se do fato de haver soltado o ombro para tentar desvencilhar-se. Jogou as pernas para cima, e voltou a firmar os pés no chão, impulsionando o agressor para fora com a força dos quadris elevados da terra endurecida. O Coronel cambaleou, o corpo lançado para trás. Maria Antônia levantava-se, incontinente, buscando a fuga. Recuou, no entanto, diante da ameaça do miserável em espancá-la. No breve instante do recuo, jogou-se sobre ela, rolaram pelo chão. Quase a violou na primeira investida, assim que conseguiu imobilizá-la novamente, uma das coxas arqueada, jogada para o tronco, em seguida para o lado, que deixou à mercê do malfazejo toda a intimidade. Porém o aboio do pai, ali perto, tangendo a criação, fê-lo sair às pressas. Enquanto o instrumento do tinhoso descambava pela caatinga, saíra em desespero à procura da casa, arrumando as roupas, o sexo dolorido. Não, preferia morrer, a ver-se noivando com aquele imoral, coisa ruim, condenado, miséria de gente, mundiça. Zefa nada contou a Tião, temendo a reação do marido. Mas o convenceu a negar a mão da menina. No domingo, quando Coronel Josias Macário apareceu em busca da resposta, mais enfeitado que madrinha de tropa, envolvido em banho de “meia-hora”, já se imaginando com direito a passear com Maria Antônia, Tião foi direto no assunto, dizendo-lhe que não podia deixar de escutar Zefa, que achava ser a menina muito nova. “Nem mulher ainda...” – mentiu. O tabacudo não insistiu – “desculpa mais esfarrapada!” Saiu, acabrunhado, sentindo-se desmoralizado por aqueles pés-rapados, afirmando que aquilo não ficaria assim. Podia agora compreender porque nem um cafezinho os pistiados lhe ofereceram, após mal indicarem o banco tosco de três pernas para sentar-se, depois de uma eternidade. – Nova uma pinoia! – expressou indignado, pisando o chão como a penetrá-lo. Não demoraram duas semanas, presença dos cabras do Coronel, cinturas realçadas, para acertar os últimos pratos de farinha. Não adiantou explicar que o prazo não vencera. Aguardassem a colheita da mandioca, daqui a três meses. Deram tempo de não mais que vinte e quatro horas para arranjar o dinheiro, ou vender a terra para pagar o débito. Voltearam a casa, conferindo nada. Com um pau de lenha quebraram uma das talhas. Resto de água esvaindo pelo chão, como se esvairia o último gesto de 42 43 resistência. Dois dias depois deixavam a roça – agora propriedade de Josias Macário, de papel passado – com destino a Monte Alegre. Tempo até demais para arrumarem os andrajos em três gamelas e tomarem o rumo da cidade, arrastando dois carneiros e um bode, a cabra Rajada, nas mãos um capão e quatro galinhas presas pelos pés, dúzia e meia de ovos para venda pelo caminho. Boto acompanhava o séquito retirante, sempre rondando a beira da estrada, espantando calangos, quando conseguiam escapar-lhe da oportunidade de saciar a fome, fazendo cabriola aqui e ali, indiferente ao drama. Sobre o lombo de Magriço duas malas de madeira, e algumas trouxas em dois caçuás com o que lhes restara, a caçula escanchada na cangalha. A vaca araçá passou como retrato em sua frente, no preciso instante em que a viu morrer de fome e sede, aos poucos, não fazia muito tempo, numa das estiagens, junto à cacimba rachada em mosaico; a fonte do leitinho ia-se, deixando-o e às irmãs ao relento do mingau de café para o desjejum. Não veria brotarem do esturricado os cágados lançados no buraco escavado com o mijar jabota, vencendo a inclemência do chão na indolente preparação da descendência. A lembrança desanuviou-se no salto em que Boto merendou a lagartixa preta saída de um tronco apodrecido. Encontrando o carro de boi do velho Agnelo encurupitou-se até perto de Monte Alegre, empevitado no cambão, mãos postas sobre um boi e outro. Entre morrer e fugir, Tião preferiu a segunda hipótese. Desse modo o Coronel Josias Macário ampliava domínios em Bonsucesso e Aroeira. A compreensão infante não alcançava como acontecia. Seguia a família sem saber para onde. Lembrou de tudo que viu e viveu. Na saída um olhar distante o fizera correr para o umbuzeiro. Despedir-se da irmã que se tornara anjo. Levantou a vista para o céu azul sem nuvens, como a vê-la para despedida. Acenou-lhe do alto, agradecida pela lembrança, de entre as almofadas de algodão do paraíso, antes que a luminosidade fizesse fechar os olhinhos e os desviasse do alto, retomando a realidade do cotidiano imediato. De Monte Alegre, depois de dois pernoites ao lado da igrejinha do Bonfim, e de venderem os carneiros, o bode e a cabra Rajada a Pedro Lima “da Jabuticaba”, dono de olaria ali perto, buscaram a estrada de ferro, em Piritiba, cortando Mundo Novo pelos lados do Angico. Na bagagem duas latas com farofa do que foram o capão e as duas galinhas, as outras vendidas a “seu” Macilon para ampliar recursos. Seguiram para a Bahia, após negociarem Magriço para comprar os bilhetes. O jumento pareceu humanizar-se, quando tirado para o novo dono. Correu-lhe lágrima, vista pelo menino, que chorou junto, a ele abraçado, na despedida do amigo. Dia seguinte desciam na Calçada, estupefatos com a cidade grande, com o mar. Sem saberem o que fazer. Arrancharam-se na estação. No outro dia, abordados por funcionário do Governo que os encaminhou ao porto para embarque no vapor “Itacaré” que se dirigia a Ilhéus, no Sul da Bahia. Dádiva do céu a oferta de transporte com destino à região desconhecida, mas de muito futuro, como dissera “seu” Libório, “onde não faltava comida nem trabalho”. Para todo o mundo sempre havia um pedacinho de chão. A família de Tião, envolvida na esperança de um futuro melhor, começava a esquecer Monte Alegre, Coronel Josias Macário, estiagens. – Sai, alma sarapantosa – disse para consigo mesmo Zefa. Espantando o passado. Que começava a deixar para trás. Sem nada para herança, como incerto o futuro. A viagem ficou marcada mais pelos enjoos do que pela novidade que em si representava. Entremeados com a lembrança de Boto espavorido com o apito do trem lá em Piritiba, sumindo antes de posto na gaiola dos bichos. A perda do amigo, parceiro das caçadas, ainda mais angustiava o balançar do vapor. Muitos como eles buscavam o eldorado, carregando análoga esperança. Não soube, tampouco perguntou, se alguém ali pelas mesmas circunstâncias. O sufoco na idêntica procura tornava-os solidários: dividiam a pouca farinha e rapadura, partilhavam esperança igual. Nas conversas ouviu de um mulato forte, que se dizia de Almas, “perto de onde nascera Lucas da Feira”, como fazia questão de frisar, sobre a certeza afirmada por “seu” Libório lá na Bahia de 44 45 que para onde iam não faltava comida nem trabalho: – Ié, já uví falá muinto de tudo isso, mininu... – e após um certo tempo: cumida pode inté fartá, mai trabai é difíci iscassiá. E com entonação que refletia mistério, fala arrastada para fazer-se mais entendido: – Lá num farta trabai memo... prumode quanu num na inxada, iá na ripitição – e olhou-o profético, estremecendo-o. Coube-lhe – sentiu-se na obrigação de fazê-lo – construir uma profissão de fé: – Pode ser, moço... mas nunca vou matar vivente de duas pernas. Nem que seja pra comer. Sentiu Boto, cochilando ao lado, parecendo compreender o conversado, abrindo um olho de censura, e continuar a modorna, revolvendo o esparramo da estação em Piritiba. Estremeceu. O alarido da primeira classe desviou os pensamentos, tangendo a imaginação pelos caminhos do fausto que a gente engomada envergava, observada quando do embarque. erdinando ria da piada contada por Juca de Zeca, amigo dos tempos de escola da professora Vane. Ainda com a cabeça para trás, gozando a anedota, virou-se ao ouvir seu nome. Recebeu o primeiro tiro, quando voltado para o balcão, de lado para o estranho que entrara há pouco mais de um minuto. A bala atingiu-lhe a fronte e fê-lo saltar gritando “ai, meu Deus, o que fiz...?” Não entendia o que ocorria, e não teve tempo para dizer ou pensar mais nada. O segundo e terceiro de Carlão, auxiliados pelos de Faustino – chapéu calado sobre os olhos – dirigidos ao tórax. Os que estavam em volta protegiam-se, buscando saídas, embaixo de mesas e balcão, atrás de rolos de corda, nas costas uns dos outros. Cambaleou e dançou a cada novo projétil que o empurrava para a porta, como a fugir do inexorável, na coreografia bissexta construída nos últimos instantes de vida. As armas pistoleiras esvaziavam-se em serviço profissional. Só encontrou forças para cair junto ao meio-fio, vivendo o final. Quase despencara o metro e setenta sobre a mirrada D. Estela, que sofreu um cangolé diante do impacto da cena que a atropelava, esparramando as compras recém-feitas no empório de Sabino. Solano apenas colocou para fora a cabeça de onde se encontrava. Assim que o Chevete passara pela segunda vez, ainda cruzando com Crispim dentro do recinto, deixou o Armazém de Arlindo, atravessou a rua, entrou na venda de João, que apenas serviu de trajeto, saindo imediatamente pela porta que dava acesso à Getúlio Vargas, dirigindo-se ao posto telefônico. Duas horas antes se encaminhara à Delegacia e tornara a denunciar a perseguição que sofria. Exigia providências. Afinal, na semana passada seu Maverick, mesmo envenenado, fora perseguido pelo Chevete a dez quilômetros da cidade, e apresentava disparos de arma de fogo. Corria perigo. E agora, quando se dirigia para a cidade, avistara-os, tomando o rumo de Itati. O Delegado, sem viatura, buscou a Prefeitura para conseguir veículo para a diligência, iniciada logo depois, envolvendo todo o destacamento. Chevete sem placas, que circulou pela cidade, parando no hotel Paris, onde pernoitavam passageiro e motorista. O plano funcionara perfeito. Solano pôde perceber os estertores de Ferdinando, enquanto os matadores disparavam pela Ruy Barbosa. O povo que se ajuntou com o tiroteio sabia da perseguição alardeada. O assunto da semana. Parecia – diziam os “informados” – ser uma “questã” de terra envolvendo interesses do tio de Solano, que o queria eliminado. Os pistoleiros, afirmavam alguns, buscavam-no, e se enganaram de vítima, atirando em outro pensando que o faziam nele. Sim, só podia ser isso. Ferdinando nunca teria inimigos. Fora lamentável engano. Matutou depois de o Chevete deixá-lo perto da matinha, oito quilômetros de onde fizera o defunto, confirmado que ninguém os perseguia. Os companheiros seguiam para destino ignorado. Como de outras vezes, não seria reconhecido. Molhou o rosto com a água fria do córrego, brotado perto, para facilitar a retirada da “dissimulação”, amolecendo a goma de araruta que colava os fios à pele. Não precisaria procurar o Coronel. Já recebera a empreitada. A frieza substituída por certa tristeza. Aquele menino pagava por coisas que não fizera, pelo menos aparentava. A discussão não lhe parecia motivo suficiente para que finasse a existência. No entanto, filho de Zé Cordeiro, como filho o de Belarmino, que se fora. E a 46 47 F história daquelas bandas ainda vivia o olho-por-olho-dente-por-dente para alguns. Mas o que estava a pensar? Já fizera o serviço. Não a primeira vez. Agora competia comprar umas coisinhas pra casa, pagar continhas aviadas em bodegas que lhe forneciam o pó de café, açúcar, costelas de porco salgadas para dar gosto ao feijão. Tinha que cuidar da família. Complementando a renda pouca com um servicinho, vez em quando. L embrava-se da infância em Monte Alegre, dificuldades da família, dinheiro pouco. Dos casos contados: Coluna, cossacos, Lampião – cabeças de parte do bando morto ali perto, entrando pelas mãos da volante, levantadas dos sacos na Rua da Baixa – procissão dos Passos, promessas peregrinas ao Monte da Santa Cruz. Do avô Pêdo, guardando nicas durante o ano para distribuí-las aos esmolés no trajeto da devoção, ziguezagueando para atender as margens da légua de acesso ao centro de peregrinação; uma para cada um, não faltava para ninguém. As que sobravam, deixadas na caixa dos pobres da matriz. Ele e as irmãs cuidados e alimentados no carinho da mãe, e no dengo dos avós maternos, os que conheciam. Os paternos moravam distante, mundão do Gavião, nas terras dos Leitões. Ali, recordava, conhecera a realidade das estiagens, aprendeu a valorizar cada gota d’água, grão de arroz, de feijão, de milho, bocado de farinha. “Quem tudo come, tudo caga”, filosofava um tio avô desbocado, Dativo, gargalhando das digressões em sua tenda de seleiro. Mas a verdade do dito, passado à mulher, forma de aprofundar a economia que precisavam fazer, o marcaria, tantos anos depois. Ela entendia. E cumpria. Quando havia dinheiro, alguma reserva se fazia. Recordava o tempo de criança. A seca. Dinheiro pouca serventia... Faltava o que comprar. Frutos-de-palma no desjejum. Uma festa levantar cedo, e com as irmãs, seguros pela mão, guiados pelo pai, dirigirem-se aos fundos da usina de força para derrubar frutos, espetá-los com garfos, retirar-lhes os espinhos 48 florados com a faca, como se raspassem maxixe, cortá-los e saborearem a polpa caroçada com gostinho insosso ligeiramente adocicado. Se não houvesse o manjar, voltariam ao mingau de café, em colheradas ávidas de quem somente tem aquilo para matar a fome. Ao meio-dia, feijão e maxixe. A carne, sempre com osso; caldo ajudando a aumentar o consumo de farinha. Vez em quando a raridade se manifestava sentida, recusada pelos filhos, sensíveis no olfato. Farra se havia laranjada. A mãe espremia com as mãos a d’água quase murcha, como o eram as encontradas naquelas bandas. Punha água suficiente a torná-la suco para quatro copos, número dos filhos à época da recordação. Sobrava o bagaço, que comia sôfrega, enquanto os meninos aguardavam o motivo do regozijo. Coisa rara. Houve dias em que só farinha misturada à pimenta e a um ovo estalado, transformados em farofa, na quantidade suficiente para todos. À noite, café com leite e pão, geralmente seco. Se havia manteiga (feita dos restos da nata do leite fervido), passada somente em um dos lados, feito juntar ao outro para melhor distribuir o bissexto conteúdo. Comum o molhado no café preto. Lúdico acompanhar o branco tomando ares de marrom. Depois a picula, esgotar-se fisicamente até que chamado para dormir. Pensando nos frutos de palma que vira amadurecendo, esperança de desjejum amanhã. Se não chegassem outros antes deles. Ir ao casarão dos avós constituía oportunidade para comer e brincar. Folhear as figuras dos almanaques do Biotônico e do Capivarol. Encantar-se com os vitrais coloridos das janelas. Dispensar o colo do avô e a cantiguinha que dele ouvia, “dos tempos” de Santana do Camisão, originada nos terreiros de batalhão na “bata do feijão” ou na “buia do milho”, conforme o caso: Marruá urrô no pé da ladeira no pé da ladeira marruá urrô 49 Adeus feijão se Deus quisé inté para o ano quanu Deus nos dé tela um lençol branco. A fome sempre espantalho. Afastado com a dignidade da economia conduzida pela mãe. As bananas-d’água, vendidas pela negra Fausta, uma esperança de mudança no cardápio. Quando longe ainda na rua, ouvia-lhe a cantilena arrastada, inconfundível: – Bananá... Ói a bananá. Deztões a dúza... Bananá... Corria à porta, confirmava o que sabia certo, voltava e avisava a mãe. Se não havia dinheiro a negra fiava até a semana seguinte. Com elas o doce – se possível “desperdiçar” açúcar – e assada, saboreada sofregamente à noite, amassada, e salpicada de canela. Chegou a imaginar a possibilidade de carregar o cavalete do homem do quebra-queixo, ou, quem sabe, ajudar “seu” Hermínio, do tabuleiro de lelê e cuscuz com coco ralado, que toda manhã batia à porta, antes do café matinal. Podia receber um pedaço, levar pra casa, fazer-se importante. Ou – quem sabe? – auxiliar “seu” Meira, das pamonhas. Os projetos sucumbiram na determinação materna de que não carecia daquilo, “tinha gente mais precisada”. – Pobres, sim, mas nem tanto. Tempo especial o das chuvas. Juntava-se à meninada, correndo atrás das nuvens de formigas aladas. Enfiar-lhes um palito ou espinho “na bunda”, deixando-as voejar, no bater de asas em busca da liberdade. Alimento nobre, a fritada na gordura. Festa ansiada. Pelas tanajuras espetadas, pela fritada. Caçada apoiada na cantoria em alarido. Dolente o canto, quase o fazia dormir. Mas, que cantiga, que nada; queria naquele paraíso os presentes da avó, nunca faltados. (Depois a descobriria, hipocondríaca, viciada em “Pílulas de Vida do Doutor Ross” e “Leite de Magnésia de Phillips”, para combater a prisão-de-ventre que dizia afligi-la diariamente – um volvo, achava). Desde doce de marmelo na palha, de leite com rapadura, ofertados com a alegria “de botar o menino a perder”, como reclamava a mãe, até goiabas verdes, a brilhantina e os tomates cagador, que davam dor de barriga se consumidos em excesso. Desvendar o quintal grande, de hortelã graúda, veludo – de vermelho forte – mimo-do-céu e bambu emaranhando muro acima (cobrindo os cacos de vidro que protegiam a casa dos malfazejos), de cisternas (ladeadas pela infieira de talhas), de pinhas, sentina no fundo. Os murundus, crótons e fetos tornavam-se montanhas e florestas para esconder as caravanas dos seriados de Nyoka e Tom Mix, vistos na matinée do cinema de tio Sérgio. Os cágados, alguns centenários, aceitavam, indolentes, a montaria na aventura. Os gatos corriam parede acima quando chegava, conscientes da necessidade de fugir a tornarem-se tigres e onças. Até porque se o arranhassem receberiam a chinelada da guardiã da liberdade de dispor, usar e abusar daquele território. O oitão imensamente alto, corredor comprido, terreiro de piculas. A marquesa grande na cozinha, onde sentava para merendar. Perto dali as brevidades, feitas por Maria Beata – a mestra das bonecas e bichos de pano – presenteadas pela avó Hormezinda e consumidas com o café com leite. Em tempos de Semana Santa, debruçava-se no batente da janela para espiar os passantes em busca do Monte da Santa Cruz. Aos domingos o cineminha do tio, quase em frente, ocupando as cadeiras arrumadas no salão de bailes da Sociedade Lítero Recreativa 7 de Setembro. Por Natal. Marcava-o a tristeza, fazia ponto a decepção. Ele e as irmãs. Chinelos embaixo das camas, esperança de o velhinho deixar o pedido: carros, bonecas grandes. Manhã seguinte nada. Em volta a algazarra, o júbilo alheio. Eles pendurados na janela, olhos de 50 51 “Cai, cai tanajura na panela de gordura” inveja infantil, inocente, sem pecado. De quem não compreendia. Não tinham escrito o bilhete, relatando o comportamento durante o ano... rezado o pai-nosso e a ave-maria antes de dormir, todos os dias... respeitado os mais velhos... ouvido o catecismo? Haviam deixado de pedir ao anjo da guarda por papai, mamãe, vovô, vovó, titio, cada um dos irmãos? Talvez a curiosidade frustrara a entrada do presenteador. Afinal, insistira em ficar acordado até meia-noite para vê-lo chegar, contando as badaladas do relógio, na hora, meia-hora e quarto!... Para agradecer pessoalmente. Certamente isso. Adormecera muito antes... Mas, curiosidade e desobediência davam nisso, sabia, tanto alertado. Afinal, Deus lê os pensamentos! A mente atropela justificativas, olhos perdidos no embaçamento da vista que nubla na alegria das vizinhas. Chorar no fundo do quintal, atrás da cisterna, solução. Ou desviar a tristeza com o mané-gostoso, piruetando desengonçado sob o agito das mãos pressionando ritmadamente as varetas que o sustentam. Melhor do que esperar que perguntassem o que ganhou e não ter o que dizer. Ia cuidar da fazenda de bois-de-osso, sim, muito melhor. Até que o tempo passasse, suficiente para a vizinhança gastar a festa dos brinquedos recebidos. Voltar à normalidade, acostumando o sonho para o ano seguinte. Sem o perceber, a terra começou a constituir-se num centro de indagações. Como o país para os que por ali passaram, em tempos não tão distantes, quando chorara a primeira vez, tendo-a também como centro de mensagem da mudança. Tudo depois de haver visitado, a passeio, a pequena Jabuticaba, a rocinha do avô Pedro, entranhada às margens da estradinha que passava em frente do Bonfim. Mamona estalando no pé, caindo no terreiro, como a fugir do calor sufocante, para saltitar no chão esturricado em busca da água que não existia. Gado magérrimo, igual à sua boiada, só que ainda andando. Explicação nenhuma para o que acontecia. Seu questionamento, sem resposta do avô, não o encontrava ainda no amadurecimento que a realidade exigia, que o fizesse compreender as razões de tudo aquilo existir. Mas, despertava a mente para as coisas que, ainda sem o saber, o ator52 mentariam no futuro e o fariam viver a indignação como motivo de luta. Principalmente depois daquele dia, da cena estranha. Por que todos dela não participavam? Nunca compreendeu o que testemunhara, perdido no tempo, quando correu à janela para descobrir a razão do alarido. Um homem, cabisbaixo, coberto com um couro lanzudo, acompanhado pela multidão, conduzido à cadeia. A prova do delito, a pele do ovino. Abatera de Coronel Josias Macário um carneiro para matar a fome da mulher e dos filhos, após negado um prato de comida – a conversa ouvida. Pagaria, na palmatória, à noite, o crime de matar a fome dos seus, em época de escassez de trabalho. Os gritos na noite ecoaram sempre em suas indagações, nunca respondidas pela sociedade dos josias macários, que castigava os que nada possuíam porque uns poucos tudo detinham. O velho relógio de parede repetia em moto perpétuo o toc-toc, toc-toc dos segundos, somente interrompido a cada meia hora. Dormira, cansado após as piculas. Acordara em meio a pesadelo: ponte imensa, de ferro e madeira, se tornava passadiço, corda se rompendo, como aventura de cinema. Mexia-se para não cair. O inimigo perseguia de perto. Sentia a dor das lanças, no ventre. Em vários pontos. Escapava. A passagem balançava. Canibais ameaçavam comê-lo, dentes afiados dilacerando a barriga. Gritava por socorro. A voz não soava. Se saía, ninguém a ouvia. Os antropófagos fugiam de alguma coisa – Graças a Deus! No entanto não o sossego que precisava. O motivo da fuga se voltava contra ele. Animais ferozes. Tentava subir na árvore. Caía. Garras afiadas penetravam o abdômen. Ursos, preguiças, onças enormes, pretas, pintadas. Fugia desatinado. Olhava para trás. Nenhum animal. Alívio. Sentava-se a descansar. Não havia tempo. De novo as feras, monstruosas no tamanho. Garras de todos, juntos, mais dilaceravam. Sempre no abdome. De dentro para fora, vulcânicas. Comera demais naquele dia. No casarão dos avós. Reação à 53 escassez de casa. Misturara todas: verdes, maduras, de vez. Araçás e pinhas. Gulodice. Não deixara um só cagador no pé. Quando não suportava o engolido vomitava para reiniciar a comilança. A barriga doía, e ronronava anunciando o que viria. Mudava de posição. Nada. De um lado para outro. O nada ainda mais profundo. O mundo de dor aliada ao toc-toc do relógio. Um suplício. Chinês. A dor aumentava. E a escola de manhã, como iria daquele jeito? Lembrou-se do bacio, em baixo da cama. Sentou-se no grabato, os pés para fora, apoiando-os numa borda do papelão que servia de lastro para o urinol. Tentou evitar, mas não houve jeito. Levantou-se. Em seguida abaixou-se, sonolento, e puxou o papelão, que trouxe o vaso. Sentou. Entre gemidos descarregou o comido. Enchendo o bispote. Aliviando a dor. Espantando animais – agora mortos e putrefatos – pontes frágeis, canibais, lanças e garras. Como fundo o toc-toc... Recordou a velha Abigail, e sua voz que lembrava, ao falar, o som de água escorrendo pelo ralo, onomatopeia ambulante. Lembrança não da voz esfanhada, desbragada, antipática. Lá no fundo da usina, caminhando à procura de frutos de palma viu calango esbaforido correr de entre as ramagens. Ao procurar a razão do esbaforimento do teídeo encontrou-a, saia levantada, de cócoras, gemendo pra se desfazer de uma caganeira. Acordou mais cedo. Despejou a louça na sentina e nada disse à mãe do que sofrera à noite. Medo da repreensão pelo exagero. Temor, inclusive, de tratamento à base de óleo de ricino, castigo maior do que as dores. E como justificar, se o pretendesse, não ir à escola? Cabia-lhe estudar. Estudava, pois. Único futuro que reservava a família, diziam-lhe pai e mãe. Não outra a razão de sentir-se, às vezes, dominado por sonhos de olhos abertos, descobrindo-se líder mundial como o foram crianças como ele, nascidas sem bafejos materiais. Amanhã, doutor. Afinal, não houvera um presidente lenhador? – lera há pouco tempo. Mas, tinha que começar de baixo. Por outro lado, orgulho maior não podia haver, quando no final do ano, agraciado com a medalha de “honra ao mérito”, tornava-se alvo de todos os elogios, me- lhor aluno da turma, recebia abraços, olhares de inveja, e via-se superior aos colegas abastados, que não conseguiam ser como ele: menino inteligente, dos discursos nas festas cívicas, recitador e representante oficial da escola nas solenidades. Esquecia-se da humilhação de vê-los merendando farto, dividindo com os colegas, não por solidariedade, mas por abundância, enquanto se escondia num canto convivendo com o ronco do estômago vazio. Na luta entre eles fazia-se vencedor, estudando, tornando-se o melhor. Uma coisa dizia que se não fosse dessa forma nunca chegaria a lugar algum. Os bafejados tinham a riqueza. Construiria a própria. Primário, aos poucos, edificado. Calça azul-marinho, camisa e meia brancas, sapato preto. Não podia imaginar, no entanto, o por acontecer. Quando a manhã adiantada sentiu novamente a perseguição. A experiência anterior em nada o ajudava. Olhou para o relógio da parede. Quinze minutos para o recreio. Um alívio – pensou. Aguardaria, apenas quinze minutos. No entanto, enquanto as feras arranhavam-lhe o abdome, os quinze se passaram. A professora não liberou ninguém, decidira encerrar a aula mais cedo, sacrificando o intervalo. Sentiu-se desesperar. Não tinha o penico. E o salão que servia de sala de aula não dispunha de uma mísera cloaca. Quis utilizar-se da tabuinha da “licença”, sempre sobre a mesa da professora para controle das saídas. Reteve-se. Temia denunciar, como se fora crime, o que se passava. O exagero cometido. E aquilo não era sonho. As dores aprofundavam ainda mais a agonia. Dezesseis... dezessete minutos... O tempo contado daqui a pouco não em minutos, mas... em segundos, sim. Percebeu-se amarelecer, ou enverdecer. Arco-íris em sofrimento. Sentiu-se mal. A vista escureceu. Meia hora... uma hora... Onze da manhã. Não suportava mais. Iria jogar as feras ali mesmo. Não podia... Vergonha demais. Pediu licença. Para ir em casa, temendo negativa. Surpreendeu-se com a concessão. Não saiu depressa, como precisava. Não porque não o quisesse... Não podia. Os passos precisavam ser medidos. As pernas roçando uma na outra... com força. Duzentos metros. Caminhados palmo a palmo, contados de um a um como quilô- 54 55 metros. De vez em quando uma parada. Para a força, controle da dor. Que o levava ao desespero. A cada metro andado, mais lento o passo. O percurso feito em outros dias tão rapidamente parecia levá-lo agora ao fim do mundo, horizonte inatingível, fim de arco-íris. Avançava, como em campo de guerra, minado. Aos poucos. Escondendo-se nas paredes. Fugia dos inimigos. Como nas estórias que lia. Certamente qualquer que o visse naquela situação não entenderia os esgueirares. Contaria um dia tamanho sofrimento? Sobreviveria? Acostumou-se a aceitar a distância. A morte parecia avizinhar-se, a foice imensa quase a alcançá-lo. Tantos metros percorridos e os restantes inalcançáveis. Quase chegando à porta parou uma última vez. Lívido. Para num esforço último reter o que ameaçava expelir e poder prosseguir os últimos passos de suplício. Sentiu o mundo desabar em trovões e tempestades. Sobre um universo de carniça. Olhou para os lados. Não viu ninguém. Nenhuma testemunha, felizmente. Entrou em casa. Ensopado. Calça azul-marinho colada às pernas. Meias brancas manchadas, rajadas em marrom e amarelo. Inusitada aquarela em sapatos cheios. E um séquito pestilento, empestiando o ambiente. Feliz, no entanto. Sem dor. Sem mais precisar fazer força. ora empreitado por Belarmino, fazendeiro de Palestina, para vingar morte passada, por questões de terra em Itapuhy. Duzentos contos. Ganho de ano e meio de trabalho para convocar a véa da foice. Para apoio “gente de Itacaré do Almada”, como gostava de nominar o lugar onde dera de vir ao mundo, e veículo com “profissional do ramo”. O fazendeiro não esquecera a morte do filho, filho de criação, de vinte e três anos de idade. O que tomava conta das roças. Quando Zé Cordeiro adquiriu a gleba vizinha não imaginara que adviessem problemas. Começados quando aviventaram os rumos a pedido do outro. Os engenheiros encontraram diferença, justamente na área que lhe pertencia. Cinco tarefas. Onde já plantado cacau, safreiro. Comprara a terra de João Bigode. Não observou se a planta, o título de propriedade, os limites se encontravam em ordem. Olhara, gostara e fizera negócio. Nela a existência e a grande paixão. Nem mesmo quando se mudou para Palestina, para melhor instrução aos filhos, deixara-a de lado. Somente escasseou visitas quando o enteado tomara tino e ocupou o administrar. Menino bom. Não sangue de seu sangue, mas nenhum do casal merecia tanto a atenção. Até que a tragédia aconteceu. O juiz mandara a polícia garantir a ocupação das tarefas para Zé Cordeiro. O menino afobou-se, não aceitou a mudança da cerca, discutira e entrara em atrito corporal com um policial, puxara canivete. Atiraram nele. Finou dois dias depois, ardendo em febre e pedindo que não o deixasse morrer. No delírio falava da roça, plantava, projetava o futuro na família que iria ali constituir, para crescer junto com o cacau. Belarmino escutava, apenas. Até não mais poder ouvir, coração dilacerado empurrando-o para longe da beirada da cama do agonizante. Impotente, chorava pelos cantos para que ninguém visse. A agonia do menino, muito mais que as cinco tarefas perdidas, transformou a dor em compromisso de vingança. O filho do vizinho tinha a idade do seu. Tempo chegado. Até na era dos mortos. Esperara quinze anos. Não dormia sem lembrar do moribundo implorando para que não permitisse aquele sofrimento. E não houve médico que desse jeito. O dinheiro não o salvou. Não esquecera. Nunca falara com ninguém sobre o que preparava para o vizinho. Nem à mulher. Somente agora – transferindo para o matador o sofrido nesses anos, como a sublimar no gatilho pistoleiro a ação do próprio indicador – pensou. Não estava diante de um mandante, não havia profissionalismo nas palavras – observou. Ninguém antes o acertara de forma tão direta como aquele homem. E contando os motivos. Calou fundo o sentimento de Belarmino com a morte do filho. Verdade que não importavam os intuitos e sim o quanto lhe pagavam para ter uma razão contra até quem nunca vira, como lá em Itapuhy, quando só deparou com a vítima na hora que apontada, após a reza. Geralmente havia intermediário. Nunca sabia do verdadeiro interessado. Mas naquele caso o próprio chamava-o, acertava pessoalmente o serviço, e, como a desculpar-se, contava-lhe o escopo do mando, justificando-se, 56 57 F uando chegara, trabalho mesmo o foi para Coronel João Borborema, depois de uns tempos com o vizinho. Primeira atividade a justificar o nome. Mandado para as cabeceiras do Colônia. Abrir roça, derrubar mata, espantar camacã e pataxó, ocupar as taperas recém-adquiridas aos posseiros. Disputando com a febre a sobrevida na semana seguinte. Naquele lugar competia-se com onça esturrando no quintal. Fugindo da seca aportara em Ilhéus, em vapor custeado pelo governo, terceira classe, depois da estirada de trem até a Bahia, sobrevivendo aos enjoos, vômitos e diarreias, que os deixara mais pálidos e amarelecidos. Enfrentara os primeiros dias de espanto com o que encontrava. Casarões davam dimensão de presépio ao imaginário do chegante. O fausto do cacau, refletido naqueles palacetes. Mais que isso, entretanto, a chuva. A cidade tomada pelo dilúvio, que não parava nunca. Diferente do sertão caatingado. Duas semanas depois pegou a trouxa, despediu-se de todos, mãe em prantos (que percebia o primeiro momento da diáspora familiar), enfrentou os caminhos de Itabuna. Lá o sertão esturricado: aqui outro, o de mata. Não seria ali o paradeiro. O pai se arrumara alugado, pondo os costados a serviço do cais, carregando sacas de cacau para as alvarengas, trabalho duro e raro, dependente de navios ao largo. Aquelas terras tinham dono. E disputa. Esta a primeira decepção. Tomou a estrada, margeando o rio. Em alguns pontos, quase se confundindo nele; noutros, avistando-o mais de cima, imponente, correndo altaneiro, lavando as pedras oferecidas. Cumpria evitar a Sempre-Viva, antro de escravidão e morte – dissera “seu” Tertuliano na saída de Ilhéus, no Fundão. O que o ajudou a atravessar aquela coisa sobre o mundão de rio, tanta a tremedeira. “– Os home deru nome de ponte, feita ano passado” – afirmara-lhe o salvador. Cinco léguas adiante a promissão. Caminhou deslumbrado a margem esquerda. Indaga aqui, ali, ouve sobre trabalho. Coronel Firmino Alves, indicação de alguém. Não tinha ocupação, mas não se frustrasse. Encontraria. Andasse um pouco mais. Arrastou-se na azáfama da cidade, centro de movimento, de poder, de mando. Passou de Itabuna. Poucas horas permaneceu, o suficiente para esquadrinhar ruas e vielas, ao longo do marzão imenso. Transitou o Burundanga. Descobriu Ferradas e o Coronel daquela fazenda que distava légua dos dois arruados. Sede de sobrado, voltada para o rio. Procurou trabalho. Outra frustração. Mas, uma indicação para o vizinho. Alojaram-no, observando-o. Sucedera que, apesar das facilidades existentes, da fartura nunca vista, trabalho não encontrou como imaginara. O sonho de ganho farto e permanente na força dos próprios braços não se materializava. Fome não passava. Frutas, caça fácil e fértil, por si só, mostravam o outro lado do mundo, diferente daquele de onde viera. Entretanto, tinha um desejo: o de seu. E haveria de consegui-lo. Não importava como, tampouco os meios. Fim e compromisso: o sonhado chão. Talvez centrado numa vingança contra o Coronel Josias Macário: a de voltar a Monte Alegre um dia, que não seria distante, terno branco de linho inglês, bater na porta do verdugo, atendido pelo próprio, perguntar se o reconhecia, ouvir o não, então dizer ser filho do velho Tião, aquele expulso das próprias terras por ele, cobrando uns pratos de farinha e, para gáudio, diante da indiferença e impassividade do interlocutor, despejar-lhe a informação de que falava com “fazendeiro de sesmarias no Sul da Bahia, em terras de matas, cacau e gado”. E bem podia trazer a família para testemunhar o instante. No mais, o sonho. Como o da maioria dos que vieram na mesma leva retirante. Alugado, comumente a saída. Mas com ele nem isso. Aos poucos teve que se adaptar à realidade. Jagunço, o destino para a maioria. Ouvira pelo caminho e, ao 58 59 com jeito de quem fazia pedido – matutou. Depois de acordado, ouviu agradecimentos, desejos de boa sorte para a família e até mesmo colocou-se à disposição. E deu-lhe todo o acertado, coisa que nunca acontecera, já que geralmente pagavam uma metade ficando a outra para depois de provado o resultado, quando para o destinado preparavam o velório. Q chegar, de outros já moradores, como tudo acontecia, como a vida construía um “fazedô di difunto”. Pensou resistir. Mas, uma maneira de garantir trabalho. Um lugar comum dava conta de que somente os capazes de portar o pau-de-fogo detinham passaporte para atividade estável. Começou a repensar a promessa falada no navio, de que nunca mataria para comer. Agora não só comida. Também a terra, que não se achava de mão beijada, pudera confirmar. Muitos ali, inclusive, tornaram-se grandes guerreando por ela, tingindo-a e às águas de vermelho. Sim, um modo de garantir o trabalho. Por que não? Mais aliviado do que na roça. Bastava aprender a manejar o distinto. Certamente não o utilizariam, se se oferecesse para o mister. Os mais experientes, os requisitados, se houvesse necessidade. Ele, não. Nunca seria exigido. Os outros sim, antigos soldados nas conquistas não distantes, sobejamente avaliados. Quando muito, testado, quanto à possível qualificação exigida. Como alvos um jupará – macaco que falavam ser da região, e que ainda não dera de conhecer – um gavião. Urubu não, recusaria, dá azar. A necessidade falava pela realidade construída. Já ouvira dos coronéis, e como! E sabia o que os tornava coronéis... Não somente a patente da Guarda Nacional, sob a influência do dinheiro e da política no passado, ou, simplesmente, a autodenominação, ou, ainda, como na maioria dos casos, a outorga originada na subserviência dos que viviam à volta. Aqui não se matava como no Norte: pra vingar família, lavar a honra da mulher ou da filha, ou, como na história que ouvira sobre Lampião, quando sem jeito de voltar atrás se tornou refém da vontade dos donos de terras nordestinas, depois que mataram o pai desarmado junto da própria casa, como declamavam os que defendiam o cangaceiro e sua luta. Mas descobriu, na pele, o que não queria admitir. Contrariando a formação. Aqui se finava, na maioria das vezes, por finar, para experimentar a mira, para provar ao futuro contratante as qualidades que possuía. Apoio para garantir a terra, e o poder que dela emanava, absoluto. Com ele não fora diferente. Bisbilhotando o quarto das armas segurou repetição, mirando em coisa nenhuma. Um dia percebeu o caminho sem volta. Não podia esquecer o tremor com a ordem para mostrar qualidades. Lembrou-se apenas, num relance de eternidade, da profecia do mulato no vapor da Bahiana. Em resposta sobre a encomenda ouviu apenas “qualquer um”. Ficou atordoado. Como acabara de receber o dinheiro pelo acerto de um roçado, um caboclo forte, meia estatura, caminhava lento contando as cédulas, cuspindo saliva na ponta dos dedos. Ao perceber indecisão, com um olhar, o Coronel, com os lábios em movimento para frente, elevando um pouco o queixo, indicara-o, e o confirmara com um aceno de cabeça, movida para cima. Num segundo pela mente a morte da irmã, a história de Sinhá Inhana, as cenas de desterro, a viagem de trem, o aportamento em Ilhéus, o despedimento da família, a viagem até ali, a procura de trabalho. Tudo de trás pra frente, como se já estivesse ao pé do umbuzeiro, chorando a morte da irmãzinha. O medo do retorno fê-lo retesar os músculos, levado pelo instinto de sobrevivência, como náufrago disputando a mesma tábua que salvaria um com a morte do outro. A necessidade impunha a circunstância, o destino. Não pensava, não raciocinava. Agia movido por voz que dizia não haver escolha. Naquele fim de mundo não existia bem e mal, só o existir, empurrando-o para permanecer, ou voltar sozinho. Agora sem pai e mãe. Para enfrentar outros josias macários. Sentiu-se imensamente só, a cabeça esvaziando-se de valores, estômago ditando a consciência que ora construía, a ambição de tornar-se grande avizinhando-se. E, trêmulo, suando em bicas, levantara o papo-amarelo, várias vezes mais pesado que a velha espingarda de espoleta, presente do velho Tião, apontara e atirara, como a pedir que o disparo pisasse, não acertasse, desejo tornado último fortim de sua consciência ética. Ouviu o pulo do alvo. E a queda. Após o tiro que o atingiu nas costas. Com a vista embaçada, assustado, querendo demonstrar tranquilidade, encostou a arma na parede do alpendre, depois de perpassá-la com um olhar longo de profundo conhecedor da “arte”. Olhava-o, indiferente, por baixo das sobrancelhas, cabeça ligeiramente inclinada, lambendo a palha para fechar o cigarro de fumo, o Coronel, como 60 61 a verificar a “disposição” do testado. Teve tempo ainda de ver, enquanto retiravam o infeliz, que alguém lhe tirara as cédulas e os níqueis. E o choro de uma mulher e três crianças a ela grudadas, debruçadas sobre o corpo esvaindo a vida, querendo falar o que não mais podia, agarrando-se desesperado na companheira, buscando reencontrar a existência que finava. Quase não ouviu a ordem ao capataz para que o alojassem melhor. À mente, de bem distante, as histórias de tio Joaquim, das “gravatas vermelhas”, da matança sem motivo dos que atacaram Canudos. Acabara de matar um homem. Que nem conhecia. Sem qualquer razão. Ele que só finara passarinho. Ave maior, nambu. Passarinho, pra comer. E o homem? Caminhava matutando. Ouvindo o choro da mulher e filhos do infeliz. Esqueceria aquele olhar atravessado da viúva acabada de ser, buscando o autor do encaminhamento do marido para o além? Passou-se uma semana. Sem ordem de serviço. Também não soube do atirado. Se enterrado. Se jogado no rio. A família se fora, arrastando os andrajos permitidos e a ninhada de cinco crianças em escadinha, duas delas de colo. Os companheiros pouco conversavam. Fisionomia igual: fala pausada e arrastada, conversa miúda. A comida não faltava. Levada ao alojamento por uma negra velha e gorda, que os olhava com reprovação, sem dizer palavra. Bem arranchado, sem dúvida. Consciência ao léu. Não se acomodava, ruminando sem fazer nada. Vez em quando à mente vinha-lhe o olhar de desprezo da velha gorda. – Mente parada, oficina de Satanás – ouvira da mãe, espantando o calor causticante da caatinga, mão passando sobre o rosto para tirar o suor, colocando-o a trabalhar. Três semanas depois o capataz trouxe-lhe a recomendação de que procurasse o coronel vizinho. E que, sob suas ordens, seguisse para as cabeceiras do Colônia com a comitiva que formava. Passou-lhe uns réis, como pagamento dos dias trabalhados naquele não-fazer-nada. Recebeu as determinações do novo patrão. Seguir adiante. Para abrir roça. Se preciso empurrar camacãs, pataxós e onças mais para longe. Uma Winchester e munição, capa-colonial, chapéu de couro, um vinte embainhado, carne seca, farinha, feijão, pó de café, aguardente, querosene. Não esqueceu de levar a capanga com carne enterrada, coisa que aprendera a fazer, vendo o pai cortando miudinho restos de carne assada para jogá-los dentro da farinha. Pertence de seu somente o cangá, único vínculo que ainda o unia ao passado, à terra distante, à família da qual se desgarrara e nunca mais soubera. Devia acompanhar a tropa de mantimentos para os que desbravavam na cabeceira. Dois dos burros carregavam panacuns, com o que precisariam no dia. Para facilitar o manejo. Como companheiros: Zé Andrade, Mocó (cifótico acentuado, percebia-se, assim que tirava a camisa), Justino, Felisberto e Guaxinim. A tropa com dez burros. Comida, armas e munição carregados nos animais. Os homens a pé, rasgando a mata no facão, na foice, onde carecesse. Madrugada de outubro, rumo às cabeceiras. Breve rocio caiu quando puseram o pé na estrada, coisa sem importância, que não dava de impedir o andar. Observando-os, do sobrado, o Coronel. Sob as sobrancelhas. Pitando o cigarro de palha acabado de fazer, de fumo picado, cortado em capas jundiás, fumaça soltada aos poucos, devagar. Afastado uma dezena de metros, o vizinho que o acolhera primeiro. Do que poderia ser chamado de quintal, tão grande a extensão, pendurando roupa no arame sustentado em três estacas, a velha preta, no peso da gordura, fixava-o enigmática, profética, fazendo-o estremecer. A cajarana quase toda amarela, desfolhando-se vadia para o vento que tornava folhas em meros papelotes, rodopios pelo ar, para caminhos que ninguém conseguia identificar. Como fauno raptando ninfas. E a velha árvore, sádica, como se risse de tudo aquilo. Apenas esperando a nova folhagem verde. Enganava o vento, que se imaginava dono do espaço, gestor de suas folhas, guia e encaminhador das pendidas e caídas amarelas. Em baixo dela sentara-se depois do tiro, no dia em que mostrou serviço. Frondosa, galhos imensos, sombra boa, servia de local para amarra de animais. Nunca a esqueceria. Agora que viajava, voltou-se para ela, desconfiado de que guardava alguma coisa, um segredo, 62 63 e tinha consciência disso. Estremeceu, outra vez, com a possibilidade de contar o que sabia. Dos outros e de si. Evitou divisar o alpendre vizinho, instintivamente. Temendo o olhar da velha preta gorda, certamente cortando a linha de observação. V iajou a primeira vez, acompanhando o avô Pedro, para visita ao tio Sérgio, que passara a residir em Itatinga. Hospedou-se na “pensão de Maria de Afonso”, em Feira de Santana. Cidade grande em demasia, enorme para os olhos do menino, não acabava nunca. A velha marinete sacolejara quase oito horas, parando em todo o trajeto de mais ou menos trinta léguas. Pontos em muito de namoricos, o chauffeur paparicado, saudado da janela de cada casebre, artista dirigindo o monstrengo sertão afora, atualidade mitológica naquele imaginário. Buzina acionada dando prestígio ao buzinado. Reciprocidade garantida. Abóbora e melancia aqui, requeijão ali, baldezinho de leite acolá: motorista e cobrador realizando a feirinha com os presentes dos costumeiros passageiros, tornados amigos, fornecedores de bens, coniventes. O sempre rápido dedo de prosa na entrega da carta, um galanteio, a compreensão dos passageiros. Um quê de admiração e respeito, até. Em determinado ponto saltavam para um “café”. Os que tinham dinheiro. Outros abriam sacolas, embornais e vasilhas, retirando farofa, que tomavam com café, levado em um quente-e-frio. Todos se conheciam, permutavam o que possuíam. Para motorista e cobrador a mesa pronta com farofa de carne, ovos estrelados, pão, bolo. E o sorriso gentil e malicioso da mocinha que os serve. A jardineira parecia uma velha mãe, zelosa e ciumenta com a prole. Pernoitou para aguardar o dia seguinte, quando viajaria para o Sul da Bahia. Outra parada em Vitória da Conquista. Espanto dos hóspedes quando pedira a rolha para tampar a pia. E meio copo com água para escovar os dentes. Queria fazê-lo para que pudesse por água na pia para lavar o rosto. Hábito em casa o de usar a bacia de esmalte, quantidade limitada, tornando 64 luxo o ato de higiene. Não conhecia a corrente. Desperdício imperdoável deixarem a torneira enquanto escovavam os dentes e lavavam o rosto. Acostumado ao balde jogado no fundo da cisterna, boca para baixo, batendo fofo sobre o líquido – tchibuuumm – puxado pela corda, trazendo-a medida e contada. A bacia com meio caneco do líquido, mais que suficiente... Tinha que ser. Já ali aquele desperdício. Deus podia castigar. A rigidez de costumes pela constante falta de chuvas fizera-o assim. Até hoje não se acostumara com o esbanjamento naquela região. Como Deus podia fazer assim? Gente morrendo de sede lá no sertão e aqui tanta água e tanto desbarato. Se pudesse levar um pouco daquela fartura pra lá, ninguém ia precisar caminhar léguas para buscar o de beber. E como ficariam agradecidos a Deus. Bem que podia permitir isso. Agora voltavam a utilizar a bacia, ou litros d’água para controlar e economizar. Parecia o tempo de menino. U m filho ardia em febre nos braços maternos, que buscava mil maneiras de acalentá-lo, aos choramingos. Os outros, deitados pelas esteiras espalhadas em dois quartos quase sem divisão entre um e outro (tapume não concluído), ressonavam – como os anjos dos quais falava o Padre – aos olhos da mãe que os observava. Entre baforadas do cigarro de palha, matutava se arranjaria trabalho na próxima semana. O bueiro, sem fumaça àquela hora, dava o limite da ração disponível. O leocádio vazio. Precisava de dinheiro – ninguém mais que ele – e a semana que findava, fraca. O pouco que arranjara tinha sumido na farinha, na carne seca – meio quilo – num punhado de feijão. – Que mais pobre pode ter na hora da mesa? – indagava a si mesmo. Alguns caídos, quando muito, o alimento para um ou dois dias. Não tinha vocação pra vida de cabundá. E ainda o menino doente. Da receita passada por Doutor Carlos Cabral não pudera comprar nada. O remédio, tomava dado pelo dotô. – Home bom! – deixou escapar, olhando de relanço as pucumãs, dedo coçando bicho-de-porco. Não cobrou consulta e ainda deu remédio pro filho – ponderou, agradecido, consigo mesmo. Pediu, ainda, que levasse os 65 outros para consultar. E também a mulher, para a Doutora Vanda dar uma olhada. Povo bom. Antes dele a família se curava com as rezas de “seu” Ambrósio, homem pacato, aguadeiro antigo, forte na oração. O juízo atabalhoava. Atropelando. Abespinhou-se num canto da tapera, para remoer pensamentos. Buscou o canivete, talhou o amarelinho que se fazia no canto da unha do dedão, juntou os polegares, expulsou o intruso, estalou os ovos. Lembrou-se de quando saíra do Norte na grande seca – e riu enquanto ruminava a expressão, “lá toda seca é grande!” Maior só a miséria da gente. O Coronel Josias Macário tinha emprestado farinha ao pai durante algum tempo, e terminara por tomar-lhe as trinta tarefas de caatinga, depois de botar jagunço para acertar a conta. Tinham chegado armados, enquanto ele semeava meio litro de feijão no fundo da burara, para aproveitar o chuvisco da noite anterior. Deram o prazo, vinte e quatro horas, dois dias, “no máximo”, para saírem. Tempo até demais para arrumarem os fiapos em três gamelas e rumarem para a cidade, arrastando dois carneiros e um bode, o cachorro Boto, nas mãos quatro galinhas presas pelos pés – se não se esqueceu de alguma coisa nos cantos da lembrança – os restos dos andrajos em dois caçuás postos sobre Magriço, o jumento. Que lhe dera uma queda, jogando-o ladeira abaixo, enquanto a irmã gargalhava, suportando os sacolejos do animal, segura na cruzeta da cangalha, sentada na garupa. Agora se via nesta dificuldade – o que não era lá novidade – mas, o menino tão doentinho. O eco do aboiado sertanejo, em meio à caatinga, parece à porta, aprofundando melancolia e sofrimento. Esmagou, displicente, entre as unhas dos polegares, o filhote de ruduleiro arrancado do cachorro que madornava junto a ele. A lembrança da irmãzinha sepultada no amanhecer junto ao umbuzeiro relampejou a mente. Passava dificuldades nesta terra – tão fértil no passado, e já começando a caatingar – as mesmas que o pai no Norte, na grande seca. E nem tinha tarefas, nem mesmo uma, pra trocar por farinha... Trinta anos passados. O trabalho escasseara. A crise não acabava nunca. Parecia castigo do céu. Até ele, respeitado, sem trabalho. Absorto, quase não ouviu o “ô de casa”, e só entendeu o que se passava quando a mulher avisou que alguém o procurava. – Um estranho – adiantou, antes que perguntada. – Com um recado de um tal Belarmino, lá da Palestina – completou. Depois de perquirir pelo jeito do visitante – se tinha modo de carregar armas, se conhecido, como se vestia, onde fixava o olhar, se a pé ou montado – deixou-se dirigir à porta. Encontrou, ainda afastado um pouco da soleira, um indivíduo forte, preto de pele brilhosa, azulado na negritude, vestindo mescla, que bufada pelo uso não permitia distinguir a cor verdadeira. Na mão o chicote e o cabresto, laço preso ao animal. Dele ouviu que o Coronel Belarmino, fazendeiro na região, morador em Palestina, pretendia falar-lhe com urgência, não sabia o porquê, o patrão não adiantara, mas que tivesse com ele com celeridade e presteza. Antes que dissesse não dispor de recursos para viajar, lhe foram passadas algumas cédulas para despesas, e um pedaço de papel de embrulho com o nome da fazenda onde encontrá-lo e a localização, margens da estrada principal, perto da Salomeia, uma casa no alto, curral perto. Achando suficiente as informações, rasgou o papel, escondendo a falta de leitura, e prometeu viagem para breve. Tinha algo para resolver. Ouviu do chegante a pressa do patrão, mas podia ser dentro daquela semana. Levou a certeza de que iria no dia seguinte. Imaginou que trabalho, para quem parado, não podia esperar. Na realidade, tempo a gastar só o suficiente para dar uso à parte do dinheiro recebido com a compra de algum mantimento para a família – graças a Deus. Almoçara o feijão-de-corda com carne assada no espeto. O homem comia pimenta e temperos como indiano, um “gringo” que conhecera lá pros lados de Itabuna, nos tempos em que chegara para a região. Para cada colherada, hortelã graúda, miúda, uma dentada na pimenta-de-cheiro. Rapadura da Lapa completou a refeição. Bebera meio litro d’água. Pitou um cigarro, depois de tomado o café caldeado forte. Tirou do bolso o pacotinho com umburana-de-cheiro: jogou uma na boca, mastigando devagar, para garantir a boa digestão. Comera muito. Proseio no alpendre. Últimas recomendações. Viajou, lembrando que seria procurado por alguém, como dissera Belarmino – para orientar a empreitada. 66 67 C erto dia, quando com nove anos, ouviu conversa de não ouvir. Do pai com a mãe, após retorno de viagem ao Sul da Bahia, de que a região guardava o futuro. Sentiu que a posição adotada não encontrava apoio. Não porque frontalmente contra, mas pelas circunstâncias que envolviam o instante em que surgia a iniciativa paterna. As ponderações não prevaleceram, no sentido de que fosse na frente, assegurando estabilidade em trabalho, segurança para a chegada da família. Ali, se faltavam recursos e a escassez dificultava a sobrevivência, tinham morada, não pagavam aluguel. Continuaria vendendo o sabão feito por ele, como o vinha fazendo, bastava produzir para o futuro, bastante para o tempo de ausência. Mesmo que faltasse para comerciar, restava a água das cisternas, que vendiam “para beber”, ainda suficiente para dois, três meses de fornecimento a uma clientela certa. Tinham amigos, para superar dificuldades mais próximas. Sem falar nos parentes. Por outro lado, o menino estudando, o melhor da turma, segundo a Professora Any de Belinha, durante o ano passado, cursava o segundo ano e continuava centro de atenção na escola, elogiado pela Professora Iraci, que ponderara em torno do evidente prejuízo caso saísse em momento como aquele. Demonstrava pendor para a leitura. Não desprezava os livros de Felisberto de Carvalho, os que tinham sido dela, recitando versos, lendo as histórias relatadas, descobrindo vaidoso novos universos. Até recitava a primeira estrofe de “Dous vestidinhos”. Inteligente, nunca reprovado. Rabiscava a pedra de escrever com desenvoltura, ensaiando contas, copiando frases. Divertia-se com o ábaco presenteado pelo avô Pêdo, fabricado na marcenaria do fundo do casarão. Ano perdido de estudos, castigo para o menino. Que findava, mais um mês e as aulas acabavam. A pressa deixava de fazer sentido. Ninguém corrido da polícia e Lampião não fazia piseiro por ali. Aguentara a estiagem durante os meses em que ausente, e não seria mais um ou dois que os levaria à morte. O que precisavam, insistia, que enviasse, periodicamente, algum recurso, mesmo pelos correios, já que não exercia atividade de ganho, visto que mulher inteiramente voltada para o trabalho do lar e criação dos filhos. Isto caso demorasse mais do que o tempo que daria para vender a produção de sabão que deixasse. E se a água de que dispunham para vender, por castigo acabasse. Afinal, entendia, sair daquela forma, não passava de aventura, apressada e desnecessária. Dentre os argumentos nem mesmo tocou na gravidez, sexto mês, barriga tomando o rumo da boca. Não convenceu. Alegava o fato de que não havia sebo na região, decorrência da seca, o que inviabilizava a produção de quantidade razoável de sabão, para que pudesse fazer o dinheirinho do dia-a-dia. A água das cisternas, para tirar, risco e esforço muito grande – achava – mormente no estado em que se encontrava. Demais disso, insistia, sozinho naquele fim de mundo. Sentia falta deles. E a família lhe era muito importante. E não queria estar longe na hora do parto. Sofreriam, sim, mas juntos. Por outro lado, melhor viajar com a criança ainda na barriga do que novinha em boleia de caminhão. Mais difícil o atendimento nos traçados de uma estrada, poeira em demasia, além do risco de estranhar o clima. Os argumentos do pai definiram a conversa, não diante da impossibilidade de réplica – ponderações havia – mas para não defrontar com a teimosia que o marcava. Aceitou o decidido, mais tocada na proteção da cria do que em qualquer outra justificativa. Venderiam a terra, esturricada pela seca, onde o rícino espoucava com o sol. Apurariam com os animais que ainda não tinham morrido. A casa para o frete do caminhão. E assim ocorreu. De progresso para ela, da conversa, a conclusão da camisolinha azul enfeitada de sianinha ao fim do diálogo. Início de outubro, a mãe grávida de sete meses na boleia. Ele e as três irmãs na carroceria do caminhão de Aristóteles, juntamente com outras cinco famílias, em busca do paraíso sul-baiano a cento e vinte léguas. Um infinito. Novo tipo de retirante. Mais sofisticado. Que viajava com destino certo, menos tempo para cobrir o trajeto. Ouvira falar de outros, antes deles. A pé, poucas léguas a cada dia, durante meses. Morrendo pelo caminho. De caruara, às primeiras colheradas, se lhes davam um prato de comida. Ou simplesmente de fome. Por onde passavam 68 69 estes – ouvira do avô – a tragédia mesma dos que caminhavam. Não tinham apenas a coragem destes. Nascida muito mais da necessidade do que da certeza de novo dia. A miséria, anônima, unia no cordão sem contas. Bastava um poço na beira da estrada, ou simples copo de água barrenta para alimentar a esperança. Um pouco que lembrava dos contados. Ele e os seus não testemunhavam esses retirantes. Vendido tudo para aventurar em novas terras, mas o faziam de caminhão. As ideias se perdem ao tempo em que surgem, atropeladas com a cantoria que espanta o tédio. E aproxima o sertanejo de suas raízes, sublimando a realidade, no sonho de dias melhores, em qualquer canto de romaria. Incluindo lembranças de uma Juazeiro do Norte, marcada pela morte recente de Cícero Romão. Que ouvia, mas não entendia. não doía como as outras, fazia sofrer apenas. Seu coração parecia diminuir a cada metro rodado, adernando em meio aos buracos da estrada. Distância aumentando. Incerteza um dia rever os deixados. Dor que parecia matar. E não matava. Só doía. Apertando o coração, espremendo e botando a alma pra fora como carnegão. “Bendito e lovado seja no céu a divina luz e nóis também na terra lovemos a Santa Cruz” A cantilena no imaginário retirante. A saudade do lugar, dos avós, dos amigos, das professoras Any e Iraci, do primo Jorge, parceiro no jogo de botões (arrancados, cada um, dos paletós, buscados no chão das alfaiatarias quando a vista do “mestre” se desviava deles) e que sonhava ser padre, colegas de escola e das piculas no recreio, que tivera que abandonar por conta da viagem, tudo amargurava. Lembrava do canto do ABC, da tabuada: dois e um três, dois e dois quatro, dois e três cinco, dois e quatro... Deixava para trás a rua, o apoio de uma vizinhança. Pra onde ia tinha careta de carnaval? Corria delas, apavorado. Mas esperava o ano seguinte para assustar-se outra vez. Uma dor que O canto se arrastava, triste, merencório. Sofrimento traduzido daquela gente. A música, não estranhava, comum nas procissões. No Ramos, festa especial: a avó escancarava as janelas, enfeitadas de brilhantina, bambu e crótons sobre toalhas de linho recém-lavadas e engomadas que forravam os batentes. De segunda em diante tristeza: Via-Sacra. Quinta, procissão dos Passos. Sexta, da Paixão. Roxo predominando. Sinos calados. À memória os peregrinos do Monte da Santa Cruz, na Quinta e Sexta-feira Santa. Como esquecer aquele instante? Apoiado ou sentado no batente da janela (quando admitido a fazê-lo), trajeto obrigatório para a Meca regional, dos de Camisão, Ruy Barbosa, Capivari, Piritiba, Jacobina, Viração, França, Baixa Grande, Mundo Novo, Miguel Calmon, Pintadas, Itaberaba, grande parte a pé. Imprimindo ao canto o sofrimento e a morte de Cristo, lembrados naqueles dias. As mulheres, enlutadas na penitência. Arrastando os joelhos pela estrada de cascalho, ensanguentando-os, para desistirem adiante, buscando do padre outra penitência para a promessa não cumprida. A rua e o trajeto ladeados de pedintes. Cegos guiados por crianças ou cães, esfomeados todos, esquálidos, iguais na tragédia da mendicância. Animais e gente. Mãos estiradas, olhares fundos e compridos em busca da caridade do semelhante, materialmente pouca coisa melhor que eles. Talvez só na miseração do dividir o resto que lhes dá o condão de proprietários de 70 71 – “Minha Santa Beata Mocinha eu vim aqui vim vê meu Padim – Meu Padim fez uma viagem foi e deixou Juazeiro sozim” Deixa-se envolver pela cantoria, descambada no cantochão, tamanho o arrasto no fraseado, no desinteresse pela existência melódica, fixada na comiseração traduzida em cada texto. Ali, por via carpideira, a saudade do rincão que vai ficando na lonjura anestesia a dor e o pesar pelos parentes e amigos que ficaram. Distanciando da fome, da seca, da desesperança. Será que a viagem não é uma nova aventura? Quem irá recebê-lo? Terá amigos, como os primos lá de Monte Alegre? E cinema?... para onde ia levado na cacunda do tio. As recordações vão perdendo o geral, para ocupar apenas o pessoal. Os problemas já não são agora de todos, como antes. Mas, dele, apenas dele. Os outros devem, mesmo cantando – pensa – matutar como ele, maturando os sonhos por melhores dias. A cada lembrança da Dinha, do Pêdo, a tristeza apunhala a alma, como testando para saber se sobrevive. Suas lágrimas, na despedida da noite que antecedeu a viagem, parecem ainda molhar o rosto. Nunca mais crótons, veludo, mimo-do-céu, brevidades e café com leite na merenda, doce de rapadura, cágados como montaria. Um poema vem-lhe ao pensamento, declamado na escola, que falava da saudade do poeta, de sua terra distante. Um outro aflora à mente, falando da infância buscada, então perdida no adulto. E parecia ver-se crescido para sentir-se menino saudoso da própria infância. Ali vivida na angústia. O povo no caminhão continua cantando. O sol morrendo por trás das serras e elevações, para reaparecer depois da curva. E, aos poucos, avermelhando-se apopléctico, para falecer com o fim da tarde. Envolvendo os pensamentos com o enlutamento do dia. Quase uma semana de viagem, presume, na vaguidão do descompromisso com o tempo. Realizada somente durante o dia claro. À noite a prosa junto da fogueira, para espantar o cansaço e os mosquitos, antes de pesarem as pálpebras; estórias de onça, mula manca, sem-cabeça, saci, curupira, boitatá... mulheres de branco levando homens salientes em noites escuras para o cemitério, fantasmas de assombração. Olhinhos arregalados, embolado nos outros meninos retirantes, sem dizer palavra. Escutando. Até quando adormece. Assim que se abre o clarão, Aristóteles, motorista e dono do caminhão, acordava os que ainda dormiam, com duas buzinadas. Buscavam o mato, para satisfazer necessidades – homens para um lado, mulheres para o outro, arrancando folhas de beira de estrada. Os primeiros a retornar já o vinham com pedras e paus; trempes construídas, fogo acendido, chaleiras fervendo, cheiro de café fresco tomando o ar. Após o desjejum subiam no carro, para mais um dia de viagem, sacolejando. Uma parada para o almoço, quando desentranhados os bocas-pios e as latas de comida. Outras, para botar água no radiador. A chegada deixou-o aturdido. Às dez, o transporte, agora só 72 73 quase nada, à procura da esperança no Bom Jesus do Monte para manterem-se, quando nada, naquela realidade de poder partilhar migalhas. Vivendo a metanoia permanente. Sublimando. “Perdão meu Jesus perdão Deus de amor perdão Deus clemente perdoai Senhor” Ouviria, muitos anos depois, mesmas cantigas, mesmo pesar, entoadas junto aos que participavam da procissão levando pedras na cabeça, acompanhando imagem de São José, na penitência por chuva, quando as estiagens começaram a se tornar lugar comum na região, antes pródiga em dilúvios. Expiando outras penas. Os pensamentos se atropelavam. Olhar longe, concentrado no horizonte que balançava. “Dai nossa fé, ó gente” – percebe, distante, o que cantam agora: “o brado abençoado queremos Deus que é o nosso Rei queremos Deus que é o nosso Pai” com eles, encostou junto a uma casa, em noite de chuva, rua de barro vermelho, “da Cancela” – que nome! – luz no poste, mais fifó à mamona. Faltava fumaça e fuligem. A cidade que deixara, e que se encontrava no limbo com as observações da estrada, as serras e ladeiras antes conhecidas nos sonhos, na imaginação dos caminhos sinuosos construídos no fundo do quintal, onde transitavam o carrinho de lata de querosene ganho no Natal, rodas de tampa de remédio (arte do pai) ou a boiada de bois-de-osso, retornava viva ao consciente, envolta em angústia. Não ia se acostumar ali, com certeza – afirmava-se em pensamento. A impressão que o lugar trazia, para conflitar o menino, diante do que ficara para trás, não podia ser mais trágica. Pior do que poderia imaginar. Esqueceu de tudo, adormeceu sobre uma trouxa de roupas, cansado, reencontrou o torrão distante e os amigos, em sonho. Encontrou-se herói universal, correndo mundo, nas histórias geradas na imaginação, nascidas das estampas do Sabonete Eucalol, da coleção do tio Sérgio, guardada no casarão dos avós. Haviam se passado quatro dias no percurso. Séculos. P assando dias em Palestina, Solano o conheceu. Fizeram amizade. O moço tinha conversa agradável. Parecia disposto, valente. Até mostrara-se bom de tiro. Nas conversas aprofundaram confiança. Ouvindo mais. Um dia falou-lhe de uma vingança, quando matara em Macuco. Para vingar o tio. Belarmino desdobrando a atenção; deu razão. Quase todos os dias um dedo de prosa. Procurou saber de onde o rapaz viera, a família. Pensou que de olho em alguma filha. Gostava dele. E tinha dentro de si a desforra do acontecido há quinze anos, casando com contados pelo jovem. Um dia contou o ocorrido. Não disse da intenção de vingar o filho de criação, braço direito, esvaindo a vida aos poucos, pedindo para não morrer. Prontificou-se a ajudá-lo. Se precisasse. Não pretendia vingança? Se o quisesse nada mais justo. Até podia fazer o serviço. Não custava nada. A amizade do amigo bastava. E justificava. O palestino ouviu. Não disse nada. Dormiu pouco aquela noite. Pensando no escutado do moço. O tempo 74 chegando. Passados quinze anos de de vez. O filho de Zé Cordeiro na idade do que se fora. Tempo maduro. E o moço compreendia a sua dor. Tanto que se oferecia como bálsamo. Assunto pra pensar. Com calma, mas pra pensar. C aminhou entre sacos de farinha, feijão, milho, frutas, verduras, até encontrar a barraquinha de Joana de Coló. Pelo caminho, os cumprimentos: – Bom dia Zezé, tá vendenu bem hoje? – Bom dia seu Fausto, a coisa tá mais ou menos. – Oi, Severo, o cumpadi comprou a banana de quem? – Bom dia cumpadi... de Coronel Antoninho, lá na Rua de Palha. – E o sarapatel, D. Isabel, como tá hoje – ouve a resposta de que “no jeito”, e avança pelo emaranhado da feira. Na barraca de D. Joana, acomodou-se no banco de madeira. Copo de arroz com leite, polvilhado com canela, tomado aos poucos, com uma colher, saboreando os pedaços em lasca e cravo, especial manjar matinal. Terminado o mingau pediu um cafezinho, servido em copo dos também usados para cachaça. Sentia-se respeitado. Ninguém conhecia o outro lado. Apenas o de cumpridor das tarefas, conceituado entre os fazendeiros. Que entregavam o serviço dispensando fiscalização. A confiança o orgulhava. Trabalhador como ele, raro – diziam. Lembrado para o que exigia competência, responsabilidade. Retardavam o que fazer, aguardando-o. Acertavam com meses de antecedência. V iu passar os companheiros de empreita. Não podia chamálos. O moço de que falara Belarmino o procurara. Acertaram detalhes. Só faltava ensaiar o feito. A longa barba postiça já no alforje, pra ser colada com goma de araruta sobre a cara. Ninguém o reconheceria. Como nunca o fora antes. 75 P erto da barraquinha um propagandista demonstrava as vantagens da mercadoria, vez em quando espantando mulheres e meninos com a jiboia, que dizia chamar-se Genoveva. Caminhou, em volta, aproximando-se como quem não pretendia encostar. – Pra lumbago, dor de barriga, cabeça-inchada, olho vesgo, dor de caluna; figo da ponta branca, reumatismo, remorso, sapiranga e dordói; mau-olhado, ventosidade, dente cariado, impotênça, sonolênça; insônia, lombriga, solitária e inapetênça; farta de apetite pra comida e pra mulher; tá escondido cuspino sangue, síflis, pereba braba; coceira e rouquidão, hemorróida de pus ou de sangue; estreitamento das via urinária, inframação do figo, rins e bixiga; tosse, catarro crônico, bronquite, asma e fraqueza de quarqué espéce; doenças venéra e pobreza de sangue – disparava a catilinária, mecanicamente, com entonação de quem recita poesia, versos longos buscando melodia modal, atonal, sem compromisso com a divisão. Aproximou-se, mãos para trás. Arrodeou-se do grupo que ouvia boquiaberto a carretilha do homem. Admirado pelo estranho aparato manifestado pela jiboia, indiferente ao que ocorria à volta. – Esta maravia senhores e senhoras – levantava uma garrafinha numa das mãos, volteando-a para que todos a vissem – contém na composição jurubeba, catuaba, pau-de-resposta, boldo e fedegoso; anis-estrelado, chapéu-de-couro, pixurim, noz-noscada e carqueja; quebra-pedra, velame-do-campo, fitopel, angico e guaraná do Amazonas. E dando tempo apenas a inspirar o ar que realimentaria o derrame verbal: – E ainda mais: espinheira-santa, ipê-roxo, salsaparrilha e mel de uruçu; pau-d’arco, catinga-de-porco, pau-de-rato, umburana-de-cheiro e jatobá; tanto a casca como a resina – explicava. Aprofunda a erudição: – A vantagem teraprêutica de cada planta, folha, casca ou raiz me permite, distinto público, afirmar que o conjunto contido nesta garrafada é capaz de curar até tumor malígrino. E continua, para não perder o mote: – Se o cavalheiro sente aquela pontada na ponta do figo, que responde cá no pé da espinha... Ou quando toca na boca do estombo parece que bateu em tambor de macumba... Se não pode ficar no meio de gente porque a ventosidade espanta até urubu... Se abre a boca chama o dito cujo pro telhado... Se a patroa, toda dengosa, lhe chama de “beeém” – entoa com voz melosa, fazendo rir os circunstantes – e convida o cavalheiro pra espremer cravo na cama e vossa senhoria diz que tá cansado... Se ocupa o pinico não tem força que alivie o sacrifício... os intistino mais parece cachoeira ou queda d’água... Quer se abaixar e não consegue; o rim não deixa, a espinhela não ajuda... Se tosse parece que o peito estoura... Tá nascendo furunco inté imbaxo do braço, nas ponta do cutuvelo. Taqui a solução. – Uma é cinco, três é dez – anuncia o preço e a pechincha. O vendedor, autoalcunhado de propagandista, lugar comum nas feiras livres do interior nordestino, inerente à paisagem do comércio informal provinciano. Negocia produtos arrimado em parte na ausência de um serviço de saúde pública que atenda com dignidade a população mais carente. Vende remédios e ilusões. Com tiradas jocosas, brinca com um ou outro à volta, torna-se figura imprescindível de ser vista. Tem público cativo, como os cantadores e poetas. Se o médico figura no imaginário do caboclo, circunspeto, distante com sua teoria da linguagem simples, o propagandista está perto de todos, mesmo aparecendo de tempos em tempos para vender saúde. Muitos se acercam tão somente para ver as curiosidades apresentadas antes das “explicações científicas”, sempre originadas de rincões inalcançáveis, reservadas aos iniciados nas ciências ocultas herdadas de antigas gentes, trazidas ao lume do repositório de caboclos ainda escondidos da civilização nas brenhas da mata virgem, conhecedores da flora e de sua utilização a serviço do homem. Raro não comprar, mesmo que chegado sem essa determinação. Às vezes apareciam tocadores de sanfona, triângulo e zabumba. Um menino, cego, de nome Zé Barbosa, chamado de “Zé Ceguinho”, nascido em Guarany, impressionara. Tão 76 77 novo e tocando tanto. Canta xotes, xaxados, baiões, cocos, variedade musical e rítmica da cultura nordestina. Quando a multidão se reúne, a música para. Assume a festa o vendedor do milagre. Uns deixam o espaço, outros permanecem. Terminam adquirindo-o. Alheio a tudo, embarca no passatempo de ouvir o propagandista. A cantilena continua: – Se as criança tão sem apetite, a mãe faz a comida, bota na mesa e elas faz cara feia; a pele tá amarela, cheia de mancha... sono inquieto, cheio de pesadelo, deixanu as bramura de lado... não qué estudá, tá perdendo de ano na escola... pode ter certeza que a lombriga tá acabando com ela. Isso ele entendia. Menino doente. Barriga grande, comendo um torrãozinho de terra aqui e acolá. Tratado à base de leite de quaxinduba quando descoberto em trabalho de destruição das paredes. E prestou mais atenção ao que dizia o falador. – Se os minino tão roendo as unha... comendo terra... As criança alevanta dormindo e sai andando... é verme, das pirigosa; esta aqui. Procurou se aproximar mais para entender o “colorido” das verminoses, espalhado no chão pelo artista, que estampa “ciência” sobre os malefícios de cada doença. Deixou-se deslumbrar com fotografias e desenhos, analisados pela erudição do vendedor. “Ah, as compridas conhecia; desgraçada de lombriga. A outra, miúda, a caseira”. Debruçado sobre a aquarela nem percebeu a mudança de indicação do propagandista, voltada para outro milagroso medicamento, uma pomada de peixe-elétrico da Amazônia: – Se o cidadão tá com aquele fortum debaixo das oxila, que espanta as namorada, não alevanta o braço no meio de gente, cabeça-de-prego não deixa... As junta entrevada... Se o telhado da casa vira campo de aviação pra urubu quando o cidadão tira as botas, leve esta pomada. Deixa-se impressionar com a afirmação do vendedor, valorizando o produto: – Acabando este, acabou-se a festa – provoca a assistência, como a acelerar o negócio e transformar a mercadoria em ouro. Enquanto a fala se manifesta, os gestos da entrega do produto à freguesia e o recebimento do dinheiro se alternam. O tempo aproveitado plenamente. O arrecadado posto sobre o pano que forra o chão, ao lado dos pacotes de medicamentos, espécie de propaganda – se alguém compra, o que vende é bom, e o arrecadado à vista de todos o demonstra. De quando em quando, uma parcela substancial vai para um embornal, cédulas maiores de preferência – para não criar usura. – Uma garrafinha desta resolve o problema – volta-se, agora, para o elixir, dispensando temporariamente a pomada milagrosa. Toma uma colher das grandes, pela manhã, em jejum; outra antes do almoço e outra no jantar. E repete a ladainha, necessária diante de outra leva de curiosos que chega: – Cêis nem vão acreditar. Como adquirir esta maravia da ciência moderna, combinada com a experiênça dos caboco da Amazônia e dos tupinambá de Olivença? – Cinquenta mil réis – define, e emenda no fôlego – mas por ordem do diretor da empresa, para que a saúde possa chegar aos cidadões mais humildes, no lançamento do produto tá sendo vendida uma por cinco mil réis... quem vai levar... uma para o cavalheiro... outra para o cidadão aqui... quem leva três paga dez... três aqui pro cavalheiro... uma pro cidadão... Ria com a multidão diante dos improvisos. Que – depois da venda de um bocado de garrafinhas – voltava a ser apresentada à pomada milagrosa. – Quando Deus não quer, remédio não presta e reza não vale nada – filosofou o mascate dos remédios, talvez expondo o que o inconsciente reflete quanto ao que vende. – Use a pomada. Só não cura dor-de-corno, pois se curasse eu já tava são pirito. Gargalhada geral com o mote. Enquanto as virtudes do unguento são postas à disposição da assistência, o “distinto público” é buscado: – Veja o cheiro, meu irmão... – e ordenando ao auxiliar 78 79 Certa vez, na feira do Bonsucesso, viu-se esquecido, hipnotizado, descobrindo aquele estranho sentado na escadaria da igreja, barba longa esbranquiçada vestindo parte da viola de dez cordas, olhos cozidos, voltados para o sol do meio dia, desfiando a miséria sertaneja envolvida na esperança de um mundo melhor para os homens – o outro mundo. Cantava a tristeza da cegueira, conformando-se com o reservado por Deus para estas plagas, agradecendo o dom de cantar a glória do Altíssimo para quem enxergava, mas não via como ele as coisas. Sustava, vez em quando, o improviso: a cuia de lata de banda de queijo prato sacudida devagar, fazendo soar algumas das moedas, jogadas para cima, seguidamente. A gente em volta, então, contrita na tristeza do canto, tirava da algibeira um ou outro níquel, parte do próprio pão, lançando-o na cuia, gerando ruído, como se assim registrasse a identificação por aquele que não enxergava, e para ouvir, a cada tilintar, o “Deus l’e abençoe”, “Deus l’e pague”, “Deus proteja a famia”. Sentindo o número de moedas atiradas na cuia, voltava a bordoar o instrumento, com os novos motivos para desfiar a lamúria. Falava do Conselheiro, cantando a tragédia, traduzindo o que ouvia pelos sertões, dizendo-se testemunha viva da igualdade em que vivera aquela gente, arrasada sob os algozes de Satã. Àquela primeira vez repetira-se uma outra em Monte Alegre. Tais oportunidades na feira traziam lembranças da infância. Razão por que não podia ver ou ouvir um propagandista, um cantador de versos, um tocador de sanfona sem deles se aproximar. Muitos anos depois, houve um outro, lá de Itabuna, que, vez em quando, aparecia em Itapuhy, pendurando versos na corda, ou espalhando-os pelo chão. Seus romances atraíam a gente simples. Estórias escabrosas, de homens desalmados que desrespeitavam a palavra de Deus, abandonando a senda do bem pelas promessas de riqueza fácil oferecidas pelo tinhoso, e se viam castigados pelo fogo do inferno após a morte, às vezes até antes, quando queriam fugir da obrigação. Minelvino Francisco Silva, “O Trovador Apóstolo do Brasil”, famoso em todo o estado. Enxergava. Da Lapa do Bom Jesus – para onde se deslocava todos os anos em romaria – aos rincões do cacau, seus versos tocavam o coração dos homens, que neles viam as próprias vidas relatadas. Através deles sentiam-se heróis, o que refletiam no cotidiano. Lembrava da primeira vez que o viu. Cantava os versos sondando a assistência a cada pausa da leitura. Conferindo a venda, efetivada através de ajudante. Sobre a cabeça um chapéu de couro, de vaqueiro do sertão. Só uma vez não gostou nem admitiu crença nos ditos do poeta. Quando cantou que o Conselheiro tinha matado a mãe, por engano, quando queria matar a mulher. Não podia ser verdade. Homem santo, como dizia o tio Joaquim, o Profeta se dedicava ao bem. Nunca feriu ninguém. Sempre incomodado. Bastava ver o que fizeram com ele em Jeremoabo. Fora perseguido, dele disseram aleivosias. Tudo para apagar da mente a solução dada para as mazelas e sofrimentos do povo: viverem como irmãos, todos trabalhando para todos, sem propriedades, sem impostos, sem governos injustos. Sob as ordens de Deus, ninguém pensando ou praticando o mal. Não, o poeta errava. O Conselheiro, um santo, e morreu por causa disso. Não tinham matado também Jesus, o próprio filho de Deus? Imagine um nordestino catingueiro como ele e tantos outros sofredores! Sem parentes nem derentes. Aquela história só podia ser mentira. O Santo do Belo Monte nunca matara nem mataria ninguém. Muito menos a mãe. E o tio Joaquim dissera que ficara órfão quando tinha ainda cinco 80 81 – põe nas mãos dos home, de minino não. Não quero negócio com minino. Minino só presta pra bufar no meio de adulto e atentar a gente. Esqueceu da vida. Dos compromissos. Estirou o costado da mão para a esfrega da miraculosa. Levou para casa, além da feira, um pouco de saúde – como imaginava, aceitando a verdade propagada – nas garrafadas e pomadas. Que ficariam ao lado da jalapa e da purga-de-batata, indispensáveis para os casos de derrame e das inflamações. anos!... Como podia ter matado a mãe, se dela dependia? E o pior – como podia ter mulher, ser casado, com apenas cinco anos de idade? O poeta errava na poesia, sim. Sempre assim. Também não disseram que tinha ido atacar Juazeiro? Mentira deslavada para justificar a perseguição à anunciada comitiva de cobrança e transporte da madeira pelo velho Chico até Jacaré, paga ao coronel João Evangelista e não entregue, para cobertura da igrejinha, insuflada pelo juiz Arlindo Leone, que não gostava dele desde os idos de Bom Conselho, onde predicara contra a cobrança de tributos. O não cumprimento do contrato transformado em édito verbal, fuxicaria aumentada, de que invadiria a cidade, assaltaria o comércio, feriria de morte o magistrado da comarca. A ponto de mandarem contra sua gente cem praças da polícia da Bahia, atacando, sem motivo qualquer, a utopia sertaneja em seu reduto, de onde ninguém fizera nada, tampouco cometera qualquer delito que pudesse justificar iniciativa daquele porte. Os que, em debandada, saquearam e incendiaram Uauá, frustrados na missão inglória. Mas, assim mesmo. Repetia o cordelista o interesse dos grandes. Talvez sem o saber, reproduzia a mensagem dos detratores do Conselheiro. Dos que estavam contra o povo. O preconceito obnubilava ainda uma visão objetiva da realidade sertaneja envolta na esperança daqueles deserdados da sociedade, afastava qualquer critério de avaliação, então sedimentada na defesa da cultura arcaica, misto feudal e escravocrata, a intolerância presente. Quando não a difamação e o detraimento, o silêncio absoluto sobre a verdade, levando ao esquecimento, tornando o acontecido estória da carochinha. Transformando a verdade em mentira e o contador num mentiroso. Durante muito tempo fugiu do poeta, temendo que novamente falasse mal do Santo de Belo Monte. E tivesse que intervir, para dizer que faltava com a verdade... O que o povo ia achar, ou entender desta reação? Chamariam-no de doido. Melhor distanciar. Isso mesmo, melhor evitar. Pelo menos durante uns tempos. Mesmo depois que soube de que eram quase conterrâneos. Ele de Monte Alegre, o outro de Mundo Novo. 82 S olano não dormiu. Matutava sobre a roça prometida e não dada. Precisava de um jeito para pressioná-lo. A terra tinha que ser sua. De papel passado no cartório. Mas como pressionar? De conversa tentara tudo. Até falar em suicídio. A tia desmaiou, o tio sentiu-se mal. Nem assim conseguiu o que queria. Mas a conversa com Belarmino abria um caminho. Por conta se oferecera para vingar o amigo. Sim, perfeito o plano engendrado. O fazendeiro topando proporia que o trabalho fosse acompanhado de pistoleiros profissionais, dois outros bastavam. Seria o terceiro, para não ter erro, diria. Para não falhar a empreita. O plano caminharia por aí. O filho do tal Zé Cordeiro morreria. Mas faria crer que houvera engano. Que escapara por sorte. Do mando do tio – muitos pensariam. Sentiria a pressão. Espalharia a perseguição. Tiros no carro. Alguém queria matá-lo. Quem? – indagariam. Não podia crer – diria – mas parecia coisa do tio. Faria com que acreditassem não admitir tal fato. Preparação para o crime. Dos pistoleiros, um conseguido em Coaraci. Outro arranjado por Belarmino, que encaminhava homem da própria confiança. Tudo devia transparecer ser ele o visado. Auxiliado por Crispim levantaria sobre a vítima: hábitos, trajeto, horários. Uma, duas semanas bastavam. Enquanto preparavam o prometido, a história da perseguição cresceria. No dia todos teriam certeza do engano. Ferdinando morto. Belarmino vingado. E ninguém desconfiaria. Tio pressionado. Como, na verdade, aconteceu. Assustado, vendeu as terras que possuía, a prazo de égua. Como para livrar-se de um peso, de algo cometido por ele. Pelo menos em pensamento. D ura a lição. Logo aprendida. A terrinha visava conseguir. Difícil, sim. Via o que acontecia em volta. A esperança da Calçada, na fala de “seu” Libório, não se construía com trabalho. Mas com esperteza, no mando, na força, no caxixe. A saga do cacau, percebeu, não ocorrera nos moldes do respeito às relações entre trabalhadores e patrões. Dispensada a senzala. Desnecessária. O obreiro, escravo disfarçado. A honra ferida, amparada na vingança, acolhida pela conveniência da porteira, 83 ajuntava o jagunço e o trabalhador numa só pessoa, instrumento de apropriação capitalista. O coronel compra no armazém sem pagar. Se o vendeiro recusa, jagunçada busca, no trabuco. De nenhuma serventia anotar. Para eles ainda o barracão em muitas das fazendas. Outros ferros, diverso tombadilho. Algemados, atados como cordão umbilical, com risco permanente de mal-de-sete-dias. Melhor viver, e se esforçar para recuperar o levado. Pedir as contas, acertar o contrato: ilusão de liberdade. Mais certo a cova rasa, comida de peixe, de urubu. Lenha para o secador da Sempre-Viva. Então todos se mantinham juntos. Mesmo estranhos, pouco se falando. Remoendo o sonho da liberdade. Não, aquela vida não dava romance. Pesadelo. Sempre-Viva, o exemplo. Confissão. A lição tomada. Choro convulso, incompreendido, atrás da porta. Lição aprendida. Doravante, melancia só chocha, quando liberada... -C elancia chocha com farinha. Dádiva, divina, se safrada na chuva de umbu. Miolo fofo – toc-toc-toc – provocando arranque, avanço sobre a safra, reduzindo a renda pouca. Demanda reprimida estourando a consciência da cautela, fazendo esquecer do passado que será futuro. Não distante. Aberração. Temia ver o sete-estrelo no maio. Barriga ronronando. Cheiro de pão queimado na chapa do fogão à lenha, quimera. Não lhe saía da cabeça a arrancada quase verde, devorada na roça mesmo, longe da censura familiar. Deus assistindo o não dividir. Compreendendo a ambição desmedida. Pecado impossível de perdão. Possível só a chocha, quando liberada pela economia da casa. Redenção inalcançável. Caminhou lento, passos de cágado, o retorno à tapera moradia. Penitência implorando. Certeza de fogo eterno. Em casa, irmãs no quase nada. Mãe e pai pedindo resguardo de comida. Ele farto. Flagraram-no no pesadelo. Luxo de quem come demais. Agressão maior só palitar os dentes diante de retirante em estiagem grande. Não houve explicação. Palmilharam a roça. Descobriram no dia seguinte o talo recentemente deflorado. Perto a casca, em torno sementes. Naqueles cafundós quem efetivara tamanha ignomínia? Nenhuma resposta. hove e nun trovoa, meu fio – repetia Filó, toda vez que, no verão, chovia sem trovejo e relampaguear. – A terra fica sem sustança. O relampo dá vida, agarante certeza pro prantio. Mata um vêis in quanu – pondera – mai ié da vida. A trovoada “cum relampo”: mensagem de Deus, indicativo para o plantio. Se não demorada nos dias, “prumode nun imbebedá as pranta”. Água e energia se completavam, para oferecer à humanidade o melhor da natureza. O resto não passava de resto: brotar, crescer, colher. Em sua mítica, se em época “das água de truvuada” chovia sem relampaguear, não devéra di sê bom sinal para as safras plantadas naquelas circunstâncias. – O cacau nun ié o memo, fio – explicava, levando o corpo com a explicação – o café nun ié o memo. Dá, mai nun ié o memo. Farta de sustança na terra. Nun madroce bem. Assim mesmo. Cheio de cisma, credulidade sempre posta à prova. Vinculado às coisas simples, dos costumes mais pretéritos. Chegado a uma rinchona, ficava falador, cismado, com dose a mais. Mormente em roda de relancin na cafua. Se tornava perigoso. Diferente da figura mansa fora da bebida. Às vezes dobrava o soluço na peruagem do carteado, emitindo emoções estranhamente. Noutras deixava a implicância de lado e tornava-se hilário, gaio, cheio de brincadeiras, anedotas, jogo de corpo contando causos. Bastando apresentar-se onde quer que fosse se tornava motivo de riso. Pessoa querida. Famoso ouvido de teiú, escutava longe. Bigode ralo, branqueado, boné caindo sobre os olhos. Curvado sobre si mesmo. Caneta Parker e lápis no bolso acompanhando a cadernetinha de arame, para ilustrar importância. – Quantas braça, cumpadi? – buscava saber, se pedia alguém ajutoro de conta. 84 85 M Puxava a cardeneta, o lápi; lambuzava a ponta do grafite, riscava as garatujas no papel. Se carecia de anotar em outra folha, molhava a ponta do indicador com saliva, para ajuda no folhear. Não errava cálculo de tarefa, qualquer que fosse a geometria da área posta à disposição. Dava lição a engenheiro. Nunca usava a caneta-tinteiro, “um luxo”, presente de Dr. Aristóbulo, ofertada depois que lhe fizera as contas das terras adquiridas lá pros lados do Palmeira, para conferir, não confiando na medição dos “apareio” de Manoel Batista, como denomina o teodolito do engenheiro local. A caneta ficava no bolso, como mostra de importância, símbolo do reconhecimento de sapiência “nas aritmética”, sua arte e ciência maior: – Graça do dotô Aristóbu – apontava, orgulhoso, para demonstrar o respeito que merecia como fazedô de conta. Caboco mandureba na labuta. Pau pra toda obra: curral, foice e facão; serrote, martelo, enxada, trado, trancha e enxó. Referência de honestidade. Companhia de Gabriel Bruno de Montalvão, o “Bié”, na parceria de cana, irmanados na mesma boceta de Pandora: paixão não correspondida. Cantavam os amores fugidos, compreendiam-se, aprofundavam sofrimentos que se esvaíam em cada dose no desvão do esquecimento. Ou, pelo menos, na ilusão de que esqueceriam o que os amargurava. Até o dia seguinte, quando tudo recomeçava. – Facin, facin, cumpadi, mistéro ninhum – expunha, enquanto em volta torcem o nariz, engúiam com a receita. – Pra tirá o misca limão, cardo de cana em profusão, três a quatro litros, arfavaca de galinha. Deitá a carne, em pedaços, no môi durante um tempo. Depois, deixá no soli pra enxugar. Em siguida muquiá. Cozer ensopado, tempero a gosto. – Mai a bicha deve de sê macho – concluía. – E muquiada. Definia o que chamava de prato dos melhores, divino. – Mió inté que carne de afitim – esgotava o tema. Ninguém como ele sabia “quebrar a dormença” das sementes para o plantio. Deixava ferver a água em fogo lento, de pouca lenha. Em seguida retirava a panela de barro da trempe, aguardando a água deixar de borbulhar, para então lançar nela as sementes. Durante um tempo que, se cronometrado, levaria dez minutos, observando reações que somente ele via, retirava-as, para então jogá-las na água fria. Depois as punha a secar, guardando-as em lugar fresco durante quatro dias, oportunidade em que as considerava preparadas para o sementeio. O método, afirmava e já dera prova, permitia o florescimento em tempo bem mais curto que o normal, sem a técnica. – Mai, coidadu, fio – alertava – nem toda sumente ié dada a tar mistéro. Com isso retinha o segredo, o controle da informação. E o prestígio, pela dependência do conhecimento. E orientava, didático: – Certos prantio só cum sumente quebrada a dormença, e sumiada adispois qui trovoa, quanu a terra tem sustança. E na quadra certa da lua. Muitos afirmavam – testemunhas oculares – da capacidade como rezador para espantar cobras. Reza forte, de coalidade. Os fazendeiros, quando as peçonhentas queriam tomar conta do terreiro, descobriam-no. Circulava nos três cantos da propriedade, deixando o quarto por onde as danadas escapariam. Preciso uma saída. Não podia matá-las, só espantá-las; segredos e mistérios, que não revelava a ninguém. Não tardava, diziam os que testemunharam, a infieira de cobras, de mamanu a caducanu, abandonava o território. – Mai só ieu pra entender onde pispiar a reza – outro alerta – segredo dos caboco, mistéro qui nun se conta, prumode nun perdê a sabença. Se a leseira de vento acontecia chamava-o de volta, estivesse onde estivesse. Assoviava, longo, e lá vinha ele, no modo de brisa. Devagar. Chegando. Dando voltas. Refrescava. E ia embora. Fiiiiiiiiuuuu... e o danado voltando. Matreiro, pedindo desculpas por ter ido tão cedo. 86 87 Segunda Parte V iagem às Cabeceiras do Colônia, experiência inédita. Fantástica para o nordestino afeito às estiagens, o que só antes conhecera. Não ainda à terra estranha. Mato e teimosia de chuva não faziam parte do imaginário. Não se aprende o que se desconhece. Seca, estiagem, terra rachada, isto sim. Aguaceiro encontrara em Ilhéus, coisa da região. Para ele inteiramente virgem. As matas faziam-no viajar sempre na sombra. Diferente da vegetação rarefeita, rala, aguada, diáfana, quando havia, típica de onde viera. Lá a macambira, o icó, o pau-de-rato, o gravatá, o sisal; aqui o jequitibá, o cedro, a peroba, o angico, a maçaranduba, o pequi, a aroeira, o jacarandá, a sapucaia, o ipê, o putumuju. Tudo profuso e imponente. Embaúbas e gameleiras sobrando, preguiças fartas e indolentes escolhendo onde comer. No distante, a mata catingueira, retorcida e emaranhada, não o protegia do sol escaldante. Ao contrário, dela se defendia, encourado. Aqui sombra, chuva. Tão densa que se tornava noite interior. A picada da estrada real, de pouca utilização, exigia de quando em quando ação. Deles. Com facão, foice. Às vezes machado. Zé Andrade, Justino e Guaxinim conheciam o trecho. Mocó em primeira ida. O angico também matara alguém pra mostrar serviço? Certamente. Falavam, à boca miúda, entre sussurros de temor, que fora gente de Coronel Basílio, de peso na defesa dos Mutuns. Alguns afirmavam-no cauaçu antes de arrebanhado para a luta contra os Badarós. Outros, rabudo sob comando direto do Coronel Marcionílo de Souza, peça de confiança muito próxima, presente na ocupação das vilas de Poções e Boa Nova. Talvez essa a razão de gostar de carne seca, assada no forno de lenha e batida no pano até fiapar, utilizada sobre o leite como se canela 88 89
Download