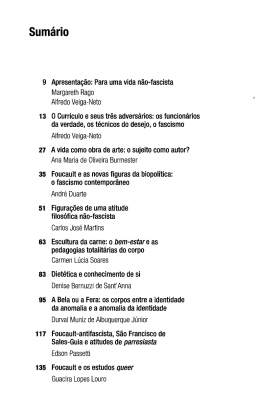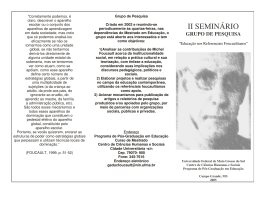verve verve Revista Semestral do Nu-Sol — Núcleo de Sociabilidade Libertária Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, PUC-SP 20 2011 VERVE: Revista Semestral do NU-SOL - Núcleo de Sociabilidade Libertária/ Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, PUC-SP. Nº20 ( Outubro 2011 - ). - São Paulo: o Programa, 2011 semestral 1. Ciências Humanas - Periódicos. 2. Anarquismo. 3. Abolicionismo Penal. I. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais. ISSN 1676-9090 VERVE é uma publicação do Nu-Sol – Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP (coordenadores: Silvia Helena Simões Borelli e Edison Nunes); indexada no Portal de Revistas Eletrônicas da PUC-SP, no Portal de Periódicos Capes e catalogada na Library of Congress, dos Estados Unidos. Editoria Nu-Sol – Núcleo de Sociabilidade Libertária. Nu-Sol Acácio Augusto, Aline Passos, Anamaria Salles, Andre Degenszajn, Beatriz Scigliano Carneiro, Edson Passetti (coordenador), Eliane Knorr de Carvalho, Gustavo Ferreira Simões, Gustavo Ramus, Leandro Alberto de Paiva Siqueira, Lúcia Soares da Silva, Luíza Uehara, Maria Cecília da S. Oliveira, Rogério H. Z. Nascimento, Salete Oliveira, Sofia Osório, Thiago M. S. Rodrigues. Conselho Editorial Alfredo Veiga-Neto (UFRGS), Cecilia Coimbra (UFF e Grupo Tortura Nunca Mais/RJ), Christina Lopreato (UFU), Clovis N. Kassick (UFSC), Doris Accioly (USP), Guilherme Castelo Branco (UFRJ), Heliana de Barros Conde Rodrigues (UERJ), Margareth Rago (Unicamp), Rogério H. Z. Nascimento (UFPB), Silvana Tótora (PUC-SP). Conselho Consultivo Christian Ferrer (Universidade de Buenos Aires), Dorothea V. Passetti (PUCSP), Heleusa F. Câmara (UESB), João da Mata (SOMA), José Carlos Morel (Centro de Cultura Social – CSS/SP), José Eduardo Azevedo (Unip), José Maria Carvalho Ferreira (Universidade Técnica de Lisboa), Maria Lúcia Karam, Nelson Méndez (Universidade de Caracas), Pietro Ferrua (CIRA – Centre Internationale de Recherses sur l’ Anarchisme), Robson Achiamé (Editor), Silvio Gallo (Unicamp), Stéfanis Caiaffo (Unifesp),Vera Malaguti Batista (Instituto Carioca de Criminologia). ISSN 1676-9090 verve revista de atitudes. transita por limiares e instantes arruinadores de hierarquias. nela, não há dono, chefe, senhor, contador ou programador. verve é parte de uma associação livre formada por pessoas diferentes na igualdade. amigos. vive por si, para uns. instala-se numa universidade que alimenta o fogo da liberdade. verve é uma labareda que lambe corpos, gestos, movimentos e fluxos, como ardentia. ela agita liberações. atiça-me! verve é uma revista semestral do nu-sol que estuda, pesquisa, publica, edita, grava e faz anarquias e abolicionismo penal. sumário 13 A Comuna Sébastien Faure A servidão voluntária revisitada: 23 a política radical e o problema da auto-dominação Saul Newman 49 Fluxos libertários e segurança Edson Passetti 85 Ética, direitos humanos e biopoder Cecília Maria Bouças Coimbra 101 O abolionismo menor de Louk Hulsman Anamaria Salles 121 Inclusão, exclusão, in/exclusão Alfredo Veiga-Neto e Maura Corcini Lopes 136 Das canções que animam rebeldes Acácio Augusto 153 O coração empurpurado, epistolário e história Christian Ferrer resenhas Do prazer da natureza 203 nas sociedades disciplinares Beatriz Scigliano Carneiro 208 Filosofar onde o rio é mais quente Salete Oliveira verve 20 nas insurreições, atravessando textos, imagens, perspectivas. lutas e invenções na comuna de paris, por sébastien faure, e na atualidade do anarquismo como afronta à servidão voluntária, por saul newman. insurreta analítica libertária da governamentalidade e da segurança contemporâneas, abrindo para experimentações livres e heterotópicas, por edson passetti. centelhas... fogo! cecília coimbra problematiza os direitos e sua história diante do biopoder e a partir da experiência da ditadura civil-militar no brasil. contra a profusão de direitos e das correlatas punições, anamaria salles apresenta o abolicionismo penal de louk hulsman, naquilo que ele tem de mais incisivo e libertário. o duplo in/exclusão, marca do modo de governar neoliberal, é exposto, pela perspectiva das políticas de educação, por alfredo veiga-neto e maura corcini lopes. a memória de lutas singulares emerge na página única do nu-sol sobre o bravo paulo resende e no texto de acácio augusto sobre redson e os inícios do anarco-punk no brasil. páginas únicas com hypomnemata para explicitar como se dão roubos e capturas na sociedade de controle e com poema inédito de roberto bolaño, escolhendo a liberdade de ser o que se quer ser. christian ferrer nos conta da paixão com sangue e política entre américa e severino enquanto, nas resenhas, beatriz carneiro e salete oliveira falam de homens, que em tempos distintos, ousam pensar o espaço e o próprio pensamento com liberdade e calor. imagens de pequenos-guerreiros, livres crianças, aquecem a revista com verve; que se espraia, quente e eletrônica, em verve dobras... ... no calor do embate das forças, dos fluxos e das centelhas na segurança. imagens helena degenszajn (aos 3 anos): 2, 6, 7 filipe de oliveira (aos 7 e 8 anos): 4, 5 manuela passetti (aos 2 e 3 anos): 1, 3, 8 1 A Comuna (História da), 18 de março – 29 de maio de 1871 Mesmo na França, a história da “Comuna” é pouco conhecida. Em princípio, e principalmente nas aldeias rurais, a população só possui a respeito da “Comuna” uma vaga impressão de insurreição, de pilhagem, de incêndio e violência assassina. Nos centros importantes e nas aglomerações operárias, onde a propaganda socialista, sindical e anarquista penetrou mais ou menos profundamente, fala-se da “Comuna” com certo respeito e a opinião pública, durante tanto tempo extraviada pela imprensa conservadora, chegou a uma apreciação mais saudável desse grande fato histórico. Em Paris, com exceção dos meios que, sistematicamente e por um instinto de classe, condenam e odeiam tudo que vem do povo, da democracia ou das classes operárias, a lembrança da Comuna provoca as mais ardentes simpatias e, no mundo socialista e revolucionário, o mais vivo entusiasmo. Todo ano, na segunda quinzena de maio, a lembrança da “Semana Sangrenta” é comemorada, e são dezenas e dezenas de milhares que desfilam diante do Muro contra o qual, encostados, acuados, queimando seus últimos cartuchos, caíram heroicamente os últimos combatentes da “Comuna”. No estrangeiro, esse acontecimento de grande importância é ainda menos conhecido, não evocando qualquer interesse ou suscitando qualquer emoção, salvo nas cidades muito grandes, onde os partidos socialistas, as organizações sindicais e os agrupamentos anarquistas possuem numerosos adeptos. A existência da Comuna foi extremamente breve: ela nasceu em 18 de março de 1871 e morreu em 29 de maio do mesmo ano; portanto, viveu apenas dois meses. Na origem, ela não era um movimento revolucionário. O povo de Paris acabara de sofrer um longo e doloroso sítio. Todas as privações, todos os lutos, todas as angústias, todos os sofrimentos passíveis de serem vividos por uma população aprisionada durante vários meses num círculo de ferro e fogo, tinham-lhe sido impostos por um governo militar, cuja imperícia fora tão manifesta que, por diversas vezes, os sitiados tiveram a impressão de que haviam sido traídos. Profundamente patriotas, os habitantes de Paris ficaram extremamente mortificados com a derrocada do exército francês durante a guerra de 1870-71, que não passou de uma série de derrotas massacrantes; além disso, os mesmos indivíduos — generais, diplomatas, membros do governo — que haviam solenemente jurado preferir morrer a se render, acabavam de assinar uma paz que os patriotas consideravam vergonhosa: em suma, era visível que o governo encabeçado pelo execrável Thiers, antigo ministro da Monarquia de julho, urdia intrigas para restaurar o Império que, em 4 de setembro de 1870, desmoronara sob o desprezo público. Foi nessas circunstâncias que Thiers, chefe do poder executivo, resolveu e deu ordem para desarmar esse povo de Paris, que parecia determinado a defender a República e cuja irritação lhe suscitava vivas inquietações. Ordenou que fossem retomados da Guarda Nacional alguns canhões que ela ainda possuía na colina de Montmartre. Essa ordem teve efeito explosivo, levando à exasperação do descontentamento popular. Em 18 de março, inicia-se o combate entre a Guarda Nacional e as tropas regulares. Amedrontado, o Governo deixa Paris e refugia-se em Versalhes, levando com ele as tropas regulares e colocando-se sob sua proteção. Imediatamente, o Comitê Central da Guarda Nacional proclama a independência da Comuna de Paris e lança uma proclamação convocando as outras cidades da França a fazerem o mesmo. Em 26 de março, o governo da Comuna foi eleito e decidiu sustentar uma luta sem trégua contra o governo sediado em Versalhes. Do outro lado, o governo de Versalhes tomou suas providências para sufocar a insurreição. De início, solicitou e obteve do estado-maior prussiano a autorização de elevar a cem mil homens, e depois a duzentos e cinquenta mil, seus efetivos militares. E, a partir de 2 de abril, as hostilidades começaram e prosseguiram entre Paris e Versalhes. Apesar de um heroísmo realmente incomparável, as tropas parisienses foram inapelavelmente dissolvidas e dizimadas. Em 21 de maio, o exército de Versalhes entrava em Paris, graças à traição. Bairro por bairro, rua por rua e, pode-se dizer, a cada metro quadrado de terreno, os Federados resistiram à invasão. Mas, esmagados pelo número, o equipamento bélico e as forças que lhes eram opostas, acabaram vencidos, a despeito de uma extraordinária valentia e de um combate grandioso. Foi esse o ponto de partida para os vencedores exercerem a mais cruel repressão, a mais implacável registrada pela história. Os documentos oficiais acusam trinta e cinco mil pessoas fuziladas sumariamente. Crianças, mulheres, velhos, foram selvagemente maltratados, sem interrogatório, sob uma simples suspeita, uma denúncia, uma palavra, um gesto, um olhar, pela abominável satisfação de se ver o sangue correr, de se exterminar uma raça de revoltados e para se dar o exemplo. Ocorre uma inacreditável orgia de assassinato, cujo relato é impossível ler sem estremecer. É esta, resumida em suas grandes linhas a história da “Comuna”. A opinião mais difundida e que tentaram atribuir aos historiadores do Movimento Comunalista de março-maio 1871 é de que esta insurreição sucumbiu sob o peso de seus próprios excessos. Entre todas as apreciações suscitadas pela “Comuna” esta é, incontestavelmente, a mais inadmissível. Não! Muito pelo contrário, não foram seus excessos, mas sim a timidez, a moderação, a falta de resolução, firmeza e audácia que fizeram morrer a “Comuna”. O Governo da “Comuna” quis ser um governo como todos os outros: legal, regular, respeitando a si próprio e forçando o povo a respeitar as instituições estabelecidas. Ele deu mostras de generosidade, de humanismo, de probidade. Assim, fez levar até Versalhes, ou seja, para o inimigo, o dinheiro do Banco da França. Assim, ele manifestou em todas as circunstâncias um respeito inimaginável pela Propriedade e por todos os privilégios capitalistas. Ele se vangloriava de, com essa atitude, tranquilizar o governo de Versalhes, favorecendo desta forma a composição. É justo reconhecer que o governo da “Comuna” era composto dos mais diversos elementos e que, com exceção de uma pequena minoria, representando o blanquismo e o espírito da Internacional dos Trabalhadores, os membros desse governo encontravam-se imbuídos dos princípios de Autoridade e de Propriedade e que, além disso, não tinham qualquer programa inspirado numa ideia mestra, uma Doutrina diretora. Em suma, os chefes da “Comuna” — todos dotados de um patriotismo ardente, na maioria profundamente republicanos e apenas alguns socialistas — não tiveram consciência do que deveriam ter feito para enfrentar a ralé governamental que, de Versalhes, comandava toda a França, depois de ter tido o cuidado de isolar Paris. De um lado, os insurgentes de 18 de março perderam um tempo precioso com o jogo pueril de eleições regulares, quando deveriam ter organizado, sem perder nenhum dia, a vida econômica da capital cuja população já se encontrava esgotada pelos rigores de um sítio prolongado. De outro, deveriam ter se apossado do tesouro guardado nos porões e cofres do Banco da França, confiscado os bens mobiliários e imobiliários dos rentistas, proprietários, industriais, comerciantes e outros parasitas, sendo que esse confisco teria sido facilitado pelo fato de que a maioria deles, cedendo a um enorme pânico, havia fugido precipitadamente de Paris, submetido ao poder dos insurgentes. Finalmente, eles deveriam ter respondido golpe a golpe aos ataques dos versalheses, tentado o impossível para quebrar o círculo infernal no qual Thiers esforçava por aprisioná-los; deveriam ter tomado e aplicado medidas que semeassem o pânico nas fileiras da reação versalhesa, o que entusiasmaria e faria crescer a confiança na consciência dos deserdados. Apesar de seus erros e falhas, a “Comuna” deixou na história revolucionária da humanidade uma página luminosa, cheia de promessas e ensinamentos. Várias notáveis decisões e pensamento e várias exemplares, que as tentativas tanto inspirou, em razão quanto são do das indicações que podem delas ser retiradas. Citarei duas dessas tentativas, marcadas de um caráter revolucionário. A primeira é de 20 de março de 1871: é o ato pelo qual Paris afirma-se como comuna livre e convida as outras cidades da França para que também se constituam como comunas independentes. Deve-se ver aí um primeiro marco da futura Revolução: a abolição do Estado centralizador e onipotente, com a Comuna tornando-se a base da organização federalista que substitui o centralismo do Estado. A segunda é de 16 de abril. É um decreto com o seguinte texto: “Considerando que uma grande quantidade de oficinas foi abandonada por aqueles que as dirigiam, para escapar das obrigações cívicas, sem levar em conta interesses dos trabalhadores, e que, em seguida a este covarde abandono, numerosos trabalhos essenciais à vida comunal encontram-se interrompidos, e a existência dos trabalhadores comprometida, a ‘Comuna’ decreta que as Câmaras sindicais levantarão uma estatística das oficinas abandonadas, assim como um inventário dos instrumentos de trabalho que elas contêm, para conhecer as condições práticas para a imediata exploração dessas oficinas pela associação cooperativa dos trabalhadores nelas empregados.” Um bom caminho já foi percorrido desde este 16 de abril de 1871, e é permitido taxar esse decreto de excessivamente tímido e moderado. É evidente que em nossos dias uma insurreição vitoriosa, ou melhor dizendo, a Revolução social, não terá a ingênua fraqueza de agir através de decretos. Ela irá se apossar, brutalmente e sem formalidades, dos instrumentos de trabalho, das matérias-primas e de todos os modos de produção de que tiverem sido despossuídos os detentores capitalistas ou que estes tiverem a “covardia” de abandonar. Mas é preciso notar que nesse decreto — por mais moderado e tímido que seja considerado e que, de fato, seja — há a proclamação do direito, e diria mesmo do dever, que os produtores têm de se apossar, sem qualquer outra forma de processo, da terra, da fábrica, do canteiro de obras, da manufatura, das estações, do escritório, da loja, em uma palavra, de tudo que representa, sob qualquer título, a vida econômica da qual são a alma, os agentes e os auxiliares indispensáveis e soberanos. Organização política tendo como base o núcleo comunal e como método o federalismo. Organização econômica repousando inteiramente sobre a produção garantida e assegurada pelos próprios trabalhadores, que se apossaram de todos os meios de produção, de transporte e de distribuição. É verdade que “A Comuna” não realizou esses dois pontos fundamentais de qualquer verdadeira transformação social; mas ela forneceu sua preciosa indicação essencial e desta maneira um esboço do que deve ser, do que será a Revolução social de amanhã. Não quero terminar esta exposição excessivamente curta sem prestar homenagem à valentia heroica com a qual, até o último minuto, lutaram os defensores da “Comuna”. Mesmo na hora em que toda a esperança de vitória estava perdida, mesmo no trágico minuto em que sabiam que só lhes restava sucumbir, eles sacrificaram suas vidas, sem hesitação e com a cabeça erguida, lamentando mais a morte da “Comuna” que a sua própria. Se no dia da Revolução os revolucionários e anarquistas lançarem-se ao coração da batalha com o mesmo ardor e a mesma feroz resolução, com a mesma inquebrantável determinação de vencer ou de morrer, é certo que nada lhes resistirá. Tradução do francês por Martha Gambini. [L’Encyclopédie Anarchiste, Tome 1, Paris, La Librairie, 1934] verve A servidão voluntária revisitada... a servidão voluntária revisitada: a política radical e o problema da auto-dominação saul newman Introdução Nesse artigo, irei explorar a genealogia de um discurso político contra-soberano que parte da questão “por que obedecemos?”. Esta questão, inicialmente colocada pelo filósofo Etienne de La Boétie em suas investigações acerca da tirania e da nossa servidão voluntária a ela, parte da posição oposta à problemática da soberania demarcada por Bodin e Hobbes. Além disso, permanece um problema central e ainda não resolvido no pensamento político que trabalha necessariamente dentro do horizonte ético da emancipação do poder político. Acredito que para enfrentar o problema da servidão voluntária seja necessário explorar novas formas de subjetividade, ética e práticas políticas pelas quais nossos vínculos subjetivos ao poder sejam interrogados; e investigo essas possibilidades pela tradição revolucionária do anarquismo, e por um compromisso com a teoria psicanalítica. Minha argumentação Saul Newman é professor no Departamento de Política do Goldsmiths College, da Universidade de Londres. verve, 20: 23-48, 2011 23 20 2011 aqui é que não podemos enfrentar o problema da servidão voluntária sem uma crítica da idealização e identificação, e aqui volto-me a pensadores como Max Stirner, Gustav Landauer e Michel Foucault, que desenvolveram, de maneiras diferentes, uma micropolítica e uma ética da liberdade que visa desfazer os vínculos entre o sujeito e o poder. A Impotência do Poder A questão colocada por Etienne de La Boétie em meados do século XVI no Discurso da Servidão Voluntária, ou O Contra Um segue atual e pode, ainda, ser considerada como uma questão política fundamental: “No momento, gostaria apenas que me fizessem compreender como é possível que tantos homens, tantas cidades, tantas nações, às vezes suportem tudo de um Tirano só, que tem apenas o poderio que lhe dão, que não tem o poder de prejudicá-los senão enquanto aceitam suportá-lo, e que não poderia fazer-lhes mal algum se não preferissem, a contradizê-lo, suportar tudo dele”. 1 La Boétie observa o vínculo subjetivo que nos amarra ao poder, que nos domina, encanta e seduz, cega e hipnotiza. A lição fundamental é que o poder não depende da coerção, mas, na realidade, se apóia no nosso poder. É o nosso consentimento ativo ao poder que constitui, ao mesmo tempo, esse poder. Portanto, para La Boétie, para resistir ao tirano basta que o ignoremos, que deixemos de apoiá-lo e percebamos que é pelo encantamento ilusório que o poder se articula para lançar sobre nós — uma ilusão da qual participamos — sua fraqueza e vulnerabilidade. Por isso, a servidão é uma condição produzida por nós — ela é inteiramente voluntária; e basta o desejo de não 24 verve A servidão voluntária revisitada... mais ser subjugado, a vontade de ser livre, para que nos liberemos desta condição. O problema da servidão voluntária é exatamente oposto àquele levantado por Hobbes um século depois. Se para La Boétie não é natural que sejamos sujeitados ao poder absoluto, para Hobbes não é natural que vivamos em qualquer outra condição; para Hobbes, a anarquia do estado de natureza é precisamente uma situação não natural e intolerável. Deste modo, a problemática da auto-dominação de La Boétie inverte toda uma tradição da teoria política baseada na legitimação da soberania — uma tradição que ainda está muito presente nos dias de hoje. La Boétie parte de uma posição oposta, que é a da primazia da liberdade, auto-determinação e vínculos naturais de família e companheirismo, como opostos aos vínculos artificiais e não-naturais de dominação política. A liberdade [liberty] é algo que deve ser protegido não tanto daqueles que impõem suas vontades sobre nós, mas da nossa própria tentação de renunciar a ela, de sermos deslumbrados pela autoridade, de trocarmos nossa liberdade por riquezas, cargos, favores, e assim por diante. Por isso, o que deve ser explicado é a ligação patológica ao poder que afasta o desejo natural pela liberdade [liberty] e os enlaces livres que existem entre as pessoas. No entanto, as explicações de La Boétie para a servidão voluntária não são inteiramente adequadas ou convincentes: ele a atribui a algo como uma degeneração, pela qual os homens livres se tornam afeminados ou covardes, o que permite que outro os domine. Contudo, acredito que ele levante uma das questões fundamentais para a política — e especialmente para a política radical — a saber, por que as pessoas de alguma maneira desejam sua própria dominação? Essa questão inaugura uma teoria política contra-so25 20 2011 berana, uma linha de investigação libertária que é tomada por muitos pensadores. Wilhelm Reich, por exemplo, em sua análise freudiano-marxista da psicologia de massas do fascismo, apontou para um desejo de dominação e de autoridade que não poderia ser adequadamente explicado pela categoria marxista de falsa consciência ideológica.2 Pierre Clastres, o antropólogo da liberdade [liberty], notou o valor de La Boétie ao mostrar a possibilidade da dominação não ser algo inevitável; que a servidão voluntária é resultado de um infortúnio histórico (ou pré-histórico), uma certa queda original, um lapso da condição primitiva de liberdade e sem Estado para uma sociedade dividida entre dominantes e dominados. Aqui, o homem ocupa a posição de inominável (nem homem, nem animal): tão alienado da sua liberdade natural que escolhe livremente, deseja, a servidão — um desejo que era completamente desconhecido nas sociedades primitivas.3 Acompanhando as considerações de Clastres, Gilles Deleuze e Félix Guattari investigaram a emergência do Estado e o modo pelo qual ela não depende tanto, ou não inteiramente, da dominação violenta e da captura, mas da auto-dominação do sujeito no nível do seu desejo — uma repressão que é em si mesma desejada. O Estado age conduzindo o desejo dos sujeitos por meio de estruturas de pensamento autoritárias e hierárquicas e modos de individuação.4 Além disso, o situciacionista Raoul Vanegeim mostrou, em uma análise que se assemelha muito à de La Boétie, que a nossa obediência é comprada e sustentada por pequenas compensações, um pouco de poder como pagamento pela humilhação da nossa própria dominação: “Os escravos não querem ser escravos por muito tempo se não são compensados por sua submissão com um fragmen26 verve A servidão voluntária revisitada... to de poder: toda submissão implica no direito de uma quantia de poder, e não há poder que não enseje um grau de submissão. É por isso que alguns aceitam tão facilmente serem governados”.5 Outra Política...? O problema da auto-dominação nos mostra que a conexão entre política e subjetivação deve ser minuciosamente investigada. Criar novas formas de política — que é a tarefa teórica fundamental nos dias de hoje — exige novas formas de subjetividade, novos modos de subjetivação. Além disso, enfrentar a servidão voluntária implicará novas estratégias políticas e certamente uma maneira diferente de entender a própria política. Com razão, La Boétie reconhece o potencial para dominação em qualquer democracia: o líder democrático, eleito pelo povo, se intoxica com seu próprio poder e oscila cada vez mais em direção à tirania. De fato, podemos analisar a própria democracia moderna como um exemplo de servidão voluntária em nível de massa. Não tanto porque participamos de uma ilusão pela qual somos enganados pelas elites para pensar que nós temos voz ativa nas tomadas de decisões. Ao contrário, a própria democracia estimulou um massivo contentamento com a impotência e o amor geral à submissão. Como alternativa, La Boétie afirma a ideia de uma república livre. No entanto, indica que o inverso da servidão voluntária não seja a república livre, mas uma forma completamente diferente de política. As repúblicas livres têm sua própria forma de dominação, não apenas em suas leis, mas nas regras das classes ricas e proprietárias sobre as pobres. Ao contrário, quando consideramos formas al27 20 2011 ternativas de política, quando pensamos em meios para ordenar e maximizar possibilidades de não dominação, penso que devemos considerar a política do anarquismo — que é uma política da anti-política, uma política que busca a abolição das estruturas de poder político e da autoridade centralizada no Estado. O anarquismo, a filosofia política radical mais herética, tem há muito tempo uma existência marginalizada. Isso se deve, em parte, à sua natureza heterodoxa, pelo fato de não poder ser englobado em um único sistema de ideias ou estrutura de pensamento, mas, ao contrário, refere-se a um conjunto diverso de ideias, a abordagens filosóficas, práticas revolucionárias e movimentos e identidades históricas. No entanto, o pensamento anarquista deve ser reconsiderado dentre todas as tradições radicais, pois é o mais sensível aos perigos do poder político, ao potencial de autoritarismo e dominação contido em qualquer programa político ou instituição. Nesse sentido, é particularmente atento aos vínculos pelos quais as pessoas estão ligadas ao poder. É por isso que, diferente dos marxista-leninistas, os anarquistas sustentam que o Estado deve ser abolido nos primeiros estágios da revolução: se, por um lado, o poder do Estado for apreendido por uma vanguarda e exercido — sob a “ditadura do proletariado” — para revolucionar a sociedade, ele, em vez de definhar, vai expandir em escala e em poder, engendrando novas contradições de classes e antagonismos. Em outras palavras, pensar que o Estado seja algo como um mecanismo neutro que poderia ser usado como ferramenta de libertação caso a classe correta o controlasse seria, de acordo com os anarquistas clássicos do século XIX — envolvidos como estavam em grandes debates com Marx —, uma pura fantasia que ignoraria a emaranhada lógica da dominação 28 verve A servidão voluntária revisitada... de Estado e as tentações e seduções do poder político. Foi por isso que o anarquista russo Piotr Kropotkin insistiu para que o Estado seja examinado como uma estrutura de poder específica que não pode ser reduzida aos interesses de uma classe particular. E — em sua própria essência — dominador: “E há aqueles que, como nós, vêem no Estado não apenas na sua forma efetiva e em todas as formas de dominação que ele possa assumir, mas em sua própria essência, um obstáculo para a revolução social”.6 Além disso, o poder do Estado se perpetua pelo vínculo subjetivo que ele forma com aqueles que pretendem controlá-lo, pela influência corrupta que exerce sobre eles. Nas palavras de outro anarquista, Mikhail Bakunin, “nós obviamente somos socialistas e revolucionários sinceros e ainda assim, se estivéssemos dotados de poder [...] não estaríamos onde estamos agora”. 7 Essa crítica inflexível ao poder político, e à convicção de que a liberdade não pode ser concebida dentro da estrutura do Estado, distingue o anarquismo das outras filosofias políticas. Ele contrasta com o liberalismo, que é na realidade uma política da segurança, na qual o Estado se torna necessário para proteger a liberdade individual da liberdade alheia: de fato, a atual securitização do Estado por meio do estado de exceção permanente revela a verdadeira face do liberalismo. A esse respeito, difere-se também do socialismo, que vê o Estado como fundamental para tornar a sociedade mais igualitária e cujo declínio final pode ser testemunhado pelo triste destino dos partidos social-democratas de hoje com seu centralismo autoritário, seu fetiche com a lei e a ordem e sua absoluta cumplicidade com o neoliberalismo global. Além disso, o anarquismo deve ser distinguido do leninismo revolu29 20 2011 cionário, que hoje representa um modelo completamente ultrapassado de política radical. Então, o que define o anarquismo é sua recusa ao poder de Estado, mesmo o da estratégia revolucionaria de tomada do poder de Estado. Em vez disso, o foco do anarquismo está na auto-emancipação e na autonomia, algo que não pode ser alcançado por vias parlamentares democráticas ou por vanguardas revolucionárias, mas sim pelo desenvolvimento de práticas alternativas e relações baseadas na associação livre, liberdade equitativa e cooperação voluntária. É pela sua alteridade ou exterioridade a qualquer modelo de política centrada no Estado que o anarquismo tem sido amplamente menosprezado na tradição política radical. Ainda assim, diria que atualmente nos encontramos em um momento politicamente anarquista. Com o ocaso do projeto socialista de Estado e do leninismo revolucionário, e com a democracia liberal resumindo-se a uma mera política de segurança, a política radical atual tende a se situar cada vez mais fora do Estado. O ativismo radical contemporâneo parece refletir certas orientações anarquistas em sua ênfase nas redes descentralizadas e na ação direta, ao invés de lideranças partidárias e representação política. Há certo descomprometimento com o poder de Estado, um desejo de pensar e agir além de suas estruturas, na direção a uma maior autonomia. Essas tendências estão se tornando mais pronunciadas na atual crise econômica, algo que aponta para os próprios limites do capitalismo, e certamente para o fim do modelo econômico neoliberal. A resposta para as falhas do neoliberalismo é mais intervenção estatal. É um absurdo falar no retorno do Estado regulador: na verdade, o Estado nunca se retirou do neoliberalismo e toda a ideologia 30 verve A servidão voluntária revisitada... do “libertarismo” econômico ocultou um desdobramento muito mais intenso do poder de Estado no domínio da segurança e na regulação, disciplinarização e vigilância da vida social. Além disso, está claro que o Estado não irá nos ajudar na atual situação; não há porque buscar por sua proteção. De fato, o que está emergindo é algo como um afastamento do Estado; as futuras insurreições desafiarão a hegemonia do Estado, que nos governa cada vez mais pela lógica da exceção. Ademais, a relevância do anarquismo é também refletida em nível teórico. Muitas questões e preocupações dos pensadores contemporâneos continentais,8 por exemplo — a ideia de formas de política não-estatais, não-partidárias e pós-classistas; o aparecimento de multidões e assim por diante — parecem evocar uma política anarquista. De fato, é particularmente evidente na busca por um novo sujeito político: as multidões de Michael Hardt e Antonio Negri, o povo para Ernesto Laclau, a excluída parte-da-não-parte para Jacques Rancière, a figura do militante para Alain Badiou; tudo isso reflete uma tentativa de pensar novos modos de subjetividade que talvez sejam mais amplos e menos restritivos do que a categoria de proletariado tal como foi politicamente constituída pela vanguarda marxista-leninista. Uma abordagem similar à subjetividade política foi colocada pelos anarquistas no século XIX, afirmando que a noção marxista de classe revolucionária era exclusivista e que buscaram incluir o campesinato e o lúmpen-proletariado como identidades revolucionárias.9 No meu ponto de vista, o anarquismo é a “ponta solta” no pensamento político contemporâneo ocidental — uma presença espectral que nunca foi verdadeiramente reconhecida. 10 31 20 2011 O sujeito anarquista O anarquismo é uma política e ética na qual o poder é continuamente interrogado em nome da liberdade [freedom] humana, e na qual a existência humana é firmada na ausência de autoridade. No entanto, isso levanta a questão se há um sujeito anarquista como tal. Aqui, gostaria de reconsiderar o anarquismo a partir do problema da servidão voluntária. Embora os anarquistas clássicos não fossem desconhecedores da vontade de poder que reina no coração do ser humano — que é o motivo pelo qual eles eram tão perspicazes na abolição das estruturas de poder que incitariam tais desejos — o problema da auto-dominação, o desejo pela sua própria dominação, permaneceu insuficientemente teorizado no anarquismo. 11 Para os anarquistas dos séculos XVIII e XIX — como William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin —, condicionados como estavam pelos discursos racionalistas do humanismo iluminista, o ser humano deseja naturalmente a liberdade [freedom]; por isso, a revolução contra o poder do Estado fez parte da narrativa racional da emancipação humana. Os constrangimentos externos e artificiais do poder de Estado seriam descartados para que as propriedades morais e racionais fundamentais do homem pudessem ser expressas e para que a sociedade pudesse ficar em harmonia consigo mesma. Há uma certa oposição maniqueísta pressuposta no pensamento anarquista clássico, entre a sociedade humana governada pelas leis naturais, e o poder político e as leis feitas pelo homem, expressas no Estado, que são artificiais, irracionais e impedem o livre desenvolvimento das forças sociais. Há, além disso, uma sociabilidade inata ao homem — uma tendência natural, como analisou Kropotkin, em direção à ajuda mútua e à cooperação — que 32 verve A servidão voluntária revisitada... foi distorcida pelo Estado, mas que se caso fosse livre para se desenvolver produziria uma harmonia social na qual o Estado se tornaria desnecessário.12 Enquanto a ideia de uma sociedade sem Estado, sem soberania e sem leis for desejável, e digo mais, for o horizonte final da política radical, e enquanto não houver dúvidas de que a autoridade política e legal é um estorvo na vida social e na existência humana em geral, o que tende a ficar obscuro na separação ontológica entre sujeito e poder é o problema da servidão voluntária — que indica a cumplicidade mais problemática entre o sujeito e o poder que o domina. Levando isso em consideração, para explicar a vontade pela auto-dominação e para desenvolver estratégias — éticas e políticas — para enfrentá-la, seria preciso propor uma teoria anarquista da subjetividade, ou pelo menos uma teoria mais desenvolvida que a encontrada no pensamento anarquista clássico. Isso também implicaria em um movimento para além das categorias essencialistas e racionalistas do anarquismo clássico, um movimento que em outro lugar chamei de pós-anarquismo.13 Não quero dizer com isso que os anarquistas clássicos foram necessariamente ingênuos a respeito da natureza humana ou da política; ao contrário, afirmo que o seu humanismo e racionalismo resultaram em algo como que um ponto-cego em torno da questão do desejo, cuja natureza escura, convulsionada e autodestrutiva seria posteriormente revelada pela psicanálise. Psicanálise e ligações apaixonadas É importante, então, analisar a ligação subjetiva ao poder no nível da psique.14 Uma dependência psicológica do 33 20 2011 poder, investigada por freudiano-marxistas como Marcuse e Reich,15 mostrou que as possibilidades de uma política emancipatória são, às vezes, comprometidas por desejos autoritários ocultos; que há sempre um risco da emergência de práticas autoritárias e hierárquicas e de instituições nas sociedades pós-revolucionárias. O lugar central do sujeito — na política, e na filosofia — não é abandonado aqui, mas ampliado. Projetos políticos radicais, por exemplo, tem que lutar contra as ambiguidades do desejo humano, contra comportamentos sociais irracionais, contra motivações violentas e agressivas, e até mesmo contra desejos inconscientes de autoridade e dominação. Não estou sugerindo que a psicanálise seja necessariamente, política ou socialmente, conservadora. Ao contrário, sustento que seja central à psicanálise um ethos libertário pelo qual o sujeito busca obter maior autonomia, e pelo qual o sujeito é estimulado, pelas regras da “livre associação”, a dizer a verdade do inconsciente.16 Insistir no “lado negro” da psique humana — em sua dependência do poder, sua identificação com figuras autoritárias, seus impulsos agressivos — pode servir como um alerta a qualquer projeto revolucionário que busque transcender a autoridade política. Esta foi a mesma questão colocada por Jacques Lacan em resposta ao radicalismo do Maio de 68: “a aspiração revolucionária tem apenas um efeito possível — de acabar como um discurso mestre. É isso que a experiência provou. O que você aspira como revolucionário é um mestre. Você terá um”.17 O que Lacan está sugerindo é com este sinistro prognóstico — que poderia ser superficialmente, embora, no meu ponto de vista, incorretamente, interpretado como politicamente conservador — é a conexão oculta, até mesmo a dependência entre o sujeito 34 verve A servidão voluntária revisitada... revolucionário e a autoridade; e o modo pelo qual os movimentos de resistência e até de revolução podem, de fato, sustentar a eficiência simbólica do Estado, reafirmando ou reinventando a posição da autoridade. A psicanálise não retira, de maneira alguma, a possibilidade da emancipação humana, de sociabilidade e cooperação voluntária: de fato, ela mostra as tendências conflitantes no sujeito entre desejos agressivos de poder e dominação, e o desejo de liberdade [freedom] e coexistência harmoniosa. Como afirma Judith Butler, além disso, a psique — como uma dimensão do sujeito que não é redutível ao discurso e ao poder, e que o excede — é algo que pode ser explicado não só pelas nossas ligações apaixonadas pelo poder e (referindo-se a Foucault) a modos de subjetivação e comportamentos regulatórios que o poder nos impõe, mas também a nossa resistência a eles.18 Identificação do Ego Um dos insights da psicanálise, algo que foi revelado, por exemplo, no estudo de Freud sobre a psicodinâmica de grupos, foi o papel da identificação na constituição de relações hierárquicas e autoritárias. Na relação entre o membro de um grupo e a figura do líder, há um processo de identificação, semelhante ao amor, no qual o indivíduo tanto idealiza quanto se identifica com o líder como um “tipo ideal”, ao ponto que o objeto de devoção chega a suplantar o ideal de ego do indivíduo.19 É essa idealização que constitui o vínculo subjetivo não apenas entre o indivíduo e o líder do grupo, mas também com os outros membros do grupo. Então, a idealização se torna uma maneira de entender a submissão voluntária à vontade de líderes autoritários. 35 20 2011 No entanto, nós também precisamos entender o lugar da idealização na política no sentido mais amplo, e é aqui que afirmaria que o pensamento do filósofo jovem hegeliano Max Stirner torna-se importante. A crítica de Stirner ao humanismo de Ludwig Feuerbach permite-nos confrontar o problema da auto-dominação. Stirner mostra que o projeto feuerbachiano de substituir Deus pelo Homem — de inverter o sujeito e o predicado para que o humano se torne a medida do divino ao invés do divino a do humano20 — apenas reafirmou a autoridade e a hierarquia religiosa ao invés de afastá-la. Portanto, a “insurreição humanista” de Feuerbach apenas teve êxito em criar uma nova religião — o Humanismo — que Stirner associa a uma certa escravização de si. O ego individual está agora dividido entre ele mesmo e uma forma idealizada de si agora consagrada na ideia de essência humana — um ideal que está ao mesmo tempo fora do indivíduo, tornando-se uma moral abstrata e um espectro racional pelo qual ele mede a si mesmo e se subordina. Segundo Stirner: “Homem, tens a cabeça cheia de fantasmas [...] Imaginas coisas grandiosas e inventas todo um mundo de deuses à tua disposição, um reino de espíritos que te chama, um ideal que te acena”.21 Para Stirner, a subordinação de si a esses ideais abstratos (“ideias fixas”) tem implicações políticas. Em sua análise, humanismo e racionalismo se tornam os princípios discursivos pelos quais o desejo do indivíduo está vinculado ao Estado. Isso ocorre, por exemplo, pela identificação com os papéis de cidadania definidos pelo Estado. Além disso, para Stirner, em uma linha de pensamento que aproxima paralelos com La Boétie, o próprio Estado é uma abstração ideológica que só existe porque permitimos que ele exista, porque abdicamos do nosso poder sobre nós mesmos ao 36 verve A servidão voluntária revisitada... que ele chama de “princípio de domínio”. Em outras palavras, é a ideia de Estado, de soberania, que nos domina. O poder do Estado é na realidade baseado no nosso poder, e é só porque o indivíduo não reconhece esse poder, porque ele se humilha diante de uma autoridade política externa, que o Estado continua a existir. Como Stirner corretamente supôs, o Estado não pode funcionar apenas pela repressão e coerção; ao contrário, o Estado depende da nossa permissão para sermos dominados. Stirner quer mostrar que os dispositivos ideológicos não estão preocupados apenas com questões econômicas ou políticas — eles também se firmam em necessidades psicológicas. A dominação do Estado, diz Stirner, depende da nossa vontade de deixá-lo dominar: “de que te servem as suas leis se ninguém as segue? E as suas ordens, se ninguém lhes obedece? [...] O Estado não é imaginável sem dominação [Herrschaft] e opressão [Knechtschaft] (sujeição); [...] Mas quem tem de contar com a ausência de vontade em outros para subsistir é apenas um produto imperfeito deles, tal como o senhor é um produto imperfeito do escravo. Se acabasse a sujeição, a dominação teria os dias contados”. 22 Stirner foi impiedosa e implacavelmente criticado por Marx e Engels como “São Max” em A Ideologia Alemã: eles o acusaram do pior tipo de idealismo, de ignorar a economia e as relações de classes que formam a base material do Estado, o que lhe permitiria deixar de existir por um simples desejo. No entanto, o que falta nessa crítica é valorizar a análise de Stirner ao destacar o vínculo subjetivo da servidão voluntária que sustenta o poder de Estado. Não que ele afirme que o Estado não exista no senso material, mas que a sua existência é sustentada e suplementada por um vínculo psíquico e uma dependência desse poder, assim como o re37 20 2011 conhecimento e a idealização da sua autoridade. Qualquer crítica ao Estado que ignore essa dimensão da idealização subjetiva está sujeita a perpetuar esse poder. O Estado deve primeiro ser superado como uma ideia para que depois possa ser superado na realidade; ou, mais precisamente, esses são os dois lados do mesmo processo. A importância da análise de Stirner — que se ajusta muito bem à tradição anarquista, embora rompa com o essencialismo humanista de modo relevante23 — consiste em explorar esta auto-sujeição voluntária que forma o outro lado da política, a qual a política radical deve encontrar estratégias para combater. Para Stirner, o indivíduo apenas pode se libertar da servidão voluntária se ele abandonar todas as identidades essenciais e se enxergar como um vazio radicalmente auto-criador: “Quanto a mim, parto de um pressuposto, que sou eu proprietário; mas este meu pressuposto não aspira à perfeição, como o ‘homem que luta pela sua perfeição’, mas serve-me simplesmente para dele desfrutar e para o consumir [...] Eu não me pressuponho, porque me ponho, ou crio, a cada momento”. 24 Enquanto a abordagem de Stirner é direcionada à ideia da auto-liberação individual — de essências, identidades fixas — ele levanta a possibilidade de uma política coletiva a partir da noção de “associação de egoístas”, embora, no meu ponto de vista, ela seja insuficientemente desenvolvida. A quebra com os vínculos da servidão voluntária não pode ser uma simples iniciativa individual. De fato, como sugere La Boétie, ela sempre implica em uma política coletiva, em uma rejeição coletiva ao poder tirânico pelo povo. Não estou dizendo que Stirner nos fornece uma teoria da ação política e ética completa ou viável. No entanto, a importância do pensamento de Stirner consiste na invenção de uma 38 verve A servidão voluntária revisitada... micropolítica, na ênfase na miríade de modos pelos quais somos atados ao poder no nível da nossa subjetividade, e às maneiras pelas quais podemos nos libertar dele. É aqui que devemos prestar muita atenção à distinção feita por ele entre Revolução e insurreição: “Não se devem tomar como sinônimos Revolução e insurreição. A primeira consiste numa transformação radical do estado das coisas, do estado de coisas (status) vigente, do Estado ou da sociedade; é, assim, um ato político ou social. A segunda tem como consequência inevitável a transformação do estado das coisas, que não parte dela própria, mas da insatisfação do homem consigo mesmo; não é um levante concertado, mas uma rebelião do indivíduo, um emergir sem pensar nos arranjos de força que daí possam brotar. A Revolução objetiva novos arranjos; a insurreição leva a que não nos deixemos ser arranjados, organizando-nos antes nós próprios, e não deposita grandes esperanças nas ‘instituições’. Não é uma luta contra o status quo, uma vez que, desde que ela vingue, o status quo entra em colapso por si mesmo; é apenas um meio ativo que permite ao eu emancipar-se da situação vigente”. 25 Podemos extrair daí que a política radical não deve ser simplesmente voltada à transformação radical das instituições estabelecidas, como o Estado, mas também ao ataque à relação muito mais problemática pela qual o sujeito é encantado e dependente do poder. Desse modo, a insurreição contra a opressão externa, porém, mais fundamentalmente, contra a repressão auto-internalizada. Isso envolve, assim, uma transformação do sujeito, uma micropolítica e ética que visa o aumento da autonomia do indivíduo em relação ao poder. Aqui, podemos também recorrer ao anarquismo espiritual de Gustav Landauer, que afirmou que não pode haver 39 20 2011 uma revolução política — e nenhuma possibilidade de socialismo — sem que haja, ao mesmo tempo, uma transformação na subjetividade das pessoas, uma certa renovação no espírito e na vontade de desenvolver novas relações com os outros. As relações existentes entre as pessoas apenas reproduzem e reafirmam a autoridade do Estado — de fato, o próprio Estado é uma certa relação, um certo modo de se comportar e de interagir, uma certa marca na nossa subjetividade e consciência (e diria no nosso inconsciente) e desse modo apenas pode ser transcendental por meio de uma transformação espiritual das relações. Como diz Landauer, “nós as destruímos [as relações] ao estabelecemos novas relações, ao agirmos diferente”. 26 Uma micro-política da liberdade Superar o problema da servidão voluntária, que se mostrou um obstáculo para os projetos de política radical no passado, implica, portanto, esse tipo de questionamento ético de si, uma interrogação quanto ao envolvimento subjetivo e cumplicidade com o poder. Isso se baseia na invenção de estratégias micropolíticas que visam o rompimento com poder de Estado, uma certa política de desidentificação na qual é possível libertar-se das identidades e papéis sociais estabelecidos, desenvolvendo novas práticas, modos de existência e formas políticas que não mais sejam condicionadas pela soberania do Estado. Isso significaria pensar sobre o que é a liberdade para além da ideologia da segurança (ao invés de simplesmente entender a liberdade como algo condicionado ou necessariamente limitado pela segurança). Precisamos pensar, também, no que significa democracia para além do Estado, o que significa política para além do partido, 40 verve A servidão voluntária revisitada... organização econômica para além do capitalismo, globalização para além das fronteiras e vida para além da biopolítica. O foco aqui tem que ser, por exemplo, o questionamento crítico do desejo por segurança. Segurança, na sociedade contemporânea, tornou-se uma forma de metafísica, um fundamentalismo, que não é apenas o ímpeto por trás de uma expansão e intensificação sem precedentes do poder de Estado, mas que, também, torna-se um tipo de condição para a vida: a vida deve estar segura das ameaças — seja uma ameaça à nossa proteção, segurança financeira, etc. — mas isso significa que a própria possibilidade existencial não apenas da liberdade humana, mas da própria política está sendo negada. Podem a lei e os marcos institucionais liberais nos protegerem da segurança; podem opor-se ao movimento implacável em direção à securitização da vida? Devemos nos lembrar que, como mostraram Giorgio Agamben e outros, a biopolítica, a violência soberana e a securitização são apenas o outro lado da lei, e que não passa de uma ilusão liberal imaginar que a lei possa limitar o poder. Devemos inventar uma nova relação com a lei e com as instituições, não mais como sujeitos obedientes, nem como sujeitos que simplesmente transgridem (que é apenas o outro lado da obediência — em outras palavras, a transgressão, assim como a entendemos por Lacan, continua a afirmar a lei27). Ao contrário, devemos transcender esse binário obediência/transgressão. O anarquismo é mais que transgressão; é um aprender a viver para além da lei e do Estado, por meio da invenção de novos espaços e de novas práticas de liberdade e autonomia que serão, por natureza, um tanto frágeis e experimentais. Assumir tais riscos exige disciplina, mas essa pode ser um tipo de disciplina ética que impomos a nós mesmos. 41 20 2011 Precisamos ser disciplinados para nos tornar indisciplinados. A obediência à autoridade parece vir facilmente, até mesmo “naturalmente”, como observou La Boétie; então, a revolta contra a autoridade requer uma elaboração disciplinada e paciente de novas práticas de liberdade. Isso é algo que Foucault talvez estivesse buscando com sua noção de askesis, exercícios éticos que eram parte do cuidado de si, para ele inseparáveis da prática de liberdade. 28 O alvo de tais estratégias era, para Foucault, inventar modos de vida nos quais se é “menos governado” ou não se é governado de maneira alguma. De fato, a prática da crítica em si, de acordo com Foucault, visa não apenas questionar a reivindicação do poder por legitimidade e verdade, porém, mais importante, questionar os diferentes modos pelos quais somos vinculados ao poder e aos regimes de governamentalidade através de certos desdobramentos da verdade — pela insistência do poder de que nos conformemos a certas verdades e normas. Desse modo, para Foucault: “A crítica será a arte da não-servidão voluntária, ou da indocilidade reflexiva”.29 Portanto, Foucault fala de um questionamento dos limites da nossa subjetividade que requer um “trabalho paciente para dar forma à impaciência da liberdade”.30 Então, talvez possamos enfrentar o problema da servidão voluntária por meio de uma disciplina da indisciplina. Conclusão: uma política da recusa A servidão voluntária — a recusa à dominação do poder sobre nós — não deve ser confundida com uma negação da política. Ao contrário, deve ser entendida como a construção de uma forma alternativa de política, e como intensificação da ação política; podemos chamar isso de uma política de 42 verve A servidão voluntária revisitada... afastamento do poder, uma política de não-dominação. Não há nada de apolítico em tal política da recusa: ela não é uma negação da política como tal, mas é uma recusa das formas estabelecidas e práticas políticas imobilizadas no Estado, e o desejo de criar novas formas de política fora do Estado — o desejo, em outras palavras, de uma política da autonomia. De fato, a noção de “autonomia do político” trazida por Carl Schmitt para afirmar a soberania do Estado — a prerrogativa do Estado para definir a oposição amigo/inimigo 31 — deve ser entendida, na minha leitura alternativa, como a sugestão de uma política da autonomia. O momento da política, propriamente, é fora do Estado e busca engendrar novas relações e modos de vida não-autoritários. Uma série de pensadores contemporâneos, como Giorgio Agamben, Michael Hardt e Antonio Negri, propôs uma noção similar à de recusa ou afastamento como modo de pensar a política radical hoje. De fato, o interesse recente na figura de Bartleby (do Bartleby, o escrivão, de Herman Melville) como paradigma de resistência ao poder, aponta para uma percepção dos limites dos modelos existentes de política radical e revolucionária, e, além disso, um reconhecimento da necessidade de ultrapassar a sujeição voluntária ao poder. O impassível gesto de Bartleby de desafio à autoridade — “acho melhor não” — pode ser analisado como um afastamento ativo da participação em práticas e atividades que reafirmam o poder, e sem a qual o poder entraria em colapso. Nas palavras de Hardt e Negri, “Esses simples homens [Bartleby e Michael K, um personagem de um romance de J. M. Coetzee] e sua recusa absoluta só podem apelar ao nosso ódio à autoridade. A recusa ao trabalho e à autoridade, a recusa à servidão voluntária, é o começo da política libertadora”. 32 43 20 2011 Nesse artigo, coloquei o problema da servidão voluntária — diagnosticado há tempos por La Boétie — no cerne do pensamento político radical. A servidão voluntária, cujos contornos foram lapidados pela teoria psicanalítica, pode ser entendida como um limite pelo qual o sujeito é vinculado ao poder no nível do seu desejo. Ao mesmo tempo, a ideia da servidão voluntária também aponta para a própria fragilidade e reticência da dominação, e o caminho pelo qual, por meio da invenção de estratégias micropolíticas e éticas de subjetivação — uma política anárquica de não-servidão voluntária — pode-se afrouxar e desatar este laço e criar espaços alternativos de política para além da sombra do soberano. Tradução do inglês por Anamaria Salles Notas Etienne de La Boétie. La Servitude Volontaire, or the Anti-Dictato [Slaves by Choice]. Egham, Runnymede Books, 1988. [Em português: Etienne de La Boétie. Discurso da servidão voluntaria. Tradução de Laymert Garcia dos Santos. São Paulo, Brasiliense, 1982.] 1 Wilhelm Reich. The Mass Psychology of Fascism. Nova Iorque, Farrar, Straus and Giroux, 1980. [Em português: Wilhelm Reich. Psicologia de massas do fascismo. Tradução de Maria da Graca M. Macedo. São Paulo, Martins Fontes, 1988.] 2 Pierre Clastres. “Freedom, Misfortune, the Unnameable” in Archaeology of Violence. Tradução de Jeanine Herman. Nova Iorque, Semiotext(e), 1994, pp. 93-104. [Em português: Pierre Clastres. “Liberdade, Mau encontro, Inominável” in Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política. Tradução de Paulo Neves. São Paulo, Cosac & Naify, 2004, pp.153-171.] 3 4 Deleuze e Guatarri apontam para a maneira misteriosa pela qual somos atados ao poder de Estado, algo que o termo ‘servidão voluntária’ tanto ilumina quanto obscurece: “Seguramente, o Estado não é o lugar da liberdade, 44 verve A servidão voluntária revisitada... nem o agente da servidão forçada ou da captura. Deveríamos então falar de uma ‘servidão voluntária’?”. Gilles Deleuze e Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Tradução de Brian Massumi. Minnesota, University of Minnesota Press, 2004, p.460. [Em português: Gilles Deleuze e Felix Guattari. Mil platôs — capitalismo e esquizofrenia, vol. 5. Tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo, Editora 34, 1997.] Raoul Vaneigem. The Revolution of Everyday Life. Tradução de Donald Nicholson-Smith. Londres, Rebel Press, 1994, p.132. 5 Piotr Kropotkin. The State: Its Historic Role. Londres, Freedom Press, 1943. [Em português: Piotr Kropotkin. O Estado e seu papel histórico. Tradução de Alfredo Guerra. São Paulo, Nu-Sol/Imaginário/SOMA, Centro Anarquista Brancaleone, 2000.] 6 Mikhail Bakunin. Political Philosophy: Scientific Anarchism. Londres, The Free Press, 1953, p. 249. 7 A partir da segunda metade do século XX, difundiu-se entre os filósofos anglo-saxônicos a designação “pensamento continental” para fazer referência à produção dos países da Europa continental (principalmente França, Alemanha e Itália), em contraposição aos britânicos e estudunidenses (N.E.) 8 Ver a noção de Bakunin de massa revolucionária oposta à categoria marxista de classe em Mikhail Bakunin. Marxism, Freedom and the State. Tradução de K. J. Kenafick. London, Freedom Press, 1984, p. 47. 9 Para uma discussão acerca da relevância do anarquismo clássico e da filosofia política radical contemporânea, ver meu artigo: Saul Newman. “Anarchism, Poststructuralism and the Future of Radical Politics Today” in Substance. Issue 113, vol. 36, n. 2, 2007, pp. 3-19. 10 Esse reconhecimento da vontade por poder no coração da subjetividade humana não endossa a posição hobbesiana que afirma a necessidade de uma forte soberania. Ao contrário, torna o objetivo de fragmentar e abolir estruturas centralizadas de poder e autoridades mais necessário. Certamente se, em outras palavras, a natureza humana está inclinada às tentações do poder e da vontade por dominação, a última coisa que deveríamos fazer é confiar em um soberano com poder absoluto sobre nós. Um ponto similar é colocado por Paolo Virno (ver o ensaio “Multitude and Evil”), que sugere que se aceitarmos a afirmação ‘realista’ de que temos como humanos uma capacidade para o ‘mal’, então, ao invés disso justificar a autoridade de Estado centralizado, deveríamos ser ainda mais cautelosos acerca da concentração de poder e violência nas 11 45 20 2011 mãos do Estado. Cf. Paolo Virno. Multitude: Between Innovation and Negation. Nova Iorque, Semiotext(e), 2008. Cf. Piotr Kropotkin. Mutual Aid, A Factor of Evolution. Reino Unido, Dodo Press, 2007. 12 Saul Newman. The Politics of Postanarchism. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010. [Ver também: Saul Newman. “A política do pós-anarquismo” in Revista Verve. vol. 9. São Paulo, Nu-Sol, 2006, pp. 30-50.] 13 14 Isso é próximo ao que Jason Glynos se refere como o problema da auto-transgressão (ver: Jason Glynos. “Self-Transgressive Enjoyment as a Freedom Fetter” in Political Studies, vol. 56, n. 3, 2008, pp. 679-704). O argumento aqui é que a conceituação e a prática de liberdade sejam muito confundidas pelas várias formas de auto-transgressão, onde o sujeito se dedica a atividades que limitam sua liberdade – que o previne de atingir seu objeto de desejo, ou atingir um certo ideal que alguém possa ter de si – por causa da satisfação inconsciente (gozo) derivada de sua transgressão. Daí, a limitação à liberdade do sujeito não é mais externa (como no paradigma da liberdade negativa), mas interna. Essa pode ser outra maneira de se pensar o problema da servidão voluntária pelas lentes da psicanálise. Ver também o estudo de Theodor Adorno. The Authoritarian Personality. Nova Iorque, Wiley, 1964. 15 De acordo com Mikkel Borch-Jacobsen, a teoria psicanalítica de grupos de Freud implica em “algo como uma revolta ou insurreição contra o poder injustificável da hipnótica”. Mikkel Borch-Jacobsen. The Freudian Subject. Translation of Catherine Porter. Stanford, Stanford University Press, 1988, p. 148. 16 Jacques Lacan. “Analyticon” in The Seminar of Jacques Lacan, Book XVII: The Other Side of Psychoanalysis. Jacques-Alain Miller (org.). Tradução de Russell Grigg. Nova Iorque/Londres, W.W. Norton & Co, 2007, p. 207. 17 Judith Butler. The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford, Stanford University Press, 1997, p. 86. 18 19 Sigmund Freud. Group Psychology and the Analysis of the Ego. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920-1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other works. Psychoanalytic Electronic Publishing, 1955. Ludwig Feuerbach. The Essence of Christianity. Tradução de George Eliot. Nova Iorque/ Londres, Harper & Row, 1957. [Em português: Ludwig 20 46 verve A servidão voluntária revisitada... Feuerbach. A essência do crisitanismo. Tradução de José da Silva Brandão Petrópolis. Vozes, 2009.] Max Stirner. The Ego and Its Own. David Leopold (Org.). Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 43. [Em portugês: Max Stirner. O único e sua propriedade. Tradução de João Barrento. São Paulo, Martins Fontes, 2009.] 21 22 Idem, pp. 174-175. Ver minha leitura de Stirner como um anarquismo pós-estruturalista em Saul Newman. From Bakunin to Lacan: Anti-authoritarianism and the Dislocation of Power. MA, Lexington Books, 2001. 23 24 25 Max Stirner, 1995, op. cit., p. 150. Idem, pp. 279-80. Os itálicos são de Stirner. Martin Buber apud Landauer. Paths in Utopia. Nova Iorque, Syracuse University Press, 1996, p.47. 26 Ver a discussão de Lacan sobre a dialética da lei e transgressão em Jacques Lacan.“Kant avec Sade”. Critique , vol. 91, Setembro, 1962, pp. 291-313. 27 Cf. Michel Foucault. The History of Sexuality, Volume 3: The Care of the Self. Nova Iorque, Vintage, 1988. [Em português: Michel Foucault. História da sexualidade 3 : o cuidado de si. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque. São Paulo, Graal, 2009.] 28 Michel Foucault. “What is Critique?” in What is Enlightenment: Eighteenth Century Answers and Twentieth Century Questions. James Schmidt (Org.). Berkeley, University of California Press, 1996, p. 386. 29 Michel Foucault. “What is Enlightenment?” in Essential Works of Michel Foucault 1954-1984: Volume 1, Ethics. Paul Rabinow (Org.). Tradução de Robert Hurley. Londres, Penguin Books, 2000, p. 319. [Em portugês: Michel Foucault. “O que são as luzes?” in Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas de Pensamento. Ditos e escritos vol. II. Tradução de Elisa Monteiro. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005.] 30 Carl Schmitt. The Concept of the Political. Tradução de George Schwab. Chicago, University of Chicago Press, 1996. 31 Michael Hardt e Antonio Negri. Empire. Cambridge, Harvard University Press, 2000, p. 204. [Em português: Michael Hardt e Antonio Negri. Império. Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro, Ed. Record, 2003.] 32 47 20 2011 Resumo O artigo investiga o problema da servidão voluntária e explora suas implicações na atual teoria política radical, assumindo que o desejo pela própria dominação mostrou-se um significativo obstáculo para os projetos revolucionários de libertação humana. O foco são os projetos micropolítico e ético que questionam o vínculo da subjetividade com o poder e a autoridade — projetos elaborados por pensadores tão diversos quanto Max Stirner, Gustav Landauer e Michel Foucault. A questão da servidão voluntária traz à tona uma tradição de contra-soberania na política interessada não na legitimidade do poder político, mas nas possibilidades de novas práticas de liberdade. Palavras-chave: servidão voluntária, subjetividade, teoria política radical. Abstract This paper investigates the problem of voluntary servitude and explores its implications for radical political theory today, assuming that the desire for one’s own domination has proved a major hindrance to revolutionary projects of human liberation. Central here are micropolitical and ethical projects of interrogating one’s own subjective attachment to power and authority — projects elaborated by thinkers as diverse as Max Stirner, Gustav Landauer and Michel Foucault. The question of voluntary servitude brings to the surface a counter-sovereign tradition in politics in which the central concern is not the legitimacy of political power, but rather the possibilities for new practices of freedom. Keywords: voluntary servitude, subjectivity, radical political theory. Recebido para publicação em 15 de março de 2011. Confirmado em 20 de maio de 2011. 48 verve Fluxos libertários e segurança fluxos libertários e segurança1 edson passetti Houve um tempo em que se imaginou o confronto definitivo entre socialismo e capitalismo, confirmando a anunciada lei da história instituidora da sociedade igualitária, sem classes sociais antagônicas e complementares. Isto não aconteceu, e durante a segunda metade do século XX, vingou o refluxo socialista, a expansão capitalista, e também não aconteceu o fim da lei da história prevista por liberais e conservadores. Mais do que isto, ocorreu a consagração da superação do ideal revolucionário universal francês herdado da Revolução de 1789, pelo ideal estadunidense fundado no mito da democracia.2 O sonho da revolução duradoura cedeu à realidade imediata das reformas democráticas com maior ou menor participação do Estado, ao cosmopolitismo, ao espírito de cooperação e à crença no consumo ampliado de bens, serviços, direitos e segurança. Entramos na sociedade de controle contínuo a céu aberto e de comunicação imediata indicada por Gilles Edson Passetti é professor livre-docente no Departamento de Política e no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais na PUC-SP; coordena o Nu-Sol e o Projeto Temático Fapesp Ecopolítica: governamentalidade planetária, novas institucionalizações e resistências na sociedade de controle. verve, 20: 49-78, 2011 49 20 2011 Deleuze,3 capaz de atravessar as instituições das sociedades de soberania e de disciplinas por variadas conexões. Os desdobramentos procedentes do final da II Guerra Mundial e os efeitos propagados pelo acontecimento 1968, na Europa e nas Américas, geraram joviais contestações radicais ao poder centralizado, ao individualismo e ao totalitarismo. Foi 1968 que explicitou a diversidade de olhares e as experimentações de vida avessas e adversárias da ordem, do Estado, da crença na condução pelo alto, da fé na democracia, nos direitos e nas minorias que pretendiam tornar-se maiorias. Os anos subsequentes formataram a reação conservadora conhecida como neoliberalismo, pretendendo a universalização do capitalismo e a inclusão institucional. As relações de saber e poder (ascendentes e descendentes) estabelecidas pelos exercícios em espaços disciplinares e analisadas nos contundentes trabalhos de Michel Foucault, nos anos 1970, decorrentes dos desdobramentos de 1968, não ficavam mais restritas ou atrofiadas em campos específicos da Sociologia, da Administração, do Direito e mesmo da Criminologia. As relações de poder e saber, articuladas por análises histórico-políticas das forças em luta, reviraram os tradicionais estudos modernos escorados na filosofia política e na economia política ainda que revolucionárias. A noção de sociedade trazida por Foucault implodiu o sossego dos conhecimentos compartimentados, a suposta oposição capitalismo/socialismo e seus correlatos, democracia/ditadura/fascismos. Trincou a metáfora do sólido edifício teórico, provocou espasmos nas concepções inter, pluri, multi ou transdisciplinares, nas várias maneiras de se constatar a crise dos paradigmas e abriu novas problematizações. 50 verve Fluxos libertários e segurança As pesquisas histórico-políticas de Foucault sobre as disciplinas e as forças em luta, de certa maneira, conversavam com as análises seriais de Pierre-Joseph Proudhon desencadeadoras dos anarquismos no século XIX e que evitavam sínteses, para enfatizar a atualidade das forças em combate. Foucault se afastava da crença anarquista numa boa natureza humana e se restringia a analisar a sociedade das disciplinas que se esgotava, situando, como Deleuze mostrou mais tarde, a emergência do que passou a ser chamado de sociedade de controle. Proudhon, no passado, assinalava o esgotamento da série propriedade ao mesmo tempo em que indicava o aparecimento da série liberdade ou anarquia, fortificadora da construção da igualdade social. Sua análise serial projetava para o futuro a utopia igualitária vinculada à expansão das associações libertárias de produção com relações políticas federativas. Contestava as associações submetidas ao regime da propriedade e do Estado, buscando a sociedade do futuro no presente e descrente do fundador fato revolucionário, por associar política, direito e religião. Proudhon foi, também, inaugural ao argumentar em favor de uma revolução permanente no presente, fazendo da associação libertária o ponto de inflexão para a mudança radical. A história-política de Foucault, por sua vez, liberta-se de utopias, e trata o presente pelas suas resistências (ativas e reativas). Considera a política uma guerra continuada por outros meios, uma outra guerra permanente. E é no interior desta batalha que podemos reparar a emergência de heterotopias libertárias (existência libertária associativa no presente) e sua atualidade.4 As sugestões analíticas de Gilles Deleuze sobre a sociedade de controle acompanharam a reflexão de Foucault e apresentam proximidades mais que tangenciais com os 51 20 2011 incômodos anarquistas, ao menos com os de Proudhon. Constatam a inviabilidade de um devir revolucionário coletivo na sociedade de controle, mas não o do devir revolucionário individual, pessoal. Assim, ao dar conta da vida resistente no presente, aproxima-se de Foucault e Proudhon sobre a contestação da continuidade estatal: não há Estado sem uma sociedade que o conforme e sustente, caracterizando a indissolubilidade desta relação no capitalismo ou no socialismo; não há biopolítica sem sociedade disciplinar; não há rei ou povo sem família; não há welfare-state, neoliberalismo ou liberalismo social sem sociedade de controle; e há economia de mercado com qualquer regime político de Estado. Capitalismo e socialismo, enfim, regimes de propriedade, tocam-se e são atravessados pelas disciplinas e controles contemporâneos: são práticas que precisam de utopias de Sociedade; são práticas reformadoras em nome da verdadeira Sociedade. É nesta fronteira que se situam os anarquismos com seus incômodos e consolos. O sonho da verdadeira Sociedade também foi o sonho de Proudhon, seu vínculo indissociável com o iluminismo, sob os efeitos da razão moderna. Mas as práticas das associações antecedem o sonho e antecipam a ultrapassagem da sociedade pela vida livre de miríades de associações, como sugeriu Max Stirner.5 Depois da reversão conservadora sobre 1968, o anunciado embate final entre capitalismo e socialismo acabou ultrapassado pela utopia democrática e por uma pretendida síntese política que combinou mercado ampliado com lenta introdução de práticas de direitos sociais, humanos e de tolerância. Entre os tantos marcos deste acontecimento estão: a entrada diplomática estadunidense na China em 1971, no governo Richard Nixon/Henry Kissinger; a política de direitos humanos de Jimmy Carter nos anos 1970 e seu 52 verve Fluxos libertários e segurança correlato Prêmio Nobel da Paz; a divulgação dos efeitos do gulag soviético desde Alexander Soljenitsin, a atuação incisiva do Vaticano na derrubada do governo comunista, na Polônia, do general Wojciech Jaruzelski, no início dos anos 1980, e o posterior Prêmio Nobel da Paz ao sindicalista Lech Walessa que se tornou presidente desse país, procurando fazer da democracia mais do que um regime político, uma modulação da vida. Era das reformas globalizadas, de uma nova mentalidade de cura da Sociedade e das doenças do planeta; era de uma ecopolítica que se anuncia. Sabe-se que, na sociedade de controle, as penas e castigos se ampliaram. A superação da era dos suplícios públicos, na sociedade de punição dos séculos XVI ao XVIII, aninhou-se em inúmeras situações privadas vividas, principalmente, por mulheres e crianças. As penas e os castigos, depois normalizados na sociedade disciplinar dos séculos XVIII ao XX, atingiram o patamar da penalização a céu aberto na sociedade de controle. Neste longo período dos suplícios à humanização das penas e normalização da vida social, conhecemos as prisões humanizadas e também os campos de concentração e de extermínio, os intermináveis racismos, e os combates tópicos a discriminações e desigualdades formais por meio de direitos, muitos direitos, como direitos humanos universais. A era neoliberal compreende a predominância de uma racionalidade marcadamente estadunidense decorrente do fluxo conservador voltado para a restauração da família, a ênfase na crença na punição ampliada e nas religiosidades, sustentando o retorno liberal. Justifica-se, ainda, por meio de um suposto recuo na atuação e nos custos do Estado pelo estímulo à configuração do capital humano e seu correlato empreendedorismo.6 Entretanto, os desdobramentos são 53 20 2011 muitos e se conformam de maneira pluralista na atual economia computo-informacional que visa capturar os fluxos produtivos inteligentes. A democracia trazida para o interior da produção faz do trabalhador intelectual um agente atuante na elaboração dos programas geradores de continuidade do emprego, segurança e acesso a bens com uma multiplicidade de direitos e crença no Estado. Além de útil e dócil como na sociedade disciplinar, agora ele é convocado a participar com diplomacia nos programas de inteligência.7 Estamos diante de uma profusão de fluxos anuladores de resistências, às vezes invisíveis, e em velocidades estonteantes. Neste acontecimento, a democracia — que em passado mais distante foi a utopia anti-absolutista, e mais recentemente voltou a mostrar sua eficácia ao ser o objetivo dos movimentos de defesa de direitos humanos para conter os desmandos autoritários do poder soberano (no capitalismo e no socialismo) — transforma-se em discurso da ordem, pretendendo interromper atuações contestadoras. Neste longo trajeto, por qualquer lado e sob qualquer regime, as garantias de vida de presos comuns e dos presos políticos jamais foram consolidadas.8 Inícios inferiores Diante de uma sociedade de controle que se afirma cada vez mais penalizadora, o que terão os anarquistas a dizer, a fazer, a afirmar sobre crimes, castigos e educação?9 O crime já foi tratado por Piotr Kropotkin como doença social, cuja cura adviria de uma situação de ajuda mútua e da anarquia, na qual não se prescindiria dos saberes científicos sobre o cérebro e a subjetividade.10 O século XX escancarou 54 verve Fluxos libertários e segurança as proximidades da bem-intencionada solução de Kropotkin — que havia passado por experiências tenebrosas nas prisões, como Bakunin, e antes deles Louise Michel, e depois Ravachol, Émile Henry e tantos anônimos anarquistas atravessados pela iminência do encarceramento —, tratando o crime como doença social e propondo a supressão das prisões com os novos dispositivos de controle a céu aberto. Entender a alma das pessoas por instrumentos das humanidades, diagnosticando-a e desenhando tratamentos é acabar por fortalecer, mesmo à revelia, o saber psiquiátrico e a possível continuidade dos manicômios pelas reformas inevitáveis e circunstanciais, como se conformou a passagem da luta antipsiquiátrica à luta antimanicomial por meio de controle a céu aberto levado adiante pelos cares como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial). 11 Revigorou-se o poder de comando, confinamento e sentença escorado no verdadeiro discernimento científico que baliza instituições na defesa da sociedade e da prevenção contra a alienação, o crime, o perigo e as múltiplas anormalidades herdadas desde o século XIX, como controle descentralizado da loucura. No socialismo autoritário, por sua vez, a busca pela cura da doença social, associada aos inimigos do Estado, não deixou de ser vista, também, como combate ao crime contra as pessoas, os bens, o governo ou o Estado, levando a novidades aterrorizadoras como a disseminação de campos de concentração e de trabalhos forçados, que não deixaram saudades das cruéis instituições prisionais ou psiquiátricas criadas e reformadas constantemente no capitalismo em nome da sua boa ordem. Permeado pelos efeitos do positivismo, o anarquista Kropotkin buscava uma resposta científica para os crimes e para os horrores das prisões destinadas aos pobres e sub55 20 2011 versivos na sociedade capitalista desigual e tirânica. Sob a crença iluminista, imaginou a transformação das instituições austeras em unidades de cura libertadoras, sacramentando sua reviravolta definitiva. Porém, não se deu conta de que as instituições disciplinares se desdobram sobre quaisquer regimes e, muito mais aterrador do que isso, que elas fortificam hierarquias. Kropotkin, sob este registro de influências, redimensionou, talvez involuntariamente, a tolerância com a religião advinda do século XVIII e defendida por David Hume e Voltaire,12 como tolerância com os feitos da miséria derivada do capitalismo. Assim como seus adversários escancarados, também não deixou de contribuir para o fortalecimento da religião da razão. Proudhon, em O que é a propriedade? Investigação acerca do princípio do governo e do direito, alertava para o crime da propriedade ser um roubo e demolia a argumentação jurídica universalista do direito penal que identificava os pobres como criminosos. Não deixou por menos; localizou os ilegalismos burgueses do século XIX e os recuperou no interior da analítica serial, relacionando-os à justiça na propriedade como a continuidade dos proprietários. De maneira contundente e precisa, como sempre foram suas análises, Proudhon situava o crime vinculado ao regime de propriedade na história que escolhia, seletivamente, os alvos entre as populações subordinadas. Esta seletividade também perpassava as margens de tolerâncias praticadas em relação aos atos que reiteravam as salvaguardas de proprietários e os vínculos indissociáveis entre o legal e o ilegal como salvaguarda do próprio regime de propridade. Ele passava a pensar outra saída para a condição de miséria que não visava a reforma do direito e do direito penal. Voltou-se para maneiras associativas em que os integrantes 56 verve Fluxos libertários e segurança estabelecessem de maneira libertária relações mutualistas e federativas, obstruídas pela sociedade, pelo Estado e pelos direitos universalizados dos proprietários. Proudhon redimensionava a associação e os anarquistas podiam, desde então, inventar maneiras de cuidar de crianças e jovens, de suas existências, de suas utopias para uma nova sociedade, mas também suas heterotopias: uma revolução permanente pela vida na potência das associações livres mutualistas e federativas que não procuravam a forma do direito universal. Inclusões na sociedade de controle A sociedade de controle arruína os lugares da cura e da reforma de comportamentos. Ela absorve rapidamente um infrator como controlador, um inventivo jovem em programador institucional, uma rebeldia em moda, um contestador em político profissional; é a sociedade das retóricas, protestos e das incansáveis capturas. Nela se pretende convencer a todos, e de diversas maneiras, sobre a participação democrática em todas as manifestações da vida. Assim é que as conhecidas formas de obtenção de consenso político por medo, omissão e adesão, agora se expandem para a economia, a cultura, a ecologia, atingem as minorias por meio da pletora de direitos e convocação contínua à participação nas biopolíticas — que sempre emanam dos grupos organizados ou de seletivas manifestações latentes dirigidas ao Estado, conformando o que Foucault chamou de controle sobre o corpo-espécie, a população. Na sociedade de controle, os fluxos dissolvem a separação entre o privado e o público, em desdobramentos e interrupções, em organização pacífica para a democracia, a 57 20 2011 inclusão, a contenção, em clamor por vigilâncias eletrônicas e segurança e mais segurança. Nada deve surpreender e tudo deve ser previsível, visível e exigir precauções: está em questão preservar e matar com direitos (causar a vida e deixar morrer; causar a morte e deixar viver: as duas formas do direito na sociedade de disciplinas e de soberania acopladas ao quem deve viver e quem deve morrer próprio do nazismo e dos demais racismos de Estado) e colocar em agendas as condições de vulnerabilidades. É assim que podemos compreender a emergência da penalização alternativa, a justiça restaurativa e as diversas outras combinações a conhecer que advêm das comunicações instantâneas entre fluxos e ao mesmo tempo em que não se abdica dos aprisionamentos. Os infratores e delinquentes, dentro e fora da prisão, estão expostos ao olhar de todos, à vigilância interminável, à administração desdobrável realizada pela parceria estabelecida entre Estado e organizações não-governamentais e até mesmo com a incorporação da gestão participativa dos produtores de ilegalismos no interior das prisões. A sociedade de controle não pretende somente a transparência panóptica para localizar os corpos que desacatam e deles se acautelar, como na sociedade disciplinar; ela pretende governar o invisível. É assim que nesta sociedade se absorvem as revoluções molares, atravessando as organizações por meios eletrônicos, programáticos e midiáticos, exercitando desdobramentos contínuos nos fluxos cuja finalidade é apagar vestígios de revoluções. Importam os desmembramentos circunstanciais criando porosidades para que os desdobramentos de fluxos ocorram. Em pouco tempo, as afinidades anarquistas se transformam em pluralismos, e as aproximações táticas com marxistas se tornam mais relevantes do que a franqueza: os anarquistas também acabam 58 verve Fluxos libertários e segurança levados pela retórica da sociedade de controle que inclui os marxistas e aspira capturar os libertários. E, desta maneira, o tema das prisões se torna melancolia kropotkiniana ou somente tema que taticamente não merece discussão. Na sociedade de controle abundam direitos de minorias, composições de maiorias, Estados, união de Estados, tribunais nacionais e internacionais, em função dos deveres, do julgamento e da saúde do planeta. Nela, não preponderam as biopolíticas de Estado, como sublinhava Foucault, a respeito da sociedade disciplinar, porque o interesse se deslocou para a vida do planeta e a sua saúde ambiental — o que inclui a saúde de cada pessoa produtiva, de agrupamentos e povos arquivados em mapotecas eletrônicas. Precavidas dos cartógrafos e de suas liberdades para lidar com mapas, articulando perigosas linhas de fuga, pretende-se governar cautelosamente com seus catálogos e bancos de dados, combinando infinitesimais procedências sócio-econômicas, bioquímicas, físicas, econômicas, pensamentos, memórias, imagens, instantâneas imagens, sondagens, para compor uma variedade de armazenamentos de informações sobre máquinas de guerra e suas capturas, linhas de fuga, resistências. A sociedade de controle é planetária e pleiteia conservar o planeta e seus trajetos pelo universo. Faz da ecopolítica — o controle do corpo-planeta —, a maneira de resguardar santuários ambientais com suas pessoas e qualidade de vida; negociar a política ambiental sustentável conservacionista pelos continentes. Para tal, exige-se monitoramentos extensos por dispositivos eletrônicos estatais e particulares, policymakers administrando com cautela o caos planetário, tendo por suporte educação religiosa cada vez mais tolerante com o ecumenismo, em que, por fim, cada cidadão 59 20 2011 de posse de seus direitos abdique de sua vontade e seja um entusiasta das punições e da sustentabilidade. Não basta mais, portanto, cuidar do corpo da população dócil como se fazia na sociedade disciplinar; agora é preciso zelar mais pelas almas e, neste sentido, mais uma vez, pela visibilidade imediata dos espíritos, com religião e punição funcionando para articularem sua relação indissolúvel que circunscreve condutas e contra-condutas. Não está em jogo apenas normalizar segundo regras, mas habilitar a participar da sociedade de controle. É assim que a meta da qualidade de vida deve ser atingida com devoção, obediência, participação e desejo de ser capturado, tanto quanto seu reverso chama-se terrorismo transterritorial, visibilizado, planetariamente, com a ação da al-Qaeda, em 11 de setembro de 2001. A sociedade de controle de fluxos eletrônicos e efetivamente transparentes facilita a nova cruzada religiosa que se desdobra pelas populações. De um lado, os ocidentais voltados para o ecumenismo, de outro lado, os chamados orientais fundamentalistas. De ambos os lados, encontram-se os defensores do antifundamentalismo, em nome da convivência democrática entre religiões e do consenso sobre o fim das impunidades. Se a sociedade de soberania fundamentava-se no direito do soberano de matar ou deixar viver; se a sociedade disciplinar foi a da era do direito de causar a vida ou deixar morrer, conjugando relações hierarquizadas de poder de soberania pessoal e intransferível e de poder impessoal e móvel, a sociedade de controle não suprime as anteriores, mas com elas convive, por meio do direito de participar na vida do planeta e gestão de suas vulnerabilidades, para compor um novo universal ecopolítico voltado para a Terra, o sistema solar, a galáxia e definitivamente o universo em expansão. Vida dos direitos em expansão, modificáveis, des60 verve Fluxos libertários e segurança dobráveis, infinitesimais e infinitos. O nada além de direitos universais é também um tudo de punições universalistas. O direito à sociedade igualitária, justa e livre por meio da revolução agora se transforma em meta contornada pela democracia, pelos programas eletrônicos — dos econômicos aos assistenciais —, as mídias e a ecologia, fiscalizando empresas e Estados e sendo monitorados por empresas, organizações internacionais, não-governamentais e Estados. É isso que se deseja na sociedade de controle: ter a certeza de contribuir para o inacabado com a crença de que isso depende de mim. Sob uma expectativa de colaboração tamanha, não cabem tolerâncias com infrações. Para este caso acionam-se programas de tolerância zero. Somente cabem tolerâncias com as práticas de adesão,13 como no passado o foi com a religião e hoje o é com o ecumenismo. Neste mundo não cabe mais ser revolucionário, mas talvez ludista, sabotador... Esta é uma era dos terrorismos contra-governos em nome de deuses e seus novos Estados; era de ameaças constantes e de governamentalização difusa desde e da sociedade civil, cada vez mais compreendida em conexão de governanças globais, combinadas, seguras, variadas e variantes. No passado das sociedades de soberania e de disciplina, as pessoas estavam expostas como súditos para a vida e a morte; na sociedade de controle só interessa a vida, a longevidade, a saúde do planeta e a das pessoas saudáveis e suas inteligências. Não se causa primordialmente a morte ou se deixa morrer, mas se explicita a administração da mortificação com inclusão. Os direitos chegam às minorias e atingem o interior dos interceptados e dos aprisionados. Os loucos passam a ter direito a serem loucos; a loucura deixa o asilo e se multiplica em postos de atendimentos, ainda que permaneça sendo uma doença a ser medicada. 61 20 2011 Os prisioneiros vivem semi-internações, liberdades vigiadas, mas no interior da prisão passam a ter direito a amar, a ter família, sexo, direitos humanos e, paradoxalmente, a prisão se transforma em lugar de sociabilidade de sem-tetos que vivem “livres” 14 e também em espaço de negociações. A prisão também inclui. Mundo dos direitos: a ser negro, índio, mulher, menor, gay, deficiente, louco, preso, com muitos outros direitos a participar obrigatoriamente desta sociedade. A sociedade de controle inclui e articula o discurso da exclusão — tão pertinente à sociedade disciplinar e que girou em função da obtenção de direitos ao trabalho, ao sexo, à educação, etc. — aos diversos fluxos que deságuam em políticas de ações afirmativas, declarações sobre tolerâncias e disseminação do compartilhamento, entre outros, gerando fusões uniformizadoras que contornam as diferenças. Diante da continuidade de prisões, crenças no fim das impunidades, desdobramentos religiosos simultâneos em ecumenismos e fundamentalismos, capturas de resistências pela participação democrática na vida eletrônica de comunicação instantânea, inacabada e de controle contínuo — cujo alvo é o corpo-planeta, a ecopolítica —, diante desses fluxos articuladores das gentes, como responder a uma cara questão anarquista: a educação para a vida livre? Contra o direito universal Max Stirner afirmava, em O único e a sua propriedade, que o Estado de direito toma decisões com base em um juiz e no tribunal, esperando dos cidadãos o respeito sagrado aos direitos. Para ele, os revolucionários também tinham a esperança nos direitos e pretendiam salvar a sociedade. 62 verve Fluxos libertários e segurança Bastava-lhes fundar outra moral. Contudo, alertava que o direito é produto de uma luta entre forças, e que não há direito que não justifique a força vencedora e o seu egoísmo, mesmo quando este se apresenta igualitário e altruísta, com uma nova faceta universalista. Todo direito se expressa em lei e regra a ser respeitada pelo cidadão e estabelece uma ordem que vai contra a vontade própria de cada pessoa. Segundo Stirner, se há vontade própria não há necessidade de Estado, pois vontade própria e Estado são forças inimigas, em guerra constante, reiterando o fracasso do projeto de paz perpétua kantiano. Onde há vontade própria há a ruína do universal e dos transcendentais, rompimento com a ideia-fixa, o sagrado, chame-se religião ou razão. O Estado exercita seu poder violento chamado direito. Entretanto, a atividade livre do poder de cada um é um crime para o governo porque ameaça a sociedade. De posse desta constatação stirneriana pode-se dizer que o Estado e o pensamento filosófico-jurídico aspiram ao monopólio da violência, cujos limites estão na monarquia e na tirania; em contrapartida, os resistentes, na maioria das vezes, imaginam haver um lugar especial para resistir, constituído como o lugar de moral elevada, chamado partido, sindicato, organização. Essa maneira de pensar e agir funciona em dupla mão. Ela legitima tanto as revoluções restauradoras do governo do Estado, como aquelas que buscam eliminar o Estado. Trata-se de um discurso que precisa identificar o que colocar no lugar, característico das sociedades de soberania onde não se imagina governo sem pai, rei ou povo, mas também amoldando e amplificando o repertório liberal. Os socialistas provocam um pequeno deslocamento nesse discurso. Pretendem alçar ao governo, não para afirmar um novo soberano, mas por meio de sua ascensão tempo63 20 2011 rária ao aparelho de Estado direcionar a revolução para a verdadeira sociedade igualitária. Vitoriosos, os socialistas revolucionários dependem da esperança dos súditos em uma sociedade sem Estado, no cidadão soberano de si. Todavia, no Estado, a tendência de qualquer força política que ali se instale é a de conservar, implementando, caso necessário, o crescimento de terrores em campos de concentração e trabalhos forçados. Elabora-se um direito penal revolucionário que se justifica pelo exercício na ocupação do lugar e no alegado poder transitório em função da realização dos verdadeiros direitos de classe, dirigindo os futuros direitos da sociedade igualitária. Os revolucionários anarquistas, avessos ao Estado e à iminência do terror, intentam passar para a Sociedade igualitária sem mediações. Contudo, por ainda estarem capturados pelo discurso iluminista, propõem colocar no lugar de antigas instituições repressoras as verdadeiras instituições recuperadoras e aí derrapam nos moldes daquele imaginado por Kropotkin, tangenciando crime e cura. O crime é sempre político. Ele expressa a insuportável rebeldia, realiza as incontestáveis resistências, a incontrolável vontade de ter. O crime antes de tudo é o ato livre da criança contra a moral, insuportável a pais, adultos e superiores. Os moderados, inspirados em Voltaire, exigem tolerância. Anunciam que o direito não é só legitimidade, recompensa e justiça ou redução de injustiças, mas também acusação, castigo e lei contra o crime. A atualidade de Voltaire soa ramerrão. Stirner destoa. Argumenta que, desde o nascimento, eu ou você somos tidos como criminosos potenciais, um futuro criminoso contra o povo a ser educado. A educação, na família, na escola, nas instituições, nos locais, age para conter a ousadia da criança, que tem vontade própria. Por isso mesmo, é preciso rodeá-la 64 verve Fluxos libertários e segurança de lugares e de espiões do Estado, a serviço dos governos e do povo, educando e denunciando. Enfim, todo Estado saudável deve ser severo e estar fundado na prosperidade do homem! Esse é o vaivém da segurança! O crime comum, segundo Stirner, é a realização de um desejo contra o povo, contra a sociedade, contra o direito, a vontade soberana dos indivíduos. Se o direito é produto da força, ele é também o exercício de garantias para alguns e de concessão aos demais que o aceitam. Direitos da ordem e de revolucionários neste momento coincidem no fluxo da superioridade da moral, seja do liberal — universalizando, o que era privilégio de sangue em direitos civis e políticos na sociedade disciplinar e o que são direitos de minorias na sociedade de controle —, seja do comunista — universalizando o verdadeiro fim dos privilégios que, antes mesmo de serem inventados, ou para conter a invenção propriamente dita, devem ser perseguidos segundo uma criadora utopia igualitária administrada pelos dirigentes responsáveis pela aplicação do direito desigual. Aos poucos, a moral da igualdade política transformou-se em moral da igualdade econômica com realização da liberdade em uma existência futura, fato que gerou despotismos pelo direito e proliferação de presídios e campos de extermínio e de concentração com trabalhos forçados. Eis o egoísmo dos altruístas! Em busca de direitos procuram-se instituições que funcionem como o verdadeiro tribunal e que digam a punição que merecemos. Os anarquistas vivem a travessia desse limite. Diante dos regimes de privilégio que são redimensionados pelos universalismos da razão, contrapõem direitos de associações em torno de um objeto, relacionado com reciprocidade e troca. Porém, diante de tantas associações livres, resvalam 65 20 2011 para a utopia da Sociedade igualitária unificadora e correm os riscos, pelo avesso, de interceptarem liberdades. A contribuição de Stirner, sobre o crime das crianças libera o anarquista da função de educador libertário, que permanece o proprietário da verdadeira moral, ainda que somente viva para a existência a partir de posses temporárias. Fluxo-aproximação O tempo da criança é longo e os espaços para elas são imensidões. As crianças dançam, brincam e guerreiam. Pouco importa o dia e a noite, o claro e o escuro, veracidade e sonho; para elas são experimentações da vida com calor e frio. Então, quando cada um desses momentos estiver habitado de significados, fantasmas, determinações, ela passará a ter ideias-fixas, começará a ser educada para a boa e bela vida. Desmorona sua liberdade! A liberdade das crianças não está em uma educação para uma nova moral, mas em mantê-las livres dos verdadeiros juízos dos adultos, da real consciência, do esclarecimento e dos fantasmas. Nas crianças, a luminosidade no dia e na noite, no claro e no escuro, aos poucos, torna-se escuridão no dia e na noite, no claro e no escuro. Aí então, na modorra ou na astúcia, queimam ao sol ou vagam presas aos ventos da noite. Poderão ser biblioclastas, soldados, membros do rebanho, bons funcionários, expertos cientistas, espertinhos do momento. Não serão mais crianças. E, talvez, tempos depois e bem maduros, descobrirão como surrupiaram as suas vidas e as de seus filhos; passarão a ser tolos avós formando seus netos livres como pequenos tiranos. Depois de tanta morte anunciada, vivemos a era das capturas. Um dia também a sociedade morrerá. E esta história ficará 66 verve Fluxos libertários e segurança conhecida como aquela que os anarquistas não temeram enfrentar com suas associações e federalismo descentralizado. Anarquizar não é uma conduta, é uma atitude!15 Terrorismos e segurança Os terrorismos derivaram, inicialmente, da busca pela conservação da revolução no Estado (primeiro a Francesa, anunciada pelo puritanismo republicano de Cromwel, e depois a Russa), contra as demais forças políticas. É o terrorismo pelo alto, do Estado sobre a sociedade. Derivaram da regulação pós-revolucionária e regulamentam as excepcionalidades do terror. Produziram estados de sítio e legislações, gradativamente institucionalizados, até mesmo na democracia, cujo mais recente acréscimo aconteceu desde o Patriot Act estadunidense, após 11 de setembro de 2001. Sob o regime ditatorial os terrorismos de Estado realizaram genocídios e etnocídios como no nazismo, no stalinismo e no recente caso dos Balcãs. Sob as coordenadas da democracia atual, suprimiu-se o direito e o tribunal em função do homicídio do inimici (o inimigo particular), como sublinhara Carl Schmitt, baseado na incriminação do adversário, para cuja ação moralmente condenável nada resta a não ser a aniquilação total. O terrorismo, enfim, do ponto de vista do Estado, em seu limite, constitui-se em um enfrentamento no qual os inimigos de guerra (justus hostis) não se reconhecem mutuamente.16 Se para os chefes de governo considerados criminosos a posteriori há o recente Tribunal Penal Internacional,17 no caso do terrorista Osama bin Laden e do líder religioso Anwar al-Awlaki, tido como mentor do ataque de 11 de setembro de 2001, ambos mortos em 2011, houve somente a operação mili67 20 2011 tar-policial para o assassinato, desvencilhada do ritual de vingança pelo tribunal. Os terrorismos de baixo, da sociedade para o Estado, buscam substituir governantes, mudar o Estado ou mesmo eliminá-lo. São praticados, geralmente, por jovens idealistas e/ou libertários, pretendendo mudanças drásticas no regime político, deposição de governantes ou simplesmente abolição do Estado; são terrorismos que ocorrem num mesmo território, caracterizando a radicalização da guerra civil. O 11 de setembro de 2001 foi um acontecimento diferente. Dele emergiu o terrorismo transterritorial realizado por meio de ataques com aviões de carreira, com passageiros civis, transformados em mísseis, direcionados para os símbolos da economia globalizada, o World Trade Center, e da política-militar ocidental, o Pentágono, ambos em solo estadunidense e atingindo a população civil. Abriu-se uma nova era de terrorismos transterritoriais, sob a rubrica do fundamentalismo religioso. Depois vieram os ataques a Madrid e Londres, várias ações pelo Oriente Médio, e hoje em dia já não se sabe mais ao certo se é a al-Qaeda/Taleban que ataca ou se ela se transformou num programa político terrorista, com capacidade de auto-aperfeiçoamento, utilizado por organizações não identificadas ou identificáveis, segundo o sistema de segurança estadunidense. Este terrorismo baseia-se em um princípio de explosão estratégica, com dispersão geográfica, perpetuação indefinida e incriminações. Configura o que Frédéric Gros18 assinalou como estados de violência que substituem, contemporaneamente, a tradição da formalidade da declaração de guerra entre forças que se reconhecem política e juridicamente como Estados. Nesta nova condição, não 68 verve Fluxos libertários e segurança há mais o sujeito de direito e tampouco a submissão de todos às regras da guerra. Enquanto isso, as eliminações por assassinatos, operadas por grupos especiais ou aviões não tripulados seguem em toada rotineira. Os estados de violência exigem o monitoramento de cada um, incluindo a introdução de missões de paz conduzidas pela ONU para dar conta de zonas de conflitos, fazendo da intervenção não mais um ato condenável, mas um exercício técnico, cuja finalidade é a de neutralizar fatores de perturbação, alcançar criminosos e promover a ação humanitária visando o restabelecimento da saúde do Estado. Configura-se a possibilidade de restaurar alegadas institucionalidades democráticas enfraquecidas para dar sustentação à centralidade estatal e à sua legitimidade no uso da força. Nestes termos, a intervenção apresenta-se como restabelecimento da ordem e o interventor se manifesta como um protagonista para o restabelecimento dos fragmentos dentro do fluxo contínuo da ordem mundial. Rompe-se, enfim, com as condenações às intervenções imperiais da Guerra Fria, em função da democratização planetária sob o capitalismo. Institui-se um novo padrão de segurança internacional com base na anulação dos perigos e de uma proteção que vai da pessoa ao Estado, objetivando ausência de perturbações e redesenhando um possível ambiente saudável. O sistema geral de segurança necessita, portanto, monitorar os indivíduos e exterminar os inimigos particulares: aos terroristas, pela morte; aos irrecuperáveis considerados criminosos comuns, e não raras vezes, relacionados ao tráfico de drogas, com a prisão do tipo supermax. Define-se assim uma nova maneira do direito de causar a morte, seja pela ação militar do Estado, pelo aprisionamento indeterminado, pelo tribunal para presos comuns, seja de suspei69 20 2011 tos de terrorismo sob o poder das militaries commitions, azadas ao campo de Guantánamo para extrair confissões, indicações, delações, orientações de costumes, anotações sobre relações familiares de prisioneiros, com ou sem tortura legalizada, compondo não mais um prontuário que define o delinquente, mas um conjunto de informações que habilitam ações do sistema de segurança. A relação entre direitos humanos e segurança passa por um redimensionamento. Cabe constatar que, no Ocidente, a era dos direitos humanos, desde 1948, solidificou as formalidades necessárias estampadas pelas comissões de fiscalização e relatórios de divulgação internos e externos. Todavia, os efeitos do terrorismo, no século XXI, tornaram possível o aparecimento de diversas legislações que pretendem garantir a legalidade das práticas de obtenção da verdade pela tortura, assim como homicídios e aprisionamentos arbitrários pelo Estado, em função do sistema de segurança, em especial o estadunidense. É nesta direção que cada um passa a ser visto também como um terrorista possível. Para tal, os cuidados com as situações de sociedades fracassadas ou Estados fracos, como liberalismo e o conservadorismo tendem a identificar, habilitam missões de paz e, ao mesmo tempo, a guerra ao terror definida pela assimetria das forças, o que altera radicalmente o princípio de declaração de guerra. O equacionamento de situações de vulnerabilidades organiza as intervenções externas em Estados, assim como na vida de cada um, fundada numa noção de violência na qual “o sentimento de minha vulnerabilidade de vivente, acompanhada de uma causa externa”,19 dispõe cada um aos cuidados (cares) que passam pela criança violentada, os velhos, os refugiados, os deficientes, as mulheres espancadas, os regimes de cotas, as demarcações indígenas e conservação dos territórios, a economia verde, 70 verve Fluxos libertários e segurança o capitalismo sustentável, enfim por diversos fluxos, onde o Estado passa a ser apenas um dos polos conectados pelos fluxos de poder e de governos compartilhados. O sujeito de direito cedeu lugar ao indivíduo vivo e vulnerável. O terrorismo transterritorial possibilitou a emergência de uma situação latente que se constituía desde as revoltas de 1968, e que redundaram nesta era de crença na democracia, em direitos, cuidados e na participação direta em todas as atividades produtivas, culturais e sociais. Ultrapassou-se a mera participação política, que acolheu boa parte da intelectualidade crente na democracia como o único regime viável após o fim da Guerra Fria (ainda que estes propositalmente desconsiderassem os emirados, a China, e um leque de Estados ainda declaradamente socialistas), para propiciar a participação em fluxo dos viventes no âmbito de suas vulnerabilidades, em função da obtenção de melhor qualidade de vida a repercutir num futuro melhor, com sustentabilidade. A segurança proporcionada pelas instituições a ela destinada cedeu lugar ao sistema de segurança por monitoramentos, privatizações de proteção a exércitos, polícias de variedades repressivas e sociais, incógnitas ou visíveis (com preponderância destas), instituindo um sistema de visibilidades jamais alcançado pelo panóptico: o sistema funciona porque cada um também se transforma em polícia do outro. Trata-se de uma nova conformação ética em que está em jogo melhorar, aperfeiçoar, confessar, mas, acima de tudo, ser tolerante com o que não desabona a diligência e a piedade. Mesmo diante deste conservadorismo moderado,20 os terrorismos não cessam; somente se desdobram. Em nome da paz e da democracia, dos universais racionais, teológicos ou mistos, continuarão ocorrendo ter71 20 2011 rorismos de várias procedências, porque não há política desvinculada de religião, como salientaram Pierre-Joseph Proudhon e Max Stirner.21 Na atualidade, permanecem fortalecidas as forças reativas, guerras civis, genocídios, etnocídios e não surpreendem anúncios de novos fascismos. As institucionalidades democratizantes colocadas pelos protestos democráticos antiditatorias, em 2011, no norte da África, assim como os demais que pipocam pelos continentes, aguardam desfechos também democráticos, pois está em jogo: adequar regimes autocráticos e democracias ainda com baixas repercussões combinadas com religiosidades e demandas sociais ao Estado perante as novas exigências capitalistas. Constata-se que todos querem e devem participar para encontrar soluções, diante das precariedades atuais, em nome de um futuro melhor para cada um, cada Estado, os consórcios estatais e o planeta. Menos do que encontrar um Estado planetário com legitimidade de força, tão almejado pelos comunistas como fase final do socialismo, o investimento em costumes participativos, largamente aceitos pelos cidadãos assujeitados, tende a ser o meio pelo qual deliberações, convenções e protocolos internacionais encontrarão leis adequadas em cada Estado. Estamos diante de uma nova governamentalização do Estado orientada pela racionalidade neoliberal. Dissonâncias Escreve-se como prática. O burocrata também escreve, com seus procedimentos e rigidez de nomenclaturas ubuescas. Escreve-se música, entretanto, procurando perturbações no conjunto harmonioso. Escreve-se, assim, como prática, envolto em perturbações. Não transtornado, 72 verve Fluxos libertários e segurança situado como alvo de um investimento normalizador, mas no que é próprio às perturbações, com desarranjos e vertigens, no inexato instante que sequer um medicamento pode reconduzir a um padrão médico ou de saúde. Esquisito apenas, nunca extravagante ou ridículo. Ficar com a pragmática das teorias ou a análise de conjunturas dos pesquisadores fornecendo materiais para decisões políticas de Estado, ou mais recentemente de governamentalização? Estas são práticas arredondadas. Situar-se no interior do ingovernável ou procurar dar-lhe novo sentido, como sugeriu Giorgio Agamben, escrevendo sobre as intempéries de nossa época? Momento de decisão. Que não se tem controle sobre o que escrevemos é sabido notoriamente. Que são raros ou muitos os leitores, essa não deve ser a mira da escrita. Que as pesquisas devem nos levar para situações inéditas, não há dúvidas, apesar dos receios e da contenção diante da possibilidade de avançar um sinal fechado. Que nos orientamos pelas bordas dos impérios, as fronteiras dos Estados ou pelas margens na sociedade de controle, nisso não há tanta imprecisão, considerando-se os mais variados esforços para manter todos dentro. Que se escreve muito, hj em dia, com brevidades de um twitter, com abs, bjs e atts e se lê um tanto que não se sabe mensurar exposto pela comunicação contínua estampada em conexões internáuticas, tb ok. A comunicação não cessa e como tal ela sustenta dogmas, exegeses, aprimoramentos, seguranças. Desatar o cinto, escancarar o computador, entrar nos fluxos, vagar... Então me pergunto, por fim, depois deste percurso escancarado e propositalmente a ser complementado, a cada novo instante no interior de um acontecimento novo e 73 20 2011 ainda de pouca, apesar de tanta confirmação, propiciado pela participação extensa na prática democrática para além da política de Estado. Pergunto-me libertariamente: se Foucault interpelou Clausewitz e a prática estatal governamentalizada, mostrando a política como guerra continuada; se a escrita de Foucault cabe a variadas apropriações, seja para estudar isoladas instituições disciplinares ou para retomar seus conceitos produzidos pela invenção de palavras; se sua declarada anarquia como método ele deixou cada vez mais clara no decorrer dos seus cursos; ...se, ou de repente, acompanhá-lo não levaria alguém a escrever sobre um novo conceito de política, coerente com o que vivemos? Se democracia é meio e fim para a guerra, e meio para se estudar estados de violência, não há mais como pensar a política como guerra continuada por outros meios... Volto em outro dia. Notas Este artigo é uma versão resumida e modificada de “Pensamento libertário, terrorismos e tolerância”, paper apresentado no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, em 2007. Cf. http:// pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/wp200702.pdf. 1 Pierre Bourdieu. “Dois imperialismos do universal” in Daniel Lins e Loïc Wacquant (orgs.). Repensar os Estados Unidos. Por uma sociologia do superpoder. Tradução de Rachel Gutiérrez. Campinas, Papirus, 2003, pp. 13-19. 2 Gilles Deleuze. “Post-scriptum sobre as sociedades de controle” in Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo, Editora 34, 1992, pp. 219-226. 3 “A heterotopia anarquista interessa como problematização atual da existência na passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, por justapor espaços — como o jardim antigo —, romper com a temporalidade tradicional — com seus arquivos, com sua existência crônica no refazer de associações, e pela sua capacidade desta permanecer penetrável, 4 74 verve Fluxos libertários e segurança sem isolar-se — deixando de ser heterotopia de ilusão, como o bordel, ou de compensação, como a Missão jesuíta. A heterotopia anarquista é um barco, reserva de imaginação”. Edson Passetti. “Hetrotopia, anarquismo e pirataria” in Margareth Rago e Alfredo Veiga-Neto (orgs). Figuras de Foucault. Belo Horizonte, Autêntica, 2006, pp. 114-115. Edson Passetti. Éticas dos amigos. Invenções libertárias da vida. São Paulo, Imaginário-Capes, 2003. 5 Michel Foucault. Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979. Paris, Gallimard-Seuil, 2004. 6 “É a partir do local recoberto por tramitações planetárias articuladas pela sociedade civil organizada e governos, que se produz participação contínua, negociada e apta. Perpassando os diversos planos desta nova consolidação, o intelectual especialista ganhou inúmeros perfis ajustados e variáveis que o situaram, agora, entre diversos fluxos velozes e modificáveis, como um intelectual modulador. Nem o intelectual específico contraposicionado da sociedade disciplinar, nem o intelectual crítico e propositivo de uma nova sociedade igualitária são mais eficientes, referências ou ídolos. Nesta sociedade agendada em participações asseguradas e em variações contínuas é ao intelectual-cidadão democratizado e portador de direitos, o intelectual modulador, que se destinam os ajustes, as inovações e as consolidações de direitos soberanos”. Edson Passetti. “Foucault em transformação” in Lúcia Bógus, Simone Wolff e Vera Chaia (orgs.). Pensamento e teoria nas Ciências Sociais, São Paulo, Educ, 2011, p. 219. 7 A prisão moderna tem por função retirar, vigiar, educar pelo trabalho, religião e reformar a moral: é a imagem do medo para a sociedade. A prisão contemporânea retira, monitora, inquere sobre a cultura do preso, tortura com respaldos legais ou consensuais, não visa educar pelo trabalho, nem reformar moralmente o preso; apenas administra o déficit de crimes selecionados. Todo preso é um preso político. 8 Edson Passetti e Acácio Augusto. Anarquismos e educação. Belo Horizonte, Autêntica, 2008. 9 Cf. Piotr Alexeyevich Kropotkin. Russian and french prisons. Londres, Ward and Downey, 1887. 10 Não se trata de um problema relativo somente à loucura, mas à medicina. “Outrora, o que se pedia à medicina era o efeito econômico de dar à sociedade indivíduos fortes, isto é, capazes de trabalhar, de assegurar a constância da força de trabalho, seu melhoramento e reprodução. Recorreu-se à 11 75 20 2011 medicina como um instrumento de manutenção e reprodução da força de trabalho para o funcionamento da sociedade moderna. Atualmente, a medicina encontra a economia por outra via. Não simplesmente porque é capaz de reproduzir a força de trabalho, mas porque pode produzir diretamente riqueza, na medida em que a saúde constitui objeto de desejo para uns e de lucro para outros. (...) Os grandes lucros da saúde vão para as empresas farmacêuticas. Com efeito, a indústria farmacêutica é sustentada pelo financiamento coletivo da saúde e da doença, por mediação das instituições de seguro social que obtêm fundos das pessoas que devem obrigatoriamente se proteger contra as doenças”. Michel Foucault. “Crise da medicina ou crise da antimedicina”. Tradução de Heliana Conde in Verve. São Paulo, Nu-Sol, v. 18, 2010, pp. 187-188; 191. David Hume. História natural da religião. Tradução de Jaimir Conte. São Paulo,Unesp, 2005; Voltaire. Tratado sobre a tolerância. Tradução de José M. Justo. Lisboa, Antígona, 1999 e A filosofia da história. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo, Martins Fontes, 2007. 12 Salete Oliveira. “A grandiloqüência da tolerância, direitos e alguns exercícios ordinários” in Verve, São Paulo, Nu-Sol, 2005, v. 8, pp. 276-289; e “Tolerância e conquista, alguns itinerários na Declaração Universal dos Direitos Humanos” in Verve, São Paulo, Nu-Sol, 2006, v. 9, pp. 150-167. 13 Edson Passetti. “Ensaio sobre um abolicionismo penal” in Verve, São Paulo, Nu-Sol, 2006, v. 9, pp. 83-114. 14 Cf. Edson Passetti. “Direitos Humanos, sociedade de controle e a criança criminosa” in Comissão de Direitos Humanos do CRP-RJ (org). Direitos Humanos? O que temos a ver com isso? Rio de Janeiro, Conselho Regional de Psicologia, 2007, pp. 63-82. 15 Thiago Rodrigues. Política e guerra nas relações internacionais. São Paulo, Educ, 2010. 16 O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma, estabelecido em 17 de julho de 1998. Está sediado em Haia desde 2002. Procede dos Tribunais de Nuremberg e Tóquio, no final da II Guerra Mundial. O de Nuremberg constitui-se com o Tribunal Militar Internacional, segundo o Acordo de Londres, de 8 de agosto de 1945, por meio de resolução do Conselho de Segurança da ONU, e formado por juízes civis dos Estados Unidos, Inglaterra, França e um militar da União Soviética. Até a formalização em Haia, formaram-se, nos anos 1990, dois tribunais com a incumbên17 76 verve Fluxos libertários e segurança cia de julgar indivíduos que cometeram crimes graves contra a humanidade, atentando contra os direitos humanos: o primeiro, na própria Haia, para julgar crimes cometidos na ex-Iuguslávia; o segundo, voltado para o caso Ruanda, estabeleceu-se em Arusha, na Tanzânia, em 1996. Entretanto, a criação definitiva do tribunal, no século XXI, não obteve a adesão dos seguintes Estados: EUA, China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Qatar. Por isso, o julgamento de Saddan Hussein, por um tribunal do vencedor da guerra ao terror, ocorreu por meio de procedimentos jurídicos de execução levados adiante pelos EUA, caracterizando tal fato à maneira similar do julgamento de Eichmann em Jerusalém, entre 1961 e 1962. No caso do Tribunal Penal de Tóquio, organizado pelo general Douglas MacArthur, a partir da Carta do Tribunal Internacional Militar para o Extremo Oriente, entrou em funcionamento em 25 de abril de 1946, e foi composto por juízes das forças vencedoras: EUA, União Soviética, China, Inglaterra, Países Baixos, França, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Índia Britânica e Filipinas. Frédéric Gros. Estados de violência. Ensaios sobre o fim da guerra. Tradução de José A. da Silva. Aparecida,SP, Idéias e letras, 2010. 18 19 Idem, p. 253. Edson Passetti. “Poder e anarquia. Apontamentos libertários sobre o atual conservadorismo moderado” in Verve. São Paulo, Nu-Sol, 2007, v. 12, pp. 11-43. 20 Pierre-Joseph Proudhon. “A guerra e a paz”. Tradução de Martha Gambini. in Verve. São Paulo, Nu-Sol, 2011, v. 19, pp. 23-71; Max Stirner. O único e sua propriedade. Tradução de João Barrento. São Paulo, Martins Fontes, 2009. 21 77 20 2011 Resumo Ensaio sobre proximidades de discursos libertários, voltado para efeitos contemporâneos relativos aos fluxos libertários e a segurança na sociedade de controle. Problematiza as relações entre direito, guerra e política, situando as configurações de estados de violência na atualidade, dentre eles os terrorismos. Palavras-chave: fluxos libertários, segurança, sociedade de controle Abstract The essay is about the proximities among libertarian discourses, aiming at the contemporary effects related to the libertarian fluxes and security in the society of control. It problematizes the relations between law, war and politics, presenting the current configurations of the states of violence, including among them, the terrorisms. Keywords: libertarian fluxes, security, society of control Recebido para publicação em 29 de junho de 2011. Confirmado em 05 de agosto de 2011. 78 2 Los perros românticos Roberto Bolaño En aquel tiempo yo tenía veinte anõs y estaba loco. Había perdido un país pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño lo demás no importaba. Ni trabajar ni rezar ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño: estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado. Un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía: crescerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos Y aquí me voy quedar. Robero Bolaño. Los perros românticos. Poemas 1980-1998. Barcelona, Acantilado, 2010, 88 pp. Segundo o editor manteve-se a reprodução do poema na grafia encontrada no disco rígido do computador do escritor chileno. Os cães românticos Roberto Bolaño Naquele tempo eu tinha vinte anos e estava louco. Perdera um país porém ganhara um sonho. E se tinha esse sonho nada mais importava. Nem trabalhar, nem rezar nem estudar na madrugada com os cães românticos. E o sonho vivia no vazio de meu espírito. Uma morada de madeira, na penumbra, em um dos pulmões do trópico. E às vezes me revirava dentro de mim e visitava o sonho: estátua eternizada em pensamentos líquidos, um verme branco retorcendo-se no amor. Um amor desbocado. Um sonho dentro de outro sonho. E o pesadelo me dizia: crescerás. Deixarás atrás as imagens da dor e do labirinto e esquecerás. Porém naquele tempo crescer seria um crime. Estou aqui, disse, com os cães românticos E aqui ficarei. Tradução de Edson Passetti 3 verve Ética, direitos humanos e biopder ética, direitos humanos e biopoder cecilia maria bouças coimbra Os direitos humanos não nos obrigarão a abençoar as “alegrias” do capitalismo liberal do qual eles participam ativamente. Não há Estado democrático que não esteja totalmente comprometido nesta fabricação da miséria humana1 Gilles Deleuze O presente trabalho traz alguns apontamentos iniciais, na intenção de suscitar o debate sobre a emergência dos conceitos de direitos e de humano, objetos das ciências humanas e das práticas de individualização de sujeitos que, ao mesmo tempo em que trouxeram novos valores para os corpos e para vida das populações, produziram modos assujeitados de estar no mundo.2 Tomando como solo a justificativa da defesa dos direitos humanos, trata-se de priorizar a invenção dos direitos e do humano, tomados como natureza universal, e dos modos de assujeitamento vinculados a uma certa concepção humanista da existência.3 Cecília Maria Bouças Coimbra é psicóloga, professora no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal Fluminense, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais - RJ. verve, 20: 85-100, 2011 85 20 2011 Segundo Foucault, a história clássica e oficial que nos tem sido ensinada é concebida como uma marcha contínua dos acontecimentos históricos em direção à conquista de um lugar final visando o progresso e a civilização.4 Assim, estágios antecedentes nos levariam obrigatoriamente a um futuro de perfeição ou à aproximação gradativa do que deve ser a perfeição. O mundo burguês nos faz acreditar nas qualidades da civilização moderna, desqualificando tudo o que o precedeu. Ou seja, o nosso presente no mundo ocidental — a partir de certos parâmetros valorativos — julga, hierarquizando, as diferentes histórias dos povos. O que chamamos de barbárie seria uma espécie de corpo estranho à civilização. Esta dicotomia entre civilização e barbárie é um produto do nosso tempo, visto que nunca se utilizou tanto esses dois conceitos, justamente, em um momento em que segurança e direitos humanos tornam-se as palavras de ordem. Foucault caracteriza este momento da sociedade disciplinar, em especial a partir do final do século XVIII, como o “fazer viver e deixar morrer”,5 quando cada vez mais necessitamos que muitos morram para que outros possam viver. Por isso, precisamos atribuir ao “passado bárbaro” o horror que hoje vivemos: os genocídios, os extermínios, os doentes negligenciados, as torturas. Tal lógica se apresenta como se toda uma tecnologia que nos apregoa o bem-estar ou, na linguagem neoliberal, a qualidade de vida e a tal auto-estima, não estivesse também a serviço deste biopoder, deste poder sobre a vida: fazer viver alguns à custa da mortificação da maioria da população do planeta. Entendemos, assim, que civilização e barbárie não se opõem, fazendo parte do funcionamento da sociedade capitalista. Tal discurso, que nega os binarismos, pode ser encontrado também nos escritos de 86 verve Ética, direitos humanos e biopder Marx, quando em O Capital, por exemplo, explica o mecanismo por meio do qual a acumulação de capital produz, ao mesmo tempo, a riqueza e aquilo que é caracterizado como seu contrário: a miséria, imprescindível à existência de mais e mais riqueza. Por isto, entendemos ser importante problematizar alguns fundamentos históricos, filosóficos e políticos das produções que vêm sendo naturalizadas no cotidiano das lutas por esses direitos.6 É comum considerá-los como frutos de uma evolução em direção ao progresso do chamado gênero humano, em direção à “elevação das sensibilidades” do homem civilizado. Entendemos, portanto, ser importante colocar em análise alguns termos que, de tão evidentes e repetidos, passam a ser percebidos como verdades únicas, universais e ahistóricas, tendo determinadas essências. Historicizando direitos humanos A burguesia iluminista precisava derrotar a nobreza e o clero, impor-lhes limites e ao mesmo tempo precisava conter as massas pobres que sonhavam com uma república livre, igualitária e fraterna. O poder precisava atualizar-se, não punir menos, mas punir melhor, com a eficácia do utilitarismo econômico.7 Vera Malagutti Batista Os ideais da Revolução Francesa — igualdade, liberdade e fraternidade — palavras de ordem da burguesia em ascensão, tornaram-se, a partir do fim do século XVIII, os fundamentos dos chamados direitos humanos. Produzidos pelo capitalismo como um dado natural, tornaram-se, portanto, 87 20 2011 sinônimos de direitos inalienáveis da essência do que é ser homem. Tem-se, então, um determinado rosto para os direitos humanos desde a primeira grande declaração produzida no âmbito da luta realizada pela burguesia contra a aristocracia francesa, em 1789, até a mais recente declaração, a de 1948, quando, após a Segunda Grande Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU) em pleno período da chamada “Guerra Fria”. Estão presentes nessas duas grandes declarações — que se tornaram marcos para a história da humanidade — os direitos, em realidade, reservados e garantidos para os chamados bons cidadãos. Um dos mais defendidos e, em nosso mundo, considerado sagrado, é o direito à propriedade. Os direitos humanos, portanto, têm apontado quais são esses direitos e para quem eles devem ser concedidos. Ou seja, se tomados em sua perspectiva histórica, tanto o humano como os direitos são construções das práticas sociais em determinados momentos, que produzem continuamente esses objetos, subjetividades e saberes sobre eles. Pensando como Foucault, entendemos que seu método “consiste (...) em compreender que as coisas não passam das objetivações de práticas determinadas, cujas determinações devem ser expostas à luz, já que a consciência não as concebe (...) Tudo gira em volta desse paradoxo, que é a tese central de Foucault e a mais original: o que é feito, o objeto, se explica pelo que foi o fazer em cada momento da história; enganamo-nos quando pensamos que o fazer, a prática, se explica a partir do que é feito”.8 Em nossa epígrafe, Deleuze afirma que os direitos humanos, desde sua gênese, têm servido para levar aos diferentes e pobres em geral a ilusão de participação, de que os chamados cidadãos preocupam-se com o seu bem-estar, de que o humanismo dentro do capitalismo é uma reali88 verve Ética, direitos humanos e biopder dade.9 Entretanto, sempre estiveram fora desses direitos à vida os segmentos pauperizados e percebidos como “marginais”: os “deficientes” de todos os tipos, os “desviantes”, os miseráveis, dentre muitos outros. A estes, efetivamente, os direitos, assim como a dimensão humana, sempre foram — e continuam sendo — negados, pois tais parcelas foram produzidas para serem vistas como não-cidadãs, como não pertencentes ao gênero humano. Não há dúvida, portanto, que esses direitos, proclamados pelas diferentes revoluções burguesas, contidos nas mais variadas declarações, tenham construído subjetividades, modos de ser e estar no mundo, que definem para quais humanos os direitos devem se dirigir. Os marginalizados de toda ordem nunca fizeram parte desse grupo que, ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, tiveram e continuam tendo sua humanidade e seus direitos garantidos. Ou seja, foram e continuam sendo defendidos certos tipos de direitos, dentro de certos modelos, que terão que estar e caber dentro de certos territórios bem-marcados e delimitados e dentro de certos parâmetros que não poderão ser ultrapassados. Percebemos aqui como as diferentes práticas sociais, em diferentes momentos da história, vão produzindo diferentes “rostos”, diferentes “fisionomias”; portanto, diferentes objetos, diferentes entendimentos do que são os direitos e do que é o humano. Estes não têm uma evolução ou origem primeira, mas emergem, em certos momentos, de maneiras bem peculiares. Em vez de pensar os direitos como essência universal do homem, poderíamos, por meio de outras construções, garantir e afirmá-los como diferentes modos de sensibilidade, diferentes modos de viver, existir, pensar, perceber, sentir; enfim, diferentes jeitos de estar no mundo. Entre89 20 2011 tanto, essas afirmações da vida em suas potências são ainda vistas como estando fora dos tradicionais direitos humanos, porque não estão presentes nos modelos condizentes com a “essência” do que é direito e do que é humano. Rachar a expressão direitos humanos, tão naturalmente utilizada, e mesmo banalizada no contemporâneo, possibilitou-nos pensar na diferenciada emergência histórica desses dois objetos: direitos e humano. Da mesma forma que o direito é construído como sendo um atributo universal, uma determinada concepção de homem também vem sendo produzida historicamente, desde o século XVIII. O surgimento de uma concepção do humano e da universalização dos direitos não se deu de forma tão grandiosa e afirmativa como nos querem fazer acreditar as revoluções burguesas e suas declarações. Naquele mesmo período, no século XVIII, foi necessário dar visibilidade científica ao chamado indivíduo perigoso, através do saber médico e da reforma das práticas de punição, para que uma nova forma de ordenação social pudesse se manter: a normalização das populações através dos dois braços do biopoder, a medicalização e a judicialização. Não por acaso, o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, nos fala: “todos os homens nascem livres e iguais em direitos”. Sabemos que uns nascem mais iguais do que outros. Alguns merecem, portanto, ser mais ajudados, produzindo assim uma hierarquia da vitimização. Da mesma forma que a pobreza sempre foi dividida entre o pobre digno, o trabalhador, e o pobre indigno, o considerado vadio; as “vítimas” também estão dentro dessa classificação. É necessário saber qual “vítima” deve ser ajudada. Embora, em ambos os casos, sempre serão considerados “pobres coitados”. Isto quer di90 verve Ética, direitos humanos e biopder zer que a diferença foi reduzida à desigualdade. O direito à propriedade individual traz como efeito óbvio a produção dessa desigualdade em todos os sentidos. Ao mesmo tempo em que essa produção se dá, o capital exige para sua sobrevivência a homogeneização das multiplicidades, dos diferentes modos de perceber, agir, sentir, pensar e viver. Tudo vai sendo laminado, excluindo toda e qualquer diferença considerada como algo negativo. Com a invenção da razão, o homem, e tudo que o caracteriza como uma natureza, passou a ser o centro do universo, uma referência única e superior. Assim, o que é considerado fora desta categoria de julgamento é desqualificado, excluído, exterminado. Queremos, portanto, afirmar aqui um direito e uma humanidade positivada enquanto processos imanentes, não definidos, não dados e não garantidos necessariamente pelas leis, mas que, por isso mesmo, precisam afirmar a vida em toda a sua potência de criação. A desnaturalização dos conceitos de direitos e de humano implica em um desafio permanente. No Brasil, a luta pelos direitos humanos emerge com força nos movimentos contra a ditadura civil-militar (1964-1985). Surgem com os chamados novos movimentos sociais que se efetivam ainda na segunda metade dos anos 1970, com práticas que começaram a rechaçar os movimentos tradicionalmente instituídos e que politizaram o cotidiano nos locais de trabalho e moradia, inventando novas formas de fazer política. Vieram quando “novos personagens entraram em cena”,10 quando emergiram novos atores políticos que, no cotidiano, lutavam por melhores condições de vida, trabalho, salário, moradia, alimentação, 91 20 2011 educação, saúde e pela democratização da sociedade. Esses movimentos começaram a existir com os próprios “estilhaços” que resultaram das derrotas impostas aos movimentos sociais com o golpe de 1964 e com o AI-5, em 1968. Seus “sobreviventes”, ao pensar criticamente as várias experiências de oposição nos anos de 1960 e 1970, fizeram emergir nos bairros e, logo a seguir, nas fábricas, “novas políticas” que substituíram as tradicionalmente utilizadas. Sobretudo das crises da Igreja, das esquerdas e do sindicalismo, que a ditadura acirrou e aprofundou, surgiu uma série de movimentos sociais produzindo novos caminhos. Estes, por sua vez, forjaram práticas ligadas à teologia da libertação, repensaram certas leituras do marxismo, a oposição armada à ditadura e o movimento sindical. Emergiram desses novos movimentos sociais, dessas novas práticas, outros rostos, outras fisionomias para os direitos humanos. Vários grupos surgiram como importantes trincheiras contra as violências cometidas e que, ainda hoje, persistem na disposição de afirmar e apontar para as lutas junto aqueles cujas existências continuam sendo negadas, marginalizadas e exterminadas. Entretanto, apesar da potência desses movimentos que possibilitaram formas de expressão contrapostas ao fechamento ditatorial, as lógicas de poder e as racionalidades do Estado não foram modificadas, sequer atingidas. As lutas que pretendiam alcançar a “igualdade e a justiça social” acreditavam que isto só poderia acontecer pela tomada e apropriação do aparelho de Estado. Mudanças só seriam operadas a partir da utilização das mesmas racionalidades que, segundo Agamben, constituem a máquina estatal moderna: a democracia instituída pela política de representação e, paradoxalmente, a existência de um estado de exceção.11 Estaremos longe, portanto, de uma nova 92 verve Ética, direitos humanos e biopder ética afirmativa dos direitos enquanto não enfrentarmos o risco das revoluções, não mais das macro revoluções, mas sim das invisíveis rupturas trazidas pelas revoluções moleculares em nossas práticas cotidianas de poder. Afirmamos, portanto, a processualidade dos direitos como conquista datada historicamente e do humano como permanente criação de si e de modos de viver. Assim também, é preciso estranhar a crença em conceitos abstratos e transcendentes como os de direitos e o de humano. Esta é uma forma radical — a partir das experiências de cada um de nós na coletividade, na imanência das nossas práticas e das lutas no tempo histórico — de problematizar direitos que vão sendo forjados e uma humanidade que vai se construindo. Reafirmamos que, se direitos e humano não são entendidos como objetos naturais, podemos produzir outros direitos, outros humanos. Direitos não mais universais, absolutos, contínuos e em permanente estado de aperfeiçoamento, mas locais, descontínuos, fragmentários, processuais, em constante movimento e devir, como as forças que nos atravessam e nos constituem. Por uma processualidade ético-política Como já afirmado anteriormente, compartilhamos com os pensadores da Filosofia da Diferença que as práticas sociais produzem incessantemente os saberes, os objetos, os sujeitos, enfim, o mundo e os homens que nele habitam. Diferentemente de uma certa concepção de ciência dominante no Ocidente — que se funda em uma crença nas essências e verdades imutáveis, onde tudo que existe é naturalmente dado —, tentamos nos conectar com a força de 93 20 2011 um pensamento que não imita ou reproduz os modelos já dados, onde a verdade é sempre provisória e múltipla, voltada para a potencialização, não sendo algo pré-existente a ser descoberto.12 Assim, torna-se para nós importante caracterizar duas formas de expressão do pensamento que estão no mundo e que se presentificam em qualquer área do conhecimento: o pensamento que se alia à diversidade da vida e o pensamento reduzido às regras, normas e certezas. “O primeiro constrói uma ética, enquanto o segundo segue aprisionado na moral.”13 Este último pensamento dominante no Ocidente traz um determinado modo de conceber o mundo onde, diante do movimento da vida em suas infinitas e múltiplas mutações, busca meios para construir um mundo ordenado, seguro e permanente. Este pensamento, acompanhando uma certa lógica platônico-cartesiana, dentre outras, irá desqualificar o mundo das experiências sensíveis, do movimento por sua incapacidade de se auto-ordenar e, por isso mesmo, considerado fonte de ilusão e de erro. Busca, então, a ordem das verdades permanentes, afirmando a existência de dois mundos: o sensível e o das ideias perfeitas. No primeiro, não haveria verdadeiro conhecimento, pois o domínio do sensível é apenas opinião, conjectura, crença e não saber. Só no mundo do inteligível, das ideias, das essências, lugar dos modelos superiores, será possível haver verdadeiro conhecimento. Procura-se, portanto, a inteligibilidade dos acontecimentos e das coisas sensíveis não neles mesmos, na imanência, mas em um outro mundo transcendente fora da experiência sensível. O mundo sensível é, pois, uma região 94 verve Ética, direitos humanos e biopder inferior “e que, no melhor dos casos, conquista uma realidade segunda, torna-se cópia, caso deixe-se ordenar à semelhança do mundo modelar das alturas”.14 Essas colocações apontam para um homem que, por seguir as leis, seria recompensado, e para um outro que, estando fora delas, receberia castigos. Assim, ao aceitar a lógica da moral, atribui-se à Lei o poder de salvar o homem, pois este estaria dominado por tendências perversas, visto sua “natureza” incompleta estar sempre em falta. Se vivemos reduzidos à “consciência e seus decretos”, estamos no campo da moral, muitas vezes confundido com o da ética, que impõe deveres a instâncias exteriores: o Estado, o Bem, a Lei, a Razão, Deus, as hierarquizações e os valores declarados absolutos, universais e transcendentes ao tempo em que emergiram. Assim, segundo Deleuze, é importante voltarmo-nos para uma potência positiva que nega tanto os modelos quanto as reproduções, visto que há “que se interrogar as produções sociais”.15 A construção de um “eu” das essências nos tornou prisioneiros da moral, que impõe proibições e obrigações, um “deve-se”. Entendemos que estes deveres são historicamente criados, datados, sendo locais, fragmentários, parciais e temporários e não universais, homogêneos e totalizantes segundo as concepções dominantes. Portanto, a moral estará sempre relacionada a um sistema de julgamento, o que a diferencia da ética que desarticula esse sistema. A moral impõe e naturaliza a oposição entre os valores universais Bem/Mal, aos quais o homem 95 20 2011 sempre deverá estar subordinado. Essas categorias de Bem/Mal referem-se à falta/mérito, ao pecado/remissão. Não por acaso, esse tipo de pensamento é o sustentáculo do sistema capitalista contemporâneo, no qual ao lado da crença nas essências se afirma também a responsabilidade individual. Cria-se a falsa noção de sujeito autônomo, do livre arbítrio, sempre no plano individual, respaldado pela crença na democracia representativa. Neste modo de ser e de estar no mundo, tudo será responsabilidade e atributo desse indivíduo. Entretanto, esta é apenas uma das formas possíveis de subjetividade em nosso mundo. Ela expressará uma característica cara ao modo de funcionamento capitalista: a meritocracia onde tudo depende da capacidade e da eficiência individual. Cada um passa a ser responsável pelo que é e pelo o que consegue fazer. Hoje, no neoliberalismo, exige-se que esse homem seja cada vez mais flexível. O fracasso e o sucesso são, então, considerações individuais associadas aos modelos de Bem e de Mal. Entendemos que as perspectivas da Lei, do Bem e da Obediência, que normatizam as condutas, constituem-se em uma atitude moral que se distingue de uma outra postura a que chamam ética. Esta pressupõe uma outra atitude diante do mundo, um outro olhar filosófico e político que desarticula o sistema de julgamento, não aceitando a oposição Bem x Mal. Os bons e maus encontros na militância ética O filósofo Espinoza, para explicar o que entende por mau, lançar mão de uma explicação não moral. Para ele, o mau será sempre o que chama de um mau encontro que é 96 verve Ética, direitos humanos e biopder como se fosse “... a ingestão de um veneno, ...que diminui ou destrói nossa potência de existir, nos entristecendo ou matando. O bom seria como um alimento, que se compõe com nosso corpo, constituindo um bom encontro, a medida que aumenta nossa potência de existir, produzindo afetos de alegria. Como um alimento ou um veneno, nem tudo o que é mau em um momento para um indivíduo, em um determinado lugar, o é necessariamente, se um dos elementos no encontro variar, como o lugar, o tempo, o corpo ou a ideia”.16 Desta forma, o que pode ser veneno para nós em um determinado tempo ou lugar pode ser alimento em outro tempo ou lugar. No cotidiano do Grupo Tortura Nunca Mais-RJ, estamos atentos para potencializar e afirmar os bons encontros. Difícil tarefa, pois seus membros constituem-se, principalmente, de familiares de mortos e desaparecidos políticos e de militantes que sofreram ou não os horrores da tortura, do exílio e da clandestinidade e, ainda, de muitos que hoje são atingidos pelas mais diversas violências institucionalizadas. Como transformar os efeitos dessas experiências pontuadas pela dor, sofrimento, negação, perdas, em instrumentos de luta, potencializando e reinventando essas vidas? O silenciamento a respeito de suas histórias, o encobrimento oficial de suas vivências, tudo remete à fragilização, à tristeza, ao desânimo e à impotência. No entanto, sempre entendemos que a força de suas histórias, lutas e intervenções no cotidiano evidenciam o guerreiro, o inventor, o nômade que há em cada um. O retorno à militância, à participação ativa nos enfrentamentos e na reafirmação da solidariedade através das iniciativas do grupo, sempre coletivas, têm trazido para muitos 97 20 2011 outras relações nas quais a alegria se expressa, o veneno se transforma em alimento e a vida se faz mais vibrante. Chamamos, pois, ética a uma capacidade da vida e do pensamento que nos constitui e nos permite selecionar, nos diferentes encontros que temos, algo que possibilite ultrapassar as experiências condicionadas pela sociedade em que vivemos, em direção a outras experiências, mais abertas, mais livres e diversas, em um processo de aprendizado e avaliação constante. Como, apesar deste mundo neoliberal de controle globalizado, efetuar uma existência voltada para uma ética na qual possamos evitar nos sentir prisioneiros de pré-conceitos, de verdades, de modelos já definidos? Como buscar não ser apenas produtor-reprodutor e, portanto, refém de uma moral consumista, mercadológica, individualista, ajuizadora, condenatória, autoritária, segregadora, hierarquizante, disciplinadora e controladora, a qual vem se fortalecendo nestes tempos atuais? Faz-se necessária a produção de “... homens livres por estarem ligados a sua própria potência de produzir e afirmar seus devires criadores. É a partir do modo que se produz e se transmite energia, que não mais parasita, mas que estabelece... [intensos encontros], que as condições de existência da vida poderão encontrar seu meio de expansão e expressão da alegria, efeitos do aumento da capacidade de agir e pensar da Terra, na Terra, pela Terra”.17 Notas 1 Gilles Deleuze. Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro, Editora 34, 1992. 98 verve Ética, direitos humanos e biopder Michel Foucault. Em defesa da sociedade. Tradução de Maria Ermantina Galvão. Rio de Janeiro, Martins Fontes, 2002. 2 Ver: Cecilia Maria Bouças Coimbra, Lilia Ferreira Lobo e Maria Livia Nascimento. “A invenção do humano como modo de assujeitamento” in Manoel Mendonça Filho e Maria Tereza Nobre (orgs). Política e Afetividade: narrativas e trajetórias de pesquisa. Salvador/São Cristóvão, EDUFBA/ EDUFS, 2009, pp. 31-42 e Cecilia Maria Bouças Comibra, Lilia Ferreira Lobo e Maria Livia Nascimento. “Por uma invenção ética para os direitos Humanos” in Psicologia Clínica, v. 20.2. Rio de Janeiro. 2008, pp. 89-102. 3 Ver: Michel Foucault. Microfísica do Poder. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro, Graal, 1988. 4 5 Michel Foucault, 2002, op. cit.. Sobre o tema, consultar: Cecilia Maria Bouças Coimbra, Lilia Ferreira Lobo e Maria Livia Nascimento, 2009, op. cit.. 6 Vera Malaguti Batista. O preocupante porvir. Rio de Janeiro, Instituto Carioca de Criminologia, mimeogr., 2008. 7 Paul Veyne. Como se escreve a história. Brasília, Cadernos da UNB, 1982, pp. 162 e 164. 8 9 Gilles Deleuze, 1992, op. cit.. Eder Sader. Quando novos personagens entram em cena. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. 10 Giorgio Agamben. Estado de exceção. Tradução de Iraci Poleti. São Paulo, Boitempo, 2004. 11 Sobre o assunto consultar Cecilia Maria Bouças Coimbra e Maria Beatriz Sá Leitão. “Direitos Humanos e a Construção de uma Ética Militante” in Janne Calhau Mourão (org.). Clínica e Política 2: subjetividade, direitos humanos e invenção de práticas clínicas. Rio de Janeiro, Abaquar/Grupo Tortura Nunca Mais-RJ, 2009, pp. 315-325. 12 Ana Maria do Rego Monteiro Abreu. O Simulacro na Clínica. Rio de Janeiro, USU, Programa de Especialização em Psicanálise da CEPCOP, mimeogr., 1990, pp. 60-61. 13 Luiz Fungati. “Saúde, Desejo e Pensamento” in Saúde e Loucura, n. 2. São Paulo, Hucitec, 1990, p.22. 14 99 20 2011 15 Gilles Deleuze. A Lógica dos Sentidos. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo, Perspectiva, 1974. Luiz Fungati. A Ética Como Potência e a Moral Como Servidão. São Paulo, Escola Nômade de Filosofia, mimeogr., 2001, p. 4. 16 17 Idem, p. 88. Resumo Através do referencial teórico da Filosofia da Diferença busca-se problematizar alguns conceitos, o de direitos e o de humano. Na prática acadêmico-militante várias interrogações surgem. Apontaremos distinções entre ética e moral, articulando-as à luta pelos chamados direitos humanos no Brasil hoje. Tais questões serão trazidas tendo como cenário a sociedade neoliberal de controle globalizado na qual o poder e o governo sobre as vidas fortalecem-se cada vez mais de forma sutil e sedutora. palavras-chave: ética; moral; direitos humanos; produção de subjetividades; biopoder. Abstract Trough the theoretical references of the Philosophy of Difference, this article seeks to question some concepts, rights and human. In the academic-militant experience of its authors several interrogations come to our attention. Distinctions between ethics and moral are pointed out, articulating the struggle for what is called human rights in Brazil as of today. Such questions are raised with consideration to the background of the neoliberal society of globalised control, where the power and the government upon lives grow in strength in a gradually more sutil and seductive way. keywords: ethics, moral, human rights, subjectivity production, bio-power. Recebido para publicação em 05 de abril de 2011. Confirmado em 12 de julho de 2011. 100 verve O abolicionismo menor de Louk Hulsman o abolicionismo menor de louk hulsman1 anamaria salles Abolir, do latim abolere: extinguir, eliminar, erradicar, anular, suprimir, destruir, aniquilar, exterminar, demolir. Tirar de uso sem colocar nada no lugar. Palavra usada para designar a luta pelo fim do regime escravista, usada por Proudhon para situar a estratégia anarquista relativa ao Estado. Punir, do latim punire: infligir castigo, pena, dor, sofrimento, e, segundo Louk Hulsman: “uma forma de interação humana em diversas práticas sociais: na família, na escola, no trabalho, no esporte”.2 O abolicionismo penal é uma prática de liberdade que atua no presente pela demolição de costumes autoritários calcados no exercício da punição e da recompensa. É um estilo de vida livre que investe na invenção de uma linguagem apartada de práticas punitivas fundadas na autoridade central com o direito de dispor dos corpos. Os abolicionistas apontam para novas possibilidades de existências a serem inventadas no presente. Investem, tamAnamaria Salles é mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP e pesquisadora no Nu-Sol. verve, 20: 101-113, 2011 101 20 2011 bém, numa perspectiva, segundo Michel Foucault e sublinhada por Gilles Deleuze, que faz da vida uma obra de arte: uma relação consigo que permite resistir e voltar-se contra o poder. Atuar no presente requer uma vida desembaraçada de regras fixas e universais que naturalizam a obediência e conservam costumes autoritários. Em tempos de acomodações e pacificações, os abolicionistas inventam maneiras horizontais de experimentação de liberdade, explicitando singularidades desvencilhadas do medo e do castigo. Arruinar a linguagem Abolir a pena é uma maneira de conhecer voltada para uma educação livre do castigo. Louk Hulsman, um de seus principais formuladores contemporâneos, afirma-a, simultaneamente, como movimento social e acadêmico, ambos voltados para a instituição de novas práticas não criminais na resolução de situações-problema. É impossível falar do pensamento abolicionista de Hulsman sem remeter à sua vida, uma vez que o seu pensamento foi construído a partir das situações concretas que viveu. Hulsman distinguia teoria e vida; experimentou o abolicionismo nas relações que travava com as pessoas, investindo em práticas abolicionistas de maneira alegre e generosa. Começou a dar forma a seu abolicionismo penal a partir do trabalho como professor na Universidade de Leiden, na Holanda, onde notou a importância da linguagem para a prática abolicionista penal. Dizia-se um admirador de Foucault ao romper com o intelectual profeta em função de um intelectual que expõe o funcionamento das instituições para mostrar seus efeitos na sociedade. 102 verve O abolicionismo menor de Louk Hulsman Gostava de cozinhar e o fazia com grande prazer sem seguir receitas, para experimentar os diferentes encontros possíveis entre os elementos. Preparava jantares deliciosos para receber amigos, filhos e netos em sua ampla casa em Dordrecht, onde mantinha um belo jardim em que deixava as plantas crescerem livremente e, por isso, o chamou de “Jardim da Liberdade”. Mantinha nesta mesma casa um centro abolicionista penal, onde recebia os amigos para discussões acaloradas acerca da questão abolicionista e, muitas vezes, ali, reunia seus netos e filhos para conversas sobre literatura e Direito. Hulsman foi um intelectual de prática intensa, porém escreveu pouco. Segundo sua filha Jehanne, não pretendia produzir um pensamento fixo: “Lembro-me quando era mais jovem, que ele ficava muito mal-humorado para concluir um artigo... Ele amava muito mais a interação com as pessoas. Conversar, discutir. Ele amava uma discussão (...)”.3 Interessava-se por pessoas, pássaros, vulcões. Contagiava os locais por onde passava com sua paixão pela vida e seu senso de humor alternado com sua penetrante seriedade. Atravessou o planeta levando seu abolicionismo de maneira leve e corajosa, mostrando que o abolicionismo penal é uma prática que acontece no presente, propiciando a invenção de liberdades no equacionamento de situações-problema a serem lidadas pelas próprias pessoas envolvidas. Propôs outra abordagem da infração, desvinculando-a do direito penal, que sequestra a palavra entre os opositores e suprime a possibilidade do equacionamento da situação pelas partes envolvidas. Introduziu a noção de situação-problema para abordar um acontecimento em sua singularidade, distanciando-se de uma legislação pena103 20 2011 lizadora universal. A situação-problema não diz respeito apenas a uma maneira de abordar o evento, mas às possibilidades de lidar com o ocorrido, descartando fórmulas e soluções prévias. Trata-se de desconstruir a linguagem produzida pelo sistema penal e entender cada evento dentro de seu próprio contexto, sem o comando de autoridades que sequestram vontades e situações, em favor de uma tomada de decisão horizontalizada no interior do próprio acontecimento. A situação-problema designa o que cada acontecimento traz de inédito e surpreendente, e é um efeito da recusa a uma realidade ontológica do crime. Não é uma alternativa ao direito penal, uma maneira de enfrentar momentos trágicos sem criminalizá-los, buscando abordá-los no que é próprio a cada situação e a cada uma das pessoas envolvidas. Para enfrentar uma situação-problema, Hulsman sugeriu a construção de uma visão anascópica da realidade. Esta noção desloca o olhar da justiça criminal para que, com nossos olhos, possamos entendê-la dentro de seu próprio contexto, romper com a universalidade dos casos prescritos pela lei e enfatizar a singularidade do evento. Os abolicionistas recusam reconhecer a existência de uma natureza intrínseca que define determinados comportamentos puníveis. Afirmam ser o crime uma construção histórica que varia de acordo com o tempo e com o espaço e que, portanto, não é algo natural. Sinalizam que a resolução de situações-problema pelos envolvidos e sem a intervenção do sistema penal já ocorre em momentos na sociedade. A diferença entre o número de eventos registrados nas estatísticas policiais e o número de conflitos computados nas estatísticas dos tribunais — a denominada cifra negra ou escura — junto aos eventos que sequer chegam ao conhecimento do sistema por serem resolvidos entre as 104 verve O abolicionismo menor de Louk Hulsman próprias partes envolvidas, indicam que o abolicionismo penal é uma prática vigente e possível. A cifra negra ou escura mostra a incapacidade do sistema punitivo de realizar sua proposta de resolução de todos os processos que a ele chegam. Este sistema opera pelo dispositivo da seletividade, tendo como objetivo retirar de circulação os que incomodam e atentam contra a moral vigente. O sistema penal moderno se dirige ao controle dos diferentes: pobres, pretos, prostitutas, miseráveis, loucos, subversivos, crianças e jovens considerados infratores. Por não suportar o diferente, pretende normalizar a sociedade tendo como pressuposto a prevenção geral. Sua função é a de educar pelo medo e pela ameaça da imposição legítima de violência, aplicada de maneira seletiva. No entanto, a história mostra que os índices de criminalidade nunca diminuíram em função da ameaça da pena.4 Investir no caráter preventivo da pena é dar continuidade a um circuito viciado de violências que se reproduz pela institucionalização da sociabilidade autoritária. Reversão interpretativa A perspectiva abolicionista sugerida por Hulsman parte do princípio de que se deve abandonar o referencial de interpretação utilizado pelo sistema penal para adotar um novo referencial que desloque a interpretação dos fatos para a iniciativa dos interessados. Para isso, o abolicionista propôs a conciliação direta entre os envolvidos a partir da sugestão de cinco estilos de controle social 5: o educativo, o conciliatório, o terapêutico o compensatório e o punitivo. Tais estilos se constituem como referências que facilitam a 105 20 2011 busca por soluções a partir da discussão do evento realizada pelas partes. Trata-se de uma maneira estratégica de suprimir o direito penal pelo recurso da conciliação exercitado no direito civil. Neste aspecto, o direito civil é uma opção no que diz respeito à responsabilização diante de uma situação-problema e a uma possível punição por meio da compensação de perdas e danos e do pagamento das custas do processo por aquele que for considerado infrator, ou pelo Estado, diante da impossibilidade financeira de quem provocou o prejuízo. Segundo Hulsman, a conciliação pelo direito civil pressupõe o acordo indivíduo-indivíduo, privilegiando o diálogo e buscando soluções reparadoras para ambas as partes. Ela propicia uma aproximação não estigmatizante entre os envolvidos, possibilita que as partes orientem os procedimentos e solicitem sua paralisação caso não estejam satisfeitas. Os estilos sugeridos por Hulsman, atualmente, foram incorporados a práticas de controle a céu aberto que deram continuidade à aplicação da pena para fora dos muros do prédio-prisão. A explicitação das inúmeras modulações provenientes de programas que instrumentalizam conciliações e compensações pode ser verificada nas reformas de instituições austeras acopladas a práticas de controle a céu aberto, que garantem a continuidade de punições, de uma forma restaurada.6 Os reformistas do direto punitivo capturaram práticas abolicionistas para pulverizar a lógica do tribunal em diversas esferas da sociedade por meio do investimento em penas alternativas, justiça terapêutica, conselhos tutelares, programas de justiça restaurativa, medidas sócio-educativas e equipes de mediação institucionalizadas.7 106 verve O abolicionismo menor de Louk Hulsman Diante disto, cabe ao abolicionismo penal escapar da parafernália reformista e desafiar não apenas o direito penal, mas o próprio direito. A intensificação da vida não cabe em modelos e em universais. É preciso desafiar a embolorada lógica da cultura punitiva da vingança, do julgamento, da prisão, para que se possa experimentar uma vida de liberações. A potência do menor Hulsman estabeleceu fortes vínculos de amizade pelos lugares onde passou. Dançou nas fronteiras desaparecendo continuamente sem deixar provas de suas passagens, apenas rastros. Esteve aqui e ali, sem se deixar localizar, escapando de tudo o que é rígido, provocando fissuras, convulsionando. Disseminou o abolicionismo penal de maneira apaixonada e apaixonante, contagiando lugares e pessoas com seu detemor e sua força. Experimentou um abolicionismo menor, que não se articulou para compor com a maioria, mas se constituiu como uma minoria potente. O termo “menor” é aqui empregado no sentido que Gilles Deleuze desenvolveu em Sobre o Teatro: Um manifesto de menos. Para o filósofo, minoria e maioria não se opõem apenas de uma maneira quantitativa. A maioria não designa uma quantidade maior, mas o padrão pelo qual outras quantidades serão consideradas menores e, neste sentido, remete a um modelo de poder no qual tudo o que se desvia é potencialmente minoritário. A minoria pode encontrar dois sentidos. O primeiro, designa a situação de um grupo que se encontra excluído da maioria ou, se incluído, “como fração subordinada em 107 20 2011 relação ao padrão de medida que estabelece a lei e fixa a maioria”.8 O segundo sentido, refere-se a um devir no qual uma pessoa se empenha. Trata-se de um devir-minoritário no qual cada um constrói a sua variação em torno da unidade fixa e escapa do sistema de poder que o fazia maioria. Neste sentido, na medida em que este devir diz respeito a cada pessoa em sua singularidade, a minoria se torna muito mais numerosa do que a maioria: “Por exemplo, de acordo com o primeiro sentido, as mulheres são uma minoria, mas pelo segundo sentido, há um devir-mulher de todo mundo, um devir-mulher que é como que a potencialidade de todo mundo e, a exemplo dos próprios homens, até mesmo as mulheres têm que devir mulher”.9 Desta maneira, a minoria designa aqui uma potência de um devir criativo, enquanto a maioria, a impotência em um estado homogêneo e constante. Não é possível falar de um devir-maioritário, uma vez que este último está sempre em oposição à pretensão majoritária. No entanto, são sempre grandes os riscos de uma minoria potente se tornar uma maioria e refazer um padrão. Para que uma minoria não perca a sua potência tornando-se maioria, é preciso que a própria variação criada pela minoria não deixe nunca de variar, que ela não assuma uma forma rígida e percorra sempre novos percursos inesperados. Quais seriam esses percursos inesperados? Deluze responde que são aqueles cuja fronteira está entre a História e o anti-historicismo, entre a estrutura e as linhas de fuga que a atravessam. Quando a minoria potente se torna maioria, ela é normalizada, historicizada, planificada; ela se fecha em torno de si mesma para se tornar um subcomponente da maioria. Se a história é o marcador temporal do poder, faz-se necessário que os processos de minoração liberem os 108 verve O abolicionismo menor de Louk Hulsman devires contra a história, que eles escapem do fator majoritário que supõe um estado de poder ou de dominação e que produzam pensamentos contra a doutrina instituída. “A potência das minorias não se mede por sua capacidade de entrar e se impor no sistema majoritário, nem mesmo de reverter o critério necessariamente tautológico da maioria, mas de fazer valer uma força dos conjuntos não numeráveis, por pequenos que eles sejam, contra a força dos conjuntos numeráveis, mesmo que infinitos, mesmo que revertidos ou mudados, mesmo que implicando novos axiomas ou, mais que isso, uma nova axiomática”.10 A questão aqui é encontrar um cálculo que concerne aos conjuntos não numeráveis, qualquer que seja o número de seus elementos, que desviem das vias do Estado e do processo da axiomática, que manipula conjuntos numeráveis. O inumerável é caracterizado antes pela conexão que se produz entre os elementos, pelo que não pertence a nenhum deles porque escapa, e não pelo próprio conjunto ou seus elementos. A minoria, enquanto fluxo ou conjunto não numerável, não é regulada, não recebe nenhuma expressão adequada que a torne uma nova maioria, um conjunto numerável finito. Pensar e agir como minoria é resistir contra a formatação e a adaptação ao que escapa. É seguir os fluxos de imanência à realidade sem aprisioná-los em convergências globalizantes que pretendem domesticar as diferenças a partir da instituição de um novo modelo. Desta maneira, o abolicionismo de Hulsman, ao trazer a noção de situação-problema e deixar livre o campo da resolução dos eventos nas mãos das pessoas diretamente envolvidas, configura-se como uma estratégia de confron109 20 2011 to que valoriza as singularidades e recusa a universalidade imposta pelo Estado. Escapa da captura e amplia a potência de soluções livres que enfatizam a singularidade de situações e arruínam teorias e centralidades. Os abolicionismos enquanto devires-minoritários não se deixam fixar, mas operam alianças com outros devires-minoritários conforme a situação, sem assumir outras formas de justiça e sem instituir outros modelos rígidos que obstaculizam os percursos inesperados. Os abolicionismos, enquanto devires menores, desfazem-se de formas fixas que identificam e estão abertos às forças e linhas dos devires. Devir é estar “entre”. É uma experimentação da existência concreta e singular em que não se abandona o que se é para se viver outra coisa, mas se experimenta a vida de outra maneira, fazendo fugir, escapando. “Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja de justiça ou de verdade”.11 Diante da miséria do encarceramento, do julgamento, da punição, no direito da justiça e na universalidade das leis, há os que escapam, apreciam o sabor da liberdade e se recusam a fazer parte dessa grotesca realidade. Há aqueles que preferem a diferença à uniformidade, que forjam situações para provocar uma prática política como um potencializador do pensamento, como uma reflexão mobilizadora. Entre eles, está Hulsman. Um pensador minoritário que passou por esse mundo para sacudir o bolor da moral punitiva e afirmar a liberdade no presente, como estilo de vida, na relação consigo e com os outros. Em meio a tantos conformados, haverá sempre o incomodado. 110 verve O abolicionismo menor de Louk Hulsman Notas Este artigo é resultado da dissertação de mestrado “Louk Hulsman e o abolicionismo penal”, financiada pelo CNPq e apresentada em março de 2011 no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. 1 Louk Hulsman. “Alternativas à Justiça Criminal” in Edson Passetti (coord.). Curso livre de abolicionismo penal. São Paulo/Rio de Janeiro, Nu-Sol/ Revan, 2004, p. 35. 2 Entrevista concedida por Jehanne Hulsman à autora em 15/01/2011. Arquivo pessoal. 3 Ver: Thomas Mathiesen. Prison on Trial – a Critical Assessment. London, Sage Publications, 1994. 4 Na tradução para o português dos artigos “A aposta por uma teoria da abolição do sistema penal”, realizada por Natalia Montebello e publicada pela Revista Verve, n. 8, em 2005, “Temas e conceitos numa Abordagem Abolicionista da Justiça criminal”, por Maria Abramo Brant de Carvalho e publicada no livro Conversações Abolicionistas: Uma Crítica do Sistema Penal e da Sociedade Punitiva, em 1997, e do livro Penas Perdidas, por Maria Lúcia Karam, em 1993, a palavra style utilizada por Hulsman em seus escritos em inglês foi traduzida por modelo. Preferiu-se aqui optar pela palavra estilo, na medida em que modelo constitui-se como o excesso inesgotável da origem (Michel Foucault. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Editora Vozes, 2002, p. 270), ou seja, como a repetição do mesmo. Etimologicamente, a palavra estilo provém do latim stilus, definido como “instrumento utilizado para escrever”, ou ainda, como “maneira distinta de se expressar”. Segundo o dicionário etimológico Merriam, a palavra designa ainda “um modo particular de viver”; “uma maneira particular pela qual alguma coisa é feita, criada ou realizada”. Para Max Weber, o estilo está ligado à honra de status, a exigência de uma determinada “condução da vida específica” que é dirigida a todos os indivíduos que fazem parte de um determinado círculo social. Para ele, toda “estilização da vida” é de origem estamental ou estamentalmente conservada, na medida em que certos traços típicos devem ser seguidos para que a honra do estamento seja mantida (Max Weber. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Revisão técnica Gabriel Cohn. Brasília/São Paulo, UnB/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 183). Deste modo, o conceito de “estilo de vida” weberiano implica 5 111 20 2011 uma conduta de vida a ser seguida que descarta toda possibilidade de potencialização das singularidades. Michel Foucault, por sua vez, entende por “estilo de vida, um modo de pensamento e de vida”, uma relação ética do indivíduo consigo mesmo e com os outros, que convida cada um a pensar a existência enquanto obra de arte (Michel Foucault. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo, Edições Loyola, 1996, p. 199). No entanto, Foucault nunca se referiu ao estilo enquanto uma maneira de se exercer um controle social, ao contrário, para ele, trata-se de um trabalho permanente de si sobre si mesmo fundado nas práticas de liberação. Tendo em vista o trabalho de Hulsman em acentuar a importância de se considerar a singularidade dos acontecimentos e seu combate contra maneiras universalizantes de lidar com uma situação-problema, a escolha pela palavra estilo pareceu mais apropriada na medida em que o termo remete a uma maneira de ser livre, que deve ser inventada pelas pessoas concretas envolvidas em um evento. Ver: Hypomnemata. Boletim eletrônico mensal do Nu-Sol, n. 123, julho de 2010. Disponível em: http://www.nu-sol.org/hypomnemata/boletim. php?idhypom=149 (acesso em 25/03/2011). 6 7 De acordo com a Coordenação Geral de Fomento ao Programa de Penas e Medidas Alternativas (CGPMA), órgão executivo da Diretoria de Políticas Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), hoje, o número de sentenciados com medidas e penas alternativas ultrapassou o número de presos no Brasil, que conta com 19 varas judiciais especializadas, acopladas a 306 estruturas de monitoramento e fiscalização de penas e medidas alternativas. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/ MJ47E6462CITEMID38622B1FFD6142648AD402215F6598F2PTBRIE.htm (acesso em 27/03/2011). Gilles Deleuze. Sobre o teatro: um manifesto de menos. Tradução de Fátima Saadi. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora, 2010, p. 63. 8 9 Idem. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia. vol. 5. Tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo, Editora 34, 1997, p. 175. 10 Gilles Deleuze e Claire Parnet. Diálogos. Tradução de Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo, Escuta, 1998, p. 8. 11 112 verve O abolicionismo menor de Louk Hulsman Resumo O pensamento abolicionista redimensionou a crítica às práticas penais a partir da problematização da existência da realidade ontológica do crime e do universalismo das leis e dos castigos. Louk Hulsman, a partir de sua perspectiva libertária, propõe a conciliação direta entre os indivíduos envolvidos em situações-problema, acontecimentos singulares que atravessam a existência. Entende o abolicionismo penal enquanto prática que se exerce no presente, pela recusa da linguagem do sistema de justiça criminal e pela resolução de eventos problemáticos fora de sua esfera. palavras-chave: Louk Hulsman, abolicionismo penal, situação-problema. Abstract The abolitionist thought redeminishes the criticism of the penal practices from the problematization of the existence of the reality of crime’s ontology and of the universality of laws and punishments. Louk Hulsman, from his libertarian perspective, proposes the direct conciliation between individuals involved in problematic situations, events that come across the existence in a singular manner. He understands penal abolitionism as a practice held in the present by refusing the language of the criminal justice system, and the resolution of problematic events beyond its reach. keywords: Louk Hulsman, penal abolitionism, problematic situation. Recebido para publicação em 15 de junho de 2011. Confirmado em 05 de agosto de 2011. 113 4 Paulo-Edgar de Almeida Resende Na luta de cada dia a grandeza se achava nele. Em Proudhon, encontrou o estar atento à malícia de cada dia. Paulo Resende é um homem raro, um inquieto na vida e no planeta. Sua coragem não se arrefecia diante de dificuldades, onde outros preferem contorná-las. Soube ser amigo de qualquer instante e de qualquer hora. Em cada dia. Foi nadador, radialista do Vaticano, operário na Alemanha, dentista no Brasil. Como professor e pesquisador esteve atento à sagacidade da vida, não para evitá-la, mas para enfrentá-la com seriedade e bom humor. Na PUC-SP, foi um corajoso Vice-Reitor Comunitário, Diretor do Centro de Ciências Humanas e Presidente da Comissão de Ética em Pesquisa. Foi vital para a criação do Departamento de Política, da Faculdade de Ciências Sociais e do curso de Relações Internacionais, com uma presença ativa e incansável. Formou e inventou gentes. A história de resistência da PUC-SP à ditadura militar no Brasil é atravessada pelo seu destemor. Esteve ao lado de professores perseguidos pelo regime e não deixou que a polícia levasse os estudantes de sua sala, quando a PUC-SP foi invadida. Ágil, movimentou-se com galhardia por muitos espaços, dentro e fora da universidade. Federalista mestiçagens, diferenças e justificasse liberdade. e mutualista, agia a favor de de misturas que não ignoravam as não buscavam uma unidade que as ou pacificasse. Incitou a série Paulo Resende é um amigo do Nu-Sol. O que escreve está aqui, com suas palavras e atenções, leitura firme e presença generosa. Há uma marca de Paulo Resende em cada um, muitas delas divertidas. O homem forte e único não temeu expressar sua força com seriedade para abrir firmes conversações. Sua existência permanece em nós, com o que nele vibrava de potente e raro, em uma indestrutível altivez diante da vida e da morte. Quando a linguagem apodrece, ainda restam palavras vivas a perfurar a retórica. Ao Paulo Resende, nosso silêncio. O grandioso e ensurdecedor silêncio que ocupa os espaços entre letras, sílabas, palavras e pontuações nas frases. O silêncio que toma o papel nu e escrito, o novo arquivo, o espaço em que habitamos. Com um beijo do Nu-Sol Sociabilidade Libertária). [Maio de 2011] (Núcleo de 5 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão inclusão, exclusão, in/exclusão Alfredo Veiga-Neto e Maura Corcini Lopes Durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), entre 1995 e 2002, vimos surgir com intensidade no vocabulário político e educacional a palavra inclusão. De início, essa palavra designava uma alternativa capaz de resolver vários problemas educacionais, principalmente os que envolviam a participação de pessoas com deficiência na escola. E, na medida em que a escola vem sendo vista, desde há muito, como uma instituição capaz de contribuir decisivamente para resolver quase todos os problemas sociais, a inclusão escolar seria decisiva para a ampliação da participação de todos em uma sociedade melhor, mais justa, etc. Vários estudos já abordaram e problematizaram esse tipo de raciocínio reducionista e primário.1 A partir do segundo mandato de FHC, a noção de inclusão foi ampliada e passou a abarcar um amplo conjunto Alfredo Veiga-Neto é Doutor em Educação, Professor Titular do Departamento de Ensino e Currículo e Professor Convidado Efetivo do PPG-Educação, Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil. Maura Corcini Lopes é Doutora em Educação e Professora Titular do Curso de Pedagogia e do PPG-Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, RS, Brasil. verve, 20: 121-135, 2011 121 20 2011 de práticas voltadas para todos aqueles que historicamente sofriam por discriminação negativa. Durante os dois mandatos de Luís Inácio Lula da Silva (Lula), entre 2003 e 2010, bem como ainda hoje (durante o primeiro ano do governo Dilma Rousseff ), as políticas criadas durante o governo FHC foram mantidas e bastante ampliadas. Elas abarcam um número cada vez maior de pessoas que vivem sob condições precárias e até de miserabilidade, bem como pessoas que sofrem discriminação negativa graças ao fato de terem ou assumirem determinadas identidades de gênero, de raça/etnia, etc.. Diante do quadro político que determina parte das condições de possibilidade para a emergência e a potência das práticas de inclusão em nosso país, torna-se urgente questionar os usos da palavra inclusão para se referir a um número cada vez maior e mais diverso de indivíduos a incluir ou já incluídos. Torna-se urgente, também, questionar os usos alargados da palavra exclusão, quando ela é entendida como “o outro da inclusão”. Nesse caso, excluídos refere-se àqueles que, de alguma maneira, são discriminados pelo Estado e/ou pela sociedade. Embora pensemos ser óbvio que problematizar a inclusão não significa sermos contra as práticas e políticas que a inventam como uma necessidade de nosso tempo, é sempre bom relembrarmos que ao tecermos a crítica à inclusão queremos, como nos ensina Michel Foucault, “tornar difíceis os gestos fáceis demais”, uma tarefa que o filósofo considera “absolu tamente indispensável para qualquer transformação”.2 Fazer uma crítica à inclusão — visando olhar outras coisas que ainda não olhamos e pensar coisas que ainda não pensamos sobre as práticas que a determinam e as políticas 122 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão que a promovem — implica, entre outras coisas, ir contra a corrente dominante. Isso nada tem a ver com ser “contra a inclusão”; tem a ver, sim, com a prática da suspeita radical frente às verdades estabelecidas e tidas tranquilamente como “verdades verdadeiras”. Desde o célebre curso Os anormais, que Foucault ministrou no Collège de France no inverno de 1975, é possível compreendermos que a inclusão não é “boa” por si mesma; além disso, ela não é, necessariamente, o outro da exclusão.3 Do mesmo modo, pode-se compreender que muito frequentemente inclui-se para excluir, isso é, faz-se uma inclusão excludente.4 Neste texto, nosso interesse é desenvolver alguns comentários ainda um tanto genéricos acerca da problemática naturalização da inclusão (social e escolar) e sua lamentável transformação num imperativo que, justamente por ser um imperativo, apresenta-se como que blindado a toda e qualquer crítica. A crítica Crítica é uma das palavras mais amplamente utilizadas nos campos da Educação e das Ciências Sociais. Em parte por isso, ela tornou-se uma das palavras mais descaracterizadas na atualidade; de fato, é impressionante o quanto crítica é usada de modos mais varados e descuidados. No campo da Educação, por exemplo, parece que todos querem ser críticos, parece que toda e qualquer prática pedagógica só tem valor se for crítica. A palavra parece funcionar como um salvo-conduto para tudo e para todos... Walter Kohan, ao retomar filosoficamente o conceito de crítica, aponta três sentidos que são privilegiados em 123 20 2011 nossas práticas.5 O primeiro sentido está associado ao reconhecimento e uso de limites sociais (Kant); o segundo sentido está relacionado ao impedimento de que os seres humanos se lancem irrefletidamente às ideias e conduções sociais (Escola de Frankfurt); o terceiro sentido está voltado para a reconsideração ética da tarefa educacional. Entender tais sentidos dentro de um contexto moderno de produção permite que tornemos mais complexos os atos do presente; permite, também, que tenhamos uma dimensão ética de nossas próprias ações em relação às ações e à condução dos outros — uma preocupação eminentemente educacional. Michel Foucault, ao entender a crítica como uma forma de exercício do pensar histórico, posiciona os sentidos nomeados acima como interpretações possíveis de serem feitas acerca das práticas vividas na modernidade. Ele nos leva a perceber os acontecimentos como contingências forjadas na história e nas práticas discursivas. Portanto, para ele, a crítica não é da ordem de um transcendente que paira sobre uma realidade, mas é proveniente das crises que fazem desencaixar elementos que constituem uma dada racionalidade. Não sendo algo que se faz a partir de uma pretensa exterioridade, quem critica está implicado às próprias questões que analisa e produz. Nessa perspectiva, a crítica pode e deve voltar-se até sobre si mesma, sobre os fundamentos em que se apoia para se exercer como crítica. Podemos chamar de hipercrítica a essa forma radical do exercício crítico.6 Por crítica radical é possível entender uma base, fundamento ou raiz que permite conhecer práticas que, emaranhadas, possibilitam a emergência daquilo que se observa, interpreta ou analisa. Por crítica radical, então, 124 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão compreende-se a busca, na raiz dos acontecimentos, das distintas condições de possibilidade daquilo mesmo que os determinam. Assim, proceder a uma crítica radical à inclusão em geral e à inclusão educacional significa conhecer, analisar e problematizar as condições para a sua própria emergência. Inclusão x exclusão, in/exclusão Como referimos, neste texto interessam-nos os discursos sobre a inclusão que circulam entre nós, no período compreendido entre os anos de 1995 e 2011. Sendo mais objetivos, pretendemos problematizar o caráter natural que é atribuído à inclusão, entendendo que as políticas que a promovem, bem como os usos da palavra inclusão em circulação, afinam-se tanto com a lógica do binário moderno inclusão x exclusão quanto com a lógica contemporânea em que a inclusão funde-se com a exclusão. É em decorrência de tal fusão que, de uns anos para cá, temos grafado in/exclusão para designar algumas situações, conforme explicaremos a seguir. Antes de irmos adiante, um alerta: queremos nos manter sempre afastados de qualquer leitura advinda de investidas revolucionárias, individualistas e salvacionistas que estão no fundo de muitos dos discursos que constituem o campo da Educação e, por extensão, os temas e os sujeitos que são produzidos em tal campo. Não se trata de pensarmos a inclusão como algo da direita sobre a esquerda, dos dominantes sobre os dominados, dos normais sobre os anormais, nem mesmo como uma conquista de esquerda ou das minorias negativamente discriminadas ao longo da história. Tampouco se trata de reduzir a compreensão 125 20 2011 da inclusão — e dos sujeitos envolvidos nos processos de inclusão — nos limites das ações de Estado. Os sujeitos e a inclusão são, também, produtos das inúmeras técnicas de governamento, tanto sobre a população quanto de uns sobre os outros. A inclusão pode ser entendida como “um conjunto de práticas que subjetivam os indivíduos a olharem para si e para o outro, fundadas em uma divisão platônica das relações; também pode ser entendida como uma condição de vida em luta pelo direito de se autorrepresentar, participar de espaços públicos, ser contabilizado e atingido pelas políticas de Estado. [...] pode ser entendida como conjunto de práticas sociais, culturais, educacionais, de saúde, entre outras, voltadas para a população que se quer disciplinar, acompanhar e regulamentar”.7 Diante dos muitos sentidos que são atribuídos a essa palavra, é recorrente o caráter disciplinar e de militância que constitui a inclusão e até mesmo a justifica como uma necessidade e um imperativo político de nosso tempo. Eis aí um ponto que merece nossa atenção. Para dizer em poucas palavras, a inclusão é vista como um imperativo que a todos se impõe, graças ao caráter natural que, não problematicamente, é atribuído a ela. A naturalização dos processos sociais funciona como uma espessa camada de concreto que sepulta, sob si, o caráter inventado de tais processos. Esquecendo-se de que foram inventados, de que dependeram de determinadas contingências históricas localizadas e datadas, esses processos sociais passam a ser considerados como necessários, imutáveis e, assim, imunes à crítica. Esse é o caso da inclusão escolar. Nos últimos anos, ela tornou-se um imperati126 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão vo que praticamente ninguém se arrisca a contestar. Seja porque se vive em realidades cujas fronteiras se apresentam cada vez mais tênues, seja porque a inclusão é colada às noções de democracia, cidadania e direitos humanos, o fato é que qualquer problematização que se pense fazer sobre as políticas e as práticas inclusivas logo é vista como uma posição autoritária, conservadora, reacionária. Resumindo: ao lado das noções de direitos humanos, democracia e cidadania, a inclusão é quase sempre assumida como um princípio dado, inquestionável, inatacável. Tal inquestionabilidade da inclusão está ligada ao entendimento de que o mundo é isotrópico, isso é, o mundo — natural ou social, pouco importa — é, por si mesmo e em si mesmo, um espaço igual e homogêneo para tudo o que nele existe, aí incluídos nós, os seres humanos. Tomamos a metáfora física da isotropia para nos referir a um meio em que todas as propriedades se manifestam da mesma maneira e intensidade, em todas as direções e independentemente de onde o observamos. Num mundo rigorosamente isotrópico, tudo se encontra em equilíbrio estático porque, na ausência da diferença, não há potência; não há transferências de energia simplesmente porque não há diferença de potencial. O mito da estase ronda o nosso imaginário... É por isso que, num mundo que é tomado a priori como isotrópico, qualquer diferenciação que viermos a encontrar nele — isso é, qualquer situação anisotrópica, qualquer distribuição desigual — é vista como uma disfunção, como uma situação que contraria a natureza do mundo. E, dado que o mito da culpa se entranhou profundamente na nossa tradição ocidental, logo é preciso encontrar 127 20 2011 o culpado pelas anisotropias. Como se trata do mundo social, logo se atribui ao homem a causa daquela disfunção; ela teria sido produzida artificialmente por nós mesmos. A partir desses entendimentos, pensa-se que o natural seria que todos ocupassem igualmente os espaços sociais; se assim não ocorre, é porque alguns, em seu próprio benefício, operaram uma intervenção espúria, uma distribuição anômala — contra os interesses dos outros e contra a natureza do mundo. Esses outros são os chamados excluídos. Incluir significa, então, restaurar uma ordem natural perdida, isso é, voltar a um estado original que seria próprio do mundo e, bem por isso, da própria natureza dos seres humanos. Um mito fundante — o mito da natureza isotrópica do mundo — faz da inclusão um imperativo; e qual imperativo, a inclusão passa a ser vista como inatacável, inviolável. Ao ser pensada como “própria do mundo”, como sendo algo “do mundo”, isso é, como “fazendo parte natural do mundo”, a inclusão coloca-se, por si mesma, ao abrigo de qualquer crítica. É fácil ver que, no fundo de tudo isso, está o entendimento reducionista segundo o qual o mundo social deveria ser isotrópico porque a própria Natureza — em sua dimensão tanto cosmológica e física, quanto química e biológica — seria isotrópica. Em qualquer caso, a diferença seria uma anomalia, refletiria um estado defeituoso a ser consertado. Culpam-se as pessoas ou culpa-se a sociedade (principalmente moderna) pelo enfraquecimento ou pela perda ou pela ocultação (ideológica) de um suposto estado, original e paradisíaco, da completa igualdade de direitos para todos, de completa homogeneidade social, de inclusão e acessibilidade “ampla, geral e irrestrita”. Se esse é hoje o entendimento 128 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão predominante acerca de tais questões, se esses são “os gestos fáceis demais”, certamente valerá a pena “torná-los difíceis”, desconstruí-los, problematizá-los, duvidar deles. Isso poderá ser feito de várias maneiras; dentre elas, parece-nos interessante e produtivo seguir Friedrich Nietzsche: assumir como único a priori o histórico, o que implicará abandonar o a priori naturalístico. Trocando em miúdos: ao invés de apelar a uma suposta “natureza humana naturalmente inclusiva” e fundada num igualitarismo isotrópico também natural, é preciso examinar tudo isso como resultado de construções sociais que, justamente por serem sociais, são históricas, contingentes, culturais, políticas e, portanto, modificáveis. Conforme Maura Lopes, ao se olhar com mais rigor sociológico, filosófico e político para a exclusão é difícil sustentar o crescente número de tipos humanos nomeados como sendo “realmente” excluídos.8 O uso alargado da palavra permite a qualquer um que vive diferentes circunstâncias sociais, econômicas, etárias, etno-raciais, de gênero, de aprendizagem etc. se colocar numa posição de excluído. Além disso, o uso alargado não consegue estabelecer a sempre necessária diferenciação entre as várias categorias excluídas; resulta daí que todos são colocados indistintamente sob um mesmo guarda-chuva e submetidos aos mesmos processos includentes. Assim, por exemplo, é bastante comum que a escola adote o mesmo processo de inclusão quer se trate de uma criança autista, quer se trate de um jovem surdo, quer se trate de um adulto cego etc.. O uso alargado da palavra inclusão, além de banalizar o conceito e o sentido ético que pode ser dado a ela, também reduz o princípio universal das condições de igual129 20 2011 dade para todos a uma simples introdução “de todos” num mesmo espaço físico. Ao submetermos tais conceitos a um exame cuidadoso, veremos que se há, por parte do Estado, o reconhecimento da existência do cidadão, politicamente ele não é um excluído. Robert Castel diz que o excluído é aquele que por sua invisibilidade não perturba, não mobiliza e não altera a rotina do mundo.9 Para ele, os excluídos são os que estão fora das estatísticas, escapam aos sistemas previdenciários e de assistência, que são retirados de seus territórios, que são depositados em asilos, que vivem vagando em não-lugares nos quais sua presença não é notada porque não influem em nada e para nada. Ao tematizar a desigualdade e a exclusão, Castel afirma que tentar conjurar a exclusão exige vigilância. Para tanto, ele aponta três cuidados fundamentais. O primeiro cuidado é não chamar de exclusão qualquer disfunção social; o segundo é não permitir que as políticas de discriminação positiva se degradem em status de exceção; o terceiro é investir em prevenção para evitar os fatores de desregulação social. Além dos cuidados citados por Castel, acrescenta-se, a partir das pesquisas desenvolvidas no Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão (GEPI/CNPq/UNISINOS), o cuidado para não desconsiderar o caráter subjetivo das práticas de in/exclusão típicas nos dias de hoje.10 Os pesquisadores do GEPI/CNPq/UNISINOS assumem tanto a compreensão de Castel sobre a inclusão e a exclusão quanto a compreensão de que é melhor grafar in/exclusão.11 Grafar in/exclusão aponta para o fato de que as atuais formas de inclusão e de exclusão caracterizam um modo contemporâneo de operação que não opõe a inclusão à exclusão, mas as articulam de tal forma que uma só opera na relação com a outra e por meio do sujeito, de sua subjetividade.12 Tal 130 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão grafia sustenta-se, sobretudo, nos cursos que Michel Foucault ministrou no Collège de France — especialmente: Segurança, território e população (1977-1978), Nascimento da Biopolítica (1978-1979), Os anormais (1974-1975), O governo de si e dos outros, O governos dos vivos (1979-1980) e A coragem da verdade (1983-1984) —; sustenta-se, também, nas suas conferências “Tecnologias do eu” e “A verdade e as formas jurídicas”. In/exclusão foi a expressão criada para marcar as peculiaridades de nosso tempo, ou seja, para “atender à provisoriedade determinada pelas relações pautadas pelo mercado e por um Estado neoliberal desde a perspectiva do mercado”.13 Dessa forma marcadamente relacional, a in/exclusão se caracteriza pela presença de todos nos mesmos espaços físicos e pelo convencimento dos indivíduos de suas incapacidades e/ou capacidades limitadas de entendimento, participação e promoção social, educacional e laboral.14 Últimas palavras Estas últimas palavras encerram este texto, mas não encerram as questões que muito panoramicamente abordamos aqui. Esperamos ter deixado claro que perguntar se somos a favor ou contra a inclusão social e escolar não faz sentido. Perguntas como essas, amplas e vagas, não permitem respostas objetivas; elas acabam nos levando a becos sem saída. Ao contrário delas, mais vale sabermos sobre o que se quer dizer com as palavras inclusão, com exclusão, e com as expressões “direitos iguais”, “todos incluídos”. Há mais de 40 anos, quase todas as nações reafirmaram, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 131 20 2011 “toda pessoa tem direito à educação”. Apesar dos grandes esforços empreendidos por diferentes países para garantir uma “educação para todos”, ainda persistem situações de exclusão escolar e de discriminação negativa que nutrem estatísticas preocupantes. Foi nesse cenário que em 1990, na Tailândia, durante a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, foi aprovado um plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem daqueles que se encontravam privados de condições de igualdade de participação e de acesso à escola. Em boa parte como efeito desses movimentos, assiste-se, mundo afora, a uma expressiva expansão dos discursos pró-inclusão. Tais discursos, ao mesmo tempo em que promovem novas percepções e práticas includentes, são promovidos por elas. Discursos sobre a inclusão — e os vocabulários de que se valem para serem pronunciados — e práticas inclusivas mantêm, entre si, relações de imanência. Mas isso não significa que não se possa — e se deva — interferir em alguns pontos dessa articulação discursos-práticas, de modo a termos mais claros seus efeitos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Ou, se preferirmos: estejam ou não estejam eles em sintonia com o que consideramos ser melhor para nós. Assim, mesmo que as atuais políticas e práticas inclusivas representem um significativo avanço nos direitos das pessoas e promovam condições de vida e convivência mais igualitárias, é preciso estarmos atentos para o quanto elas podem ser mobilizadas para nada dizer, para estimular a discriminação negativa ou para promover fins que não nos interessam. 132 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão Notas Ver: Maura Corcini Lopes e Morgana D. Hattge (orgs.). Inclusão escolar: conjunto de práticas que governam. Belo Horizonte, Autêntica, 2009; Adriana da Silva Thoma e Betina Hillesheim (orgs.). Políticas de inclusão: gerenciando riscos e governando as diferenças. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2011, pp.715 e Alfredo Veiga-Neto. “Globalização, (des)igualdade e conhecimento escolar: as armadilhas para a inclusão” in José Augusto Pacheco; José Carlos Morgado e Antonio Flavio Moreira (orgs.). Globalização e (des)igualdades: desafios contemporâneos. Porto, Porto Editora, 2007, pp.175-186. 1 Michel Foucault. “Est-il donc important de penser? (entretien avec D. Éribon), Libération, nº 15, 30-31 mai 1981” in Dits et écrits IV (1980-1988). Paris, Gallimard, 2006, pp.178-182. 2 Ver Michel Foucault. Os anormais. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo, Martins Fontes, 2001. 3 Alfredo Veiga-Neto. “Incluir para excluir” in Jorge Larrosa e Carlos Skliar (org.). Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. Belo Horizonte, Autêntica, 2001, pp.105-118. 4 Walter Kohan. “Pesando a prática da filosofia na escola” in Projeto Permanente de Extensão - Filosofia na escola. Brasília, UnB, 2003. Disponível em: http://vsites.unb.br/fe/tef/filoesco/fundamentos.html (acesso em 12/9/2011). 5 Alfredo Veiga-Neto. “Michel Foucault e Educação: há algo de novo sob o sol?” in Alfredo Veiga-Neto (org.). Crítica Pós-estruturalista e Educação. Porto Alegre, Sulina, 1995, pp. 9-56. 6 Maura Corcini Lopes. Prefácio: “Políticas de inclusão e governamentalidade” in Adriana da Silva Thoma e Betina Hillesheim (org). Políticas de inclusão: gerenciando riscos e governando as diferenças. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2011, p. 7. 7 8 Maura Corcini Lopes e Morgana D. Hattge (orgs.), 2009, op. cit. Robert Castel. “As armadilhas da exclusão” in: Robert Castel, Luiz Eduardo Wanderley e Mariângela Belfiore-Wanderley. Desigualdade e a questão social. São Paulo, EDUC, 2007, pp.17-50. 9 10 Para mais detalhes, ver: http://gepisinos.blogspot.com. Robert Castel, 2007, op. cit. e Robert Castel. A discriminação negativa. Petrópolis, Vozes, 2008. 11 133 20 2011 12 Para uma discussão detalhada sobre as relações entre a in/exclusão e a racionalidade neoliberal, nos termos propostos por Foucault, ver: Alfredo Veiga-Neto e Maura Corcini Lopes. “Gubernamentalidad, biopolítica e inclusión” in Ruth Amanda Cortés e Dora Marín (comp.). Gubernamentalidad y educación: discusiones contemporáneas. Bogotá, IDEP, 2011, pp.105-126; Alfredo Veiga-Neto. “Biopolítica, Estado Moderno e inclusão na escola” in Cadernos IHU em formação, ano 2, n.7. São Leopoldo, UNISINOS, 2006, pp. 98-101; Alfredo Veiga-Neto, 2007, op. cit.; Alfredo Veiga-Neto. “Neoliberalismo, Império e Políticas de Inclusão: problematizações iniciais” in Cinara F. Rechico e Vanessa G. Fortes (orgs.). A Educação e a Inclusão na Contemporaneidade. Boa Vista, UFRR, 2008, pp.11-28; Adriana da Silva Thoma e Betina Hillesheim (org), 2011, op.cit. e Maura Corcini Lopes e Morgana D. Hattge (orgs.), 2009, op. cit.. Maura Corcini Lopes, Kamila Lockmann, Morgana Domênica Hattge e Viviane Klaus. “Inclusão e biopolítica”. Cadernos IHU, ano 8, n.144. São Leopoldo, UNISINOS, 2010, p.6. 13 14 Para discussões adicionais sobre a grafia in/exclusão, ver: Maura Corcini Lopes e Maria Cláudia Dal’Igna. In/Exclusão nas tramas da escola. Canoas, Editora da ULBRA, 2007. 134 verve Inclusão, exlusão, in/exclusão Resumo Desde meados da década de 1990, observa-se uma crescente referência à palavra inclusão tanto no âmbito das políticas públicas, em especial na educação, como no campo das Ciências Sociais. Este artigo pretende problematizar o caráter natural atribuído à inclusão (social e escolar) e sua construção como um imperativo, assumido como um princípio dado e inquestionável, que se apresenta na atualidade blindado a qualquer forma de crítica. Para os autores, ela emerge como mais um produto de técnicas de governamento da população e de produção de subjetividades, segundo uma lógica em que a inclusão funde-se com a exclusão. palavras-chave: inclusão, técnicas de governamento, educação. Abstract Since mid-1990, there is an increasing reference to the word inclusion in the scope of public policies, especially in education, as well as in the domain of social sciences. This article intends to problematize the natural character assigned to inclusion (social and educational) and its construction as an imperative assumed as a given and unquestionable principle, that is today shielded from any form of criticism. For the authors, it emerges as one more product of government techniques of population and of subjectivities production, according to a logic in which inclusion fuses with exclusion. keywors: inclusion, techniques of government, education. Recebido para publicação em 12 de agosto de 2011. Confirmado em 13 de setembro de 2011. 135 20 2011 das canções barulhentas que animam rebeldes uma nota sobre Redson, a banda Cólera e a emergência do anarco-punk. acácio augusto Você era um bom menino mas um dia se cansou de ser dominado de tanta pressão Cólera O punk foi o grito de guerra que marcou um rompimento com as tecnologias disciplinares e, ao mesmo tempo, anunciou rebeldias contra os governos na sociedade de controle. Diante do fim do sonho, jovens que adotaram a revolta como atitude estética bradavam: não há futuro! Mais do que moda juvenil ou produto da indústria cultural — como querem as definições sociológicas de gabinete —, o punk Acácio Augusto é doutorando em Ciências Sociais pela PUC-SP, professor no Curso de Relações Internacionais da Faculdade Santa Marcelina e pesquisador no Nu-Sol. Escreveu em parceria com Edson Passetti Anarquismos e educação, Editora Autêntica, 2008. 136 verve, 20: 136-141, 2011 verve Das canções barulhentas que animam rebeldes rock deu forma, trilha e estética aos jovens que odiavam a família, a escola, a igreja, o exército, a polícia, o emprego, o Estado, enfim, toda e qualquer autoridade que se apresentasse a eles como tal. Tudo ou nada. Afirmava não ser preciso que alguém lhe autorizasse se seu querer era destruir uma sociedade que se apresentava tão podre quanto sua calça jeans, sua jaqueta de couro e seu coturno. Destruição! No Brasil, o punk encontrou um país saindo de uma ditadura civil-militar e em um processo de democratização que fedia tanto quanto o chulé de garotos petulantes e malcriados oriundos dos bairros pobres da cidade de São Paulo. “O punk veio para pintar a asa branca de negro, atrasar o trem das onze e fazer da Amélia uma mulher qualquer”, declarou Clemente, da banda Inocentes, a um repórter da TV Cultura durante a realização, em 1982, do festival “O começo do fim do mundo”, realizado no SESC Pompéia, em São Paulo, com decisiva interferência do jornalista e dramaturgo Antonio Bivar. O festival contou com uma prévia, meses antes, no antigo Salão Beta, dos estudantes da PUC-SP, onde hoje é o Tucarena. Uma das bandas que tocaram nesse festival foi o Cólera. O Cólera foi formado em 1979 pelos irmãos Pierre e Edson Pozzi, este adotando o nome punk de Redson, o filho vermelho, o som vermelho. Não cabe para um punk um obituário ou uma nota biográfica, mas o registro do ano de início de uma banda que, junto com Restos de Nada, amplificou em termos sonoros, estéticos e políticos o que havia de mais visceral e contundente no punk da periferia e do subúrbio de São Paulo. Agora, o dia 27 de setembro de 2011, com a morte de Redson, marca o final da banda mais longeva do punk no Brasil: 32 anos de cólera, de revolta, de gritos de ódio. 137 20 2011 Finda uma obra feita com o que os punks chamam de do it yourself. Sem grandes gravadoras, sem facilidades computacionais, sem patrocínios ou paitrocínios. O Cólera foi uma das primeiras bandas a gravar um disco com selo próprio, o Ataque Frontal; a primeira a se arriscar, em meados dos anos 1980, a tocar em squats e ocupações de quase toda Europa, com a ajuda de amigos cultivados por correspondências; a gravar, fazer shows, participar de manifestações e até, eventualmente, tocar em programas de TV, como o extinto Boca Livre, sem um esquema empresarial. A proximidade do punk com a autogestão e os anarquismos não foi mera coincidência ou afinidade ideológica: se tocaram pelo jeito de fazer as coisas e de se inventar no mundo. Marcante, também, na existência de Redson e do Cólera, foi a temática recorrente em suas letras. Além daquelas sobre a vida de jovens na cidade, o combate à polícia, o ódio simultâneo ao consumismo, ao comunismo e ao fascismo, e as brigas pelas ruas, comuns a quase toda banda punk que se preze, foi a partir do disco “Pela paz em todo mundo”, de 1986, que temáticas como o pacifismo ativo, as preocupações ecológicas, o combate à homofobia, ao machismo e ao sexismo, o antimilitarismo e os alertas antinucleares passaram a fazer parte do repertório e da verve dos punks no Brasil. Tal atenção para com a elaboração e temática das letras fez do Cólera procedência imediata do que depois se conhecerá como anarco-punk no Brasil, em especial por evidenciar e investir no rompimento com uma educação de costumes conservadores trazida de casa e sustentadas por muitos punks. Impressionante, também, era a energia de Redson, Val e Pierre no palco: ágeis, sagazes e incansáveis. Qualquer um que fitasse o brilho nos olhos de Redson tocando e 138 verve Das canções barulhentas que animam rebeldes cantando não conseguiria ficar indiferente a músicas como “Agir”, “Histeria”, “Subúrbio Geral”, “São Paulo”, “Duas Ogivas” ou “Quanto vale a liberdade?”. Redson era um homem generoso, atento às bandas que desapareciam tão rápido quanto apareciam e defensor de uma atitude não violenta que se afastava de certa rabugice da maioria dos punks. Sabia que lutar contra fascismo não era matar e morrer estupidamente nas ruas da cidade. Atravessou, corajosamente, três décadas de punk como um quase infame que viu muita gente morrer, virar crente ou skinhead, casar e depois ver no punk um arroubo juvenil. Seguiu sem esmorecer insuflando a revolta de novos garotos que queriam “destruir o sistema”. Com guitarra em punho, com suas hesitações e contradições, mostrou com sua existência que é possível viver diferentemente do que se destina a você quando nasce. Mostrou que é possível deixar uma marca sem abrir mão da liberdade e sem “se entregar ao sistema”. Hoje, abundam as chamadas bandas e gravadoras alternativas e independentes, e a internet ampliou a possibilidade de espalhar uma banda ou um som. A maioria dos jovens das periferias, encantados com o rap oriundo dos Estados Unidos, querem ser integrados e fazer sucesso. Os punks, na sua maioria, matam-se estupidamente na porta de shows e produzem ecumênicas alianças com skinheads. Parecem perdidos numa justificativa ideológica de brigas de gangue. Paradoxalmente, foi a ousadia de pessoas como Redson, no começo dos anos 1980, que abriu caminho para isso. O grito de revolta de trinta anos atrás, em pouco tempo foi respondido com essa pacificação violenta que oscila entre um punk que não produz mais algo como o Cólera e um rap que é quase unânime nos bairros pobres da cidade e nas rodinhas das classes médias politizadas. 139 20 2011 A morte de Redson lembra que já faz trinta anos que a revolta eclodiu na cidade e que hoje ela está sufocada, ou impedida de aparecer, pela intensificação da comunicação e por uma recusa das condições de vida nos bairros pobres que se expressa como vontade de inclusão e expressão de assujeitamentos. *** Conheci e convivi com Redson em momentos efêmeros e intermitentes. Não era um homem extraordinário, mas um sujeito incomum. Assisti muitos dos seus shows, em casas noturnas do centro e em bares imundos nas bordas mais ermas da cidade. O mais marcante era a energia e o brilho no olhar. Ao escrever sobre sua morte, por sugestão de um amigo, que sensivelmente notou minha perturbação com a notícia, dou-me conta de que cheguei à quarta página sem arriscar escrever na primeira pessoa do singular. De fato, a banda Cólera e seu front man, Redson, tem toda essa importância descrita acima, talvez até mais, e sua morte me levou a pensar sobre essa diferença entre o que foi possível de vivamente revoltado e rebelde num momento, e o que é tão raro hoje; como o punk rock abriu a possibilidade de um rompimento que hoje é dificilmente ensaiado. A revolta contra a sociedade parece ter virado muro de lamentações. A rapidez e urgência do hardcore foi cedendo espaço ao peso e lentidão do rap. Redson morreu, tendo vivido à sua maneira, escapou do itinerário destinado a um jovem de periferia sem virar “macaco” da classe média. Como todo vivente não escapou da morte, mas viveu a intensidade da vida numa cidade estúpida que só poderia ser desafiada com a agressividade própria do punk rock. 140 verve Das canções barulhentas que animam rebeldes Quando eu tinha 14 anos e um tremendo mal-estar de habitar um mundo que então se abria, foi muito bom ouvir, num disco de vinil ainda, Redson cantar: “Quanto vale a liberdade?/Pra vocês ela tem um preço/Quanto vale a confiança?/Não quero esperar/Não acredito no seu dinheiro/ Onde está o seu caráter?/Deve estar perdido em algum beco/Horas você enlouquece/E depois quer fugir/Se refugia como um animal, como um animal/Dia após dia eu procuro ir em frente/Vê se me entende, não há razão, não há razão/Já não pode mais pensar/Olhe para tudo como está/Agora eu sei que não há preço/Mas me sinto acorrentado/Dia após dia, e não há razão, não há razão/Quanto vale a liberdade?/Quanto vale a liberdade?/Não importa, eu vou em frente/Não importa, eu vou em frente!” Que a revolta e o barulho, em vermelho e negro, que animou jovens como Redson siga existindo e seja capaz de inventar novos percursos de liberdade à sua maneira, como há trinta anos esse punk inventou. Resumo Nota sobre a emergência do anarco-punk, a morte de um instaurador e uma breve notícia sobre o presente. palavras-chaves: anarco-punk, jovens, rebeldes. Abstrat Note about the emergency of anarcho-punk, the death of a founder and a brief report about the present. keywords: anarcopunk, youths, rebels. Recebido para publicação em 03 de outubro de 2011. Confirmado em 10 de outubro de 2011. 141 6 MIXÓRDIA: A arte[manha] de remixar e o roubo capitalista em nome da cultura transgressiva. Bancos roubam. Vivem de cuidar e de tomar o que não é deles, de criar situações que rendam dígitos, senhas e investimentos. Bancos não são abstrações: são pessoas, negócios, cultura, acertos, redes e fluxos. Hoje, em tempos do que se chama capital imaterial, estão em tudo. São parceiros, fazem junto. Financiam ações culturais, redes de colaboração, parcerias, eventos e atestam sua presença na variedade ao conectar empresas, universidades, governos, organizações internacionais e organizações não-governamentais. Preenchem e produzem a opacidade e a apatia das vidas cansadas nas reluzentes telas de computadores, tablets, smartphones e suas redes sociais digitais e afins. Promovem e garantem a segurança ao seu roubo cotidiano. Não se trata apenas de economia e de mercado, como troca financeira e produtiva, mas de uma política que tem explícita intenção de anular o potente que pulsa com a força de invenção e não se presta a negócios, negociações e compartilhamentos. Pretendem absorver resistências e sugar o que não é deles para disso fazer algo palatável, bacaninha ou vendável. E conseguem, usando a disponibilidade do que circula na supostamente livre web. Não surpreende que financiem muitas criações artísticas que dependem de disponibilidades, colaboração, remixagem e mobilização de usuários e comunidades, por meio de conexões que valorizam suas capacidades “inventivas” para, enfim, capturá-las e docemente incluí-las. A transgressão estética se resume a um hedonismo reconfigurado e palatável para atrair os usuários, seus colaboradores. Produzem uma mixórdia entre os conceitos em nome de uma criativa produção, supostamente comum. Entretanto, funcionam para a produção intelectual imantada ao financiamento de produtos pelos bancos e seus departamentos culturais, dinamizando a apropriação de energias inteligentes, como requer a atual sociedade de controle. Assim é que autogestão, anarquia e transgressão tornam-se palavras usadas para renovar uma retórica sobre a transformação social da multidão em alternativos e remunerar ondas de artistas, intelectuais, ativistas e ongueiros ávidos por estarem nas vitrines dos inventivos repaginados, filantropos e rentáveis negócios. Tudo mesclado e despotencializado como tática para esse roubo que objetiva pacificar, acomodar, conformar. ágora, agora Bancos roubam e bancam quem rouba para eles. Com financiamento do Banco Santander e apoio do Santander Cultural, os curadores Angélica Moraes, Giselle Beiguelman, Karla Brunet, Juan Freire e Estúdio Nômade encenam em seu projeto nomeado “Agora/ágora - Criação e Transgressão em Rede”, transformação, empreendedorismo social e novos usos para redes sociais e sites de venda. Viabilizam o neoliberalismo e sua teoria do capital humano. O conteúdo está protegido pela elástica licença creative commons e o compartilham em facebook, wordpress, twitter e flickr, onde colecionam seguidores e cliques no curtir. Convocam os usuários ao armazenamento virtual, modulam programas e protocolos. Servem ao regime da propriedade, com esfarrapada roupa situacionista. São agentes da captura da multidão. Lançam mão da tradicional artimanha dos imitadores. Consomem o tempo e o pensamento das resistências com suas apropriações pleonásticas. Chegam a afirmar que partem de um título para remixarem seus projetos com filantropia hedonista e comunitária. Funcionam para conter o apodrecimento da linguagem e abortar inventores antes mesmo que estes aconteçam. Chupam e secam a filosofia da diferença, seu principal alvo de desmobilização e repaginação. ágora, agora é uma experimentação libertária do Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária), iniciada em 2007; são antiprogramas, avessos às programações da sociedade de controle, produzidos de maneira autogestionária e veiculados pelo CNU/TV-PUC e lançados em DVDs, que se encontram em sua terceira série. Não está disponível a ser remixada ou capturada por artistas cultos, bancos ou empreendedorismos. As palavras têm história, portanto se os artistas e bancos querem inventar palavras e títulos de programas culturais, está aí um bom momento para serem criativos. Ágora e empreendedorismo social ou empreendedorismo de si são termos antinômicos. Nada teríamos a objetar se ágora, agora remixado em “Agora/ágora” mantivesse coerência, abrisse conversações, revolvesse a mixórdia que também atravessa as universidades. É menos e mais que um mero jogo de palavras; trata-se de uma representação arbitrária, autoritária e deliberadamente equivocada. Espertinhos da web e redes sociais digitais, atenção! Não toquem no que não lhes pertence. Não imaginem que só porque vocês viram e acharam up-to-date podem usar a ideia, metamorfoseados na fantasia de antropófagos acomodados em exuberantes restaurantes. ágora, agora não é uma ideia. ágora, agora é uma prática que tem um modo de fazer e um jeito de usar. Não é propriedade, é trabalho de muita gente que não está disponível a ser apropriada por qualquer títere recheado de currículo adequado a qualquer capitalista. Não está disponível ao corta e cola da atualidade, nem aos designers da moda com seus visuais palatáveis e palavrório livresco. ágora, agora é um trabalho de libertários que recusam o governo, o direito e propriedade! É um trabalho único, de homens e mulheres corajosos, e pode te pegar. Fique esperto! Deem ao seu evento o nome que lhe cabe. Este não lhes pertence! Dentre os adversários da liberdade não estão apenas o asceta político e o fascismo histórico e cotidiano. Há, também, os técnicos do desejo que operam pela dicotomia estrutura e falta. Entre eles os semiólogos. “Entre” o onoffline que configura a nuvem eletrônica que pretende constituir cada um num terminal, sob comandos centralizados, estão os que produzem invenções horizontalizadas alheios às somas, reduções, melhorias, capturas e convocações à participação. [Publicado como ‘hypomnemata-134’, boletim eletrônico do Nu-Sol, junho de 2011.] 7 verve O coração empurpurado, epistolário e história o coração empurpurado, epistolário e história christian ferrer I Na metade da década de 1940 existia em Buenos Aires uma casa editorial de livros de bom porte e cuidadosa preparação. Os autores desses livros, Rudolf Rocker, Jean Marie Guyau, o príncipe Piotr Kropotkin, William Godwin, já não são lidos. Apenas são consultados, quando o fazem, por membros de seitas políticas radicais ou especialistas universitários. O nome de Kropotkin, no entanto, é mencionado em alguns livros de história das ideias e às vezes lembra-se de Godwin por ter sido o pai de Mary Shelley, a autora de Frankenstein, uma história da desmesura humana que caiu nas graças do público. Em todo caso, todos eles estão hoje sepultados nas estantes de livrarias de velhos. No passado, eu adquiri esses títulos, por afinidade e por gosto. A livraria e editora que nos permitiu conhecê-los ao longo de décadas chamava-se “Américalee”. Naquela época dei como óbvio que “Américalee” fazia alusão ao continenChristian Ferrer é sociólogo e professor da Universidade de Buenos Aires. verve, 20: 153-200, 2011 153 20 2011 te inteiro. Muito mais adiante descobriria que havia sido escolhido para homenagear América Scarfó. II Cinquenta anos atrás, num lugar de Buenos Aires onde hoje existe uma praça muito ampla, quase um parque, se levantavam os muros da Penitenciária Nacional. Erguer esse tipo de cidadelas é um ato concomitante à fundação de toda cidade. Também demoli-las, como fizeram os anarquistas, em 1936, com a prisão de mulheres de Barcelona, destruída a golpes de picareta e pá. A edificação era imponente e tétrica, muito pior na realidade do que o imaginável a partir das masmorras que a literatura vem descrevendo há muito tempo. Tinha muros de sete metros de altura e um degrau na base que atingia quatro metros. Seu signo era a contundência. Um dos seus construtores foi o pai de Alejandro Schulz Solari, o pintor Xul Solar. O presidente que a mandou arrasar foi Arturo Frondizi, que tinha sido advogado de presos políticos. Foi inaugurada em 1877, numa região da cidade, o Bairro norte, cujo metro quadrado havia valorizado muitíssimo desde então. Seus primeiros habitantes foram trezentos presos que chegaram acorrentados pelos pés, em duplas, vindos da antiga prisão do Cabildo. O regime para internos era draconiano: devia-se permanecer em silêncio, devia-se passar a noite em isolamento, devia-se vestir uniformes listrados, era-se chamado apenas por um número atribuído e pintado com tinta nas costas, no peito e no gorro dos prisioneiros. A prisão era, além disso, um lugar de trabalho. Havia oficinas de impressão e encadernação, com seções de litografia, fotogravura e fotografia: cem presos trabalhavam 154 verve O coração empurpurado, epistolário e história exaustivamente em troca de um salário ridículo. Entre outras publicações, lá se imprimia o Boletim Oficial da República Argentina: eram os infratores quem davam o último imprimatur à lei. Também se fabricavam uniformes para o exército e carteiras para sala de aula. A penitenciária teve extensa permanência no bairro, mas que não foi eterna: demoliram-na em 1962 com explosivos “trotyl”.1 Agora não há nada lá e só os mais velhos podem atestar que o edifício realmente existiu. Já é história, não memória. No entanto, numa das esquinas da praça há uma placa de granito com uma inscrição: “Neste lugar foi fuzilada a pátria”. São letras brancas sobre fundo negro. De vez em quando, um maço de flores aparece depositado junto ao pequeno monolito. III Pouco depois de completar dezesseis anos, América Scarfó escreveu uma carta e a enviou a Ernest-Lucien Juin, mais conhecido como Émile Armand, editor de uma publicação anarquista francesa. A missiva seria publicada na seção de cartas dos leitores, à moda de uma consulta sentimental: “Meu caso, camarada, pertence ao campo amoroso. Sou uma jovem estudante que acredita na vida nova. Desejo a todos o que desejo a mim: a liberdade de atuar, de amar, de pensar. Quer dizer, desejo a anarquia para toda humanidade”. Essas eram suas palavras de apresentação, seu auto-retrato. América havia sido iniciada nas ideais em casa, já que dois de seus cinco irmãos professavam o credo libertário. Eram Paulino e Alejandro, que integravam um bando de homens audazes. Um desses homens, o mais destacado e decidido, era um italiano loiro 155 20 2011 que não parecia conhecer o medo. América o menciona na carta: “Conheci um homem, um camarada de ideias. Segundo as leis burguesas, ele está ‘casado’”. Dito isto, a condição não supõem, para América, um dilema, mas o prelúdio para o desconhecido. Há que levar-se em conta que ela também tinha escrito: “Eu desprezo a todos os que não podem compreender o que é saber amar”. É verdade que “esse homem” já estava unido em matrimônio antes de emigrar para a Argentina, vindo da Itália, e que, ademais, era pai de três filhos; mas era também verdade que o vínculo matrimonial, meio sem brilho, já quase tinha acabado. O que América tinha para contar a Émile Armand era uma história semelhante a tantas outras que deram origem a uma infinidade de romances: “Aconteceu que as circunstâncias nos aproximaram, a princípio, como companheiros de ideais. Nos falamos, nos entendemos e aprendemos a nos conhecer. Assim foi nascendo nosso amor. Pensávamos, no começo, que seria impossível. Ele, que tinha amado apenas em sonho, e eu, que fazia minha entrada na vida. Cada um continuou vivendo entre a dúvida e o amor. O destino — ou melhor, o amor — fez o restante”. Na carta, América omite uma informação que, na verdade, não teria escandalizado os leitores de L’en dehors, a revista editada em Paris por Armand: o homem costumava atravessar a cidade de negro, com chapéu de abas largas enterrado na cabeça, e uma Colt 45 automática no bolso. “Não podemos viver completamente juntos dada a situação política do meu amigo e ao fato de que devo terminar meus estudos. Nos encontramos frequentemente em diversos lugares”. Certamente, Émile Armand era um anarquista muito especial, partidário de uma corrente minoritária, a dos anarco-individualistas; mas, sobretudo, 156 verve O coração empurpurado, epistolário e história era conhecido por defender o amor livre, incluindo a poligamia, ou mais precisamente, uma forma de “amor plural”. Isso era um excesso para a época, inclusive para muitos anarquistas, e justamente essa contrariedade é o motivo principal da extensa carta de América: “Mas acontece que aqui alguns se fizeram de juízes. E eles não se encontram tanto entre as pessoas comuns, mas entre os companheiros de ideais que tomam a si mesmos como livres de preconceitos, mas que no fundo são intolerantes”. A garota não era pouca prosa. Não apenas concitava a oposição dos seus pares de ideais e da sociedade toda, como, sobretudo, a de seus pais. Além do que, o homem a quem América se referia na sua consulta não era um namorado qualquer, mas o “inimigo número 1” da polícia argentina. Dezenas de tiras da “Seção Especial” o procuravam com afinco. Havia, por fim, para ser mencionado, um tema escabroso que os jornais, mais para frente, coloririam em tons de escândalo: “criticam nossa diferença de idade simplesmente porque eu tenho 16 anos e meu amigo 26. Ah, esses pontífices do anarquismo! Intrometer no amor o problema da idade! Como se já não fosse suficiente que o cérebro raciocine para que uma pessoa seja responsável por seus atos! E no mais, é um problema meu e se a diferença de idade não me importa nada, por que tem que importar aos demais?”. A carta, encerrada em dezembro de 1928, em tempos do governo de Hipólito Yrigoyen, inclui essa pergunta: “Não é que todo o universo se converte num éden quando dois seres se amam?” O Jardim do Éden, mais alto e mais radiante que qualquer utopia social. No mês seguinte, América recebeu a resposta de Émile Armand: “Ignora os comentários e insultos dos outros e continua teu caminho. Ninguém tem o direito de julgar tua forma de se conduzir”. 157 20 2011 IV Apenas uma vez América Scarfó entrou na Penitenciária Nacional, e foi o suficiente. Nas vinte-e-quatro horas em que permaneceu entre seus muros seriam fuzilados, lá mesmo, seu namorado e seu irmão. Isso aconteceu em fins de janeiro de 1931, com o país sob estado de sítio e lei marcial, e dela, que tinha dezessete anos, nada mais se soube pelas sete décadas seguintes. Quando o nome de América Scarfó voltou a aparecer nos jornais, na primeira página, no final do século, ela já completara os oitenta e cinco anos e a notícia se referia a sua presença na Casa Rosada. Havia-lhes ocorrido a ideia de devolver a América as cartas de amor que lhe pertenciam. V Um dos muitos uniformizados que se envolveram no golpe de Estado de 06 de setembro de 1930, lançado contra o presidente Hipólito Yrigoyen, foi o então capitão Juan Domingo Perón, que foi dos primeiros a chegar à Casa Rosada, já abandonada pelo líder da União Cívica Radical. Outro militar, Juan José Valle, permaneceu alheio aos acontecimentos. Mas vinte e cinco anos mais tarde, quando o presidente Perón foi derrubado, o general Valle conspirará em sua defesa. Essa decisão atrairia a desgraça sobre ele mesmo e sobre sua família. VI É estranho constatar que a maior prisão da cidade de Buenos Aires não motivou muitas menções na literatura nacional. A história da Penitenciária se encontra mais nas 158 verve O coração empurpurado, epistolário e história notas jornalísticas, particularmente na imprensa anarquista e socialista, que na criação artística. Especificamente, num gênero de livros de denúncia da vida de masmorra, composto de testemunhos deixados pelos próprios encarcerados, na sua maioria presos políticos, ou “presos sociais” ou “de ideias”, como se dizia em outra época. Em geral foram escritos por gente letrada e sua missão era fazer conhecer uma condição ignorada pelo grande público, além de apresentar um panorama dramático de um momento histórico convulso e ainda confuso, tais como “El martirologio argentino” [O martirológio argentino], de Carlos Giménez, ou “Porque me hice revolucionario” [Porque me fiz revolucionário], de Raúl Barón Biza, ou “Desde la cárcel” [Da prisão], de Eduardo Antille, todos eles radicais,2 ou “Preso!”, do peronista José M. F. Figuerola y Tresols, ou “A lembrança e as prisões”, do comunista Rodolfo Aráoz Alfaro. Muitos desses livros foram publicados como “edição do autor”, alguns em Montevidéu, lugar de exílio, ou na clandestinidade, por afiliados radicais que tinham sido levados à Penitenciária após sucessivas prisões em massa ordenadas pelos governos do general José Félix Uriburu e do general Agustín P. Justo logo após cada intentona fracassada do setor yrigoyenista revolucionário. Posteriormente, esses homens costumavam ser transportados para a prisão de Ushuaia, na ilha da Terra do Fogo. Não se pode dizer que tenham sido muito lidos nem que tenham circulado facilmente. Sobre a Penitenciária, também deixaram testemunhos alguns visitantes ilustres, como o político Georges Clemenceau, o jornalista Jules Huret, e a médica (?) Gina Lombroso. Existem, sobre a vida na prisão, muitas gravuras, o gênero que melhor se adéqua à negrura das prisões e no qual se distinguiram os pintores 159 20 2011 e gravuristas das décadas de 1920 e 1930 que trabalharam sob o nome de “Artistas do Povo”. De vez em quando, no lamento de tangos antigos pode-se escutar alusões à Penitenciária, chamada de “A Sensata”, “A nova”, “A Quinta” ou “A Querida”. Mais recentemente, o cineasta Eduardo Mignona publicou um romance e lançou um filme, ambos intitulados “La Fuga”. Nesse caso, a arte imitou a vida, pois houve internos que conseguiram fugir dessa prisão. O primeiro, em 1889, disfarçado; o segundo, em 1900, dentro de uma lata de lixo; em 1911, fugiram treze presos; no ano seguinte, um prisioneiro conseguiu abrir caminho pelas latrinas, mas dez perderam a vida na tentativa; em 1923, outros trezes presos fugiram por um túnel; e o último que pôde burlar a segurança o fez em 1960, pendurando-se nos cabos telefônicos. Esse tipo de histórias ainda não encontrou o seu Heródoto. É certo que, no dia 6 de janeiro de 1911, no dia de reis, os ácratas Salvador Planas y Virilla e Francisco Solano Rojas, condenados a longos anos de prisão por tentativa de magnicídio3, fugiram da Penitenciária por um túnel e nunca mais foram vistos. Dois anos antes, em novembro de 1909, na saída do Cemitério da Recoleta, justamente na ocasião do enterro de Antonio Ballbé, diretor da Penitenciária Nacional, o anarquista Simón Radowitzky, ainda menor de idade, matou o coronel e capitão de fragata Ramón Lorenzo Falcón, um feito que marcaria a luta social nos vinte anos seguintes. VII Apenas uma vez Susana Valle cruzou as portas da Penitenciária Nacional, e foi mais do que suficiente. Esteve lá só por vinte minutos para despedir-se de seu pai, o ge160 verve O coração empurpurado, epistolário e história neral Juan José Valle. Minutos depois de dizer adeus, ele seria abatido por uma salva de fuzilaria. Nas quarenta e oito horas anteriores outras vinte e seis pessoas tinham perdido a vida pelo mesmo método. Isso aconteceu em junho de 1956, sob estado de sítio; e de Susana Valle, então com dezenove anos, se falou durante os cinquenta anos seguintes, pois em cada aniversário da execução de seu pai, ela se colocaria diante dos muros da Penitenciária junto com uma coroa de flores, acompanhada, às vezes, por centenas de pessoas. Mesmo quando a prisão já havia sido demolida, ela seguiu indo, tenaz e fielmente, ao mesmo lugar onde agora havia uma praça pública, e sempre com flores nas mãos. VIII Um diário chamado El Pueblo, disse que ele tinha sido “o homem mais maligno que pisou em terras argentinas”. Outro jornal, chamado El Mundo, o qualificou de “demônio social”. De modo contrário, os que o admiravam o faziam por seu ânimo turbulento e sua falta de medo, ou por compartilhar os mesmos inimigos: fascistas, “cresócratas”, “capangas”, “cossacos”, “politicantes”, “cagões”, “crumiros”, e o Estado argentino inteiro, sem esquecer os anarquistas demasiadamente moderados. Naquele tempo, os jornalistas se interessaram em atiçar a imaginação popular: ele era “o homem do mistério”, “o personagem de cinema”, “a sombra do terror”. Mas isso não era de todo preciso: Severino Di Giovanni era um anarquista muito preparado, um homem de pensamento que escrevia e editava, ainda que sua aproximação com a linha mais intransigente do anarquismo argentino, chamada “antorchista”,4 não pressupu161 20 2011 nha métodos benignos: “Sou um apologista da expropriação para fins anárquicos”. E não fazia apenas apologia: era o que, então, se chamava “um homem de ação”. Por sua parte, as autoridades o responsabilizavam por uma onda de atentados, roubos e mortes. Dizia-se que se vestia com camisa de seda e chapéu negro, que era temerário às raias da irracionalidade, que explodiu uma bomba na embaixada dos Estados Unidos e outra no monumento a George Washington, que estava envolvido com falsificação de dinheiro, que havia justiçado um traidor que se tornara informante da polícia, que tinha cuidado pessoalmente de atirar no chefe da seção de Ordem Social da cidade de Rosário, que matara um dos diretores do La Protesta, único jornal anarquista no mundo publicado todos os dias, de tendência anarco-sindicalista e “brando”, segundo ele, ou mais sensato, como pensava a maioria dos ácratas organizados. Em todo caso, e mesmo que tudo que lhe atribuíssem não fosse exato, o rosto de Di Giovanni aparecia regularmente nos jornais. Severino Di Giovanni, italiano, tipógrafo, estudou para tornar-se professor, ainda que, o mais preciso, seria dizer que era um autodidata. Em 1923, chegou à Argentina vindo do Brasil e logo se uniu à luta antifascista. Inevitavelmente, teve passagens pela polícia. O homem oscilava entre paradoxos: acreditava na violência como método de autodefesa e, no entanto, caiu nas garras da lei pela sua obstinação de imprimir as provas de um livro anarquista pacifista; estava inebriado de amor e escrevia artigos com títulos como “Hino à dinamite”; era um apaixonado pela liberdade absoluta, mas excessivamente obcecado e intempestivo, e, ao ser acossado, reagia como os animais que defendem seu território até o fim. Na época em que 162 verve O coração empurpurado, epistolário e história era procurado vivo ou morto, escreveu a um companheiro: “Somente aquele que sabe amar tanto pode odiar tanto”. Em 1927, conheceu o jovem Paulino Scarfó, anarquista, desertor do exército e vegetariano, e com sua ajuda, alugou um quarto, por alguns meses, nos fundos da casa onde vivia Paulino com seus pais e seis irmãos. É o destino: América Scarfó, garota de quatorze anos, que já folhava os livros de ideais de seu irmão, começou a preferir a companhia desse homem repleto de vida, que não bebia nem fumava, e que estava na mira da polícia. Logo o ímpeto do amor os aproximou, apesar da prudência, das convenções sociais e das possibilidades de êxito. Decidiram se unir, por livre vontade e porque não podiam fazer outra coisa a respeito. Assim começou a correspondência amorosa. Ele lhe escrevia em italiano, ela respondia em castelhano: “Nossa união será bela e prolongada, alegre e plena de todos os sentimentos, grande e infinitamente eterna”. Da correspondência de ambos, se dispõem apenas das cartas enviadas por Severino, que foram encontradas por Osvaldo Bayer no Museu Policial e transcritas em O idealista da violência, o estudo biográfico definitivo de Di Giovanni e sua época, a fonte de dados quase exclusiva de sua proeza e de seu instantâneo ocaso. Severino Di Giovanni, a quem se atribuía rigidez e intolerância, escrevia a América sob efeito de uma efervescente doçura: “Belíssimo coração feminino, essência de todos os amores excelsos e puros”; ou ainda: “Em vez de apagar momentaneamente o incêndio que me devora, cada um dos nossos encontros, cada uma de nossas conversas, cada um de nossos abraços não servem para outra coisa que dar alimento à chama acesa do meu coração”. América tinha já quinze anos. Isso não era um impedi163 20 2011 mento, e certamente Severino Di Giovanni era devoto dos princípios libertários e, por isso, um emancipador. Pensava que as mulheres deviam “saltar o muro dos costumes femininos” e, inclusive, tinha publicado brochuras sobre o “amor livre”, um tema próprio dos anarquistas, incluindo um intitulado “La Verginitá Stagnante” [A virgindade paralisante]. Também editava Culmine, uma publicação ácrata que chegou a tirar quatro mil exemplares, e teve uma livraria. O resto de seu tempo era para América e para se envolver com um grupo de homens muito decididos, “de princípios”. Mesmo que Di Giovanni tivesse muito de individualista, ainda assim chegou a se organizar em grupos de afinidade. E com uma violência equidistante à do amor, mas equivalente, se lançaria à ação política, ou melhor, à ação direta. Os feitos que a polícia lhe atribuíam eram maiúsculos: uma leva de mortos e feridos. Uma bomba no National City Bank, outra bomba no consulado italiano, mais mortes em outro assalto. Não foram poucos os anarquistas que se distanciaram desse homem que escolhera pseudônimos como “O Albigense” e “Ilegalista”, e que disse: “Quando escolho um caminho, não retorno”. Menos ainda se uma paixão lhe guiava os passos: “Não posso viver, te desejo tanto, tanto a cada instante da minha vida. Queria te apertar forte! Amar-te como só eu te posso amar. Embriagar-me inteiro de ti e depois... depois voltar a me embriagar uma vez mais e de novo, de novo, até a exaustão”. O idílio de América e Severino continuou por mais dois anos e meio, até que a morte os separou. Ela ia ao colégio e ele vivia aos sobressaltos, na clandestinidade. Vários mensageiros levavam e traziam a correspondência. 164 verve O coração empurpurado, epistolário e história Eram felizes: “Sempre unidos, como duas heras, sorvendo a própria existência uma da outra”. Eram companheiros: “Quando chegares leremos, olharemos, escolheremos aquelas palavras, as mais belas, as mais sublimes, as mais comuns a nós dois, e por isso, as mais ardorosas, do nosso imenso amor”. Eram furtivos: “Chegar e desaparecer; receber teus beijos, te beijar, e depois, a separação...”. Estavam no auge de sua paixão: “Tocaste todo meu ser, minha vida. O fizeste vibrar como quis. Lia nos teus olhos todo o desejo e todo o amor. Que bonita que estavas ontem à noite! Como cantavam nossos sentidos!”. Poucas vezes uma adolescente tem a possibilidade de se envolver com um homem condenado de antemão, e menos ainda, a vontade de compartilhar com ele o resto da vida. Assim se originam as lendas românticas de todas as épocas. Mas ela não era vítima de nenhuma ilusão nem se enganava minimizando as circunstâncias; era uma mulher consciente do mundo e “as ideias” eram seu meio ambiente específico havia anos. Em Anarchia, a nova revista de Severino Di Giovanni, América Scarfó assinou artigos com seu próprio nome: “Não concebo que haja indivíduos que vivam a vida de modo burocrático. Vivem estancados, vegetam e morrem. Nada se sabe de suas vidas”. Severino era mais exaltado, ou visceral: “Penso em ti, sempre, sempre, sempre.” Era necessário fazer alguma coisa para estar definitivamente juntos, superar a desconfiança paterna, de modo que recorreram a um estratagema: um casamento falso. Silvio Astolfi, um integrante do grupo de Di Giovanni, fez-se de noivo da garota e se casaram como mandava a lei. Ela era agora América Scarfó de Astolfi. Mas a lua de mel, ela passou com Severino, que a esperou na estação de trens do povoado de Carlos Casares, na Província 165 20 2011 de Buenos Aires, com duzentas rosas vermelhas. Abria-se a década de 1930. IX A sublevação liderada pelos generais Juan José Valle e Raúl Tanco, que alcançaria um status mitológico na imaginação política do peronismo, foi prematura, deficientemente coordenada, crente demais numa insurreição generalizada que nunca ocorreu, e, além de tudo, não se protegeu dos agentes infiltrados. Por sua vez, a repressão desencadeada pelo governo cívico-militar chefiado pelo general Juan Carlos Aramburu foi desproporcional e, em poucas horas, adquiriu punição exemplar, que recaiu, sobretudo, sobre cabos e sargentos, que tinham cometido o imperdoável ato de insubordinação plebeia: desarmar oficiais de carreiras e colocá-los sob custódia. Nos meses seguintes, a metade dos suboficiais do exército foi passada à reserva. O peronismo havia fixado raízes firmes entre eles. Tudo começou em 10 de junho de 1956, muito cedo, com uma declaração assinada por Valle e Tanco que só foi possível transmitir de uma rádio de Santa Rosa, capital da província de La Pampa. As ações terminaram doze horas mais tarde. Essa declaração invertia os elementos: o governo atual era uma tirania e era imperioso celebrar eleições num prazo breve. Anunciava à população que os insurrectos, que assumiam o nome de Movimento de Recuperação Nacional, não estavam sob nenhuma bandeira, mas na verdade, eram todos peronistas. Muitos eram civis, comandados pelo sindicalista Andrés Framini, que oito anos depois seria eleito governador da província de Buenos Aires — tendo sido impedido de assumir —, e 166 verve O coração empurpurado, epistolário e história também participaram sindicalistas do que, então, se chamava “a CGT negra”. Mas nos dias anteriores, quase mil peronistas foram presos e, além disso, não se contava com a benção de Perón, que estava longe, na Venezuela. Para completar, o governo os esperava, e os deixaram conspirar tudo o que quiseram: iriam desviar o golpe a seu favor. Um decreto de Lei Marcial já estava escrito e assinado, em segredo, pelo presidente de facto. De todo modo, os avanços rebeldes foram escassos, para não dizer nulos: apenas o controle de algumas ruas em La Plata e da inteira cidade de Santa Rosa, mas apenas por algumas horas. O domínio da situação pelas tropas do governo foi rápido e efetivo. Somente em La Plata houve alguma resistência, desbaratada após um bombardeio realizado pela aviação naval. Ali morreram dois leais ao governo e três rebeldes. Também a Rádio Santa Rosa foi atingida pela artilharia. Aqueles que não puderam fugir levantaram a bandeira de rendição, sem imaginar que esse era o dia de São Bartolomeu. Nas seguintes quarenta e oito horas, foram fuzilados um general, dois coronéis, dois tenente-coronéis, três capitães, dois tenentes, oito suboficiais e novos civis, e quase todos se foram deste mundo sem o auxílio de um confessor e sem que se avisasse os familiares. Na delegacia regional de polícia de Lanús, executaram seis prisioneiros com rajadas de metralhadoras portáteis; na Escola de Mecânica da Armada fuzilaram quatro suboficiais; e assim sucessivamente, no Campo de Maio, em La Plata, e no Partido de San Martín. Os desesperados pedidos de clemência que se multiplicaram nessa noite pavorosa não puderam ser considerados: o general Aramburu havia dado ordens para não ser despertado. Nas horas anterio167 20 2011 res à sua morte, um amargurado general Valle escreveria: “Fuzilando a mim já bastaria”. Em La Plata, a ordem de matar foi dada pelo coronel Luis Leguizamón Martínez, que tinha sido golpista menos de um ano antes e que voltaria a sê-lo, contra o presidente Frondizi, três anos depois. Esse é um padrão que se repetiu vez ou outra na história argentina das sublevações militares, que foram constantes. Assim, o coronel Juan José Graneros, chefe de polícia na época de Di Giovanni, que esteve envolvido na repressão do 1º de maio de 1909 na Plaza Lorea, entregou seu quartel de polícia sem oferecer resistência alguma quando, em 1930, o general Uriburu deu seu golpe de Estado. É sabido que, assim como aconteceu com Severino Di Giovanni, um dos fuzilados em La Plata chegou já ferido a bala diante do pelotão de fuzilamento, instalado num campo de treinamento de cães. A maior parte dos civis morreu em outro lugar. Os doze homens que foram levados ao lixão de José León Suárez, nos subúrbios, tiveram os corpos salpicados por balas assim que receberam a ordem de caminhar para frente sem olhar para trás. Cinco ficaram estirados na noite, mas os outros puderam fugir campo a fora. O responsável por esses fuzilamentos clandestinos era o coronel Desiderio Fernández Suárez, chefe da polícia da província de Buenos Aires. Já havia sido golpista quando cadete, contra o governo de Hipólito Yrigoyen, e depois se converteu em seguidor de Jordán Bruno Genta, um nacionalista católico e fascista que dirigira o jornal Vida Militaris, e então editava outro chamado Combate. Fernández Suárez seria justiçado pela guerrilha em 1974. Antes mesmo de que as últimas ordens de fuzilamento fossem emitidas, uma multidão se aglomerou na Plaza de 168 verve O coração empurpurado, epistolário e história Mayo para ovacionar o presidente, o general Aramburu, e seu vice-presidente, o contra-almirante Isaac Rojas, que retribuíram saudando seus partidários do balcão do palácio presidencial, um ritual de monarcas habituados. Um rosário de partidos políticos, personalidades “representativas”, forças vivas e instituições variadas pronunciaram-se em apoio à mão de ferro da repressão, incluindo — e sem que se solicitasse a opinião — a Academia Argentina de Belas Artes. No jornal La Vanguardia, o Partido Socialista publicou em seu editorial um lema argentino tradicional: “A letra com sangue entra”; até mesmo o La Protesta, diário anarquista, se regozijou com o fracasso da sublevação; o novo diretor da Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges, disse então: “Há que se fazer o que é justo fazer”. O gesto planejado de autoridade por parte do governo conseguiu coligar, por um tempo, as distintas linhas de força da “Revolução Libertadora”, além de desencorajar novas revoltas possíveis, com exceção das sabotagens quase cotidianas perpetradas pela pouco expressiva “Resistência Peronista”. Outra consequência, estranha e assustadora, e que ficou sepultada no segredo, aconteceu um mês após a frustrada tentativa do general Valle. O coronel Carlos Eugenio de Moori Koening, chefe do Serviço de Inteligência do Exército, cujo sobrenome significava em alemão “rei do pântano”, — o homem que havia sequestrado o cadáver de Eva Perón logo depois do golpe de Estado de Aramburu, dedicando-se dali para frente a outras práticas necrófilas —, entrou em pânico, temendo um assalto peronista aos seus escritórios, onde mantinha o caixão. Então, pediu a seu homem de confiança, o major Eduardo Arandia, que o escondesse no sótão de sua casa por uns dias. Mas o subordinado não levou para casa um cadáver, e sim um fan169 20 2011 tasma. Uma noite, pensando ter escutado passos suspeitos, o major atirou contra um vulto, matando com três tiros no coração Elvira Herrera de Arandia, sua esposa grávida. Houve uma terceira consequência. Recém iniciada a revolta dos oficiais peronistas, alertou-se da situação o vice-presidente, que naquele momento, junto com sua esposa, desfrutava de uma peça de teatro, “O espectro da rosa”. Um dia depois, ele declarou aos jornalistas: “a única coisa que lamento é ter sido obrigado a abandonar o Teatro Colón na metade do espetáculo”. Isso disse o contra-almirante Isaac Ángel Rojas. Trinta anos antes, no mesmo teatro, Severino Di Giovanni tinha estragado outra função artística: a celebração do vigésimo quinto aniversário da ascensão ao trono italiano de Vittorio Emmanuelle III. Houve gritaria, interrupção, protesto, camburão e estadia na delegacia. Ao ser detido, Di Giovanni gritou “Viva a anarquia”. Foi sua apresentação à sociedade, e sua primeira detenção, acontecida na presença do presidente Marcelo Torcuato de Alvear, e do fascista diplomata italiano no país, conde Gian Galeazzo Ciano, que mais adiante seria expulso de Buenos Aires por causa de um escândalo ocorrido num cabaré e que, logo depois, foi genro de Benito Mussolini e ministro das Relações Exteriores do governo fascista, terminando por ser fuzilado como traidor, por ordem de seu sogro. É possível que os presentes no Teatro Colón, em 1925, tenham lembrado, após o incidente, que Umberto I, o imediato antecessor de Vittorio Emmanuelle III no trono, fora justiçado em 1900 pelo anarquista Gaetano Bresci, que viajou de Nova Jersey a Monza para dar-lhe quatro tiros. Condenado à prisão perpétua, “apareceu” morto na sua cela no ano seguinte. 170 verve O coração empurpurado, epistolário e história X Com o golpe de Estado do general Uriburu deixaram de sair todos os diários e periódicos contrários ao novo regime, sendo os primeiros os anarquistas La Protesta e La Antorcha, silenciados pela força. Mas não Severino Di Giovanni. Ele continuou publicando sua revista Anarchia na clandestinidade. Baseava no seu próprio poder o direito de editar suas coisas, não de um capricho estatal. Não era homem de pedir licença, mas de atropelar. Para a opinião pública, Severino Di Giovanni terminava por ser um signo ambíguo: era “o” perseguido, um herói da sempre duvidosa página policial, mas também um exaltado sem sentimentos. Numa carta a um companheiro, não escondendo a contrariedade, ele se perguntava: “Sou um indesejável? Sou um louco? Sou degenerado?”. Antes disso, era um homem filiado a uma estirpe anarquista impetuosa e impaciente chamada “expropriadora”, que antes e depois foi temida e vilipendiada pela grande imprensa e pela casta política, e a que se reuniram nomes como Ravachol, Bonnot, Facerías e Sabaté. Para compreender como um todo as ações de Di Giovanni é preciso fazer um inventário das perseguições, geralmente implacáveis e em muitas ocasiões selvagens, que enfrentou o anarquismo em todos os países do mundo. No dia seguinte à sua prisão, o jornal La Nación publicou essas palavras: “era audaz, corajoso, de uma coragem impensada, mais de fera que de homem. Dissemos que ‘era’ porque agora já não mais será”. Não se enganava o jornalista: vinte e quatro horas depois Severino Di Giovanni estaria morto e enterrado em lugar desconhecido. A sequência dos acontecimentos foi vertiginosa. Di 171 20 2011 Giovanni foi capturado pela polícia em pleno centro da cidade, a cem metros da esquina entre as avenidas Corrientes e Callao, no dia 29 de janeiro de 1931, após uma perseguição que atravessou vários quarteirões. Uma vez, Di Giovanni escreveu: “Já que hão de te matar, vende caro tua vida”. E assim foi. Antes de ficar encurralado numa casa, Di Giovanni matou um policial, deixou outro ferido, e no tiroteio morreu uma menina. Guardou uma bala final para tirar a vida, mas a arma falhou, apenas ferindo-o. Após receber os primeiros socorros e com o braço numa tipóia, foi levado à Penitenciária Nacional para ser julgado por um conselho de guerra com dez integrantes, presidido pelo coronel Conrado Risso Patrón, depois promovido a general e assassinado, em 1940, por um comissário de polícia da província de Santa Fé, durante as lutais eleitorais entre radicais e conservadores. Poucas horas depois, Severino Di Giovanni foi condenado à morte. O fiscal do sumário julgamento foi o tenente-coronel Clifton Goldney. Vinte e cinco anos mais tarde, outro Clifton Goldney, de igual patente, receberia a rendição de alguns dos conspiradores da sublevação do general Valle. Enquanto isso, uma patrulha policial conseguiu encontrar o esconderijo do grupo, numa chácara suburbana. Depois de um enfrentamento, no qual morreram um policial e dois anarquistas, foi preso Paulino Scarfó e, também, sua irmã América. Paulino, de vinte e um anos, foi submetido ao conselho de guerra e, imediatamente, o condenam à pena de morte. Foi fuzilado vinte e quatro horas após Di Giovanni. Logo depois que suas condenações foram lidas, ambos foram torturados para extrair informação, mas inutilmente. Mas até mesmo um conselho de guerra em tempos de lei marcial supõe a presença de um advogado de defesa, 172 verve O coração empurpurado, epistolário e história “de ofício”, e a tarefa ficou com Juan Carlos Franco, um tenente da companhia de ciclistas e arquivistas. O homem era yrigoyenista e muito corajoso, mas pouco pôde fazer, apesar de ter improvisado, em apenas algumas horas, uma alegação admirável que lhe custou a antipatia instantânea de seus superiores. De todo modo, seu defendido tinha dado um limite ao discurso de seu advogado: “sou anarquista, e isso não renego nem diante da morte”. Tampouco Paulino Scarfó facilitou as coisas para seu defensor, cuja simpatia pelo preso era nula, e diante de uma sugestão da família de pedido de clemência às autoridades, “in extremis”, ele mesmo fechou a porta: “Um anarquista nunca pede mercê”. O destino posterior do tenente Franco seria negativo: foi colocado na reserva, sendo encarcerado como preso comum na prisão de Villa Devoto e, por fim, teve que se exilar no Paraguai. Somente pôde voltar com a anistia geral dada pelo general Justo, novo presidente do país. Morreu jovem de tifo ou, talvez, envenenado durante um banquete de militares. Antes disso, havia formado um duo folclórico com o cantor Atahualpa Yupanqui. Muito foi dito sobre a real autoria da petição lida por Juan Carlos Franco em prol da vida de Severino Di Giovanni. Talvez tenha sido assessorado, e houve muitos a que se atribuíram essa honra, incluído o próprio general Perón — mais para mitômano nesse caso — que declarou a Enrique Pavón Pereyra, seu biógrafo, o seguinte: “Eu inspirei a famosa declaração do tenente Franco em defesa de Severino Di Giovanni, e mil outras vezes o faria”. A data da reportagem era de março de 1973, “annus mirabilis”, o melhor momento da esquerda peronista. A última vez que América Scarfó viu Severino Di Giovanni foi na manhã do seu último dia. Um momento 173 20 2011 antes, sob vigilância e algemado pelas costas, foi permitido a Severino estar com seus filhos e sua esposa legal. Com América pôde estar apenas um pouco, sendo importunados pelo sacerdote da prisão que se dedicou a manter uma discussão teológica com o condenado. Quando ficou só, Severino escreveu a última carta a América, um bilhete: “Seja feliz. Adeus única doçura da minha pobre vida. Beijo-te muito. Pense sempre em mim”. Seu último desejo foi ver Paulino Scarfó. Ambos se cumprimentaram. Horas depois, América se despediu de Paulino. Tinha sido ele quem a apresentara a Severino. Enquanto isso, a mãe de Paulino e América tentava um desesperado pedido de misericórdia diante das portas da Casa Rosada, e o fez novamente na Penitenciária, ajoelhando-se aos pés do diretor da prisão. Nada conseguiu. Esse homem era Alberto Viñas, conservador e golpista, que não podia imaginar que vinte anos depois ele mesmo seria encarcerado na Penitenciária, preso em uma reunião de opositores durante o governo de Juan Domingo Perón. XI Severino Di Giovanni e Paulino Scarfó foram executados de madrugada, como sacrificados de uma sociedade que estava disposta a aceitar a hegemonia dos próximos governos conservadores e como mensagem implícita do governo militar: havia disposição para disciplinar e castigar. No lado de fora da prisão reuniu-se uma multidão, a maior que já havia aparecido por ali. Na espera do momento final, ela teve que suportar uma crueldade a mais: um grotesco desfile de autoridades e personagens ‘ilustres’ que se entreteve diante das barras das duas celas, incluin174 verve O coração empurpurado, epistolário e história do o ministro do Interior, Sánchez Sorondo, que assim fazia jus à ofensa — “sánchez desprezível” 5 — impresso num panfleto distribuído pelo pessoal de Di Giovanni por todo centro da cidade. Acorrentaram Severino pelos pés e desse modo foi levado até o lugar da execução, caminhando com dificuldade. Eram cinco da manhã. Negou a venda nos olhos e, então, oito tiros, além do de misericórdia, fizeram-lhe púrpura o coração. Morreu dando vivas ao seu ideal, imperturbável, com um brio de metal antigo. Apenas deram-se os disparos, o alarido dos presos da penitenciária se elevou aos céus. Matavam um dos seus. Naquela noite, o cadáver de Di Giovanni foi jogado numa vala comum para evitar peregrinações. Em seguida, morreria Paulino Scarfó. Aos que lhe apontavam as armas ao peito, disse: “Senhores, boa noite, viva a anarquia!”. Anos mais tarde, quando nasceu a primeira filha de América Scarfó, recebeu o nome Paulina. De outro lado, as últimas palavras que América disse a Severino, ao despedir-se, foram: “Seguirei lembrando de ti até minha morte”. XII Angustiado pelas notícias das primeiras execuções de seus homens, o general Valle decide entregar-se às autoridades em 12 de junho de 1956, seu último dia. Antes disso, passou pelo velório de um dos coronéis fuzilados, o que enegreceu ainda mais seu estado de ânimo. Sua rendição foi recebida pelo capitão de navio Francisco Manrique, que servia como secretário geral da presidência e que, mais adiante, em outro governo, o do presidente Guido, seria ministro do Bem-Estar Social, e em outro governo, o do general Lanusse, assumiria o mesmo posto, e depois 175 20 2011 seria ainda secretário de Turismo do governo do presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Mas naquele ano de 1956, Manrique, que já tinha sido golpista duas vezes, não se preocupou em respeitar a palavra dada a Valle de que não seria fuzilado. Talvez essa culpa tenha voltado à sua memória na época da última ditadura militar, quando uma sobrinha sua, catequista, foi sequestrada, e ele se viu obrigado a suplicar entre uniformizados para poder salvá-la. Juan José Valle foi fuzilado vinte horas depois de ter sido preso, tão rápido como no caso de Di Giovanni. Fizeram-lhe com que entrasse na Penitenciária às duas da tarde e às dez e vinte da noite perdeu a vida. Nessas horas de espera, escreveu várias cartas a seus familiares e também teve o desejo de dirigir algumas palavras ao presidente da nação: “dentro de poucas horas o senhor terá a satisfação de haver me assassinado”. No pouco tempo em que Valle esteve na Penitenciária, foi-lhe atribuído um número de preso, o 4498. “Para liquidar opositores lhes pareceu digno induzir-nos ao levante e sacrificar-nos, então, friamente. Faltou-nos astúcia ou maldade para adivinhar a artimanha”. Na madrugada anterior tinham sido fuzilados, nesse mesmo lugar, o sargento de infantaria Isauro Costa, o sargento carpinteiro Luis Pugnatti e o sargento músico Luciano Isaías Rojas. Um pelotão de fuzilamento diferente para cada um deles. “A palavra ‘monstros’ brota incontida de cada argentino”. Às oito da noite avisaram na casa de Valle o que aconteceria. A esposa ficou fora de si e se descompôs; a filha, Susana Valle, tomou a frente da situação e, depois de tentar uma tratativa inútil junto a algum monsenhor, foi pessoalmente ao edifício da avenida Las Heras e Coronel Díaz uma hora antes do estipulado para a morte de seu 176 verve O coração empurpurado, epistolário e história pai. “Entre minha sorte e a de vocês fico com a minha. Minha esposa e minha filha, através de suas lágrimas, verão em mim um idealista sacrificado pela causa do povo. Suas mulheres, até mesmo elas, verão manifestar-se diante dos seus olhos suas almas de assassinos”. O general Valle dividiu com sua filha sua última hora de vida. No momento de se separar, deu-lhe a aliança para que entregasse a Cristina Prieto, sua esposa. “Como vocês têm os dias contados, para livrarem-se do próprio terror, semeiam terror. Mas inutilmente”. Pouco antes de morrer, pediu um cigarro. “Ainda que vivam cem anos, suas vítimas os seguirão a qualquer canto do mundo onde pretendam esconder-se. Viverão vocês, suas mulheres e seus filhos, sob o terror constante de serem assassinados”. Juan José Valle, homenageado por uma rua em Buenos Aires, caiu morto numa das laterais da Penitenciária, exatamente no lugar onde hoje é lembrado por uma placa comemorativa. “Rogo a Deus que meu sangue sirva para unir os argentinos. Viva a pátria”. XIII Naquele distante janeiro de 1931, América Scarfó teve que passar trinta dias num calabouço do Departamento Central de Polícia até que um juiz a deixou ir. O inventário de sua desgraça não podia ser mais catastrófico. Seu querido Severino e seu irmão Paulino, executados; seu irmão Alejandro Scarfó, de apenas dezoito anos e que foi preso, em 1928, com notas de dinheiro falsas e dinamite, cumprindo pena de prisão perpétua na ilha da Terra do Fogo; outro irmão, José Scarfó, detido pela polícia e agredido sem piedade; e outro irmão ainda, o mais velho, 177 20 2011 despedido do emprego por ter esse sobrenome; seus pais, aturdidos e arrasados pela dor, afastaram-se dela; seu avô nunca mais falou com ela. Seu nome era mesmo um estigma. E ainda haveria sequelas nos anos porvir: alguns outros membros do grupo de Severino seriam colocados fora de combate em diferentes tiroteios; o novo companheiro de Teresina Masculli, a primeira mulher de Severino, seria condenado a sete anos de prisão; Silvio Astolfi, o marido “legal” de América, morreria em ação combatendo com os anarquistas durante a Guerra Civil Espanhola; e mesmo que, por falta de provas, a pena de seu irmão tenha sido modificada, dando-lhe a liberdade em 1935, Alejandro Scarfó foi imediatamente enviado ao Chaco para cumprir serviço militar em um batalhão de castigo de onde retornou transtornado para sempre. Nos anos seguintes, América Scarfó ainda escreveria alguns artigos para a imprensa anarquista, mas em pouco tempo retirou-se da vida pública por completo. Estudou para tradutora de italiano e se dedicou ao ensino. Mais adiante, já idosa, completaria, também, os estudos de francês. Em algum momento refez sua vida afetiva, unindo-se com um companheiro de ideias, com quem teve filhos. Ambos fundaram a livraria e editora Americalee. Em 1951, ela viajou à Itália, onde visitou Chieti, o povoado natal de Severino Di Giovanni. Havia passado vinte anos desde seu fuzilamento. Logo após ser solta, América conseguiu trabalho de costureira, mas logo foi contratada por Salvadora Medida Onrubia de Botana como sua secretária particular. Essa mulher era uma personalidade ímpar. Foi mãe solteira em um povoado do interior e adepta das ideias anarquistas. Escrevia poemas, muitos de temática erótica. Era valente e intrépida, bissexual, espírita e, além disso, esposa de 178 verve O coração empurpurado, epistolário e história Natalio Botana, dono do diário Crítica, o mais popular do momento e, com certeza, um dos suportes propagandistas do golpe de Estado do 6 de setembro de 1930. Mas Salvadora tinha ideias muito diferentes, contrárias ao novo governo, pelas quais foi castigada com uma prisão na Cadeia do Bom Pastor, gerida por freiras e exclusiva para mulheres. Então, uma série de escritores e amigos seus solicitaram ao governo militar que considerasse concederlhe o perdão. Mas poucos dias depois, Salvadora Medina Onrubia tornou pública uma carta dirigida ao ditador. Assim começava: “General Uriburu. Acabo de me inteirar da petição apresentada ao Governo Provisório pedindo ‘magnanimidade’ para mim. Não autorizo o piedoso pedido. ‘Magnanimidade’ implica perdão por uma ‘falta’. E eu não me lembro de faltas nem necessito de magnanimidades”. Salvadora, que era mulher de valor, seguia professando ideais ácratas e naqueles anos tinha financiado a fracassada fuga do anarquista Simón Radowitzky da prisão em Ushuaia e também tentara recuperar o cadáver de Severino Di Giovanni no dia seguinte ao fuzilamento, sem consegui-lo. “E quanto à minha prisão: é uma prova espiritual a mais e não é a mais dura do meu destino que é uma longa corrente”. Com efeito, o primeiro filho de Salvadora perdeu a vida diante dela e seu esposo morreu num acidente automobilístico, transformando-a no ato em diretora da Crítica. “Sou nesse momento um símbolo da minha pátria. Sou na minha carne a própria Argentina e os povos não pedem magnanimidades”. Entretanto, quando chegou o momento em que as massas irromperam na cena política, ela se opôs ao regime peronista e seu diário foi expropriado. “Mas eu bem sei que ante os verdadeiros homens e ante todos os seres dignos de meu 179 20 2011 país e do mundo, o degradado e envelhecido é o senhor, e que o senhor, por mais cegado que esteja, deve saber isso tão bem quanto eu. General Uriburu, guarde suas magnanimidades junto às suas iras, e sinta como, desde esse canto de miséria, viro-lhe a cara com todo meu desprezo”. Muito mais adiante, em 1972, no momento de morrer, suas últimas palavras teriam sido: “Oh Deus, Oh Deus, Oh Deus” ou talvez, “Ódio, Ódio, Ódio”.6 A vida de Salvadora Medina Onrubia foi contada três vezes, primeiro na forma de biografia romanceada, Salvadora, de Josefina Delgado; depois na obra teatral Titulares: la voz del pueblo [Manchete: a voz do povo], dirigida por José Maria Paolantonio; e, por fim, no filme El mural [O mural], rodado no ano do Bicentenário7 por Héctor Olivera, um cineasta que anos antes tinha-se proposto realizar um filme sobre Severino Di Giovanni, projeto que foi abandonado. O neto de Salvadora, Raúl Damonte Taborda, mais conhecido pelo pseudônimo de “Copi” publicou um burlesco e disparatado romance, La vida es tango [A vida é tango], na qual descreve a atmosfera de excitação existente no jornal Crítica. Em contrapartida, o filme de Héctor Olivera condensa um episódio passional e desastroso da vida de Salvador e de Natalio Botana acontecido quando David Alfaro Siqueiros, pintor mexicano comunista, um “muralista”, foi contratado para realizar um enorme afresco circular, onírico e sensual, para a residência do casal, na quinta “Los Granados”, situada em Don Torcuato. Esse mural, por sua vez, sofreu com anos de abandono, destruição e disputa jurídica, sendo por fim confiscado pelo governo de Cristina Fernández de Kirchner, sendo essa via crucis contada no documentário Los próximos pasados [Os próximos passados], de Lorena Muñoz. 180 verve O coração empurpurado, epistolário e história A mansão de “Los Granados” foi vendida por Salvadora Medina Onrubia a Álvaro Alsogaray, um militar antiperonista que se dedicou à política chegando, uma vez, ao cargo de ministro, ainda que seja mais lembrado nesse país como decidido e tenaz defensor do pensamento econômico liberal. Nesse lugar passou a infância, María Julia Alsogaray, que quando adulta seria funcionária do governo peronista de Carlos Menem. Uma prima sua, Marianne Erize Tisseau, ganhadora de vários concursos de beleza e seguidora do padre Mugica, o mais conhecido dos “padres villeros”,8 foi capturada, torturada e executada na província de San Juan, em 1976. Outro primo, Juan Carlos Alsogaray, filho de um ex-Comandante-em-Chefe do Exército, morreu em combate na província de Tucumán, também em 1976. Nesse mesmo espantoso ano, Adriana Barcia, esposa de Juan Carlos Alsogaray, foi torturada com a maior brutalidade e, em seguida, assassinada. Sua mãe morreu uma semana após reconhecer seus restos mortais. XIV O general Tanco e alguns outros comparsas no complô conseguiram chegar à Embaixada do Haiti, na verdade um chalé suburbano na rua Mosteiro de Vicente López, mas foram arrancados de lá por um grupo de militares sob comando do general Domingo Constantino Quaranta, chefe do Serviço de Informações do Estado (SIDE), um homem perigoso. Uns anos depois, foi acusado pelo escritor Rodolfo Walsh de ter ordenado o assassinato do advogado Marcos Satanowsky, que se tornou um caso célebre por algum tempo, e o motivou a publicar o livro O caso Satanowsky. Mas em 1956, enquanto Jean Brierre, o embaixador 181 20 2011 do Haiti, informava à Chancelaria da nova condição de exilados de Tanco e seus homens, Quaranta tomava de assalto a sede diplomática. Então, se interpôs Delia Vieux, esposa do embaixador, e o advertiu que ele pisava terra haitiana. Insolente e gorila, o general Quaranta lhe respondeu: “Cala a boca, negra de merda!” De fato, o embaixador e sua esposa eram pessoas “de cor” e, com efeito, a primeira constituição que teve o Haiti estabeleceu: “todos os cidadãos haitianos, não importa a cor da pele, serão denominados negros”. Diante do abuso, Delia Vieux pediu ajuda aos gritos pela rua, atraindo a indesejável curiosidade dos vizinhos, e logo avisou seu marido do que acontecia. O embaixador não se amedrontou pela diferença de tamanho entre seu pequeno país e a nação anfitriã, e exigiu a entrega dos sequestrados. Ele mesmo tirou sete deles, mais o motorista, de um quartel em seu carro diplomático. Pouco depois, o governo de Aramburu expulsou o casal do país: duas “persona non grata”. E Jean Brierre, homem valente, o tirano François Duvallier, o “Papa Doc”, pôs na prisão. Depois, partiu para o exílio, no Senegal, onde transcorreram vinte e cinco anos de sua vida. De outro lado, o general Quaranta, que violou a embaixada sem nenhuma diplomacia, foi recompensado com um cargo consular. Anos antes de Quaranta assumir o posto, um policial chamado Guillermo Solveyra Casares tinha dado forma ao primeiro organismo oficial de inteligência, chamado “Controle de Estado”, e, previamente, havia sido encarregado de perseguir Segundo David Peralta, o “Mate Fervido”, bandoleiro popular do norte argentino que conheceu “as ideias” de um contrabandista anarquista, Eugenio Zamacola. Por dois anos, Solveyra Caseres acossou Mate 182 verve O coração empurpurado, epistolário e história Fervido na selva do Chaco, perseguindo-o até mesmo no Paraguai, mas nunca o capturou. Esse homem, que depois foi presidente do Clube Atlético Tigre e chefe da Divisão de Informações Políticas da Presidência da Nação durante o governo Perón, foi quem introduziu a “picana elétrica”9 portátil no país. XV Uma avalanche de injúrias recaiu sobre o nome de Juan José Valle após seu fuzilamento, atualizando as reprimendas sofridas, em seu momento, pela figura pública de Severino Di Giovanni. O governo do general Aramburu insistiu em apresentar a sublevação como uma espécie de agitação de bandidos: “Foi executado o cabeça do movimento terrorista sufocado”. Não lhes foi difícil preparar o argumento. Só havia passado noves meses desde a destituição de Perón e a “Revolução Libertadora” ainda mantinha seu crédito. Como havia acontecido em 1909, com a dezena de mortos da Plaza Lorea, por ordem do coronel Falcón, e com os mil e duzentos mortos durante a “Semana Trágica” de Buenos Aires, em 1919, e com os mil e quinhentos mortos, em 1921 e 1922, na Patagônia austral, também as execuções de Valle e seus homens pareceram ter sido absorvidas pelo “sistema político”. Mas se com sua morte desaparecia um foco de conspiradores e uma linha política interna ao tabuleiro peronista, o mito “libertário” da Revolução Libertadora, ficou alquebrado. Além disso, é inevitável que toda morte deixe um fantasma no mundo. Pouco a pouco a lembrança de Juan José Valle foi passando de boca em boca: seu triunfo será moral. Na verdade, nunca lhe faltaram homenagens, do simples e amador 183 20 2011 panfleto comemorativo, produzido em mimeógrafo, até a tardia reivindicação oficial, passando pelo batismo de muitas unidades básicas peronistas. Não faz muito tempo estrearam nos cinemas dois filmes referentes ao levante de junho de 1956: Los fusilados que hablan [Os fuzilados que falam], de Eduardo Anguita, e Los Fusiladitos [Os fuziladinhos], de Cecilia Mijiker. Muitos anos antes, em 1972, num contexto de novos fuzilamentos numa base militar — em que foram assassinados dezesseis guerrilheiros, no chamado “Massacre de Trelew” —, o cineasta Jorge Cedrón filmou Operación Masacre [Operação Massacre], baseado na investigação dos acontecimentos realizada por Rodolfo Walsh e lançada no ano seguinte, 1973, o ano fênix do peronismo. Julio Troxler, um dos protagonistas do filme, interpretava a si mesmo, já que era um dos poucos sobreviventes do fuzilamento. Mas enquanto o coronel Desiderio Fernández Suárez, responsável pelas execuções ilegais no lixão de Josá León Suárez, morria nonagenário, sua antítese, o comissário Julio Troxler, o policial que chegou a ser chefe da repartição na época da breve primavera de Héctor J. Cámpora no poder, foi assassinado pela Aliança Anticomunista Argentina, em 1974, durante o governo de María Estela Martínez de Perón, a Isabelita Perón. Uma rua de Buenos Aires relembra, hoje, seu nome; mas não o de Jorge Cedrón, que oito anos depois de filmar seu documentário apareceu morto com quatro punhaladas no banheiro de uma base policial francesa. Não faltaram livros e brochuras de denúncia do que se passou em 1956, mas nenhum, nem no tom nem na compreensão panorâmica, é melhor que o primeiro de todos, Mártires y verdugos [Mártires e carrascos], de 1964, do historiador peronista Salvador Ferla. A dedicatória do 184 verve O coração empurpurado, epistolário e história livro diz: “A Susana Valle, para que saiba por que morreu seu pai e o vínculo entre seu drama pessoal e o drama argentino”. Há uma segunda dedicatória: “A Rodolfo Walsch (sic)”. XVI Nas suas últimas horas, o general Valle escreveu uma carta a sua filha: “Querida Susanita, não tenha vergonha do teu pai, ele morre por uma causa justa: algum dia você terá orgulho disso. Não morro como um qualquer, morro como um homem honrado”. Isso o preocupava, mas cuidar de seu bom nome se ocuparia, cuidadosa e obstinadamente, sua filha única, que não esteve só nesse empenho. No primeiro aniversário dos fuzilamentos, em junho de 1957, milhares de pessoas se reuniram no cruzamento das avenidas Córdoba e 9 de Julho, apenas para serem dispersadas pela política que impediu o ato. “Desde o além velarei por você, e nos momentos difíceis de tua vida, que desejo que sejam poucos, recorra a mim, que estarei como sempre para te defender”. O segundo aniversário também terminou em briga, dissolução do encontro por efeito de gases lacrimogêneos e prisão em massa dos participantes — e isso porque já governava Arturo Frondizi, um presidente eleito com aberto apoio peronista. Não obstante, em Rosário, uma multidão de milhares de pessoas conseguiu reunir-se em frente ao Monumento à Bandeira. “Nossa honra não foi manchada jamais e com orgulho você pode sustentar nosso nome. Minha linda pequena, trabalhe com fé na vida e nas tuas forças”. Nesse mesmo ano, 1958, um ato clandestino realizado numa igreja de Lanús, centenas de pessoas escutaram a voz de Juan Domingo Perón, registrada no exílio dominicano, nomeando, um a um, os 185 20 2011 fuzilados. Um rosário que era oração. “Adeus querida, beijos e muitos carinhos de teu paizinho que sempre te adorou”. Depois que várias tentativas de homenagem foram reprimidas, as reuniões seguiram acontecendo diante da tumba de Valle, no Cemitério de Olivos. Susana Valle, que uma revista à época caracterizou como “agitada, belicosa e temerária”, se dispôs a alcançar o que lhe pedira seu pai. Tinha tempo: era muito jovem ainda. Mas a memória do que sucedera era ainda muito próxima, de modo que se dedicou a fustigar o carrasco. Em junho de 1963, poucos dias de um novo aniversário dos fuzilamentos e no meio da campanha eleitoral para o posto máximo de Presidente, a filha do general fez com que se espalhasse cartazes por toda a Capital. Era uma carta pública dirigida ao tenente-general (RE) Pedro Eugenio Aramburu: “Como uma amostra sarcástica e trágica da bancarrota moral do país e da falta de vergonha generalizada, o senhor apresenta sua candidatura à Presidência da Nação, pedindo o voto dos argentinos. O faz com sua consciência nas trevas e com suas mãos ainda empapadas do sangue de meu pai, o general de divisão Juan José Valle, de muitos outros camaradas seus, dos assassinados pelas costas nos lixões de Juan José Suárez. Sobre a sua consciência de Caim pesa esse sangue de patriotas e essa humilhação à República”. Então, Susana havia se convertido numa referência ilustre para a assim chamada “Resistência Peronista”, uma proeza dispersa ainda que tenaz que demorou muito a ser contabilizada. No mais, já a haviam jogado na prisão sete vezes e o fariam muitas vezes mais: “Por ser a filha de papai”. Passados dez anos do fuzilamento, a revista de grande circulação Gente publicou uma fotografia sua junto a uma 186 verve O coração empurpurado, epistolário e história frase claramente sem respeito algum por sua dor e igualmente insensível com respeito às incipientes e surpreendentes mudanças políticas da nova geração: “Susana Valle é um produto típico da zona norte, da rua Santa Fé, ou que talvez se chamasse uma garota ‘de bem’. Nunca deixa de surpreender que existam peronistas neste nível social”. Com efeito, a mãe de Susana Valle era de uma família rica e influente, o que não opôs nenhum obstáculo para que ela se tornasse plenamente consciente de seu papel histórico. Tinha se convertido numa das deusas da justa retribuição, a que os antigos gregos chamavam “Erínias”. Pôde localizar, tempos depois, o homem que encabeçou o pelotão de fuzilamento, um tal coronel D’Elía. O procurou no Gran Rex, onde o homem jogava bilhar, e lhe acertou em cheio com a bolsa. Ato contínuo, dois amigos dela moeram o homem aos murros. Mas o responsável final de sua desgraça era outro, o general Aramburu: “O senhor não pode voltar, por poderosas que sejam as forças antipopulares e antinacionais que o apóiam. Porque ainda não secaram o sangue de suas vítimas nem as lágrimas de seus familiares. Porque em cada cemitério há uma tumba de um argentino aberta por suas próprias mãos. Seu caminho é tenebroso de sangue, de humilhação e de terror”. Naquela vez, o ex-presidente Aramburu não ganhou a eleição, ficou em terceiro; mas essas palavras do cartaz assinado por Susana Valle não passariam em branco. Para o aniversário de 1966, nos dias que antecederam o golpe de Estado do general Juan Carlos Onganía, impediram-lhe pela enésima vez de homenagear seu pai e, além disso, levaram-na à delegacia: “Mais ou menos duas vezes por ano vou presa”. Naquela vez, esteve ao seu lado o boxeador Gregorio “Goyo” Peralta, ex-campeão argenti187 20 2011 no dos pesos pesados, que declarou aos jornalistas: “Estou aqui porque sou peronista e amigo de Susana Valle”. Era peronista porque, quando criança, quase adolescente, recebeu seu primeiro par de sapatos por graça da Fundação Eva Perón, e por isso havia dedicado ao “General” uma de suas tantas lutas vencidas. Repetidas vezes a polícia se encarregaria de desbaratar as homenagens ao general Valle no lugar antes ocupado pela Penitenciária Nacional, mas ela nunca desistiu. Animava-a uma imensa veneração: “Para mim, papai é o ápice de tudo. É perfeito.” Ainda que tenha havido uma vez na qual se cansou do incômodo policial levando, então, no aniversário de 1968, uma coroa de flores à residência de Aramburu, localizada a metros da Avenida Santa Fe, com esta inscrição: “A repressão não poderá evitar tua homenagem. Tua filha”. Um ano mais tarde, Pedro Eugenio Aramburu foi sequestrado e assassinado por um comando do grupo armado Montoneros que assumiu o nome “General Valle”. De imediato, a política buscou e encarcerou Susana, “por ostentar o sobrenome”. XVII O general Valle não foi apenas fuzilado; foi também degradado. Seus galardões de general foram-lhe arrancados aos trancos. Esses galardões foram recuperados por sua filha Susana, e dez anos depois, a esposa de Valle, Cristina Prieto, as presenteou ao major Bernardo Alberte, assessor presidencial de Perón e posteriormente seu secretário pessoal. A própria Susana Valle os levou à sua casa. Alberte tinha se comprometido com a sublevação de Valle, mas o chefe do Serviço de Inteligência do Exército (SIE), o coronel Carlos de Moori Koening, encarcerou-o numa 188 verve O coração empurpurado, epistolário e história prisão flutuante para, logo depois, enviá-lo à prisão militar de Magdalena e, por fim, à prisão da Terra do Fogo, fechada definitivamente por Perón, mas reaberta especialmente para a ocasião. Seguiu sendo peronista toda a vida. Bernardo Alberte morreu em 24 de março de 1976, dia do golpe de Estado do general Jorge Rafael Videla. Na véspera de sua morte escreveu uma carta a Videla; uma advertência sobre as consequências destrutivas para o exército argentino que derivariam do já iminente golpe de Estado. A carta chegou ao destino. No dia 24 de março a casa de Alberte foi assaltada e saqueada por um comando militar. O major Alberte foi jogado pela janela, de uma altura de seis andares, até estatelar contra o pátio do edifício, onde vivia um juiz, a quem não deixaram abrir a boca. Três meses mais tarde, apareceu em Córdoba o cadáver de Alberto Bello, genro de Alberte, que estava há treze dias desaparecido. Não foi esquecido. Bernardo é o nome do filho do major Alberte e Bernardo também é o nome de um de seus netos. XVIII Muito antes de ser executado, Severino Di Giovanni tinha se transformado numa espécie de lenda, o tipo de fantasia que corre sobre os seres animados por uma audácia sobre-humana. Uma vez morto, sobreviveu o mito — de início negativo — do homem que sempre está em pé de guerra e que morre em sua lei. No seu último dia de vida, Severino Di Giovanni disse essas palavras: “Amo muito a vida, mas não deploro meu destino”. Nas crônicas do fuzilamento publicadas nos jornais, incluindo uma descrição seca e impressionante assinada por Roberto Arlt, enfatizou-se a 189 20 2011 qualidade de fortaleza imperturbável do réu. Poucos anos depois, estreou nos cinemas um filme baseado na sua vida, dirigido por Luis José Moglia Barth, com roteiro do radical yrigoyenista Homero Manzi e do escritor e jornalista do diário Crítica, Ulyses Petit de Murat, e com cenografia preparada pelo pintor Raúl Soldi. O papel principal esteve com Sebastián Chiola. Apesar da afortunada constelação de talentos, o filme era ruim e só contribuiu para fixar na opinião pública a imagem de criminoso irresponsável, figura da crônica policial que seria duradoura e até fomentada por parte dos anarquistas revolucionários que rotularam Di Giovanni como “anarco-bandido”. A virada na opinião pública aconteceu em 1970, quando Osvaldo Bayer publicou El idealista de la violencia [O idealista da violência]. Pela primeira vez, Severino Di Giovanni era tirado da galeria dos monstros, gângsteres e valentões, e restituído ao mundo das ideias revolucionárias num contexto de perseguições e governo ditatorial. A metamorfose de bandoleiro arrebatado em apaixonado homem de ideais foi favorecida pela circunstância política: desde 1960 havia guerrilhas na Argentina e em quase todos os países latino-americanos. Além disso, uma aura romântica envolvia sua história. Dali em diante, Severino e América seriam considerados um caso exemplar de amor livre e não apenas de loucura amorosa. Mas o mesmo contexto que induzia a leitura do livro também o colocava em risco: em 1973, sua venda foi proibida nas livrarias. Justamente, nesse mesmo ano, havia estreado no circuito de cinemas portenho o filme italiano Amor e anarquia, baseado em um dos tantos atentados, todos fracassados, realizados contra Benito Mussolini, a besta maldita de todos os anarquistas italianos. 190 verve O coração empurpurado, epistolário e história A história de Severino e América era, inevitavelmente, “cinematográfica”, mas nunca pôde ser filmada. A primeira tentativa foi em 1972, quando o cineasta Emilio Becher se uniu a Osvaldo Bayer e ao escritor, ator e modelo Sergio Mulet no preparo do roteiro, mas a censura ameaçou impedir o lançamento e o projeto foi abandonado. Logo depois, Leonardo Favio, um diretor de cinema já consagrado, adquiriu por três vezes o roteiro cinematográfico preparado por Bayer e por três vezes desistiu de filmá-lo. Héctor Olivera também adquiriu os direitos para realizar o filme, mas não pôde, apesar de já ter filmado, com roteiro de Bayer e dele mesmo, La Patagonia Rebelde, sobre as greves orientadas por anarquistas, em 1921 e 1922, no distante sul e que culminaram com centenas de fuzilamentos; filme que foi proibido pouco depois da estréia e no qual aparece, como um dos tantos figurantes, um ainda muito jovem Néstor Kirchner — mais adiante governador da província de Santa Cruz e, depois, presidente do país — cantando “Filhos do Povo”, o mais conhecido dos hinos anarquistas. O filme voltaria a ser lançado dez anos depois. A censura foi inimiga de todos esses projetos cinematográficos, mas não deixa de ser verdade que a combinação de “amor louco” e violência política fosse um ferro demasiado incandescente para todos. Houve mais uma tentativa de levar a história de Severino e América ao cinema a cargo do premiado diretor Luis Puenzo, baseado no romance escrito pela italiana Maria Luiza Magnanoli, Um café muito doce, de 1997. Mas, ainda que se tenha avançado com o roteiro e com a seleção de atores, o projeto ficou prejudicado por oposição da própria América Scarfó, descontente com o roteiro. Ela circulou uma “carta aberta” dirigida a Puenzo. Dizia-lhe: “Essa não 191 20 2011 é nossa história: a história de Severino Di Giovanni e a minha própria. Você inventou personagens híbridos que não tem nada de anarquistas”. E também dizia: “Você compensa a falta de conceito com sexo e tiros. É como se num buquê de bonitas flores, você tivesse jogado.... barro!”. Nessa época, América Scarfó estava com oitenta e tantos anos e já há quase setenta que ninguém sabia dela. XIX As cartas que o general Valle deixou para sua mãe, sua esposa, sua filha e sua irmã, mais a carta dirigida ao general Aramburu, foram publicadas em maio de 1957 no periódico Resistencia Popular, mas somente consternaram os partidários de Perón. Eram anos difíceis para seu movimento político. Tudo indica que existiu uma carta anterior de Valle a Perón, que foi entregue ao coronel Federico Gentiluomo, um peronista que tinha pedido baixa do exército por discordar do golpe de Estado de setembro de 1955. Dez anos depois, em 1965, sua esposa foi jogada pela janela num suposto desfecho violento de um assalto à sua casa feito por delinquentes comuns. Mas, na época, rumores apontavam para o Serviço de Informações do Exército. Acredita-se que buscavam correspondência. Então, os cadáveres ainda apareciam muito de vez em quando, e um por vez; num futuro próximo, brotariam aos montes. No mesmo mês em que as cartas de Valle foram publicadas, o escritor Rodolfo Walsh trouxe a conhecimento público, na revista Mayoría, o drama dos fuzilamentos clandestinos do ano anterior. Era uma série de notas intituladas “Operação massacre”. Justamente ele, cujo ingresso no Colégio Militar tinha sido recusado por “problemas de 192 verve O coração empurpurado, epistolário e história visão”, desmascarava então as três forças armadas. Como consequência, multiplicaram-se as denúncias na imprensa peronista e nacionalista: Bandera Popular, Palabra Argentina, Revolución Nacional, El Soberano. No prólogo de 1957 à edição de suas notas jornalísticas na forma de livro, Rodolfo Walsh escreveu: “Investiguei e relatei esses acontecimentos terríveis para fazê-los conhecer na sua forma mais ampla, para que inspirem espanto, para que não possam jamais voltar a acontecer”. Mas não foi assim. No ano seguinte, o Congresso Nacional votaria uma anistia para esses crimes. Os tribunais militares já tinham arquivado o assunto. Rodolfo Walsh morreria prematuramente, em 1978, cercado por uma matilha de fuzileiros navais sem ter podido abrir fogo com seu revólver. Sua filha, María Victoria, havia tido a mesma sorte cinco meses antes, com armas em punho. Restam, em homenagem a Walsh, uma pracinha no bairro de San Telmo, um monolito nos lixões de José León Suárez e uma carta enviada à Junta dos Comandantes-em-Chefe um dia antes de sua morte, que seria o primeiro aniversário do golpe de Estado do general Videla. Intitulava-se “Carta aberta de um Escritor à Junta Militar” e Cícero, na Antiguidade, podia tê-la escrito. Nela se mencionava o nome de Jorge Héctor Lizaso. Vinte anos antes, no Operação massacre, Walsh contara a história de Carlos Lizaso, um dos assassinados em José León Suárez, então com apenas vinte um anos. Agora, um dia antes dele mesmo morrer, Rodolfo Walsh anunciava, a quem quisesse saber, a morte de outro irmão, baleado em outubro de 1976 por um “grupo de tarefas” militar no Café de los Angelitos. Ali mesmo morreu María del Carmen Núñez, esposa de Jorge Lizaso. Esse café era um lugar famoso e reputado, a aparência ideal para encontros que pretendem 193 20 2011 passar desapercebidos, e de fato, no dia anterior à sublevação de Valle e Tanco, os conspiradores tinham se reunido ali para concluir os detalhes. Houve um terceiro irmão Lizaso, Miguel Francisco, que foi desaparecido em setembro de 1976. E também desapareceram Irma Leticia Lizaso de Delgado, Roque Miguel Núñez — irmão de María del Carmen —, Irma Susana Lizado — filha de Irma Leticia — e Miguel Ángle Garaicochea, marido de Irma Susana. De volta no tempo, em 1956, um dos homens que foram levados ao lixão de Suárez junto com o jovem “Carlitos” Lizaso foi Juan Carlos Livraga, que sobreviveu, preferindo exilar-se nos Estados Unidos, não sem antes avisar Rodolfo Walsh sobre os fuzilamentos clandestinos, o mesmo homem que cinquenta anos depois seria recebido na Casa Rosada pelo presidente Néstor Kirchner a título de “fuzilado que vive” finalmente reconhecido. XX Em uma entrevista, concedida na metade da década de 1960, por Susana Valle, ela disse: “eu não significo nada no movimento peronista. Papai é tudo”. Enganava-se: ela também era um símbolo, tanto para os peronistas, quanto para os antiperonistas. Nos anos seguintes, sua casa se converteu em sede de reuniões políticas; e lá mesmo se apresentou a candidatura do general Perón ao Prêmio Nobel da Paz. Ela foi, ainda, “correio” do líder máximo, tanto quando esteve exilado em Caracas, como quando em Madri, e mais adiante colaborou com o padre Carlos Mugica, logo assassinado, na favela de Retiro. Sempre esteve integrada às tendências do peronismo revolucionário, incluindo o Partido Peronista Autêntico, fachada legal 194 verve O coração empurpurado, epistolário e história dos Montoneros. Mas então, chegou a noite, arrepiante, endemoniada, interminável, a noite da caça. Governava o país o tenente-general Jorge Rafael Videla, que chegara com uma grande lista de hereges a serem eliminados. Já com quarenta anos e grávida de gêmeos, Susana Valle fugiu para a província de Córdoba, onde foi capturada, em 1978, por homens do general Luciano Benjamín Menéndez, apelidado “a hiena”, duas vezes golpista, tal como havia sido seu pai, quase homônimo seu, contra Perón. Na carta escrita na sua cela, Juan José Valle dizia a sua filha: “Algum dia conte a teus filhos do avô que não viram e que soube defender uma causa nobre”. Mas não foi possível. Susana foi encarcerada numa prisão clandestina, algemada e torturada em avançado estado de gravidez sobre a mesa do necrotério de um hospital, o que lhe provocou o parto. O primeiro bebê morreu ao nascer, e foi colocado no peito de Susana. O segundo nasceu vivo, mas deixaram-no em um canto até que morresse de frio. O companheiro de Susana já havia sido assassinado pela ditadura. No último aniversário de fuzilamento de seu pai que Susana Valle pôde participar, estiveram presentes o prefeito de Buenos Aires, a ministra da Defesa e o chefe do Estado Maior do Exército. O lugar era a ex-Penitenciária, o ano, 2006, e o presidente, Néstor Kirchner, que havia reabilitado e feito justiça ao nome de seu pai. Post-mortem ele recebeu a patente de tenente-general. E havia sido devolvido à família o sabre de general que lhe tinham tomado naqueles dias de junho de 1956, além de se batizar com seu nome a Escola de Engenheiros do Exército, pois essa era sua especialidade de origem. Susana Valle, de sessenta e oito anos de idade, morreu no dia 3 de setembro de 2006. Junto dela estava sua filha Soledad, nascida um 195 20 2011 ano depois de que foi supliciada, e vários netos. América Scarfó morrera uma semana antes, no dia 26 de agosto de 2006, com noventa e três anos. Suas cinzas, por sua própria vontade, foram levadas à sede da Federação Libertária Argentina. Susana Valle está enterrada no Cemitério de Olivos, ao lado da tumba de seu pai e dos gêmeos que não puderam viver. XXI América Scarfó, chamada pelos íntimos de “Fina”, foi a primeira anarquista a entrar no palácio presidencial. Aconteceu em 1999, quando ela era uma anciã, quase uma nonagenária. Deve ter-lhe doído passar essas portas: dali partiu a sentença do general Uriburu que selou o destino de seu companheiro e seu irmão: “Cumpra-se”. Dali, setenta e oito anos antes, tinha saído sua mãe, arrasada, desolada, quase demolida, depois de implorar inutilmente misericórdia diante dos guardas que protegiam a entrada da Casa Rosada. E agora ela, que nunca renegou suas ideias libertárias, tinha sido convidada ao palácio. Chegou junto com Osvaldo Bayer, que já havia escrito a história de Severino e América. O presidente em exercício era Carlos Saúl Menem e os anarquistas eram, então, espectro de outra época, quando muito, um enigma. Dos velhos tempos, restavam ela e mais alguns. Não é que não tivesse havido tentativas anarquistas anteriores de entrar na Casa Rosada, ou apenas, de chegar ao homem a cargo do poder. Em maio de 1886, o anarquista Ignacio Monjes conseguiu jogar uma pedra na cabeça do presidente Julio Argentino Roca, na Praça de Maio; em agosto de 1905, o anarquista individualista Salvador 196 verve O coração empurpurado, epistolário e história Planas y Virilla, que era vegetariano, do grupo “frutívora”, atirou contra o presidente Manuel Quintana, mas as balas estavam com defeito; em fevereiro de 1908, o anarquista Francisco Solano Rojas lançou uma bomba de ácido no caminho do presidente José Figueroa Alcorta, que não explodiu; em julho de 1916, durante as celebrações nacionais, o anarquista Juan Mandrini mirou e abriu fogo contra o balcão da Casa Rosada de onde o presidente Victorino de la Plaza saudava a multidão, falhando por pouco; em janeiro de 1919, a polícia descobriu um túnel subterrâneo nas imediações do palácio presidencial, mas as cinco bombas de dinamite nele enterradas não chegaram a explodir; e, por fim, na noite de Natal de 1929, o anarquista Gualterio Marinelli disparou seis vezes contra o automóvel oficial do presidente Hipólito Yrigoyen, com tão pouca sorte que outros seis tiros que lhe foram devolvidos pela guarda presidencial acabaram com seus dias e suas noites. No entanto, esse 28 de Julho de 1999, depois de uma espera eterna, América Scarfó recuperou as cartas que Severino Di Giovanni lhe havia escrito eternidades atrás. A entrega foi feita no Salão dos Escudos, na presença de Carlos Corach, ministro do Interior, ambos rodeados por um enxame de jornalistas e fotógrafos, que tanto a tinham atormentado aquele dia terrível em que a polícia a levou à Penitenciária Nacional para que se despedisse de Severino Di Giovanni. Agora, acrescentavam-se as câmeras de televisão. Para recuperar essas cartas, arquivadas no Museu da Polícia, foi-lhe necessário fazer um pedido rocambolesco à Polícia Federal que quase não se frustra não fosse a decisão política do ministro. Aquela correspondência foi-lhe requisitada em 1931 pelo inspetor geral Fernández Bazán, um especialista na caça de anarquistas, que foi depois 197 20 2011 chefe da “Ordem Social”, ou melhor, da polícia política, e mais adiante subchefe da polícia durante o peronismo e, até mesmo, cônsul em Estocolmo. Na sua época, fez com que se assassinassem três anarquistas “expropriadores”, cujos cadáveres nunca foram encontrados. Mas setenta anos depois, o próprio chefe da polícia, Pablo Baltasar García, se viu forçado a marcar presença. Ao ingressar na Casa de Governo, América Scarfó declarou: “Vim aqui para buscar algo meu”. E a outro jornalista, por telefone, disse: “ainda que seja um pecado da velhice, quero essas cartas”. Eram quarenta e oito cartas e alguns poemas que lhe foram entregues dentro de uma caixa azul. Toda sua memória cabia nesses objetos leves, mas carregados do maná do amor. Talvez tenha se lembrado, então, que em uma das cartas Severino lhe escreveu: “Devemos nos contentar com as flores secas, murchas, as únicas que podemo-nos permitir no limite de algumas folhas escritas velozmente e confiadas ao espaço restrito que nos deixa o envelope muito pequeno para conter o jardim que tu mereces”. No ato da devolução das cartas, América Scarfó ficou em silêncio. Disse, apenas: “tenho uma linda lembrança dessa história de amor”. Aos dezessete anos, ela mesma publicou na revista Anarchia, estas palavras: “A felicidade não é uma utopia. Mesmo que seja só por um instante podemos saborear algo dessa quimera”. Sua convivência com Di Giovanni, na clandestinidade, havia durado dez meses inesquecíveis de sua distante juventude. Tradução do espanhol de Thiago Rodrigues 198 verve O coração empurpurado, epistolário e história Notas Trotyl, Trinitotolueno ou TNT é o composto químico base da dinamite (N. T.). 1 2 Referência a quem era partidário da União Cívica Radical (UCR) (N.T.). Magnicídio é o assassinato de governantes ou autoridades públicas de relevo, como reis, presidentes, primeiro ministros e líderes religiosos (N.T.). Cf. artigo de Christian Ferrer intitulado “O magnicida”, em Verve 18. (N. E.). 3 Literalmente, “antorchista” é “tocheiro”, “aquele que leva a tocha”; trata-se de uma das vertentes do anarquismo argentino nos anos 1920 e 1930 adepto da expropriação revolucionária. Para saber mais sobre o anarquismo antorchista Cf. Pablo M. Pérez, “Uma história do anarquismo: o surgimento da Federação Libertária Argentina” in Verve n. 09, 2006, pp. 189-215. (N.T) 4 No original, “sánchez sorete”: no apelido pejorativo dado ao ministro do Interior, “sorete” é uma expressão da região do Rio da Prata que significa “pessoa desprezível”, “ignóbil”. O jogo de palavras entre a expressão e o sobrenome do ministro, e que dá o humor ao apelido, é de difícil transposição ao português (N.T.). 5 Em espanhol há um jogo de linguagem direto entre a pronúncia de “oh Diós” e “odio” (N.T.). 6 Trata-se do ano de 2010, comemorado pelos argentinos, assim como por outros latino-americanos, como o ano no qual se iniciou o processo de independência da Espanha (N. T.). 7 Os “curas villeros” são padres católicos que atuam em villas (favelas, bairros pobres) na Argentina, afinados à Teologia da Libertação e às interpretações sociais do Evangelho. Carlos Mugica foi um dos mais destacados dos “curas villeros”, sendo assassinado pelo grupo de extermínio de direita Aliança Anticomunista Argentina, a “Triple A”, em 1975 (N.T.). 8 “Picana elétrica” é um bastão ou pequena pistola que dá choques elétricos usado originalmente para conduzir gado, mas que na Argentina, e outros países sul-americanos, passou a ser usado como instrumento de tortura para desferir poderosas descargas elétricas, principalmente na cabeça e nos genitais (N.T.). 9 199 20 2011 Resumo Complôs, golpes de Estado, conspirações, vinganças, ideais e uma história de amor: uma mirada pela história política argentina desde os anos 1920 por meio de vidas que foram vinculadas à Penitenciária Nacional de Buenos Aires. Os amantes anarquistas Severino Di Giovanni e América Scarfó, o general golpista Valle e sua filha Susana e outros personagens reais de uma sangrenta e intensa história. palavras-chave: anarquismo argentino, Severino Di Giovanni, América Scarfó Abstract Plots, coups d’État, conspiracies, revenges, ideals and a love story: an overview of Argentinean political history since the 1920’s through the lives that were attached to Buenos Aires’ National Penitentiary. The anarchist lovers Severino Di Giovanni and América Scarfó, the conspirator general Valle and his daughter Susana and other real characters of a bloody and intense history. keywords: Argentinean anarchism, Severino Di Giovanni, América Scarfó Recebido para publicação em 17 de novembro de 2010. Confirmado em 05 de maio de 2011. 200 8 verve Do prazer da natureza nas sociedades disciplinares Resenhas do prazer da natureza nas sociedades disciplinares BEATRIZ SCIGLIANO CARNEIRO Élisée Reclus. Do sentimento da natureza nas sociedades modernas. Prefácio de Ronald Creagh. São Paulo, Expressão & Arte Editora, 2010, 95 pp. Anarquista e geógrafo francês; autor de dezenas de livros e artigos políticos e científicos; exilado na Suíça por sua participação na Comuna de Paris de 1871; parceiro de lutas de Bakunin, Kropotkin, Louise Michel e outros anarquistas; cientista e pesquisador homenageado em diversas partes do mundo, após sua morte, e apesar de tantos atributos, Élisée Reclus (1830-1905) foi esquecido inclusive em seu país, a ponto de nem ser mais citado em compêndios e verbetes de Geografia. Entre os anarquistas, porém, continuou a ser uma referência como um militante aguerrido e um homem de ciência. Apenas nos anos 1970 seus estudos científicos foram redescobertos pelas universidades na França e têm inspirado novas abordagens na geografia. No Brasil, Reclus Beatriz Scigliano Carneiro é pesquisadora no Nu-Sol, doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP. Publicou o livro Relâmpagos com claror: Lygia Clark, Hélio Oiticica, vida como arte. São Paulo, Imaginário/FAPESP, 2004. verve, 20: 203-208, 2011 203 20 2011 como geógrafo tem voltado à cena acadêmica timidamente, em meados nos anos 1980 e, agora, com mais contundência e sem deixar de manter a conexão com o anarquismo. Artigos importantes de Reclus foram recentemente traduzidos e lançados, entre os quais o opúsculo Do sentimento da natureza nas sociedades modernas. O texto foi inicialmente publicado em maio de 1866, como um artigo na Revue des Deux Mondes — periódico francês criado em 1829, editado até hoje — e posteriormente incorporado nos volumes da obra A Terra, trabalho destinado a um público fora do circuito dos especialistas. Élisée foi colaborador da citada revista entre 1859 e 1868, período em que retornara à França depois de uma longa viagem ao continente americano, realizada em decorrência de ter se exilado por participar de movimentos de oposição a Napoleão III, em 1851. Nesse período, Reclus consolidou sua posição de um geógrafo reconhecido, com um contrato com a editora Hachette para publicar livros sobre as paisagens e as nações da Terra; simultaneamente, consolidou sua atuação política enquanto anarquista, com destaque para lutas pela destruição do Estado e das fronteiras nacionais e pelos direitos das mulheres. Em 1868, rompeu com o editor da revista Deux Mondes, depois deste sugerir alterações em um artigo que escrevera sobre as mulheres na América. A edição brasileira do artigo “Do sentimento da natureza na sociedade moderna” conta com um prefácio do sociólogo e historiador anarquista contemporâneo, o anglo-francês Ronald Creagh, acerca das chamadas “grandes narrativas” que caracterizaram o pensamento do século XIX e grande parte do XX. As “grandes narrativas” buscam estabelecer verdades universais e explicar as coisas e os acontecimentos em uma única chave; hoje são 204 verve Do prazer da natureza nas sociedades disciplinares questionadas em favor de uma multiplicidade de visões de mundo. Creagh lembra que o anarquismo também tem como procedência uma “grande narrativa” que explicava o mundo em função de uma liberdade avaliada por critérios fundados em uma natureza humana, e convida os libertários a “dizer, como Proudhon, ‘nego... em tudo e em parte o Absoluto” para sinalizar: “estamos aqui para fazer eclodir suas múltiplas possibilidades” (p. 24). O breve prefácio orienta o leitor a encontrar pistas contemporâneas em um texto de quase 150 anos. Deixa-se claro, porém, que Élisée Reclus é um homem do seu século, para quem a história tem uma finalidade, para quem há uma evolução e o aperfeiçoamento da vida social, apesar de também acreditar que o progresso tecnológico e econômico podem gerar situações de regressão. Ao mesmo tempo, Creagh aponta em Reclus um aspecto intempestivo, que o aproxima do leitor do século XXI. Ao descrever o que seria o sentimento da natureza em uma sociedade que consolidava a produção industrial, a urbanização e o estabelecimento das disciplinas sobre os corpos, — a sociedade moderna de meados do século XIX —, Reclus não deixou de lado a busca de leis universais, vinculando as paisagens naturais com a índole dos seus habitantes, o que possibilitaria uma avaliação do “progresso moral” dos povos. Nas frases finais de seu artigo, Reclus conjecturava que a visão de horizontes amplos a partir de altos cumes influenciava o caráter dos povos habitantes das montanhas. Nesse sentido, por exemplo, por atribuir o amor à liberdade aos habitantes dos Alpes — como ocorria nessa época em que a Suíça era refúgio de exilados políticos do mundo todo —, estaria levando em alta conta a relação desses povos com seu meio natural. 205 20 2011 Todavia, a relação entre o meio natural e o caráter dos povos em Reclus não aparece como causa ativa que gera efeito passivo. A formação acadêmica de Élisée é a escola de Geografia do pioneiro Carl Ritter (1779-1859), seu professor em Berlim, em uma faculdade que ele não chegou a concluir devido à fuga, em 1851, por motivos políticos. O meio ambiente natural, em especial o clima, como determinante do caráter dos povos tornou-se um pressuposto de uma geografia posterior a Ritter, que influenciou inclusive teorias de degeneração de povos e justificativas para o avanço colonial dos Estados europeus. No entanto, para Ritter, assim como para Reclus, o ser humano não seria determinado pela natureza, mas um elemento desta natureza: a humanidade consistia em um dos fenômenos da Terra, ambos atuantes na constituição de espaços. Diferente de seu mestre acadêmico, a formação de Reclus na geografia se completou com muitas viagens para diversas partes do mundo e uma prática libertária intensa. O sentimento da natureza decorre da relação dos sentidos humanos ativados pelo contato com os elementos naturais, aquém dos conceitos e do intelecto; é uma relação física, sensorial, entre o corpo de cada ser humano e os corpos dos elementos de seu meio. Cada região do globo propiciaria possibilidades únicas para esse contato, e a diversidade dos povos procederia da pluralidade de experiências sensoriais com o ambiente. O sentimento em relação à natureza não surgiria espontaneamente, poderia ser aprendido mediante uma educação dos sentidos e da atenção às sensações, além disso, escolhas poderiam ser feitas. Dentre as manifestações desse sentimento entre os povos, Reclus incluía obras dos poetas, como Goethe, e relatos de homens de ciência, como a do físico inglês John Tyndall. 206 verve Do prazer da natureza nas sociedades disciplinares Importante notar também que a natureza em Reclus não era a natureza intocada, pois ele encontrava beleza e equilíbrio em campos cultivados, em solos férteis resultantes de grandes aterros, como os dos Países Baixos. Para ele, a ação humana não necessariamente destruiria uma paisagem, esta poderia tornar-se mais bela e equilibrada com as necessidades dos seus habitantes. Caso contrário, a servidão humana se fortaleceria com a ausência de harmonia, e é nesse sentido que o progresso acarretaria regressão e não aperfeiçoamento da vida. A “grande narrativa” se expande no texto de Reclus mediante detalhadas descrições das impressões sensoriais e do prazer estético das paisagens por indivíduos e povos de diversos períodos históricos. Interessa-lhe o prazer proporcionado pela relação com os elementos da natureza: os ventos, o ar frio das montanhas, os detalhes das pedras e vegetação do caminho, os sons dos pássaros, a força das águas, a visão de amplos horizontes. A relação com as montanhas tornava um povo mais afeito à liberdade, afirmava Reclus, pois o caminhante exercita a maestria de si, mostrando-se responsável por sua vida. O toque dos pés no solo, o esforço para atingir o topo de uma colina recuperavam o uso do corpo, desde que realizadas pelo prazer que proporcionavam. Andanças erráticas e prazerosas na natureza resistiam à disciplina que estava sendo imposta aos corpos nas sociedades modernas. Hoje, século XXI, qual a experiência na natureza que leva a experimentar a liberdade? E qual natureza? Este e outros escritos de Reclus expressam uma reviravolta em sua época levada adiante por ele. Sua reflexão se mantem atual quando instiga o leitor anarquista a olhar para o presente com práticas surpreendentes desvencilhadas das “grandes narrativas” 207 20 2011 para enfrentar o ecológico discurso da ordem. Mais do que isso, estabelece relações tensas com as proposições recentes procedentes de Murray Bookchin e John Zerzan. filosofar onde o rio é mais quente SALETE OLIVEIRA Jorge Vasconcellos e Guilherme Castelo Branco. Arte, vida e política: ensaios sobre Foucault e Deleuze. Rio de Janeiro, Edições LCV, 2010, 136 pp. Onde o rio é mais quente. Instantes, quando o Rio é mais quente. É raro tomar um livro nas mãos e sentir esta quentura. Mais raro, ainda, é lê-lo e descobrir ali este calor. Um livro escrito por dois filósofos que é capaz de afoguear um leitor, por seu frescor. Um livro-ensaios de dois, Guilherme e Jorge, a partir de dois, Foucault e Deleuze. Um livro que se inicia por uma apresentação dos autores na qual o que a finda dá o tom de sua própria filosofia. Guilherme e Jorge fazem questão de explicitar e agradecer a quem são seus amigos. Não para fazer o círculo tautológico que reitera o filósofo em sua definição semântica da grandeza exegética da palavra filosofia e, tampouco, acomodar-se no refúgio professoral da História da Filosofia. “Gostaríamos de deixar claro quem são os nossos amigos no pensamento e na vida” (p. 18). É um desses amigos que Salete Oliveira é pesquisadora no Nu-Sol e professora no Departamento de Política da Faculdade de Ciências Sociais da PUCSP. 208 verve, 20: 208-213, 2010 verve Filosofar onde o rio é mais quente também os prefacia, com exuberância rara nos conta como o livro destes filósofos arteiros o pegou e o levou. Isto é um detalhe minúsculo, sim, mas é o da maior importância. Maior importância do menor. Te encontro no baixo. Distante da aspiração à maioridade filosófica. Próximo à quentura das pedras que suam no arpoador. Nada da arbitrariedade política das linhas imaginárias que perfazem latitudes e meridianos. Apenas ali, minúsculo, artista, vivo. Arte, Vida e Política: ensaios sobre Foucault e Deleuze. Apenas ali, vivo. Pronto a ser tomado nas mãos. E o leitor se pergunta: Como um livro desses pode receber edição tão descuidada? A diagramação o comprime e seu tom é de enlarguecer. Os lapsos de revisão da editoria expressam negligência apressada, destoando da escrita apurada dos autores. Como pode? A edição de uma publicação é mais e menos do que colocar um livro para rodar. É algo distinto do que dispô-lo em gôndolas. Publicar um livro desses é um presente para qualquer editora. Publicá-lo é trabalho que exige paciência, releituras, letras próprias e gos-to-sas de ler, margens espraiadas que deixem respirar a potência do texto... E isto também diz respeito à arte, vida e política. Menores, sim. Foucault, em certa ocasião, disse que seu sonho era ter uma editora que publicasse pesquisas e os efeitos contundentes delas, não como o papel que caberia ao Filósofo na “publicização do pensamento”, como idealizou Kant ao distinguir a razão privada da razão pública, mas talvez próximo ao que Foucault situava, também, como estética da existência, roçando o próprio Deleuze ao se referir a Foucault, quando dizia que para ele pensar é um ato arriscado. Práticas menores, sim. Te encontro no baixo... 209 20 2011 E o leitor se descobre arremessado lá onde nada está disposto de antemão. Lá onde se inventa um povo com Jorge Vasconcelos em seu “Materialismo e Vitalismo: a estética de Gilles Deleuze”, quando sublinha que, para Deleuze, não se trata da estética do belo ou do gosto, e muito menos dos clichês, mas do “estilo pensado como uma marca do fazer, do praticar singularmente uma forma de expressão artística, mas também como um modo de fazermo-nos a nós mesmos, de cunhar nossa subjetividade por intermédio de exercícios de liberdade e de práticas libertárias” (p. 20). Lá, onde se inventa um povo, onde Deleuze também foi a Nietzsche, para retomá-lo em ritornelo, quando este afirmava que onde há Estado cessa de haver um povo. No disparate, nos baixos começos... Lá, na diferença realçada por Guilherme Castelo Branco em “Anti-individualismo e vida artista”, onde mostra Foucault, situando a impossibilidade de confundir “vida artística” e “vida artista”, quando a estética da existência não cabe na vida conformada. No disparate, nos baixos começos. E lá, onde Foucault prefacia Deleuze, Guilherme Castelo Branco situa a precisão agonística das lutas. “Entre as estéticas da existência e as lutas contra as variadas formas de fascismo e assujeitamento existe uma cumplicidade inegável: elas só podem acontecer num efetivo campo de afrontamento entre as forças distintas, no interior das relações de poder, nas quais a agonística comparece a todo instante, inclusive no mundo pessoal e subjetivo de todos nós, pelo menos no dos mais inquietos” (p. 35). ... o embate não dá sossego. 210 verve Filosofar onde o rio é mais quente E nos baixos começos do embate, o teatro e a filosofia, por Jorge Vasconcelos, lança-nos a Deleuze e Carmelo Bene, a um movimento do próprio pensamento de Deleuze, a Foucault com seu teatro filosófico e à sua noção de instauração, a Nietzsche por Deleuze, instaurando a filosofia como teatro, não da metáfora ou da semelhança, mas de um Zaratustra tão dionisíaco e zombeteiro, deixando o sossego cansado da história da filosofia em um lugar incontornável. E atravessando Beckett, Artaud e Bene, Jorge Vasconcelos situa a diferença inconfundível colocada por Deleuze entre a esterilidade dramática do cansaço e a potência trágica do esgotamento. E o embate não dá sossego. No meio, entre duplos, caros a Foucault e valorizados nele por Deleuze. O lance de dados de Guilherme Castelo Branco, explodindo para o exterior de Mallarmé, vem encontrar ressonâncias em percursos de gagueira provenientes de Deleuze, onde é preciso ser estranho à própria língua como modo inusitado de descobri-la e fazê-la menor, frontal ataque aos organismos de toda ordem. E da sonoridade visual do poema transverso, desloca-se para o desnudamento da representação das palavras e das coisas com Jorge Vasconcelos na companhia de Foucault, para se chegar a Deleuze e Francis Bacon, atravessando a captação e a dispersão das forças, a contraposição da música e da pintura. E desaguando no corpo intenso, desta intensidade desmedida, sem medida, desdobra-se a recusa da representação. E a vida nos trópicos ao sol, trazida por Jorge Vasconcelos, re-situando a antropofagia pelo modernismo, possibilita ao leitor seguir outras dobras. Também distantes da do Leibniz de Deleuze, para encontrar outras proce211 20 2011 dências antropofágicas num Gregório de Mattos, o boca de inferno, em meio a muito sexo e iconoclastias para reencontrar outros disparates, nos quais não cabe Estado, nem céu, nem inferno, e se fartar com um bispo sardinha moqueado. Onde há Estado cessa de haver um povo. Não há destino... Deixa o acaso. Nos baixos começos, o disparate. E o embate não cessa, não dá sossego. Nele, Guilherme Castelo Branco põe na arena o confronto entre o desacato de uma Antígona e a dissimulação sonsa, obediente de uma Ismene. Expõe para a política o intolerável da tolerância. E o leitor se descobre arremessado lá onde nada está disposto de antemão, como forma de acomodar os “vocacionados” à acomodação, seja por inércia, seja pela facilidade dos repisados itinerários e suas infindáveis alternativas subjacentes. Da recusa à acomodação é que Guilherme Castelo Branco, duplamente com verve, finda o livro, trazendo a cantiga de infindáveis elefantes entoada pela criança que o cerca e dispara sua escrita, a pequena Clarice. Deixa o acaso.... Um filósofo que se atira sobre a brancura do papel ou da tela de um difícil começo diante de um tema, de um problema, instigado pelo entoar alegre e leve e até mesmo irritante de uma criança. Sem escusa. E é com requinte diante de um incômodo, muito mais do que só entre o Rio e Pernambuco e as quase esquecidas camélias do Leblon, que Guilherme Castelo Branco afronta os execráveis resíduos oligárquicos, escravocratas, familiares na naturalização cotidiana do “manda quem pode, obedece quem tem juízo”. Em seu requinte de humor e mordacidade, situa, como poucos, a noção de assujeitamento, elaborada por Foucault, para afirmar os efeitos da vida acomodada e a diferença abismal de uma vida artista. 212 verve Filosofar onde o rio é mais quente “O bom comportamento recebe por sua vez uma boa paga, como é uma vida grande, sem vicissitudes e sem maiores ameaças ou riscos. Neste mundo dos assujeitados, feito em nome do bem-estar, em nome do bom comportamento, em nome do silêncio, a melhor coisa a fazer é culpar os elefantes pelo incômodo: são eles, sobretudo que incomodam muita gente” (p. 131). No meio do entre tecido por Guilherme e Jorge, ressoa um convite a uma nova forma de fazer filosofia. Arejada, com cheiro de maresia, sem temor do sol do meio dia, descontraída e distante dos reverenciados redutos esclarecidos e normalistas. E não é de surpreender que invada noite adentro entre risadas desprovidas de bons mocismos. ... Deixa o acaso... te encontro no baixo... 213 20 2011 NU-SOL Publicações do Núcleo de Sociabilidade Libertária, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. hypomnemata, boletim eletrônico mensal, desde 1999; flecheira libertária, semanal, desde 2007; os insurgentes, apresentação de abril a junho de 2008; reapresentação de junho a agosto de 2008, de dezembro de 2008 a fevereiro de 2009; ágora, agora, apresentação da série ao vivo de setembro a outubro de 2007; reapresentação de janeiro a março de 2008 e de fevereiro a abril de 2009; ágora, agora 2, apresentação da série de setembro a dezembro de 2008; reapresentação de abril a julho de 2009 e de julho a outubro de 2009; ágora, agora 3, apresentação da série de outubro a novembro de 2010; carmem junqueira-kamaiurá — a antropologia MENOR, apresentação em outubro/novembro de 2010. Canal universitário/TVPUC e transmissão simultânea em http://tv.nu-sol.org. Aulas-teatro Emma Goldman na Revolução Russa, maio e junho de 2007; Eu, Émile Henry, outubro de 2007; FOUCAULT, maio de 2008; estamos todos presos, novembro de 2008 e fevereiro de 2009; limiares da liberdade, junho de 2009; FOUCAULT: intempéries, outubro de 2009 e fevereiro de 2010; drogas-nocaute, maio de 2010; terr@, outubro de 2010 e fevereiro de 2011; eu, émile henry. resistências., maio de 2011; loucura, outubro de 2011. DVD ágora, agora, edição de 8 programas da série PUC ao vivo; os insurgentes, edição de 9 programas; ágora, agora 2, edição de 12 programas; carmem junqueira-kamaiurá — a antropologia MENOR; ágora, agora 3, edição de 7 programas. Vídeos Libertárias (1999); Foucault-Ficô (2000); Um incômodo (2003); Foucault, último (2004); Manu-Lorca (2005); A guerra devorou a revolução. A guerra civil espanhola (2006); Cage, poesia, anarquistas (2006); Bigode (2008); Vídeo-Fogo (2009). Assista em: www.nu-sol.org/tv, em “on-demand”. CD-ROM Um incômodo, 2003 (artigos e intervenções artísticas do Simpósio Um incômodo). Coleção Escritos Anarquistas, 1999-2004 29 títulos. 214 verve r recomendações para colaborar com verve Verve aceita artigos e resenhas que serão analisados pelo Conselho Editorial para possível publicação. Os textos enviados à revista Verve devem observar as seguintes orientações quanto à formatação: Extensão, fonte e espaçamento: a) Artigos: os artigos não devem exceder 17.000 caracteres contando espaço (aproximadamente 10 laudas), em fonte Times New Roman, corpo 12, espaço duplo. b) Resenhas: As resenhas devem ter no máximo 7.000 caracteres contando espaços (aproximadamente 4 laudas), em fonte Times New Roman, corpo 12, espaço duplo. Identificação: O autor deve enviar mini-currículo, de no máximo 03 linhas, para identificá-lo em nota de rodapé. Resumo: Os artigos devem vir acompanhados de resumo de até 10 linhas — em português e inglês — e de três palavras-chave (nos dois idiomas). Notas explicativas: As notas, concisas e de caráter informativo, devem vir em nota de fim de texto. Resenhas não devem conter notas explicativas. Citações: As referências bibliográficas devem vir em nota de fim de texto observando o padrão a seguir: 215 20 2011 I) Para livros: Nome do autor. Título do livro. Cidade, Editora, Ano, página. Ex: Rogério Nascimento. Florentino de Carvalho: pensamento social de um anarquista. Rio de Janeiro, Achiamé, 2000, p. 69. II) Para artigos ou capítulos de livros: Nome do autor. “Título” in Título da obra. Cidade, Editora, ano, página. Michel de Montaigne. “Da educação das crianças” in Ensaios, vol. I. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo, Nova Cultural, Coleção Os pensadores, 1987, p. 76. III) Para citações posteriores: a) primeira repetição: Idem, p. número da página. b) segunda e demais repetições: Ibidem, p. número da página. c) para citação recorrente e não sequencial: Nome do autor, ano, op. cit., p. número da página. IV) Para obras traduzidas: Nome do autor. Título da Obra. Tradução de [nome do tradutor]. Cidade, Editora, ano, número da página. Ex: Michel Foucault. As palavras e as coisas. Tradução de Salma T. Muchail. São Paulo, Martins Fontes, 2000. p.42. V) Para textos publicados na internet: Nome do autor ou fonte. Título. Disponível em: http://[endereço da web] (acesso em: data da consulta). Ex: Claude Lévi-Strauss. Pelo 60º aniversário da Unesco. Disponível em: http://www.pucsp.br/ponto-e-virgula/n1/indexn1.htm (acesso em: 24/09/2007). VI) Para resenhas: As resenhas devem identificar o livro resenhado, logo após o título, da seguinte maneira: 216 verve Nome do autor. Título da Obra. Tradutor (quando houver). Cidade, Editora, ano, número de páginas. Ex: Roberto Freire. Sem tesão não há solução. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara, 1987, 193 pp. As colaborações devem ser encaminhadas por meio eletrônico para o endereço [email protected] salvos em extensão “.rtf”. Na impossibilidade do envio eletrônico, pede-se que a colaboração em cd seja encaminhada pelo correio para: Revista Verve Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol), Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. Rua Ministro Godói, 969, 4º andar, sala 4E-20, Perdizes, CEP 05015-001, São Paulo/SP. Informações e programação das atividades do Nu-Sol no endereço: www.nu-sol.org 217 centelhas & FOGO! em desdobras eletrônicas verve dobras veraschroeder joãodamata robertofreire gustavosimões gustamoramus seletaflecheiras acácioaugusto punk&cólera comunadeparis&louisemichel em http://www.nu-sol.org/verve faculdade de ciências sociais, puc-sp | programa de estudos pós-graduados em ciências sociais, puc-sp projeto temático fapesp - ecopolítica: governamentalidade planetária e resistências na sociedade de controle r. monte alegre, 1024 - entrada pela r. bartira 17 e 18 de outubro - 19h23 tucarena - puc-sp [retirada de ingressos às 18h27] aula teatro 10 do nu-sol loucura arucuol Projeto temático FAPESP Ecopolítica: governamentalidade planetária, novas institucionalizações e resistências na sociedade de controle visite: http://www.pucsp.br/ecopolitica/ http://revistas.pucsp.br/ecopolitica/
Download