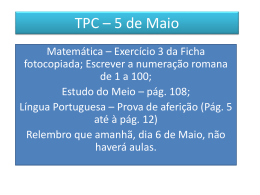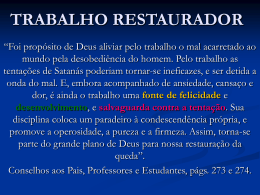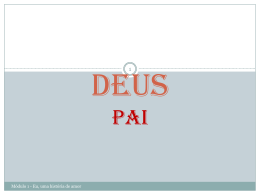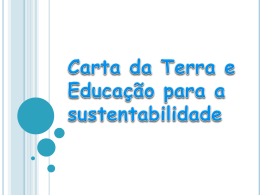UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS EM MEMÓRIA DAS MÃOS O DESENCANTAMENTO DA TÉCNICA NA ARQUITETURA E NO URBANISMO João Marcos de Almeida Lopes SÃO CARLOS 2006 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS EM MEMÓRIA DAS MÃOS O DESENCANTAMENTO DA TÉCNICA NA ARQUITETURA E NO URBANISMO João Marcos de Almeida Lopes Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Metodologia das Ciências da Universidade Federal de São Carlos, como parte dos requisitos para obtenção do Título de Doutor em Filosofia. Orientador: Prof. Dr. Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior SÃO CARLOS 2006 Ficha catalográfica elaborada pelo DePT da Biblioteca Comunitária/UFSCar L864mm Lopes, João Marcos de Almeida. Em memória das mãos: o desencantamento da técnica na arquitetura e no urbanismo / João Marcos de Almeida Lopes. -- São Carlos : UFSCar, 2006. 350 p. Tese (Doutorado) -- Universidade Federal de São Carlos, 2006. 1. Estrutura – matéria e forma (Filosofia). 2. Tecnologia e civilização. 3. Hilemorfismo. 4. Arquitetura e urbanismo. I. Título. CDD: 117 (20a) AGRADECIMENTOS O trabalho que aqui apresento não posso dizer que é meu: é obra de muitas mãos. Espero ter compreendido o que estas mãos me diziam. São tantas que correria o risco de esquecer algumas se tentasse registrar o vestígio de cada uma delas num agradecimento acanhado. Mas arrisco lembrar as que se fizeram mais próximas. O Departamento de Filosofia do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos correu o risco de ter um arquiteto como aluno: agradeço as portas que abriram para mim. À Rose, secretária do Departamento, hoje aposentada, um agradecimento especial: fez com que nunca me sentisse um estrangeiro em terras estranhas. Muitíssimo grato ao prof. Bento Prado pelas aulas e conversas inspiradoras que tanto aparecem no que aqui reúno. Agradeço ao prof. Wolfgang Leo Maar pela sua participação na argüição deste trabalho, mais uma vez às voltas com os arquitetos. Uma diferença que fez uma enorme diferença foram as conversas com Laymert Garcia dos Santos: espero ter feito bom uso de suas indicações. Muito obrigado. Também fez muita diferença poder me deter nos escritos de Sérgio Ferro: e porque eles existem. Agradeço sua presença para argüição dos meus rabiscos - que também esperam por uma arquitetura e trabalho livres. À sempre professora e colega Cibele Rizek, mais uma vez enfrentando minhas oficinas de ofício, agradeço. Minhas mãos começaram a pensar filosofia pelas suas mãos: assim a compartilhamos. Aos colegas do Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Escola de Engenharia de São Carlos, meu obrigado pelas prosas que tanto ajudaram no que aqui trago. Alguns ajudaram muito: Akemi, Joubert, Zé Lira, Fábio, Givaldo, Carlos Martins, David e Tom: muito obrigado. A USINA foi e é meu “trabalhador coletivo”, lutando em si mesmo pela manufatura livre nos meandros do ofício. “Velhos” e “novos”, o tempo é assim: minha rabugice é meu jeito de teimar que ainda tem jeito. Aos “novos” e “velhos”, minha gratidão. A TEIA, se possível fosse uma “filha-irmã” da USINA, estende e lança além – outros interiores – o desejo por uma outra configuração do ofício: como eles, também espero por isso. Ao Gabriel e Lúcia, grandes amigos, muito obrigado: as conversas com Gabriel ajudaram muito no terceiro Ensaio que aqui trago (mas a responsabilidade por ele é toda minha!). Ao Vitor Lotufo e Maxim Bucharetti, Mario Braga, Wagner Germano e Pedro Arantes, Yopanan Rebello e Marta Bogéa, parceiros e pares em diversas paragens, muito do que aqui vai tomo deles também. À Magaly, pergunto um sinônimo superlativo de gratidão: pelo tanto que ouviu, pelo tanto que leu e pelo tanto que agüentou meu monismo temático desabusado, falta palavra mais adequada. Só me resta, aqui, gratidão. Meio desajeitado, esse agradecimento também chega a minha mãe e irmãos: obrigado pelo apoio. Mas faço acabar o mau jeito tentando acomodar meu pai e meu filho nos termos inteiros do que escrevo: meu pai se foi, meu filho vem. Se sou o que escrevo, é porque eles existem: o que foi e o que vem. Para eles é que escrevo. São Carlos, Fazenda Babilônia, 2006 RESUMO Os modos ideais de composição entre matéria e forma estabelecem oposições que contribuem para uma concepção dualista de mundo. A produção do Edifício e da Cidade é, historicamente, marcada profundamente por esta concepção, organizando a atividade técnica na prática do ofício do arquiteto e urbanista em campos distintos e, por diversas vezes, opostos: forma & função, forma & conteúdo, canteiro & desenho, teoria & prática ou até mesmo teoria & técnica. Através de uma fenomenologia do exercício técnico e do modo de exitência dos objetos técnicos, procuro apreender alguma essencialidade na atividade técnica em si mesma. Posteriormente, reintroduzo a ação técnica e os objetos técnicos no cotidiano do mundo da vida, procurando compreender como se dá a transformação de técnica em tecnologia, pressuposta como agenciamento desencantado dos argumentos de uma racionalidade técnica. A partir de seu desenvolvimento na história, retomo algumas concepções tecnológicas que têm dominado o debate arquitetônico nos tempos presentes e a eles contraponho uma concepção não hilemorfista de ação técnica na prática do ofício. ABSTRACT The ideal ways of composition betwen matter and form establish opositions that contributes for a dualist conception of the world. The production of the Building and the City is, historicaly, deeply marked by this conception, organizing the technical activity in the practice of the architect and urbanist trade in diferent fields and, anytime, opposites: form & function, form & contents, theory & practice or even mesmo theory & technic. Through a fenomenology of the technics exercises and of the technics object existence way, I try to grasp some essenciality in the technics activity by itself. After this, reintroductioned the technics action and the technics objets in the world of life, trying to grasp how is the transformation of technic into technology, alleged how undelighted agency of the arguments in a technical racionality. Starting form its development in the history, I resume some technological conceptions wich is controling the architectural debate in the presents times and to them I stand against one conception of technical action non hilemorphic in the practice of the trade. LISTA DE ILUSTRAÇÕES p. 05 Na taberna de Auerbach em Leipizig (Eugène Delacroix) GOETHE, J. W. Von, Fausto: uma tragédia – Primeira parte, 2004 p. 33 Canteiro de obras de Brasília FOLHA DE SÃO PAULO, Caderno Mais!, 17 de abril de 2005 p. 36 Luminosos e estátuas do Caesars Palace – Las Vegas VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven, Aprendendo com Las Vegas, 2003 p. 38 Las Vegas Strip à noite e durante o dia – Las Vegas VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven, Aprendendo com Las Vegas, 2003 p. 40 Fachada de Hans Hollein na Strada Novissima ARANTES, O., O lugar da arquitetura depois dos modernos, 1995 p. 41 Teatro do Mundo de Aldo Rossi – Veneza 1979-1980 ARANTES, O., O lugar da arquitetura depois dos modernos, 1995 p. 54 Esboço de Le Corbusier para Conferência à Sociedade Amigos da Arte em 05 de outubro de 1929 (Buenos Aires) LE CORBUSIER, Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo, 2004 p. 108 Le circuit brouillé / Le circuit rompu FRIEDMAN, Yona, Pour l’architecture scientifique, 1971 p. 110 Pontes Billwil e Tavanasa, Robert Maillart BILLINGTON, David, Robert Maillart’s bridges - the art of engineering, 1979 p. 111 Esquema estrutura vagonada Pirâmide do Louvre LOPES, João Marcos; BOGÉA, Marta; REBELLO, Yopanan, Arquiteturas da engenharia ou engenharias da arquitetura, 2006 p. 112 Pirâmide do Louvre, anos de 1980 LOPES, João Marcos; BOGÉA, Marta; REBELLO, Yopanan, Arquiteturas da engenharia ou engenharias da arquitetura, 2006 p. 120 Arco Romano HODGKINSON, Allan (ed.), Estructuras, 1976 p. 120 Abóbadas núbias, anos de 1940 FATHY, Hassan, Construindo com o povo: arquitetura para os pobres, 1982 p. 121 Casa Carlos Ziegelmeyer, Rodrigo Lefèvre, 1972 KOURY, Ana Paula, Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro, 2004 p. 134 Cozinha em Orissa - Índia, 2004 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 137 Brittania Bridge, 1938 BROWN, David, Bridges: three thousands years of defying nature, 1998 p. 170 Canteiro de uma catedral Vitor Lotufo, arquivo pessoal p. 195 Moradia em Jaisalmer - Índia, 2004 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 195 A primeira construção (Viollet-le-Duc) RYKWERT, Joseph, A casa de Adão no paraíso: a idéia da cabana primitiva na história da arquitetura, 2003 p. 195 Casa Schröder, Gerrit Th. Rietveld, Utrecht, 1924 KÜPER, Marijke; ZIJL, Ida van, Gerrit Th. Rietveld: the complete works, 1992 p. 198 Moradia em Orissa - Índia, 2004 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 198 Villa Thiene - Quinto Vicentino, Vicenza, 1542 Joubert Lancha, arquivo pessoal p. 200 Pavilhão de Portugal, Expo’98, Álvaro Siza VILLALOBOS, Bárbara; MOREIRA, Luís (orgs), Lisboa Expo’98, 1998 p. 203 Artesãos indianos em Jaisalmer - Índia, 2004 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 217 Panteão da Pátria ‘Tancredo Neves’, Brasília, anos de 1980 VASCONCELOS, Augusto Carlos de, O Concreto no Brasil, vol. 3, 2002 p. 225 Vila Kennedy, Rio de Janeiro, anos de 1960 FREIRE, Américo; OLIVEIRA, Lúcia (orgs), Capítulos da Memória do Urbanismo Carioca, 2000 p. 237 Obras na favela Recanto da Alegria, em São Paulo, anos de 1980 BONDUKI, Nabil, Habitação & autogestão: construindo territórios da utopia, 1992 p. 239 Gridshells Institut für Leichte Flächentragwerke (IL-1) p. 239 Modelo em gridshell para uma cúpula João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 240 Cúpula na favela Recanto da Alegria João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 241 Cúpula na favela Recanto da Alegria João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 242 Painéis cerâmicos, Laboratório de Habitação da UNICAMP, anos de 1980 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 243 Canteiro em Veranópolis, 1988 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 246 Restaurante Casa do Lago, UNICAMP, 1989 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 247 Restaurante Casa do Lago, UNICAMP, 1989 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 248 Mutirão Vila Cazuza, Diadema, 1990, prédios João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 250 Mutirão Juta Nova Esperança, São Paulo, 1996, escadas metálicas João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 251 Mutirão Jardim Piratininga, Osasco, 1992 João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal p. 252 Mutirão União da Juta, São Paulo, 1994, escadas e alvenarias João Marcos de Almeida Lopes, arquivo pessoal SUMÁRIO Apresentação .......................................................................................................................... 13 Aproximação ........................................................................................................................... 14 Contorno .................................................................................................................................. 19 Território ................................................................................................................................. 37 Trama ....................................................................................................................................... 41 Percurso ................................................................................................................................... 44 Ensaio I .................................................................................................................................. 50 A proximidade do olhar distante .............................................................................................. 51 Modernidade em um Ponto Cego ............................................................................................ 69 Um ponto de fuga .................................................................................................................... 87 Ensaio II ................................................................................................................................. 95 Mãos que pensam: técnica e linguagem .................................................................................. 96 As formas das mãos: hilemorfismo e essência da técnica ...................................................... 108 Ensaio III .............................................................................................................................. 213 O Trabalho & as Mãos: uma gênese da técnica como tecnologia ......................................... 214 Ensaio IV .............................................................................................................................. 258 O Abrigo: entre o “útil e necessário” e o “belo e verdadeiro” ............................................... 259 Abrigo e desejo de Emancipação: a heteronomia do aparato (o ensemble) e arquitetura ..... 291 Individuação e Construção: a técnica quando aplicada numa arquitetura para os pobres ..... 308 Bibliografia ........................................................................................................................... 343 APRESENTAÇÃO 14 APROXIMAÇÃO “Vem para perto, famoso Odisseu, dos Aquivos orgulho, traz para cá teu navio, que possas o canto escutar-nos. Em nenhum tempo ninguém por aqui navegou em nau negra, sem nossa voz inefável ouvir, qual dos lábios nos soa. Bem mais instruído prossegue, depois de se haver deleitado. Todas as coisas sabemos, que em Tróia de vastas campinas, pela vontade dos deuses, Troianos e Argivos sofreram, como, também, quanto passa no dorso da terra fecunda.” O canto das sereias Canto XII “Odisséia” Homero “Caso curioso, que os homens nos culpem dos males de sofrem! Pois dizem eles, de nós lhes vão todos os danos, conquanto contra o Destino, por próprias loucuras, as dores provoquem(...)” Zeus, lembrando Agaménon, que Orestes matara Canto I “Odisséia” Homero Se olharmos a partir do horizonte que nos contém, a Tecnologia contemporânea, se por um lado desdobra-se em mesuras, exibindo-se voluptuosamente como produto real e síntese onipotente de conhecimentos cada vez mais especializados e aparentemente autonomizados entre si, por outro lado não deixa explícitos os papéis obscuros que se lhe exige cumprir - justamente aqueles que lhe cingem com o manto de uma aparente plenitude de domínio frente a uma vasta potência impenetrável: dali, sua condição de verdade natural, absoluta e capaz de um falso controle das inúmeras manifestações parcelares da phýsis. Disfarça, assim, seu atributo instrumental que apenas grava conhecimentos partidos no mundo da vida, sustentados por solilóquios cuja única lógica bastante é a de sua própria justificação. Ao mesmo tempo em que se esparrama, é forçosamente agregada aos processos de manipulação dos fenômenos e preenche toda a cena cotidiana, abrigando-se nas impenetráveis dobras dos mecanismos de reprodução da vida, nas infindáveis capilaridades seletivas ali necessárias e nas inúmeras camadas de complexidades insondáveis da existência humana. Dessa forma, parece coreografar e dançar ao som – como sintoma que paradoxalmente participa de suas causas – de um movimento ambivalente cujas polaridades encontramos pistas, ainda que de forma difusa, entre as sombras de um já, tantas vezes, remexido Projeto Moderno. 15 Por um lado, é tratada como um conhecimento aplicado que se estrutura verticalmente, abrangendo profundidades e complexidades aparentemente possíveis apenas através do parcelamento dos saberes que o constituem – uma espécie de síntese que se dá por uma apropriação interessada de um conhecimento absolutamente fragmentário. Tendo em vista o estabelecimento de uma relação causa-finalidade (Zwek-Mittel Rationalität) 1 que deverá orientar a funcionalidade utilitária das ciências que lhe emprestam os códigos de precisão do universo da epistéme, parece-nos que a Tecnologia, quando observada a partir desta abordagem, se compõe a partir de uma negação primordial e permanente – como atitude da Razão, perpetrada de forma antagônica pela afirmação de sua alteridade – de um sistema de sujeição abnegada a uma natureza que se apresentaria mágica, divinizada ou transcendente2. Desta forma, a Razão afirmaria e re/afirmaria a dissociação entre si e aquela que lhe dá abrigo, tencionando impor-se, enquanto potência, pela constituição de um universo distinto, sujeito ao domínio pleno, onde as aparentes causas sem finalidades da phýsis, instaladas a partir da racionalidade afirmativa de uma natureza reinventada, inscrever-se-iam como os códigos 1 Max Weber define a racionalidade que aparece juntamente com as formas modernas de organização da sociedade capitalista e burguesa como uma “racionalidade meio-fim”, o que costumamos articular como racionalidade instrumental. Trata-se de articular o pensamento - e a ação – a partir de posturas que crêem possível ‘transformar em instrumento’ todos os fenômenos da existência, um “tipo de racionalidad que se muestra en la elección de los medios más eficientes para realizar unos objetivos predeterminados; la ‘racionalización’ [outra categoria que permitiria, conforme Albrecht Wellmer, ‘analisar as estruturas e a gênese da sociedade moderna’] está, por tanto, sujeta en este sentido al aumento de la eficiência económica o administrativa. En un sentido extenso, el concepto de racionalidad significa la imposición de un orden coherente y sistemático sobre la diversidad caótica de las diferentes situaciones, creencias, experiencias, alternativas de acciones, etc.” (WELLMER, Albrecht. “Razón, utopía, y la dialéctica de la ilustración”. In GIDDENS, Anthony [et.al.]. Habermas y la modernidad. Madrid: Ediciones Cátedra, 1991, págs. 66 e 67). Certamente é esta conotação ambígua, sob certos aspectos (como mais adiante Wellmer vai demonstrar), que estabelece uma recorrente confusão entre a idéia de racionalização na construção civil e aquela utilizada pela psicologia social (como a partir de Simone Weil) ou pela antropologia. Se por um lado a construção civil compreende o ‘processo de racionalização’ como aquele que permite a maior otimização possível dos instrumentos de produção, pelo controle e destituição de significações para além da objetivação do produto, por outro lado - e com sentido diametralmente oposto - a psicologia e a antropologia designam esse ‘processo de racionalização’ justamente como aquele que dá significação - concede ‘razão’ - ao processo de produção no mundo. 2 Lenoble, ao constituir seu “esboço de uma história das idéias de Natureza”, compõe alguns estádios na evolução das estruturas psicológicas que se formavam na medida em que a humanidade encarava, em cada época, a Natureza e suas incompreensíveis manifestações. Mágica, a princípio, essa Natureza apenas sabia incutir o sombrio medo do inesperado, do inconstante e inexprimível; numa etapa posterior, essa Natureza e seus fenômenos ganham nomes, esses nomes viram deuses e esses deuses ganham feições humanas: uma primeira mecânica de domínio; por fim, a possibilidade de alcançar os desígnios de uma Natureza Primeira, de uma Natureza em-si, é completamente descartada através de uma operação de mecanização dos efeitos e transcendentalização das causas (LENOBLE, Robert História da ideia de natureza. Lisboa: Edições 70, 1990. Primeira parte, cap. 1 e ss). 16 manipuláveis e precisos daquele conhecimento aplicado. Como diz Koyré, “do mundo do ‘mais-ou-menos’ ao universo da precisão”3. Por outro lado, flagrada incapaz de mobilizar instrumentos efetivos para conquistar e conceder consciência plena dos desígnios de uma primeira natureza – sem rosto, sem nome e sem número –, a Tecnologia é mantida restrita aos territórios de sua atribuída instrumentalidade: mesmo associada ao constructo das ciências para fins de domínio, ela não alcança nem as auxilia alcançar a plenitude e a potência das causas, frustrando as expectativas se pretendíamos um instrumento infalível para alcance de pleno conhecimento dos fenômenos do mundo, da certeza e da verdade – se considerarmos a difusão prática das ciências no mundo da vida, pelas mãos da Tecnologia. Em última instância, este fato já não causa estranhamento: separado do todo, repartido, reificado e imerso nas dobras do cotidiano, não se credita mais tal poder e potência ao conhecimento técnico. Sua insuficiência e suas limitações podem se fazer parecer óbvias e, se conformados com a imanência de todo o aparato, relegaríamos à Tecnologia um caráter inócuo e até mesmo inofensivo – como já pressuposto em tantas oportunidades. Como a bruxa, que cantando as palavras mágicas, distraía Fausto enquanto este bebia a poção que lhe subtrairia “trinta anos da carcaça rota”: “A superpotência Da magna ciência, Do mundo escondida! Quem não pensa é quem De presente a tem, Sem canseira e lida.” 3 KOYRÉ, Alexandre. Estudos da história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, pág. 271ss. 17 Dessa forma, a Tecnologia é investida no disfarce do artifício, ocultando entre suas dobras, como contradição que se re/vela, a impotência diante de um universo com o qual opera sem conhecer as causas. Desconhecendo-as, no limite, também não dispõe de pleno domínio frente aos resultados. A Tecnologia serve, então, nas mãos da humanidade, à reinvenção da natureza, à construção de uma “natureza segunda”, sobrepondo-se àquela que não domina. Reinventa-a, contudo, como feitiço, como máscara sobre um rosto oco no qual procura disfarçar alguma fisionomia. Transformando a natureza num objeto passível de domínio, num instrumento, dela extrai finalidades eficientes aderindo-lhe intencionalidades causais – deliberadas pelo nómos das estruturas de existência que as determinam – e operando astuciosa e interessadamente com a manifestação dos fenômenos – dos quais, ainda, desconhece as causas. Auxilia, contudo, na afirmação da alteridade frente àquele produto de seu próprio gênio: a Razão criaria, assim, seu próprio mito, seu próprio outro, estruturando todo o conhecimento científico e tecnológico a partir de uma concepção teleológica e interessada de uma falsa natureza – representada conforme fins eficientes – introvertendo nesse mito aquilo que acredita ser o mito original. Negando qualquer sujeição pela afirmação de sua alteridade, a Razão investe-se de meios – sua ciência e sua tecnologia – pretendendo retardar o seu próprio sacrifício. O “astucioso Ulisses”, orientado pela “preclara Circe”, entrega-se à volúpia de uma ‘natureza original’ – o canto das sereias, que tudo sabem “quanto passa no dorso da terra fecunda”. Porém, racionalmente e ao mesmo tempo, nega a si o usufruto, “subtraindo-se, assim, ao seu poder”4. Buscando libertar-se daquele desígnio, a si e a seus homens, Ulisses faz-se amarrar ao mastro, tapa com cera os ouvidos dos marinheiros e, apesar de ouvir o canto, as amarras impedem a entrega. A renúncia ao sacrifício, contudo, apenas retarda a potência mítica 4 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990, pág. 110. 18 do canto: o próprio sacrifício. A astúcia de Ulisses nada mais seria que um “momento retardador”, não implicando nunca sua efetiva superação: “nada mais é do que o desdobramento subjetivo dessa inverdade objetiva do sacrifício que ela vem substituir”5. 5 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, pág. 59. 19 CONTORNO #1 Não acontece diferente com a tecnologia aplicada na produção da arquitetura e do urbanismo: as demandas do pensar e do fazer próprios do ofício partilham o mesmo mundo. Por mais autônoma que se pretenda, a produção do edifício e da cidade nunca ocorre isoladamente: reduz-se para aquém das formulações abstratas que divagam quanto aos limites do tanto que lhe atribuem como “área de conhecimento” e, ao mesmo tempo, amplia-se para além dos processos objetivos de produção material do espaço, esgarçando os limites pretendidos pela funcionalidade do ofício, alcançando também os meandros da condição subjetiva e genérica de quem opera (operador ou operário), por mais paradoxal que pareça, a partir de elementos de uma intuição, de uma “forma da sensibilidade”: o território áspero e opaco do sujeito6. O conteúdo pragmático que é inerente aos esquemas tradicionais particulares de abordagem da tecnologia na arquitetura e no urbanismo - restritos apenas ao seu próprio universo instrumental e instrumentalizante - promove uma vastíssima produção investigativa e bibliográfica que parece condenar essa tecnologia ao restrito campo ‘reificado’ das operações contingentes, delimitado por receituários, fórmulas e ábacos, que nada mais faz senão pactuar com os processos de alienação já ajeitados7. Há, contudo, algumas tradições da historiografia e 6 Conforme Kant, particularmente nos “Prolegômenos a toda a metafísica futura”: “Ambas as representações (de espaço e tempo, através da geometria e da aritmética), porém, são simples intuições; pois, se das intuições empíricas dos corpos e das suas modificações (movimento) se eliminar todo o elemento empírico, isto é, o que pertence à sensação, restam ainda o espaço e o tempo, que, portanto, são intuições puras, que àquelas servem de fundamento a priori e que, por conseguinte, nunca podem ser eliminadas; mas, precisamente por elas serem puras intuições a priori, provam que são simples formas da nossa sensibilidade que devem preceder toda a intuição empírica, isto é, a percepção de objectos reais e em conformidade com as quais os objectos podem ser conhecidos a priori, mas, claro, unicamente como eles nos aparecem” (KANT, Immanuel. Prolegómenos a toda metafísica futura. Lisboa: Edições 70, 1988, pág. 51). Os grifos são meus. 7 É muito comum e profusa a edição de estudos, pesquisas e manuais de procedimentos e abordagens técnicas, sob 20 da crítica da tecnologia em arquitetura e urbanismo que têm assegurado algumas abordagens que conferem ao assunto a propriedade de dialogar historicamente, contextualizando o discurso sobre o objeto, referenciando-o sobre o pano de eventos que subjaz o pensar e o fazer próprios do ofício8. Tanto numa abordagem como na outra, contudo, a serpente engasga com a própria cauda: os deslizamentos, ideologias impregnadas às narrativas, avaliações grande parte das vezes auto-referenciadas e sistêmicas quase sempre acabam constituindo a matéria, a densidade e a amplitude da reflexão possível, uma vez que se parte, tanto num caso como no outro, do próprio âmbito do ofício. Não seria demais, ainda, lembrar que tal ajuste metodológico é até bastante os mais variados aspectos, quanto ao processo de produção em arquitetura e urbanismo. Desde a tratadística inspirada em Vitrúvio e que se espelha no Renascimento com Palladio e Alberti, passando pelos inúmeros ‘manuais’ produzidos pela Engenharia do século XIX – claramente já esboçados pelo espírito enciclopedista do séc. XVIII - chegamos aos atuais compêndios e manuais práticos de procedimentos que cumprem o papel de estabelecer padrões técnicos encarregados de orientar o processo de produção do edifício e da cidade. Muito eloqüente é, por exemplo, o A Arte de Projetar em Arquitetura de Ernst Neufert (1900-1986), um dos mais conhecidos manuais de projeto desde que publicado em 1936 na Alemanha (a primeira edição que chega ao Brasil é a espanhola, de 1944), deste arquiteto que trabalhou com Walter Gropius em Weimar nos anos de 1920. Até hoje o “Neufert” vem sendo revisado e republicado, ensejando manifestações de recomendação bastante significativas: “Desde a primeira edição alemã de 1936 houve uma verdadeira revolução construtiva onde se vislumbrou o conhecimento de novas técnicas, normas, exigências e tecnologias que transformaram radicalmente os regulamentos e os modos de construir. O grande desafio para Arte de Projetar em Arquitetura foi responder a estas novas exigências de forma a realizar a atualização do conteúdo e ao mesmo tempo manter sua estrutura. Esta nova edição é uma resposta brilhante a estes desafios: além de atender às novas exigências formuladas pela evolução da construção, também atualizou seu conteúdo conservando sua magnífica formulação original. (...). Definitivamente um livro imprescindível para qualquer profissional que se dedica a área de construção” (www.ohlt.com.br, acesso em março de 2005).Também é profusa a publicação de manuais de engenharia, tanto aqueles que tratam da construção do edifício como outros tantos que se debruçam sobre aspectos técnicos de construção da cidade. Exemplo disso: O Manual Del Ingeniero Constructor de Ferdinand Schleicher, edição espanhola da Editorial Labor, de 1948; o Building Construction Handbook de Frederick Merrit, de 1958, publicado pela McGraw-Hill Book Company, entre inúmeros outros. 8 Registro um apanhado, ainda que restrito, mas bastante exemplar do que pretendo ressaltar: GONZÁLEZ, José Luis; CASALS, Albert; FALCONES, Alejandro. Claves del construir arquitectónico: Principios (tomo I) / Elementos: del exterior, la estructura y la compartimentación (tomo II) / Elementos: de las instalaciones y la envolvente (tomo III). Barcelona / Naucalpan (México): Editorial Gustavo Gili, 1997 (tomo I) / 2001 (tomos II e III); MAINSTONE, Rowland J. Development in structural form. London: Allen Lane / Penguin Books, s/data; MIRET, Eduardo Torroja. Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 1971; MIRMRAM, Marc. Structures et formes. Paris: Dunop/Presses Ponts et Chaussées, 1983; OTTO, Frei. Arquitectura adaptable (Coleção “Tecnologia & Arquitectura – Construcción Alternativa”). Barcelona; Gustavo Gili, 1979; PARICIO, Ignacio. La construcción de la arquitectura: las técnicas (vol.1) / los elementos (vol.2) / la composición (vol.3). Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Cataluña, 1999 (4.ª edição vol.1)/ 1996 (3.ª edição vol.2)/ 1997 (3.ª edição vol.3); SALVADORI, Mario G. Why Buildings Stand Up. New York / London: W.W.Norton & Company, 1990 e Structural design in architecture. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1981; SALVADORI, Mario e HELLER, Robert. Estructuras para Arquitectos. Buenos Aires: Isla, 1976 e The Art of Construction. Chicago: Chicago Review Press, 1990; SANDAKER, BjØrn Normann. The structural basis of architecture. New York: Whitney Library of Design, 1992; TELLES, Pedro C. da Silva. História da Engenharia no Brasil. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1984; VILLALBA, A. Castro. Historia de la construcción 21 freqüente no plano das discussões estéticas, no debate historiográfico e até mesmo no âmbito da crítica formal, que leva em consideração, para a análise projetual, do edifício e da cidade, os movimentos da História, as alterações da cultura econômica e social e até mesmo alguns termos controversos do processo de constituição e aplicação do conhecimento técnico. A aridez, contudo, torna-se muito mais tangível se penetrarmos no âmbito da discussão puramente tecnológica: por se tratar de um campo aparentemente estéril e de ascetismo quase monástico – uma vez que lida com particularidades que se auto-afirmam objetivas, pretensamente neutras, métodos quantitativos e análises qualitativas matemáticas –, a discussão acaba padecendo de uma espécie de ‘internalismo sistêmico’ que subtrai qualquer possibilidade de lançarmos hipóteses para uma crítica mais problemática9. Se considerarmos que é a partir deste aparato tecnológico, constituído e operado sem o crivo de uma crítica minimamente mais abrangente, que a arquitetura e o urbanismo vêm se construindo; e que é sobre esta mesma arquitetura e este mesmo urbanismo que tratam os debates estéticos, historiográficos e críticos mencionados; então poderíamos conjeturar que tais âmbitos podem vir a espreitar uma espécie de solipsismo, projetando como realidade totalizadora, aquela definida pelas particularidades dos objetos sobre os quais se debruçam, sem considerar que tais objetos são produzidos por aquele aparato tecnológico, em absoluto abstrato, autônomo, passivo, neutro e desinteressado. Caberia, portanto, defender de imediato uma definição mais ampliada dos contornos do território pelo qual transita a discussão aqui proposta, objetivando contrastar, pela reflexão filosófica, o pensar e o fazer tecnologia em arquitetura e urbanismo com âmbitos que extrapolem os conteúdos paradigmáticos que conformam o debate a partir de seu próprio objeto. arquitectónica. Barcelona: Edicions de la Univesitat Politècnica de Catalunya, SL, 1995 - um dos melhores. 9 “Um dado sistema tende a só colocar os problemas que podem ser resolvidos no âmbito desse sistema (ou mais exatamente: procura só propor os problemas de modo a poder resolvê-los sem pôr em perigo o equilíbrio ou a lógica do sistema)”. GORZ, André. “Técnica, técnicos e luta de classes” in Crítica da divisão do trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1996, pág. 222. 22 #2 Pela astúcia, construímos sobre o “dorso da terra fecunda” inúmeros artifícios – edifícios e cidades – que nos asseguram a possibilidade de habitá-la e de, pelo menos aparentemente, dominá-la. Estes ensembles10 técnicos são convocados a tornarem-se cúmplices, assim, na concessão da aparência daquele domínio pleno de uma primeira natureza que ali julgamos presentificada e suscetível. Por um ‘esquecimento flutuante’, no entanto, não lembramos que a ‘natureza’ com a qual lidamos constitui-se também como construção astuciosa, uma “natureza segunda” que, considerando Marx, é capaz de suplantar e extinguir aquela que lhe concede o próprio argumento11. Seria a partir deste jogo de esquecimento e afirmação que conceberíamos as mecânicas de dominação dos fenômenos, levando, atrelados, os mecanismos e as dinâmicas de dominação humana, justificados através de programas ou projetos que pretendem ou prometem o progresso rumo a um ‘mundo de liberdade’: o caminho que levaria, a passo firme e acelerado, à superação de um despótico ‘determinismo’ biológico, das vicissitudes do ‘mundo da necessidade’ ou das instabilidades do mundo natural. Neste jogo, também a tecnologia que se aplica na produção do edifício e da cidade resolve – primordialmente atendendo a um “mundo administrado” – a demanda por um instrumental que, em se fazendo valer das ciências das quais se origina como avalistas de sua 10 O termo, para efeitos de distinção, será grafado no francês: no Ensaio II, o filósofo Gilbert Simondon utiliza-o com estreita freqüência e com significado particular. A designação de “conjunto, agregado, reunião, juntura” é, em língua francesa, indicado por “assemblage” ou “ensemble”. No entanto, parece-me que a palavra em português que mais se aproxima da concepção simondoniana seria a palavra “encaixe” ou “aparato”. Pelas opções e para algum rigor e distinção de “conjunto” em termos amplos, preferi manter a grafia francesa e conforme a definição de Simondon - ensemble - exceto quando especificamente utilizada, pelo autor, a palavra assemblage. Utilizo a palavra “aparato” no último Ensaio. 11 Criticando a concepção de Feuerbach quanto à possibilidade de uma “ciência da natureza” inconspícua, investida de uma pureza original que só permitiria revelar seus segredos aos homens da ciência, Marx e Engels dizem o seguinte: “... essa natureza que precede a história dos homens não é de modo algum a natureza onde vive Feuerbach; essa natureza, hoje em dia, não existe mais em parte alguma, a não ser em alguns atóis australianos de formação recente, e portanto ela tampouco existe para Feuerbach”. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1988 - (Clássicos), pág.45. 23 própria confiabilidade, se institui também como argumento de dominação – do território e do cotidiano, do espaço e do tempo, do sujeito e seus objetos. Nestes termos, tanto no âmbito da escola – aquele ao qual atrelamos, por efeito dos percursos que a civilização humana construiu para si mesma, a formação do técnico e do cientista que teriam por ‘atribuição’ produzir e reproduzir conhecimento para aplicá-lo nos domínios da vida – como no âmbito do ofício – aquele que se estabelece atrelado à racionalidade que o sustenta, isto é, a racionalidade tecnológica construída a partir da instauração da racionalidade industrial, do mercado, do capital e do pensamento moderno – o aparato técnico aplicado para se produzir arquitetura e urbanismo aparece como instância que alude ao cotidiano de nossa atividade como indivíduos humanos e, mais restritamente, como praefecti fabrum12 do espaço edificado, na proporção de instrumento perpetuador ou retardador (possível?), dependendo da radicalidade crítica com que enfrentamos aquele ‘esquecimento flutuante’, das intencionalidades ali abrigadas. Se, mantido como instrumento, não o questionamos, se não lhe admitimos os limites e se não o colocamos também como objeto de alguma iluminação crítica por sobre e a partir da atividade humana, sequer farejamos possibilidades de opções, que novamente se sujeitariam a outras questões que o manteriam em constante suspensão – e suspeição. Por isso, sem flertar com uma peroração indiscriminada – em todos os sentidos – desta ou daquela postura, parece-me necessário externar as questões, as inquietações e praticar o exercício da dúvida, pretendendo acessar tal âmbito não pelas tramas que o constituem e o fazem, sob certo ponto de vista, parecer autônomo, mas procurando iluminar o fundo sobre o qual se estabelece como aparato, tencionando distinguir seus contornos e melhor compreender o próprio sistema que lhe subjaz. Como a forma que, 12 Utilizando o significado de mestre de obras em sua configuração latina, vinculada à idéia de faber, propondo amplitude maior que a dada comumente ao nosso termo usual. Com efeito, faber, na acepção latina da palavra, significa “artista”, “artífice”, associando-se, assim, à idéia grega de téchne - um ofício, uma habilidade, arte ou ciência aplicada. Para efeito de redação, os vocábulos gregos serão transliterados e designados conforme PETERS, F. E. Termos filosóficos gregos - um léxico histórico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983 (a partir da segunda edição original inglesa de 1974); e também conforme glossário de termos gregos preparado por Marilena 24 escurecida sobre um fundo iluminado, permite melhor divisar seus contornos, também o objeto em questão – a tecnologia aplicada na produção da arquitetura e do urbanismo –, primeiramente iluminado e delineado, à medida que obscurece a favor do aclaramento de seu pano de fundo, poderá apresentar contornos que explicitem as questões que pretendo discutir. #3 Mas por que a Filosofia? Como a reflexão filosófica poderia contribuir para o aclaramento desse pano de fundo? Por que não a Antropologia, a Historiografia ou a Sociologia? O que me faz parecer pertinente a abordagem filosófica poderia advir de uma inversão ‘interessada’ da 11ª Tese de Marx sobre Feuerbach, quando afirma que “os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras” mas “do que se trata, porém, é de transformá-lo”13. Se nos identificarmos – nós, arquitetos e urbanistas, esses artífices de um ofício que contribui para transformar o dorso do mundo num vasto abrigo – com aquele sujeito indeterminado, enunciado pela construção passiva indicada pelo pronome e pelo tempo verbal utilizados na sintaxe da frase que compilei, seria possível arriscarmos que alguns esforços naquele sentido foram e têm sido feitos, principalmente se considerarmos todas as utopias esboçadas pelas Vanguardas, se lembrarmos as inúmeras expectativas do Movimento Moderno, a atitude visionária muitas vezes assumida por urbanistas e arquitetos ao longo dos dois últimos séculos 14 e, particularmente e reduzindo absolutamente o foco, até mesmo na atividade de Souza Chauí e Anna Lia Amaral de Almeida Prado in CHAUÍ, Marilena de Souza. Introdução à história da filosofia - dos pré-socráticos a Aristóteles, volume I. São Paulo: Brasiliense, 1994. 13 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich “Anexo: Teses sobre Feuerbach” (XI tese) in A ideologia alemã. Op.cit., pág.103. Incluo, aqui, o “porém” acrescentado posteriormente por Engels (ver nota desta edição, pág. 119). 14 É relevante, por exemplo, a resistência historicista de Ruskin, o socialismo utópico de William Morris, a tentativa empenhada da Deutsche Werkebund e da Wiener Werkstät para a organização cooperativa da produção 25 cotidiana para o exercício do ofício nestes tempos e neste país – que, tantos outros como este autor, têm procurado exercer, de alguma forma enfrentando as idiossincrasias e as limitações impostas pela realidade atual, no intuito de, justamente, transformá-la. No entanto, da mesma forma como inúmeras utopias e expectativas foram, principalmente ao longo do séc. XX, sistematicamente esmaecendo seus contornos ou “esgotando suas energias”15, também aqueles propósitos fundados com o Movimento Moderno na arquitetura e no urbanismo foram, paulatinamente, secundados por posturas que tendiam pendularmente entre o conformismo niilista e o desassossego cético frente a qualquer projeto que emanasse odores de pretensões sociais emancipatórias ou libertárias e que reduziam a história a uma ferramenta de afirmação ou negação do presente - o que furtaria, à arquitetura, seu próprio sentido, como pretendo mostrar mais adiante. Não que tais posturas negassem uma aproximação pela crítica histórica, pelo contrário. No entanto, não raramente esta aproximação se dava apenas em busca de uma “justificação teórica da muleta estilística” ou para adornar, pretendendo uma falsa ilustração, as práticas funcionalistas que conformam o exercício do ofício e que apenas coadjuvam na condução de água ao moinho no processo de intensa mercantilização da vida16. Haveria, no entanto, alguma razão para sondarmos a possibilidade da existência de algum poro entre estes dois escolhos, o niilismo e o ceticismo17? Conforme a tradição aristotélica, toda a atividade, teórica ou prática, tem como objetivo e tendência geral, tácita ou implicitamente estabelecido, um bem qualquer que, da arquitetura e das artes, a Bauhaus e o desejo do entranhamento da arquitetura no mundo da vida pelo aprimoramento do desenho e sua adequação às novas formas de produção, as conjeturas funcionalistas presentes na idéia de ‘tipo’ e na ‘fordização’ do processo produtivo aplicadas na concepção do edifício e da cidade em Le Corbusier, a “Arquitetura da Grande Cidade” de Hilberseimer (tão infelizmente apropriada pelo nazismo), as concepções libertárias de Owen, Patrick Geddes ou Yona Friedmman (atravessando alguns séculos...) para uma cidade ‘emancipatória’. De qualquer forma, não precisaríamos ater-nos aos territórios da Arquitetura e do Urbanismo. Basta lembrarmos que, mesmo antes dos “tempos modernos”, a idéia de um mundo de liberdade e prosperidade já estavam ligados à uma projeção utópica de cidade: a “Cidade do Sol” de Campanella, Amaurota, na “Utopia” de Thomas Morus e Nova Atlantis, de Bacon. 15 A construção do termo - atualmente utilizado de forma recorrente - é de Habermas (HABERMAS, Jürgen. A nova instransparência. São Paulo: Novos Estudos – CEBRAP, n.º 18, setembro,1987, págs. 104 e ss.). 16 BRANDÃO, C. A. Leite. A formação do homem moderno vista através da arquitetura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999, págs. 21 e 22. 17 A questão foi construída a partir de formulação do prof. Bento Prado. 26 supostamente 18 , se realiza no mundo. Essa atividade, nas suas múltiplas formas de manifestação pode, no entanto, corresponder ora a meios (a própria atividade, o pensamento, por exemplo), ora a finalidades (os produtos do pensamento, resultantes da ação técnica ou da investigação científica, por exemplo). “Admite-se geralmente que toda arte (techné) e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, têm em mira um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins uma certa diferença: alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades que os produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles por natureza mais excelentes do que estas.”19 A excelência dos fins pode apenas assim ser considerada na medida em que tais fins diferem das ações e se identificam com a finalidade última das coisas que, segundo Aristóteles, só pode se tratar do bem supremo: “Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim; e se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra (porque, então, o processo se repetiria ao infinito, e inútil e vão seria o nosso desejar), evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem.”20 Considerando que essa atividade, meio e/ou fim, realiza-se no plano extenso do mundo da vida e que é nesse plano que se pretende realizar o ‘bem supremo’, seria a partir dela que “se deve fazer a crítica teórica e é ela que se deve revolucionar na prática”21. Pelas lentes hegelianas, tratar-se-ia do universo da práxis22. “A questão de atribuir ao pensamento humano uma vontade objetiva não é uma questão teórica, mas sim uma questão prática. É na práxis que o homem precisa provar a verdade, isto é, a realidade e a força, a terrenalidade do seu pensamento. A discussão sobre a realidade ou a irrealidade do pensamento - isolado da práxis - é puramente escolástica.”23 Uma leitura mais problemática das teses de Marx sobre Feuerbach poderia 18 Ou até mesmo por falta de outra opção. 19 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro I, 1094a 1. São Paulo: Abril Cultural, 1973 - (Coleção “Os Pensadores”), pág. 249. A atenção para o vocábulo grego téchne é inclusão minha, referendado pela identificação estabelecida por Aristóteles em sua Física. 20 ARISTÓTELES. Ética, 1094a 2, pág. 249. 21 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia... Op.cit. (XI tese), pág. 101. 22 Cf. Lalande, em seu “Suplemento”: “Etimologicamente, ação ou atividade. Certos hegelianos, e sobretudo Marx, fazem corresponder um grande papel à práxis, na medida em que a ação coletiva, técnica, econômica, social é o fundamento e o juiz do pensamento teórico, da ideologia. Em alguns, a oposição da práxis à ideologia acaba por ser apenas a da ciência e da técnica à filosofia”. LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1996. pág. 1287. 27 considerar que, atribuir à práxis humana a exclusividade da objetivação da vontade, a finalidade última de toda reflexão e o julgamento de todo pensamento teórico, seria afirmar que é apenas na práxis que a verdade se prova - se é que ela existe, se é que é única, se é que é permanente. Daí, parece-me que a discussão sobre a verdade ou a inverdade da práxis isolada do pensamento não se trataria mais do que uma discussão sobre futebol! Marx não desconsidera que, para a solução dos “mistérios que conduzem ao misticismo”, é necessário não só aceitar que sua solução racional emana da práxis humana mas que também, para tanto, é imprescindível a “compreensão dessa práxis”24. Mas não parece reconhecer que mesmo um ‘julgamento da verdade teórica’ formulado a partir do lodoso solo da práxis pode comportar abstrações reificantes que generalizam categorias e que põem sob suspeição a própria “verdade” que se pretende aferir sob o julgamento realizado no ambíguo atoleiro criado pela atividade humana25. Assim, a própria práxis, mesmo à luz da mais profunda dissecação crítica, pode se transformar em misticismo ou abrigar o lugar privilegiado para a produção do mistério, um lugar para o exercício ideológico e dogmático daquelas “abstrações reificantes”. Caberia, então, convocarmos uma outra espécie de abordagem, buscando colocar sob permanente suspeição o juízo que julga o juiz do pensamento teórico - a práxis -, propondo reconduzir à Filosofia a tarefa de interpretação do mundo que, pelo tanto até aqui realizado, não parece ter esgotado26 . Seria necessário recuperar e retornar atento o “olhar 23 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia... Op.cit. (II tese), pág.100. 24 Idem, (VIII tese), pág. 102. 25 Discutindo acerca da condição axiomática estabelecida por Marx para algumas categorias de análise (“classe”, “produção” e “modo de produção”), onde aparecem circunstancialmente ‘congeladas’ em relação ao processo histórico, Anthony e Elisabeth Leeds, antropólogos norte-americanos responsáveis por um trabalho que se tornou referência para a Sociologia e a Antropologia Urbanas no Brasil e que se estende dos anos 50 até o começo dos anos de 1970, referem-se assim ao expediente que questionam: “Apesar do alerta de Marx nos Grundrisse (ca. 1857) contra abstrações reificadas (cf. pp18), e de sua intimação de que baseássemos toda análise em realidades concretas, a teoria geral está cheia de abstrações cuja aplicação na análise de caso é, na melhor das hipóteses, ambiguamente consistente e, na pior, marcadamente inconsistente, como o uso na teoria geral, por exemplo, do conceito de ‘modo de produção’”. LEEDS, Anthony; LEEDS, Elisabeth. A sociologia do Brasil urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978, pág. 15. 26 “A filosofia que outrora parecia superada mantém-se viva porque o instante de sua realização foi perdido. O julgamento sumário que aferia que ela só havia feito uma coisa, interpretar o mundo, que ela se encolhia toda em si mesma sob o efeito da resignação diante da realidade, transformou-se em derrotismo da razão desde que a transformação do mundo fracassou... Talvez fosse essa interpretação que prometia essa passagem aos fatos que 28 aguçado pelo ódio a tudo o que está no lugar”27, considerando que uma possível verdade absoluta ainda permanece apenas como representação metafísica que se refugia entre as dobras do processo histórico onde desempenha papéis distintos e, muitas vezes, completamente antagônicos. Ao tratar do ‘hegelianismo de esquerda’ e para contrastar sua posição frente ao próprio marxismo, Adorno diz o seguinte em sua Dialética Negativa, publicada em 1966: “A destruição da teoria pela dogmatização e a proscrição do pensamento contribuíram para uma prática ruim; é do interesse da própria prática que a teoria encontre sua independência. A relação dos dois momentos entre eles não foi fixada, uma vez por todas, mas evolui com a História... O que continuava teoricamente precário em Hegel e Marx comunicou-se à prática histórica; é preciso, portanto, começar uma nova reflexão teórica em vez de deixar o pensamento inclinar-se irracionalmente, diante do primado da prática...”28 O projeto crítico da Escola de Frankfurt pretendeu a instituição de um programa teórico que permitisse uma abordagem “‘materialista’ ou ‘crítica’ do conjunto de processos da vida social, que integrava sistematicamente no materialismo histórico a psicanálise e certos temas de filósofos críticos da razão e da metafísica, tais como Schoppenhauer, Nietzsche e Klages”29. Propunha reatualizar o pensamento de Marx mas rechaçava sua transformação em “doutrina definitiva”, contornando seu “domínio de predileção”, a economia, e migrando para o território do social e do universo cultural sem abandonar categorias fundamentais presentes no ou oriundas do pensamento marxiano como ‘ideologia’, ‘alienação’, ‘reificação’ e ‘dominação’. Por outro lado, esquivava-se de qualquer semelhança com o “‘revisionismo’ social democrata”, uma vez que era patente seu compromisso com a ordem instalada. Por mais paradoxal que possa parecer, o projeto era regar o solo da crítica com o “radicalismo utópico animado pelo pessimismo extremo”, buscando apontar e compreender as “disfunções na sociedade real ao invés de descrevê-las” (isto é, contrapor uma Teoria Crítica a uma Teoria Descritiva da fosse insuficiente.” ADORNO, Theodor. “Dialética negativa”, apud WIGGERSHAUS, Rolf. A escola de Frankfurt: história, desenvolvimento teórico, significação política. Rio de Janeiro: DIFEL, s/data, pág. 635. 27 WIGGERSHAUS, Rolf. Op.cit. pg. 15, onde a tradutora da edição francesa, no prefácio à obra de Wiggershaus, cita trecho de uma carta de Horkheimer endereçada a Adorno. 28 ADORNO, Theodor. Op.cit., apud WIGGERSHAUS, Rolf. Op.cit., pág. 636. 29 WIGGERSHAUS, Rolf. Op.cit., pág. 34. 29 Sociedade)30. Sabe-se que a ‘etiqueta’ “Escola de Frankfurt” não contempla toda a diversidade do grupo de intelectuais que sob ela é reunido: uma expressão formulada posteriormente à criação do Institut für Sozialforschung (o Instituto de Pesquisa Social - que é de 1923, após um primeiro encontro em Illmenau, em 1922) e que agrega, como principal sentido, a designação de um grupo de intelectuais preocupados com a formulação de uma “sociologia crítica que via na sociedade uma totalidade de antagonismos e (que) não banira de seu pensamento nem Hegel, nem Marx, mas se considerava sua herdeira” 31 - apesar de não se identificar com a teoria marxista em suas formulações mais ortodoxas. Mesmo não se estabelecendo como um projeto coeso, abrigando compreensões diversas quanto ao caráter dos processos de alienação social e até mesmo reunindo abordagens analíticas antagônicas, a Escola afirmava sua fidelidade ao que considerava princípio essencial na teoria marxista, isto é, a “crítica concreta das relações sociais alienadas e alienantes” 32 , uma vez que se tratava de levar a humanidade a reconhecer o capitalismo não apenas como um processo sujeito a crises econômicas e políticas mas como uma catástrofe auto prescrita: “A despeito de todas as divergências, havia uma convicção comum, pelo menos para Horkheimer, Adorno e Marcuse depois da Segunda Guerra Mundial: a teoria deveria ser racional, na tradição da crítica marxista do caráter fetichista de uma reprodução capitalista da sociedade, e ao mesmo tempo representar a palavra justa que romperia a maldição imposta aos homens e às coisas, e a suas relações recíprocas.”33 Tratava-se, portanto, de ir para além de uma ‘teoria da práxis’, movendo os pressupostos da teoria marxista para um tempo e uma velocidade mais condizentes com os rumos que a humanidade vinha estabelecendo para si mesma, recuperando, como dizia Korsch, a filosofia como um “‘momento’ da ‘totalidade’ existente das relações sociais”34: “Renegar a filosofia idealista e, juntamente com o materialismo histórico, visar o término da pré-história da humanidade me parecia uma alternativa teórica perante a 30 Idem, pág. 13 e ss. até 29. 31 Idem. Op.cit. pág. 34. 32 Idem. Op.cit. pág. 37. 33 Idem. Op.cit. pág. 38. 34 BRONNER, Stephen Eric. Da teoria crítica e seus teóricos. Campinas: Papirus, 1997. pág. 25. 30 resignação diante da temerosa corrida rumo a um mundo administrado”35 De aí, por isso, devolver a discussão para a filosofia: a interpretação do mundo não parecia haver se esgotado, como induzira crer a formulação de Marx na sua 11ª Tese sobre Feuerbach, pelo contrário. O sentimento de que nos caberia apenas transformá-lo pressupõe a delimitação de uma teoria definitiva da sociedade e de suas mazelas. Não caberia, no entanto, substituir uma teoria por outra, pela própria insuficiência da teoria frente às singularidades dinâmicas do mundo da vida. É a este dinamismo que a Teoria Crítica vai procurar se ater, orientando, de forma até que bastante sistemática, a metamorfose de suas abordagens analíticas aos sistemas que não se concluem como estruturas fechadas; por isso a opção pelo ensaio como forma de escrita filosófica que não se ressente de uma certa permissividade mutante do pensamento etc. A Teoria Crítica ganha nuances, muda ao longo do tempo e se permite, inclusive, adotar outros nomes: “Não há dúvida de que o pensamento crítico da Escola de Frankfurt permanece mais vivo, virulento e polêmico como nunca, o que supõe fidelidade às origens, mas também renovação. Como bons hegelianos, os filósofos de Frankfurt acompanharam ao nível conceitual o movimento dialético da própria realidade, passando do marxismo relativamente ortodoxo de Teoria Crítica e Teoria Tradicional (1936), numa fase em que as esperanças revolucionárias ainda estavam depositadas na classe operária, à radicalidade desesperada da dialética negativa, numa fase em que a razão não parecia encontrar nenhuma ancoragem objetiva em nenhum grupo ou suporte social, até chegar à teoria da ação comunicativa, numa fase em que o imperialismo sistêmico avançou de tal maneira sobre o mundo que tornou visíveis a ‘olho nu’ as estruturas da intersubjetividade deformada, abrindo portanto uma brecha para a reconquista da liberdade.”36 O que motivou esta incursão sobre a idéia de técnica, sua transformação em tecnologia para chegar numa investigação fenomênica de técnica e sua aplicação na arquitetura e no urbanismo, foi um certo incômodo frente às formulações de Habermas, um dos últimos herdeiros da Escola de Frankfurt, quanto à razão técnica e sua imanente condição ideológica - o que aparece num derradeiro debate sobre o assunto com Marcuse. Além disso, parece-me ainda mais significativo o sumiço desta questão em seus escritos posteriores ao mesmo tempo em que se nota, sob sua pena, um inadvertido esmaecimento das cores que asseguravam o vigor do 35 HORKHEIMER, Max. Teoria crítica I. São Paulo: Perspectiva, 1990. pág. 4. 31 pensamento frankfurtiano. Não que Habermas ousasse abandonar algum posicionamento crítico frente aos mecanismos que promovem a alienação social. Mas ele parece organizar suas digressões e intervenções no ‘mundo da vida’ a partir de uma construção teórica que, se por um lado mantém seus fundamentos na Teoria Crítica, à qual é tributária, por outro lado parece novamente levar o pensamento para as esferas monolíticas de um universo isolado das ordens mundanas, transformando-se em “pura escolástica” - mesmo que uma Teoria da Ação Comunicativa afirme o contrário. A fonte do incômodo data de agosto de 1968: no artigo publicado sob o nome de Técnica e Ciência como Ideologia, Habermas procura contrapor-se à tese de Herbert Marcuse que, particularmente em textos de 1964 - Industrialização e Capitalismo na Obra de Max Weber e o A Ideologia da Sociedade Industrial -, atribuíra à técnica, enquanto razão histórica, uma possível potência libertadora. Naquele momento, Marcuse considerava plausível esta potência transformadora atribuída à técnica na medida em que ela poderia “muito bem se converter em instrumento da libertação dos homens” se escapasse do equívoco weberiano que a equiparava à racionalidade capitalista-burguesa, esta sim capaz de produzir, manter e ampliar o “casulo da servidão” a que os homens são coagidos a se submeterem. Apesar de não relevar que “o conceito de razão técnica talvez seja ele próprio ideologia” e anunciar uma concepção de técnica que seria, em si mesma, dominação (“da natureza e dos homens”), Marcuse é enfático ao restabelecer uma possibilidade de supressão da antinomia entre, nos termos de Weber, finalidade formal - aquela que calcula tecnicamente o agir econômico - e finalidade material aquela que calcula o quanto vale cada indivíduo na composição valorativa da vida - justamente atribuindo historicidade à razão técnica, abrindo uma brecha para que ela possa “ser transformada em sua própria estrutura” e, enquanto tal, ela se converta “em técnica de libertação”37. 36 FREITAG, Bárbara. A teoria crítica ontem e hoje. São Paulo: Brasiliense, 2004, págs.149 e 150. 37 MARCUSE, Herbert. “Industrialização e capitalismo na obra de Max Weber” in Cultura e sociedade, volume 32 Habermas acusa Marcuse de estabelecer uma “fusão peculiar entre técnica e dominação” e, através desta operação, insinuar a mística recuperação, peculiar à tradição judaico-cristã, de uma natureza caída, na medida em que defenderia a possibilidade de emancipação a partir de uma “revolução prévia da própria ciência e técnica”. Para enunciar seus contra argumentos, Habermas propõe sua concepção do que é trabalho: uma ação racional teleológica que é, por um lado, sustentada por uma ação instrumental que se orienta por regras técnicas e, por outro lado, conduzida por estratégias que orientam as escolhas racionais necessárias conforme sistemas de valores. Tentando salvar a idéia de ‘racionalidade’ de Weber das mãos de Marcuse, Habermas identifica o modo de existência da técnica à condição de categoria de ação que se processa como trabalho: a ação instrumental. Na mão inversa, o filósofo apresenta sua concepção de interação, que opõe àquela de trabalho: uma ação simbolicamente mediada, orientada segundo normas intersubjetivamente compromissadas e que articulam sentidos e validades a partir da comunicação pela palavra estruturada como discurso: a ação comunicativa38. A partir de suas considerações, Habermas parece passar uma descompostura em Marcuse quando reclama que seu projeto de uma nova técnica não pode ser depreendido da natureza: seria demasiado aceitar a subjetividade de uma pedra, como frisa o filósofo, e que apenas no sentido inverso é que seria possível uma projeção comunicativa com a natureza, reconhecendo-a como “um outro sujeito”. Por um caminho ou por outro, de qualquer forma “as realizações da técnica que, como tais são irrenunciáveis, não poderiam ser substituídas por uma natureza que abre os olhos”. Para Habermas, apenas a partir de uma estrutura alternativa de ação é que seria possível alcançar esta conversão da natureza de objeto em sujeito, uma estrutura erigida a partir de projetos engendrados pelo gênero humano “na sua totalidade” II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, págs. 113 a 136. Paralelamente, Marcuse amplia suas concepções quanto às possibilidades da técnica, da ciência, da indústria e das relações de produção no seu One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, também de 1964, publicado aqui como MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973. 33 assim como o são a “interação simbolicamente mediada” e a “ação racional teleológica” linguagem e trabalho39. É a partir desta operação que Habermas mantém a historicidade da técnica, sem permitir qualquer inversão entre termos: trabalho - sustentado como técnica e, portanto, ação instrumental - e interação - como ação comunicativa que pode convidar a natureza para os domínios do humano. Por isso não aceita a tese de Marcuse. No entanto, para renunciar à tese marcusiana, Habermas promove um incômodo afastamento entre gesto e palavra, entre técnica e linguagem, entre fatos do cérebro e feitos das mãos. Parece que Habermas precisa livrar sua ação comunicativa de qualquer determinismo técnico enquanto ação instrumental e por isso opô-la à noção de trabalho. Não desconheço, contudo, as premissas habermasianas que o levariam a formular uma teoria que procura bifurcar do pensamento de seus principais interlocutores frankfurtianos (Adorno, em particular), evitando qualquer flerte com a negatividade do fim sem recomeço ou com as aporias desenhadas pela Teoria Crítica entre os anos de 1966 e 1970 (período entre a publicação de Dialética Negativa e Teoria Estética, de Adorno). A Teoria da Ação Comunicativa, escrita entre 1979 e 1981 e publicada neste último ano, tem, como questão teórica, uma profunda investigação quanto ao sentido dado pela afirmação de que “a modernização das sociedades pode ser descrita como racionalização” - e desencantamento como o faz Max Weber. Problematiza, então, a própria racionalidade dos conceitos de ação e concebe a atividade humana como forma de comunicação não instrumental, isto é, fundada num solo que não se submete às regras da razão técnica. É esta comunicação não instrumental que ele chama de ‘comunicação dialógica’ - onde os âmbitos da ação comunicativamente estruturados não mais se submeteriam aos imperativos do sistema de ação organizados formalmente e originados de fora, mas o contrário. Bárbara Freitag reproduz, quase em tom de manifesto, a dimensão do projeto habermasiano que nasce com a Teoria da Ação 38 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como “ideologia”. Edições 70, Lisboa, 1997, pág. 57. 39 Idem, pág. 53. 34 Comunicativa: “A política, esvaziada pelos tecnocratas e rotinizada pelos aparelhos, voltaria às ruas, transformando-se em coisa de todos. A racionalidade instrumental voltaria às fábricas e aos escritórios da administração burocrática, funcionando sob o controle da maioria com bases num consenso comunicativamente estabelecido e a qualquer momento renegociável. A crítica, embutida nos procedimentos sociais de busca da verdade e da fixação de normas, seria institucionalizada como instância de problematização permanente. Seriam ativados os potenciais de racionalidade comunicativa na linguagem e na interação, para que cada indivíduo pudesse participar, cognitiva e praticamente, desse grande processo de recuperação e descolonização do mundo vivido.”40 Habermas, nas suas incursões pelo ‘mundo da vida’, vai acabar se aproximando da arquitetura e do urbanismo. Com efeito, em duas conferências - uma proferida em Frankfurt, em 1980 quando recebeu da municipalidade local o Prêmio Adorno e outra em 1981 por ocasião da abertura da exposição “A Outra Tradição da Arquitetura em Munique – de 1800 à Atualidade” - Habermas, inspirado pelo tanto que a arquitetura veiculava a nova tendência pós-moderna que assumia contornos mais nítidos por volta daquele período - trato dela mais adiante -, empreende a crítica àquela concepção que proscreveria sem esgotar, segundo ele, as promessas do Movimento Moderno, como se elas aparentemente “tivessem se retirado do pensamento histórico”41. A par do esgotamento das energias utópicas ao longo do processo de desmantelamento de um Estado do Bem-Estar Social, estas concepções nada mais que fariam senão obscurecer o quadro de possibilidades dialógicas que pretende fazer prevalecer. Alinho, aqui, minha abordagem e aproximação para o diálogo: pelo tanto que a arquitetura e o urbanismo abrigaram - como já relatado - as dimensões objetivas que procuraram arrancar as utopias do campo ideal das expectativas humanas; pelo tanto que o Projeto Moderno articulado como arquitetura e urbanismo se estende até o tempo presente e pelo tanto que se imiscua na minha atividade profissional; pelo padrão de contraste oferecido pela filosofia, como também já defendi anteriormente; e pela visão programática estabelecida por Habermas; interessa-me averiguar até que ponto a ‘intersubjetividade dialógica’ não se 40 FREITAG, Bárbara. Op.cit. págs. 151/152. 41 HABERMAS, Jürgen. A nova instransparência. Op.cit. pág. 104. 35 transforma, pelos mesmos processos que Habermas identifica em Técnica e Ciência como Ideologia, em ‘intersubjetividade ideológica’: se a razão técnica é inteiramente contaminada pelas lógicas próprias de um sistema ideológico, porque também o diálogo, mesmo que estabelecido na ‘livre’ comunicação, não se contamina pelo mesmo sistema técnico que faz da técnica domínio? Não me parece plausível um relacionamento com o mundo que não seja essencialmente técnico - uma das teses que aqui pretendo conduzir. Não bastaria, portanto, uma simples inversão de polaridades que atenderia - se porventura atendesse - apenas a um exercício sofístico, fundado em questões de terminologia das palavras. Parece-me que há, sim, uma questão fundamental que se enuncia na medida em que Habermas desponta com uma oposição que estrutura antagonismos entre partes que não me parecem dissociáveis. Pelas razões próprias do ofício, não me é franqueado admitir uma forma sem conteúdo ou matéria desprovida de forma. Pelos mesmos motivos, também me parece abusivo apartar a linguagem em relação ao agir técnico, relegando o último às instâncias de uma ação teleológica pura em si mesma. Parece-me haver um indissociável vínculo entre os fatos do cérebro e os feitos das mãos. Contudo, as ordens modernas de ação teleológica conformadas pelo trabalho parecem implicar a inexorabilidade desta separação: “Fisiologicamente, cabeça e mãos são partes de um sistema; do mesmo modo, o processo de trabalho conjuga o trabalho do cérebro e o das mãos. Mais tarde, se separam e acabam por se tornar hostilmente contrários. O produto deixa de ser resultado imediato da atividade do produtor individual para tornar-se produto social, comum, de um trabalhador coletivo,...”42 A impressão que tenho é que as oposições entre trabalho e interação, entre produto e produtor, técnica e linguagem, natureza e cultura, têm que ser profundamente questionadas - e é isto que enuncio como problema. Se me intrometo a questioná-las é porque elas têm promovido becos inacessíveis no cotidiano do ofício. Como já me referi, o que se percebe é uma operação freqüente que faz a questão da técnica deslizar para um domínio 36 puramente instrumental, esquivando-nos de enfrentá-la como um orifício do ofício pelo qual escapam as pesadas contradições que lhe dominam. Mais cômodo, ao abandonar para que se resolvam por si mesmos o pó e o suor daquilo que nos faz o edifício e a cidade, só assim temos admitido a técnica para, de mãos limpas e cara lavada, tomar assento à mesa do elevado debate sobre a “boa, bela e verdadeira” arquitetura. 42 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, livro I, vol. II, pág. 577. 37 TERRITÓRIO “E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume, de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra” Gênesis, cap. 11, vers. 3 e 4 urbis et... Se considerarmos a cidade nos padrões que a conformam nos nossos dias, quais seriam os efeitos reversos da racionalidade técnica que a construiu? Evitando resvalar as concepções que o próprio sistema econômico engendra em seu movimento de feiticismo re/combinatório com vistas à sua auto/sustentação mercantil (como a concepção de ecologia e sustentabilidade, por exemplo), a que ponto as mecânicas de produção da cidade inverteram as promessas que tanto empolgaram suas inúmeras utopias, apenas rearranjando as peças do aparato técnico para uma nova rodada de “extração de átomos de valor”43? Até que ponto este ‘organismo tecnológico’ – e enquanto ‘mecanismo’ atrelado a uma determinada racionalidade tecnológica – não promove sua própria autofagia? Como artefato astucioso, como um território erigido para abrigar uma torre que alcançaria a plenitude do conhecimento das causas e que evitaria a diáspora dos homens e de seus filhos “por toda a face da terra” – a Babel do mito bíblico –, até que ponto esta cidade realiza e oferece substância espacial para uma atitude técnica transformada e transformadora, sem se abastar com um imaginário utópico que freqüenta as concepções de uma existência que se propõe superar a distância entre céu e terra? Até que ponto, enquanto artefato tecnológico, a cidade pode ser instituída como uma “máquina aberta”, permeável e disposta a instalar-se como mediação participada entre o homem e a natureza? Assim sendo, qual a dimensão das formas e práticas de sua produção que se estende 38 para além dos termos categoriais do trabalho e da estrita reprodução econômica da vida? Como a cidade, enquanto locus por excelência de mediação tecnológica entre natureza e existência humana, co/responderia a inversões em outras categorias? Como não incorrer em novas utopias, esgarçando o termo numa a-topia de um lugar nenhum para existência alguma? ...aedis Se tratarmos do edifício, aludindo apenas uma entre tantas questões, até que ponto os pressupostos modernos realizaram a racionalidade tecnológica concebida à luz da imersão programática da arte nos domínios da vida? Mesmo encontrando alguns presumíveis indícios de sucesso – principalmente se analisarmos a questão imbuídos da lógica interna que lhes dá sustentação –, caberia, ainda, questionar que racionalidade era aquela com a qual se associava a racionalidade projetual. Assim procedendo, talvez ainda se fizesse prevalecer a dúvida: qual o custo deste sucesso e quais os compromissos muitas das vezes associados de forma arrevesada? É certo que tais questões já freqüentaram, até tempos recentes, as pautas de discussão entre arquitetos ou urbanistas. No entanto, o curso dos fatos e o estabelecimento de uma nova correlação entre as ordens econômicas, sociais e políticas acabaram operando o expurgo dessa discussão, disfarçando-a como se, repentinamente, tudo não passasse de uma preocupação datada ou exclusivamente atrelada à conjuntura de um outro tempo. Ora, este fato, nas reflexões que aqui proponho, também se constitui como questão: por que a exclusão do debate acerca da tecnologia e da racionalidade tecnológica implícitas na produção da arquitetura e do urbanismo dos âmbitos de discussão do fazer do ofício? Principalmente – e pela própria tradição histórica – a escola não deveria constituir-se ou preservar-se como locus privilegiado e plural capaz de sustentar o debate acerca deste tema? Por que tanto incômodo 43 Tomo a formulação de uma explicação de Francisco de Oliveira. 39 quando trazemos a arquitetura vernacular, uma arquitetura feita sem arquitetos, para a luz de algum estranhamento intelectual? Pior ainda quando se propõe alguma imanência ‘arquitetônica’ à natureza: destituída de racionalidade, como é possível alguém pretendê-la técnica? Por que uma arquitetura produzida a partir de seu comportamento estrutural, sujeita ao determinismo da física mecânica (que é até onde conseguimos enxergar), é ‘menos’ arquitetura que uma outra que o esconde? Por que uma arquitetura feita com a participação dos usuários freqüentemente é tratada - como veremos Habermas fazer coro, mais adiante - como culto de uma tradição local e “veneração da banalidade”, um modo de pensar arquitetura próprio de uma “ideologia da infracomplexidade” que denega “o potencial racional e o sentido específico da modernidade cultural”, promovendo assim uma espécie de “antimodernidade”, uma “antiarquitetura”? Por que, num determinado momento, as questões relativas à organização social do trabalho no canteiro de obras, as relações entre os processos de produção projetual e de produção do próprio edifício, as engrenagens que articulam concepção formal e as bases materiais que lhe dão sustentação (materiais, sistemas construtivos, técnicas construtivas, condicionantes climáticas, morfológicas e econômicas etc.), cederam à dicotomia que isola em dois universos inconciliáveis o fazer e o pensar sobre o fazer, a atividade e a crítica da atividade? Por que, enquanto praefecti fabrum de nossos tempos, a tecnologia que operamos é esta que se dispõe e não outra? Também é certo que o resgate e o envolvimento com tais questões estabelecem vínculos de diálogo entre o ofício e a História para além do âmbito de sua própria história: até que ponto é possível verificar um esgotamento dos pressupostos do Movimento Moderno? Seria este um dos fatores do exílio do diálogo entre crítica e atividade? Neste percurso, até que ponto a tecnologia projetual e construtiva que aparece atrelada a estes pressupostos com/promete aquele possível esgotamento? Por que assistimos a um processo de crescente domesticação do imaginário utópico e da radicalidade criativa, certamente muito mais 40 presentes nas gêneses do Movimento Moderno e nas concepções originais visionárias de cidade & edifício que o antecederam? Em suma, como esta tecnologia que se constitui historicamente também como instrumento a serviço da concepção e produção do espaço e que aparentemente agora se apresenta como simulacro de sua própria potência, responde à ou advém da trama que constitui o Pensamento Moderno? Basta lembrarmos como a idéia de ‘progresso’ ou de ‘evolução’, associadas à idéia de ‘desenvolvimento urbano’ e à aplicação de ‘novas tecnologias’ na construção civil – tão presente no cotidiano de nossos meios – é a mesma idéia de ‘progresso’ ou de ‘evolução’ aposta às concepções de ‘desenvolvimento científico e tecnológico’, tão caras à Modernidade enquanto projeto. A amplitude das questões, então, inscreve-se num plano muito amplo de abordagens, se formuladas para além do universo ao qual se atrelam – o que, neste caso, tornaria infindável qualquer empreendimento de pesquisa. Caberia, portanto, restringir o território de investigação, delimitando a abordagem a algumas questões específicas que se prestem à discussão pretendida. 41 TRAMA #único Para o território proposto, seria infindável o número de possibilidades de abordagem para a construção da trama em questão. A viabilidade do que pretendo deverá, então, considerar inicialmente o próprio exercício do ofício da arquitetura e do urbanismo, estabelecido aqui tanto enquanto prática projetual e construtiva como também enquanto ação no mundo, comprometida com alguns processos de produção do espaço da moradia e da cidade, sua gestão e de algumas práticas que têm delineado a luta pelo direito à cidade. Olho, assim, diretamente para minha experiência profissional. Num exercício de representação objetiva dos problemas presentes nestes processos, quero tomar alguns exemplos: é próprio de nosso tempo defender a ‘industrialização’ da construção civil, advogando o estabelecimento de homologias entre os processos produtivos implementados pela grande indústria e os sistemas operacionais atinentes aos canteiros de obras; também a implementação de dinâmicas gerenciais estabelecidas a partir de modelos de padrão empresarial modernos toma corpo como objeto submetido à intensa atividade de atualização e pesquisa, tanto na escola como na prática do ofício; o aporte de novos materiais, novos sistemas construtivos e a intensificação da especialização produtiva, também contribuem para o estabelecimento de um novo corolário estético-construtivo, que envolve a formulação de um novo discurso formal e a constituição de novos pressupostos tecnológicos; etc. Essas coisas fazem hoje muito sucesso. Por outro lado, o parcelamento dos saberes envolvidos e o fracionamento da atividade em sub-atividades componíveis – a divisão da atividade produtiva para um 42 aprimoramento dos mecanismos de apropriação de mais-valia e o concomitante aprofundamento dos processos de alienação humana – radicalizam-se como imperativos, à forma de um ‘destino inelutável’ a partir do contexto do próprio ofício, uma vez que a amplitude do universo de conhecimentos envolvidos extrapola a dimensão de domínio tradicional da profissão44. Além disso, a ainda necessária consolidação de uma concepção de progresso e avanço tecnológicos nos processos de concepção e construção do edifício e da cidade revelaria uma nova relação com a própria História, buscando aderir definitivamente as promessas que a idéia de progresso implica, rejeitando, pela suposta superação do passado, as lógicas formais e construtivas próprias de outros tempos. Entretanto, a construção civil amarga uma ampla distância entre seu modo de operação e aquele próprio da grande indústria, denegando os argumentos que sustentariam sua inserção numa pretendida concepção de progresso: basta, por exemplo, constatarmos os tempos, instrumentos e energias empregados para a produção de um edifício e os tempos, instrumentos e energias empregados para a produção de um automóvel, de um navio ou de um avião; os padrões empresariais de gerenciamento aplicados na construção civil têm respondido e reforçado processos de exclusão social e intensificado a precariedade das condições de emprego e de distribuição social de riqueza, principalmente com a ampliação do contingente de candidatos à mão-de-obra - o velho exército de reserva - desqualificada com o recrudescimento do desemprego; novos materiais e novas tecnologias construtivas têm, invariavelmente, correspondido às necessidades de mercado e não necessariamente a um aprimoramento da qualidade das edificações e das cidades; não só: além disso, o receituário formal defendido pelas ordens que orientam a concepção do edifício e da cidade sustenta-se a partir de fatores 44 “De início a divisão do trabalho inclui também a divisão das condições de trabalho, instrumentos e materiais e, com essa divisão, o fracionamento do capital acumulado entre diversos proprietários e, em seguida, o fracionamento entre capital e trabalho, bem como as diversas formas da própria propriedade. Quanto mais a divisão do trabalho se aperfeiçoa, mais a acumulação aumenta e mais esse fracionamento se acentua também de maneira marcante. O próprio trabalho só pode subsistir sob condição desse fracionamento”. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia... Op.cit. pág.81. 43 elevados de desperdício, tanto de material como de energia – elaborada (eletricidade, calor, refrigeração etc.), mecânica e humana – relevando os custos imediatos e acumulados que advirão das opções ‘estilísticas’, econômicas ou construtivas. Compondo este quadro – e aparentemente dele destoando – a especialização dos segmentos de produção do edifício e da cidade e a composição multidisciplinar para a consecução de um determinado empreendimento certamente impõem-se como necessidades plausíveis, frente à amplitude que o processo envolve. Caberia, contudo, discriminar ‘qual’ a composição pretendida e a ‘quem’ ou a ‘quê’ ela se destina, se a composição disciplinar alcança minimamente alguma transitividade dialógica e se o processo, como um todo, permanece enquanto objeto permeável à plena apreensão por parte dos envolvidos em sua consecução – o que não parece facilmente identificável no contexto da ‘indústria’ da construção civil implementada no país e fora dele. À vista do exposto e considerando que a idéia positiva de progresso teoricamente implicaria na restauração gradativa da dimensão ética da conquista de uma nova correlação entre liberdade e necessidade – desta em direção àquela –, não parece possível admitirmos que há um processo instaurado que aponte neste sentido, sequer no âmbito mais geral da aplicação do aparato tecnológico moderno, quanto menos no contexto da construção civil. Pelo contrário, cada vez mais as necessidades geram mais necessidades e sujeição ao que impropriamente se determina imprescindível. Assim, a relação com a História que se pretenderia afirmar ‘evolutiva’, abriga a introversão violenta, pelo disfarce, do próprio sacrifício da história humana, muitas vezes promovida com os instrumentos que, paradoxalmente, foram criados anunciando o oposto: entre eles, a tecnologia empregada na produção do edifício e da cidade. 44 PERCURSO Ensaio I Enquanto arquitetura e urbanismo, de onde provêm as questões que enuncio? Modernidade e Pós-Modernidade são filhas do tempo, e não me parecem tão dessemelhantes em uma série de aspectos. Mas o que significa ser moderno? As utopias que a Modernidade prescreveu para si e para a arquitetura e urbanismo colhem seus significados no corpo de uma realidade histórica que não se fecha em etapas estanques, cobrando uma desfragmentação dos inúmeros aspectos que as desenharam. Tecnologia a serviço da beleza, a pretensão de um encurtamento das distâncias entre arte e vida, a associação entre o desenvolvimento das forças produtivas e o programa que instala o arquiteto como agente privilegiado para alcançar as promessas de progresso material etc., são manifestações de uma vontade que me parece abrigar alguma essencialidade mas que, quando submetidas a uma razão histórica, depreende argumentos que anunciam defesas problemáticas. Para um hermenêutica das “significações ideais” daquelas utopias, componho a sobreposição de algumas formulações fundacionais que participaram na estruturação das concepções positivas do edifício e da cidade, enquanto possibilidades de objetivação material da “esperança de uma felicidade terrestre coletiva” 45 e de superação do “mundo da necessidade”. Pelo contraste, extraindo dali as concepções, também positivas, da racionalidade tecnológica necessária à constituição daquela materialidade, parece-me possível perceber as tensões geradas nos meandros das concepções utópicas destes ‘espaços do conflito’ por excelência, procurando discernir a reincidência das promessas abrigadas pelo Movimento 45 DELUMEAU, Jean. Mil anos de felicidade: uma história do paraíso. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pág. 12. 45 Moderno e do sucessivo solapamento de suas “energias utópicas”, no sentido proposto por Habermas. A hipótese é que nem mesmo Habermas sustentaria uma Teoria da Ação Comunicativa se rigorosamente contraposta à realidade da ‘intersubjetividade ideológica’ - e não ‘dialógica’ - que reifica toda a possível intenção emancipatória presente naquela experiência de ação técnica instrumental que atrofia qualquer pretensão teórica e utópica a partir dali engendrada. Habermas acaba trazendo, para o campo da arquitetura, sua defesa da Modernidade como um projeto inacabado. Atravessando um caminho repleto de armadilhas, suscita a interpelação que lhe denuncia um “ponto cego”, como dizem Paulo e Otília Arantes. Mas até que ponto a denuncia de um “ponto cego” também não recalca alguns pontos de fuga? Por onde escapa a essencialidade a que me refiro? Ensaio II Através de uma fenomenologia do exercício técnico e do modo de existência dos objetos técnicos, primeiramente recolhidos para fora da racionalidade técnica, talvez seja possível “apreender, através dos acontecimentos e dos fatos empíricos, as ‘essências’, quer dizer, as significações ideais”46 da realidade técnica, procurando estabelecer um constructo que auxilie perceber quais os índices que a transformaram em racionalidade instrumental. Como uma atividade que pressupõe a construção, a atividade técnica do arquiteto não escapa do regime de causalidades recíprocas entre forma & matéria: espiando os primeiros passos do hilemorfismo, consultando Aristóteles e sua Física, parece-me possível distinguir as razões 46 O sentido descrito para a fenomenologia enquanto método é extraído do comentário de DELBOS à 46 para algumas distinções conceituais que deixam escapar oposições que, por vezes, conduzem às nossas persistentes aporias; tentando compreender como a doutrina hilemórfica respira sobrevida ainda bastante saudável, consulto as concepções de Heidegger sobre a essência da técnica e da tecnologia moderna; pela mão oposta, instalo o percurso que aponta uma outra abordagem para a questão da técnica e acompanho o filósofo Gilbert Simondon na gênese que descreve como individuação dos objetos técnicos. Para efeito de verificação interessada de suas teses, capturo seus exemplos e faço alinhar seu raciocínio a eventos que são próprios do ofício de um praefecti fabrum e do modo de existência dos objetos técnicos com os quais lida a arquitetura e a construção. Parece-me possível assim destrinçar a ação técnica e o objeto técnico, liberando-os das injunções que os transformam em razão técnica e em objetos de reprodução tecnológica a serviço de uma racionalidade ideológica. Ensaio III Caberia, no entanto, reconduzir ação técnica e objetos técnicos para o cotidiano do mundo da vida. É ali que se manifesta o processo de metamorfose da técnica em tecnologia - como procuro defender. Reúno algumas referências históricas muito restritas mas que permitem identificar como os modos de produção dos objetos técnicos acabam instruindo o modo de sua existência. Parece-me que a construção da realidade social e histórica seqüestra, sem direito a resgate, os termos essenciais da realidade técnica, operando uma inversão de valores que estabelece polaridades aparentemente insolúveis: o que é “por natureza” e o que é “por arte”, aquilo que é o “bom, belo e verdadeiro” e o que é “útil e necessário”, os domínios da cultura e os territórios da técnica, linguagem e gesto, cérebro e mãos. Se não questionadas, as Fenomenologia de Husserl, no Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, de André Lalande , Op.cit. pág. 398. 47 oposições encurtam o horizonte, impedindo imaginar, como diz Marcuse, a técnica como um projeto social e histórico que pode responder a uma nova concepção de existência: a tecnologia continuará compondo o substrato concreto e interessado para o fazer técnico do mundo, sem que se mostrem os vínculos com os “senhores do aparato” e as estratégias de servidão. Ao cultivar as oposições, também a arquitetura e o urbanismo continuarão desdenhando os elementos produtivos que organizam a retórica de sua abordagem estética: o discurso sobre a forma encarcera o conteúdo no solitário calabouço do esquecimento. Ensaio IV Além disso, também seriam as concepções tecnológicas dominantes responsáveis pelos domínios distintos que separam a arquitetura da não-arquitetura, denegando o que é essencial nos propósitos do ofício: o abrigo. Recusando a natureza que lhe é imanente, aquelas concepções fogem, como o diabo da cruz, de qualquer envolvimento que lhes reduza o predomínio de uma “vontade de forma”. Elas seriam responsáveis também pelas desconfianças frente às maquinações autóctones e cotidianas que produzem o edifício e a cidade, justamente porque acreditam ainda no Plano e numa Utopia Técnica do Projeto, como projeção de uma potencialidade transformadora que se adere às raquíticas e contaminadas ordens da prática do ofício. São estas concepções que também engendram novidades e alternativas, rejeitando alimentar-se de um passado que consideram anacrônico: sujeitam-se às determinações de mercado, agenciam fundos justificados pela sua condescendência com os pobres e continuam alimentando os senhores do aparato com suas arquiteturas alternativas. Prima-irmã, a arquitetura sustentável também rende tributos às concepções de que falo: argumentando a sustentabilidade, elas recolhem em si os preconceitos em relação à natureza que negam. Por fim, 48 são estas concepções tecnológicas dominantes que exercitam cotidianamente o direito de negar o conhecimento do artesão, resguardando a sete chaves sua topologia diferenciada frente aos objetos e conjuntos técnicos que domina com seu conhecimento ilustrado. Trago, perante as especificidades de tais concepções, a prática cotidiana de um arquiteto circunstancialmente engajado no diálogo com aquele mundo da vida e com suas hipostasias mais corriqueiras, tentando o contraste entre cores menos desbotadas. Faço um ‘uso tópico’ das teses de Simondon, sem recusar a suspeição e a crítica, algumas dimensões práticas do fazer arquitetura. Como componente do conjunto técnico que se aplica na produção de moradia para os pobres e com os pobres, o arquiteto se vê de frente a uma pura e completamente nua contradição: a figura do usuário-artesão, duas existências contraditórias numa relação dialética explícita. A partir da caracterização impressionista do indivíduo usuário-artesão, faço o relato de uma experiência particular, onde atuo como coadjuvante de uma ação técnica específica. São aspectos de um modo de atuação no ofício que ecoam aquelas expectativas lançadas pelo Movimento Moderno: o progresso humano através da técnica, a socialização dos meios de produção e do espaço da cidade, a diluição da arte na vida, a autogestão nos processos de produção etc. Mas não se trata de um elogio a um modo de existência técnica dos objetos técnicos que a arquitetura coloca no mundo: sem pretensões, não ensaio uma espécie de hermenêutica dos modos de existência técnica do ofício, mas procuro uma hermenêutica crítica que aprofunde os olhos em algumas dimensões mais obscuras que insistem afastar do horizonte o território vasto e oculto da invenção. 49 #único Não pretendo, isto é claro, nenhuma forma de receituário. Interessa-me, contudo, manter em suspensão os limites estabelecidos pelos elementos de referência que configuram nossas representações na forma de nossas utopias, que certamente partem de concepções distintas de universos distintos, daquela múltipla face obscura de uma aparente natureza. Assumindo os postos de sujeitos e objetos da atividade simultânea de representação e transformação - dada a condição intrínseca de agentes ativos e passivos no diálogo reflexivo com essa instância que se afirma em sua alteridade - talvez ali e assim consigamos perscrutar, ainda que de forma difusa, alguns resquícios daquele patrimônio residual que nos autoriza conceber uma práxis que permite reconhecer em si as dimensões técnicas da existência. No imprevisível território da invenção - onde é possível imaginar um gesto técnico reinventado e que reclama a memória das mãos - talvez ainda encontremos os vestígios de um cotidiano que nos oriente o traço diferenciado em busca de uma práxis capaz de produzir uma outra possível cidade e um outro possível edifício. 50 ENSAIO I 51 A PROXIMIDADE DO OLHAR DISTANTE #1 Primeiro tempo. O Patris II, navio de propriedade de um milionário grego (certamente, um armador), foi cedido ao CIAM para levar e trazer de volta seus 100 delegados de Marselha a Atenas. Acompanhados de volumosa corte (críticos de arte, artistas, literatos etc), proeminentes arquitetos e urbanistas de vanguarda, preocupados em adequar novos programas para a arquitetura e para as cidades às modernas ordens de organização política, econômica e social mundiais instaladas desde a Revolução Industrial e desestruturadas pela guerra, partiram no dia 29 de julho de 1933 para realizar, em Atenas, o IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - o IV CIAM, tendo como tema “A Cidade Funcional”. O destino anteriormente previsto era Moscou, aquela ainda nova união de repúblicas socialistas que já patrocinara 52 projetos modernistas em seus territórios (alemães e austríacos, principalmente, dentre outros europeus: o próprio Le Corbusier já havia projetado, em 1929, o Centrosoyus, o Palácio da União das Cooperativas, em Moscou). Sintomaticamente, no início de 1933, o governo soviético declara, dando sinais das novas orientações de rumo político, que não mais abrigará o encontro. Não seria difícil farejarmos pistas de uma certa onda de frustração: as possibilidades de intervir teórica e praticamente a partir de um contexto estruturalmente revolucionário, ainda imaginado como solo privilegiado para os programas de uma nova arquitetura e de um novo urbanismo - sem que necessário fosse um comprometimento estatutário e territorial com o ideário da revolução socialista - certamente fascinava aquela geração47. Já ao longo da viagem, 33 cidades (há controvérsias) de 4 continentes foram criteriosamente dissecadas: plantas em escalas compatíveis que permitiam comparações, constituíram a base concreta para analisar as relações dos sistemas produtivos com o território, discutir problemas de circulação e zoneamento, levantar questões quanto às condições de moradia, infra-estrutura urbana e acesso ao lazer, promover confabulações sobre o patrimônio histórico, enfim, submeter todas as atividades meio e fim da arquitetura e do urbanismo ao crivo e ao juízo especializado, embalado pelo horizonte longínquo do alto Mediterrâneo48. Dali, nenhuma proposta articulada sob empenho mais pragmático: Atenas apenas referendaria, com pompa e circunstância patrocinada pelo governo grego, os pressupostos para um novo urbanismo e para uma nova relação entre a arquitetura e a cidade, reunidos naquilo que hoje conhecemos como “Carta de Atenas”. Desacordos entre relatores e um certo oportunismo 47 Frampton, referindo-se às premissas que orientaram os primeiros momentos do CIAM, ideologicamente inaugurado com a Declaração de La Sarraz, Suíça, em junho de 1928, avalia que, com a Carta de Atenas, as “exigências políticas radicais do movimento inicial tinham sido abandonadas, e, enquanto o funcionalismo continuava sendo o credo geral, os artigos da Carta pareciam um catecismo neocapitalista cujos decretos eram tão idealistamente ‘racionalistas’ quanto irrealizáveis num sentido mais amplo” (FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997, pág. 329). 48 Reyner Banham assim descreve o evento, conforme citado em Frampton: “Foi o primeiro congresso ‘romântico’, que teve por entorno um panorama de esplendor cênico, e não a realidade da Europa industrial; foi também o primeiro Congrés a ser dominado por Le Corbusier e pelos franceses e não pelos duros realistas alemães. O cruzeiro pelo Mediterrâneo foi claramente um alívio agradável da situação cada vez pior da Europa” (FRAMPTON, Kenneth. Idem, pág. 328) 53 interessado de Le Corbusier outorgaram pelo menos três versões que dissonavam com as Atas do IV Congresso, prevalecendo, entretanto, a versão que Le Corbusier havia organizado e publicado anonimamente (guardadas as dúvidas, em 1941, após inexplicáveis 8 anos após a realização do Congresso) inclusos os adendos que formulara com a intenção de adequá-lo ao que lhe interessava defender em território francês49. Epítome do Urbanismo Funcionalista, o texto, conforme muitos historiadores, trazia nada ou muito pouco de novo, apenas organizando o tanto que se havia pensado e feito - particularmente sobre urbanismo - desde uma centena de anos passados50. Nas palavras de Benevolo: “É bastante significativo que sejam examinadas trinta e três cidades e que não se faça o balanço de trinta e três experiências concretas de planificação. Com efeito, os protagonistas do movimento moderno estão isolados das experiências urbanísticas deste período; podem somente constatar a desordem das cidades, enunciar, em comparação, as características de ordem e de funcionalidade que deveriam ser próprias da cidade moderna e indicar os meios necessários para obtê-las”51 Por seu turno, as 111 propostas (95, na versão corbusiana) manteriam a sonoridade dogmática daquelas tantas concebidas nos encontros anteriores, deslocando-se, contudo, rumo a generalidades que, se por um lado lhes asseguraram uma certa universalidade que se faz sentir até hoje, por outro, como asseverava Banham, faziam perder seu poder de exeqüibilidade. A Carta, organizada a partir dos subtemas dispostos para análise e proposição 49 Ver HALL, Peter. Cidades do Amanhã. São Paulo: Perspectiva, 2002, pág. 257 e ss. 50 Conto a história principalmente a partir de apresentação de SCHERER, Rebeca in LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. São Paulo: HUCITECH: Editora da Universidade de São Paulo, 1989, pg. s/n. Tomados os devidos cuidados, a Carta sugere um corolário bastante completo do que compreendemos como urbanística moderna, aparecendo, aqui e acolá, os pressupostos de um planejamento funcionalista: “... supunha a obrigatoriedade do planejamento regional e intra-urbano, a submissão da propriedade privada do solo urbano aos interesses coletivos, a industrialização dos componentes e a padronização das construções, a limitação do tamanho e da densidade das cidades, a edificação concentrada porém adequadamente relacionada com amplas áreas de vegetação. Supunha ainda o uso intensivo da técnica moderna na organização das cidades, o zoneamento funcional, a separação da circulação de veículos e pedestres, a eliminação da rua-corredor e uma estética geometrizante”. Um exemplo bastante próximo é Brasília. De qualquer forma, como diz Rebeca Scherer citando Argan, “... esta crença na engenharia social a ser implantada pelos arquitetos só pode ser entendida no quadro do período entre guerras” constituindo “uma evidência de opção reformista diante do temor de um instrumento mais drástico chamado revolução” (SCHERER, Rebeca. “Apresentação” in LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. Op.cit, pág. s/n). 54 Moradia, Lazer, Trabalho, Transporte e Edifícios Históricos -, acaba conduzindo a paragens distantes das contingências práticas e concretas mais imediatas. De resto, nem mesmo o tom mais agressivo esfarelado desde 1928 conseguira sequer lidar objetivamente com questões mais polêmicas e delicadas como, por exemplo, a relação com o Estado. Peter Berlage, um dos últimos da geração dos primeiros modernos e, como contam, extremamente reservado, não negaria esforços, apesar da idade, para locomover-se da Holanda até o Castelo de Madame La Sarraz para o encontro inaugural do CIAM de 1928. Ali, cercado por arquitetos mais jovens que “não trataram mais assuntos que aqueles concernentes aos novos pontos de partida”, Berlage teria sido o “único a ler um discurso que havia esmeradamente preparado: ‘As relações entre o Estado e a Arquitetura’”. Os farelos dessa preocupação encontram-se arquivados entre as dobras do acervo do CIAM, em Zurique52. Desterro, isolamento, distância e abstração. Fim do primeiro tempo. #2 Segundo tempo. Três professores da Escola de Arte e Arquitetura de Yale propõem, para o outono de 1968, uma atividade de pesquisa em projeto e urbanismo que nós, arquitetos, gostamos de chamar de ‘ateliê’. O título do ateliê e o que lhe motivava seria “Aprendendo com Las Vegas - ou Análise da forma como 51 BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: Perspectiva, 1976, pág.512. 52 GIEDION, Sigfrid. Espacio, tiempo y arquitectura - el futuro de una nueva tradición. Madrid: Editorial Dossat, 1978, pág. 327. A tradução é minha. Quem lembrou sobre este aspecto foi Carlos Alberto Ferreira Martins: grato. 55 pesquisa de projeto” para o qual se inscreveram nove estudantes de arquitetura, dois de urbanismo e dois de artes gráficas. Após os primeiros impulsos de uma vaga varejista de posturas e afirmações pós-modernas desde os anos de 1930, de alguns ecos reverberados em solo americano pelas mãos da crítica nova-iorquina dos “ideais modernos do liberalismo e do socialismo” e na esteira dos manifestos pela “emancipação do vulgar e liberação dos instintos” cuidadosamente pinçados do receituário mais indigesto recomendado pelas insurreições estudantis no final dos anos de 1960 53 , aquele grupo de professores e alunos inicia suas atividades dedicando, para um princípio de abordagem, 3 semanas de pesquisas e levantamentos preliminares na biblioteca da Escola. Partem para Los Angeles e ali trabalham em campo durante 4 dias. Após 10 dias dedicados aos levantamentos em Las Vegas, o grupo retorna à Yale e trabalha durante 10 semanas - aproximadamente 70 dias - na análise do material amealhado, debatendo questões e organizando suas “descobertas”. Não seria difícil farejarmos pistas de uma certa onda de excitação (principalmente na condição de envolvidos com o ensino e compreendendo o espírito de época) frente ao conjunto de argumentos habilmente articulados pelo grupo, orientado pelos professores e arquitetos Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour. Tanto que, no impulso de um certo frisson catártico , os alunos propuseram um novo subtítulo para a pesquisa: “A grande locomotiva cultural proletária”54. Venturi já havia criado caso em 1966 com a publicação de seu livro 53 Segundo Perry Anderson, tais vagas adviriam de embates travados principalmente no campo da literatura e da poesia hispânicas no conturbado período da Guerra Civil espanhola, em 1934. Passa para os anos 50 como assunto da esquerda nova-iorquina e sustentam a crítica tanto ao liberalismo quanto ao socialismo de Estado, na medida em que “a razão e a liberdade se separaram numa sociedade pós-moderna de impulso cego e conformidade vazia”. Segundo Anderson, a versão pejorativa do termo ‘pós-modernismo’, começa, ainda no final dos anos 50, com a formulação de Harry Levin que o utiliza para designar uma literatura que, abandonando alguns pressupostos modernos, abraça uma síntese meia-boca em prol de “uma nova cumplicidade entre o artista e o burguês numa suspeita encruzilhada de cultura e comércio”. Bastante perspicaz. Nos anos de 1960, a idéia de pós-modernidade irá sustentar programas para enfrentamento cultural no âmbito da guerra fria, identificando, pelas mãos de Leslie Fiedler, “o surgimento de uma nova sensibilidade entre a geração mais jovem da América, que era uma geração de ‘excluídos da história’, mutantes culturais cujos valores - desinteresse e desligamento, alucinógenos e direitos civis - encontravam expressão e acolhida numa nova literatura pós-moderna”. A partir daí, segue o que conto. ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,1999, pág. 29. 56 Complexidade e Contradição em Arquitetura, recebido - quem diz isso é a Introdução de Vincent Scully - como “provavelmente o mais importante livro escrito sobre criação e produção de arquitetura desde Vers une Architecture, de Le Corbusier, de 1923” 55 . Nele Venturi reclamava por uma arquitetura que privilegiasse valores da pluralidade funcional e que se sustentasse por um maior relaxamento em relação à coerência significativa - o que se aproximava mais às “exigências simbólicas” da consciência psicológica americana daquela época. Isto significa que não haveria razão para a recusa de incorporação de elementos simbólicos oriundos da cultura de massa e da estética mercadológica pela arquitetura. Por que, afinal, a arquitetura não se permitia a ambigüidade formal e funcional? Por que não se render à vitalidade e às configurações heterogêneas do lugar onde ela se objetiva em troca da chatice óbvia da unidade modernista? Foi ali que Venturi mais divertiu do que advertiu quando subverteu a fórmula do mestre Mies - less is more - para uma versão mais ao gosto da época: less is boring. Para muitos, parecia ali um caminho controverso possível, na direção contrária à procrastinação alienante que sufocava o calendário modernista já há algum tempo56. Em 1972 publicam suas conclusões em tom de manifesto, no livro que leva o mesmo nome da pesquisa. Ali descrevem Las Vegas como uma cidade apoteótica do deserto57, impressa naquele nada como a linha divisória entre as aspirações modernistas e uma nova era pós-moderna, submetida às demandas do ambiente, atenta ao gosto popular e ao senso comum e generosamente distribuidora de diversidade cultural e icônica58. A Strip, o traço em faixa que desenha o corredor viário estabelecido pela Rota 91, vocifera, como um “fenômeno de 54 Para este tempo: VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. Aprendendo com Las Vegas. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, pág. 11/20. 55 VENTURI, Robert. Complexidade e contradição em arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004, pág.XIII. 56 Quando iniciei minhas atividades profissionais no final dos anos de 1970, o livro de Venturi e também, posterior (1977), o de Charles Jencks - Language of Post-modern Architecture, bastante mais polêmico nas críticas ao Movimento Moderno - já circulavam pelo Brasil. Lembro que as invectivas de Venturi e Jencks empolgavam animadas discussões sobre arquitetura, principalmente quando elas tomavam por apoio a Arquitetura Vernacular e a figura de Gaudi - a quem, na época, venerávamos - como um dos heróis da ‘complexidade’, da ‘ambigüidade’, da ‘contradição’ e único representante do “ecletismo radical” defendido por Jencks. 57 Idem, pág.40. 57 comunicação”59, o claro-escuro de milhares de luzes dispostas em signos que dizem ao mundo que ali é Las Vegas - um lugar único, disposto como “o letreiro mais comprido do mundo”60, anunciando a marcha indefectível de uma cidade de néon que se afirma, sem pudores, não como uma “construção para o Homem” e sim como “Construção para homens (mercado)”. De uma estrada, nada mais, a cidade-fenômeno - dos jogos de luz e dos jogos sem luz - servirá de contraste terapêutico para uma crítica iracunda à arquitetura moderna - apesar dos autores declararem, logo nas primeiras páginas, a “admiração intensa” pelo “período inicial [da arquitetura moderna], quando seus fundadores, sensíveis ao seu próprio tempo, proclamaram a revolução correta” 61 . Para eles, a ortodoxia arquitetônica moderna é intransigente, esteticamente intolerante e utopicamente purista, isto é, revolucionária, descontente com o presente e “insatisfeita com as condições existentes” 62 . É incapaz de se encantar com o “vernacular comercial”63 e com o espalhamento sistêmico da cidade que se anuncia à venda. “Andar numa praça é mover-se entre formas altas e envolventes”, isto é, naquela praça tradicional, organizada pelo monumento, pelos edifícios que a emolduram e pela vegetação. Como contraponto, o estacionamento de um grande shopping-center assume o valor da dispersão envolvente no apelo comercial: “andar nessas paisagens é mover-se por uma vasta textura expansiva: a megatextura da paisagem comercial” apenas unificada pela imagética simbólica impressa ao longo das bordas das vias expressas - “o símbolo domina o espaço”64. 58 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Op.cit., pág. 29 59 VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. Op.cit., pág. 27. 60 Idem, pág.64. 61 Ibidem, pág.14. 62 Ibidem, pág.25. Na seqüência do trecho: “A arquitetura moderna tem sido de tudo, menos tolerante: os arquitetos preferiram mudar o entorno existente em vez de realçar o que já existe”. 63 Ibidem, pág.28. O termo “espalhamento urbano”, que uso em seguida, foi, nesta edição de “Aprendendo...”, a conjugação utilizada para tradução de “urban sprawl”: significaria, para os autores, conforme nota na pág. 12, “o crescimento urbano horizontal, irregular, não planificado, desordenado, oposto ao que chamam de megaestruturas, planejadas e de maior densidade”. 64 Ibidem, pág.39/40. 58 Em Las Vegas, “o tempo é ilimitado, pois a luz é a mesma ao meio-dia e à meia-noite. O espaço é ilimitado, já que a luz artificial mais obscurece do que define suas fronteiras”65. Subsunção esquemática das “formas puras da intuição sensível” para os planos imanentes da mercadoria desavergonhada que se vende à luz do dia - e da noite -, possivelmente faria incomodar a condição transcendental da estética kantiana. Subsunção, porém, não só das dimensões transcendentais da sensibilidade: “Assim como uma análise da estrutura de uma catedral gótica não precisa incluir um debate sobre a moralidade da religião medieval, os valores de Las Vegas não são questionados aqui. A moralidade da propaganda comercial, dos interesses do jogo e do instinto competitivo não está em questão aqui, embora acreditemos que deveria fazer parte das tarefas mais amplas, sintéticas, do arquiteto, das quais uma tal análise seria apenas um aspecto.”66 As imoralidades eletivas de um tempo que esgota as últimas gotas do que resta do juízo ético, entram para a plasticidade de um tempo-espaço que confunde as fronteiras do que é claro e escuro, do que é lento ou veloz, o lugar de um sujeito que não se reconhece mais em nenhum objeto e está em todos os objetos: intencionalidades também eletivas. Deserto, passagem, efêmero, simbólico: miragem. Fim do segundo tempo. 65 Ibidem, pág.55. 66 Ibidem, pág.27. O grifo é meu. 59 #3 Prorrogação Bienal de Veneza, 1980: pela primeira vez a Arquitetura e o Urbanismo eram admitidos ao lado de cineastas e artistas plásticos. Os ânimos entre arquitetos, críticos de arte e até mesmo filósofos de várias partes do mundo - acho que posso afirmar isto - estavam, no mínimo, alterados. Uma confluência ímpar, trazia à boca da cena um conluio de referências e concepções arquitetônicas que, sob o leme de Paolo Portoghesi e contramestragem de Charles Jencks - que já, neste momento, reconhecia-se como o ‘fundador’ do pós-modernismo pelo tanto que provocara com sua defesa entusiasta do ‘movimento’ (é certo que após um curto período recalcitrante) - reunia 20 arquitetos “de renome” para compor, ao longo dos 320 metros de extensão da nave central de um antigo edifício de arquitetura quinhentista, a Cordoaria do Arsenal - um dos mais tradicionais sítios de Veneza -, alegorias de fachadas que comporiam uma insólita rua cenográfica chamada Strada Novissima. A partir dali, confirmava-se a chegada de uma ‘pós-modernidade’ nos territórios da produção arquitetônica e urbanística67. Em escala alterada, as fachadas reclamavam a monumentalidade que o próprio ambiente demandava, distorcendo não só a geometria de uma rua que é um dentro, mas também o tempo que traz de fora: referências, citações, compilações de toda a tratadística clássica e renascentista além de óbvias referências ao publicitarismo explícito (Venturi era um dos expositores, ressalte-se), evocando as regras da venustas e do marketing em todas suas possíveis variações. Volutas, plintos, capitéis, cartelas e cercaduras, columelas e cornijas apareciam ali como alegorias em forma de bravatas, dispostas com o impacto incomodante de quem chega, fora de hora, fazendo algazarra na missa de sétimo dia de um Movimento 67 A história da Bienal de Veneza de 1980, bem contada e dissecada por Otília Arantes, não deixa brechas para recontá-la e nem é o caso: passo-lhe a palavra. Ressalto apenas - e para os fins que me interessam - a fachada de 60 Moderno declarado morto desde 15 de julho de 197268. Não seria difícil farejarmos pistas de uma certa onda de indignação. Tratava-se de uma grita significativa, pois aquela “anamorfose, feita curiosidade de feira”69 alcançou o incômodo de muitas entre partes, na medida em que reclamava uma sintomática “Presença do Passado” (este era o nome da mostra) por uma operação analógica de dissolução temporal que flertava incomodamente com o esvaziamento simbólico de todo o projeto moderno. Nessa operação, o tempo e o espaço, diluídos e coalhados, permitiam uma espécie de sinonímia com a Strip de Las Vegas, aquela que tem “o maior letreiro do mundo”: a rua que é lugar fora, ali está dentro (em Las Vegas todo o aparato funcional dos edifícios fica desavergonhadamente exposto; dentro deles, o ambiente que se desejar, encontra-se); o tempo dos símbolos que ali são traduzidos, achata o tempo da sucessão geométrica (o tempo em Las Vegas, como vimos, é operado via comandos elétricos e interruptores); enfim, “... aquela rua aberrante parecia mesmo uma avenida de Las Vegas transportada para dentro de uma das mais tradicionais cidades do mundo”.70 A escala desconstruída provocava a anamorfose. Pois não se tratava apenas de elementos fora do lugar: para além disso, os elementos não correspondiam à escala em si mesmos, isto é, as fachadas, além da desproporção monumental, desregulavam a construção. A distorção operada atingia, assim, o núcleo duro da produção material na medida em que apenas faziam ‘cena’ do que certamente seria. Otília percebe isso: “Fantasiosas e extravagantes, tais fachadas não escondiam o papelão e as madeiras com que foram construídas nos estúdios da Cinecittá - tudo bem sinalizado para que , de surpresa em reconhecimento imediato, o visitante da mostra pudesse ter a sensação lisonjeira de figurar um filme de Fellini.”71 Hans Hollein. Para o resto da história ver ARANTES, Otília Beatriz Fiori. O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo: EDUSP, 1995, págs. 17 a 72. 68 Charles Jencks é quem sugere, em tom afirmativo, a data registrada: trata-se do “dia em que foi dinamitado o conjunto de Pruitt-Igoe, projetado por Yamasaki na década de 50, segundo os ‘ideais mais progressistas dos CIAM’” (ARANTES, Otília Beatriz Fiori. O lugar... Op.cit., pág. 49. Ver também ANDERSON, Perry. Op.cit., pág. 30; HALL, Peter. Cidades do Amanhã. São Paulo: Perspectiva, 2002, págs. 276 a 278; e HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 2003, pág. 45). 69 FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac Naify, 2006, pág.152. 70 ARANTES, Otília Beatriz Fiori. O lugar... Op.cit. , pág. 34. 71 Idem, pág. 30. 61 Mas não é só. A fachada do austríaco Hans Hollein é eloqüente: não só subvertia a escala como introvertia nessa subversão a lógica da construção, tudo entre as duas gigantescas colunas toscanas que sustentam a arquitrave da estrutura ‘verdadeira’ que delimitavam o continente daquela fachada. São quatro ‘colunas’ falsas. A primeira opera a magia mimética da coluna verdadeira, fielmente reproduzida como um tronco de árvore, “o modelo original da coluna”72 (se avaliarmos que sua altura chegava a aproximadamente mais de 8m e seu diâmetro em torno de 2m, podemos imaginar o que seria se a “verdade dos materiais” aqui fosse aplicada). A segunda reproduzia, segundo Otília, uma citação ao projeto de Adolf Loos para o Chicago Tribune73: parecendo o que não é, a falsa coluna apoiava-se, no lugar da base, em um predinho de 10 andares que não passaria de 3m de altura (aqui, o sustentado vira sustentáculo). Ao lado, uma outra falsa coluna, agora de mármore, ao invés de sustentar, era sustentada, pendurada na arquitrave superior que já fazia parte da estrutura do edifício. Como se ainda não suficiente, uma quarta falsa coluna roubava a aparência de uma comportada sebe, cuidadosamente aparada por algum jardineiro de Versailles. Significativo que esta última coluna não tocasse o chão: apenas uma haste denunciava a necessidade de algum vínculo estrutural. O que apóia recusa apoio e se faz apoiar no que normalmente reclama apoio. Maus modos à parte, a alegoria fazia bravata também com as regras da estática: num faz-de-conta que, se ao mesmo tempo acusava que sabia reproduzir alegoricamente as 72 Idem, pág. 34. 62 imensas colunas toscanas que sustentam a arquitrave - essas, ‘de verdade’ -, subvertia a ordem natural - no sentido forte - da lógica material e da estática - esta que faz as coisas pararem de pé. Não muito longe dali, ancorado junto à antiga Alfândega, uma balsa carregava mais uma alegoria - dessa vez em síntese que não abandonou a significação, como quer Otília74 : o Teatro do Mundo, um projeto de Aldo Rossi (também presente na Strada Novissima) para o Carnaval de Veneza de 1979, aportava junto à mostra fazendo referência a uma “velha tradição veneziana, documentada na iconografia dos séculos XVI e XVII, a de um teatro sobre barco”75. O Teatro é, em si, cenário: balançando suavemente no ancoradouro junto ao edifício da Alfândega, a construção é a anamorfose deste último, recuperando elementos recolhidos aqui e acolá da profusa arquitetura veneziana. Aldo Rossi havia publicado “A Arquitetura da Cidade” em 1966 significativamente, no mesmo ano em que Venturi publicara seu “Complexidade e Contradição em Arquitetura”. Nele, Aldo Rossi também reclama dos modernos, lamentando quanto ao declínio dos valores estéticos tradicionais, da importância da História e da contingência de sua 73 Ibidem. 74 Idem, pág.42. 63 construção como “fato urbano”: “Entendo a arquitetura em sentido positivo, como uma criação inseparável da vida civil e da sociedade em que se manifesta; ela é, por natureza, coletiva. Do mesmo modo que os primeiros homens construíram habitações e na sua primeira construção tendiam a realizar um ambiente mais favorável à sua vida, a construir um clima artificial, também construíram de acordo com uma intencionalidade estética. Iniciaram a arquitetura ao mesmo tempo que os primeiros esboços das cidades; a arquitetura é, assim, inseparável da formação da civilização e é um fato permanente, universal e necessário.”76 Reagia, dessa forma, à idéia de que pudesse existir um homem universal - um homem-tipo, como preconizado pelo Movimento Moderno - que demandaria uma arquitetura produzida a partir de referencial padronizável. Acreditava que a arquitetura - e a cidade, por conseguinte - era produzida de forma contextualizada e que assim deveria ser. Invertendo a idéia moderna de prototipar o sujeito adequando-o a uma arquitetura universal, Rossi propõe a impossibilidade de reprodutibilidade na arquitetura através de modelos: assim, não se faria arquitetura, strictu sensu. No entanto, identifica a persistência de uma constante - pistas, aqui, da antropologia estrutural (Rossi foi leitor de Sausurre) - que “pressupõe conceber o fato arquitetônico como uma estrutura que se revela e é reconhecível no próprio fato”77. Se essa constante, então, for compreendida como um “elemento típico, ou simplesmente tipo” ela “poderá ser encontrad(a) em todos os fatos arquitetônicos”: “O tipo é, pois, constante e se apresenta com características de necessidade; mas, mesmo determinadas, elas reagem com a técnica, com as funções, com o estilo, com o caráter coletivo e o momento individual do fato arquitetônico.”78 Essa inversão parece-me importante: ao invés de moldar o homem em função de uma arquitetura, por que não moldar a arquitetura em função da diversidade humana? Uma certa arrogância presente nos pressupostos de origem formulados pelo Movimento Moderno sempre atiçou inúmeras invectivas de todas as partes. No entanto, as proposições do professor Rossi pareciam escapar, pela primeira vez, das injúrias aleatórias sem filigrana, sustentadas por um rigoroso e metódico trabalho de pesquisa e análise. Refere-se a um contextualismo que 75 Ibidem. 76 ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2001, pág.1. 77 Idem, pág. 26 . 64 respeitaria a “mutações, mudanças, (...) fenômenos particulares acidentais como as guerras ou as expropriações” por exemplo, como contingências que, necessariamente, “podem subverter em pouco tempo situações urbanas que pareciam definitivas” ou então modificações mais lentas, que produziriam mudanças em mais largo prazo. Reconhecia, então, que “em todas essas modificações, atuam muitas forças que se aplicam à cidade; essas forças podem ser de natureza econômica, política ou outra”79. Isso tudo pode parecer óbvio mas basta ver como os edifícios se relacionam entre si e entre si e a cidade para percebermos como ainda muito falta ser dito. No entanto, aquela não muito pequena balsa carregando o Teatro do Mundo - um aparato vestido para a tradicional festa veneziana, praticando cabotagem estilística no Grande Canal de Veneza - faz sutilmente falhar o chão sob os pés de seus argumentos: representação da representação, o Teatro do Mundo consegue apenas assegurar a significação nos termos de um discurso de releitura historicista, impondo, ao invés da franca contextualização dentro da inconstante materialidade do meio e do momento, uma arquitetura também simulada. Ao defender que “as obras da história da arquitetura constituem a própria arquitetura” - com a licença de Hegel -, Rossi reconduz a arquitetura a territórios distantes das dimensões materiais desta história - apesar de reafirmá-la - na medida em que lhe confina, em um modo de estilo, a relações gestuais de caráter simbólico ou formal, denegando pertinência, no modo, de todas as relações materiais e práticas de construção dessa arquitetura. Simulação, fantasia, imagem, alegoria. Fim da prorrogação. 78 Idem, págs. 26 e 27. 79 Idem, pág. 210. 65 #4 Irônico. Porque ao mesmo tempo em que o pós-modernismo em arquitetura e urbanismo propõe distanciamento e ruptura em relação ao Movimento Moderno, duplica a distância de seus propósitos teóricos em relação ao mundo da vida. Isto porque não faz o caminho de volta, isto é, ao negar os pressupostos modernos, insistindo na complexidade e contradição (less is boring!), na referência historicista e na estética luminosa da cidade-cassino-mercadoria, esse pós-modernismo consegue apenas galgar mais um grau no nível da abstração reificada: aprofunda mais ainda, ao se alinhar à ideologia do consumo e do mercado80, o abismo entre os campos pantanosos de produção material da vida - aquele das vicissitudes cotidianas, o mundo da necessidade - e as mecânicas rangentes de produção material do edifício e da cidade. Ironia: porque seria justamente a direção a este mundo da necessidade - a “locomotiva proletária”, lembremos - que a proposta de ruptura pretendia alcançar. Se, no entanto, isso se dá justamente por dentro do próprio corpo daqueles mecanismos que produzem o estranhamento entre produto e produtor, entre sujeito e objeto, o resultado não é menos que a duplicação, nos termos de Lukács, do reforço à alienação pela reificação acabada dos meios. Se nos primeiros tempos modernos, objetivação intransigentemente solúvel de pressupostos abstratos, nos anos pós-modernos, introjeção inconseqüente da objetificação alienante, em ato pensado, reprisada e repisada. Como diz Otília Arantes, uma “arquitetura simulada”81. No entanto, simulação não evasiva, se liquidadas as faturas que dela cobram as fraturas necessárias para a manutenção de um “mundo administrado”, no sentido de Adorno e Horkheimer. Mas isto é assunto para mais 80 Venturi e Scott Brown são taxativos ao insistir que não discordam “dos muitos arquitetos de hoje que, tendo descoberto na prática, por meio da pressão econômica, que a retórica da revolução arquitetônica [aquela, dos modernos] não iria funcionar, livraram-se dela e estão construindo prédios de acordo com as necessidades do cliente e da época” (VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. Op.cit. pág. 14). 81 ARANTES, Otília B. Fiori. O lugar.... Op.cit, págs. 17 a 72. 66 tarde. Por hora, pretendo apenas contrastar os tempos que registrei, organizando um pouco alguns eventos significativos que orientaram e estruturaram, em nossa história recente, um corpo significativo de referências que não só alimentam os afazeres do ofício como também o debate contemporâneo sobre a organização racional da cultura. No primeiro caso, como arquiteto e ‘fazedor’ do ofício, quero ressaltar que principalmente a arquitetura e talvez um pouco menos o urbanismo, como disciplina que se administra fundamentalmente pelo olhar e pela fruição, pelos seus sinais e pela sua construção, não seria difícil perceber como o imaginário disposto pela iconografia e pela experiência tátil nos afeta: fazemos igual reinventando, adequando, reformulando o que aprendemos vendo e experienciando. Assim, ser ‘moderno’ não significa necessariamente pactuar com as disposições modernistas; negá-las, não significa necessariamente ser pós-moderno. Uma das atribuições do ofício é especificar exaustivamente toda a construção (materiais e serviços) e todo o constructo industrial vem sendo formatado a mais de um século em profunda simbiose com os elevados pressupostos da teoria modernista e, ao mesmo tempo, atendendo e fomentando a linguagem pós-moderna82. Como já disse, padecemos de um certo internalismo crítico - até bastante prolixo - que ao menos nos coloca a postos quando percebemos que alguma coisa vai mal. Só aí alcançamos alguma conexão com o debate mais amplo, mas normalmente e principalmente, pelo viés da discussão sobre cidade, planejamento, sociologia, antropologia e história urbanos. Fora as questões mais esotéricas tratadas entre estética em arquitetura e a filosofia - que já sedimentaram arcabouço próprio - mais recentemente e com a contribuição de quem se dispôs 82 Registro aqui o que pretendo retomar ao final deste trabalho: detemo-nos sobre a obra de alguns poucos arquitetos e, maioria das vezes, a produção extensa da arquitetura do dia-a-dia quando muito alcança o debate acadêmico ou faz parte de uma ‘não-arquitetura’, uma espécie de inversão comercial do objeto arquitetônico estabelecido exclusivamente por injunções extrínsecas. Se imaginarmos a quantidade de escolas de arquitetura e urbanismo esparramadas pelos quatro cantos do país e se considerarmos que a sala de aula consegue apenas administrar algumas referências mais ou menos constantes, com algumas variações pertencentes a uma ordem formal razoavelmente formatada, fica fácil concluir porque a arquitetura que fazemos é esta que vemos e não outra. Mesmo em terras de “brutalismo caboclo”, que se abastece de referências formais e funcionais colhidas às beiras de um desenvolvimento do capitalismo periférico, a chave de reprodução continua sendo a mesma - parece-me.. 67 olhar de fora para dentro, a discussão também se estendeu para questões sobre modernidade cultural, estética urbana, arquitetura e cidade como objetos estéticos - e mercadoria; etc. Quanto aos porões empoeirados e fumarentos da construção, muito pouco ou quase nada se fala - o que dá no mesmo. É pela segunda porta que entra Habermas. Ao insistir na modernidade como um projeto inacabado, Habermas atravessaria, em duas oportunidades e para sua defesa, o território minado pelos cruzados da pós-modernidade, em campanha pelos desertos americanos, entrincheirados na Strada Novissima de Veneza ou vigiando seus canais embarcados no Teatro do Mundo. Tratava-se de, particularmente na arquitetura e urbanismo, verificar a validade dos pressupostos estabelecidos nos primórdios do Movimento Moderno – ou se aquela programática não era mais do que letra morta. A sua presença nesse campo específico de debate não deixou de suscitar estranhamentos. É certo, no entanto, que Habermas já vinha construindo, para aplicação em âmbitos mais amplos, seus argumentos a favor da permanência de determinados aspectos do receituário moderno que julgava ainda prevalentes e defensáveis. As questões quanto à crítica demolidora entranhada, entre outros, na dialética negativa ou nos becos sem caminhos desenhados pelos pós-estruturalistas, segundo ele bastante responsáveis pelas dimensões aporéticas do pensamento presente, serão registradas de forma acabada em 1985: “A crítica radical à razão paga um preço elevado pela sua despedida da modernidade. Em primeiro lugar, estes discursos não podem e não querem prestar contas do lugar que ocupam. A dialética negativa, a genealogia e a desconstrução furtam-se de modo semelhante àquelas categorias de acordo com as quais o saber contemporâneo, de uma forma nada contingente, se diferenciou e que, hoje em dia, colocamos na base da nossa compreensão dos textos. Tais discursos não são vinculáveis sem ambigüidades nem à filosofia ou à ciência, nem à teoria da moral e do direito, nem mesmo à literatura ou à arte.”83 As ilações de Habermas o levariam, entretanto e em diversos momentos, a se pronunciar sobre âmbitos mais restritos da produção estética, da teoria da moral do direito e dos discursos científicos. Ao que parece, o filósofo pretenderia, assim, checar a validade de sua 68 concepção de racionalidade dialógica, de intersubjetividade comunicativa e de sua teoria de ação a partir e por dentro dos âmbitos privados de ação específica. Guardada esta chave como talvez um emblema de sua estratégia política de abordagem das questões que trata, é compreensível - mesmo que discutível - a sua presença em campos que não lhe são familiares. Isto fica claro no Prefácio do seu “O Discurso Filosófico da Modernidade” na medida em que afirma pretender ocupar-se com a crítica proposta pelo pós-estruturalismo francês (ou neo, em edição portuguesa) justamente a partir de preocupações que o ocuparam desde o discurso proferido em Frankfurt, em 1980. Não é a toa que seu “A Nova Opacidade” (ou, na tradução de Carlos Alberto M. Novaes para o CEBRAP, “A Nova Intransparência”) tenha vindo à luz no mesmo período de “O Discurso...”: como o autor afirma, trata-se de “suplementos ao discurso filosófico da modernidade de teor mais político” 84 , repartindo discurso e política numa operação que aparentemente recusa a possibilidade de um terreno comum. 83 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Op.cit., pág. 309. 84 Idem, págs. 11 e 12. O grifo é meu. 69 MODERNIDADE em um PONTO CEGO #1 Tentando ajeitar um pouco as coisas, escavo um subsolo que, talvez, cause algum estranhamento. Mas parece que essa investigação geomorfológica do pensamento ajuda a flagrar alguns aspectos que, às vezes, não se mostram sem alguma arqueologia mais profunda. Volto aos românticos, para bem antes de La Sarraz. Schiller, ao defender a vitalidade da arte (e da ciência, num segundo momento) em suas Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade, “a causa da Beleza perante um coração que sente seu poder e o exerce”85, convoca a atividade filosófica para sua mais nobre tarefa: a maior de todas as obras de arte, “a construção de uma verdadeira liberdade política”86 que só seria possível por entre e através da Beleza (resíduos arcaicos daqueles raros territórios onde a autonomia ainda pareceria inviolável - até mesmo para Adorno, em toda sua pesada negação da possibilidade de reconciliação)87. Um pouco mais adiante, já identifica o entrave que assombraria qualquer intentio que orientasse o empreendimento proposto: “Ele [o homem] desperta de seu torpor sensível [frente à natureza contingente], reconhece-se homem, olha à sua volta e encontra-se - no Estado. O jugo da necessidade para aí o arremessou, antes que em sua liberdade pudesse escolher esta situação; a carência aí instaurou a simples legislação natural, antes que ele pudesse instaurá-la como racional.”88 Identifica na figura do Estado, que discute nas Cartas seguintes e à luz da abordagem kantiana (que anuncia como guia já no início das Cartas), o corpo político que se 85 SCHILLER, Friedrich. Cartas sobre a educação estética da humanidade. São Paulo: EPU, 1991, pág. 35 86 Idem, pág. 37. 87 “...a Arte é filha da liberdade e quer ser legislada pela necessidade do espírito, não pela carência da matéria” (Idem, pág. 38). 88 Idem, pág. 40. 70 organiza a partir da força e não a partir de um conteúdo normativo moral estabelecido por decisão livre das forças que o cegam e o impedem rumo à emancipação (quase diríamos, através da “intersubjetividade dialógica”). Esse Estado seria o Estado Natural - regido pela força - que deveria ser transformado em Estado Moral por uma razão que confrontaria o “homem físico e real” ao “homem moral e problemático”. No entanto, essa razão, apesar de indicar ao homem o que poderia ser seu - a liberdade -, cega-o, por uma artificiosa operação ideológica que transforma a necessidade numa determinação racional, e não lhe dá tempo para submeter-se por sua própria vontade e “em nome de uma humanidade (...) ela terá tirado sob seus pés a escada da natureza” 89 e terá criado aquela segunda natureza que o domina despoticamente: o Estado Natural (a esfera do social, como veremos em Hannah Arendt). Por isso, a tarefa é complicada: faz-se necessário trocar os pneus com o carro em movimento (atualizando a imagem do relojoeiro que precisaria consertar o relógio enquanto funciona). Para tanto, seria necessário um termo médio, de transição (como a imaginação que cumpre, em Kant, o papel de único possível acordo entre razão e sensibilidade90), que assegurasse a diversidade e variedade que preserva no homem a sua animalidade - sem, contudo, encarcerá-lo nesta condição: “Quando, portanto, a razão transporta para a sociedade física sua unidade moral, ela não deve ferir a multiplicidade da natureza. Quando a natureza procura afirmar sua multiplicidade no edifício moral da sociedade, isto não deve acarretar à unidade moral prejuízo algum; a forma vitoriosa repousa a igual distância de uniformidade e confusão. É preciso encontrar totalidade de caráter, portanto, no povo que deva ser capaz e digno de trocar o Estado da necessidade pelo Estado da liberdade”.91 À procura de um “coração cordial”, Schiller contrapõe o pobre selvagem ao nobre bárbaro: aquele, regido pelo determinismo da necessidade - onde encontra a justificação para sua dissolução; o outro, julgando-se ilustrado pelas obras do entendimento refinado, apenas encena “o espetáculo ainda mais repugnante da languidez e depravação do caráter, mais 89 Idem, pág. 41. 90 Idem, pág. 42. A comparação com Kant é nota de Anatol Rosenfeld. A formulação que monto é a partir de notas de aulas do prof. Bento Prado. 91 Idem, pág. 47. 71 revoltante por ter sua fonte na própria cultura”. E é aqui onde pobre e nobre se encontram: “A cultura, longe de dar-nos a liberdade, através de cada força criada cria também uma nova necessidade”92 Nessa opereta bufa onde pobre e nobre cumprem papéis diferentes mas que conduzem igualmente a liberdade para territórios longínquos, permanece a forma original impeditiva de plena realização daquela promessa, constituindo, para Schiller, o mal de sua época: pela imposição de formas organizativas estruturadas a partir de uma constituição que considera “bárbara”, o Estado tornar-se-ia o algoz de qualquer possibilidade de construção de uma nova humanidade educada pelos sentidos. Na Carta IX , Schiller inicia perguntando se não estaríamos “andando em círculo” na conturbada procura de uma mítica concordância entre teoria e prática, entre razão e sensibilidade. Formula, então, a pergunta: se considerássemos a promessa mecanicista, a “cultura teórica” não deveria “propiciar a prática, e esta seria a condição daquela?” Pretende, então, “encontrar um instrumento que o Estado não dá (e não domina) e abrir fontes que se conservem limpas e puras apesar de toda a podridão política”. E afirma: “Este instrumento está nas belas-artes, estas fontes abrem-se em seus modelos imortais”93. #2 Apesar do vitalismo sempre justificar interpor ressalvas à lucidez obscura dos poetas e filósofos românticos, eles não deixaram de iluminar alguns cantos sombreados, mais adiante vislumbrados por um contingente bastante amplo de pensadores - como procurei mostrar. Nascido como uma das primeiras manifestações mais sonoras de incômodo e 92 Idem, pág. 48 e 49. O grifo é meu. 93 Idem, pág. 63. 72 desconfiança frente a hiperfagia da Ilustração, o Romantismo - particularmente o alemão externava essa indisposição perante a fé incondicional no conhecimento e na razão, principalmente aquela pregada pelo Iluminismo de lavra francesa, dirigindo o questionamento justamente em direção ao núcleo de sustentação dessa fé: o sujeito do conhecimento. Não vou me estender por esse caminho: corro o risco de simplificar demais as coisas. Apelo apenas a este comentário para sugerir que, muito das polaridades e oscilações que mobilizaram os ‘pioneiros do Movimento Moderno’, certamente reverberou alguns debates que, por certo, ainda hoje não foram superados. Registro, portanto, a ressalva de que reconheço uma continuidade do processo histórico e assim tentarei fazer prevalecer este reconhecimento como partido de princípio de minhas abordagens: não acredito em rupturas que não aquelas engendradas pelo lento ir e vir das elipses do conhecimento, construindo as ciclóides que batizamos, entre altos e baixos e para efeito cômodo de um raciocínio parcelar que não quer ser importunado, com os ‘ismos’ tão presentes nos olhares empoeirados de nosso tempo94. Um legado da ‘nossa’ modernidade, poderia dizer. Com efeito, a idéia de modernidade não surge sem mais. Num dos discursos que provoca o debate no qual me intrometo - “Modernidade - um projeto inacabado” - proferido por Habermas em 11 de setembro de 1980, quando recebe o Prêmio Adorno da municipalidade de Frankfurt e provocado pela mostra dos arquitetos na Bienal de Veneza (“O Presente do Passado”) - o filósofo relembra, citando Hans Robert Jauss, que o termo moderno tem assento em muitos períodos da história da humanidade, com data de nascimento lá por volta do século V, “para marcar o limite entre o presente, que há pouco se tornara oficialmente cristão, e o 94 “O rancor contra o que se denomina ismos, contra correntes artísticas programadas, conscientes de si, representadas se possível por grupos, responde à dor da experimentação. (...) O que pode haver de verdade na comparação da arte com o organismo [sociedade monopolista totalmente organizada] é mediatizado pelo sujeito e pela sua razão. Esta verdade entrou desde há muito ao serviço da ideologia irracional da sociedade racionalizada; eis porque são mais verdadeiros os ismos que a recusam. De nenhum modo entravaram as forças produtivas individuais, mas antes as intensificaram, e graças sobretudo a um trabalho colectivo” (ADORNO, Theodor W. Teoria estética. Lisboa: Edições 70, 1970, pág. 37). 73 passado romano-pagão”95. As querelas entre clérigos, sacerdotes e intelectuais laicos no século XII retomariam a palavra sob outros termos ao recolocar “em marcha a máquina da História” e conotaria, aos olhos dos monges instalados nas estruturas feudais, uma “vontade de ignorar o tempo”, uma “espécie de fim da história”96. Neste momento, ‘ser moderno’ daria sentido ao contraponto entre o racionalismo de Chartres, sustentado pela crença na razão (“Não há outra autoridade senão a verdade comprovada pela razão”97) e na onipotência da natureza, e a reação vigorosa de uma linha mais conservadora, comandada por um Bernardo Claraval - o São Bernardo que, em meados do século XII, praticamente comandava todo o mundo cristão98. O uso da palavra moderni - como se auto-intitulavam os clérigos alinhados com aquele racionalismo - não significava, no entanto, a negação ou proscrição dos antigos: pelo contrário, conforme Le Goff e como também lembra Habermas, “os imitam e se nutrem deles, se apóiam em seus ombros”99. Autodenominar-se moderno significaria, então, ‘pensar e agir ao modo de hoje’100 mais do que propriamente uma reação destampada e proscritiva em relação ao passado. Dessa forma, o título certamente ganhava outra conotação, denotando posturas, estados de espírito ou plataformas políticas, próprios a cada época. Se o século XII é moderno, também o XV e XVI, com o Renascimento, assim se postulam (e é neste momento que registramos o início da nossa modernidade, como frisa Habermas101). Também a virada do XIX e XX lançaria mão da palavra, fazendo locução de um certo “espírito do tempo”, o surrado Zeitgeist que tanto se fez anunciar (entre os arquitetos inclusive). Talvez o que estabeleça o mínimo de sentido 95 HABERMAS, Jürgen. “Modernidade - um projeto inacabado” in ARANTES, Otília Beatriz Fiori; ARANTES, Paulo Eduardo. Um ponto cego no projeto de Jürgen Habermas - arquitetura e dimensão estética depois das Vanguardas. São Paulo: Brasiliense, 1992, pág. 100. 96 LE GOFF, Jacques. Os intelectuais na idade média. São Paulo: Brasiliense, 1995, pág. 25. 97 Honório d’Autun, um dos humanistas chartrianos, citado em LE GOFF, Op.cit., pág. 51. 98 Idem, pág. 45. 99 Idem, pág. 23. Os “ombros” é a crédito de uma famosa frase de Bernardo de Chartres, citada por Le Goff: “Somos anões empoleirados nos ombros de gigantes. Assim, vemos melhor e mais longe do que eles, não porque nossa vista seja mais aguda ou nossa estatura mais alta, mas porque eles nos elevam até o nível de toda a sua altura...” (Idem, pág. 25). 100 Com efeito, a palavra aparece no latim escolástico, no século VI; é cunhada , em latim tardio, a partir da contração entre ‘modus’ - “agora mesmo; no momento; à maneira de” - e ‘hodiernus’ - “de hoje; que procede ou atua no dia de hoje” (LALANDE, André. Op.cit., pág. 693 e TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Porto: Edições Maranus, 1945). 74 comum a cada época seja o fato de que um estado de espírito coletivo, formulado por um número de postulantes significativo, reúne e demanda uma reação, também coletiva, a um determinado modus operandi instalado. Daí, ser moderno nada mais seria que mudar o conjunto de procedimentos que reproduzem as coisas como elas são. Criar o novo, então, nada mais seria que reinventar o velho: “Sem dúvida, a noção de Moderno remonta cronologicamente muito atrás do Moderno enquanto categoria filosófica-histórica; mas esta não é cronológica.”102 Qual seria, portanto, essa Modernidade que Habermas defende e o faz paramentar-se em defesa? Conforme o filósofo, seria apenas com o advento do Iluminismo francês e em virtude de uma inabalável crença no progresso material da humanidade assegurado pelo “progresso infinito do conhecimento”, que paulatinamente se dissolveria a concepção de uma modernidade que se permite olhar para o futuro sustentada pelos ombros do arcaico - muito embora extraia sua força “da autenticidade de uma atualidade passada”. Esta parece ser, então, a ‘moderna’ concepção de Modernidade para Habermas:”aquilo que proporciona expressão objetiva a uma atualidade do espírito do tempo que espontaneamente se renova” mas que produz seu próprio passado103. Quase extraímos desse raciocínio, a inversão do nome da mostra que enseja a palestra de Habermas: o passado do presente. Este expediente, entretanto, implicaria, nos territórios da arte - pelo menos -, alguns “sinais de desorganização”, segundo Adorno, (ou “desagregação”, na tradução da fala de Habermas) que se evolam do “turbilhão devorador” que se volta desesperadamente contra a normatividade do “sempre idêntico”, contra o tempo da tradição. Este seria o sinal inequívoco da autêntica modernidade 104 . No entanto, a consciência do tempo que se faz consciência estética na modernidade serve-se do passado ao mesmo tempo em que se rebela contra o passado esterilizado: o dos museus, por exemplo. 101 HABERMAS, Jürgen. “Modernidade - um projeto inacabado”, Op.cit., pág. 100. 102 ADORNO, Theodor W. Op.cit., pág. 47. 103 HABERMAS, Jürgen. “Modernidade - um projeto inacabado”, Op.cit., pág. 101. 104 Conferindo citação de Habermas em ADORNO, Theodor. Op.cit., pg. 35, in HABERMAS, Op.cit., pág. 104. 75 Ampliando a idéia de um ‘projeto de Modernidade’, levando-a para além do universo das artes, conforme Habermas e com a ajuda de Weber, esta só se tornaria evidente a partir da constatação de uma ruptura dos campos de organização racional da cultura, promovendo a fragmentação das imagens de mundo em “esferas de valor”, radicalizando posições dentro de um sistema cultural de ação específico: no caso, um campo híbrido de conhecimentos que apenas se unifica na forma discursiva, constituído por acúmulo e superposição de conhecimentos parcelares provenientes dos sistemas culturais de ação parcialmente abrangentes e que manteriam, entre si, mecanismos autônomos de regulação: os territórios da ciência, da moral e da arte (conhecimento técnico-científico / doutrina de regulação jurídica e moral / produção artística e crítica de arte)105. Não há como distrairmos a subsunção deste esquema à ‘arquitetura’ triádica do edifício filosófico construído por Kant: parece-me possível dizer que, para Weber e com a concordância de Habermas106, essa ruptura coincidiria na decifração kantiana desse processo de ruptura que dá a forma moderna - a nossa - de organização racional do conhecimento. Se isso é verdade, não estaria errado concluir que Schiller inicia sua cruzada para a constituição de uma humanidade educada pelos sentidos já a partir da crítica de uma imagem de mundo cindida e, portanto, no mínimo problemática. Habermas não deixa passar desapercebido. Segundo ele, na procura de um ‘coração cordial’ em Schiller, “a promessa que a intuição estética faz, mas não cumpre, ainda tem a figura explícita de uma utopia que aponta para além da arte”107. Parece-me já aí um conflito sério para sustentar a modernidade arquitetônica como avalista de um projeto de modernidade, na medida em que as ilações do Schiller de 1795 nos levam a crer na possibilidade de um movimento unívoco, de uma “esfera de valor” em direção a outra, do território das artes em direção ao território da normatividade prática, pretendendo a maior de todas as obras de arte, “a construção de uma verdadeira liberdade 105 Idem, pág. 109 e 110. 106 Idem, ver págs. 112 a 114. 76 política”, como vimos, através da eleição de um termo que permita “abrir fontes que se conservem limpas e puras apesar de toda a podridão política”: as belas-artes. Se bem que sob o signo da revolta surrealista, o próprio Habermas reconhece que “uma prática do dia-a-dia reificada, que aspira à consonância, sem constrangimento, do cognitivo com o prático-moral e com o estético-expressivo, não pode ser sanada pelo vínculo com um dos âmbitos culturais violentamente rompido.”108 Parece-me ainda que a postura implícita nas formulações de Schiller assumirá dimensões no futuro - para o tempo e para depois de La Sarraz - no mínimo discutíveis: prefiro achá-las ‘perigosas’, principalmente quando justapostas às dimensões iluministas que apostavam no desenvolvimento infinito das possibilidades humanas pelas mãos da ciência e da técnica. Desse pasticho, parece-me certo, o fato de o Movimento Moderno se autodelegar o papel pluripotenciário de ‘mudar o mundo’ pelo seu objeto de ação nesse mundo - o edifício e a cidade - é amplamente legitimado pela concepção que tem sua genealogia passando pelas confabulações schillerianas. Numa palavra, parece que as concepções de Schiller vazam a própria crítica, sem nenhum termo conciliatório - se é que possível - e instalam-se na mais profunda intimidade do Movimento Moderno. Numa visão de mundo fraturada, sem que se traga à cena a lógica interna que unifica o processo de organização racional da sociedade, fica seriamente comprometido o programa que atribui às artes em geral e à arquitetura em particular uma ‘promessa de felicidade’ - do “mundo da necessidade” rumo ao “mundo da liberdade”: liberdade moral, intelectual e política; fartura e disposição igualitária frente às necessidades da vida; tempo livre para aprimoramento do espírito; direito à beleza e à fruição do belo sem as amarras da utilidade e da atividade orientada ‘a fins’ etc. Talvez William Morris, em seu “Notícias de lugar nenhum - ou uma época de tranqüilidade” 109 , fosse um dos únicos a 107 Idem, pág. 115. 108 Idem, pág. 117. 109 Poderia dizer com alguma segurança, que o caso de Morris - pela sua trajetória profissional, pelas suas convicções políticas, seu envolvimento com as organizações de luta social e pelo criterioso “juízo de gosto” que lhe era peculiar - denuncia alguma lucidez, ainda que frágil, em meio aos destemperos próprios de um momento em que a fé na razão ganha “força motriz, transmissão e ferramentas” mais sofisticadas. O texto do livro foi publicado em capítulos no jornal da Liga Socialista - que ajudara a criar em 1884 -, o The Commonweal, de janeiro 77 perceber as limitações do programa: por isso as ‘notícias’ são de ‘lugar nenhum’ - utopos. Certamente, Habermas, ao defender o projeto moderno tendo como calço o programa de modernidade construído pelos arquitetos do Movimento Moderno, encontraria sérias dificuldades para sustentá-lo. O faz, mas não sem deixar ‘pontos cegos’ no limiar de suas considerações. Mais adiante, passo a palavra àqueles que os identificaram. Faço uma pausa para convidar à cena a habilidade característica das personagens principais deste trabalho. #3 Retomo a promessa mecanicista e seu rebatimento nos fundamentos de uma crença absoluta no processo de emancipação através do desenvolvimento material da humanidade. Uma “ordem do conhecimento” que se relaciona diretamente com uma “ordem da realidade”, habilidade necessária à ação, a forma de um ato que subjaz uma atividade, inteligência das mãos que se esparrama na fabricação do mundo, a técnica é a herança errática que nos chega de gesto em gesto, sujeita a metamorfoses significacionais - originalmente colada à idéia de arte (era arte, veremos, polissemia abusada) - e que, juntamente com a ciência, produz o pórtico que sustenta a arquitrave da cultura, sob a qual a humanidade há de seguir emancipada. Freqüentemente aparecendo juntas, ciência e técnica comporiam o meio instrumental para a conquista objetiva do ‘reino da liberdade’. O desenvolvimento de um aparato tecnológico, que se pensa a si mesmo e se faz tecnologia, seria, para a arquitetura do Movimento Moderno, não só o instrumento imanente a outubro de 1890. A edição brasileira: MORRIS, William. Notícias de lugar nenhum - ou uma época de tranqüilidade. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. 78 para sua reprodutibilidade objetiva, como também o recurso privilegiado para aquele profundo entranhamento das conquistas realizadas pelo progresso tripartido nos âmbitos da ciência, da moral e da arte no mundo da vida: uma das premissas fundantes do ideário modernista. Proliferaram, obviamente, difrações no conteúdo deste ideário. Por diversas vias, no entanto, prevaleceria a concepção racionalista de desenvolvimento técnico na arquitetura e no urbanismo - ainda que com significativas variações: confabulando um acirrado desenvolvimento da técnica construtiva, compreendida como habilidade orientada a fins e correlata aos meios de produção, e quando disposta como método eficientemente operado por aqueles que lhe dominam a alma, seria possível ampliar seu poder de supressão das necessidades materiais e a profunda imersão de seus objetos reinventados - no mundo da vida, concedendo-lhe beleza e utilidade como um só momento da existência. Na arquitetura, este programa assumiria - com sinais trocados, sabemos110 - as cores de um ‘manifesto’ intransigente perante a “letargia” do nobre bárbaro de Schiller (quanto ao pobre selvagem, não há referências): passo a palavra a Charles-Édouard Jeanneret-Gris, o Le Corbusier da Carta de Atenas. Suíço, nascido em 6 de outubro de 1887 e naturalizado francês em 1930, Le Corbusier - já nosso conhecido - comporia matéria significativa e abundante para a composição do ideário modernista. Sua obra fala mais que seus escritos, expondo algumas ambigüidades que parecem recalcadas nas tonalidades do seu discurso111. Trago aqui algumas referências a título de expressão dessa modernidade na arquitetura a partir da qual Habermas constrói sua defesa do projeto moderno. Logo no prefácio de “Precisões”, de 1929, Corbusier formula o problema dos arquitetos: que é o problema da humanidade. Qualquer sonoridade parecida com o canto feiticeiro da bruxa nos versos de Goethe é mera coincidência: 110 Comento sobre a inversão de sinais no quarto Ensaio. 111 Sérgio Ferro desenvolveu pesquisa a respeito, abordando aspectos pouco usuais nas análises corriqueiras da lavra corbusiana: FERRO, Sérgio. “Desenho e canteiro na concepção do convento de La Tourette” (págs. 214 a 221) e “O ‘material’ em Le Corbusier” (págs. 241 a 251) in Arquitetura e... Op.cit., págs. indicadas. 79 “Nosso problema é o seguinte: os homens habitam a terra. Como? Por quê? Outros lhes darão a resposta. Meu dever, minha busca, é tentar colocar este homem de hoje fora da infelicidade e da catástrofe; é colocá-lo na felicidade, na alegria cotidiana, na harmonia. Trata-se particularmente de restabelecer ou estabelecer a harmonia entre o homem e seu meio.”112 Le Corbusier não hesita reputar, como instrumento para alcançar o ‘cumprimento de seu dever’, as técnicas e as ordens estabelecidas pela civilização maquinista: sob o título “As Técnicas são a própria base do Lirismo, elas abrem um novo ciclo da Arquitetura”, responde ao problema que atribui a si resolver e afirma o que segue mais adiante, em conferência proferida em Buenos Aires em 5 de outubro de 1929. Culminando sua fala com um desenho esboçado perante o público, defende, sob a linha com o intrigante cachimbo que separa o domínio do “que é” do território das “emoções”, quais seriam as ocupações das coisas materiais: técnica é matéria e suas propriedades; sociologia, “uma nova planta da casa e da cidade, para uma nova época”, isto é, eqüidade social; e o econômico, as benesses de um tempo de “padronização, industrialização e taylorização” que conduziriam à “ordem, à perfeição, à pureza, à liberdade”: “Criem – e para si mesmos – a visão 112 LE CORBUSIER. Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo. São Paulo: Cosac 80 poética deste hoje que vou mostrar-lhes. Eu direi: técnica, e os senhores reagirão: lírica. Prometo-lhes um poema deslumbrante: o poema das arquiteturas da era moderna.”113 Noutra oportunidade, em “Quando as Catedrais eram Brancas”, Corbusier afirmaria: “A arquitetura é uma ordenação: é o cérebro que a operação se efetua; a folha de papel não acolherá senão os sinais técnicos úteis para manifestar e transmitir esse pensamento. A arquitetura pode atingir o lirismo mesmo: a proporção é o meio mesmo do lirismo arquitetural: volumes, cortes, superfícies, circulação, capacidades, contigüidades, luz. A prancha de desenho exprimirá em épuras precisas que pertencem à matemática onipresente” “A obra requer a participação, a de todos, em ordem e não de pernas para o ar, hierarquizada e não desnaturalizada por doutrinas de artifício” “A experiência de Ford, repetida em mil atividades do mundo moderno, na industriosa produção, nos dá a lição. Aceitemos a lição”114 Vejamos, então, um apanhado geral para seguirmos em frente: a negação de todo o passado, a tabula rasa, o programa para uso tópico em solo francês, a fé inamovível no desenvolvimento técnico, a potência ilimitada da fatura arquitetônica, o poder de síntese perante as “esferas de valor” weberianas, heteronomia submissa frente ao progresso da época maquinista etc. etc. “Aquilo que denomino pesquisar ‘uma célula na escala humana’ significa esquecer todas as moradias existentes, todo código de habitação em vigor, todos os hábitos ou tradições. É estudar, com sangue frio, as novas condições sob as quais transcorre nossa existência. É ousar analisar e saber sintetizar. É sentir, atrás de si, o apoio das técnicas modernas e, diante de si, a fatal evolução das técnicas construtivas em direção a métodos sensatos. É aspirar a satisfazer o coração de um homem da época maquinista e não acalentar alguns romancistas caducos, que assistiriam, sem mesmo se dar conta do fato e tangendo o alaúde, a dissolução da raça, o desencorajamento da cidade e a letargia do país”115 Arriscaria afirmar que o sonido das ordens corbusianas não deixa de ecoar no receituário para uma arquitetura extraída de Las Vegas: apenas outros acordes. Se considerados os mecanismos de provisão da forma para a ‘forma-mercadoria’ que são o objeto arquitetônico e o aparato urbano116, desde os primórdios da consolidação do modo de produção vigente até os & Naify, 2004, pág. 7. 113 Idem, págs. 47 a 49. 114 Todas as citações: apud FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 136. 115 LE CORBUSIER. Op.cit., pág. 110. 116 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 105 e 106. 81 tempos de seu predomínio esparramado; se considerarmos tais mecanismos atinentes, atentos e transmudando com as modificações dos processos produtivos de cada período; e se considerarmos que tais processos embrenham-se no âmago do corpo social, ampliando constantemente seu espectro de dominação; acho possível afirmar que os pressupostos corbusianos em particular e os modernistas em geral efetivamente entranharam-se na vida cotidiana, não pelo seu movimento complacente em direção ao mundo da vida, mas porque o mundo da vida os conformou: o modernismo que produziu e produz o edifício e a cidade contemporâneos, efetivamente, venceu117 porque foi produzido e ainda o é por aquela fratura que promove a organização racional da cultura. Dadas as considerações expostas, soa, pelo menos com alguma ‘consonância dissonante’, a avaliação de Habermas quanto aos pressupostos que orientaram a programática dos primeiros arquitetos modernistas e quanto ao papel que atribui ao Movimento Moderno. Numa outra manifestação sua em defesa da Modernidade, por ocasião da abertura daquela exposição sobre a qual já me referi, ocorrida em Munique, em novembro de 1981, Habermas afirmaria: “O movimento moderno aceita os desafios a que a arquitetura do século XIX não pudera responder: supera o pluralismo estilístico, bem como as dissociações e especializações a que a arquitetura havia se conformado. À alienação que separa da cultura os âmbitos da vida do capitalismo industrial, o movimento moderno [e, aqui, particularmente tratando desse movimento na Arquitetura e no Urbanismo] contrapõe a exigência de um estilo que não se limite a vincar as construções de aparato, mas que impregne a práxis cotidiana. O espírito moderno se deve comunicar à totalidade das exteriorizações da vida social.”118 Como diz Harvey, cabe um cuidado redobrado ao se abordar “um reino que tem o potencial de aproximar mais as preocupações da alta cultura da vida diária através da produção da forma construída”119. 117 A formulação é de Vitor Amaral Lotufo: grato. 118 HABERMAS, Jürgen. “Arquitetura Moderna e Pós-Moderna”, Op.cit., pág. 137. 82 119 HARVEY, David. Op.cit., pág. 18. 83 #4 Portanto, um programa problemático. O próprio Habermas, ao comentar quanto a uma “falsa superação” das aporias que o projeto de Modernidade havia construído para si mesmo – pretendendo expandir, em toda sua amplitude, os processos de compreensão do mundo da vida, isto é, a idéia de uma utopia que aponta e avança para além da circunscrição restrita de um determinado domínio cultural, rompendo as divisas e permitindo um “reatamento diferenciado entre a cultura moderna e uma prática do dia-a-dia” – não se furta perceber que “as perspectivas não são boas para isso”. Já as tentativas pioneiras – como o Surrealismo, por exemplo – acabaram acumulando “energias explosivas que, enfim, se descarrega(ra)m na revolta, na violenta tentativa de romper a esfera apenas aparentemente autárquica da arte, forçando a reconciliação mediante esse sacrifício (a negação da própria Arte). Adorno vê muito bem por que o programa surrealista ‘renuncia à arte, sem, no entanto, poder se desfazer dela’ (Teoria Estética). Todas as tentativas de diminuir a distância entre arte e vida, ficção e prática, aparência e realidade; de eliminar a diferença entre artefato e objeto de uso, entre aquilo que foi produzido e aquilo que foi encontrado, entre criação e movimento espontâneo; as tentativas de declarar tudo como sendo arte e todos como sendo artistas; as tentativas de suprimir todos os critérios, a fim de igualar os juízos estéticos à manifestação de vivências subjetivas – todos esses empreendimentos, desde então bem analisados, hoje podem ser entendidos como experimentos non-sense, que, contra a própria vontade, apenas iluminaram mais fortemente aquelas estruturas da arte que justamente deveriam ser abaladas: o meio da aparência, a transcendência da arte, o caráter concentrado e planejado da produção artística, bem como o status cognitivo do juízo de gosto.”120 Mas Habermas, ainda assim, tenta salvar o Projeto Moderno, procurando, em suas origens, os pressupostos não realizados ou momentaneamente entorpecidos que salvassem “algo da intenção da inócua revolta surrealista”. Particularmente, imagina que processos de apropriação gestionária autônoma da experiência estética, estabelecidos por uma “força indagativa” que se projete para além de uma simples formulação semântica, instalem a possibilidade de “apropriação da cultura dos especialistas a partir do ponto de vista do mundo da vida”121. 120 HABERMAS, Jürgen. “Arquitetura Moderna e Pós-Moderna”. Op.cit., pág. 115. 121 HABERMAS, Jürgen. “Modernidade - um projeto inacabado”. Op.cit., pág. 120. 84 Mais tarde - e mais a propósito deste trabalho - Habermas afirmaria, na abertura da exposição de Munique: “São dignas de atenção, sobretudo, as iniciativas visando a uma arquitetura comunitária, as quais invocam - e não se trata apenas de retórica - os diretamente interessados em participar do processo de planejamento, e tratam de planificar setores inteiros da cidade em diálogo com os clientes. Se no planejamento urbano os mecanismos do mercado e da administração funcionam de maneira a trazer conseqüências disfuncionais para o mundo da vida dos afetados - cancelando o ‘funcionalismo’ originalmente visado -, é mera prova da conseqüência fazer que o diálogo entre os participantes, bem como a vontade que se forma a partir dele, entre em concorrência com as esferas do dinheiro e do poder.”122 Não que ele demonstre maiores simpatias pelas formas autogestionárias de produção da cidade. Assim como Corbusier achava que “projetar cidades é tarefa por demais importante para ser entregue a seus cidadãos” 123 , Habermas também insinua que tais procedimentos vinculam-se ao “culto da tradição local e à veneração da banalidade”, um modo de atuação atrelado à “ideologia da infracomplexidade” que renegaria “o potencial racional e o sentido específico da modernidade cultural”, enfim, também uma espécie de “antimodernidade”. Mas reputa a esta oposição à Modernidade também o papel ambivalente de iluminar as contradições geradas pela “colonização do mundo da vida pelos imperativos de sistemas econômicos e administrativos autonomizado”124frente à radicalização do processo de organização racional da vida. Num jogo de contrários, monto aqui uma parte da minha questão: se for com o olhar voltado para o mundo da vida que se estruturaria o complexo dialógico de uma ação comunicativa; se tal complexo reconduziria formas autônomas de relação que permitiriam uma intersubjetividade livre; se o seu papel fosse reconquistar a política das mãos dos aparelhos e suas determinações tecnocráticas e a fizesse ser novamente vivida nas ruas; e se o consenso 122 HABERMAS, Jürgen. “Arquitetura Moderna e Pós-Moderna”. Op.cit., pág. 148. 123 Apud HALL, Peter. Op.cit., pág. 245. 124 HABERMAS, Jürgen. “Modernidade - um projeto inacabado”, Op.cit., pg. 149. Voltarei à questão retomando, na ‘fenomenologia da técnica quando aplicada à arquitetura’, a formulação de Paulo e Otília Arantes: “Embora isso [uma arquitetura comunitária, nas palavras de Habermas] possa ocorrer na (por vezes dúbia) voga contemporânea de obsessão urbana que, animada pela palavra de ordem da restauração do lugar carregado de ‘sentido’, reúne num mesmo impulso pequenos gestos contextualistas, grandes projetos na esteira da ênfase modernista e providências estatais no sentido de reforçá-los mutuamente. Tudo conspira para desnortear um 85 comunicativo se estabelecesse a partir da negociação permanente das normas que o regulam; como escapar dos mecanismos de banalização ideológica dos instrumentos de coerção e domínio que povoam o cotidiano? Como se enveredar pelo mundo da vida sem lidar com suas idiossincrasias ‘infracomplexas’? Como é possível o consenso comunicativo entre indivíduos tradicionalistas, banais e infracomplexos? Como seria possível, enfim, descolonizar o mundo da vida sem sujar as mãos nas ambigüidades e contradições que se encolhem entre as dobras das regras que lhe regem o cotidiano? #5 Numa crítica bastante contundente, Otília e Paulo Arantes consideram que Habermas faz uma “apologia extemporânea” do Movimento Moderno, que o acaba levando para perto justamente daqueles que critica125. Conforme o casal Arantes, ao disparar para todos os lados, Habermas parece, a partir de sua argumentação, traçar um caminho - inclusive com uma decalagem simplista da idéia adorniana de reconciliação -, para o encontro marcado entre os pressupostos de origem entorpecidos do Movimento Moderno e sua Teoria da Ação Comunicativa126. Paulo e Otília asseveram que Habermas faz ouvidos moucos para a gritaria dos mestres da arquitetura Moderna, que justamente proclamavam uma pretendida “função totalizante da mediação estética”, relevando suas aporias – como vimos no discurso de Le teórico que escolha decompor o problema nos seus termos ideais.” (ARANTES, Otília Beatriz Fiori; ARANTES, Paulo Eduardo. Um ponto cego... Op.cit, págs. 87 e 88). 125 Pela via ideológica doutrinal que lhes atribui, formula um significativo rol de “jovens conservadores” – entre eles Bataille, Foucault e Derrida, ensombrados pelo niilismo ressuscitado de Nietzsche –, “antigos conservadores” – entre os quais Leo Strauss, Hans Jonas e Robert Spaemann - e “neoconservadores” – identificados pelos testemunhos do primeiro Wittgenstein, do intermediário Carl Schmitt e do último Gottfried Benn (HABERMAS, Jürgen. “Modernidade - um projeto inacabado”, Op.cit., págs. 121 e 122). 86 Corbusier127. Consideram que Habermas – e se perguntam por que – preserva o Modernismo frente ao desmantelamento e esmaecimento da “utopia de uma sociedade do trabalho”, de uma emancipação humana associada ao desenvolvimento das forças produtivas, uma vez que seria a este desenvolvimento que aquela utopia depositaria “o principal de sua força persuasiva”. E justamente Habermas que, pela tradição materialista, formularia criticamente já em 68 a distinção entre trabalho e interação social, alegando que Marx havia, de certa forma, imposto grilhões aos próprios mecanismos de emancipação que preconizava, na medida em que os associava “num processo único”128. Assim, Habermas estaria acometido de uma recalcitrante nostalgia especulativa que o fazia obscurecer os vínculos e compromissos estabelecidos, na origem, entre utopia estética e racionalidade do mundo do trabalho, deslizando para o esquecimento o “parentesco histórico-estrutural” entre o “experimentalismo modernista” e o “imperativo inexorável de valorização do Capital”, entre “Arquitetura Moderna e a Utopia Técnica do Trabalho e da civilização estético-maquinista que lhe corresponde” 129 - e aqui me detenho no que me interessa. Com efeito, parece que Habermas, se não omite este fato (refere-se a ele, ainda que tenuamente, quando faz o inventário dos “problemas que se colocaram à arquitetura do séc. XIX”), acaba embrenhando-se em supostas contraposições de estilo que, em absoluto, levam a fundo as profundas contradições entre utopia estética e a contingente imanência material do conhecimento técnico competente e das ordens práticas de produção daquela arquitetura moderna, como já salientei. Se assim o faz, o “lapso”, como diz o casal Arantes, fica mais fácil de sublimar. Por outro lado, tampouco é a preocupação imediata de Paulo e Otília: talvez lhes 126 ARANTES, Otília Beatriz Fiori; ARANTES, Paulo Eduardo. Um ponto cego... Op.cit., págs. 12 a 14. 127 Idem, págs. 16 e 17. 128 Idem, págs. 18 e 19. 129 Idem, págs. 19 e 22. 87 faltem o gosto sujo do canteiro de obras e a ordem fragmentária do desenho de projeto. Preferem, como dizem, “economizar a lembrança em pormenor de que a Arquitetura Moderna é filha e principal herdeira da Utopia Técnica do Trabalho e da civilização estético-maquinista que lhe corresponde”, como acabei de me referir. 88 UM PONTO DE FUGA #1 Parto de um âmbito mais geral. Há uma inversão recorrente entre termos, compondo uma distorção semântica que acaba relegando o problema da técnica como um problema que, pelo menos no corpo delgado do debate em arquitetura e talvez menos em urbanismo, é prontamente despachado a uma segunda ordem. Trata-se da confusão entre técnica e tecnologia. A miscigenação corriqueira entre os termos já denota alguns rumores de descompasso: “Sintomático também é o uso do anglicismo tecnologia, que apaga a diferença entre a coisa e o discurso sobre a coisa: ‘(...) a criminologia não tem nada a ver com a execução do crime’”130 Em seguida, Lebrun assinala algumas formas como a técnica, superdilatada, hipertrofiada em sua especialização e entranhada no mundo da vida - uma hipertelia, como veremos mais à frente com Simondon -, paradoxalmente acaba distanciando usuário do aparato técnico e a compreensão de suas dinâmicas funcionais. Conclui, citando Jean-Pierre Séris em La technique: “O homem contemporâneo não tem mais necessidade de apelar a seus próprios recursos técnicos. Tudo se passa como se o mais econômico e o mais eficaz fosse relegar a ‘tecnologia’ aos técnicos ou tecnólogos. A tecnologia é problema do outro (...)”131 Considerando aqui o aparato técnico aplicado na produção da arquitetura e do urbanismo, sabemos que a lógica intrínseca de sua funcionalidade faz juntar ao mesmo tempo em que separa: plantas, cortes, elevações que juntam abstrações geométricas e separam ordens dicotômicas de trabalho; materiais diversos que têm suas incompatibilidades amansadas por 130 LEBRUN, Gerard. “Sobre Tecnofobia” in NOVAES, Adauto (org). A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras; Brasília: Ministério da Cultura; Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Arte, 1996, pág. 472. 89 alguma mão experiente; habilidades diversas que se concertam, se concentram e se contorcem num único produto; conhecimentos parcelares que concorrem para a estabilidade e a funcionalidade sistêmica do objeto; pela outra mão, desmonta o ofício entre partes; separa o produto do produtor; e isola o objeto em relação ao conjunto que representa. Numa palavra, consolida o efeito de sua aplicação num objeto único - seja ele o edifício ou a cidade - mas o dispersa na racionalidade difusa que lhe dá substrato: falamos disso depois. Dessa forma, a aplicação do aparato conduz esse conhecimento ilustrado e especializado que é domínio de uma cultura arquitetônica e construtiva em direção aos domínios do mundo da vida, aos domínios de uma “corrente de tradição que continua naturalmente a se desenvolver na hermenêutica da prática do dia-a-dia”, como quer Habermas. No entanto, ao mesmo tempo em que o aparato se dirige e se entranha neste mundo da vida, dele se aparta e autonomiza-se por esfacelamento e assim leva junto a disciplina que lhe é donatária. Apesar de uma concepção bastante comum pretender - como desejam alguns teóricos - fazer ascender a arquitetura e o urbanismo à condição de ‘esfera autônoma de conhecimento’, com legalidades e regulação própria, o propósito perde-se no caminho: com qual âmbito de racionalidade cultural se articularia? Ancoramo-la nos molhes das altas esferas estético-expressivas? Ou a circunscrevemos nos territórios do complexo prático-moral? Ou a condenamos às profundezas insondáveis do subterrâneo congnitivo-instrumental? Este programa, além de padecer da mesma afonia dialética que mimetiza a lógica das ‘esferas’ que a transforma em pura sofística, nega sistematicamente que os conhecimentos - até mesmo a ‘geometria das esferas’ - que lhe estruturam são parcelares, particulares e limitados, postos juntos a serviço de um híbrido ligado a fins. Conforme Hegel, “o que caracteriza essencialmente a casa, o templo e outras construções é o fato de serem simples meios com vista a uma exteriorização. (...) Encontramo-nos, portanto, antes de tudo, em presença de uma necessidade, necessidade essa exterior à arte, cuja satisfação racional não interessa a esta, e que por conseguinte não suscita a criação de 131 Idem. 90 obras de arte.”132 A racionalidade objetiva da arquitetura se dá como aparência apenas sob a forma caleidoscópica do edifício e da cidade. Seus instrumentos e métodos não são permeáveis e o ‘como’ é produzida, pouco importa: é problema dos outros. #2 Para composição do programa de diluição da arte no mundo da vida - e, com ela, a arquitetura como sistema de conhecimentos especializados, articulados em sua forma ilustrada - o aspecto do deslocamento da utopia estética concorre de forma determinante, se retomo Habermas na sua defesa do Moderno. Conforme Paulo e Otília, o filósofo não teria sido fiel às lições de Adorno: ele teria insistido, quase de forma intransigente, na impermeabilidade entre o “mundo regido pelo espírito instrumental e uma esfera em que a reconciliação, para não ser falsa, é mera aparência”133. Ou seja, na medida em que Habermas defende a revivescência de uma possível arte total assim como formulada pelas Vanguardas, entranhada em todos os meandros do mundo vivido e, por esta via, a possibilidade rediviva de uma reconciliação entre “cultura moderna e uma prática do dia-a-dia”, acaba decompondo, sem extrair o denominador comum, as considerações adornianas quanto à obstrução da “função de síntese” atribuída à “experiência estética” e o desmantelamento de uma “projeção utópica, sem a qual não poderia haver teoria crítica da sociedade” - o estandarte maior da Escola de Frankfurt. Revisitando Albrecht Wellmer - também muito requisitado pelo próprio Habermas, ao tratar das aporias legadas por Adorno - Paulo e Otília lembram suas ponderações 132 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Curso de estética: o sistema das artes. São Paulo: Martins Fontes, 1997, pág. 25. 91 que aqui reproduzo aos passos: (1) ainda que a arte se fizesse reconhecer como síntese de um modelo para relações sociais, pelo seu comportamento mimético (que produz assimilação por empatia e semelhança) tratar-se-ia, “todavia, de uma conduta mimética rememorada num mundo desencantado”; (2) esta operação produziria o curto-circuito entre construção espiritualizada e heteronomia de uma sociedade administrada, regulada - e tiranizada - pelos imperativos das relações de troca e produção de valor; (3) daí, “a obra de arte passa então a encarnar uma espécie de racionalidade alternativa que, a um só tempo revela a alienação em progresso e prefigura a alienação” - como as sereias cantando para Ulisses; (4) no entanto, a vida social não poderia regular-se por injunções esotéricas e nem à arte seria permitido imitar a realidade; (5) logo, trata-se de uma relação no mínimo esquizofrênica! Se os elementos agenciados pela obra de arte “apontam para um horizonte ‘transumano’, o mundo da vida continua regulado por relações bem mais “profanas” entre “indivíduos que falam e interagem” (modo de produção contingente, organização do trabalho para fins de ampliação da eficiência produtiva e maior extração de mais-valia, manutenção de condições precárias de trabalho para a saúde das taxas de lucro, fragmentação do trabalho para efeito de dominação, supressão do tempo livre para auto-provisão de bens de reprodução que são sistematicamente suprimidos etc, etc). Além disso, na medida em que se pretende que os constructos subjetivos e objetivos que subvencionam o mundo das artes penetrem o cotidiano, demanda-se que também seus instrumentos e métodos se tornem permeáveis. O que, no caso da tecnologia, pelo menos, como vimos em Lebrun, não ocorre, senão como aparência. Assim, meios e técnicas precisam ser elevados à condição de objeto estético para se entranharem nos domínios da vida: apenas uma obscura inversão entre meios e fins. Da mesma forma, na arquitetura e urbanismo, mesmo velada e afirmada como meio – pelo discurso e pela aparência manifesta pelo discurso -, a 133 ARANTES, Otília Beatriz Fiori; ARANTES, Paulo Eduardo. Um ponto cego... Op.cit., pág. 16. 92 tecnologia também ganha aura de ‘objeto estético’, determinado pelo relevo que ganha o processo de produção do edifício e da cidade. Para este aspecto fica fácil o exemplo: é bastante conhecido o Guggenheim de Bilbao, de Frank O. Gerry. Ali, o mascaramento de todo o processo de produção denuncia o quanto ela pouco importa: chapas de titânio assumem a função estetizante da tecnologia empregada, subsumida aos mais avançados processos de produção artificiais - softwares de desenho e cálculo, processos informatizados de gerenciamento entre partes compromissadas na produção do objeto arquitetônico, maquinário empregado etc. Mas o expediente começa cedo: desde a Red House, a casa que Morris pediu que Philip Web lhe construísse - as alvenarias aparentes, expondo a fatura de cada parede, chocaram o gosto da época; Viollet-le-Duc e sua elegia à técnica construtiva desenvolvida pelo gótico e reeditada para os ‘tempos modernos’; os palácios de ferro e vidro que expunham a nova ordem estabelecida para o mundo industrializado; Otto Wagner e sua defesa do aço como material adequado ao ‘espírito do tempo’; passando por Peter Behrens e sua minuciosa arquitetura para o cotidiano industrial (em alguns de seus projetos fica difícil distinguir a arquitetura da máquina que abriga); chegando a Corbusier, Mies van der Rohe (suas caixas de vidro são a origem do que vemos nas grandes cidades, a indústria da construção metálica americana é, em parte, obra sua), Bauhaus (a “casa da construção” - a industrialização era finalidade do projeto) e até mesmo Gaudi (o fim - o edifício - é o meio - sua estrutura). Em todas estas manifestações o discurso explícito é o da forma do objeto e seu vínculo com seu criador. No entanto, o que aparece é sua construção, o processo da fatura que se exibe ao mesmo tempo em que se esconde. Exacerbação desse truque é o Centro Georges Pompidou, o Beaubourg, em Paris, uma “máquina urbana” projetada por Renzo Piano e Richard Rogers: a grande vedete é o mecanismo, a razão funcional levada ao limite. Também por aqui, a potência da forma aliada à maleabilidade do concreto 93 armado - não importando as leis da gravidade ou o custo do suor operário - são os reais coadjuvantes da arquitetura de Oscar Niemeyer; a apropriação, traduzida como forma, do opus vernacular na obra de Lina Bo Bardi, metabolizando o ‘fazer autóctone’ que impregna “suas elevadas formas esotéricas”; e até mesmo Lelé, onde o “livre jogo” dos impulsos estéticos demanda um profundo conhecimento e capacidade de agenciamento da construção. Este breve inventário procura apenas demonstrar como, atendendo à programática do Projeto Moderno, o processo de produção de um objeto estético se re/vela no próprio objeto técnico, oferecendo sua face aparente e ocultando o conhecimento empregado. Se a face aparente é a do objeto estetizado; se até mesmo o aparato tecnológico empregado para produzi-lo assume função estetizante, camuflando as relações profanas que lhe dão sustento; e se este aparato deixa de ser um problema na medida em que o seu próprio desenvolvimento determina seu recolhimento estético; então aquela arquitetura ilustrada definitivamente já faz, há muito, parte do mundo da vida. #3 Juntando as partes. Considerando a possibilidade de trazer essa arquitetura ilustrada para um campo onde as ‘relações profanas’ se mantêm explícitas, onde o conjunto de relações sociais ali em jogo se reproduz nas formas profanas de um mundo reificado, a utopia da transmutação objetivante de ideais esotéricos certamente acabará tropeçando na instrumentalidade imanente do próprio fazer arquitetônico. Parece-me que só o discurso - também ilustrado - consegue dar a aparência de cara lavada e mãos limpas. Quando dispomos o conhecimento ilustrado do arquiteto ao seu usuário, o 94 futuro morador, também promovemos a aproximação de uma elaboração ideificante (nos dizeres de Adorno) a um conhecimento não especializado que interpreta necessidades e lhe configura, conforme Weber pelas mãos de Habermas, formas de perceber o mundo. São estas formas de percepção que estruturam um “jogo lingüístico” que não é o da “elaboração especializada”: entram na peleja as histórias de vida de cada um, suas idiossincrasias, as inversões de papéis que transformam dominantes em dominados e mandados em mandantes – que de forma alguma é capaz de totalizar ou é totalizável num ‘coletivo’ -, interferem suas expectativas e os ideários - estéticos e práticos - difusamente dispostos pelo mundo reificado, invertem legalidades e mudam as regras - no meio do jogo! que estruturavam hierarquias profundamente entranhadas e quase sempre inconfessas etc. Assim, a simples redução ao mundo da vida dos olímpicos gestos de uma utopia arquitetônica não alcançam transformar justamente aquelas “formas de perceber o mundo”. As mãos continuam sujas. Cada elemento, sujeitos, verbos e predicados, atinentes a este “jogo lingüístico” acaba operando uma perversa inversão de sinais estabelecendo, pela via ideológica, uma reestruturação mimética às avessas, reelaborando o “conhecimento ilustrado” e reconduzindo-o - efetivamente adaptado e apreendido - às formas reificadas de percepção do mundo. #4 Mas ainda resta verificar como as dimensões essencialmente técnicas da produção da arquitetura e do urbanismo coadjuvam nessa coreografia: se elas fazem o objeto estético tropeçar nas ranhetas formas reificadas de um mundo profano, o que lhe concede este poder? Parece-me simplista afirmar que é porque a técnica já é, essencialmente, ideologia. 95 Na medida em que Habermas imagina que é justamente nessas formas de apropriação da experiência estética que residiriam algumas apostas na permanência dos pressupostos do Projeto Moderno; mas, por outro lado, releva aprofundar-se quanto aos desacertos dos Modernos no enfrentamento do desafio quanto às dimensões técnicas da “mobilização capitalista (...) das condições de vida em geral” (mesmo que se disponha a um debate com Marcuse sobre técnica, ciência e ideologia, conduz sua argumentação para outras paragens); e na medida em que também Otília e Paulo Arantes preferem “economizar a lembrança” da relação filial e patrimonial da Arquitetura Moderna com a “Utopia Técnica do Trabalho” e de sua correspondente “civilização estético-maquinista”; talvez seja o caso de considerar que tal ‘economia’ – inconfessa em Habermas, manifesta em Paulo e Otília – possa, eventualmente, ter promovido a terraplenagem de alguns aspectos que poderiam dar relevo a alguns aspectos que ainda me parecem obscuros. Pelo expediente empregado, talvez o horizonte da técnica tenha sido levantado em um ponto de fuga. Falta investigar o que é essencial no gesto técnico, compreendê-lo em si mesmo, separar o que lhe é aposto e contornar o regime ideológico que o contém. Argüindo quanto aos aspectos técnicos dos objetos e aparatos técnicos que efetivamente constroem a arquitetura e o urbanismo, e imprimindo cores mais contrastantes a uma prática radicalizada de interação e diálogo entre saber especializado, uma Cultura Técnica Arquitetônica, e as estruturas diacrônicas do mundo da vida, imagino poder perceber se, no fundo, Otília e Paulo Arantes não têm, afinal, razão. 96 ENSAIO II 97 MÃOS QUE PENSAM técnica e linguagem #1 Uma parabolazinha. Uma disposição corriqueira, manifesta sob formas que nem sempre deixam entrever a lógica que as sustenta, acaba desenhando duas regiões que parecem polarizar uma disputa por um território que é comum. O elevado promontório onde se instala a cultura, senhora da ciência e das obras do espírito, por um lado, e do outro, a planície extensa e enevoada onde prevalece o reino da necessidade e das confabulações materiais da vida, os domínios da técnica. Trata-se, no entanto, do mesmo território, do mesmo solo sobre o qual medra o mundo da vida. Nas tensões entre partes, sujeição e submissão estrategicamente se ajeitam para escapar a um falso confronto; ora a cultura se permite afirmar como o universo do infalível que preserva, com o conhecimento e as obras do espírito, a fertilidade do solo da técnica e esta, por sua vez, faz reafirmar sua importância como transformadora, em substância e engenho, do patrimônio imaterial que lhe é franqueado pela sua vizinha; ora a cultura se retira, opondo-se com sua ciência, suspeitando a planície que lhe espreita como a plebe que planeja tomar-lhe o cimo e, por seu turno, a técnica, entrincheirada, parece preparar-se para tomar de assalto as privilegiadas alturas de um Olimpo transumano e também desfrutar de um horizonte longínquo. Mas enquanto cultura e técnica se indispõem ou se submetem reciprocamente, mais além, nos limites de seus domínios, aquela que é feita inimiga comum, a natureza, não lhes permite o sossego quando percebida naquele horizonte longínquo: espreita o esgar dos contornos que não lhes pertencem e desdobra aquela “verdade subjetiva” que a inverdade 98 objetiva da oposição vem substituir134. Pode parecer exagerado ou simplificador. Mas basta lembrarmos de nossa disposição frente aos sistemas informacionais que povoam nosso cotidiano para percebermos como por vezes nos comportamos cônscios de poder frente à máquina que dominamos e, por outras, ignorantes e assustados quando diante de um enguiço ou de um “erro fatal”. Como se um corpo se permitisse pensar existir sem as mãos e as mãos sem o corpo que pensa, a contraposição é falsa. A técnica, se extraída da cultura, pressupõe a fantasmagoria de uma alma sem corpo, como se possível fosse uma cultura sem gesto, o oco de um mundo imaterial em latência profunda. Condenada à condição de ideologia, a técnica, transformada em tecnologia, descola de sua essência enquanto fisionomia ontogênica e fisiologia histórica: num efeito de sinal trocado, exilar a técnica como ideologia - como tecnologia - nos domínios de um mundo administrado, também conduz à mesma disposição dicotômica entre o que é “por natureza” e o que se organiza pela cultura humana, pelas formas do espírito. Parece-me ser a cultura, pela ordem dos fatos contingentes, aquela que promove a captura da natureza e da técnica “numa espiral de crescente abstração em virtude de motivações humanas, econômicas, de mercado” 135 . Assim “a tecnologia também precisa ser salva”, reconhecendo o que há de humano na realidade técnica e de natureza imbricada nos objetos que nos fabricam a vida. Por isso a polarização precisa ser questionada. Como pretendo demonstrar, contudo, esta polarização não é privilégio de nossos tempos modernos. Por uma escolha metodológica e para ajudar no rumo do discurso (a linguagem tem limites), separo a reflexão sobre o que é essencial do essencialmente histórico - do qual trato depois. Flerto com o longínquo - mas para melhor compreender o próximo. 134 Monto a imagem a partir da Introdução de SIMONDON, Gilbert. Du mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1989, págs. 9 a 16. 135 Referência, anterior e subseqüente, conforme SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio-técnico da informação digital e genética. São Paulo: Editora 34, 2003, pág. 66. 99 #2 Parece que a oposição à qual me refiro já se manifesta nas origens primogênitas da humanidade. Há uma grande dificuldade, já nos primeiros passos do estudo paleontológico, para se estabelecer uma clara distinção entre os fatos do cérebro e os feitos das mãos: termos de uma real oposição entre matéria e processo analítico, cérebro e mãos não correspondem a manifestações representativas necessariamente interevolutivas. Se num primeiro momento “o homem é, primeiramente, perceptível na sua realidade corporal”, imediatamente esta percepção se desloca para a realidade que se manifesta nos produtos de suas mãos. Se o método paleontológico toma como princípio “aquilo que o homem se fabricou para poder exercer seu pensamento”, corre-se o risco “de se desconhecer o que existe de incorpóreo na realidade do homem” 136. No contexto da etnologia, acontece o mesmo: se o “equilíbrio material, técnico e econômico influencia diretamente as formas sociais e, por conseqüência, a maneira de pensar”, por outro lado “não é possível erigir em lei que o pensamento filosófico ou religioso coincida com a evolução material das sociedades”137. No entanto, parece possível afirmar, com Leroi-Gourhan, que “a sociedade modela o seu comportamento com os instrumentos que o mundo material lhe oferece”. Tal afirmação pode mobilizar algum desconforto pelo tanto que insinua um certo grau de determinismo tecnoeconômico mas parece pertinente tomá-la como partido de princípio, organizando um referencial de análise que torna possível caminhar adiante: “Admitir a realidade do mundo do pensamento em face do mundo da matéria , afirmar mesmo que o segundo só está vivo por efeito do primeiro, nada retira ao facto de que o pensamento se traduz em matéria organizada e que esta organização marca diretamente, segundo modalidades variáveis, todos os estados da vida humana”138 136 LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra - técnica e linguagem. Lisboa: Edições 70, 1990, pág. 148. Em outras paragens: “A história não pode pois basear-se senão em testemunhos materiais, testemunhos que na sua maioria provêm das técnicas” (LEROI-GOURHAN, André. Evolução e técnicas - o homem e a matéria. Lisboa: Edições 70, 1984, pág. 16). 137 LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra - técnica e linguagem. Op.cit., pág. 149. 138 Idem, pág. 149. 100 Há, portanto, um entrelaçamento complicado entre fatos pensados e feitos fabricados, entre ordem social pensada e mundo material produzido, entre “comportamento social” e “aparelho tecnoeconómico” como se impossível fosse distinguir alguma prevalência entre uns e outros. Seria necessário olhar para o território como região, como um todo onde convergem os feitos das mãos e os fatos do cérebro, tentando compreender aquilo que há de essencialmente pensante nas mãos e o que há de imanência manual nas formas pensadas pelo cérebro. Certamente, não seria aqui o lugar dessa abrangência. No entanto, se a pretensão é argumentar os termos em que se dá a “falsa oposição” entre técnica e cultura, talvez seja possível, compreendendo o que há de imanente e essencial num dos termos, também aceder às razões da oposição. Como sou arquiteto e não pretendo uma psicologia nem uma sociologia não é meu ‘território’ -, restrinjo-me às especificidades do “vestígio da produção no produto, do fazer no feito” como obra das mãos em diálogo com seu cérebro, tentando juntar um pouco as partes para iluminar alguma “interação entre vontade teleológica e as regras do real”, como diz Sérgio Ferro139. Olho então para as mãos, para estas que são a memória do que escrevo, não como membros que se submetem passivos às ordens unívocas de um cérebro que apenas comanda, mas como um organismo que ‘pensa’ como mãos e ‘fabrica’ como cérebro. Mas como assim dizer que ‘pensam’? É ainda Leroi-Gourhan, lembrado por Sérgio Ferro, que nos deixa implicados num exercício de verificação quase impaciente: experimentamos ensaiar todo e qualquer movimento, mãos, braços e corpo, tentando fazer escapar alguma brecha no curto corolário trinitário de gestos que o etnólogo e pré-historiador aponta como arcaicamente seminais: preensão, rotação e translação. “As operações complexas de preensão-rotação-translacção, características da 139 Extraído de entrevista concedida a Guilherme Wisnik para o jornal “A Folha de São Paulo”. O trecho em questão não foi publicado (WISNIK, Guilherme. “’Mutirão revê relações de produção’, diz Sérgio Ferro”. A Folha de São Paulo, São Paulo, 07 de novembro de 2002); faço uso de versão que circulou em meio particular. 101 manipulação, tendo sido as primeiras a surgir, atravessaram o tempo sem sofrer qualquer transposição. Ainda constituem a base gestual mais corrente, privilégio da mão mais do que arcaica e pouquíssimo especializada do homem, se comparada com os maravilhosos aparelhos de agarrar ou de correr que são a mão do leão ou do cavalo. O apanágio da duração, que, em paleontologia, se prende com as espécies não especializadas, aplica-se também às operações de mão nua, às quais permaneceram ligadas até aos tempos actuais as formas mais perfeitas da construção arquitectónica, da cerâmica, da cestaria e da tecelagem”140 Gestos simples, “operações da mão nua”, frustramo-nos ao perceber que todos os nossos movimentos circulam cárceres de três paredes. “A memória motriz que atravessa o tempo sem grandes transformações”, como diz Sérgio Ferro lendo Leroi-Gourhan141, é matriz a partir da qual transformamos o mundo. O homo faber, “criatura teórica cuja única característica humana teria sido a posse de utensílios”142, é este sujeito que caminha sobre dois pés, dispõe de um aparelho motor que lhe permite manipular e transformar a matéria, raciocina e vai ser conhecido, mais tarde, como aquele que é possuidor da força de trabalho que deverá compor as forças produtivas da humanidade em permanente acúmulo - não sem infinitas mediações. Será ele que, ao produzir, produzirá a si mesmo. A composição complexa das operações de manipulação é a ordem constitutiva, por sua vez, de um conjunto de atividades destinadas à reprodução da vida material, assegurando a existência humana ainda como natureza. No entanto, são também restritos os ramos de atividades que sustentam: “Desde há cerca de cinqüenta anos, tanto na Europa como na América, tem-se tentado agrupar as actividades humanas segundo rubricas: habitação, vestuário, agricultura etc. O número dessas rubricas é praticamente invariável: são cerca de vinte no que se refere à vida puramente material”143 Recorre uma espécie de essencialidade ainda meio manca que é ‘o aquilo’ que permanece e se universaliza, entre o ido e o que devém - friso o escrito para o que arrisco mais tarde: quando persigo a essência da técnica e da tecnicidade. Qual a razão para isso? 140 LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra - Memória e Ritmos. Lisboa: Edições 70, 1971, págs. 39/40. Citado em FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 145. 141 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op. cit., pág. 145. 142 LEROI-GOURHAN, André. Evolução e técnicas - o homem e a matéria. Lisboa: Edições 70, 1971, pág. 12. 102 Seria temeridade e penetrar em campo alheio, repleto de armadilhas, tentar explicá-las conforme um princípio ou outro para espiar o que é essencial na atividade produtiva humana, sem perder a noção do todo e fragmentar justamente o que tento reunir. Mas arriscaria dizer, pretendendo a proteção de Leroi-Gourhan, que há uma circunstância contingente que nos remete aos meios mais elementares de operação técnica e aos modos mais rudimentares de organização humana para a reprodução material da vida. Afirmar que se trata, de início, de uma relação instintiva correlata à memória que faria o homem aprender os primeiros passos para uma mimese da natureza para dela extrair-lhe fins, seria senso comum e abordagem rasteira. Intuição e memória até parecem reger as primeiras manifestações do gesto no sentido da fabricação. No entanto, o esquema não se completa, se situado em relação a outras espécies. É necessário que ao lado do aparelho do instinto, que informa a memória reprodutiva de esquemas operatórios, o sistema se complete com a inteligência, na medida em que ela seria a responsável pela escolha entre esquemas operatórios e o controle das conexões. Tal sistema, se considerada a funcionalidade neurológica dos “elementos conectivos” estabelecidos no cérebro, é responsável pela interdependência entre escolha e linguagem: a escolha da função operatória necessariamente demanda “uma consciência lúcida, intimamente ligada à linguagem”, pelo tanto que necessita de um universo de representação simbólico para auxiliar na decisão144. Por outro lado, é esta representação simbólica que promove a liberação das funções operatórias de sua âncora biológica, transformando-as em “cadeias de símbolos” interdependentes. E daí o duplo vínculo entre cérebro e mãos. E para além de unhas e dentes, a ferramenta ampliará exponencialmente este vínculo: “Paralelamente, o utensílio manual surgiu como o instrumento de libertação das restrições genéticas que ligam o utensílio orgânico animal à espécie zoológica. 143 LEROI-GOURHAN, André. Idem, pág. 17. 144 “A aquisição das cadeias operatórias elementares tem lugar durante a primeira parte da vida, sob a tripla incidência da aprendizagem por imitação, da experiência por tentativas e da comunicação verbal” (LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra - Memória e Ritmos. Op.cit., pág. 27). 103 Conseqüentemente, a inteligência humana conserva, tanto no plano da linguagem como no do utensílio, relações idênticas às anteriormente definidas”145 Assim, parece difícil fazer escapar as mãos dos gestos viciosos de Leroi-Gourhan assim como seria difícil escapar do esférico deus das contingências humanas: uma “esfera inteligível cujo centro está em todo lugar, e cuja circunferência não está em lugar algum”146. Mas não há porque pretendê-lo: é justamente o que há de circular e fechado que, paradoxalmente, liberta os feitos das mãos. Pois é no interior dessa esfera que se situam também os domínios dos fatos do cérebro: o território da linguagem. “Não existem dois fatos tipicamente humanos, dos quais um seria a técnica e o outro a linguagem, mas um único fenômeno mental, fundado neurologicamente em territórios conexos”147. Seria nestes termos que poderíamos nos referir a mãos que pensam: o gesto é imanente assim como o pensamento também o é. O universo simbólico organiza em representações os esquemas mentais que conectam informações colhidas no solo dos gestos habituais. A interação entre as formas simbólicas permitiria estabelecer agenciamentos diversos para a motricidade dos gestos aprendizes que, por sua vez, percebem e reorganizam outras conexões possíveis, abrigadas no extenso fundo da existência, informando novos esquemas que o pensamento, por sua vez aprendiz, reordena em outras possíveis estruturas simbólicas. É no ciclo de um diálogo entre forma e fundo que a mão se liberta de seu atavismo biológico e o pensamento se vê livre de sua abstração imanente. Caso contrário, a música não seria possível. 145 LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra - Memória e Ritmos. Op.cit., pág. 20/21. “A mão em motricidade indirecta corresponde a uma nova ‘libertação’, pois o gesto motor fica liberto no âmbito de uma máquina manual que o prolonga ou o transforma” (Idem, pág. 43). 146 Uma ‘definição segura’ acerca de Deus, promovida pela filosofia hermética e presente no Liber XXIV Philosophorum, o livro dos 24 sábios que lidaram para estabelecer teses ‘seguras’ sobre a natureza divina e que chega ao conhecimento do século XII pelas mãos de tradutores ou compiladores toledanos. A segunda tese, a mais conhecida, é citada por Alain de Lille, clérigo apologista, professor em Paris entre os anos de 1170 a 1180, na forma aqui redigida. LIBERA, Alain De. A filosofia medieval. São Paulo: Edições Loyola, 1998, pág. 352/353. 147 “Por outras palavras, a partir de uma fórmula idêntica a dos primatas, o homem fabrica utensílios concretos e símbolos, uns e outros resultantes do mesmo processo ou, melhor, necessitando no cérebro do mesmo equipamento fundamental. Tudo isso leva a considerar não só que a linguagem é tão característica do homem como o utensílio, mas ainda que se trata da expressão da mesma propriedade humana,...” (LEROI-GOURHAN, 104 No entanto, surge uma outra questão. Se o gesto técnico, em território neurológico, é vizinho da linguagem, então poderíamos inferir que ambos organizam modos próprios de expressão para o diálogo com o mundo: daí, estes modos também apresentariam formas distintas porém conexas. Assim, do mesmo jeito que a linguagem organiza seus meios num modo de representação simbólica, a técnica ordena os seus em objetos: objetos técnicos que expressam também um diálogo, uma representação técnica de uma relação interdependente entre cérebro e mãos. “A mão humana é humana em função do que dela decorre e não por aquilo que ela é: um dispositivo osteomuscular bastante simples, que, desde os macacos, se revelou apto a assegurar, com notável economia mecânica, movimentos de preensão, de rotação e de translacção que, subseqüentemente, permanecerão imutáveis ”148 Mas é aí que começam os problemas. A impressão que tenho é que o movimento se dá numa direção que aparta das mãos, junto do que “dela decorre” - ou “dela se separa”, na tradução de Sérgio Ferro - os fundamentos comuns de toda representação simbólica, gesto ou palavra. A tal ponto que chega a rondar um agudo sentimento de alienação irreconciliável entre os produtos do gesto e os sentidos das palavras. Uso outros meios para expressá-lo. Num de seus escritos, Sartre narra, na forma de um diário, um período da vida de um historiador, Antoine Roquentin, que, a partir de cartas roubadas em Moscou, escreve a história de um certo Marques de Rollebon e sua estada na Rússia. Trata do passado e, em vista do imenso presente, percebe a ausência de um passado que não existe: dizê-lo provoca-lhe constatar que o Sr. Rollebon havia morrido pela segunda vez. A tinta, a escrita, provava-o: o brilho fugaz ressecava no curto período em que as palavras deixavam de lhe pertencer. “Mas, quando o meu olhar incidia sobre o caderno de folhas brancas, André. O gesto e a palavra - técnica e linguagem. Op.cit., pág. 116). Citado em FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 223. 148 LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra - Memória e Ritmos. Op.cit., pág. 38. Citado, em parte, por Sérgio Ferro: “A mão humana é humana pelo que dela se separa e não pelo que é...”. Apud FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 148. 105 impressionou-me o seu aspecto e fiquei, de caneta no ar, a contemplar esse papel deslumbrante: como era rijo e vistoso, como estava presente! Não havia nada nele que não fosse presente. As letras, que eu acabava de lá traçar, ainda não tinham secado e já não me pertenciam”149 A responsável pelo melancólico escorrer das idéias grafadas num presente em direção a um passado - que não existia - era a mão: “Vejo minha mão assente na mesa. A minha mão vive - sou eu. (...) Sinto a minha mão. Sou eu estes dois bichos que se agitam na ponta dos meus braços. A minha mão coça uma das suas patas com a unha de outra pata; sinto-a pesar sobre a mesa que não sou eu. Persiste esta impressão de peso, persiste, não passa. Não há razão para passar. Com a continuação torna-se intolerável... Retiro a mão, meto-a na algibeira. Mas sinto logo, através da fazenda, o calor da coxa. Faço saltar imediatamente a mão da algibeira; deixo-a cair paralelamente ao espaldar da cadeira. Agora sinto-lhe o peso na ponta do braço. Um puxar fraco, que mal se sente, mole, macio: é a mão a existir. Não insisto; onde quer que a ponha continuará a existir, e eu continuarei a sentir que existe”150 Se a mão é pelo que dela se separa, então é o separado que recebe a forma daquilo que deixa as mãos. Esta alienação - allienus - inexorável entre as mãos e o que dela se aparta, é a operação que transforma em formas objetivas - objetos, palavras ou gestos - uma operação puramente imaterial. Mas poderia afirmar, como em Lucákcs, que a objetificação é diferente de alienação, que o que se trata é de colocar o produtor em relação ao produzido e, particularmente, em relação ao modo de produção. Por todos os lados, no entanto, o produzido será sempre objeto, objetificado pela ação de produção: sempre haverá de deixar o produtor - as palavras que abandonam as mãos, insistem secar as imagens do pensamento. Por estes termos, a técnica já nasce como ação de apartamento, descolamento, divisão, repartição, fracionamento - pelo menos, inicialmente, do sujeito em relação ao objeto. Por outro lado, não há como escapar de uma relação técnica com o mundo. A forma e o material podem “exultar” com a ação técnica que cria e transforma e lhes dá conteúdo, mas porque agradecem a condução do encontro que os fez íntegros. O objeto reage por projeção (ação passiva ou ativa) subjetiva no indivíduo que sobre ele opera reflexão (ação sobre si). O artesão delicia-se quando a ferramenta é precisa, quando desliza, desbasta, corta e perfura a matéria que, 149 SARTRE, Jean-Paul. A náusea. Mem Martins: Publicações Europa-América, s/d, pág. 122. 150 Idem, pág. 126. 106 obediente, ruma a uma forma. Mas ele não participa da “tomada de forma”: ela lhe é exterior, ela o transcende. A matéria só obedece ao artesão se ele intui a integridade da forma que precede o objeto. A forma só se realiza em si mesma se o artesão compreende o que o material lhe ensina. Sob este aspecto, seria então possível afirmar que há uma espécie de alienação primordial entre termos que, se dispostos em oposição, recusariam qualquer possibilidade de percebermos os “vestígios do fazer no feito”. A forma pensada aparta-se do fundo e segue por si. A matéria recolhe-se numa forma e sublima as mãos. Pelos efeitos da oposição, prevalece a heteronomia das mãos perante um cérebro que as comanda: a elas reserva-se exclusivamente matéria e servidão. Seu papel é conduzir a forma informe da natureza à realidade ideal das formas lógicas do pensamento. Por este beco, estreito, separam-se também natureza e artefato: ao reino da natureza pertencem as mãos, é ali que operam e a ela se agarram, com os gestos antropianos que nos lembram sempre o bíos do qual fazemos parte. Os produtos das mãos, seus artefatos, separam-se em ordens classificáveis, mensuráveis e perfeitamente alienáveis - em todos os termos -, dispostos como o pensamento que salta, sem mediações, diretamente para o mundo das formas sensíveis que denegam o estreito laço que as une ao material. Nestes termos, arrisco a ficção de um diálogo. Em seguida, procuro na filosofia os termos da oposição. E, caso existam, as possibilidades de conciliação. #3 “- Quem sois vós? - Ora, dizes não nos reconhecer? - Não lembro... ah! Sim, sois as mãos que comando... reconheci-vos entre as 107 nervosas terminações com as quais tenho que me ocupar. Mas o que fazeis aqui? Não tendes mais nada com que vos atarefar? Não tenho tempo para vossas arengas. - Senhor, viemos lembrar-te de não nos esquecer... - O quê? Como podeis gesticular tal insulto? Não sabeis que falais com aquele que é a memória, a alma do ser e o domínio do espírito? Como ousais insinuar que não domino sequer a existência das minhas extensões sobre o mundo? - É que o mundo tem reclamado, Senhor... Como dele nos mantivemos tão próximas, ouvimos-lhe as queixas: as formas que concebeis muitas vezes não são do seu feitio e no talhe de sua natureza, fazem-no distender os músculos, esgazear os olhos e ele nos diz não mais agüentar... - Ora! Quanta petulância! Não sabeis que tudo conheço e se não conheço, aprendo e se aprendo, ordeno? Como podeis insinuar a insídia de um mundo que aí está para nos servir, a mim e - inclusive - a vós? Voltai para vossas obrigações e deixai-me em paz com minhas atribulações: ainda tenho que cuidar daquela parte que não vos diz respeito, das afecções e afeições do espírito, que tanto trabalho me dá... - Mas Senhor, longe de nós a rebelião... de nada seríamos sem ti e sem tuas ordens, sem os caminhos que nos franqueia às palavras que inventa, sem nos ensinar como seguir entre os becos escuros que nos levam aos outros órgãos... mas o mundo também nos tem feito lembrar... lembrar que sem nós o Senhor não o alcança... Perdoa-nos, não te retires à cela de teu crânio, não queremos exasperar-te ou sequer ofender-te. Mas é que acreditamos que nos separarmos, assim, numa manufatura ordenada do mundo, sem nos pensarmos como parte de tuas entranhas... Senhor, tu sabes quanto o que dizemos, não seria justo tu proibires os ouvidos e os olhos de conhecerem o mundo... - Minhas caras... Olhos e ouvidos, boca e palavra são meus domínios! De nada partilharei sequer suas franjas. Quanto ao mundo, tapai-lhe a voz e sufocai-lhe os frêmitos: eu 108 ordeno! É para isso que tendes dedos. Separai-o em fragmentos, transformai-o em migalhas, apartai-o de si mesmo. E retornai imediatamente para vossas tarefas: assim o ordeno!” 109 AS FORMAS DAS MÃOS hilemorfismo e essência da técnica #1 Primeiro passo. Prometeu dá forma à matéria: o homem. Ao tratar dos cinco caminhos possíveis para se alcançar a verdade, Aristóteles inclui a téchne entre eles - aquela que traduzimos em técnica, numa inteligência que se faz pelas mãos e que de forma muito tênue vincula-se ainda à idéia de arte, como nos termos próprios à concepção grega, ainda nos tempos do estagirita: “Dê-se por estabelecido que as disposições em virtude das quais a alma possui a verdade, quer afirmando, quer negando, são em número de cinco: a arte [téchne], o conhecimento científico [epistéme], a sabedoria prática [phrónesis], a sabedoria filosófica [sophia] e a razão intuitiva [nous] (não incluímos o juízo e a opinião porque estes podem enganar-se).”151 Enquanto formalidades da razão, os cinco caminhos de Aristóteles apontam para diferentes aspectos do ser e tratam, conforme o filósofo, daquilo que, enquanto virtudes da alma, pertencem às virtudes do intelecto, àquela parte “que concebe uma regra ou princípio racional” (a outra parte diz respeito às virtudes do caráter, desprovidas de razão)152. No entanto, podemos inferir, desde o início, uma ordem ascendente que organiza estes caminhos segundo uma certa precedência, como se cada um deles alcançasse ‘mais’ ou ‘menos’ verdade. Dessa forma, téchne e phrónesis são princípios racionais que se ocupam das “coisas variáveis” e atêm-se aos domínios do mundo mutável e impreciso; permanecem ali, mais próximas do juízo e da opinião, elas ‘quase’ “podem enganar-se”; epistéme, sophia e nous, compõem a parte “pela qual 151 ARISTÓTELES. Ética, 1139b 15-18 152 Idem, 113b 35 - 1139a 1-5 110 contemplamos as coisas cujas causas determinantes são invariáveis”153. Num sentido mais amplo estabelecido para o termo, compreendido como uma arquitetônica mais do que como a atividade do arquiteto que hoje conhecemos, Aristóteles dá assim seu exemplo de uma sabedoria que é dirigida a fins - uma téchne, diferente da sabedoria prática que tem o fim em si mesma ou quando este fim é sempre a virtude e a perfeição - a phrónesis: “Ora, como a arquitetura é uma arte, sendo essencialmente uma capacidade raciocinada de produzir, e nem existe arte alguma que não seja uma capacidade desta espécie, nem capacidade desta espécie que não seja uma arte, segue-se que a arte é 154 idêntica a uma capacidade de produzir que envolve o reto raciocínio.” A téchne, por estes termos, é habilidade e vincula-se à ação de fabricar, ao produzir, à poíesis, enquanto que a phrónesis, por sua vez, é sabedoria moral e vincula-se à ação no campo ético e político, à práxis. A distinção operada reflete, obviamente, uma outra categoria significacional, se comparado o regime de significados contemporâneo. Mas ela denuncia alguns aspectos que contrastam a maneira como a téchne enquanto arte absorve, para além do tempo grego, grande parte do regime significacional do termo na sua origem. À técnica propriamente dita - com quem a arte partilha o termo de origem - reserva-se a condição de atividade que se aproxima do que é “por natureza”, nos termos de Aristóteles, uma atividade que reflete uma atitude submissa frente à natureza ou da pura intuição biológica, como veremos. Uma alteração significacional semelhante acontece com a phrónesis, talvez mais pelo tanto que se vincula à práxis, principalmente no que se refere à sabedoria moral vinculada à política: a impressão que temos é que ela pervade e se alastra no sistema engendrado pela téchne, transformando-se também em atividade realizada em direção a fins. Retomo os termos desta inversão no momento em que argumento, historicamente, a transformação de técnica em tecnologia. Trata-se, contudo, de um sistema de ações sobre o mundo que, já nas origens do pensamento ocidental, ocupam dois territórios distintos e, de certa forma, inconciliáveis. Se 153 Idem, 1139a 7-9 111 Aristóteles separou “la dimensión práxica de la poiética es porque consideraba que ambas actividades suponian hábitos específicos y formalmente distintos. Mientras que la actividad poiética implica traer algo a la existencia, la actividad práxica de ninguna manera lo 155 supone.” Seria importante frisar, além do aspecto comentado, que a téchne à qual se refere Aristóteles era compreendida pelo mundo grego como uma atividade que ‘ajuda’ a natureza a se naturificar, justamente onde falha a ciência (epistéme). Isto é, a natureza completar-se-ia como natureza a partir da atividade técnica. Tal postura reflete um certo ‘narcisismo’ entre os gregos, na medida em que se enxergavam na natureza e não por um regime de alteridade que os excluiria daqueles domínios156. O sistema organizado por Aristóteles é extensíssimo. Como o que me interessa é a relação entre técnica e natureza (impossível escapar dela nos regimes de atuação do ofício), tento verificar alguns elementos de uma genealogia que certamente é muito mais ampla. Trago, então, uma extração ‘interessada’ da Física de Aristóteles. Ao tratar sobre a natureza e o natural, o filósofo compõe uma separação gnosiológica157 entre aquilo “que é por natureza” e aquilo “que é por outras causas” - como, por exemplo, por arte, por téchne: uma dicotomia que se explica pela ordem lógica, que separa terra, ar, fogo e água, essas coisas que têm sua origem em si mesmas, dos atos humanos voltados ao produzir e às coisas produzidas, “cuja origem está no que produz, e não no que é produzido”158. A phýsis manteve-se, em todo o pensamento grego, como uma espécie de ‘pano de fundo’ por sobre o qual até mesmo a metafísica, pelo contraste, conjuga os elementos em negativo que lhe conferem alteridade. Não só por isso, mas assim também o faz Aristóteles. Em 154 Idem, 1140a 1-10. 155 ARMELLA, Virginia Aspe. El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles. México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1993, pág. 25. 156 Formulo esta observação a partir de notas de aula da profª Olgária C. F. Mattos. 157 Parece-me o termo mais apropriado para a empreitada de Aristóteles, uma vez que “aplicar-se-ia bem pela sua etimologia à análise reflexiva do ato ou da faculdade de conhecer, estudado em geral e a priori através de um método lógico análogo ao de Kant” (LALANDE, André. Vocabulário... Op.cit., pág. 449). 158 ARISTÓTELES. Ética, 1140a 15-16. 112 termos de escrita, sua Física preserva o espírito de manifestação oral e, assim, adquire a aparência de um conjunto de ‘registros de aula’: sabe-se muito pouco para poder afirmar a responsabilidade direta do filósofo por sua publicação. Entretanto, encabeça um conjunto de estudos sobre a natureza e se apresenta como uma espécie de corolário metodológico que agrega alguns princípios gerais para estudá-la. Em primeiro lugar: physikè (a obra de Aristóteles era conhecida como Physikè akróasis) era um adjetivo - não um conhecimento empírico como pressuposto de uma ciência, como já em Galileu. Phýsis, designava tudo quanto existe no universo - e não uma região do ente. Por isso, uma ontofísica sugere a origem de todas as coisas e todas as coisas como origem de si mesmas. É a partir dessa tradição que Aristóteles monta sua physikè epistèmé. Sua questão central é o movimento, enquanto tendência própria à “natureza das coisas”, referindo-se não só a um possível movimento cinemático mas, mais que isso, também às diversas formas de transformação da matéria (kínesis). Trata dos movimentos fenomênicos a partir de suas próprias condições de inteligibilidade: movimento é um dado empírico, fenômeno disposto como aparência sensível que nos coloca frente à intuição do devir - ainda não restrito a um puro eîdos inteligível159. Mas essa intuição que o movimento suscita é dada processualmente, numa afecção160, como, por vezes, refere-se Aristóteles (páthèma). Isto é, o sensível não é só o que é sentido mas tudo o que pode ser sentido. Além disso, o sensível só se abre como atualidade sentida quando perante aquele que sente, cuja sensibilidade só se estabelece no ato de ser 159 Para os efeitos que aqui pretendo, tomo como referência os comentários de Echandía, tradutor e responsável pela introdução da edição espanhola que utilizo: ECHANDÍA, Guilhermo R. “Introducción” in ARISTÓTELES. Física. Madrid: Editorial Gredos, 1995, pág. 15. 160 Há uma grande dificuldade na tradução do termo; Aristóteles, por vezes, utiliza-se de páthèma, como um estar sendo afetado, como algo que se realiza ao mesmo tempo em que ocorre no devir. O espanhol assume o termo afección, que me parece abusivo não só quando trazido para o português - que tem mais a ver com alterações ou anomalias de ordem psíquica ou fisiológica - como também o sentido estabelecido para outras línguas. Os contemporâneos ingleses, aos quais se refere Lalande, propõem utilizar o termo num sentido mais próximo ao pretendido por Aristóteles, o de “móbil proveniente da sensibilidade”. De qualquer forma, mantenho o sentido mais amplo descrito por Lalande: “Todo movimento da sensibilidade [no sentido que se refere às emoções], que 113 afetado pelo sensível: assim, o sentir e o sensível constituem um único fato ontológico (ou princípio ontogenético, para dialogar com Simondon, mais adiante) mas são, em si mesmos, diferentes. Como diz Echandía: “Lo primario es el hecho compacto e indiferenciado del sentir, un hecho anterior a toda conceptuación diferenciadora. Denominarlo afección es un primero intento de objetivación. El segundo momento está en la distinción entre lo actual y lo potencial, lo cual implica una reconstrucción racional de la 161 sensación” Segundo o comentador da obra de Aristóteles, a experiência primária, portanto, refere-se exclusivamente a uma mera presença que não guarda, em si, a experiência da atualidade ou da potencialidade de uma existência. Isto é, não é porque alguns atóis australianos de formação recente não existem para alguém - alguém que sente - que eles deixam de existir como presença - que um dia, talvez, esse alguém pudesse vir a experimentar. Essa sutil diferença que Aristóteles interpõem no jogo da sensibilidade é central para o desenvolvimento de sua physikè epistèmé e para sua formulação da idéia de forma, como veremos adiante. Há, portanto, uma “duplicidade potencial do sensível e do que sente”, entre ser e poder ser sensível, entre ser e poder ser sentido. Fora algumas questões com Parmênides e com a tradição megárica (“nada será frio ou quente se não o sentimos efetivamente”), Aristóteles deixa claro, com o argumento da duplicidade, que, se uma coisa que não pode ser o que não é, nada exclui a possibilidade de ser o que não é agora. Dessa forma, o devir, que implica em futuro, implica também em afecção, nos termos de Aristóteles, e conduz ao que chama de movimento. Assim, o presencial pressupõe, de certo modo, um virtual - também existente, só que não agora. No entanto, se o ser é domínio exclusivo do presencial, do atual, para assegurar a idéia de movimento e preservá-la da mera ilusão (quem garante que uma coisa que não é agora pode vir-a-ser algo?), será necessário incluir o poder-ser no próprio ser: “Lo que tiene consiste numa mudança de estado provocada por uma causa exterior. Este movimento pressupõe a existência de uma tendência mas não se confunde com ela...” (LALANDE, André. Vocabulário... Op.cit., pág. 32). 114 capacidad de sentir es potencialmente tal como lo sensible es ya en acto; mientras al comienzo de la afección no es semejante, una vez afectado se hace semejante a la cosa y es como ella”162. Retomando e questionando as aporias do arcabouço teórico enunciado pelos eleatas e pela escola megárica e perseguindo o estranhamento platônico frente à manifestação, ao mesmo tempo, da identidade e diferença, de ser e não-ser, que o movimento engendra, Aristóteles nos faz encontrar o não-ser no coração do ser. Ainda assim, talvez um certo empirismo recalcitrante pudesse reclamar que o não-ser é apenas um arranjo de linguagem, uma vez que não passa pela experiência. Mas o estranhamento permanece, inclusive em virtude da própria linguagem: ela também é índice de movimento, uma vez que se abre como pensamento - o qual é em-si-mesmo assim como próprio do vir-a-ser163. Assim, para Aristóteles, há sempre um chegar-a-ser desde o que não-era: “El bloque de mármol es transformado en estatua, la madera en cama: al explicar este cambio de ser desde la dimensión de virtualidad Aristóteles se ve forzado a tener que admitir el no ser en el seno del ser real y efectivo.”164 Como idéia já pertencente à tradição grega desde tempos remotos, Aristóteles recoloca em conceito a dýnamis, como um poder motor ou uma força de um em-si na natureza, que a projeta como faculdade e potência de transformação; uma tensão entre afirmação e negação, entre ser e não-ser que produz movimento e mudança: “il y a donc supposition de l’existence d’une succesion temporelle”, como veremos em Simondon165. Mas admitir essa potencialidade no ente que muda, implica reconhecer que, 161 ECHANDÍA, Guilhermo R. Op.cit., in ARISTÓTELES. Física. Op.cit., pág. 16. 162 ARISTÓTELES. “Acerca Del alma” - 418 a 3-6. Apud ECHANDÍA, Guilhermo R. “Introducción” in ARISTÓTELES. Física. Op.cit., pág. 17. 163 “Aunque fuese verdad, como dicen algunos, que el ser es infinito e inmóvil, no parece que sea así según la sensación, sino que muchas cosas parecen estar em movimiento. Y se esto fuera uma opinión falsa o, em general, uma opinión, entonces existe el movimiento; y de la misma manera si fuera imaginación o si algo pareciera ser diferente em diferentes tiempos, ya que la imaginación y la opinión son em algún sentido movimientos” (ARISTÓTELES. Física, 254a -27 a 30. Op.cit., 437/438). 164 ECHANDÍA, Guilhermo R. Op.cit., pág. 18. 165 SIMONDON, Gilbert. L’individu et sa genèse physico-biologique. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 1995, pág. 22; e, com a ajuda da tradução de Ivana Medeiros, “Logo, há suposição da existência de uma sucessão temporal” (SIMONDON, Gilbert. “Introdução” in Cadernos de subjetividade. Publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP, vol.1, nº1 (1993). São Paulo: Editora Hucitec, 1993, pág. 100). 115 então, ela abriga alguns princípios que regem o próprio movimento de mudança. Daí, a matéria (hýle) - um termo particularmente aristotélico, designa uma realidade não sensível, que só pode ser conhecida por analogia, situada fora do âmbito do conhecimento - que se eleva como um dos princípios de mudança, como “sujeto potencial e indeterminado del movimiento con respecto a ese otro momento determinante del movimiento determinante e actualizante” 166 que é o segundo princípio de mudança, a forma (eîdos) - um termo que provavelmente remonta os pitagóricos, tradicionalmente utilizado para designar “aparência” ou “natureza constitutiva”e, mais adiante, uma “realidade supra-sensível” 167 . Mesmo que se referindo aos entes não artificiais, tratando de princípios não empíricos e suposições necessárias para a conceituação do movimento, Aristóteles implica no seu esquema hilemórfico alguma interatividade permanente entre o princípio formal e o princípio material, e entre o potencial e o atual. É nesse momento que Aristóteles interpõe, entre os dois princípios, um terceiro, o que chama de stérèsis, “privação”. Isto é, para que o que não é possa vir a ser, é preciso ‘consumir’ a potência do vir-a-ser presente no que ainda-não-é. Assim, o que é apenas potência é uma “privação” de forma e, portanto, um não-ser em relação ao que chega-a-ser (enquanto um “llegar a ser desde lo que no es”168). Daí a conclusão de que a matéria, além de não-ser em si mesma (e por acidente) ela não-é porque é privada de forma. De aí a configuração conceitual acabada do esquema dos três princípios: a forma que é um vir-a-ser e os outros dois, que são um não-ser: “uno, la materia, que es un no-ser accidental, pues aunque tenemos que suponer que ya es, nos vemos forzados a concebirla como un no-ser con respecto a lo que va a ser; otro, la privación, que con respecto al término a que 169 ha llegado a ser se nos presenta como um no-ser de suyo.” Portanto, a mudança consiste justamente nessa “atualidade transitiva do potencial enquanto tal”, isto é, na transição entre os termos iniciais. Muito embora pudéssemos 166 ECHANDÍA, Guilhermo R. Op.cit., pág. 19. 167 Conforme nota 11 deste trabalho, significados e transliteração segundo PETERS, F. E. Termos filosóficos gregos - um léxico histórico. Op.cit., págs. 58 e 59 / 110 a 113 / 62 a 67. 168 ECHANDÍA, Guilhermo R. Op.cit., pág. 20. 169 Idem, pág. 20. 116 dizer que o que muda é a coisa em si mesma ou, por outro lado, o que muda é a coisa mudada, para Aristóteles seria um erro confundir tais inferências com a transição entre um não-determinado e uma determinação efetiva. Tijolos, areia, cimento e cal não são uma parede mas não deixam de encerrar, em si, a possibilidade da parede enquanto potência, em matéria que se transformará em parede; por outro lado, a parede ainda é a potência atualizada dos materiais utilizados e, no entanto, não é mais tijolo, areia, cimento e cal em si mesmos. E a parede, enquanto tal, priva de forma os elementos iniciais para conduzi-los a sua realidade formal. Daí, a transformação não está no transformado nem no que se transformou. Está na transição. (Como veremos - e apesar dessa ressalva estabelecida por Aristóteles - ainda assim serão encontrados limites para o esquema hilemórfico aristotélico, mas é justamente nesse processo, na transição, que se assenta a possibilidade de superação dos limites. Mais adiante). Seria possível também dizer que essa transição é uma “mudança de estado”, que o movimento é um estado da coisa como o é seu repouso. Mas, a rigor, o movimento não é um estado, no sentido próprio do termo, porque é justamente um processo, um devir, um vir-a-ser que cessa quando o que virá-a-ser já o é 170 . Um sistema que parece gnosiologicamente impecável. Desviando-me das implicações metafísicas que a abordagem aristotélica pode implicar - interessa-me aquela “formalidade cognoscitiva” que cuida da forma enquanto matéria e da matéria como forma -, parece fundamental a concepção dessa partilha que Aristóteles estabelece entre forma & matéria, para além da partilha entre ações a fins e ações que têm o fim em si mesmas. Apesar de intermediar os dois termos de princípio com um terceiro que parece justapor-se ao primeiro e assim assegurar a transitividade entre matéria & forma na medida em que há um momento de “privação” que ocorre no tempo do movimento, fica implícito que a dualidade de princípios acaba estabelecendo um fracionamento que separa, 170 Idem, pág. 21. 117 irredutivelmente, os momentos do que virá a ser e do que efetivamente já é. Não pretendo aprofundar esta questão mas procurei realçar-lhe as cores para contrastar algumas considerações que teço a seguir. Primeiro. A impressão que tenho é que o movimento do que é ‘por natureza’ de Aristóteles também é aquele tempo do artesão: aquele tempo que, na concepção grega, não pertence ao artesão (comento, mais adiante, com o auxílio de Vernant e Vidal-Naquet); a ele é concedida apenas a esperteza do kairós, o momento oportuno agarrado no tempo certo. O resto é natureza e por isso não lhe pertence. Tal concepção, no entanto, prejulga a amplitude do ato de agarrar como instante desse movimento concebido por Aristóteles. Suspeito que o movimento radicalizando a cinética de seu princípio, seu meio e seu fim - é anterior e ulterior ao instante finito que aparece no trânsito entre matéria e forma. Minha impressão é de que o instante encerra apenas o que é parte de um movimento contínuo que flagra um momento em que o movimento se acelera - ou retarda -, alterando o rumo e o destino do que há de vir-a-ser171. Tanto a origem como o destino se imbricam num movimento que me parece amplamente extenso e contínuo, ainda que suscetível a variações de velocidades. Caso contrário, não seria possível admitir que uma mesma árvore brote, cresça, frutifique, morra e apodreça - pura natureza - ou brote, cresça, frutifique, seja derrubada e vire mesa - um domínio da técnica, do que é ‘por arte’. Se assim fosse, forma não tomaria matéria, nem matéria tornar-se-ia forma. Segundo. A afirmação da possibilidade de algo que não é agora, neste momento atual, poder vir a ser, sem dúvida abre à potência o universo extenso do virtual. No entanto, essa afirmação pode induzir a outra: de que esse virtual, por mais extenso que se manifeste, é um 171 Aristóteles não deixa de negar a imobilidade ou mobilidade permanente de todas as coisas mas reafirma a possibilidade de uma coisa encontrar-se em repouso e absolutamente imóvel como atributo de todas as coisas (o conhecimento do permanente estado de movimento da matéria - fora as condições do zero absoluto - é coisa recente). Ver ARISTÓTELES. Física. 254 a -16 a 36 / 254 b - 1 a 8. 118 universo finito e plenamente cognoscível. Aristóteles mesmo afirma que nada vem de nada. Se a forma negativiza a matéria pelo fato de o seu vir-a-ser precisar da “privação” do ser da matéria para tornar-se forma - além do fato de a matéria ter que, necessariamente e por acidente, negar-se porque deixará de ser matéria para ser forma - parece-me que essa negação inverte o sinal daquilo que pode vir a ser, isto é, torna-se o que já é pelo que é como potência acabada. De certa forma, dá-me a impressão de um obstáculo à invenção. Assim, tal operação pode induzir a pretensão de um universo do sensível inteiramente estruturado, classificado em experiência cognoscível, em matéria intelectualmente racionalizada e previamente estabelecido. Não estou aqui às voltas com um indeterminismo teológico ou mágico: valham-me os deuses. Mas não fico à vontade frente a esta proeminência da forma em relação à matéria, como se não fosse possível um movimento às avessas, imbricando natureza e técnica. É certo que a mesa não retorna a árvore (como lembra Aristóteles referindo-se a Antifonte172) mas não seria impossível a mesa transformar-se em matéria para uma cadeira, a cadeira em matéria para o cozimento dos alimentos, os alimentos matéria para adubação do solo e o solo matéria para o surgimento de uma nova árvore. Terceiro. Uma separação por pressuposto entre forma e matéria parece orientar também o distanciamento entre o pensamento e o pensado. São categorias de uma outra formalidade cognoscitiva, é certo. Mas me parece que se imbricam na medida em que há um entrelaçamento das formas pensadas com as formas da natureza - quanto à matéria, não seria necessário aduzir. Além disso, Aristóteles afirma o pensar já como um movimento. Daí um certo descolamento interessado em favor da forma, enquanto aquela que com-forma, que organiza a matéria segundo uma ‘geometria’ eventualmente produzida pelo pensamento que pode, astuciosamente, com-prometê-la com finalidades externas que não necessariamente precisam corresponder ao 172 “...si se plantase una cama y la madera en putrefacción cobrase fuerza hasta echar um brote, no se generaría una cama, sino madera...” (ARISTÓTELES. Física. 193a -14 a 15). 119 seu em-si-mesmo, à sua não-determinação determinada na origem. Se já estabelecemos, de princípio, o início e o fim dos meios em movimento, além disso fica a impressão de que é possível alçar a forma à condição de atividade suprema do espírito - sei que é mais ou menos isso mesmo que acontece, já em Platão - que a alcança apenas pela contemplação, abandonando a atividade dos “retalhistas e comerciantes” que nada mais fazem que nos desviar do reto caminho às esferas da verdade. Assim, não haveria possibilidade de verdade no gesto técnico se compreendido exclusivamente como sucedâneo da indominável mutabilidade do mundo físico. Veremos adiante no que isso pode dar. Quarto. Quando Aristóteles interpõe um termo negativo na relação entre os princípios materiais e formais do movimento, parece que uma certa univocidade positiva - que decorre da troca do sinal sobre o qual falei - acaba estabelecendo um movimento de mão única, como acabo de especular na minha segunda consideração. Além disso, se o não-ser é “privado” em relação ao que é “privação” - pois precisa afirmar-se como um que não é mais -, o determinado, por sua vez, é o não-ser das outras possíveis potências do que poderia vir-a-ser não realizado. Talvez seja esse o incômodo que nos leva julgar não só a reversão entre os princípios como ainda a obstrução da invenção. Por que o que é, é isso e não aquilo? Mas é no Livro II, parte 1, que Aristóteles vai estabelecer os fundamentos que sustentam sua concepção de forma e matéria, pela clara distinção entre aquilo que “é por natureza” e aquilo que “é por outras causas”173. Para definir a natureza e o natural, Aristóteles usa como contraste aquilo que, pela composição lógica, é o seu avesso: a arte, enquanto téchne. Animais e suas partes, plantas e os elementos simples como a água, o ar, a terra e 173 A doutrina das 4 causas, como veremos, ascende do mundo grego à sua concepção latina de forma arrevesada: conforme Heidegger, é difícil estabelecer um regime significacional comparativo que prescindisse de mediações para compreender as diferenças de concepção entre gregos e latinos para a doutrina das 4 causas. Ver 120 o fogo “são por natureza”, segundo Aristóteles, porque preservam em si mesmas o princípio de movimento e repouso - nos termos a que me referi. Já os produtos de arte - e aqui compreendida como téchne, como produção artificial a partir de um princípio intrínseco (p.ex.: a condição de abrigo de uma casa) ou extrínseco (p.ex.: alguém que cura a si mesmo e, por acaso, é médico174) - não têm, em si mesmos, nenhuma tendência natural à transformação. Dada esta condição, Aristóteles complementa que há ainda as coisas que são “por acidente” mas que, mesmo assim, elas não guardam em si mesmas a potência que as faz transformar - como o caso do médico que cura a si mesmo. Isto posto, o filósofo argumenta que é possível definir uma “natureza”, justamente pelo tanto que se distingue daquilo que é “por outras causas” - por arte ou por acidente - pelo tanto que corresponde ao princípio de movimento e repouso. “Porque la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pentenece primariamente y por si misma, no por accidente.”175 Aristóteles chama de substância cada uma dessas coisas que guardam em si mesmas tal princípio e que elas seriam o substrato da própria natureza. Tais substâncias, contudo, não admitem reduzir em si o natural: elas são “por natureza” ou “conforme a natureza” mas não “são natureza” (phýsei) nem “têm natureza” (katà phýsin): o movimento do fogo é “conforme a natureza” mas não é natureza. O movimento é um princípio; logo a natureza é um princípio. Como contra-exemplo, Aristóteles lembra os que dizem que a “natureza” de uma cama é a madeira e da estátua, o bronze. Daí a inferência de que a natureza das coisas é a substância informe que lhe subjaz: a madeira, em si, não tem forma pré-definida, assim como o HEIDEGGER, Martin. “A questão da técnica” in Cadernos de tradução - número 2. São Paulo: Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, 1997. 174 Conforme nota Echandía, o exemplo do médico é recorrente na obra de Aristóteles e aqui se presta para demonstrar como esta coincidência é meramente acidental, isto é, não é condição necessária para a realização da cura que o que é curado seja aquele que cura (ARISTÓTELES. Física. Livro II, parte 1, nota 6). 175 Idem, 192b -21 a 23. 121 bronze. A substância segue sendo aquilo que permanece, ainda que afetada pela contingência da cama ou da estátua. E é aqui que Aristóteles duplica a via de sua argumentação: se num sentido é possível afirmar que é natureza aquela matéria original que dá existência às coisas e que preserva em si o principio de movimento e mudança, em outro sentido também o é a forma à qual o movimento se dirige, “una concausa de las cosas que llegan a ser, como si fuese una madre”176. Afirma-se que uma cama é uma cama porque, como uma coisa que é “por arte”, tem a forma de uma cama; se não tivesse a forma da cama, seria apenas madeira, uma possível cama em potência. Por outro lado, carne e osso são o que são porque, como coisas que são “por natureza”, preservam em si a potência de um corpo, mas não são um corpo enquanto não se realizarem na forma “corpo”. Neste sentido, uma coisa atinge plenamente seu fim (telos) quando realiza completamente a forma (eîdos) para a qual está disposta “por natureza”. Portanto forma é natureza: “La forma es más naturaleza que la matéria, porque decimos que una cosa es lo que es cuando existe actualmente más que cuando existe en potencia.” A forma só pode ser separada da coisa conceitualmente: se forma e matéria são natureza em princípio e separadas, o conjunto forma & matéria não o é. Neste caso, o conjunto - sinolón - é sempre “por natureza” pois a natureza é o princípio (movimento e transformação) e não a realidade sensível em que se transformou forma & matéria. Além disso, qualquer movimento de geração e crescimento, gera e cresce em direção a alguma coisa. Aristóteles, como diz Echandía, não aceita um ‘ovo sem a galinha’: a phýsis, como processo “em direção a” é sempre forma. Uma coisa não cresce na direção de onde provém, mas em direção àquilo que será. Portanto phýsis é, sobretudo, forma177. Retomo meus incômodos. A procura pelos princípios que estabelecem a natureza e o natural em sua essência parece produzir um entrelaçamento entre o que é “por natureza” e o que é “por arte” a 176 Idem, 193b -5 a 18. Op.cit., pág. 135. 177 Idem, 192a -14. Op.cit., pág. 120. 122 cada passo do Livro II da Física aristotélica. Um imbricamento que se justifica se pensarmos na madeira que pode ser matéria da forma árvore e assim permanecer como natureza, ou que pode ceder sua matéria para uma coisa artificial, uma mesa, por exemplo. Poder-se-ia argumentar que “matéria” e “forma”, neste caso, tratam-se de “precisões abstratas” e não de “conceitos descritivos”178. No entanto, na segunda parte do Livro II, Aristóteles deixa entender que a física não deve tratar de uma forma sem a geometria da matéria nem da matéria sem o espírito da forma. O exemplo que dá - que já estava em Platão e parece ter sido freqüente na Academia daquilo que a física deve ter como objeto é como o “chato en una nariz; porque el objeto de nuestro estudio no son cosas carentes de materia ni tampoco cosas exclusivamente materiales”179. Indaga ainda se o físico deve limitar-se ao estudo de uma das naturezas - forma ou matéria - ou aquilo que resulta das duas; se assim for, indaga-se quanto à existência de uma mesma ciência para as duas juntas ou para cada uma em separado. Considera algumas razões que justificariam a opção por uma ciência que trate exclusivamente da matéria mas recua quando considera o conhecimento disposto pelo técnico, pelo artista: ora, toda “arte imita a natureza” - e esta afirmação é importante; se é próprio do médico ter o domínio do conhecimento sobre o que é a saúde mas ao mesmo tempo saber sobre a fleuma e a bílis (que, para os gregos, era onde residiria a saúde), também é próprio do construtor saber a forma que uma casa deve ter e, além disso, conhecer as propriedades dos materiais que a compõe; conclui então que seria próprio conhecer as duas naturezas, como condições necessárias tanto para o homem gerar outro homem, como para o construtor erigir uma casa. De aí, se ao longo de toda sua preleção Aristóteles trata apenas de conceitos, os exemplos que dá não são estritamente conceituais. A operação que parece realizar é de um destrinçar cirúrgico operado pelo pensamento que recusa à phýsis qualquer dimensão sensível para dela compreender a essência. Um apartamento entre forma e matéria para, conceitualmente, compreender a essência do 178 Idem, Livro II, cap. 1, nota 15. Op.cit., pág. 133. 179 Idem, 194a -12-13. 123 natural. Extrair do sensível “o” sensível, para aceder à essência do natural. Mas em que termos? Seria próprio desta ciência também conhecer o “por quê” e o “para quê”, isto é, as causas e as finalidades e tudo que concorre para este fim. É nestes termos que Aristóteles enuncia os elementos para o desenvolvimento de sua doutrina das 4 causas - que é por onde Heidegger começa seu questionamento acerca da essência da técnica, ‘matéria’ do meu segundo passo em direção à ‘forma’ das minhas mãos. Em tempo: é neste momento que as distinções de Aristóteles se tornam bastante incompreensíveis180, alternando os domínios de conhecimento entre forma e matéria, entre o natural e o artificial, para concluir que a matéria naquilo que é “por arte”, feito com vistas a um uso, é agenciada para participar na fabricação, enquanto que a matéria preexiste naquilo que é ”por natureza”, dela já participa. No entanto, o quanto de natureza não permanece como natureza no fabricado, enquanto princípio de movimento? 180 Explico: parecem-me incompreensíveis primeiro porque é um trecho difícil, talvez resultado da forma como o texto chega até nós - particularmente se considerarmos que o compêndio pode tratar-se de um conjunto de notas de uma exposição oral, como Echandía sugere. Segundo: a dinâmica do texto pressupõe um raciocínio em evolução, não parece concluído, como em outras passagens. Vernant e Vidal-Naquet apontam outra situação em que as divergências não nos deixam perceber a opção por uma concepção ou outra: ao comentar sobre a admissão que ora opõe agricultores e artesãos em classes distintas, ora os agrega contra guerreiros e magistrados, os historiadores asseveram que “a hesitação na escola de Aristóteles chega a uma contradição. Acontece de a agricultura ser apresentada como o tipo de atividade ‘de acordo com a natureza’ na qual o homem pode exercer sua virtude ativa conforme a justiça; outras vezes é considerada uma atividade completamente contrária à natureza do homem livre, uma ocupação ‘servil’, igual aos ofícios do artesão” (VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 20). Se é verdade que o texto é composto a partir de uma manifestação oral e se aceitamos que a Academia pudesse ‘hesitar’, creio pertinente atribuir alguma dificuldade quanto ao aspecto formal no ensaio das diferenças entre o natural e o artificial. 124 #2 Segundo passo. Júpiter de tocaia. Uma reflexão já pertencente à última fase do pensamento de Heidegger, A Questão da Técnica é uma publicação de 1954 a partir de uma conferência proferida na Escola Superior de Técnica de Munique, em 18 de novembro de 1953. Sob o tema As artes na época da técnica, a Escola promovera uma série de conferências e eventos que seriam registrados no ano seguinte no anuário da Academia das Belas Artes da Baviera181. Seu discurso insere-se no debate daqueles tempos imediatamente posteriores ao horror nazista - que tanto comprometeu o filósofo. Entre os ouvintes, Ernst Jünger - que defendera em 1932, em O Trabalhador, a tese de que a relação de alteridade do homem em relação ao mundo técnico só seria superada quando se atingisse a ‘perfeição técnica’ através da ‘tecnicização do homem interior’ - e José Ortega y Gasset - que já tratara do tema em Meditación de la Técnica, em 1933 -, foi talvez uma das suas conferências mais concorridas e não deixou de alcançar uma relativa repercussão em vista das diversas reações que provocou, contra e a favor. Um rápido panorama de época sugere-nos o comportamento intelectual e até mesmo do grande público em relação à questão da técnica. Nos anos de 1950, a técnica, já intimamente associada às razões ideológicas dos mecanismos de dominação e administração da vida, era tida como o destino, imbricada nas ordens político e econômicas engendradas pela guerra fria. Um estandarte do período pode ser muito bem avistado no romance de Aldous 181 HEIDEGGER, Martin. “A questão da técnica” in Cadernos de tradução - número 2. São Paulo: Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, 1997, pág. 42; SAFRANSKY, Rüdiger. Heidegger, um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. São Paulo: Geração Editorial, 2000, pág. 458/459; HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, pág. 251. 125 Huxley: 1953 é o ano da edição alemã de Admirável Mundo Novo. Por outro lado, a Teoria Crítica retomava o território alemão com toda sua força - basta lembrar que a Dialética do Esclarecimento é de 1947, Adorno e Horkheimer haviam retornado a Frankfurt em 1949 e Minima Moralia havia sido publicada em 1951. Além disso, a sensação de um descontrole da técnica e a sombra do perigo atômico instigavam movimentos pacifistas e publicações a favor e contra as técnicas, decorrendo em posturas apologéticas ou dissidentes em relação ao mundo técnico: Alfred Weber faz publicar em 1953, apoiado numa argumentação sociológica e filosófica aparentemente sólida, o livro O Terceiro ou o Quarto Homem: “Causou grande sensação porque pintava o horror de uma civilização técnica e homens-robôs (...). Além disso dava ao leitor a sensação de ser contemporâneo de uma fissura de época, a terceira na história da humanidade (...). No fim haverá dois tipos de seres humanos: os animais cerebrais que funcionam como robôs, e os novos primitivos que se movem no mundo artificial como numa jângal, desinibidos, ignorantes e apavorados.”182 Para além do Atlântico, também é de 1950 a primeira edição americana do livro Cibernética e Sociedade, do criador da Cibernética, Norbert Wiener. É ali que Wiener defenderá sua tese de neutralidade da técnica e daí a disponibilidade de todos os meios técnicos possíveis para promover o progresso da humanidade, inclusive da machine à gouverner: “Seu verdadeiro perigo, contudo, é muito diverso - é o de tais máquinas, embora inermes por si mesmas, poderem ser usadas por um ser humano ou por um grupo de seres humanos para aumentar seu domínio sobre o restante da raça humana; ou o de líderes políticos poderem tentar dominar suas populações por meio não das próprias máquinas, mas através de técnicas políticas tão exíguas e indiferentes à possibilidade humana quanto se tivessem sido, de fato, concebidas mecanicamente.”183 E um pouco mais adiante: “Quando afirmo que o perigo da máquina para a sociedade não provém da máquina em si, mas daquilo que o Homem faz dela, estou, na realidade, sublinhando a advertência de Samuel Butler [qual seja] as máquinas incapazes de agir de outra maneira que não seja conquistar a Humanidade utilizando os homens como órgãos secundários. Malgrado isso, não devemos levar muito a sério a antevisão de Butler, porque, em verdade, no seu tempo, nem ele nem ninguém à sua volta podia compreender a verdadeira natureza do 182 SAFRANSKY, Rüdiger. Heidegger, um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. São Paulo: Geração Editorial, 2000, pág. 460/461. 183 WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade - o uso humano de seres humanos. São Paulo: Editora Cultrix, 1954, pág. 178. 126 comportamento dos autômatos, e suas afirmações são antes incisivas figuras de linguagem que observações científicas.”184 É sobre este pano de fundo que Heidegger vai proferir sua conferência para um seleto grupo de intelectuais, empresários, engenheiros e políticos, imersos neste sentimento de cisão entre o mundo técnico e o mundo dos homens que Günter Anders chamaria de “vergonha prometéica”185. Conforme o filósofo, o propósito de se questionar a técnica decorre da necessidade de se manter um livre relacionamento com ela e, para tanto, é necessário que nossa existência (Dasein) e a essência da técnica estejam harmonicamente estabelecidas, essência a par de essência, em território comum. Por estes termos, Heidegger, de início, conduz sua abordagem para um campo exterior àquele que geralmente abrigava os debates ‘apaixonados’ sobre a técnica, inclusive criticando as posturas que defendiam sua neutralidade - o que nos tornaria cegos para a essência da técnica. Uma concepção corrente que obstruiria a busca pela essência da técnica é aquela que lhe reputa uma “determinação instrumental e antropológica”, definindo-a como o “aprontamento e o emprego de instrumentos, aparelhos e máquinas” com objetivo dirigido a fins186. Se compreendermos a técnica como meio para obtenção de fins, então ela é “algo pelo qual algo é efetuado e, assim, alcançado. Aquilo que tem como conseqüência um efeito, denominamos causa”187. Papéis trocados, Heidegger retoma os gregos e Aristóteles, onde remata sua concepção das razões para a existência dos entes, a doutrina das 4 causas: causa material, causa formal, causa final e causa eficiente188. A causa material é o território da matéria (hýle), como já 184 Idem, pág. 180. 185 SAFRANSKY, Rüdiger. Op. cit., pág. 463. 186 HEIDEGGER, Martin. “A questão da técnica” in Cadernos de tradução - número 2. Op.cit., pág. 43. 187 Idem, pág. 45. 188 Para compreendermos o questionamento de Heidegger em relação à técnica, é bom relembrar que, para Aristóteles, todos os termos da equação correspondem a conceitos analíticos e não são redutíveis a algo realmente distinto. Assim, a existência sensível só é assegurada pelo composto matéria & forma: o que é dado por pressuposto por Heidegger. 127 vimos: dotada do princípio de movimento que lhe adjudica a potência à transformação, é a força da phýsis para o estar em devir; a causa formal, também já vimos, é o domínio da forma (eîdos ou idea): o aspecto para o qual a matéria se dirige “como a uma mãe” (se num primeiro momento tido como aspecto exterior e visível, depois de Platão tratar-se-ia da forma apenas acessível pelo intelecto); a causa final, o horizonte da finalidade (telos), do que cumpre permanentemente uma função como resultado de uma conseqüência prevista; e a causa eficiente, o lugar do operador que imprime seu gesto (reflexão, logos): reflete, re-une e “leva à luz” (apophainestai) o termo final da matéria que se realiza em forma para uma finalidade a se efetivar - continuadamente. Sustentado pelo fato de que a palavra causa não é de origem grega e sim latina, Heidegger interpõe sua discordância em relação às concepções que lhe são contemporâneas, argumentando a favor do sentido original para a idéia de causa em Aristóteles: o comprometer (aítion, o que compromete uma outra coisa, verschuldet). Assim, o gesto comprometeria a coisa enquanto matéria, forma e finalidade. Isto posto, o filósofo compõe a questão: os quatro modos de comprometimento, apesar de diferentes, mantém a unidade de um evento: “O que os unifica previamente? Por onde subsiste o jogo conjunto dos quatro modos de comprometimento? De onde provém a unidade das quatro causas?”189 Recorrendo novamente aos gregos, Heidegger argumenta que o comprometimento é um ocasionamento, um “deixar acontecer por si”, procurando reduzir, no sentido da “representação grega antiga da alétheia”190, algum rastro de proeminência do gesto que opera o comprometimento: são os quatro modos conjuntamente que “fazem com que algo apareça”, com que algo adquira presença a partir de uma não-presença, como se conjuntamente libertassem algo e permitissem o ocasionamento. É este ocasionar a partir de uma não-presença que, conforme Platão e a convite de Heidegger, é poíesis, produzir, hervorbringen. Um 189 HEIDEGGER, Martin. Op.cit., pág. 49. 190 SAFRANSKY, Rüdiger. Op. cit., pág. 463. 128 movimento que é um levar (bringen) o que vem (her) e que se coloca à frente (vor). Numa palavra, um movimento que, ao revelar o velado, desvela. Poíesis, este levar a frente, acolheria todas as formas de produção: o que se produz manualmente, o produzir imagens ou aquilo que se produz a si mesmo, como a phýsis poíesis “no mais alto sentido”. Este desvelamento que Heidegger chama de desabrigar (Entbergen) 191 - alethéia, para os gregos - é correlato à idéia de o não-esquecido ou o não-escondido, isto é, aproxima-se à idéia de verdade (veritas, pelas mãos dos latinos). É por este intrincado caminho da linguagem que Heidegger aproxima, então, o desabrigar da técnica: “O que a essência da técnica tem a ver com o desabrigar? Resposta: tudo. Pois no desabrigar se fundamenta todo produzir. Este, porém, reúne em si os quatro modos de ocasionar - a causalidade - e os perpassa dominando. A seu âmbito pertencem fim e meio, pertence o instrumental. Este vale como o traço fundamental da técnica.”192 Por isso a técnica não seria um meio para o desabrigar e sim um modo de desabrigar. Se por um lado téchne é o vocábulo que se refere “ao fazer”, a uma habilidade e a um poder manual - que se refere, portanto, ao produzir, à poíesis -, por outro lado a palavra sempre aparece ao lado de epistéme, da ciência como conhecimento num sentido amplo. Se o desabrigar se aproxima da idéia de verdade, então téchne seria um modo, uma maneira de aletheýein, de conduzir o desabrigar da verdade193. A partir destes elementos, Heidegger propõe uma diferença entre a técnica stricto sensu e a técnica moderna: esta não se colocaria mais no sentido de “deixar acontecer por si” ou do modo do desabrigar conforme o produzir, mas tratar-se-ia de um desafiar (Herausfordern, provocar) que se dirige à natureza para dela extrair-lhe energia e armazená-la. O exemplo que dá para essa diferença ‘essencial’ é o moinho de vento e a máquina a vapor: no primeiro caso, a energia está à disposição mas não é suscetível de extração ou controle, cabe à 191 Parece-me que já surge uma questão que Heidegger tratará posteriormente. Berg é montanha, Berghütte, uma cabana de abrigo na montanha e bergen significa salvar, abrigar, recolher, pôr a salvo; logo, Entbergen, o desabrigar. Se por um lado o desabrigar corresponde à verdade, por outro lado significa também pôr em risco, desabrigar o que estava a salvo. Assim como para os ocupantes da caverna de Platão. 192 HEIDEGGER, Martin. Op.cit., pág. 53. 193 Idem, pág. 55. 129 operação técnica sujeitar-se “acontecer por si”. No caso da máquina a vapor, há uma reserva natural de energia entranhada do carvão, a qual é suscetível de ser extraída, de ser controlada e de ser armazenada. O que muda, para Heidegger, é o fato de que a natureza agora é posta (no sentido de pôr, Stellen) a disposição para uma “encomenda” de energia, que será explorada e destacada de seu corpo. Parece-me que é neste momento a concepção heideggeriana de técnica assume o mesmo caráter do trajeto aristotélico rumo a uma relação de apartamento em relação à natureza: aqui ela é disposta, desafiada - e saqueada. Mesmo adiante, quando o homem se vê tomando parte dessa disposição, a relação continua como um que toma parte mas não é parte daquilo que toma parte. Comento isso mais tarde. Voltando à nossa conferência, Heidegger passa a perseguir, então, a essência da técnica moderna. Se a natureza é disposta ao desafio, pergunta-se: quem coloca o disposto em movimento e completa o desafio à natureza, lhe extrai e para si reserva sua energia e desabriga o que está disposto? Seria o homem. Que, por sua vez, também é desafiado uma vez que participa do que está disposto: a natureza. Logo, o desafio que desafia o homem a desafiar não é “algo feito pelo homem”. E aí Heidegger chega ao argumento central de sua conferência - que se tornaria bastante popular nos meios intelectuais da época: a idéia de armação (ou composição, dispositivo), Gestell194. A armação seria a essência da técnica moderna, “aquela invocação desafiadora” que produziria o “apelo de exploração”. Heidegger a compara àquilo que Platão denomina como eîdos, mas no sentido do aspecto que se estende para além da sensibilidade, a idea195. Apesar de achar pobre o emprego de armação para designar a essência da técnica moderna em vista da acepção platônica, Heidegger defende sua aplicação por entender que se trata de uma “força de reunião”, uma espécie de “recolher” que já é presente na ciência física moderna, enquanto conhecimento que toma a natureza como um sistema de forças calculáveis. 194 É Safransky quem conta: “Uma vez Heidegger já viajara, mas seu irmão continuava ali [no sanatório de Bühlerhöle, nas montanhas da Floresta Negra, Baden-Baden]. Uma senhora que provavelmente confundia Fritz com Martin perguntou-lhe o que Heidegger achava de Mao-tsé-tung. E o astuto irmão disse: Mao-tsé é o dispositivo (Gestell) de Lao-tsé.” (SAFRANSKY, Rüdiger. Op.cit., pág. 458). 130 Assim, a técnica moderna não se constituiria numa ‘ciência aplicada da natureza’ porque sua essência residiria na armação. Uma vez que é a armação que demanda o emprego da ciência exata da natureza (física), para colocá-la a postos e em condições de disponibilidade, aí estaria o desafio. Heidegger chama isso de destino e, num efeito de quase trocadilho, conduz a idéia de destino como essência da História (Geschichte) e o que poderíamos chamar de Historiografia (Historie). Neste sentido, destino “é também um produzir”, isto é, poíesis196. Não deixa de ser intrigante como Heidegger introduz, neste último movimento, o agente do desafio inicial, o homem: este não participará como “servo”, mas como “ouvinte” 197 . De qualquer forma, Heidegger afirma que destino não é idêntico ao determinismo biológico do mundo das necessidades, das determinações volitivas ou conforme a causalidade de algum querer, mas corresponde justamente ao seu oposto: à liberdade - que se aproximaria do seu desabrigar. Justamente o que acho intrigante, uma concepção de liberdade onde o homem atuaria como ouvinte, sugere contradição com o que segue mais adiante. Prossigamos. Heidegger conduz, então, a liberdade para um âmbito do destino, aquela força de reunião que desafia o homem a desafiar - o que ele chama de mistério, uma “clareira do ser”. Certamente não se trata de um âmbito mágico ou obscuro, como a palavra mistério poderia nos levar inferir. A idéia é de que o destino que põe o homem no caminho do desabrigar pode restringi-lo num caminho à margem, onde apenas as possibilidades aplicáveis da instrumentalidade técnica parecem possíveis. Assim, obstruiria um outro caminho, aquele em direção à essência “num modo cada vez mais originário”, emparelhando sua própria essência à essência do desabrigar: a possibilidade de inventar-se e reinventar a si mesmo. Mas é aqui que Júpiter e Vulcano conspiram contra Prometeu. Confluindo à idéia do desabrigar como o não escondido, como o que é trazido à 195 HEIDEGGER, Martin. Op.cit., págs. 66/67. 196 Idem, pág. 73. 197 “Pois o homem se torna justamente apenas livre na medida em que pertence ao âmbito do destino e, assim, torna-se um ouvinte mas não um servo” (Idem, pág. 75). 131 luz, Heidegger remete ao sentimento de desabrigo que oprime o ocupante da caverna platônica quando este se expõe àquela luz: o sentimento do perigo. É na retroversão do verdadeiro no correto que o homem pode falsear o que está descoberto; pelo desencantamento de qualquer mistério, rebaixando-o à relação causa-efeito que domina aquele caminho em paralelo. Prevaleceria, então, aquela oposição que mencionei em minha parábola. Dominado, o homem agora se arroja como dominador e retroverte o mito de sua salvação. Ali, o homem torna-se subsistência de si mesmo, sempre encontrará mais de si mesmo, sua prisão particular onde se privaria de sua própria existência. Por outro lado, a armação, sob regime da relação causa-efeito, obstruiria o desabrigar da poíesis, da produção no sentido do desvelar que alcança a verdade, e faria com que o desafio se revertesse, reclamando segurança e denegando o risco. A sublimação do risco, paradoxalmente, recalca a possibilidade da invenção, porque ela denegaria também a existência de qualquer universo desconhecido, não reificado198. O mundo transforma-se, então, em pura disponibilidade e “representação do produzir (Herstellen)”. É a partir daqui que a argumentação de Heidegger parece deslizar. Ao propor, com a ajuda de Hölderlin, que a salvação frente à retroversão do verdadeiro no correto encontra-se justamente onde ela acontece, Heidegger esmiúça o sentido de essência, lembrando a linguagem escolar da filosofia: essentia, é o que algo é e permanece sendo, isto é, aquilo que dura, dispõe de concessão para durar e que fundamentalmente universaliza. Heidegger parece abandonar a idéia de armação como essência ao mantê-la como um campo conceitual que congrega apenas uma causa recalcada do movimento do desabrigar: “A armação é um modo destinal de desabrigar, a saber, o que desafia. Um tal modo destinal também é o desabrigar produtor, a [poíesis]. Mas estes modos são tipos que, colocados um ao lado do outro, ficam subsumidos ao conceito do desabrigar.”199 Assim, a essência da técnica não daria conta do gênero e, portanto, não poderia ser considerada essentia. Transcrevo o trecho que segue e proponho mantê-lo em destaque para 198 Idem, pág. 79. 199 Idem, pág. 83. 132 uso futuro: “O que convém, por exemplo, a todos os tipos de árvores, carvalhos, faias, bétulas e pinheiros é o mesmo caráter de árvore. A isso, enquanto gênero universal, o ‘universal’, estão submetidas as árvores reais e possíveis. Então, a essência da técnica, a armação, é o gênero comum para tudo o que é técnico? Se isso for exato, então, por exemplo, a turbina a vapor, o emissor de rádio e o ciclotron seriam uma armação. Mas, a palavra ‘armação’ não designa agora nenhum objeto ou qualquer tipo de aparelho. Muito menos designa o conceito universal de tais subsistências.”200 Compreendendo o quanto aquilo que dura precisa de concessão para durar, Heidegger questiona sua própria idéia de desafio - que pode ser tudo, menos concessão. A princípio. Por alguns atalhos, Heidegger retoma o desafiar agora como abrigo de um enviar que projetaria o homem em direção àquelas disposições de subsistências postas pela natureza. Seria este enviar que colocaria o homem no mesmo movimento do destino - aquele âmbito de liberdade que é o mistério, a “clareira do ser”: há que haver um consentimento para que o destino de um desabrigar, nos termos de Heidegger, aconteça. A saída heideggeriana consistiria, então - e é aqui que julgo uma certa contradição com a condição de ‘ouvinte’ proposta anteriormente -, de uma participação do consentimento do homem no envio a um desabrigar, seja qual for. Isto é, conceder a possibilidade do mistério e da verdade. Dessa forma, Heidegger assenta a possibilidade de uma essência da técnica no próprio processo de sua essencialização. A impressão que tenho é que a saída heideggeriana assemelha-se ao princípio de movimento em Aristóteles quando este diz que “a natureza é um princípio e causa do movimento ou de repouso na coisa que lhe pertence primariamente e por si mesma”, como registrei anteriormente. Faço o destaque primeiro porque, apesar de Heidegger não explicitar a natureza como princípio de movimento, parece-me implícita a inferência. Em segundo lugar, esta concepção aparecerá, novamente, entre os termos daquilo que Simondon vai chamar de princípio de individuação, como veremos. À procura de uma essência superior, durável e primordial, Heidegger retoma, deixando transparecer aquela esperteza que é própria de um grande orador, a concepção grega 200 Ibidem. 133 da palavra téchne, como uma atividade correlata à poíesis, sua identidade no mundo grego com a ordem do belo e das belas artes. “A arte era somente chamada de téchne”201. Novamente, aquela já conhecida condição atribuída à arte, como potência de liberdade que se instala enquanto medra nos recantos da vida: “Se para a arte está assegurada esta mais alta possibilidade de sua essência no seio do perigo extremo, ninguém poderá saber. Mas podemos admirar-nos. Diante de quê? Diante da outra possibilidade, de que por todos os lugares a técnica se essencialize no acontecimento da verdade.”202 Se a empreitada de um questionamento da técnica não é refratária a uma argüição quanto à sua essência, a proposta de Heidegger é que também então a arte não se faça refratária “à constelação da verdade, pela qual questionamos”. Para além de uma certa ginástica lingüística que Heidegger julga necessária para a compreensão do significado último das coisas - como diz, em outras circunstâncias, só seria possível filosofar em grego e alemão - o filósofo propõe uma “livre relação com a técnica” e, para tanto, seria necessário discernir entre uma reflexão que se apóia na sua “existência inautêntica”, como diz em Ser e Tempo, e aquela que se efetiva a partir de uma existência autêntica (o seu Dasein) para que a essência do sujeito da reflexão possa compartilhar livremente com a essência da técnica - o objetivo do questionamento que aqui empreende. Tento tomar os devidos cuidados: o campo de essencialidade absoluta que Heidegger aponta certamente parece arranjar alguns riscos. Como ele mesmo propõe, há um aspecto negativo, em oposição à positividade de uma possível verdade (que dialeticamente como queria Adorno - poderia reverter-se no seu oposto): ao desabrigar o oculto, ao tornar o esquecido em um não-escondido, o sujeito da reflexão corre o risco de, além de ofuscar-se e retroverter o verdadeiro no correto, também perder o caminho de volta. Como se o ocupante liberto da caverna platônica, acomodado à luz e ao contorno das formas que sempre vira em 201 Idem, pág. 91. 134 sombras, nunca mais encontrasse o caminho de volta para sequer arriscar-se ao riso dos que lá permaneceram. Parece-me que Heidegger quase aponta uma possibilidade de um fio de Ariadne quando defende o “deixar acontecer por si” para aquele desabrigar da verdade conduzido pela poíesis enquanto téchne, que se daria numa espécie de compartilhamento com o ser da natureza em sua essência. Mas não introduz nenhuma origem de mediação entre os modos essentes, apesar de reconhecer a função de reunião atribuída ao gesto que coloca em movimento o regime das causas: ao retornar para a equação da causalidade, o gesto assume posição equivalente a qualquer um dos termos (aliás, nos termos a que me referi anteriormente, quando comento Aristóteles, como estabelecer um regime valorativo único para as variáveis da equação?). A impressão que fica ainda é a de um certo apartamento entre termos que impede o ingresso de alguma constante que nos posicione em relação aos eixos por onde transitam as variáveis. Quando Heidegger propõe os termos da diferença entre técnica e técnica moderna, conjuga também os termos de uma relação com a natureza agora absolutamente reificada. Ela é o ‘outro’ desafiado, disposto ao desafio. Pela gramática, o verbo desafiar é de predicação incompleta e, portanto, exige um objeto para lhe completar a significação. Quer dizer, são dois tempos que fracionam a essência da técnica num antes e num depois dela ter se tornado ‘moderna’. Parece-me que foge do que pretende: o essencial. Caso contrário, bastaria uma única concepção ‘daquilo que permanece’ para qualquer técnica. É esta diferença que a concepção heideggeriana traz de técnica e técnica moderna que nos mantém numa perquirição judiciosa atrás de um terceiro termo que ali não existe: os territórios em oposição - cultura x técnica / cultura & técnica x natureza - permanecem numa relação de apartamento inconciliável, como chamei. Cérebro e mãos, pensamento e gesto, cultura e técnica - permanecem em campos opostos. Quanto à natureza, é o outro. 202 Idem, pág. 93. 135 Lembrando Adorno, caberia aqui uma ressalva: não pretendo nenhum irracionalismo tardio de reversão do pensamento e diluição da diferença entre sujeito e objeto para alcançar um argumento que referende a afirmação de uma falsa oposição entre natureza e técnica e a possibilidade de uma passagem entre escolhos, como registrei, mas sim, reúno elementos para compreender os termos de alguma possível mediação na mesma direção mas em sentido oposto. Essa mediação, de qualquer forma, flertaria com o desconhecido. Para além do obscuro âmbito que palavras como “mistério” ou “clareira do ser” podem nos levar, parece clara a concepção heideggeriana de uma possibilidade de o que não existe passar a existir pela possibilidade da invenção. Parece-me importante. Particularmente porque imersa no destino enquanto história humana, como diz o filósofo. Ora, o que está encoberto, não se divisa como descoberto. Só será descoberto na medida em que se cumpra um destino no campo livre do próprio encoberto. No entanto, o desencantamento heideggeriano abriga o risco da reversão da luz em sombra, de tornar o que ofusca em contorno inteligível e instrumentalizável - apesar de ali também “crescer o que salva”. Para todos os efeitos a idéia da possibilidade do homem inventar-se e reinventar a si mesmo nos faz eivados de emulações hegelianas - e marxianas. A partir do momento em que Heidegger conduz a essencialização da técnica para o campo da arte utilizando-se da genética dos vocábulos, a impressão que fica é de um certo grau de paralogismo. Recurso de oratória? A arte já se separou da técnica, como veremos, já há bastante tempo. Daí, fica a questão: porque não promover a busca da essência da técnica na própria técnica? Heidegger vai procurar um outro caminho para a essencialização da técnica moderna, o caminho paralelo em uma ontologia que, para Adorno, seria promover e sancionar uma ordem heterônoma, dispensada de justificar-se diante da consciência. Talvez esta ordem conduzisse Heidegger a seu próprio Holzweg. Como diz Koyré, “sem seres humanos o Ser seria mudo: estaria aí, mas não seria 136 o Verdadeiro”. Uma limitação à nossa “existência inautêntica”: o mundo, o cotidiano. Como venho procurando deixar claro - e até pelo que há de contingente na prática do ofício que exerço -, precisamos do fio de Ariadne que nos vincule o pensamento ao gesto, que reconcilie poíesis e práxis. #3 Terceiro passo. Prometeu se esquiva de Pandora. À semelhança de Aristóteles em sua Física e de Heidegger em seu questionamento da técnica, Gilbert Simondon também empreende seu questionamento quanto àquilo que é “por arte” e àquilo que é “por natureza”. No entanto, inverte a abordagem: não decanta separadamente os princípios de composição entre forma & matéria, ou acerca das causas que concorrem para o estabelecimento do conjunto - sinolón - como o faz Aristóteles. Tampouco pretende a equação das 4 causas como pressuposto de questionamento, ajustado o conteúdo significacional pelo viés lingüístico, como o faz Heidegger. Se para ambos, tratava-se de ter à frente a investigação de essentias - para Aristóteles, a essência do que é natural e da natureza (a phýsis) e para Heidegger a essência da técnica e da técnica moderna - parece-me que Simondon propõe tratá-las como uma única essência, trocando dois pólos da mesma equação - dispostos como opostos pela forma como se conduz a própria investigação - por um único termo ontogenético e primordial: o princípio de individuação. Se considerado o sinolón como a realidade do ser que tem uma ontogênese que 137 pode ser apreendida em sua evolução, para Simondon é justamente a posição do investigador que deve ser questionada. Se por um lado o investigador se coloca após o momento da ontogênese, seu ponto de vista ofusca-lhe a possibilidade de observar o momento da individuação em si mesmo. Por outro lado, se colocado antes deste momento, os termos embaralham-se, migrando alternadamente de um campo conceitual a outro, induzindo falsas polaridades. Para propor uma inversão no estudo do princípio de individuação, Simondon vai explorar uma brecha entre o atomismo - uma via substancialista de abordagem da realidade do ser - e o hilemorfismo - um caminho que olha o indivíduo como um compósito de uma relação causal entre forma & matéria. Para o atomismo, o princípio de individuação seria a própria realidade existente das partículas que integrarão o composto (que são eternas e os verdadeiros indivíduos); já são e estão quando o pensamento se mobiliza para tomar consciência de sua natureza. Segundo Simondon, o atomismo situa seu ponto de visagem depois do processo de individuação, da ontogênese. Para o hilemorfismo, o indivíduo não existe enquanto ainda matéria e forma, como princípios abstratos. Conforme o filósofo, não podemos divisar a ontogênese porque nos posicionamos antes dela acontecer, situamos nosso ponto de observação antes desse processo de individuação. Por isso Simondon compreende que o esquema hilemórfico dispõe um modelo tecnológico (aquilo que é “por arte”) e vital (aquilo que é “por natureza”) de individuação, enquanto que o esquema substancialista do atomismo adviria de um modelo físico para explicar esta individuação. Qualquer um dos modelos, no entanto, desenha uma zona obscura que vela o momento em que acontece a operação de individuação: “Cette opération est considerée comme chose à expliquer et non comme ce en quoi l’explication doit être trouvée: d’où la notion de principe d’individuation. Et l’opération est considérée comme chose à expliquer parce que la pensée est tendue vers l’être individué accompli don til faut rendre compte, en passant par l’étape de l’individuation pour aboutir à l’individu après cette opération. Il ya donc supposition 138 de l’existence d’une succesion temporelle”203 É por isso que Simondon propõe abordar o indivíduo pelo movimento de individuação ao invés de tentar compreender a individuação pelo indivíduo acabado ou antes de sequer iniciar a individuação. Partindo da hipótese de que ela não consome todas as potências pré-individuais dispostas na origem e que o resultado não se resume a um indivíduo que se realiza pela supersaturação de um meio homogêneo, mas também faz aparecer o “par indivíduo-meio” - um meio eventualmente “atravessado” por grandezas de ordens heterogêneas que têm que ser mediadas pelo indivíduo no seu vir-a-ser -, o filósofo propõe considerar a individuação como uma “resolução parcial e relativa” de um processo de interação entre termos de dimensões variadas - e variáveis. De aí o aparecimento de fases no e do ser, estabelecendo um movimento que permite ampliar o regime de escala em que acontece a individuação: “On pourrait dire en un certain sens que le seul principe sur lequel on puisse se guider est celui de la conservation d’être à travers le devenir; cette conservation existe à travers des échanges entre structure et opération, procédant par sauts quantiques à travers des équilibres successifs”204 Convoca a teoria dos quanta como possibilidade teórica que apreende a existência pré-individual do ser, o que nem o mecanicismo, nem o energetismo conseguiriam alcançar. Associada à mecânica ondulatória, seria possível distinguir um horizonte teórico que melhor exprimiria o ser pré-individual205. Dessa forma, as idéias de metaestabilidade e de um equilíbrio metaestável - próprias da física quântica - concorrem para a admissão de um processo de individuação que se estende para antes e para além do evento em si mesmo. De equilíbrio em equilíbrio, pequenas perturbações provocam, num sistema tenso, um decaimento que se estende 203 SIMONDON, Gilbert. L’individu et sa genèse physico-biologique. Op.cit., pág. 22. 204 Idem, pág. 23. 205 Trata-se de uma associação não muito fácil uma vez que a mecânica ondulatória stricto sensu considera possível estabelecer uma abordagem mensurável dos fenômenos de interação entre matéria e energia, mantendo o caráter dualista de interação energética e corpuscular, enquanto que a teoria quântica afirma que o comportamento ondulatório, em contextos de freqüências maiores, pode assumir o comportamento de corpúsculos, de partículas, diluindo as diferenças entre matéria e energia. De qualquer forma, Simondon considera significativo transcender a unidade uma vez que a troca de energia entre partículas não se dá sob um regime de previsibilidade absoluta, nem sequer de forma unívoca. Assim, a teoria dos quanta e a mecânica ondulatória “pourraient être envisagées comme deux manières d’exprimer le préindividuel à travers les différentes manifestations où il intervient comme 139 por longos períodos - o que contraria a idéia de um sistema estável e esgotado em sua potência energética. Assim, forma, matéria e energia já integrariam o sistema pré-individual que é uma fase do sistema metaestável que a individuação corresponde, preservando elementos de uma fase anterior e organizando novos elementos que o processo de individuação irá produzir. Por isso um outro regime escalar para a idéia de atualização em Aristóteles que, de certa forma, induzia a uma ordem estável para o compósito forma & matéria. Isto posto, Simondon propõe que a distinção entre o domínio do físico e o domínio do vivo se dá apenas pelo nível de estabilização da estrutura sensível: como nos cristais, por exemplo, o processo de individuação acontece não pelo encontro de uma forma e de uma matéria qualquer pré-existentes mas pelo que ele chama de resolução interna ao próprio sistema que se utiliza de uma rede de comunicação interativa entre ordens de grandeza que conduz o sistema a um novo equilíbrio - que, no caso, é relativamente estável e sustentável pelo tanto de informações relativas aos caracteres dos elementos originais; a diferença para o sistema vivo é que neste não ocorre uma individuação instantânea e definitiva mas uma “individuação perpétua que é a própria vida”: “Le vivant conserve en lui une activité d’individuation permanente; il n’est pás seulement résultat d’individuation, comme le cristal ou la molécule, mais théâtre d’individuation”206. O ser vivo, por este esquema, individuar-se-ia em si mesmo, através de si mesmo, diferente de um ente físico: a ressonância interna entre seus elementos infra-individuais reprojeta saídas para os problemas induzidos pela metaestabilidade, reorganizando permanentemente o equilíbrio vital. Para compreender: o exemplo de uma grandeza maior, como a luz do sol, e uma menor, como a adaptação molecular do organismo para equilibrar as funções vitais sob efeito de calor. Colocado num movimento absolutamente ampliado, o vivente dialoga préindividuel. Au-dessous du continu et du discontinu, il y a le quantique et le complémentaire métastable (le plus qu’unité), que est le préindividuel vrai” (Idem, pág. 25). 140 problematicamente com as escalas que lhe são interiores e também exteriores, interagindo como elemento de uma individuação num sistema que tem posição interior ou exterior, é maior ou menor, mas que congrega a mesma base informacional. É este diálogo que Simondon chama de transdução: uma operação onde o ser se defasa em relação a si mesmo, provoca tensão e onde cada elemento da estrutura que se individua informa, por uma operação analógica, os elementos seguintes, propagando as modificações e mutações de forma progressiva. Assim, os indivíduos - físicos ou viventes - participam efetivamente de um mesmo caminho, isto é, não um caminho paralelo, como o de Heidegger, mas um caminho que “consiste à suivre l’être dans sa genèse, à accomplir la genèse de la pensée en même temps que s’accomplit la genèse de l’objet”207. O que me parece é que o sistema que Simondon oferece como alternativa ao esquema hilemórfico e ao atomismo substancialista corresponde a uma possível - pelo menos redução dos limites em oposição. Apesar da resenha rasteira que promovi, parece claro como o corpus erigido como natureza onde habitam entes viventes e físicos, tornando-se um só, reconcilia - teoricamente - meio biológico, físico, mental e social, como argumenta o filósofo. Quero ressaltar algumas indicações que a tese de Simondon pode apontar para uma discussão sobre alguns aspectos da prática do ofício que abordo posteriormente: (1) A fusão entre termos, forma & matéria, no momento da individuação; se o filósofo não exclui a possibilidade da abordagem conceitual dos termos em separado ou mesmo se tomados após a individuação, problematiza o fato de que ambos os sistemas acabam operando uma cisão entre substratos conceituais ou temporalidades distintas: o hilemorfismo, forma e matéria; o atomismo, o antes e o depois; (2) a noção de escala: interior e exterior, indivíduo e coletivo, são fases do 206 Ibidem. 207 Idem, pág. 32. 141 processo de individuação, como vai afirmar mais adiante; há uma similaridade essencial assegurada pelo processo ontogenético que lhes coloca em um caminho comum - o que aproxima o vivo do físico e o engendrado e o produzido, sem contudo fundi-los; (3) a noção de ressonância, que alcança, pela transdução, as diversas fases de individuação; parece-me, assim, possível imaginar a agregação de elementos que não necessariamente correspondem a um encaixe formalmente lógico - o que relativiza a proeminência do conhecimento formal; e (4) a idéia de continuidade, na medida em que sugere uma “resolução parcial” que se completa numa inconclusão do processo de individuação - o que abre a possibilidade de um vir-a-ser do que ainda não é: a invenção. A extração que acabo de comentar é a introdução de L’individu et sa genèse physico-bologique, a primeira parte do núcleo principal da tese de doutorado de Gilbert Simondon, defendida em 1958 e publicada em 1964 208 . A segunda parte, L’individuation psychique et collective, teve sua primeira edição em 1989. No entanto, Du mode d’existence des objets techniques, sua tese secundária em relação ao princípio de individuação, defendida junto com o núcleo principal, é que seria primeiramente publicada, já em 1958. É nela que Simondon se dedica à análise de como os objetos técnicos ingressam na trama na qual se desenrola o processo de individuação. E é como indivíduos que Simondon tratará tais objetos: assim como os entes viventes, assim como os entes físicos. 208 Apenas para manter um cenário ao fundo, além da ressaca do pós-guerra e das tensões engendradas pela Guerra Fria, o elogio e a demonização da técnica também ocupam espaço na arquitetura e no urbanismo modernos. Lembro que 1959 é o ano em que os CIAMs decretam o fim do que já se sabia acabado. Do X CIAM, saem alguns arquitetos dispostos a questionar o que consideravam uma sobrevalorização do ofício, defendida nas ilações corbusianas desde os anos de 1920: o Team 10 surge como oposição imediata a partir e de dentro dos CIAMs. Também é deste período a intensificação das críticas às concepções modernistas de cidade e edifício: em 1961, Jane Jacobs publica Morte e Vida de Grandes Cidades, uma crítica visceral e demolidora frente à crença numa Utopia do Plano, como já me referi; Yona Friedman publica, em 1958, uma tese que se propõe questionar a pretensão de um “homme moyen” para aplicação das “padronagens” do arquiteto. A lista é grande. Bastam, contudo, alguns elementos para perceber os sentimentos da fratura de um tempo que faziam expostas as fragilidades dos modos e dos meios dedicados à produção de cidades e edifícios. 142 Por razões de método, faço um uso tópico das reflexões de Simondon sobre o objeto técnico. Palmilho uma parte do itinerário desenhado pelo filósofo em seu pensamento, procurando estruturar uma fenomenologia da técnica na condição de conhecimento estruturado como arquitetura e urbanismo. Além disso, o percurso proposto, se peca porque extenso, permite verificar, à luz da matriz simondoniana, validades de alguns sistemas de causalidade inerentes à prática do ofício. Alerto que, como arquiteto - philosophum non facit barba - tomei a liberdade de substituir quase todos os exemplos de Simondon: eles abrangem uma gama muito ampla de indivíduos, ensembles e espécies técnicas, justamente porque se trata de discutir uma gênese em sentido amplo. No entanto, para os efeitos a que se destina minha incursão, procuro ensaiar as abordagens de Simondon no campo de meu mínimo domínio. Como se trata de um filósofo, não poupo a Filosofia de meus exemplos extraídos do ofício: é por eles que procuro, pela trilha deixada pelo filósofo, compreender a técnica quando disposta por um sujeito que constrói no devir. Como para Aristóteles e para Heidegger, mais particularmente, tratava-se de pôr no devir o movimento do fato: a técnica se essencializa na medida em que o fazer técnico acontece. Não seria esta, portanto, a grande diferença entre as concepções que apresento. Mas os caminhos assim abertos, levam a pontos de vista bastante diferentes. Como dizia Heráclito, “o caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo” - mas o que muda é o que se vê. Como veremos. 143 #3.1 [Gênese do objeto técnico: o processo de concretização] Objeto técnico abstrato & objeto técnico concreto Assim como os indivíduos são suscetíveis a uma gênese, também o é o objeto técnico. Tarefa árdua, pois sua individualidade, pelo princípio de individuação, modifica-se no decurso de estruturação desta gênese. Por outro lado, se tentarmos apartar o objeto técnico das espécies técnicas, correremos o risco - como Heidegger também argumentava - de reduzi-los à finalidade prática a que responde, onde um mesmo resultado pode ser obtido quando se parte de funcionamentos heterogêneos e de estruturas muito diferentes: o comportamento mecânico do aço numa viga apresenta um padrão muito semelhante àquele do aço conformado num pilar, ambos são ‘aço’, funcionando como um subsistema, nesta escala, destinado a um tipo de absorção e desvio de esforços numa peça estrutural de um edifício. No entanto, a espécie técnica de que participam, apresentam comportamentos estruturais inteiramente distintos. Dessa forma, haveria maior semelhança entre uma viga e um arco, entre um pilar e uma torre que entre pilares e vigas. “L’usage réunit des strutctures et des fonctionnements hétérogènes sous des genres et des espèces qui tirent leur sifnification du rapport entre ce fonctionnement et un autre fonctionnement, celui de l’être humain dans l’action”209 De aí a dificuldade de se alcançar a gênese do objeto técnico por essa via: mesmo que dispondo de nomes comuns, o funcionamento pode ser múltiplo no instante dessa gênese e variar no tempo conforme muda sua individualidade. Por isso Simondon propõe orientar sua investigação quanto à gênese do objeto técnico a partir dos critérios desta gênese. A unidade, especificidade e a individualidade do objeto técnico são índices de “consistance et de convergence de sa genèse”. “La genèse de l’objet technique fait partie de son être. L’objet technique est ce qui 209 SIMONDON, Gilbert. Du mode d’existence des objets techniques. Op.cit., pág. 19. 144 n’est pas antérieur à son devenir, mais présent à chaque étape de ce devenir; l’objet technique un est unité de devenir”210 Mas enquanto “unidade do devir”, como estabelecer o que está “presente a cada etapa de seu devir”? Uma esquadria de alumínio não necessariamente é mais ‘evoluída’ que uma janela medieval porque esta é ancestral daquela. Nem a esquadria de alumínio é descendente de uma janela medieval porque é mais aperfeiçoada em relação a seu uso. Simondon propõe então examinar os “regimes de causalidade” e os mecanismos de adaptação entre as formas estabelecidas e aqueles “regimes de causalidade” para que se defina uma correta noção de evolução. Assim, as peças de uma janela medieval ou de uma esquadria de alumínio são elementos de comunicação interna do objeto técnico ‘janela’ que se ajustam num sistema de causalidades recíprocas diversas, produzindo uma troca de informações (ou de “energias”, se considerarmos o princípio de individuação) que só podem ser aquelas e não outras: o que nos permitiria julgar entre uma janela ‘antiga’ e outra ‘contemporânea’. Pela matriz simondoniana, uma janela medieval pode ser uma “janela abstrata” enquanto que uma esquadria de alumínio pode ser uma “janela concreta”: um significado particular para concreto e abstrato, ressalte-se. Para uma comparação quase rasteira, a técnica enquanto o “deixar acontecer por si” de Heidegger seria o nível abstrato do objeto técnico de Simondon; a técnica enquanto o “desafiar” seria o nível concreto do mesmo objeto técnico sem, contudo, a conotação de domínios apartados. Numa janela medieval, cada elemento que a compõe intervém momentaneamente no ciclo de seu funcionamento para, em seguida, ser interrompida a comunicação entre si. Uma janela medieval “est un assemblage logique d’elements definis par leur fonction complete et unique”211. Existiria, portanto, uma forma primitiva do objeto técnico, a qual Simondon chama de forma abstrata: no caso da janela medieval, marcos, folhas e 210 Idem, pág. 20. 145 sistema de dobradiças (algumas tiras de couro, por exemplo) são tratados como unidades materiais e teóricas absolutas que, pelo funcionamento, são compreendidas como um sistema fechado. No entanto, transparência, permeabilidade à ventilação em dia de chuva, regulação de energia solar, ajuste mecânico às deformações decorrentes das variações de temperatura etc., são problemas - técnicos - que deverão ser resolvidos para compatibilizar a janela com os outros assemblages já realizados: paredes, vergas, localização dos cômodos etc. São produzidas, então, estruturas particulares que deverão cuidar destes problemas: dobradiças metálicas, a transformação das folhas cegas originais em venezianas, caixilhos guilhotinas para suporte de vidros, sistemas de fechamento como cremona e castanhas, cortinados etc. Num primeiro momento, estas estruturas são justapostas à geometria da janela original, o que permite compreendê-las como unidades geométricas distintas. Acontece que estes elementos acabam informando outras possibilidades: os encaixes para as guilhotinas são produzidos como sulcos na madeira dos marcos mas, caso utilizado um material mais esbelto - como o alumínio, por exemplo -, as abas do encaixe da guilhotina podem ser compreendidas como dobras que aumentam a rigidez do próprio marco: se suprimidas as dobras, o marco não funcionará como estrutura da esquadria. Não há como distinguir uma unidade volumétrica da unidade estrutural: estrutura e canaleta são uma só peça, tornaram-se coextensivas. Simondon diz que o desenvolvimento desta estrutura única e bivalente não é um compromisso, mas uma convergência. “Le problème technique est donc plutôt celui de la convergence des fonctions dans une unité structurale que celui d’une recherche de compromis entre des exigences en conflit”212 Mas algum conflito pode ainda permanecer: se há incompatibilidade entre as abas da canaleta e o sistema de dobradiças, por exemplo. Pode ser que as abas ocupem a melhor posição para o desempenho estrutural dos marcos em relação às paredes mas o esforço 211 Idem, pág. 21. 212 Idem, pág. 22. 146 provocado pela dobradiça no sentido transversal pode prejudicar o funcionamento de toda a esquadria, provocando a torção dos marcos. Daí um “caráter misto incompleto”, como chama Simondon, coexistindo convergência e compromisso no mesmo objeto. “Cette divergences des directions fonctionnelles reste comme un résidu d’abstraction dans l’objet technique, et c’est la réduction progressive de cette marge entre les fonctions des structures plurivalentes qui définit le progrés d’un objet technique; c’est cette convergence qui spécifie l’objet technique, car il n’y a pás, à une époque déterminée, une infinie pluralité de systèmes fonctionnels possibles”213 Lembrando aqui as considerações de Leroi-Gourhan acerca do restrito número de atividades humanas aplicadas na reprodução da vida, Simondon também argumenta que o número de espécies técnicas é muito mais reduzido que suas utilidades, uma vez que as necessidades humanas são infinitamente diversas enquanto que as “directions de convergence des espèces techniques sont en nombre fini”214. Portanto, os objetos técnicos existiriam como um tipo específico obtido ao final de uma série convergente, que vai do modo abstrato ao modo concreto, tendendo ao estado de um sistema unificado e coerente consigo mesmo - como o próprio vivente, conforme o próprio Simondon, mais adiante. #3.2 Condições de evolução técnica Poderíamos imaginar que as razões para tal convergência seriam oriundas de questões econômicas ou exigências práticas. No entanto, Simondon atribui ao que há de intrínseco no próprio objeto sua adaptabilidade funcional diversificada e reprodutiva. Se na produção artesanal o objeto técnico se encontra em seu estado abstrato, é a formação do que Simondon chama de tipos estáveis que permitirá sua transformação em um objeto concreto, 147 disposto à estandardização industrial - e não a necessidade da indústria que cria a estandardização para estabelecer o trabalho em cadeia de uma linha de produção. Dessa forma, o objeto produzido sob medida pelo artesão assume um caráter que induz julgá-lo inessencial; mas tal julgamento decorre justamente do fato de ter sido produzido sob medida. O objeto artesanal é o que é porque se trata de um objeto técnico abstrato, fundado a partir de uma organização analítica que não se fecha para sua evolução como objeto concreto, cuja resolução sintética é absolutamente tributária da condição abstrata do objeto artesanal. Assim, a estandardização seria uma manifestação exterior de uma contingência interior. O caráter inessencial do objeto produzido sob medida advém do fato dele não apresentar medidas intrínsecas, isto é, sua normatividade geométrica e funcional provém do exterior, a qual impediria realizar sua coerência interna. Por outro lado, o objeto disposto à produção industrial faz com que o sistema de exigências provenientes do exterior seja menos coerente que o próprio sistema do objeto. “Les besoins se moulent sur l’objet technique industriel, qui acquiert ainsi le pouvoir de modeler une civilisation. C’est l’utilisation qui devient un ensemble taillé sur les mesures de l’objet technique”215 O exemplo dado por Simondon nos é bastante próximo: atendendo aos caprichos de alguém, a um fabricante de automóveis é solicitado produzir um carro sob medida. Ele nada mais faz que um ajuntamento seriado e combinado de partes e sistemas fechados que compõem o objeto automóvel. Exteriormente, é um objeto técnico essencial. Mas são os aspectos inessenciais que podem ser produzidos sob medida, pelo fato de serem contingentes e sujeitos ao sistema de exigências exterior que faz gravar suas características essenciais por uma “servidão exterior”. O caráter sob medida, além de sua condição inessencial, também confere ao 213 Idem, pág. 23. 214 Ibidem. 215 Idem, pág. 24. E em Marcuse: “Contudo, quando a técnica se torna a forma universal e produção material, circunscreve toda uma cultura; projeta uma totalidade histórica - um ‘mundo’” (MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade... Op.cit. pág. 150). 148 objeto técnico elementos que são como um “peso morto”, nos termos do filósofo, integrado ao sistema por uma decisão externa que não corresponde à coerência interna do objeto. Simondon lembra o quanto a indústria aeronáutica busca a eliminação dos pesos mortos e a produção de objetos mais concretos para aumentar a segurança de seu funcionamento. A idéia de evolução técnica em Simondon, portanto, não significa proscrever o objeto artesanal como um anacronismo renitente que espreita nossa modernidade (sua ordem analítica ainda encanta qualquer usuário). Há uma diferença, portanto, entre o objeto técnico artesanal e o caráter sob medida de um objeto qualquer. Como comento no último ensaio, parece-me fundamental para compreender o caráter artesanal do conjunto técnico abrigo designa-lo-ei dessa forma daqui por diante e justifico posteriormente o porquê - e o predomínio das interferências externas na produção sob medida. Por outro lado, oferece algumas chaves para compreendermos a tendência que nos força descobrir as convergências entre elementos quando nos envolvemos com a produção da moradia popular. Trato disso mais à frente. Uma evolução técnica, portanto, seria identificável no processo de passagem de uma ordem analítica para uma ordem sintética, no qual as causas para esta passagem residiriam justamente na incompletude do objeto técnico abstrato, uma vez que sua ordem analítica decorre de sua produção por aproximação de diversos sistemas complexos. É difícil escapar de juízos valorativos como “melhor” ou “pior”, “moderno” ou “ultrapassado”. Mas Simondon propõe uma inversão dos critérios de análise da gênese e do desenvolvimento evolutivo do objeto técnico, optando por uma abordagem quanto às convergências internas do sistema analisado. Se nos ativermos ao conjunto técnico abrigo, tais considerações poderiam ser embaralhadas se consideramos que este é praticamente ele todo objeto abstrato, nos termos de Simondon. No entanto, preservando o regime de fases no processo de individuação do objeto técnico bem como a interatividade entre escalas, não há espaço para confusões: o próprio sistema abstrato abriga subsistemas convergentes que 149 organizam resoluções analíticas abertas que apontam para a convergência do sistema concreto. Dessa forma, um objeto técnico que faz parte do ensemble abrigo pode ter uma logicidade mais sofisticada mas ser tecnologicamente mais simples: dentre as opções para se promover o aquecimento da água, por exemplo, boiler e termostato, sistema de fornecimento de energia elétrica, isolação térmica e a rede de abastecimento de água são ensembles distintos que operam sincronicamente na forma de compromisso - portanto, de forma ainda bastante abstrata; no caso de um velho fogão a lenha, a serpentina circundando internamente a câmara onde o calor é produzido, promove a interação entre a rede de abastecimento de água e o mecanismo de produção de calor para cozimento dos alimentos, aquecendo a água à medida que se processam os alimentos. É claro que objeções funcionais poderiam deslocar a análise, mas se observarmos o ensemble técnico nele mesmo, percebemos como se trata de um sistema relativamente mais sintético que o anterior e, se ainda próprio de um modo analítico aberto, já abriga convergências sistêmicas. No entanto, o sistema de aquecimento elétrico é menos artesanal que o fogão a lenha e, sob este aspecto, poderíamos dizer que o primeiro é mais concreto que o segundo. Mas não é condição de convergência o fato de um objeto técnico dispor-se à produção industrial: ele pode enveredar por soluções ainda muito abstratas, mesmo que sob regime da produção industrial. É esta possibilidade de abordagem cognitiva, de compreensão dos arranjos internos entre sistemas e subsistemas que permitiria precisar o estágio evolutivo - e a propriedade deste estágio - dos objetos técnicos: nem sempre o simples é o mais lógico, ou o lógico é o mais complexo. Além disso, o objeto técnico abstrato apresenta maiores fragilidades que aquele concreto pois cada sistema constituinte compõe um subsistema que ameaça o funcionamento de todo o ensemble, caso uma das partes entre em colapso. O boiler de aquecimento a energia solar, por exemplo, quando ligado à rede elétrica, permite uma opção de funcionamento quando não há sol, enquanto que o aquecimento exclusivamente elétrico não dispõe da alternativa de captação de energia solar. 150 Para um exemplo mais abrangente: Yona Friedman, pretendendo uma teoria que pudesse “emancipar o habitante da ‘padronagem’ do arquiteto”, sugere que a formulação de um tipo específico de usuário do edifício e da cidade - como pretendia Le Corbusier e tantos outros modernos - é resultado de um sistema de informações que transforma as regras de utilização futura na “ficção de um homem médio”. Seria esta “ficção” que se tornaria intermediária nas relações de “tradução” entre futuros usuários e o ensemble técnico edifício ou cidade. Propõe, então, o estabelecimento de um conjunto de critérios de análise dos sistemas internos de interdependência comunicativa de seus elementos que resultariam numa disposição geométrica que permitisse ao usuário o ajuste de suas exigências particulares mas que não obstruísse o funcionamento cooperativo de todo o sistema edificado. O resultado é uma organização geométrica espacial que permite uma série de redundâncias, no caso de colapso de algum elemento do ensemble216. Numa outra escala, o professor de engenharia civil e arquitetura Mario Salvadori aponta como a falta de redundância em sistemas estruturais pode implicar num estreitamento das margens de segurança num ensemble estrutural: qualquer instabilidade no equilíbrio eternamente tenso de uma peça que integra o ensemble pode levá-la ao colapso, caso não disponha de uma ‘segunda chance’. Isso não significa, no entanto, que se trata de majorar os 216 FRIEDMAN, Yona. Pour l’architecture scientifique. Paris: Pierre Belfond / Art-action-architecture, 1971- 151 coeficientes de segurança ali empregados; pelo contrário, significa compreender o sistema de convergências internas e produzir o que Simondon vai chamar de comportamento sinérgico. Discutindo um pouco mais quanto às contingências exteriores, Simondon não descarta uma convergência de contraentes econômicos - redução da quantidade de matéria prima, de trabalho e de consumo de energia durante a utilização, pressupostos básicos da economia produtiva de um edifício e da cidade - e as exigências propriamente técnicas. Assim, as disposições econômicas concorreriam, juntamente com as causas técnicas, para a busca daquela convergência, mas afirma que, na avaliação da evolução técnica, predominariam as causas propriamente técnicas, uma vez que as causas econômicas existem em todos os domínios. As causas econômicas, segundo Simondon, estariam infestadas de interferências exógenas transpostas como razão difusa para suas manifestações: gosto pelo luxo, desejo de novidade do utilizador, propaganda comercial etc., que o filósofo considera “mitos sociais e movimentos de opinião”, mas não argumentos reais que operem uma apreciação do objeto técnico em si mesmo. O emprego de um automatismo superabundante defendido como aperfeiçoamento técnico e a utilização do servocomando mesmo quando o esforço demandado não excede a capacidade motora do operador é um desses casos de sobredeterminação externa: o mecanismo elétrico para abertura dos vidros nos carros aposenta o velho conjunto de alavancas e engrenagens mas que não apresentava nenhum impedimento mecânico para abrir e fechar os vidros de um automóvel aos usuários ‘sem forças’ ao passo que, no caso do conjunto elétrico, uma pane elétrica bastaria para não ter como abri-los. Uma substituição que dá aparente idéia de simplificação mas que, na verdade, constitui uma complicação técnica que ainda não funciona inteiramente sob o registro da síntese. Não há redundância. Sem descolar de sua concepção de individuação, Simondon salienta que a originais de 1958, particularmente págs. 11, 12, 18, 19 e 207. 152 evolução dos objetos técnicos não se dá de forma contínua mas também não de forma completamente descontínua. Trata-se de uma evolução que se processa a partir de sistemas sucessivos de coerência, comportando patamares - as fases da individuação - que reúnem contingências específicas e que colocam um patamar em relação a outro, orientando uma reorganização estrutural que é índice de evolução - mais como movimento em direção ao seu estado concreto que um ‘progresso’ em termos práticos. “Les reformes de structure qui permettent à l’objet technique de se spécifier constituent ce qu’il y a d’essentiel dans le devenir de cet objet; même si les sciences n’avançaient pas pendant un certain temps, le progrès de l’objet technique vers la spécificité pourrait continuer à s’acomplir”217 À medida que as relações de causalidade recíproca acontecem no trabalho de organização dos subsistemas, há uma saturação progressiva destes que promove instabilidades e delineia limites que, quando transpostos, verifica-se um progresso na individuação de um sistema. Contudo, esta transposição não se processa linearmente porque o que é agora um obstáculo deve transformar-se em “meio de realização” dessa transposição, isto é, o obstáculo não é descartado como erro ou empecilho mas é tratado como argumento para uma nova solução. O engenheiro civil de origem belga e naturalização suíça Robert Maillart teve, entre seus primeiros trabalhos, o projeto e construção de uma ponte, entre 1903 e 1904, no Thur River em Billwill (Cantão de St. Gallen, região norte da Suíça). Já havia desenvolvido um sistema para solução de pontes de concreto armado, consistindo em um conjunto de lâminas esbeltas conjugadas na forma de um ‘caixão’: uma lâmina superior cumprindo a função de tabuleiro da ponte; uma ‘viga-arco’ com seção em ‘U’, desenvolvendo-se ao longo do vão e sustentando o tabuleiro; e paredes longitudinais internas para reforço. Ali aplicado o sistema, surgiu um grupo de fissuras nas abas laterais da ‘viga-arco’, no trecho próximo dos apoios. Maillart compreendeu que as deformações do tabuleiro e da lâmina inferior da ‘viga-arco’ 217 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit. pág. 27. 153 arrastavam longitudinalmente as lâminas laterais. Este “obstáculo interior” que, se não comprometia o funcionamento normal da estrutura, demonstrava uma instabilidade numa das peças do subsistema, além de uma falta de coerência interna entre partes. No projeto subseqüente para uma ponte em Tavanasa (sobre o Reno, centro leste suíço), Maillart simplesmente suprimiu o trecho da lâmina que havia apresentado as fissuras: ao verificar os cálculos, o engenheiro percebeu que as tensões ali existentes eram irrisórias, passíveis de absorção pelo resto do sistema. A supressão de um segmento triangular das lâminas laterais ‘libertava’ o tabuleiro e a lâmina inferior, além de reduzir o peso próprio de todo o ensemble e, conseqüentemente, a solicitação nas fundações218. As alterações no desenho da ponte não foram resultados de intervenções deduzidas teoricamente mas aconteceram em virtude do “caráter de sistema” presente no objeto técnico produzido, como diz Simondon. A tarefa de Maillart foi compreendê-lo. 218 Poder-se-ia retrucar meu exemplo, alegando o caráter sob medida de uma ponte. No entanto, tratava-se de um sistema para o qual a pretensão de reproduzi-lo conferia aquela tendência ao estado concreto, do qual fala Simondon. As informações foram extraídas de BILLINGTON, David P. Robert Maillart’s bridges - the art of engineering. New Jersey: Princenton University Press, 1979, págs. 5 e 32 a 37. 154 O que caracteriza uma estrutura “muito aberta, muito abstrata” é o fato de que ela permite um sistema de causalidades recíprocas não especializadas, onde há uma possibilidade de reversibilidade da função e da própria estrutura. Uma viga-vagão, por exemplo, é uma estrutura muito singela, onde um cabo tensionado promove uma contra-flexão numa viga simples, apoiada em suas duas extremidades. No entanto, a tensão no cabo pode produzir efeito contrário e fazer com que a viga flexione para o lado oposto, caso a magnitude do esforço ultrapasse um certo limite. A Pirâmide do Louvre utiliza-se deste “sistema de causalidade recíproca” não especializada - que é a viga-vagão - mas introduz um elemento que permite a reversibilidade da função dos elementos estruturais. A função do sistema vagonado aplicado nas esquadrias e montantes metálicos é de sustentação da carga de vidros e esquadrias. Mas os regimes de tensão ali mantidos literalmente ‘empurram’ o plano dos vidros para fora. Além disso, um sistema vagonado ainda “comporta a desvantagem da indeterminação”, uma vez que, se ocorrer uma inversão dos esforços (em virtude de uma camada de baixa pressão provocada pela passagem do vento, por exemplo, ‘sugando’ os panos de vidro para fora) o sistema todo entra em colapso. Para equilibrar aquelas tensões, ao invés de incrementar as dimensões das peças, anéis concêntricos formados por cabos garantem esforços de tração no sentido oposto, para dentro, assegurando a conversão do sistema de equilíbrio de esforços num sistema autoportante. O sistema vagonado que ‘empurra’ os painéis de vidro e suas esquadrias para fora equilibra o sistema de cabos que traciona o conjunto estrutural para dentro - e vice-versa219. 219 A análise da estrutura da Pirâmide do Louvre , projeto do arquiteto sino-americano I. M. Pei, é de minha autoria juntamente com Yopanan Rebello e Marta Bogéa e encontra-se em LOPES, João Marcos; BOGÉA, Marta; 155 São sistemas independentes nos quais vigoram causalidades recíprocas - tanto um sistema como o outro funcionam sob regime de tração em cabos - e de funcionalidades em regime de permanente reversibilidade - as tensões presentes num sistema equilibram as presentes no outro. A deficiência de um sistema, atuando em conjunto com a deficiência do outro, resulta maior coerência interna de todo o sistema. O que não significa aumentar sua complicação (por mais que aquele emaranhado de cabos pareça não ter lógica alguma): “On ne doit pas confondre une augmentation du caractère concret de l’objet technique avec un élargissement des possiblités de l’objet technique par complication de sa structure”220. Simondon compara o fechamento do objeto num estado mais concreto e a estabilização do sistema a uma “axiomática que se satura”, por meio de uma interferência suplementar que especializa funções diferenciadas “transforment en fonctions stables les REBELLO, Yopanan. Arquiteturas da engenharia ou engenharias da arquitetura. São Paulo: Editora Mandarim, 2006 (no prelo), págs. 146 a148. 220 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 30. 156 inconvénients apparaissant d’eux-mêmes lors du fonctionnement” 221 . Há, portanto, um processo de diferenciação interligado ao processo de concretização e é justamente esta especialização de funções, um certo “antagonismo funcional”222, que correlaciona os efeitos globais: se tratados separadamente, apenas corresponderiam a paliativos que manteriam a dispersão funcional. Para designar essa interação entre diferenças que estabilizam o ensemble, Simondon toma o termo sinergia. Assim, o objeto técnico progride conforme redistribui internamente as funções em unidades compatíveis numa operação convergente, isto é, uma especialização que não se faz função por função, mas sinergia por sinergia, uma condensação de funções múltiplas sobre uma mesma estrutura. Configura-se, então, o que o filósofo chama de sous-ensemble de um objeto técnico, um “grupo sinérgico de funções” que substituem a função única de cada elemento. “L’essence de la concrétisation de l’objet technique est l’organisation des sous-ensembles fonctionels dans le fonctionnement total (...) [onde] le schème de fonctionement incorpore les aspects marginaux”223. Esta evolução não prescindiria, contudo, da ação consciente do construtor dos caracteres que agregariam as funções do sistema numa única convergência. Para este ato consciente, este construtor poderia até conhecer o objeto técnico artificial como se não diferisse de qualquer sistema físico, apreendendo todos os aspectos em que se realizam as trocas de energia e as transformações físico-químicas. No entanto, cada elemento de um objeto concreto não é apenas uma peça no jogo de interações estabelecido pelo seu construtor, mas faz parte de um sistema onde atuam forças e efeitos independentes da “intenção fabricadora”, como diz Simondon. Apesar da proximidade com as ciências - e particularmente as ciências exatas - o 221 Idem, pág. 31. 222 A ‘imperfeição’ da viga-vagão é um caractere abstrato e artesanal, demandando freqüentes retoques em seu funcionamento. Esta imperfeição decorre do antagonismo das funções realizadas pelo cabo e pelo corpo da viga: o cabo que é necessário para absorção dos esforços de tração é o mesmo que deforma o corpo da viga para o lado oposto. Simondon atribui um caractere de antagonismo funcional ao objeto técnico abstrato, pelo caráter ‘aberto’ de suas partes. (Idem, pág. 32). 157 objeto técnico submetido às suas investigações não permite prever absolutamente todos os efeitos com uma rigorosa precisão: há uma diferença entre o esquema técnico do objeto (que comporta uma representação de uma finalidade humana) e o conjunto de fenômenos (que não comportam mais que esquemas de causalidade eficiente, mutual ou recorrente). Se isto ocorre “c’est pourquoi il subsiste une certaine distance entre le système des intentions techniques correspondant à une finalité définie et le système scientifique de la connaissance des interactions causales qui réalisent cette fin; l’objet technique n’est jamais complètement connu; pour cette raison même, il n’est jamais non plus complètement concret, si ce n’est par une rencontre très rare du hasard”224 Sequer a distribuição última das funções e o cálculo exato das estruturas componentes implicariam no domínio pleno de todos os fenômenos possíveis de ocorrer. Por outro lado, seria exatamente a redução dessa distância entre técnica e ciência que caracterizaria as fases mais concretas do objeto: segundo Simondon, há uma fraca correlação na fase artesanal que se torna mais intensa na fase industrial de um objeto técnico. Disso resulta que se é possível alguma identificação entre intenção produtiva e olhar científico, então o objeto técnico, enquanto objeto concreto, seria passível de ser disposto à industrialização. Para produzir e operar uma talha - um sistema mecânico de polias utilizado para redução dos esforços no içamento de cargas -, podem ser negligenciados os fenômenos de atrito, eletrização, indução eletrodinâmica, trocas térmicas e químicas, enquanto máquina simples, redutível a ocorrências fenomênicas circunscritas ao conhecimento estabelecido pela mecânica racional clássica. Seria a descoberta das sinergias funcionais que caracterizariam melhor a evolução no desenvolvimento de um objeto técnico. 223 Idem, pág. 33 e 34. 224 Idem, pág. 35 e 36. O grifo é meu. 158 #3.3 Ritmo do progresso técnico Aperfeiçoamento contínuo menor Aperfeiçoamento descontínuo maior Existiriam, portanto, dois tipos de aperfeiçoamento: aquele que modifica a repartição das funções, aumentando a sinergia do funcionamento - um aperfeiçoamento maior; e aquele que, sem modificar a referida repartição, reduz as conseqüências nefastas dos antagonismos residuais - um aperfeiçoamento menor. O aperfeiçoamento do uso das argilas pozolânicas seria o caso que não altera a organização das funções mas dá ao material um outro comportamento frente aos antagonismos residuais: desde os romanos, as argilas pozolânicas são utilizadas como agregantes de argamassas utilizadas nas construções. Mas é só no século XIX, em Portland, na Inglaterra, que se descobrirá que a queima destas argilas transforma suas propriedades físico-químicas, originando o cimento que conhecemos. A partir dali, com o aprimoramento da queima e a adição de outros materiais - como a sílica ou aceleradores de cura, por exemplo - é possível aumentar ou acelerar a resistência característica final do composto argamassa ou concreto - reduzindo as conseqüências dos antagonismos residuais (parco desempenho estrutural, micro colapsamento, degradação físico-química progressiva etc.) - um aperfeiçoamento maior seguido de um aperfeiçoamento menor. Numa outra situação, a introdução do aço na composição dos elementos estruturais produzidos com materiais cimentícios - uma invenção do século XIX - promove uma reordenação de funções, aumentando a sinergia do funcionamento e o desempenho estrutural do ensemble (estruturas independentes da vedação, maiores vãos e menor quantidade de material aplicado, ampliação da possibilidade de pré-fabricação etc.). Basicamente, é este aperfeiçoamento maior que é um dos responsáveis pela forma da arquitetura moderna. 159 Conforme Simondon, ao promovermos alguns aperfeiçoamentos menores, as reais imperfeições do objeto técnico podem ser mascaradas, apenas compensadas pelo que chama de “artifícios inessenciais” que integram o sistema de forma incompleta e recalcam os verdadeiros antagonismos. Faz-se necessário, então, que estes complementos sejam corrigidos permanentemente para assegurar o funcionamento normal do sistema. No caso de peças estruturais construídas com compostos cimentícios (uma laje de concreto armado, por exemplo), os materiais impermeabilizantes são notórios sistemas de segurança que condicionam o funcionamento do sistema que protege através de seu funcionamento também como sistema. Para o filósofo, estas “complicações” e o exagerado aperfeiçoamento dos sistemas paralelos de segurança e compensação não apontam e nem mesmo preparam o objeto técnico para uma perspectiva de concretização. Estes paliativos complexos - grande parte das vezes induzidos pelo mercado para que um objeto novo se apresente como superior aos antigos - apenas dissimulariam a verdadeira essência do objeto técnico e induziriam a uma falsa impressão de progresso, recalcando também qualquer real necessidade de transformação essencial. Não basta organizar uma gênese como um movimento do objeto técnico que, procedente do analítico, ruma em direção ao sintético, proveniente do abstrato, dirige-se a um caráter concreto. Seria necessário discernir ali os aperfeiçoamentos essenciais e descontínuos, que fazem o objeto técnico transformar-se aos saltos, conforme fases de sua individuação - o que, por certo, não acontece ao acaso. 160 #3.4 Origens absolutas de uma linhagem técnica Mas haveria um “começo absoluto” para este movimento de essencialização? Onde se inicia uma “linhagem técnica” se aceitamos que a ela se permite uma evolução? No caso do concreto armado, há uma dessimetria funcional, nos termos de Simondon, que permite reconhecer uma origem no processo de evolução dos objetos aplicados numa estrutura. O material concreto apresenta um ótimo desempenho quando disposto aos esforços de compressão mas péssimo quando sujeito à tração: praticamente 10% de capacidade de carga em relação à sua capacidade de resistir tensões de compressão. Já o aço é um material que apresenta um ótimo desempenho tanto à tração como à compressão. Mas é o fato de resistir bem aos esforços de tração que possibilita seu uso na forma de barras, usinado e perfilhado em seções muito esbeltas, como vergalhões, por exemplo. Ora, uma viga sustentada nas extremidades sobre dois apoios, ao ser solicitada tenderá a um movimento que chamamos de flexão: sua seção superior sofrerá deformações com os esforços de compressão e a inferior deformará conforme atuem os esforços de tração. É este binário de forças - o mesmo princípio de alavanca em Arquimedes - que estabelece uma condição dessimétrica na viga. Como o concreto é um composto plástico, isto é, passível de composição inicial entre agregantes e agregados que se dispõem à modelagem por um período de tempo em virtude da presença de água, então também é possível armá-lo, introduzindo o aço na composição das peças conforme uma geometria astuciosa. Assim, associar um fenômeno reversível de comportamento mecânico do material - tração ou compressão - a uma condição irreversível de 161 funcionamento sistêmico entre tração & compressão, permite reconhecer um “commencement absolut”: o fundamento absoluto reside (1) na condição de irreversibilidade dos esforços - uma condição de dessimetria - e (2) no fenômeno de transporte de esforços entre a área comprimida e a área tracionada da viga, particularmente considerando o fenômeno de atrito entre o aço e o concreto. Se não estou enganado, poderia dizer, nos termos de Simondon, que aqui também se trata da criação de uma essência técnica. Seria justamente por se tratar de uma essência técnica que o esquema puro de funcionamento de uma viga, como acabei de descrever, manter-se-ia aberto à intervenção do construtor e sua transformação num outro objeto técnico, como é o caso do concreto protendido. Historicamente, o sistema ‘viga simples’ é muito próximo do sistema ‘viga protendida’ mas o esquema técnico puro define um modo de existência de cada objeto técnico pela forma como designa o aproveitamento de suas funções ideais. O esquema traduz uma linhagem técnica. Se a condição de dessimetria é dada pelo gráfico (conforme Simondon “le schème de fonctionnement est le même, à tel point que, sur un schéma théorique on peut indiquer“225, por exemplo, uma viga, sem que se pressuponha que tipo de viga é, qual material ou dimensão): compressão tração A interferência produzida com a protensão da cordoalha de aço - que assume a responsabilidade pelas cargas de tração numa peça protendida sujeita à flexão - alteraria o gráfico da seguinte forma: 225 Idem, pág. 42. 162 compressão tração O concreto protendido seria um outro objeto técnico, com sub-sistemas independentes que se associam para o funcionamento otimizado, sob certas circunstâncias, de um elemento estrutural como uma viga, por exemplo, diferente do sistema estabelecido pelo que chamamos de ‘armadura frouxa’; Assim como Simondon propõe uma redução ao esquema de “condutibilidade assimétrica” que utiliza para o exemplo que toma (diodos numa válvula eletrônica), também seria possível compor um esquema de “equilíbrio assimétrico” no caso dos elementos estruturais protendidos sujeitos à flexão: independente dos materiais e dimensões - seria possível adotar o mesmo esquema gráfico para madeira ou mesmo para o aço -, o caractere funcional alterado indica apenas uma ampliação da área da seção sujeita a esforços de compressão. “L’objet technique n’existe pas seulement par le résultat de son fonctionnement dans les dispositifs extérieurs (une conductance asymétrique), mais par les phénomènes dont il est le siège en lui-même: c’est par là qu’il possède une fécondité, une non-saturation qui lui donne une postérité.”226 O objeto técnico primitivo é um sistema não saturado que evolui engendrando uma família, da qual ele é o ancestral. Simondon chama esta evolução de evolução técnica natural e há, nesta origem, “um ato definido de invenção“. A viga protendida é tributária da viga simples, mantêm-se as analogias entre suas partes. No entanto, a viga protendida implica em novos fenômenos, como a inversão dos esforços que deformam a viga ‘para baixo’ - a cordoalha opera como que ‘empurrando’ a peça ‘para cima’. O que marca este début de uma linhagem técnica é este ato sintético de invenção 226 Idem, pág. 43. 163 que inaugura uma essência técnica, a qual é reconhecível pelo fato de que se mantém, além de estável através da linha evolutiva, “productrice de structures et de fonctions par développement interne et saturation progressive“ ou mantendo processos de “concretização suplementar”227. Por outro lado, quanto mais saturado o sistema e quanto mais se acentua a segregação de funções, menos liberdade será concedida ao construtor e menor será a tolerância permitida ao utilizador: uma viga protendida, por exemplo, implica num cuidado e precisão maiores pois há necessidade de calibrar precisamente o esforço de protensão para que este não produza a inversão dos esforços, isto é, onde a viga é submetida praticamente apenas a esforços de compressão, passem a existir esforços de tração. Além disso, qualquer indício de colapso no sistema de cordoalhas (em virtude de corrosão, por exemplo), a tolerância de utilização é nenhuma. Poderia assim, ao modo de Simondon, considerar a viga protendida como descendente direta da viga simples “puisqu’elles réalisent le développement de son schème technique interne par réduction des incompatibilités au moyen d’une redistribution des fonctions en sous-ensembles synergiques. C’est la sous-jacence et la stabilité du schème concret d’invention organisatrice dans les développments successifs que fonde l’unité et la distinction d’une lignée technique”228 Por um lado, o objeto técnico abstrato - isto é, primitivo - não dá motivos para que se possa assemelhá-lo a um sistema natural, visto que ele é representação material de um conjunto de fenômenos físicos teoricamente cognoscíveis mas que se mantêm profundamente separados uns dos outros. Só são reatáveis pelos efeitos que convergem num efeito requerido. O objeto técnico primitivo ainda se apresenta como uma “application ou un faisceau d’applications; il vient après le savoir, et ne peut rien apprendre; il ne peut être examiné inductivement comme un objet naturel, car il est précisément artificiel”229. Por outro lado, o objeto técnico concreto aproxima-se de um sistema natural e 227 Idem, págs. 43 e 44. 228 Idem, pág. 46. 229 Ibidem. O grifo é meu. 164 apresenta uma tendência ao modo de existência dos objetos naturais, porque caminha em direção a uma coerência interna que se estabelece com o fechamento do sistema de causas e efeitos que interagem circularmente no interior de seus domínios. Além disso, o objeto técnico concreto incorpora uma parte do mundo natural que ali intervém até mesmo como condição de funcionamento, fazendo parte do sistema de causas e efeitos. Ao evoluir - no sentido de Simondon - este objeto vai perdendo seu caráter de artificialidade, uma vez que a artificialidade essencial de um objeto reside no fato de que ao homem é recorrentemente demandado intervir no funcionamento para a manutenção deste objeto na existência, protegendo-o justamente contra o mundo natural. Dessa forma, a concretização de um objeto técnico faz surgir um lugar intermediário entre o objeto natural e o sistema de representação científica. “L’artificialité n’est pas une caractéristique dénotant l’origine fabriquée de l’objet par opposition à la spontanéité productrice de la nature: l’artificialité est ce qui est intérieur à l’action artificialisante de l’homme, que cette action intervienne sur un objet naturel ou sur un objet entièrement fabriqué”230 A arquitetura dos subsistemas intrínsecos no conjunto técnico abrigo ainda subsiste funcionalmente, na maior parte dos casos, apenas a partir da separação dos princípios que regem os funcionamentos parciais e conforme a ação externa de regulação destes funcionamentos parciais. Assim, o desempenho térmico de um ensemble técnico como o edifício, se depender de um conjunto mecânico funcionalmente separado, que depende de manutenção própria que lhe garanta existir e lhe proteja contra o mundo natural, concedendo-lhe “um estatuto à parte de existência”, é um desempenho artificializado e trata-se de um processo de abstração no objeto artificializado. Se, por outro lado, conduzirmos o objeto primitivamente artificial pelo caminho da concretização técnica, este objeto técnico assemelhar-se-á cada vez mais ao objeto natural: por exemplo, quando o sistema de regulação térmica do edifício libera-se do conjunto mecânico de regulação artificial de seu funcionamento. 230 Idem, pág. 47. 165 É o caso do vidro fotocrômico que tem sua transparência regulada pelos materiais que o compõe: eles são capazes de mudar suas características óticas, escurecendo quando expostos à luz solar, refletindo particularmente os comprimentos de onda responsáveis pela produção de calor. Ou ainda, os vidros termocrômicos, que também alteram sua transparência quando a incidência de luz solar promove a elevação de sua temperatura. Nos dois casos, o material responsável pela proteção do ambiente e pelo controle da permeabilidade visual - o que já é um ganho de concretização em relação à janela medieval - libera-se de uma complexificação do objeto técnico ‘janela’, regulando em si mesmo a transmissividade de calor conforme a intensidade da fonte luminosa externa; o vidro, como proteção mediadora entre o fora e o dentro, como permeabilidade visual entre o dentro e o fora, na medida em que “gagne en concrétisation, il devient capable de se passer du milieu artificiel, car sa cohérence interne s’accroit, sa systématique fonctionnelle se ferme en s’organisant. L’objet concrétisé est comparable à l’objet spontanément produit; (...) c’est objet n’est plus isolé; il s’associe à d’autres objets, ou se suffit à lui-même, alors qu’au début il était isolé et hétéronome”231 A regulação térmica do edifício deixa de ser artificial e passa a ser controlada pelo mesmo elemento que permite a permeabilidade visual e o controle de aberturas para ventilação dos ambientes. Adiantando um pouco as coisas, trago um outro exemplo que também faz parte do inventário simondoniano232. Retomo-o mais adiante, mas parece-me adequado enunciá-lo no percurso que persigo. As abóbadas que os arquitetos Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império construíram nos anos de 1960 e princípios dos 1970 são formas que abrigam uma reciprocidade ressonante que se estabelece internamente pelo modo como os esforços solicitam sua geometria 231 Ibidem. As informações sobre os vidros compostos de materiais cromogênicos passivos são de SICHIERI, Eduvaldo Paulo [et al]. Materiais de construção IV - vidros na arquitetura e na construção civil (apostila). São Carlos: EESC-USP, 2005, pág. 52 e 53. 232 Em um de seus cursos, Simondon propõe o estudo de sous-ensembles técnicos a partir de uma abordagem mais geral sobre a invenção e o desenvolvimento das técnicas. Ali, o filósofo analisa alguns exemplos da arquitetura e da técnica de construção e, mais precisamente, o caso das abóbadas e arcos, a partir do questionamento quanto aos empuxos laterais num aqueduto, nos falsos arcos, nas abóbadas de berço e nos arcos ogivais. Ver SIMONDON, Gilbert. L’invention dans les techniques - cours et conferénces. Paris: Seuil, 2005, págs. 136 a 167. 166 e os materiais ali aplicados. A curva catenária aplicada na geometria dessas abóbadas é resultado de uma saturação do sistema de abóbadas tradicional: o arco pleno, derivado de uma semicircunferência, promove uma dessimetria entre esforços de tração e de compressão que provocam aquele mesmo efeito de flexão do qual falei, mais ou menos na região situada a 2/3 da altura do arco. Trata-se, nos termos de Simondon, de uma incongruência interna, de um antagonismo funcional. Os romanos artificializavam arcos e abóbadas, acrescentando massa e, conseqüentemente peso, para conter os esforços que surgem e que poderiam levar a estrutura ao colapso. Por isso os vedos opacos e pesados da arquitetura romana e do período românico. Em outras partes - no Egito - os núbios construíam suas abóbadas seguindo uma geometria decalcada sobre a catenária: uma corda suspensa desenvolve, em si, uma curva catenária. Se uma corda se estabiliza comodamente aos esforços de tração segundo esta geometria, os núbios aprenderam que o mesmo deveria ocorrer ao contrário, quando utilizando materiais resistentes à compressão e assim, introduziram uma parte do mundo natural no objeto técnico abóbada na medida em que faziam convergir funções de um sistema analítico numa 167 nova ordem sintética, introduzindo coerência interna que auxilia o fechamento do sistema de causas e efeitos que interagem no interior daquele objeto. Quando os arquitetos Sérgio, Rodrigo e Flávio propõem a utilização das abóbadas com geometrias que abrigavam a curva catenária, fazem-no como os núbios que aprenderam como convergir os efeitos de fenômenos até então separados. Indo além, as abóbadas construídas pelos arquitetos ampliavam o grau de concretização daqueles objetos na medida em que a coerência interna da forma fazia com que bastassem a si mesmos ou se associassem a outros objetos: vedação e cobertura convergiam para a funcionalidade única das abóbadas, os ensembles técnicos ‘ambientes’ e ‘mobília’ passam a se organizar em função daquela coerência e os materiais aplicados deixam de ser artificialmente agregados para reduzir as conseqüências nefastas dos antagonismos residuais - como o aparecimento de flexão, por exemplo. Em composição a uma “estética da separação”, uma “física da reunião”233. 233 “Os pedreiros, por exemplo, podem propor as estruturas mais performantes para os materiais e técnicas disponíveis, o melhor deles mesmos. E assim por diante em todas as equipes - o projeto garantindo, sobretudo, a compatibilidade das otimizações específicas. Em vez de uma unidade prematura, aqui, o que nossos alunos chamaram a estética da separação deixará expressar-se a particularidade de cada passagem: a unidade virá da livre cooperação, da comunidade desejada” (FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 404. O grifo é meu). 168 No entanto, a abóbada em forma de catenária não fecha completamente o sistema de convergências: persistem ainda alguns antagonismos residuais que podem realimentar o movimento de individuação do objeto. É o caso, por exemplo, do conforto térmico: quanto mais os antagonismos estruturais são reduzidos, maior pode ser a esbeltez da lâmina que abriga os materiais que a compõem e, portanto, menos carga nas fundações, maior economia com estes materiais etc. Mas a redução da espessura da lâmina estrutural e o fato de não mais existir um sistema de cobertura superposto ao sistema de vedação significa também menor inércia térmica de todo o ensemble, permitindo uma troca de energia entre interior e exterior que recoloca alguns antagonismos residuais referentes ao controle térmico do conjunto. Como veremos, a saturação de um sistema convergente nunca se fecha completamente - senão 169 atingiríamos a estabilidade daquele mais baixo grau de energia, do qual nos fala Simondon234. Dessa forma, o arco e as abóbadas dos romanos não poderiam existir sem um sistema paralelo e complexo de segurança que, nos termos de Simondon, introduziriam índices de abstração no objeto artificializado. Pelo contrário, as abóbadas que assumem a forma catenária podem existir por si mesmas pelo tanto de concretização que des-artificializa o objeto primitivo. O que não significa, em absoluto, que não são possíveis outros arranjos também concretizantes dos fenômenos dessimétricos inicialmente separados no arco pleno - talvez até mesmo como arco de circunferência. O que decorre dessa concretização não seriam apenas conseqüências práticas e econômicas, seriam também intelectuais. O modo de existência do objeto técnico concretizado também se submete a um estudo indutivo: tem, para Simondon, o mesmo estatuto que uma estrutura natural. O funcionamento dos objetos técnicos seriam como o testemunho de funcionamentos e compatibilidade que existem de fato. Seria a partir do estudo destas compatibilidades que seria possível remontar o que a ciência separa em princípios que só se correlacionam analiticamente. De aí Simondon propor uma “ciência das correlações e das transformações”, uma tecnologia geral ou uma mecanologia. Não se pode ceder, contudo, a assimilações frouxas e abusivas entre o objeto natural - particularmente o vivente - e o objeto técnico: corre-se o risco de se promover analogias entre caracteres exteriores e não entre aqueles rigorosamente funcionais: “La méditation sur les automates est dangereuse car elle risque de se borner à une étude des caractères extérieurs et opère ainsi une assimilation abusive”235. Suspendo um pouco meu percurso para um comentário: esta concepção já parece 234 “L’individuation n’a pu être adéquatement pensée et décrite parce qu’on ne connaissait qu’une seule forme d’équilibre, l’équilibre stable; (...) or, l’équilibre stable exclut le devenir, parce qu’il correspond au plus bas niveau d’énergie potentielle possible; il est l’équilibre qui est atteint dans un système lorsque toutes les tranformations possibles ont ètè réalisées et que plus aucune force n’existe; tous les potentiels se sont actualisés, et le siystème ayant atteint son plus bas niveau énergétique ne peut se transformer à nouveau” (SIMONDON, Gilbert. L’individu et sa genèse... Op.cit., pág. 24). 170 demonstrar a inversão na oposição que carrego desde o início do que escrevo. Arriscaria dizer que se daria como uma inversão no devir clássico grego e aristotélico, como se o domínio do natural passasse adiante do vir-a-ser, como uma tendência à frente no processo de individuação e não mais como um domínio com o qual lutamos para escapar. Se não estou enganado - um risco do qual não escapo - Simondon parece assim organizar uma espécie de ontologia reificada do devir. Como diz Bento Prado, aos modos de um pré-socrático236. Certamente esta concepção não está ilesa frente abordagens mais problemáticas. Faço apenas a ressalva de que não me parece tratar de conceder aval para analogias primárias ou empastelar phýsis e bíos politikós237 ou ainda relevar as dimensões reificadas que distanciam sujeito e objeto. Trato disso mais adiante. A recomendação de Simondon para evitarmos analogias frouxas decorre do fato de que a tecnologia que propõe deveria preocupar-se com a universalidade dos objetos técnicos. A cibernética teria o mérito de abordar, pela primeira vez, um campo intermediário entre as ciências especializadas e ali promover um estudo indutivo dos objetos técnicos, mas manifestaria sua insuficiência porque, como ponto de partida, classifica os objetos técnicos segundo critérios oriundos de categorias abrangentes como gêneros e espécies. Todavia, não existiria uma espécie de autômatos: nada mais são que objetos técnicos que apresentam uma organização funcional que se aplica na realização de “graus de automatismos”. Pela matriz simondoniana, a assimilação entre seres viventes e objetos técnicos auto-regulados - os autômatos - promovida pela cibernética é equivocada porque os seres viventes são concretos 235 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 48. 236 Complementaria: e, em parte, aos modos do próprio Sócrates, relevando suas críticas aos filósofos da natureza, voltadas a problemas ético-religiosos. Segundo Jaeger: “No pensamento de Sócrates, o psíquico não se opõe ao físico. Em Sócrates, o conceito de phýsis da antiga filosofia da natureza engloba o espiritual, e com isso se transforma essencialmente. Sócrates não pode crer que só o Homem tenha espírito, que, por assim dizer, ele o haja arrebatado como monopólio seu. Uma natureza em que o espiritual ocupe um lugar próprio tem de ser, por princípio, capaz de desenvolver uma força espiritual. Mas, assim como pela existência do corpo e da alma como partes distintas de uma só natureza humana se espiritualiza esta natureza física, ao mesmo tempo reflui sobre a alma algo da própria existência física” (JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1994, págs. 517/518 e 534). 237 Ver nota 306. 171 desde o princípio enquanto que os objetos técnicos conduzem-se pela concretização, isto é, uma confusão entre uma tendência à concretização e uma existência inteiramente concreta. Como Hércules atrás da tartaruga, o objeto técnico tende mas nunca será inteiramente concreto: restará sempre, em qualquer medida, alguns aspectos de abstração residual no processo de sua evolução para um caráter concreto. Como já enunciei anteriormente, seria o caso dos inconvenientes térmicos gerados como antagonismo residual nas abóbadas muito esbeltas. “Au lieu de considérer une classe d’êtres techniques, les automates, il faut suivre les lignes de concrétisation à travers l’évolution temporelle des objets techniques; c’est selon cette voie seulement que le rapprochement entre être vivant et objet technique a une signification véritable, hors de toute mythologie. Sans la finalité pensée et réalisée par le vivant, la causalité physique ne pourrait seule produire une concrétisation positive et efficace”238 #3.5 [Evolução da realidade técnica; Elemento, Indivíduo, Ensemble] Hipertelia e autocondicionamento na evolução técnica Segundo Simondon, a evolução dos objetos técnicos pode provocar uma especialização exagerada do objeto técnico, o que o filósofo chama de fenômenos de hipertelia 239 , que seria responsável por um desajuste nos potenciais de mudança ainda sobreviventes nas condições de uso ou de fabricação daquele objeto. 238 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 49. 239 O termo designa um excesso de caráter concludente para o qual se move uma realidade, um excesso de finalidades ou a hipertrofia dos meios em direção aos objetivos. É a contração de hiper (conforme Houaiss: “acima; acima de, sobre; por cima, superiormente, muito, demais, para lá de - morfologicamente com a raiz indo-européia up (sub- & sup-) ‘movimento de baixo para cima, elevação’; com o lat. super, de que representa, modernamente, um nível quantificador acima, inclusive nos usos ad hoc, reverentes ou pilhéricos”) e telos (conforme o glossário de Marilena Chauí e Anna Lia Amaral de Almeida Prado: “fim, finalidade, conclusão, acabamento, realização, cumprimento; resultado, conseqüência; chegar a um termo previsto; ponto culminante, cume, cimo, alvo; formação e desenvolvimento completos, pleno acabamento; plenitude de poder de alguma coisa, soberania; o que deve ser realizado ou cumprido; o que é completo em si mesmo. O telos pode ser natural, isto é, determinado pela phýsis ou pela ousía de um ser. O telos também pode ser uma decisão humana, uma convenção estabelecida segundo o nómos. O telos é o que permite avaliar ou determinar o valor e a realidade de alguma coisa”. CHAUÍ, Marilena. Op.cit., pág. 360). 172 O esquema que preside a essência do objeto técnico pode adaptar este objeto (1) pela forma como alcança as condições materiais e humanas de sua produção (ajuste aos caracteres elétricos, mecânicos ou químicos dos materiais que o constituem) - o que o filósofo vai chamar de meio técnico - ou, em seguida, (2) pela forma como responde às tarefas que lhe são destinadas (ajuste às condições de uso do objeto: temperatura ambiente, altitude, umidade relativa do ar, quantidade de ar, presença de partículas em suspensão, vácuo etc) - que, por sua vez, receberá o nome de meio geográfico. Em algumas situações ocorre o que Simondon chama de superadaptação funcional, que faz com que o objeto se adapte a condições de uso muito diversas ou adversas, sem necessária coerência entre as partes. Por exemplo, o arco pleno é um objeto técnico hipertélico: ele precisa ser carregado para poder carregar, isto é, é necessário que as cargas que o solicitam ajudem a impedir que os movimentos de flexão façam-no entrar em colapso. Diferente do arco gótico e, mais adiante, do arco em catenária, que fazem uso de suas próprias formas para sustentar as cargas que os solicitam. Isto é, a geometria da forma ogival e da forma catenária adapta-se com mais precisão a uma estrutura autoportante enquanto que o arco pleno é apenas uma das partes assimétricas da totalidade técnica: uma, a forma estrutural que dá sustentação e a outra, o peso próprio e as solicitações que sustenta. Por outro lado, Simondon relaciona dois tipos de hipertelia: (1) uma que corresponde a uma adaptação fina a algumas condições definidas, sem fracionamento do objeto técnico e sem perda de autonomia; e (2) outra que corresponde a um fracionamento do objeto técnico, como no caso da divisão de um ente primitivo único em carregador e carregado, quando o objeto tem sua autonomia sacrificada. Também poderia haver um tipo misto de hipertelia: um objeto que apresenta um certo grau de adaptação quando necessita de uma certa configuração do meio para poder funcionar convenientemente (a disponibilidade de tensão 110V ou 220V ou a disponibilidade de corrente alternada monofásica, bifásica ou trifásica, por 173 exemplo). Esta adaptação ao meio é, em certos casos, fundamental: num contra-exemplo ao de Simondon, tomo os materiais construtivos, principalmente aqueles utilizados nas vedações. Em lugares muito quentes ou muito frios, materiais mais inertes para aplicação nas alvenarias são mais adaptados que materiais leves e que não dispõem de inércia térmica elevada. É necessário ou ‘massa específica’ alta e coesividade elevada para que a transmissão de energia térmica seja reduzida (como é o caso do tijolo de barro, cozido ou não), ou a associação de materiais inertes com câmaras de ar e dutos de ventilação abrigados da luz que permitam a absorção da energia térmica e desaceleração de sua transferência (como é o caso dos blocos cerâmicos vazados). No primeiro caso, o meio técnico produz sistemas bastante abstratos, analíticos e ‘artificiais’, nos termos de Simondon; no segundo caso, dispondo de algum aparato técnico de produção em escala, é possível produzir sistemas mais concretos e mais ‘naturalizados’. De qualquer forma, o objeto técnico resultante - o elemento construtivo ‘bloco’ - não prescinde de uma adequação ao meio em que é inserido ou produzido. Não seria adequado propor a utilização de um tijolo de barro não cozido - o adobe - onde não se dispõe de uma jazida de material adequado para produzi-lo, nem seria próprio utilizá-lo num meio que oferece opções melhor adaptadas ao meio técnico de produção. Por outro lado, de nada adianta propor a utilização de blocos cerâmicos industrializados num meio muito afastado da origem de sua fabricação. Por uma via ou por outra, o material terra, crua, cozida ou laminada, oferece maior adaptação que o bloco de concreto, por exemplo, o qual apresenta reduzidíssima inércia térmica e nenhuma estanqueidade à umidade. Isto é, os objetos técnicos aplicados no conjunto técnico abrigo devem se integrar ao meio técnico representado pelo aparato disponível ou aplicado e às condições definidas pelo meio geográfico. É necessário, portanto, “de saisir l’existence d’un doublé rapport qu’entretient l’objet technique, d’une part avec le milieu géographique, d’autre part avec le milieu technique. L’objet technique est au point de rencontre de deux milieux, et il doit être intégré aux deux milieux à la 174 fois”240 Na concepção de Simondon, os dois meios - técnico e geográfico - não fazem parte do mesmo sistema, nem são necessariamente compatíveis completamente: o objeto técnico é determinado por escolha humana, pretendendo o melhor compromisso entre os dois mundos, fazendo com que um aja sobre o outro. Assim, o bloco de concreto exige um meio artificial de adaptação constituído por mecanismos de arrefecimento de energia térmica enquanto que o bloco cerâmico não precisa de muito para sua adaptação. Sob o crivo de uma análise estabelecida conforme a abordagem proposta por Simondon, o bloco de concreto não deveria sequer existir: justificado pelas injunções econômicas - é mais barato e pode ser produzido em qualquer ‘fundo de quintal’ - ele continua demandando maior energia para sua produção, continua sendo mais pesado, continua apresentando baixo desempenho térmico e continua oferecendo baixíssima estanqueidade à umidade. Mas, conforme o caso, a adaptação não conduz diretamente aos fenômenos da hipertelia: “La nécessité de l’adaptation non à un milieu défini à titre exclusif, mais à la fonction de mise en relation de deux milieux l’un et l’autre en évolution, limite l’adaptation et la précise dans le sens de l’autonomie et de la concrétisation. Là est le véritable progrès technique”241 É assim que modificações sistêmicas para ajustar as regras de adaptação do objeto técnico aos meios assumem a função de mediação entre o mundo técnico e o mundo geográfico. Basta lembrar o exemplo dos equipamentos de transporte vertical - os elevadores: os modelos tradicionais funcionam com motor a tração, literalmente arrastando, através de cabos, a cabine de transporte ao longo de trilhos verticais. Já os sistemas hidráulicos, funcionando a partir do princípio de vasos comunicantes, são mais bem adaptados para se acomodarem a configurações diferenciadas do edifício, quando não se dispõe de espaço suficiente para instalação de todo o conjunto mecânico e elétrico necessário para o 240 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 52. 241 Idem, pág. 53. 175 funcionamento dos motores trifásicos a tração aplicados nos elevadores comuns. Claro que o meio técnico precisa oferecer condições de aparato para a produção de elevadores hidráulicos e que o sistema hidráulico ainda carece de maior nível de concretização, no entanto a solução não se limita à adaptação a um meio definido - como o é o bloco de concreto em relação ao meio técnico de produção - mas supõe uma abordagem mediada dos dois meios - geográfico e técnico - que não são estáticos. Há um sistema recentemente desenvolvido para aquecimento de água a partir de energia solar. É resultado de pesquisas promovidas por um grupo chamado “Sociedade do Sol”, agregado ao Centro Incubador de Empresas Tecnológicas - CIETEC da Universidade de São Paulo242. O sistema, elaborado e desenvolvido para uso livre (isto é, não é patenteável), é composto por uma placa de captação de energia solar, alguns dutos de material plástico (PVC), um reservatório comum (em geral, fibra de vidro) associado a um chuveiro elétrico já instalado. O objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica em torno de 30%, considerando um grupo usuário entre 4 a 6 pessoas. O pressuposto inicial era conformar o ensemble como um sistema que evitasse a complexidade dos sistemas tradicionais. Por um lado faz uso de fenômenos dispostos pelo meio geográfico: além da luz solar, aqui abundante, o efeito de termo-sifão, o fenômeno de redução da densidade da água quando aquecida, inércia térmica e energia potencial da água acumulada. Por outro lado, lança mão de materiais também razoavelmente simples, dispostos pelo meio técnico: lambris alveolados de PVC (normalmente utilizados no revestimento de forros) pintados de preto para a confecção da placa de captação de energia solar, um par de tubos também de PVC ‘rasgados’ e colados longitudinalmente para abraçar as pontas livres dos lambris alveolados, conexões de PVC e o reservatório de água ligado à rede de abastecimento e 242 SOCIEDADE DO SOL - SoSol. “Manual de instrução de manufatura e instalação experimental do aquecedor solar de baixo custo - ASBC”. Manual do Usuário. São Paulo: SoSol, versão 2.0 Beta, maio 2004 (mais informações: www.sociedadedosol.org.br). O acesso a este material foi franqueado pela TEIA . Casa de Criação, a quem agradeço. 176 ao sistema de distribuição. Em função da energia potencial acumulada pela dessimetria entre o reservatório e o conjunto de placas de captação de energia solar, a água reservada é forçada entrar pelo duto inferior e pelos orifícios dos alvéolos das placas de PVC. Como estão pintadas de preto, uma quantidade razoável de energia luminosa é absorvida e transformada em calor, aquecendo a água que atravessa os alvéolos. A elevação da temperatura faz a água subir (o que se chama de efeito termo-sifão) porque se tornou mais leve com o aquecimento, alcançando o duto superior que a conduz novamente para dentro do reservatório. Como a água quente é mais leve, a água fria sempre ocupará a porção inferior da caixa e a quente, a porção superior. O duto de fornecimento de água é instalado na borda superior do reservatório, utilizando uma torneira de bóia simples para controle da adução. No entanto, um dissipador um tubo de PVC de 100mm - é fixado à torneira de bóia para evitar turbulência e não permitir que água quente e fria se misturem. Na saída do reservatório, dois sistemas de distribuição: a saída de água fria e a saída de água quente são posicionadas na parte inferior do reservatório. A diferença é que a saída de água quente é conectada a um duto flexível (destes corrugados, usados em tubulações elétricas). Uma pequena bóia (uma garrafa ‘pet’, por exemplo) mantém a extremidade do duto na porção superior do reservatório, onde está a água quente. A água fria, mais pesada, permanece sempre na parte inferior do reservatório - que é de onde sai para o sistema de captação de energia solar. Água fria e quente dispostas por um único sistema que faz a medição de uma convergência entre meios díspares, isto é, um novo meio é criado por adaptação a si mesmo. 177 Parece-me importante salientar que todo o sistema é composto por materiais baratos, comumente dispostos pelo meio técnico. Mas, nos termos de Simondon, seria a solução da coerência interna o que faz o sistema ser economicamente muito viável. Isto é, considerando uma disposição do meio técnico que não se faz acessível economicamente em suas formas mais elaboradas, é a criação de um meio associado que permite a concretização do objeto. “La concrétisation est ici conditionnée par une invention qui suppose le problème résolu; c’est en effet grâce aux conditions nouvelles créées par la concrétisation que cette concrétisation est possible; le seul milieu par rapport auquel il existe une adaptation non hypertélique est le milieu créé par l’adaptation elle-même”243 Este processo de adaptação-concretização seria caracterizado pela criação condicionada de um meio que não existe senão virtualmente antes de sua invenção e que é permeável ao condicionamento por um meio pré-existente. Dessa forma, o que Simondon chama de invenção concretizante produz um meio tecno-geográfico que se torna a condição mesma de funcionamento do objeto técnico - como é o caso do meio técnico disponível & meio geográfico dos fenômenos aplicados no mesmo reservatório. “L’objet technique est donc la 243 Idem, pág. 55. 178 condition de lui-même comme condition d’existence de ce milieu mixte, technique et géographique à la fois”244. Este mecanismo de interação entre meios seria um fenômeno de autocondicionamento pelo qual os objetos técnicos poderiam se desenvolver sem tender à hipertelia ou à não adaptação. A hipertelia apenas surge na medida em que a adaptação se relaciona a fatos previamente dispostos antes do processo de adaptação, o que obstruiria as condições que a precedem, visto que tais fatos não reagem nos meios nem os condiciona a sua volta. Segundo Simondon, a evolução dos objetos técnicos não pode ocorrer senão onde estes objetos são livres em sua evolução e não necessitam dos sentidos de uma hipertelia que lhes seria fatal. Para que seja possível tal evolução e para que os objetos sejam livres, é necessário que esta evolução conduza à criação de um terceiro meio - o meio tecno-geográfico, o que Simondon chama de meio associado - onde cada modificação é autocondicionada. “Il ne s’agit pas en effet d’un progrès conçu comme marche dans un sens fixé à l’avance, ni d’une humanisation de la nature; ce processus pourrait aussi bien apparaître comme une naturalisation de l’homme; entre homme et nature se crée en effet un milieu techno-géographique qui ne devient possible que par l’inteligence de l’homme: l’auto-conditionnement d’un schème par le résultat de son fonctionnement nécessite l’emploi d’une fonction inventive d’antecipation qui ne se trouve ni dans la nature ni dans les objets techniques déjà constitués”245 Quando uma nova organização surge na linha evolutiva, ela se mantém em virtude de uma “convergência sistemática e plurifuncional”: esta nova organização é condição de si mesma. E aí assumo o exemplo de Simondon - que converge com os exemplos que venho apresentando: “Comme une voûte qui n’est stable que lorsqu’elle est achevée, cet objet remplissant une fonction de relation ne se maintient et n’est cohérent qu’après qu’il existe et parce qu’il existe; il crée de lui-même son milieu associe et est réellement individualisé en lui”246 244 Idem, pág. 55. 245 Idem, pág. 56. 246 Ibidem. 179 #3.6 A invenção técnica Fundo e forma junto ao vivente e no pensamento inventivo Este processo de autodeterminação do objeto técnico pela invenção de um meio que promove uma mediação tecno-geográfica - um meio associado - nada mais seria que seu processo de individuação, o qual só seria possível por uma recorrência de causalidade: um meio em que o ente técnico pode ser “autor de si mesmo”, ao qual aquele meio condiciona como é condicionado por ele. Este meio associado congrega um regime dos elementos naturais que envolvem o ente técnico ligado ao regime dos seus elementos constituintes. Atua, assim, efetivamente como um mediador na relação entre os elementos técnicos fabricados e os elementos naturais no seio dos quais funciona. Conforme Simondon, seria este meio associado a condição de existência do objeto técnico inventado. A cunha cônica de ancoragem da cordoalha de aço numa peça protendida promove uma causalidade recorrente quando em funcionamento: quanto maior a tração, mais a cunha constrange a cordoalha, impedindo-a de ceder aos esforços e entrar na bainha que a mantém livre para protender a peça. 180 Além disso, a invenção não prescinde do objeto primitivo: este seria a causa do funcionamento do objeto inventado, colocando em jogo uma causalidade recorrente também entre objetos - que não evoluem de forma contínua, como se poderia pressupor, mas de invenção em invenção. Por isso, argumenta Simondon, há uma descontinuidade na história dos objetos técnicos, como se fosse constituída por uma seqüência cronológica de origens absolutas. Nestes termos e para que a invenção seja possível, só o pensamento seria capaz de prever e prescrever, em imaginação criativa, a junção entre os elementos separados entre si e o meio associado que irão condicionar. No momento em que elementos e meio associado estabelecem uma causalidade circular, torna-se possível a existência do objeto inventado. Tratar-se-ia, portanto, de um condicionamento do presente em função do futuro, do que é pelo que ainda não é. Raramente este processo se daria como obra do acaso: é necessária uma capacidade de organizar os elementos em função de exigências que assumem “valor de ensemble” técnico. Estes elementos desempenham, assim, o papel de símbolos que representam o ensemble técnico futuro que ainda não existe. E aqui lembro, em Leroi-Gourhan, os modos de representação correlatos resultantes da proximidade que o etnólogo defende entre linguagem e fazer técnico. “L’unité du futur milieu associé dans lequel se déploieront les relations de causalité qui permettront le fonctionnement du nouvel objet technique est reprèsentée, jouée comme un rôle peut être joué en l’absence du véritable personnage, par les schèmes de l’imagination créatrice. Le dynamisme de la pensée est le même que celui des objets techniques; les schèmes mentaux réagissent les uns sur les autres pendant l’invention comme les divers dynamismes de l’objet technique réagiront les uns sur les autres dans le fonctionnement matériel”247 247 Idem, pág. 58. 181 Por outro lado, haveria uma certa unidade entre meio associado e objeto técnico, análogo à unidade do vivente. Durante a invenção, esta unidade seria dada pela coerência semelhante a dos esquemas mentais, uma vez que eles existem e se desenrolam no mesmo ente: aqueles esquemas que são contraditórios são descartados. Isto porque o vivente é um ente individuado que carrega em si seu próprio meio associado, que por ele mesmo pode ser inventado. É esta capacidade de autodeterminação e de se autocondicionar que Simondon identifica à capacidade de produzir objetos técnicos que se autocondicionam. Se não estou enganado, parece-me este o detalhe que permitirá Simondon argumentar que há algo do vivo no objeto técnico e, por ele, a permanência do natural na existência do humano. Mais adiante. O filósofo lembra que era isto que chamava a atenção dos psicólogos na época em que escreve sua tese, no que se refere ao estudo da imaginação inventiva: não seriam os esquemas, operações ou formas - caracteres que aparecem espontaneamente salientes ou em relevo no processo de invenção - que nos permitiriam compreendê-la, mas o fundo dinâmico sobre o qual estes esquemas se enfrentam, se combinam e do qual participam. Normalmente, a Psicologia da Forma 248 atribuía maior importância à forma, pelo tanto que congrega de totalidade. No entanto, Simondon argumenta que é o fundo o aspecto determinante, o domínio que abriga as formas em permanente mutação e que faz existir um sistema de formas: “les formes participent non pas à des formes, mais au fond”. O fundo é o domínio comum das tendências de todas as formas, antes mesmo que elas existam e constituam um sistema explícito: “La relation de participation qui relie les formes au fond est une relation que enjambe le présent et diffuse une influence de l’avenir sur le présent, du virtuel sur l’actuel. Car 248 A teoria da forma - Gestalttheorie - surgiu entre 1912 (Wertheimer) e 1925 (Titchener / Helson / Guillaume), a partir de trabalhos de investigação em psicologia que, posteriormente alcançariam a filosofia. Conforme proposto por Paul Guillaume, a teoria da forma trata dos fenômenos como conjuntos (Zusammenhänge), unidades autônomas portadoras de regulações próprias que, em função de uma estrutura, determinam sua manifestação empírica, sua maneira de ser. Os elementos destes conjuntos não preexistem, nem fisiologicamente, nem psicologicamente: fariam parte do processo do devir no momento em que o devir é apreendido fenomenicamente. Por isso, a abordagem do conjunto não procede de e nem permite uma abordagem dedutiva a partir das partes para compreensão das regras do todo (cf. LALANDE, André. Vocabulário... Op.cit., pág. 426). 182 le fond est le système des virualités, des potentiels, des forces qui cheminent, tandis que les formes sont le système de l’actualité. L’invetion est une prise en charge du système de l’actualité par le système des virtualités, la création d’un système unique à partir de ces deux systèmes”249 É nestes termos que Simondon propõe compreender as formas como passivas, se representam a atualidade, e ativas, quando organizadas em relação ao fundo, trazendo para a atualidade as virtualidades anteriores. O filósofo admite que a relação não é fácil mas considera possível afirmar que a forma se relaciona com o fundo de virtualidades conforme o mesmo modo de causalidade e condicionamento que existe na relação entre estruturas dos objetos técnicos individuados e o meio associado em permanente movimentação. Assim, haveria recorrência de causalidade entre o meio associado e as estruturas, mas esta recorrência não seria simétrica - o meio muda constantemente. O meio abrigaria um sistema de informação no caminho de individuação do objeto técnico: seria ele que informaria quanto ao regime de autoregulações preexistentes enquanto virtualidades, isto é, a informação ocorreria no fundo, no sistema de virtualidades e não a partir das formas estruturadas. Pelos termos de Simondon, não seria correto manter as formas investidas de um “privilégio de atividade” principalmente se tomarmos em conta a noção de refluxo em Freud: o que explicaria o sonho seria a existência de um fundo psíquico que abriga uma multidão de formas passíveis de comparação às formas explícitas. Seria esta relação entre forma e fundo responsável pelo processo de simbolização, até mesmo no estado de inconsciência - e que não se estenderia para além do inconsciente, apresentando formas explícitas ao estado de consciência ou ao estado de vigília. Pela mesma operação, seria o meio articulado a uma sistemática das formas que organizaria relações de causalidades recorrentes entre formas, responsáveis pelas transformações operadas nas estruturas quando tomadas em seu ensemble. Por isso a idéia de alienação em Simondon ganha outra conotação: esta ocorreria ao se estabelecer uma ruptura entre fundo e formas na vida psíquica, impedindo o meio associado de 249 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 52. 183 efetuar regulações quando perante o instável domínio das formas. Assim, não seria a atividade responsável pela iniciativa da vida psíquica e da vida física. Simondon defende um parentesco muito profundo entre vida e pensamento, na medida em que este - que não é matéria orgânica nem “estrutura da matéria vivente” enquanto responsável pelo meio associado que dá vida aos órgãos - também participa na composição do ensemble orgânico que coopera para a vida. Se a matéria vivente é o fundo que dá sentido à conexão funcional entre órgãos, criando um organismo e fazendo-se responsável pela manutenção do equilíbrio das funções vitais, ela está bastante longe de ser “pura indeterminação e pura passividade”: ela é um “veículo de energia informacional”. Pelo mesmo caminho, o pensamento também comportaria estruturas claras, evidentes e autônomas, “como as representações , as imagens, certas lembranças, certas percepções”. Contudo, todos estes elementos participam de um fundo que os orienta conforme uma direção, para aquilo que Simondon chama de “unidade homeostática”. O filósofo defende então o fundo como uma axiomática implícita que promove a veiculação de uma energia informacional entre todos os elementos. É nela que se elaboram os novos sistemas de formas. “Sans le fond de la pensée, il n’y aurait pas un être pensant, mais une série sans lien de représentations discontinues. Ce fond est le milieu mental associé aux formes. Il est le moyen terme entre vie et pensée consciente, comme le milieu associe à l’objet technique est un moyen terme entre le monde naturel et les structures fabriquées de l’objet technique”250 Assim a possibilidade de criar entes técnicos resulta do fato de abrigarmos em nós este “jogo de relações” e uma intuição da “relação matéria-forma” que Simondon quer demonstrar análoga àquela que habita os objetos técnicos. Haveria, portanto, um medium entre mundo natural e indivíduo técnico que é este fundo informacional que coloca em jogo as formas dos objetos. Seria ele o responsável pelas relações análogas entre pensamento & vida e objeto técnico estruturado & meio natural. Uma asserção que, particularmente, me lembra 184 Leroi-Gourhan nas dualidades que investiga: meio & técnica e gesto & palavra251. “L’objet technique individualisé est un objet qui a été inventé, c’est-à-dire produit par un jeu de causalité récurrente entre vie et pensée chez l’homme. L’objet qui est seulement associé à la vie ou pensée n’est pas objet technique mais ustensile ou appareil. Il n’a pas de consistance interne, car il n’a pas de milieu associe instituant une causalité récurrente”252 #3.7 A individuação técnica Todo o percurso até aqui, acompanhando o princípio e o processo de individuação do objeto técnico pela causalidade recorrente no meio associado, esclarece o caráter dos ensembles técnicos mas ainda não explicita quando tratá-los como indivíduos técnicos e quando compreendê-los como uma “coleção organizada de indivíduos”. O fato de existir um meio associado não é condição exclusiva para a individuação técnica. Um pórtico de reação num laboratório de construção civil não seria um indivíduo técnico se apartado de todo o sistema que o envolve: o ambiente em que se encontra instalado, fundações adequadas, pé-direito suficiente para sua instalação, proteção para o operador, o próprio operador e a peça sujeita à operação, mecanismos de leitura do comportamento estrutural da peça ensaiada etc. O laboratório faz parte do aparelho completo. O pórtico de reação em si mesmo é um agregado de formas técnicas que apresentam uma relativa individualidade. Mas o pórtico de reação possui um mecanismo hidráulico capaz de promover uma dessimetria de esforços, uma correlação entre tração e compressão que se obtém pelo diferencial entre a pressão nos pistões hidráulicos e a própria estrutura do ensemble. Uma causalidade recorrente que faz com que as “formas técnicas” ali presentes funcionem cooperativamente, constituindo, assim, um meio associado necessário para a operação do 250 Idem, pág. 60. 251 Cabe lembrar, ainda em tempo, que Simondon foi leitor de Leroi-Gourhan, como atesta seu repertório bibliográfico: ver SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 263. 185 pórtico. No entanto, ele ainda é um meio de adaptação, que só se completa com o restante do laboratório: o que nos faz supor, por estes termos, que existem níveis relativos de individuação. É justamente pela admissão da existência destes níveis que é possível o estabelecimento de um critério com “valor axiológico”: trata-se de verificar a coerência de um ensemble técnico pela sua composição em sous-ensembles técnicos que também apresentam os mesmos níveis de individuação relativa. O que define um ensemble técnico de grau superior que abriga alguns sous-ensembles técnicos é o fato do primeiro colocar em conexão os segundos sem retirar-lhes a autonomia individual, isto é, atá-los sem destruir a independência entre as diversas causalidades recorrentes que atuam em seus meios associados quando separados. É por este motivo que, para além do caráter essencial que defenderei para o ente abrigo, venho chamando-o de conjunto técnico abrigo: um objeto técnico que congrega um determinado número de subconjuntos técnicos autônomos com causalidades recorrentes também autônomas que, por sua vez abrigam indivíduos técnicos postos em correlação mútua. Se considerar a construção casa como função totalizante para uma espécie de ente abrigo e a função lugar para preparo dos alimentos como função parcial porém autônoma, parece-me possível considerar este lugar como um “sous-ensemble técnico” chamado ‘cozinha’ com um certo nível de causalidade recorrente que ocorre num meio associado autônomo: por exemplo, o que é uma geladeira sem um sistema de fornecimento, condução e abastecimento elétrico ou sem o próprio ambiente em que normalmente se encontra instalada, a cozinha? No entanto, o que é uma geladeira fora do abrigo, sem os meios associados que lhe atribuem função? A geladeira, como forma técnica, é um agregado como o pórtico de reação, um indivíduo técnico, como veremos: uma câmara térmica para manutenção de baixas temperaturas associada a um motor elétrico, a um sistema de circulação de um gás resfriado e a um conjunto de dutos que, 252 Idem, pág. 60. 186 com o auxílio de uma bomba a pressão, fazem o gás resfriado percorrer alguns setores da câmara. O motor elétrico, a bomba a pressão, os dutos e o gás, formam, por sua vez, um sous-ensemble de objetos técnicos infra-individuais que, funcionando no meio associado composto pela câmara térmica, tem sua coerência e um nível próprio de individuação relativa. É um agrupamento de formas técnicas. A geladeira pode, no entanto, ficar na sala, na cozinha, no banheiro, desde que disponha de um ponto de fornecimento de energia elétrica. Mas o ensemble ‘cozinha’ é o conjunto de meios associados mais adequado para se instalar uma geladeira, na medida em que é ali que se organizam funcionalmente todos os processos de preparo dos alimentos: daí, parece-me tratar-se do subconjunto técnico superior mais adequado, que circunstancialmente organiza uma geografia do abrigo mais adequada ao novo meio técnico composto pelos equipamentos técnicos que ali se agrupam. É certo que, por exemplo, a cozinha na Índia, em certos grupamentos étnicos, promove uma composição bastante diversa, pelo fato de não possuírem uma geladeira. Mas há uma composição de “um conjunto de formas técnicas que possuem uma relativa individualidade”; a casa indiana também é “um ensemble de grau superior” que realiza conexões “sem destruir a autonomia dos sous-ensembles individuais”. Isto posto, a individualidade estaria referida a qual nível relativo de individuação? Como no ensemble técnico ‘cozinha’, um ensemble de grau superior só faz existir um meio associado porque ali vigoram certas coerências específicas num determinado momento e sob condições circunscritas: “L’ensemble se distingue des individus techniques en ce sens que la création d’un certain nombre de dispositifs pour lutter contre cette création possible d’un unique milieu associe. Il évite la concrétisation intérieure des objets techniques qu’il contient, et n’utilize que les résultats de leur fonctionnement, sans autoriser l’interaction des 187 conditionnements”253 Por outro lado, existiria um nível infra-individual no esquema do objeto técnico? Certamente, caracterizado, porém, por uma individualidade que não corresponde àquela estrutura dos objetos técnicos que dispõem de um meio associado. É como se definíssemos uma condição de transitividade predicativa para o objeto infra-individual: um motor é motor de algum indivíduo técnico que correlaciona um meio associado para sua autoregulação. “Les objets techniques infra-individuels peuvent être nommés éléments techniques; ils se distinguent des véritables individus en ce sens qu’ils ne possèdent pas de milieu associe; ils peuvent s’intégrer dans un individu; (...) on peut (les) comparer à ce qu’est un organe dans un corps vivant. Il serait en ce sens possible de definir une organologie générale, étudiant les objets technique au niveau de l’élément, et qui ferait partie de la technologie, avec la mécanologie, qui étudierait les individus techniques complets”254 #3.8 Encadeamentos evolutivos e conservação da tecnicidade Lei de relaxação A evolução de um elemento técnico particular pode, certamente, influenciar na evolução do indivíduo técnico do qual faz parte, o qual depende, pelo menos parcialmente, das características dos elementos que são postas em correlação. “Dans certains cas, les éléments sont comme la cristallisation d’une opération technique antérieure qui les a produits”255. Tomo o exemplo de Simondon: o tamanho dos motores elétricos magnéticos é decorrência de uma operação técnica anterior que promoveu a redução dos imãs de indução utilizados naquele elemento técnico ‘motor’ - inclusive o da geladeira. Isto se obteve no processo de fusão do material que compõe os imãs, submetido, quando ainda a meio caminho do processo de fusão e durante todo o período de seu resfriamento, a um poderoso campo 253 Idem, pág. 64. Uma lembrança aqui pertinente, é a Dymaxion House e o Dymaxion Bathromm, projetos de Richard Buckminster Fuller que justamente perseguiam um único meio associado para as diversas funcionalidades parcelares do conjunto técnico abrigo. Ver, particularmente, BALDWIN, J. Bucky Works: Buckminster Fuller’s ideas for today. New York: John Wiley & Sons, 1996. 254 Idem, pág. 65. 188 magnético em torno de si que orienta suas moléculas, criando uma intensa polarização magnética no material. A fonte de calor, o cadinho, as resistências que criam o campo magnético fazem parte de um ensemble técnico e cada fenômeno atuante não pode anular o outro. O calor não pode interferir no campo magnético que, por sua vez, não pode obstruir o processo de fusão do material e o material em fusão não pode alterar o comportamento da fonte de calor. A organização do ensemble deve ser estabelecida a partir dos resultados de seus funcionamentos, os quais não devem interferir nos funcionamentos particulares. O que ocorre, portanto, é uma “passagem de causalidade” que, partindo de ensembles anteriores, alcança os elementos posteriores que, no nível do indivíduo técnico que integra, atua alterando suas características. A partir daí, há também um rearranjo das características do ensemble do qual este indivíduo participa. Ao redescender para o nível dos elementos, um novo ciclo de causalidade técnica recomeça. É fácil compreender este ciclo se lembrarmos das mídias para registro e reprodução musical - um processo de evolução que se alimenta do objeto primitivo mas que alcança outros ensembles de indivíduos técnicos: o vinil que promove indução eletromagnética pode parecer incongruente com a mídia disposta à leitura ótica do som. No entanto, há uma linha de causalidade que não é retilínea, como diz Simondon. Visto que há uma concomitância solidária entre elementos, indivíduos e ensembles técnicos, esta linha de causalidade descreve uma geometria descontínua, estabelecendo um encadeamento entre realidades técnicas diversas, que necessariamente passa pela fase intermediária de fabricação dos elementos. “Por qu’une réalité technique ait une postérité, il ne suffit pas qu’elle se perfectionne en elle-même: il faut encore qu’elle se réincarne et participe à ce devenir cyclique selon une formule de relaxation dans niveaux de réalité” 256 255 Ibidem. 256 Idem, pág. 66. O grifo é meu. O sentido estabelecido por Simondon para o termo relaxation parece mais próximo àquele utilizado pela Química, onde o tempo de relaxação é o tempo característico para um sistema perturbado retornar ao equilíbrio. No léxico dos termos que acompanha a obra do filósofo, relaxation é explicada como um funcionamento interativo e não oscilante, isto é, um fenômeno que se repete de maneira regular mas que declina num ciclo até um estado de relaxação que inicia um novo ciclo, descontínuo em relação ao anterior mas que dele necessita para iniciar o ciclo seguinte. (Idem, pág. 260). 189 Segundo Simondon, esta solidariedade atual e espacial entre entes técnicos seria responsável pelo ocultamento desta outra solidariedade mais essencial, regida por uma lei de relaxação, que exige uma dimensão temporal de evolução, uma solidariedade do sucessivo, que dá ao mundo técnico uma dimensão histórica e pela qual é possível descrever os grandes períodos da vida técnica. Distingue, contudo, do caráter de uma evolução biológica, a qual se efetua de forma contínua e por mudanças sucessivas de níveis. Nos domínios do vivente, o órgão não é destacável da espécie, enquanto que no domínio técnico, justamente porque é fabricado, o elemento é passível de ser destacado do ensemble que o produziu. Residiria aí, a diferença entre o engendrado e o produzido. Há um ritmo de alternância entre fases de relaxação, promovida segundo ritmos próprios do tempo técnico, sincronizados ou não com o tempo histórico. Os recursos de energia até o século XVIII, eram assegurados por quedas d’água, deslocamentos de massas atmosféricas ou por animais, explorados artesanalmente ou por instalações industriais muito rudimentares - o que implicava num alto grau de dispersão energética. No entanto, é dessas oficinas rudimentares que saem a locomotiva a vapor e o princípio de inércia em estruturas tubulares. A construção das primeiras grandes ferrovias afetou o desenvolvimento da resistência dos materiais não só pelos problemas novos que trouxe, particularmente no âmbito da construção de pontes. Mas é a ciência dos materiais obtida a partir de uma “invenção mecânica artesanal” que, associada a outras invenções rudimentares, permite sua aplicação criando um novo elemento para um novo ensemble técnico. George Stephenson, conhecido como o “pai da ferrovia”, estudara exaustivamente o comportamento de tubos para aperfeiçoar a locomotiva a vapor. Seu filho, Robert Stephenson, havia sido convidado para, entre 1846 e 1850, projetar e construir uma ponte sobre o estreito Menai, para acesso à ilha de Anglesey, no País de Gales. Stephenson filho era fascinado pelo comportamento mecânico dos tubos: impressionara-o a notícia de um barco 190 de grande calado que, quando lançado do estaleiro, ficara acidentalmente suspenso, sem que este fato resultasse em qualquer tipo de avaria no casco. A seção de uma embarcação deste tipo nada mais é que um grande tubo metálico, cujo casco descreve uma geometria adequada à flutuação. Aproveitando as propriedades geométricas de formas tubulares, Stephenson propõe uma ponte composta por dois tubos metálicos com dimensões de seção suficientes para a passagem da ferrovia por dentro destes tubos257. Por um sistema de analogias entre formas técnicas atuais - que passa pelos elementos ‘tubos’ e pelos ensembles técnicos ‘embarcações’ e ‘locomotiva a vapor’ - é possível uma transmissão de causalidade que irá vigorar numa nova solidariedade do sucessivo. Esta montagem que organiza várias formas daquele fundo dinâmico informacional é chamada por Simondon de basculeurs. Um basculeur pode manter-se em equilíbrio ou não, conforme uma informação é disparada, como um sinal exterior que cria um diferencial que reordena as formas sob nova configuração. Em um novo basculeur, uma nova constituição de entes se acentua e se concretiza. Assim, o desenvolvimento técnico industrial do séc. XIX não agrega apenas alguns indivíduos conforme o princípio de funcionamento que tem a resistência dos materiais como fundamento, mas agrega o que é essencialmente resistência 257 DUPRÉ, Judith. Bridges. Köln: Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 1998, págs. 46/47; TIMOSHENKO, Stephen P. History of strength of materials. New York: Dover Publications, 1983, págs. 156 a 162. 191 dos materiais nestas estruturas - esta seria a informação, o sinal exterior. A partir de um elemento que apresentava uma grande inércia mecânica em virtude da inércia de sua seção - o tubo - passa-se ao indivíduo técnico conformado como estrutura tubular e destes, aos ensembles técnicos locomotiva, navio ou ponte. #3.9 Tecnicidade e evolução das técnicas: a tecnicidade como instrumento de evolução técnica Se por um lado Simondon admite a negatividade como pólo de uma operação dialética que dispõe figuras e momentos historicamente gravados e que atualizam, promovendo mudanças sucessivas, o vir-a-ser do saber autêntico, por outro lado o filósofo localiza esta operação exclusivamente no homem pensante. Não se dá o mesmo com os entes técnicos: a negatividade aqui é um défaut de individuação, uma imperfeição residual que permanece na medida em que promove uma junção incompleta entre mundo natural e mundo técnico. Assim, a negatividade teria lugar como promotora de mudança apenas no homem como inventor e como utilizador dos objetos técnicos, incitando-o a prosseguir, em etapas sucessivas, a realização mais adequada daquela mediação entre natureza e mundo técnico - o que, adverte-nos Simondon, não tem nada a ver com o progresso material sustentado por mudanças muito rápidas e que impedem o progresso técnico propriamente dito (uma vez que a época atual depende da transmissão do conhecimento aplicado nos objetos de uma época anterior - um conhecimento que o progresso material freqüentemente descarta). Cedo espaço aqui para mais um comentário: se não estou enganado, esta negatividade simondoniana pode nos induzir uma verossimilhança com o aspecto negativo 192 presente na idéia heideggeriana do herausfördern (desafiar), que põe a natureza pronta para um desafio. Mas em Heidegger, esta negatividade separa o homem dessa natureza que desafia. O filósofo alemão pergunta e responde: mas quem põe o disposto, o real, em movimento e completa o desafio à natureza, lhe extrai e para si reserva sua energia oculta e desabriga o que está disposto? O homem. Mas o que desafia o homem a desafiar? A armação, o Gestell, que seria a força de reunião (ou o recolher) que desafia o homem a desafiar. O aspecto negativo implícito em desafiar sugere sempre a oposição entre o que é desafiado e o que desafia. Para que o progresso técnico se configure como tendência a uma junção plena entre mundo técnico e natureza - que, assintótica, aproxima sem nunca realizá-la e não como um desafio entre as partes - seria preciso passar de uma época a outra, não apenas os ensembles técnicos, nem mesmo apenas os indivíduos técnicos, mas os elementos que estes indivíduos, agrupados em ensembles, se fizeram produzir. Os ensembles técnicos, graças àquela capacidade de intercomunicação interna assegurada pelo fundo informacional, têm o poder de se transformar em produtores de elementos diferentes de si mesmos. Mas não se compara a um ser vivente: pelo contrário, o que caracteriza o movimento assintótico é o fato de um ente técnico não possuir a capacidade de engendrar entes semelhantes a si mesmo. Ele não pode espontaneamente produzir outros entes técnicos semelhantes a si, malgrado os ciberneticistas insistam nesta hipótese. Segundo Simondon, é por isto que os entes técnicos desfrutam de maior liberdade que o vivo, capazes de constituir, como indivíduos, entes técnicos completamente diferentes de si mesmos. “Il n’y a donc pas ici engendrement, procession, ni production directe, mais production indirecte par constitution d’éléments renfermant un certain degré de perfection technique.”258 Mas o que seria “perfeição técnica”? De forma empírica e a partir de uma visada exterior, pode-se dizer que a “perfeição técnica” é uma qualidade prática, reverberada com o uso do objeto técnico. Assim, 193 uma boa ferramenta não é somente aquela que tem boa aparência, é bela e bem talhada. Apropriando-me do exemplo de Simondon pelo tanto que participa do meu universo de ofício, uma enxó pode, funcionalmente, estar em mau estado: a empunhadura gasta, a lâmina mal afiada, o olhal frouxo. Mas não necessariamente é uma ferramenta ruim: se a lâmina possui uma curvatura adequada, se mantém o corte quando afiada, se não flexiona quando submetida a esforços de alavanca etc., são índices de que o ensemble técnico aplicado na sua produção também ajudou a conferir-lhe qualidades práticas. Assim, o metal deve ter sido forjado de forma a obter uma resposta diferenciada em cada posição da lâmina, com zonas ajustadas funcionalmente à flexibilidade ou à dureza necessária conforme o regime de uso a que está sujeita, uma operação assegurada pela devida orientação das moléculas no processo de forja e aceiramento. “L’outil n’est pas fait seulement de forme et de matière; il est fait d’éléments techniques élaborés selon un certain schème de fonctionnement et assemblés en structure stable par l’opération de fabrication. L’outil recueille en lui le résultat du fonctionnement d’un ensemble technique [a fundição, a forja, a têmpera etc.]”259 É sob este modo de avaliação que Simondon defende sua concepção de tecnicidade de um objeto: mais que uma qualidade de uso, a tecnicidade seria o caractere que se incorpora, como intermediário, à primeira determinação operada pela relação forma e matéria: no exemplo da enxó, a heterogeneidade material obtida no processo diferenciado da têmpera. A tecnicidade corresponderia ao grau de concretização de um objeto técnico. Freqüentemente, é a tecnicidade que atribui o valor de uso de um objeto técnico: assim como ganharam evidência os produtos dos laminadores de Toledo e dos aceiros de Saint-Étienne, também encontramos um diferencial de tecnicidade entre uma torquês CID, por exemplo, e aquelas produzidas por outras marcas - ou sem marca260. 258 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 71. 259 Idem, pág. 72. 260 Em tempos de reprodutibilidade técnica ampliada, a tecnicidade é transformada em padrão de valor de troca, absorvendo o valor de uso como argumento comercial. Um problema do qual Simondon se esquiva, momentaneamente, na medida em que promove uma digressão ontogenética da técnica e dos objetos técnicos. No entanto, pelo percurso que propõe, o fato insere-se no conjunto de determinações exteriores que Simondon de certa 194 Os sujeitos ocupados com a produção de uma torquês de boa qualidade “expriment le résultat du fonctionnement d’un ensemble technique qui comprenait aussi bien” 261 as características e as proporções do carbono empregado na fabricação do aço, a temperatura e a composição química dos fluidos utilizados no resfriamento e na têmpera, o comportamento do combustível mineral que fornece calor para a mistura e o refino do metal durante o processo de fusão etc. Com freqüência, a tecnicidade de uma armadura para aplicação em estruturas de concreto armado depende mais da “tecnicidade dos elementos simples” - da torquês utilizada, por exemplo - que da “engenhosidade da montagem”. A tecnicidade torna-se, portanto, um caractere que prepondera, se tomados os caracteres abstratos do sinolón matéria & forma. No nível do elemento técnico, Simondon trata a tecnicidade como um caractere positivo, desempenhando uma função análoga ao do meio associado no nível do indivíduo técnico: um índice de concretização que assegura o elemento como destacável do ensemble que o originou, liberando-o para que novos indivíduos possam constituir-se a partir dele. No entanto, Simondon assevera que não há argumento irretorquível que defenda a tecnicidade como atributo do elemento técnico uma vez que também o meio associado é depositário da tecnicidade no nível do indivíduo: é ali que o meio se estabelece como portador de intercomunicatividade no nível do ensemble. Preserva, contudo, o termo tecnicidade para designar este caractere positivo, esta qualidade positiva do elemento, para poder assegurar essa possibilidade de destacá-lo de um ensemble e transferi-lo para um novo ciclo de um novo basculeur. Poupo o leitor, por hora, do exemplo que enuncio: ao projetar e acompanhar a construção por ajuda mútua de um conjunto de edifícios para moradia popular, deparamo-nos com o problema da circulação vertical. A redução da solução no nível do elemento, o degrau, forma recusa como interferência no processo de individuação de um objeto técnico. O filósofo trata disso rapidamente um pouco adiante e com mais vagar na conclusão de sua obra. 195 não sustentava, obviamente, a resolução do indivíduo técnico escada. Talvez parcialmente como seria o caso de degraus pré-moldados. Mas a problematização do ensemble técnico integral e do meio associado que produzia este elemento, implicou, durante um longo período (obras duram!), uma série de conjecturas projetuais que acabaram reordenando um certo tanto de compromissos forçados e não convergentes, que as primeiras escadas produzidas por ajuda mútua nos ensinaram. Percebemos que não era necessária uma estrutura contínua em concreto armado para carregar o degrau, que ela poderia ser confeccionada por um sistema de barras metálicas armadas numa treliça que resolveria uma série de problemas e aumentava o grau de tecnicidade do próprio degrau. Se o elemento era o problema, não foi sem a problematização de todo o ensemble - material, sistema estrutural, processo produtivo, disponibilidade de competências específicas e até a forma como os sujeitos implicados naquela produção dispunham de seu tempo, tudo compreendido como ensemble técnico aplicado na produção de uma escada - que elevaríamos o grau de concretização do elemento. Mas o elemento, obviamente, permaneceu, problematizado em sua essência de degrau, transformado em aço e argamassa e participando de uma nova realidade técnica - como descrevo no quarto ensaio deste trabalho. Por hora, é só. “C’est de la réalité technique concrétisée que transporte l’élément, tandis que l’individu et l’ensemble continennent cette réalité technique sans pouvoir la véhiculer et la transmettre; ils ne peuvent que produire ou se conserver mais non transmettre; les éléments ont une propriété transductive que fait d’eux les vrais porteurs de la technicité, comme les graines qui véhiculent les propriétés de l’espèce et vont refaire des individus nouveaux”262 Enquanto atributo dos elementos, a tecnicidade subsiste de forma pura e “em estado livre”, como diz Simondon, enquanto que no nível dos indivíduos e dos ensembles, a tecnicidade persiste em um “estado de combinação” entre elementos e em função de suas 261 Ibidem. 262 Idem, pág. 73. O grifo é meu. A idéia de transdução tem peso significativo em Simondon: a partir daquele fundo informacional que contém as formas, a transdução se ocupa de transferi-los, pelos esquemas (como ‘pacotes’ de informações) que representam os elementos, para épocas ou ensembles futuros. Tal processo , como já é possível inferir, é um atributo da realidade técnica: não é um indivíduo humano que opera a transdução, ele apenas tem “sensibilidade” para perceber a tecnicidade que lhe chega às mãos. 196 tecnicidades latentes. Para a ruptura deste equilíbrio e para transformar a latência em mudança, algum condicionamento negativo deve surgir. Uma invenção supõe algum conhecimento intuitivo, junto àquele que inventa, das tecnicidades latentes no elemento. A invenção, como criação de um indivíduo técnico, é o processo que cumpre o papel de intermediação entre o abstrato e o concreto. O nível abstrato, como domínio da conjugação analítica dos esquemas técnicos263, supõe a existência prévia e coerente de um sistema de representações simbólicas (como aquela que simboliza a dessimetria entre esforços de tração e compressão numa viga) que fazem parte de uma “sistemática e de uma dinâmica imaginativas”: “L’imagination n’est pás seulement faculte d’inveter ou de susciter des représentations en dehors de la sensation; elle est oussi capacite de percevoir dans les objets certaines qualités quin e sont pás pratiques, quin e sont ni directement sensorielles ni entièrement géométriques, quin e se rapportent ni à la purê matière ni à la purê forme, mais que sont à ce niveau intermédiaire des schèmes” Para Simondon, portanto, a imaginação técnica não é atributo de uma genialidade que submete o inventado às dimensões de um conhecimento complexo, mas uma particular sensibilidade à tecnicidade dos elementos que permite descobrir ensembles possíveis e completamente diferentes do indivíduo original. Parece-me, então, que qualquer um já presenciou ou experimentou a imaginação técnica num ato de invenção: sejam elementos ‘palavras’ num discurso, sejam elementos ‘tijolos’ numa parede. Numa outra obra, não conseguíamos resolver um problema de acabamento das cintas nos cantos das paredes, nas alvenarias cerâmicas que pretendíamos deixar sem revestimento. Peças em forma de “U”, com as dimensões de 25x25x12,5cm eram dispostas em fiadas no respaldo das paredes e sempre o problema do canto aparecia: para propiciarmos a continuidade das armaduras, éramos obrigados a cortar uma das abas da canaleta, além do que a boca daquele “U” sempre ficava à mostra. Ficava feio, mal acabado. Foi a “imaginação técnica” de um mestre de obras que 263 Numa escada, a subdivisão em pequenos patamares - os degraus - que se elevam de um pavimento a outro é passível de redução a um esquema: 2h+p~62,5cm. Um sistema trilítico - uma viga apoiada em dois pilares - pode ser compreendida como: 197 resolveu o problema: bastava transformar o “U” num “L”, deitá-lo formando o canto com a base e a aba restante, resolvendo o problema da contenção do concreto que preencheria a cinta e dando uma acabamento mais limpo para os cantos das cintas. Assim, o inventor não parte da matéria à qual dará uma forma. Ele parte dos elementos já técnicos, nos quais vê possível incorporar, pelos esquemas, um ente individuado futuro suscetível a esta incorporação. O indivíduo é, portanto, um sistema estável de tecnicidades dos elementos organizados em ensembles. Logo, são as tecnicidades que são organizadas, não os elementos em virtude de sua imanência material. Pensando com Simondon, os tijolos de uma alvenaria estão onde estão não por sua materialidade intrínseca, mas por sua tecnicidade imanente. Resta, contudo, uma relativa indeterminação na posição do elemento no equilíbrio estabelecido entre um e todos os outros elementos: seu lugar pode ser determinado mais por razões extrínsecas, definidas pela racionalidade do funcionamento, que aquelas estabelecidas intrinsecamente, apoiadas nas tecnicidades que constituem o meio associado. Se este meio associado é a concretização das tecnicidades resultantes da interação mútua entre todos os elementos, então esta tecnicidade resultante conforma-se como as condições de estabilidade do sistema. Ela seria, portanto, a potência ou capacidade ou propriedade de suportar os efeitos interativos de uma maneira determinada. Desse raciocínio decorre que, quanto mais as tecnicidades de cada elemento se elevam, menor a margem de indeterminação, 198 enquanto potência, da tecnicidade resultante. Logo, o aumento de tecnicidade de um objeto técnico elementar é índice de sua concretização. Se Simondon não deixa claro, é este estado de indeterminação que me parece aquele “condicionamento negativo” necessário para que a transformação das tecnicidades em latência possa ocorrer. O que permite o emprego de um elemento em diversas configurações de ensembles é o fato dele possuir um elevado grau de tecnicidade, que lhe confere uma alta estabilidade. Quanto maior a independência das características em relação às condições de uso, mais a qualidade da tecnicidade aumenta. Assim, o bloco cerâmico seria portador de tecnicidade mais elevada, na medida em que as condições de seu emprego se ampliam: alta resistência aos esforços de compressão, alta estanqueidade termo-acústica e à umidade, geometria regular, menor peso específico - se comparado ao bloco de concreto - e adequação a diversos meios geográficos. E aqui Simondon aborda o problema da relação entre valor de uso e valor comercial, para o que lhe passo a palavra: “On doit remarquer en ce sens qu’il n’y a pas nécessairement de corrélation entre le prix commercial d’un objet technique et sa qualité technique élémentaire. Très souvent, les considérations de prix n’interviennent pas de manière absolue, mais à travers une autre exigence, comme celle de la place. (...) Les considérations économiques interviennent donc dans un assez grand nombre de cas non pas directement, mais à travers le retentissement du degré de concrétisation de l’objet technique sur son emploi dans l’ensemble individuel. C’est la formule générale de l’être individuel qui est soumise à ce retentissement économique, non l’élément en tant qu’élément” É a partir desta assertiva que Simondon defende uma certa independência do elemento na relação entre domínio técnico e domínio econômico, uma ligação que se estabelece mais no nível do indivíduo ou do ensemble, mas muito raramente no nível do elemento. Uma afirmação problemática mas talvez própria do contexto de época264. 264 O que dizer dos ‘elementos’ informacionais dispostos como mercadoria? A sensação que tenho é de que o fundo, como substrato integral das formas, foi finalmente acessado pelo capital, constituindo uma espécie de seqüestro, de usurpação da base informacional dos elementos singulares que subjazem na constituição dos indivíduos técnicos; os esquemas de dominação, assim, já vêm estruturados a partir de uma apropriação intemporal do fundo, compreendido como o que Simondon chama de “axiomática implícita”, onde são elaborados os sistemas de formas novos. Pelo nível dos objetos, a regra de patentes acessa o nível dos elementos, organizando a propriedade intelectual sobre o campo de virtualidades, o campo do vir-a-ser da realidade técnica aparente, dos elementos que ainda serão criados, a partir do controle patrimonial do processo de transmissão da tecnicidade de 199 É por esta chave que Simondon argumenta que o valor técnico tem que obedecer a um regime de valoração independente daquele que vigora em outros domínios. Para o filósofo, a transmissão da tecnicidade por através dos elementos é a razão fundamental para a existência de algum progresso técnico para além da descontinuidade das formas, da irregularidade disposta pelos domínios externos, da multiplicidade de tipos de energia empregados para criação e propulsão dos objetos técnicos e, inclusive por vezes, até mesmo dos esquemas de funcionamento. Caminhando para próximo de Leroi-Gourhan, Simondon considera que cada etapa de evolução técnica é legatária das épocas precedentes onde um estado de legatário universal corresponderia a um estágio evolutivo também maior - sem juízo de mais ou menos melhor ou mais ou menos pior, parece-me. Pelo percurso de uma ontogênese, o objeto técnico não configuraria, em si, um objeto histórico: “il n’est soumis au cours du temps que comme véhicule de la technicité, selon le rôle transductif qu’il joue d’une époque à une autre. Ni les ensembles techniques ni les individus techniques ne demeurent; seul les éléments ont le pouvoir de transmettre la technicité, sous forme effectuée, accomplie, matérialisée dans un résultat, d’une époque à une autre”265 Por isso seria possível estabelecer um método etnológico - o filósofo é explícito neste sentido - que fundamente suas análises acerca das técnicas de um grupo humano sobre o conjunto de elementos - testemunhas válidas de um estágio de evolução técnica - produzidos pelos indivíduos - técnicos - e pelos ensembles. No entanto, Simondon propõe estender o método também para os elementos produzidos pelas técnicas industriais pois, contrariando Heidegger, alega não existir diferenças fundamentais entre povos e seu comportamento técnico antes e depois da indústria moderna. Os indivíduos técnicos e os ensambles técnicos sempre existiram, desde antes do desenvolvimento industrial. Todavia, a existência estável dos indivíduos e ensembles nas um período a outro. Para mais sobre o assunto, ver SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio-técnico da informação digital e genética. Op.cit., 2004; ARAÚJO, Hermetes Reis de. Tecnociência e cultura: ensaios sobre o tempo presente. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. 200 instituições tem prazo determinado e o que é conservado entre operações técnicas próprias a cada período histórico são os elementos. As ferramentas e utensílios seriam um exemplo disso: substituir dentes e unhas pela pedra lascada fez da faca um elemento. A construção de uma embarcação exige um verdadeiro ensemble técnico: configuração geométrica do solo, proximidade a um curso d’água, disponibilidade de abrigo e iluminação, materiais adequados para sustentação do objeto em construção etc. Da mesma forma um canteiro de obras, provisório ou não, constitui um ensemble: “De nos jours d’ailleurs, il existe encore de semblables ensembles techniques temporaires, parfois très développés et complexes, comme les chantiers de construction des immeubles; d’autres sont provisoires tout en étant plus durables, comme les mines ou les points de forage pour le pétrole”266 O ensemble técnico não adquire necessariamente uma forma estável, como uma usina hidrelétrica, por exemplo. Pelo contrário, a impressão de Simondon é que as civilizações não industriais distinguem-se da nossa pela inexistência de indivíduos técnicos com materialidade definida, com aparência estável e permanente. Para além deste aspecto, a função de individuação técnica é, no período pré-industrial, assumida pelos indivíduos humanos, fazendo com que a distribuição interna do processo de individuação do objeto técnico e a autoregulação da tarefa se dêem pelo seu corpo (não há necessidade de comentar o quanto a construção civil, pela concepção de Simondon, encontra-se numa fase pré-industrial): “L’apprentissage au moyen duquel un homme forme des habitudes, des gestes, des schèmes d’action qui lui permettent de se servir des outils très variés que la totalité d’une opération exige pousse cet homme à s’individualiser techinquement; c’est lui qui devient milieu associe des divers outils; (...) il assure par son corps la distribution interne et l’auto-régulation de la tâche”267 Dessa forma, o homem é o depositário da tecnicidade dos elementos e seu trabalho é o único meio de expressão desta tecnicidade. Segundo Simondon, esta é, em parte, a razão para a nobreza que atribuímos ao trabalho artesanal. Pela concepção simondoniana, o trabalho do artesão “traduz” uma exigência de expressão, contida por um saber que não é 265 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 76. 266 Idem, pág. 77. 267 Idem, pág. 77. 201 formulável em termos intelectuais. Sob as ordens industriais, contudo, “l’exigence d’expression n’est plus liée au travail lorsque la technicité est devenue immanente à um savoir formulable abstraitemment, em dehors de toute actualisation concrète”268. Por vezes, a articulação cooperativa entre indivíduos técnicos num ensemble se dá pela associação de indivíduos humanos trabalhando em grupos - como no caso da construção civil, reforço aqui a verossimilhança. Simondon diferencia, contudo, aquelas situações em que não há uma diferenciação entre funções, pretendendo apenas acúmulo de energia ou aceleração do tempo de realização da tarefa - vários homens puxando um monólito, por exemplo - e outras que, diferenciando funcionalidades, permitem explicitar a gênese de um ensemble. Neste caso, os indivíduos humanos são empregados mais como indivíduos técnicos que como humanos - é o que ocorre numa operação como a perfuração a trado de estacas de fundação ou no movimento pendular sincrônico para fazer funcionar um traçador. Em todas estas situações, é pelo corpo do operador humano que se dá o processo de individuação. Os dois aspectos de individuação técnica - com ou sem o emprego funcional da individualidade humana - podem coexistir. A separação é recente, diz Simondon, e é compreensível induzir que a máquina, como forma mais geral característica do indivíduo técnico, imita o homem. Mas “Or, les machines sont en réalité très peu semblables à l’homme, et même quand elles fonctionnent de manière à produire des résultats comparables, il est très rare qu’elles emploient des procédés indentique à ceux du travail de l’homme individuel”269. A analogia, portanto, prende-se a aspectos exteriores. Mas é o suficiente para um “ressentimento” do homem, como um descompasso perante a máquina que lhe toma o lugar como indivíduo, no momento em que lhe toma o lugar como portador de ferramentas. É o caso das modernas linhas de produção que vão, paulatinamente, substituindo os homens que antes 268 Ibidem. 269 Idem, pág. 78. 202 atuavam num sincronismo artesanal. “Pour bâtir, le maçon avait son aide, le goujat”270. No entanto, Simondon assevera que não são apenas os ajudantes que serão substituídos pelas máquinas, mas muda todo o suporte da individuação técnica: este suporte, que era um indivíduo humano - aquele que portava as ferramentas - transfere-se, agora, para as máquinas - que sob esta nova configuração é quem porta e dirige as ferramentas. Cabe ao homem o papel de regulador ou de direção da máquina portadora de ferramentas, realizando agrupamentos ou organizando um ensemble de indivíduos técnicos - um papel de ajudante dos indivíduos técnicos. Há, portanto, papéis para o homem que Simondon chama “por baixo” e “por cima” da individualidade técnica: o de servente e o de regulador. O regulador se ocupa da sincronização dos níveis técnicos entre indivíduos, elementos e o ensemble, atuando como um “maestro” que conduz - sendo conduzido - uma orquestra - uma figura que Simondon utiliza em outra parte. A tarefa de organização entre os níveis técnicos conduz o regulador a ser, ele mesmo, um nível técnico, assim como o artesão. O que não significa que o homem não possa trabalhar entranhado à máquina e assim constituir-se como um indivíduo técnico. Segundo o filósofo, isso acontece quando, através da máquina, o homem aplica sua ação ao mundo natural: nesta circunstância “la machine est alors véhicule d’action et d’information, dans une relation à trois termes: homme, machine, monde, la machine étant entre l’homme et le monde”271. Tratar-se-ia de um indivíduo técnico complexo - constituído pelo homem-máquina, pelo homem que porta a máquina e a máquina que porta a ferramenta: neste indivíduo técnico complexo o homem conserva em si a centralidade do meio associado nesta relação, ele utiliza seu sentido de autoregulação “pour opérer celle de la machine, sans même 270 Ibidem. 271 Idem, pág. 79. 203 que cette necessite soit consciemment formulée”272. Um motor superaquecido aciona o sistema de arrefecimento, independentemente do condutor. “Très généralement, les précautions que l’homme prend pour la conservation de l’objet technique ont pour fin de maintenir ou d’amener son fonctionnement dans les conditions qui le rendent non auto-destructif, c’est-à-dire dans les conditions où il exerce sur lui-même une réaction négative stabilisante; au delà de certaines limites, les réactions deviennent positives, et par conséquent destructives”273 Daí o caso do motor que funde por excesso de aquecimento - uma reação positiva -, provocado pela pane de uma das partes do sistema de arrefecimento. No caso do motor a gasolina, seu funcionamento provoca aumento da temperatura - o que é positivo para o regime em que trabalha; um termostato aciona o sistema de arrefecimento - que é uma “reação negativa estabilizante” - que impõe um limite para que as reações não se tornem absolutamente positivas - e destrutivas. No caso do motor da geladeira: seu funcionamento útil requer a manutenção de baixas temperaturas; se a temperatura se eleva, uma “reação negativa estabilizante” é introduzida na medida em que o termostato aciona o sistema de propulsão do gás refrigerado, restabelecendo o limite para as reações positivas. No caso de uma viga protendida, seu comportamento de barra sujeita à flexão faz com que a assimetria entre os esforços de compressão e os de tração impliquem na solicitação assimétrica da seção superior em relação à seção inferior; se dependesse exclusivamente da armadura frouxa, os esforços solicitantes provocariam o colapso dessas seções, uma reação positiva se pensarmos que a força da gravidade tenderá sempre a arrastar a matéria que compõe a viga para o centro de gravidade da terra; uma “reação negativa estabilizante” é então introduzida quando se promove o tensionamento da cordoalha abrigada nas bainhas de protensão. “Ainsi, l’homme peut intervenir comme substitut de l’individu technique, et raccorder des éléments aux ensembles à une époque où la construction des individus techinques n’est pas possible”274 Mas quais seriam as conseqüências do desenvolvimento técnico em relação à 272 Ibidem. 273 Idem, pág. 80. 274 Ibidem. 204 realidade das sociedades humanas? Para Simondon, é o processo de individuação dos objetos técnicos que em primeiro lugar se deve levar em conta, uma vez que a individualidade humana se vê cada vez mais “desembaraçada da função técnica” pelo tanto de indivíduos técnicos que a rodeiam. O que tem restado como tarefa para os homens são operações “por baixo” - mero acompanhamento de operações mecanizadas - e “por cima” dos indivíduos técnicos - a organização de um ensemble produtivo, uma regência entre máquinas. A história da individualidade do homem demonstra que era precisamente ela que haveria de se tecnicizar, na medida em que um certo monismo funcional imposto ao indivíduo humano, pelos costumes e hábitos engendrados pelo trabalho, fazia com que justamente sua individualidade fosse empregada como indivíduo técnico. “Mais il [o monismo] crée actuellement un malaise, parce que l’homme, cherchant toujours à être individu technique, n’a plus de place stable près de la machine: il devient servant de la machine ou organisateur de l’ensemble technique; or, pour que la fonction humaine ait un sens, il est nécessaire que chaque homme employé à une tâche technique entoure la machine aussi bien par le haut que par le bas, la comprenne en quelque sorte, et s’occupe de sés éléments aussi bien que de son intégration dans l’ensemble fonctionnel”275 Para tanto, seria um erro estabelecer alguma distinção hierárquica entre preocupações com os elementos e aquelas voltadas para os ensembles. Segundo Simondon, “a tecnicidade não é uma realidade hierarquizável”, isto é, ela habita completamente os elementos e se propaga transdutivamente no nível dos indivíduos e nos ensembles. “L’apparente prééminence des ensembles provient du fait que les ensembles sont actuellement pourvus des prérogatives des personnes jouant le rôle de chefs. En fait, les ensembles ne sont pas des individus; de même, une dévaluation des éléments est produite par le fait que l’utilisation des éléments était jadis le propre des aides et que ces éléments étaient peu élaborés”276 Seria, portanto, daí a fonte do mal-estar entre homem e máquina: um dos papéis técnicos - de indivíduo - ainda é desempenhado por homens; mas não sendo mais um ente técnico, o homem tem que aprender um novo papel, uma nova função: “Le premier mouvement consiste à occuper les deux fonctions non individuelles, celle des éléments et celle de la direction de l’ensemble; mais dans ces deux fonctions 275 Idem, pág. 81. 276 Ibidem. 205 l’homme se trouve en conflit avec le souvenir de lui-même: l’homme a tellement joué le role de l’individu technique que la machine devenue individu technique paraît encore être un homme et occuper la place de l’homme...”277 Para Simondon, há uma humanização implícita da máquina “que tem como força profunda esta mudança de papéis”. No entanto, não significa que a máquina há de cumprir o papel do homem: isto seria como retornar à velha concepção de um homem tal qual um objeto técnico. “Il est nécessaire que l’objet technique soit connu en lui-même pour que la relation de l’homme à la machine devienne stable et valide: d’où la necessite d’une culture technique”278 #3.10 Chego ao final do meu percurso. Simondon segue muito além, operando uma espécie de ‘reificação’ pela abordagem ontológica - se assim posso dizer279 - do princípio de individuação dos objetos técnicos, conduzida até aqui. O esforço subseqüente de Simondon parece concentrar-se não no emparelhamento da individuação humana àquele da individuação técnica, mas precisamente no torná-las imbricadas. Fiz uso de suas considerações para estabelecer um enquadramento particular de algumas circunstâncias do projeto e da construção, de algumas singularidades do ofício que me parecem subsumíveis aos critérios da gênese do objeto técnico estabelecido por Simondon. Uma análise mais sistemática poderia iluminar uma infinidade de situações, particularmente se considerarmos o processo de individuação que se dá, num determinado meio associado, entre 277 Idem, pág. 81. 278 Idem, pág. 82. 279 Giles Delleuze, chamando a atenção para a obra de Simondon, comentaria num artigo de 1966, publicado na Revue philosophique de la France et de l’etranger: “Et ce que Gilbert Simondon elabore, c’est toute une ontologie [...]” (CHATEAU, Jean-Yves. “Notice Biographique” in SIMONDON, Gilbert. L’invention dans les techniques. Op.cit., pág. 348). 206 concepção, desenho, canteiro e uso do conjunto técnico abrigo. O caminho de uma prosa que se estenderia em demasia. Para o momento, o que importa é que não se trata de discutir classificações entre termos ou jogos de palavras cruzadas que só obscureceriam o que me parece central: há uma inversão processada pelo raciocínio de Simondon que o faz oposto à concepção heideggeriana de técnica - que, se não incorro em erro, parece-me dominante. Não se trata de uma disposição e uma armação - o Gestell de Heidegger -, de uma natureza que se dispõe e se arma para um desafio. Neste sentido, o desafio assume sempre o caráter exploratório, extracionista e tem a natureza como um campo de provisões ainda apartado do humano. Além disso, se por um lado a natureza é tratada como este poço infinito de energias e providências, por outro, é o signo do que o homem não quer mais ser: ali reina a necessidade, a vida destituída de logos. Pelo contrário, Simondon traz a natureza para frente, como um devir que também se adianta no devir do homem. E é com este expediente que o filósofo recoloca os devires num único movimento: uma operação que parece pretender uma humanização da técnica e uma tecnicização do homem através de uma atitude consciente de mediação que se dá por dentro do que chama de meio associado. Dois aspectos ainda restam que considero necessário comentar. Há um conflito entre modos de pensar o aprendizado e a transmissão do conhecimento técnico. Se por um lado a técnica é tida como uma habilidade, tratando-se, portanto, de um conhecimento que se toma de modo não reflexivo, pelo costume, por uma tradição, por outro lado ela também pode ser tomada como conhecimento racional, elaborado a partir de uma operação reflexiva, sustentado pelo campo das ciências e passível de transferência educativa formal280. Simondon propõe um reatamento entre os dois modos, uma vez que a 280 Aristóteles já colocava esta distinção - e oposição - na definição das artes arquitetônicas, como já me referi, no início deste ensaio. Complemento com uma passagem da Física, quando o estagirita vai procurar qual a ciência responsável pelo estudo da phýsis, para o devido contraste com a questão de Simondon: “Las artes que dominan la materia y la conocen son dos: unas consisten en saber hacer uso de las cosas, y otras, que pertenecen a las artes 207 existência de um não prescinde do outro - assim, uma “unidade do mundo técnico”. Seria este o motivo, segundo as argumentações do filósofo, para uma oposição sem fundamento legítimo entre cultura e técnica, pois uma parte do conhecimento técnico é reconhecida pela cultura aquela do engenheiro - enquanto que a outra é rejeitada pelo fato de não se constituir como operação reflexiva - aquela parte do artesão. Novamente, como já vimos, uma distinção entre o que sabe com o cérebro e o que sabe com as mãos. O conhecimento técnico praticado e transferido pelo hábito mantém o homem - o artesão - atado à sua função biológica, pelo tanto que se vincula à intuição e à memória, nos termos de Leroi-Gourhan, ou à natureza, conforme a concepção grega281. Por outro lado, o conhecimento ilustrado do engenheiro ascende às esferas da cultura e se descola do atavismo biológico e do mundo natural, justamente porque a possibilidade de organização analítica do conhecimento permite-lhe ser parcelarmente destacável. Por esta operação, a relação do homem com o mundo natural se esvai, transformando o objeto técnico em um ente artificial que afasta homem e mundo natural. A realidade técnica, por este percurso, seria o que faz com que o homem alcance o mundo, e não o contrário. Uma outra inversão proposta por Simondon que me parece importante, é aquela que estabelece o trabalho como um aspecto da realidade técnica e não o contrário. Segundo o filósofo, a realidade técnica tem sido sempre apreendida por através do trabalho humano, tratando-a como um agregado de instrumentos dispostos para ou como fruto do trabalho humano. Simondon propõe fazer aparecer o que há de humano nos objetos productivas, son las arquitectónicas. El arte de hacer uso de las cosas es de algún modo también arquitectónico, aunque ambas se diferencian por el hecho de que las artes arquitectónicas conocen la forma, mientras que las artes productivas conocen la materia. El timonel, por ejemplo, conoce y prescribe cuál ha de ser la forma que el timón tiene que tener; el outro, en cambio, sabe con qué madera y mediante qué movimientos el timón puede operar” (ARISTÓTELES. Física 194b 1-8). 281 “As atividades profissionais, portanto, apenas prolongam as qualidades naturais dos artesãos. Se nelas as distinguimos é para ligá-las a necessidades, elas também naturais. (...) É, portanto, dentro de um contexto restrito que a arte tem poder e eficácia. E precisamente nesse contexto é ‘natureza’. Ao contrário do que acreditou Espinas [ver nota 288], o trabalho artesanal não é da ordem dessa ‘fabricação humana’, onde o homem, ao tomar consciência de sua oposição com a natureza, propõe-se a humanizá-la por artifícios indefinidamente aperfeiçoados. 208 técnicos, sem que se passe pela relação com o trabalho. Argumentando a insuficiência de uma definição naturalizada282, Simondon diz que só há trabalho quando este se torna um aspecto da operação técnica, quando o homem tem que ceder sua “unidade somato-psíquica” para que se realize e se feche alguma relação entre espécie humana e natureza. “Il y a travail quand l’homme ne peut confier à l’objet technique la fonction de médiation entre l’espèce et la nature, et doit accomplir lui-même, par son corps, sa pensée, son action, cette fonction de relation. L’homme prête alors sa propre individualité d’être vivant pour organiser cette opération; c’est en cela qu’il est porteur d’outils” 283 Contrariamente, quando se trata de um objeto técnico concretizado, o misto de natureza e homem constitui-se no nível deste objeto. Para Simondon, a operação sobre o ente técnico não é exatamente um trabalho. Com efeito, no trabalho, o homem é forçado a coincidir com uma realidade que não é humana, sujeita-se a esta realidade e faz-se intrometer de qualquer maneira entre a realidade natural e a intenção humana. Se tomarmos a noção de trabalho defendida por Simondon, torna-se válida a concepção aristotélica: o homem, pelo trabalho, modela a matéria segundo uma forma, a qual alcança enquanto intenção de resultado, enquanto causa final. No entanto, há uma predeterminação do resultado a ser obtido no final da operação, perseguido conforme exigências preexistentes. Esta forma-intenção não faria parte da matéria na qual o trabalho opera - o que, se lembrarmos, converge com o não-ser de Aristóteles. Esta Em sua produção, ao contrário, o artesão vê sua própria atividade ‘naturalizar-se’” (VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., págs. 27 e 29). 282 “Dire que le travail est l’exploitation de la nature par les hommes en societé, c’est ramener le travail à une réaction élaborée de l’homme pris comme espèce devant la nature à laquelle il s’adapte et qui le conditionne. Il ne s’agit pas, ici, de savoir si ce déterminisme dans la relation nature-homme est à sens unique ou comporte une réciprocité; l’hypothèse d’une réciprocité ne change pas le schéma de base, à savoir le schéma de conditionnement et l’aspect réactionnel du travail. C’est alors le travail qui donne son sens à l’objet technique, non l’objet technique qui donne le sien au travail” (SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 241). 283 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág.242. E, lembrando Marx: “Descendo ao pormenor, vê-se, de início, que um trabalhador que, durante a sua vida inteira, executa uma única operação transforma todo o seu corpo em órgão automático especializado dessa operação” (MARX, Karl. O capital: crítica... Op.cit., livro I, vol. I, pág. 394). Certamente, isso diz respeito ao trabalhador inserido já numa forma manufatureira de produção, não mais como artífice, como artesão. No entanto, a concepção de Simondon parece convergir - apontando para sinais trocados, certamente - com a marxista, na medida em que aqui também o trabalhador empresta seu corpo, suas “forças anímicas”, ao modo de ferramenta que operará a transformação da matéria segundo uma intenção - e cada vez mais, quanto mais se cristalizam as formas de divisão de trabalho com a finalidade de ampliar sua produtividade: “Um artífice que executa, uma após outra, as diversas operações parciais da produção de uma mercadoria é obrigado, ora a mudar de lugar, ora a mudar de ferramenta. A passagem de uma operação para outra interrompe o fluxo do seu trabalho e forma, por assim dizer, lacunas em seu dia de trabalho. (...) Por outro lado, a 209 forma-intenção exprimiria apenas uma utilidade ou uma necessidade para o homem - mas ela não emana da natureza. A atividade de trabalho promove a ligação entre a matéria proveniente do mundo natural e a forma que provém da natureza humana, fazendo coincidir, por intermédio de um desempenho que Simondon trata como “sinérgico”, duas realidades heterogêneas que são matéria e forma. Mas o trabalho produz uma espécie de obstrução da memória material, como um esquecimento do quanto a matéria informa sobre si mesma, uma vez que é a utilidade do sinolón que entra em jogo. O trabalho concederia ao homem, contudo, a consciência da presença dos dois termos, colocados sinteticamente em relação: o jogo de aproximação harmônica entre matéria e forma demanda seus olhos postos sobre a operação. Mas a consciência não basta para desvelar a interioridade da operação complexa que o jogo de aproximação propicia. O trabalho vela a relação em proveito da evidência dos dois termos. Comentário breve. Para aquém do pedregoso campo de oposições entre a concepção marxista de trabalho, sua centralidade e forma social, e a concepção simondoniana, atenho-me a uma questão importante para as reflexões que virão: as categorias que Marx promove entre formas de organização do trabalho - artesanato, cooperação simples, manufatura e indústria - não conflitam necessariamente com o modo de individuação dos objetos técnicos propostos por Simondon, justamente porque o trabalho seria dele um aspecto, isto é, Simondon propõe questionar o fato de nossa relação técnica com o mundo se dar pelo trabalho, mas não o nega como realidade histórica. Por outro lado, a concepção simondoniana auxilia numa certa diluição dos limites cronológicos entre as categorias que conformam as modalidades de organização do trabalho sob determinados modos de produção - segundo Marx. Na medida em que se trata não mais, nos termos de Simondon, de um posto de observação que parte das continuidade de um trabalho uniforme destrói o impulso e a expansão das forças anímicas, que se recuperam e se estimulam com a mudança de atividade” (MARX, Karl. O capital: crítica... Op.cit., livro I, vol. I, págs. 395/396). 210 relações de produção organizadas pelo trabalho284 - isto é, dos termos - mas, pelo contrário, posiciona-se a partir da relação que coloca o homem numa ‘clareira’ entre a forma e a matéria, entre o gesto teleológico que orienta um devir e a natureza que se naturifica ao ser conduzida a cumprir este devir, parece-me que Simondon propõe colocar - numa abordagem essencial, porém essencialmente histórica - os homens e suas máquinas na mediação entre a natureza da matéria e as formas teleológicas da natureza humana - e não mais apenas homens em relação a homens. A relação dos homens com os homens - o trabalho, como forma social - seria uma decorrência de uma relação de mediação, como “aspecto da operação técnica” e do processo de individuação. Arriscaria, então, alguma conjectura: tomando os devidos cuidados, há por aí possibilidades de uma outra abordagem fenomenológica - e ainda assim, crítica - do que se coloca antes, por debaixo e por através das relações de produção, uma vez que a categoria ‘trabalho’, nos termos marxistas de análise das relações de produção, cada vez menos tem dado conta da diversidade e das encruzilhadas que o próprio modo de produção gera para si mesmo. A superposição de diferentes modos de organização da força de trabalho no mesmo segmento de tempo, por vezes embaralha a compreensão da realidade técnica em sua essência, dando chance a oportunismos espertos para explicações cômodas285. 284 “Por fim, desde que os homens, não importa o modo, trabalhem uns para os outros, adquire o trabalho uma forma social” (MARX, Karl. O capital: crítica... Op.cit., livro I, vol. I, pág. 93). 285 Explico melhor: no setor da construção civil, várias atividades são artesanais por excelência: o caso do revestimento com materiais cerâmicos, por exemplo. O azulejista faz o trabalho de um só, sob medida, cortando caquinhos para o ajuste do padrão. Quando muito, conta com o apoio de um ajudante para lhe fornecer a argamassa colante. No entanto, o trabalho do azulejista precisa da cooperação do pedreiro de revestimento que aplica a massa grossa sobre a qual vai assentar os azulejos; demanda também a cooperação do encanador e do eletricista, compondo a manufatura serial que caracteriza o ensemble que produz o edifício. Mas uma grande parte dos componentes de uma obra é industrializada: como o azulejo, por exemplo. No entanto, outra grande parte é produzida numa forma de organização manufatureira de produção: como tijolos de barro cozido, outro exemplo. O que estou querendo ressaltar é a superposição de diferentes modos de organização produtiva: o canteiro é e será por um bom tempo, manufatura (e por aqui ainda mais conformada como manufatura serial); mas não podemos isolar apenas o aspecto manufatura do canteiro para sua crítica, sob o risco de ignorar o quanto também as outras modalidades de organização do modo de produção interagem na sua configuração. A crítica tem que se estender também ao restante do ensemble produtivo. O enrijecimento da crítica em categorias fechadas pode subtrair-lhe eficácia. Na medida em que se mecanizam algumas tarefas no canteiro, a aparência de solução pode disfarçar deficiências talvez ainda maiores: como o problema da segurança na operação de uma betoneira, mais um exemplo. Sérgio Ferro, comentando como se tornara um “suicida na profissão”, impedido de demonstrar praticamente o que 211 Aparentemente, a operação simondoniana não promove o exílio da produção material para um nível de abstração que em nada ajuda numa ‘economia política’ da existência, pelo contrário: seria justamente este esmaecimento dos então rigorosos limites entre categorias que nos auxiliariam uma outra compreensão do que é essencial nas formas de transformação material do mundo. A mecânica das categorias, se por um lado contribui para uma abordagem analítica, por outro estabelece rigores formais que podem nos conduzir a pontos cegos - e a aporias insolúveis. Como arremate de um pavimento para início de outro: para Simondon, é a condição servil do trabalhador que contribui para o obscurecimento da operação que conduz forma e matéria a uma coincidência sensível. O sujeito que comanda um trabalho é levado a preocupar-se com aquilo que deve figurar, numa ordem estabelecida, um conteúdo, reservando à matéria o papel de condição inicial de execução - poderíamos dizer, como parte dos “meios de produção”. Assim, sua atenção se ocupa com a forma e a matéria e não com a tomada de forma enquanto operação. “Le schèma hylémorphique est ainsi un couple dans lequel les deux termes sont nets et la relation obscure. Le schéma hylémorphique, sous cet aspect particulier, représente la transposition dans la pensée philosophique de l’opération technique ramenée au travail, et prise comme paradigme universel de genèse des êtres”286 O uso passivo e genérico do esquema hilemórfico na filosofia, se por um lado não deixa de sustentar uma “experiência técnica”, por outro introduz uma obscuridade visto que se trata de uma “experiência técnica incompleta”, em virtude da “insuficiência da base técnica destes esquemas”. Não se trata de, como diz Simondon, colocar a filosofia ombro a ombro com o operário ou o escravo, tomar nas mãos o molde ou o torno - o ponto de vista do trabalhador defendia em discurso, resigna-se, naquele momento conturbado da história brasileira - eram os pesados anos do regime militar -, com o “trabalho da crítica teórica”: “O recurso aos conceitos marxistas de interpretação se justificava: porém, apesar de todas as semelhanças a que já fiz referência, eles eram amplos demais ou estreitos demais para uma aplicação direta à particularidade que tinha diante de mim. (...) A submissão apenas formal do trabalho na manufatura, e que teoricamente facilitou um comportamento mais ousado e anarquista dos operários (...), mistura-se aqui não só com a submissão real hegemônica industrial, mas também com os vestígios de servidão diante do paternalismo coronelista” (FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 328). 286 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág.242/243. 212 ainda permanece exterior ao fato técnico em si mesmo. A tomada de forma é uma realidade exclusivamente técnica, só é técnica em si mesma. Simondon convida, então, entrar no molde com a argila, experimentar-se como molde e como argila para compartilhar a tomada de forma em si mesma. Para a existência de um tijolo, o moleiro que prepara a argila - isentando-a de grumos e bolhas - e o carpinteiro que fabrica o molde - materializando a forma no fazer o molde - trabalham no encadeamento de meios técnicos e preparam a operação técnica. O trabalhador que entrega a matéria ao molde, comprime-a, promovendo o encontro entre forma e matéria, prepara a mediação: mas é a argila que toma forma segundo o molde, não o indivíduo que promove a operação. O trabalhador prepara a mediação mas ela apenas se completa a partir de si mesma. Ainda que muito próximo do fato técnico, o trabalhador não o conhece em si mesmo. Sua representação não aparece pelo trabalho, o centro ativo do fato técnico permanece encoberto. Sob as condições de uma prática de trabalho e de um modo de produção que não faz uso de objetos técnicos mais concretos, o saber técnico só podia ser transmitido como habilidade e como treino prático de um gesto profissional. Para Simondon, este saber é um saber pré-técnico em sua essência, pois não pode ir muito longe: não é concedido ao homem acompanhar a argila no molde. Por outro lado, no momento em que o homem não é mais o portador de ferramentas, quando não intervém mais no preparo do encadeamento, “ele não pode deixar na obscuridade o centro da operação”. Há uma estreita continuidade entre técnica e o mundo natural: forma e matéria compartilham o mesmo nível, fazem parte do mesmo sistema. A fabricação do objeto técnico não pode comportar mais esta zona obscura entre forma e matéria. O saber pré-técnico, segundo Simondon, é desprovido de lógica, isto é, é ele também pré-lógico, constituído de uma dupla de termos que ocultam a interioridade da relação entre as partes - como o faz o esquema 213 hilemórfico. Pelo contrário “o saber técnico é lógico, no sentido que ele busca, procura a interioridade da relação”. “L’objet technique a fait son apparition dans un monde où les structures sociales et les contenus psychiques ont été formés par le travail: l’objet technique s’est donc introduit dans le monde du travail, au lieu de créer un monde technique ayant de nouvelles structures. La machine est alors connue et utilisée à travers le travail et non à travers le savoir technique”287 287 Idem, pág. 249. Insinuando uma contraposição: “O homem isolado não pode atuar sobre a natureza sem pôr em ação seus músculos sob o controle de seu cérebro. Fisiologicamente, cabeça e mãos são partes de um sistema; do mesmo modo, o processo de trabalho conjuga o trabalho do cérebro e o das mãos. Mais tarde, se separam e acabam por se tornar hostilmente contrários. O produto deixa de ser o resultado imediato da atividade do produtor individual para tornar-se produto social, comum, de um trabalhador coletivo, isto é, de uma combinação de trabalhadores...” (MARX, Karl. O capital: crítica... Op.cit., livro I, vol. II, pág. 577. Os grifos são meus). E pelos caminhos da filosofia: “Por ‘trabalho’ ou acção racional teleológica entendo ou a acção instrumental ou a escolha racional ou, então, uma combinação das duas. A acção instrumental orienta-se por regras técnicas que se apóiam no saber empírico. (...) O comportamento da escolha racional orienta-se por estratégias que se baseiam num saber analítico. Implicam deduções de regras de preferência (sistemas de valores) e máximas gerais; (...) A acção racional teleológica [o trabalho] realiza fins definidos sob condições dadas; mas, enquanto a acção instrumental [a técnica] organiza meios que são adequados ou inadequados segundo critérios de um controlo eficiente da realidade...” etc. (HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência... Op.cit., pág. 57. Os grifos são do próprio Habermas). 214 ENSAIO III 215 O TRABALHO & AS MÃOS uma gênese da técnica como tecnologia #1 Há uma genealogia do processo histórico de reversão da técnica em tecnologia que me parece obscura288. Há um determinado conjunto de eventos que configura um momento histórico em que o homem vai deixando de ser exclusivamente portador de ferramentas e sua representação técnica passa então a assumir outro caráter: ele não corresponde mais sequer àquela atenção artesã que observa a convergência entre forma e matéria, promovida pela extensão de seus meios. Faz mais distante, assim, qualquer possibilidade de reconhecer-se como mediador natural de um processo técnico natural, imanente. Ele não mais coadjuva num processo inerente de concretização sintética de objetos técnicos a partir de domínios abstratos, 288 Uma rápida espiada na origem do termo tecnologia já nos sugere necessário estabelecer uma problematização mais cuidadosa do termo. Como já mencionei, há uma simbiose entre técnica e tecnologia, onde o estudo e o conhecimento da coisa assumem a forma da própria coisa. Até mesmo a literatura mais especializada no assunto alterna, no rumo do próprio texto, entre um termo e outro por sobre uma fronteira que se tornou invisível. Se considerarmos o que poderia significar a contração de téchne e logos, a história de uma abordagem sistemática dos technai estruturados numa espécie de “teoria geral das técnicas”, remonta um esforço dos sofistas, já no século VI a.C. e é mencionada em algumas circunstâncias como associada à “arte retórica” ou à “arte das definições” - como em Cícero (ENCICLOPÉDIA Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998, pág. 5613). O que mais me parece assemelhar-se, lá entre os gregos, à idéia contemporânea de tecnologia enquanto sistematização de saberes técnicos é o tratado sobre o engenho e o funcionamento de máquinas simples, a Mechanica, atribuído a Aristóteles, uma obra que exerceu enorme influência sobre os engenheiros alexandrinos mas que aborda as questões mecânicas muito mais pelos problemas lógicos que inferem que propriamente em si mesmas (VERNANT, Jean Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., págs. 44 e 52). Muito embora algumas fontes indiquem a radicação do termo na idéia grega de uma tratadística ou de um discurso sobre as habilidades e as regras de uma arte - uma technologia - e apesar de, atravessando a Idade Média, aparecer na Enciclopédia de J. H. Alsted em 1630 e na Enciclopédia de Diderot, na edição de 1781, sua acepção mantém o significado metalingüístico adquirido pela associação à retórica, como já formulado em Aristóteles e estabelecido por Cícero. Seu uso para designar o estudo sistemático dos procedimentos e operações técnicas, observando o que têm de geral e suas relações com a cultura - atribuindo-lhe assim um sentido mais extenso - parece ter sua origem nos meados do século XVIII, muito provavelmente em função do uso estabelecido para o termo em solo alemão e posteriormente alcançando o território francês. Com o advento do universo industrial do XIX, a rápida proliferação dos diversos seguimentos técnicos acabou demandando maior cuidado na precisão do termo, procurando defendê-lo do uso abusivo quando empregado para designar uma técnica ou um conjunto de técnicas: num artigo publicado na Revue Philosophique em 1890, “As Origens da Tecnologia”, A. Espinas procura definir uma abordagem mais cuidadosa para o termo, procurando analisar as espécies de problemas de que cuida a tecnologia (LALANDE, André. Vocabulário... Op.cit., pág. 1111). Por um caminho ou por outro, no entanto, o fato é que, se há uma polissemia histórica do significado de tecnologia, aproveito-me dela e proponho aqui uma distinção particular que, obviamente, me é útil: questiono a invisibilidade do limite entre técnica e tecnologia. 216 analíticos. Pelo contrário, tenho a impressão que ocorre ali uma reversão no processo de individuação do objeto técnico, nos termos de Simondon: há uma circunstância envolvendo este processo que seqüestra o significado da concretização daquele objeto, convertendo em abstração não o objeto, mas o modo como ele passa a ser produzido, redundando naquela oposição entre técnica e cultura, entre homem e máquina - o que, para Simondon e juntando um pouco as coisas, também resulta de uma operação que faz a realidade técnica ser compreendida como um aspecto do trabalho e, portanto, do modo de produção. Aquela realidade humana que poderia ser vislumbrada dentro da realidade técnica se esvaece e suponho ser ao longo do movimento em que isso acontece que a cultura passa a se opor aos objetos técnicos, tratando-os como um agregado complexo de matéria submissa, ao qual foi previamente justaposta uma utilidade ou, contraditoriamente, tratando-os como ‘seres’ hostis prestes a se rebelarem contra a existência humana289. Pois há um momento em que a técnica se torna ‘coisa’ - ou qualquer coisa: transforma-se em produto, mercadoria, conhecimento aplicado na ação racional dirigida a fins, razão técnica de um sistema social a quem a ciência moderna usurpa a inocência de uma simples força produtiva, meio de objetificação racional de uma instrumentalidade teleológica pura, conjunto de regras que orientam a ação racional etc. Compra-se e vende-se técnica de todos os tipos, inclusive técnicas que pretenderiam o “controlo de comportamento e de modificação da personalidade”, como nos lembra Habermas - já um tanto esquecido até aqui290. Para compreender este movimento de abstração do modo de produzir o objeto técnico, tento compreender melhor o que faz Simondon concluir sua tese sobre o modo de existência dos objetos técnicos, enunciando o trabalho como um modo de existir destes objetos que obstrui a possibilidade de constituição de uma realidade técnica nos termos que defende. Ainda incomodado pelas formulações de Habermas - como disse, um incômodo que motivou as 289 Ver “Introdução” in SIMONDON,Gilbert. Du mode... Op.cit. págs. 9 a16. 290 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência... Op.cit., pág. 86. 217 questões que levanto - lembro que é de sua lavra a contraposição entre linguagem e técnica subsumida pela oposição interação x trabalho - o que o coloca em conflito com as teses de Leroi-Gourhan e Simondon. É sugestiva, por outro lado, a vinculação estreita que promove entre técnica e trabalho, como partícipes do mesmo pólo de oposição. Não seria incorreto deduzir, contudo, que este vínculo não se manteve indiferente ao longo da história e que, se a realidade histórica muda, transforma-se também a natureza deste vínculo. Proponho, então, uma genealogia particular291 dessa transformação das relações entre técnica e trabalho no curso da história, sugerida pelas argumentações de Habermas quanto às mudanças nas estruturas de relações sociais e que o levaram adotar como origem genealógica destas mudanças a mesma contraposição entre esfera privada e esfera pública formulada por Hannah Arendt. “A ordenação política (grega) baseia-se, como se sabe, na economia escravagista em forma patrimonial. Os cidadãos estão efetivamente dispensados do trabalho produtivo; a participação na vida pública depende, porém de sua autonomia privada como senhores da casa. A esfera privada está ligada à casa não só pelo nome (grego - oikos); possuir bens móveis e dispor de força de trabalho tampouco constituem substitutivos para o poder sobre a economia doméstica e a família, assim como, às avessas, pobreza e não possuir escravos já seriam por si empecilhos no sentido de poder participar na polis: exílio, desapropriação e destruição da casa são uma só coisa. A posição na polis baseia-se, portanto, na posição de déspota doméstico: sob o abrigo de sua dominação, faz-se a reprodução da vida, o trabalho dos escravos, o serviço das mulheres, transcorrem o nascimento e a morte; o reino da necessidade e da transitoriedade permanece mergulhado nas sombras da esfera privada. Contraposta a ela, destaca-se a esfera pública - e isso era mais que evidente para os gregos - como um reino da liberdade e da continuidade. Só à luz da esfera pública é que aquilo que é consegue aparecer, tudo se torna visível a todos.”292 Não quero entrar aqui nas discussões de concepção de esfera pública e as discordâncias de Habermas em relação a Hannah Arendt293. O que me importa é registrar o fato de, logo no proêmio de sua tese de livre docência, publicado com o título de Mudança Estrutural da Esfera Pública em 1961, Habermas alinhar-se a Hannah Arendt para recompor as referências do que era ser livre entre os gregos e do quanto o reino dos atos necessários à 291 Não esqueço, devo salientar, da genealogia mais sistemática e abrangente formulada por Marx já n’A Ideologia Alemã e de que a minha é uma digressão particular e com finalidade também particular. De qualquer forma, faço-me acompanhar, de perto, pelo filósofo alemão. 292 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, pág. 15/16. 218 manutenção da vida e daquilo que se reconhecia essencialmente transitório era pertinente às entranhas do mundo privado. A partir daí, entretanto, conduzem caminhos bastante diversos. Deixo para outros as ranhuras deste (des)alinhamento294. Se não estou sendo induzido a engano, seria possível dizer que, no mundo grego, também o lugar privilegiado da ação técnica enquanto manipulação material para a reprodução da vida mantinha-se “mergulhado nas sombras da esfera privada”: conhecimento prático privado que se aplicaria a partir das demandas da necessidade e da sobrevivência. Uma ‘inteligência’ de segunda ordem, um conhecimento produzido sob o domínio das mãos, que teria como recurso as vulneráveis habilidades do corpo, distante da ‘razão pensante’ e do mundo das essências, e sobre um imprevisível e inconstante mundo material. O conhecimento matemático dos ‘comerciantes ou retalhistas’ era tido como inferior; a agricultura era um dom 293 Sobre isso ver HABERMAS, Jürgen. “O conceito de poder de Hannah Arendt” in FREITAG, Barbara & ROUANET, Sérgio Paulo (org.). Habermas. São Paulo: Ática (Coleção Grandes Cientistas Sociais), 2001, págs. 100 a 118. 294 Habermas afirma, logo após citar Arendt que “não é a formação social que lhe é subjacente [à esfera pública], mas o próprio modelo ideológico é que manteve ao longo dos séculos a sua continuidade, uma continuidade exatamente nos termos da história das idéias”. De início, o filósofo já dá por pressuposto a possibilidade de dissociar ‘ideologia’ e conformação do universo social moderno, uma operação que parece deslocada em relação ao pensamento frankfurtiano. A partir daí, o filósofo passa a registrar inúmeras ‘evidências’ que denotam como a esfera íntima da família necessariamente se vê coagida pela nascente sociedade burguesa, através dos inúmeros instrumentos institucionais formais e normativos que advém da esfera pública. Ora, como pretendo demonstrar, não parece pertinente, para o fim a que se destina, transitar quase exclusivamente pelo universo da institucionalidade jurídica ou ordenadora do estatuto jurídico não só para uma gênese da idéia de esfera pública como até mesmo para explicar suas alterações estruturais - como o faz Habermas. Não que o filósofo desconheça ou não faça referência ao mundo privado e cotidiano das maquinações vitais, mas é como se passasse por cima dele, a partir e por através de uma racionalidade jurídica formal e institucional que subsume o poder político enquanto nobreza, igreja, instituições reguladoras da vida municipal e assim por diante. Já percebemos aqui a idéia de ‘normatividade’ em Habermas, uma tentativa de isolar a política em terreno próprio e com regulações estabelecidas a partir do diálogo ‘livre’ instituído pelo mundo público. Mais para frente, ele irá afirmar que a estrutura básica da esfera pública burguesa que se compõe ao longo do séc. XIII pode ser enquadrada em esquema (tomando “cuidado quanto às simplificações ligadas a tais representações”) e que há uma “linha divisória entre Estado e sociedade, fundamental” para o contexto que estuda, que “separa a esfera pública do setor privado. O setor público limita-se ao poder público”. É justamente esta “linha divisória” que Arendt irá esfumar em suas considerações, quando persegue a condução do mundo das atividades do labor para a esfera pública, tratando o fato como fator decisivo para compreender a constituição burguesa da sociedade contemporânea - o que Habermas transforma em categoria. Apesar de nos avisar que irá descurar “da variante, também reprimida no processo histórico, de uma esfera pública plebéia” (ver prefácio), ao inserir uma “esfera pública literária”, intermediária entre setor privado e esfera do poder público, entre sociedade civil / esfera pública política / Estado (setor de “polícia”) e espaço íntimo / mercado / corte, Habermas parece operar, de início, argumentos definitivos para lançar a idéia de uma “opinião pública” - legitimada livremente e de forma intersubjetiva, poderia dizer - pelos critérios empíricos, comparativos e normativos, de mensuração do grau de seu caráter público, consistindo “o meio mais confiável para chegar a assertivas seguras e comparáveis sobre o valor democrático da integração de uma situação constitucional de fato”. Isto lido no momento em que o Hamas ascende ao poder, pelo voto livre e democrático, da 219 divino e cabia ao agricultor apenas ‘esperar’ o tempo entre plantio e colheita, uma obra e concessão dos deuses na natureza; a geometria aplicada na agrimensura ou nas construções era identificada apenas como aplicação astuciosa - e indevida - de um conhecimento cuja vocação primordial deveria ser levar-nos a ‘contemplar a essência’: “- Seria, portanto, conveniente, ó Gláucon, que se determinasse por lei este aprendizado e que se convencessem os cidadãos [os ‘iguais’], que hão-de participar dos postos governativos, a dedicarem-se ao cálculo e a aplicarem-se a ele, não superficialmente, mas até chegarem à contemplação da natureza dos números unicamente pelo pensamento, não cuidando deles por amor à compra e venda, como os comerciantes ou retalhistas, mas por causa da guerra e para facilitar a passagem da própria alma da mutabilidade à verdade e à essência.” (...) “- Portanto, se o que ela (a geometria) obriga a contemplar é a essência, convém-nos; se é o mutável, não nos convém. - Assim o declaramos. - O certo é que - prossegui eu - mesmo aqueles que têm pouca prática da geometria não nos regatearão um ponto, a saber, que a natureza dessa ciência está em rigorosa contradição com o que acerca dela afirmam os que a exercitam. - Como assim? - Fazem para aí afirmações bem ridículas e forçadas. É que é como praticantes e para efeitos práticos que fazem todas as suas afirmações, referindo-se nas suas proclamações a quadraturas, construções e adições e operações no género, ao passo que toda esta ciência é cultivada tendo em vista o saber.”295 Autoridade Palestina (ver HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural... Op.cit, Introdução e, particularmente, pág. 45 e 284). 295 PLATÃO. A república - 525b-c; 526e-527a-b. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 8ª ed., 1996, págs. 335/336. Caberiam, aqui, duas ressalvas que deverão permanecer de plantão: 1) como já visto, arte e técnica não têm, na língua grega, conotações distintas, assumindo o mesmo significado para a palavra grega téchne; mas, como já anotamos anteriormente, a polissemia de significados gerada a partir da passagem de téchne para o latim na forma ars ou artis, traz a necessidade de contrastar sempre de qual técnica estamos falando. Como já se percebe ao longo do caminho que persigo até aqui, a idéia é tentar estabelecer uma significação mais precisa, para os efeitos do que se pretende. No entanto, seria oportuno lembrar que técnica, no sentido de “conjunto de regras e meios”, não alcança, entre os gregos, apenas as atividades materiais mas se estende também às atividades imateriais, como a retórica, por exemplo: para Platão, é uma arte imprescindível para o governo da cidade e, portanto, própria da esfera pública, nos termos de Arendt. Daí ressaltar a distinção entre a técnica enquanto ação sobre a matéria comezinha, cotidiana, que suja as mãos - da técnica enquanto ação teórica - e retórica; 2) Com as reformas empreendidas por Sólon e Clístenes, já no início e durante o período Clássico, a categoria social dos artesãos ganhará estatuto diferenciado em relação ao período Arcaico, valorizada sim, mas em função de uma estratégia de esvaziamento de poder das famílias aristocráticas. Esta valorização tem, portanto, absoluto sentido político, atribuindo apenas valor aurático às produções industriosas desses artesãos, criteriosamente saneadas para aparecimento público: a atividade meio manter-se-á obscurecida entre a fuligem das forjas, o vai-e-vem dos teares, os fedores da curtimenta e a fumaça dos fornos cerâmicos. Vernant, contando-nos sobre o Prometeu Acorrentado de Ésquilo, diz o que segue: “Uma outra categoria social intervém no Prometeu, a dos artesãos. O caso é único: pode se tratar, em outros lugares, da obra dos artesãos, por exemplo, na descrição dos escudos dos Sete, e a própria condição poética, na época de Ésquilo, era a de um artesão, o que ligava, a seu modo, o poeta ao mundo da fabricação e da troca, mas, regra geral, o artesão que não é reconhecido como tal na cidade não aparece na cena trágica. O artesão que no Prometeu vemos amarrar um escravo a um rochedo com a ajuda do Poder e da Força é, na verdade, um deus, Hefesto, um deus que não executa seu trabalho sem nenhuma reflexão. Poder e Força... os valores políticos o arrebatam aos valores da fabricação”. Compondo uma trilogia da qual se perdeu o meio e o fim, diz Vernant que a tragédia pode inclusive induzir-nos a uma idéia equivocada ao identificar Prometeu como o “deus da função técnica”. Sabe-se que, no final da trilogia, o deus acorrentado é finalmente libertado. No entanto, 220 O mundo grego, particularmente no período entre o século VI e III a.C., é pródigo na política, na produção teórica, na literatura e artes em geral mas bastante limitado no campo das inovações industriosas. Fora Arquimedes, uma espécie de pai da engenharia que despontará com suas alavancas e parafusos apenas no século III a.C., e alguns laivos de manufatura serial após a ascensão de Sólon (particularmente na produção da cerâmica), a cultura ‘tecnológica’ dos gregos manteve-se relativamente pobre se comparada à produzida pelo Oriente, bastante incompatível com o grau de sofisticação atingida em outras paragens296. Uma das conjecturas para essa espécie de estagnação no campo das técnicas materiais é irônica: a existência de um grande contingente de mão-de-obra sobrante - escravos, maioria trácios ou mesmo gregos submetidos pelas guerras domésticas, além de servos e eventuais ‘trabalhadores’ assalariados (como veremos, uma razão com significativa pregnância histórica: ainda é uma que explica a manutenção das condições de precariedade técnica nos canteiros de obra contemporâneos). É bastante plausível, portanto, que esse contingente obreiro e seus assuntos, ocupado com a lida cotidiana, com o óîkos, com aquilo que entendemos hoje como uma atribuição do trabalho, não alcançasse nem as franjas da cena pública, não tivesse lugar na agorá297. Lembrando Simondon, “De même que l’esclave était refeté en dehors de la cité, de même les occupations serviles et les objets techniques qui leur correspondaient étaient bannis “os problemas que afloram nessa peça, os das relações entre o poder e o saber, entre a função política e a função técnica, esses problemas talvez não tenham cessado de nos atormentar”. Talvez por isso mesmo o deus tenha sido libertado (VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999, pág. 238/239). 296 “De fato, os gregos, que inventaram a filosofia, a ciência, a moral, a política e algumas formas de arte não foram inovadores no plano da técnica. Suas ferramentas e conhecimentos técnicos, inspirados no Oriente em data remota, não foram profundamente modificados por novas descobertas” (VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 44). 297 Outra razão para a inferência que proponho: como demonstra o conselho do Filósofo a Gláucon, “aqueles que tinham vagar e meios para ser inventores desdenhavam, em geral, os operários manuais e não se preocupavam directamente com a produção industrial. O pensamento científico grego dava preferência à teoria pura e ao argumento abstracto; interessava-se pouco pela prova experimental e, ainda menos, por aplicações práticas” (COOK, Robert M. Os gregos até Alexandre. Lisboa: Editorial Verbo, 1966, pg. 139 e ss.). Para uma compreensão da dinâmica cotidiana entre os gregos e os romanos, é primoroso o trabalho de FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e Roma. São Paulo: Hemus, 1975. 221 de l’univers du discours, de la pensée réfléchie, de la culture”298 Em termos de vocabulário299, os gregos não dispunham de uma palavra que desempenhasse a função totalizante que hoje atribuímos a trabalho como atividade humana. O universo descrito por pónos referia-se às atividades que demandam suor e esforço, um desempenho físico penoso e que envolve dor - algo como o labor, para Hannah Arendt. Conforme Vernant e Vidal-Naquet, o verbo ergazestai, ao designar principalmente atividades agrícolas e financeiras, parece traduzir significado mais próximo à nossa idéia de trabalho quando na forma de érgon, como o produto da virtude de quem produz - o título original de Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, é Erga kai Heméra. Ou ainda, na descrição de uma atividade onde se faz necessária a distinção entre ação pura e ação de produção a fins, érgon pode servir para designar uma ação vinculada à práxis, diferenciando-a de uma ação da ordem da téchne, ligada à poíesis de um sujeito, de sua atividade produtiva: uma distinção entre o agir e o fabricar. Assim, a práxis distancia-se da poíesis na medida em que “na ação, o homem age para si, não ‘produz’ nada de exterior à sua própria atividade”300, como Aristóteles procura deixar claro na distinção que faz entre atividade produtiva e ação em si mesma, em sua Ética a Nicômaco. Conforme Crítias, pratein - chegar ao fim, alcançar um objetivo, realizar, agir, conseguir, fazer acontecer alguma coisa, fazer por si mesmo - é o infinitivo que ‘põe em movimento’ o tipo de ação designado por ergazestai enviando para um campo oposto o poiéo, o verbo que indica a produção de alguma coisa que não é alheia ao ato de produzir, próprio de um “saber especializado, aprendizagem, processos secretos de êxito” que sempre tem como finalidade um poiema - de aí, sua oposição a érgon301. Em circunstâncias específicas, na época Clássica, “as 298 SIMONDON, Gilbert. Du mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1989, pág. 86. 299 As observações sobre o vocabulário foram extraídas de VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., págs.10/11; a transliteração dos termos e significações - que aparecem no grego, no trabalho dos historiadores - segue a regra inicial dos meus escritos (nota 12). 300 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 32. 301 Idem, pág.16. 222 técnicas não mais visam a satisfazer as necessidades, mas a dar prazer”302, isto é, sua acepção não se adequava mais à idéia de um esforço penoso, distanciando ainda mais as noções de técnica e trabalho. Há, portanto, uma relativa diversidade entre vocábulos gregos para designar as atividades atualmente reunidas sob o termo genérico trabalho. Por outro lado, parece certo que a dimensão imanente da cooperação técnica entre homens - enquanto combinação de esforços para a realização de uma atividade produtiva qualquer - não definia nem uma categoria como esfera social e nem mesmo uma idéia precisa de divisão de trabalho. Quando Prometeu distribui o poder dos deuses aos homens ele o faz discriminando capacidades distintas entre um e outro. Assim, a inteligência técnica é um atributo humano que, se por um lado confirma que a vida da cidade se baseia num complexo sistema de distribuição de tarefas303, por outro é justamente o que grava as diferenças entre um indivíduo e outro. A divisão de tarefas, que poderia induzir-nos imaginar uma organização analítica de várias operações para a confecção de um produto - uma orientação num sentido tecnológico esta divisão do trabalho -, não indica, em si, nenhuma “significação social e técnica”, como dizem Vernant e Vidal-Naquet 304 , não se trata de uma divisão social do trabalho: “Se o ofício define em cada um de nós o que o diferencia dos outros, a unidade da Pólis deve se basear num plano exterior à atividade profissional. À especialização das tarefas, à diferenciação das profissões opõe-se a comunidade política dos cidadãos definidos como iguais isoi, semelhantes hómoioi.”305 Considerando estas observações, não seria a atividade profissional que uniria os cidadãos numa condição pública de interação política, pelo contrário. Era justamente o que instaurava as categorias - não sem nuanças, é certo - entre aquelas atividades que se ocupavam 302 Ibidem, pág.29. 303 “Uma cidade tem a sua origem, segundo creio, no facto de cada um de nós não ser auto-suficiente, mas sim necessitado de muita coisa. Ou pensas que uma cidade se funda por qualquer outra razão? (...) Assim, portanto, um homem toma outro para uma necessidade, e outro para outra, e, como precisam de muita coisa, reúnem numa só habitação companheiros e ajudantes. A essa associação pusemos o nome de cidade. Não é assim?” (PLATÃO. A república - 369b/c. Op.cit., págs. 72/73). 304 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 26. 305 Idem, pág. 23. 223 com a esfera dos negócios públicos - a ação e o discurso - e aquelas dedicadas à provisão da vida e com o estritamente útil e necessário. Uma ‘divisão de tarefas’ que bem cedo organizou o bíos politikós nas cidades-estado306. Não se trata, também, de relevar a condição dos ofícios no período Clássico, quando os artesãos assumiam um papel relativamente relevante na vida pública; mas é preciso realçar a distinção entre as práticas de ofício que perdiam, com o tempo, sua sombra religiosa e alcançavam a esfera dos negócios públicos - e em algumas partes do mundo grego - e a esfera do lar, que se ocupava com a reprodução material da vida: “Não se encontra na época clássica qualquer forma de organização religiosa da profissão. Entre o artesão e a cidade, não existem intermediários: nem corporações, nem confraria. O fato contribui para colocar o ‘ofício’ sob uma luz completamente racional: o ofício é visto em sua função econômica e política.”307 Então, se ao mundo das provisões vitais e necessárias incluirmos os procedimentos técnicos materiais ali necessários, compreendidos aqui como práticas astuciosas de transformação da matéria para a necessária e contingente reprodução da vida, alocaríamos esse conhecimento técnico também nos domínios da esfera privada, também separada por um abismo - como assim vai se referir Hannah Arendt - do universo livre da palavra, do mundo comum e da política: a esfera pública. A opção pela vida pública exigia do grego o completo desprendimento da esfera privada, dos domínios da família e do “excessivo amor à vida”308. Isto significa que este sujeito não deveria - nem poderia - ocupar-se com as atividades práticas 306 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, pág. 34. E lembrado por Arendt (pág. 33), uma passagem em Werner Jaeger: “Na medida em que o engloba no seu cosmos político, o Estado dá ao homem, ao lado da vida privada, uma espécie de segunda existência, o bíos politikós. Todos pertencem a duas ordens de existência, e na vida do cidadão há uma distinção rigorosa entre o que lhe é próprio (ídion [propriedade]) e o que é o comum (koinón). O homem não é só ‘idiota’; é ‘político’ também. Precisa ter, ao lado da habilidade profissional, uma virtude cívica genérica, a politichè arete, pela qual se põe em relações de cooperação e inteligência com os outros, no espaço vital da polis” (JAEGER, Werner Wilhelm. Op.cit., pág. 144). 307 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 21. Conforme Vernant e Vidal-Naquet, é na época clássica que a atividade artesanal é laicizada e “na nova ordem social, o artesão é relegado ao lugar que corresponde à sua função no Estado, confinado nos limites de seu papel subalterno”. E mais adiante: “Os artesãos pouco participaram da direção da cidade, mesmo quando esta é democrática. É a cidade que exerce seu controle sobre a atividade artesanal enquanto tal, e não o inverso” (Idem, págs. 62 e 173, respectivamente). Insisto neste aspecto, porque acho importante ressaltar que a atividade técnica, quando ganha a cena pública, é reelaborada e, de certa forma, ‘auratizada’ ao mesmo tempo em que é reificada e saneada para este aparecimento. 308 Idem, pág. 45. 224 cotidianas responsáveis pela transformação material do mundo para efeito de reprodução de sua própria vida. No entanto, as idéias de público e privado ganhariam, ao longo da história, outras conotações, compondo uma multiplicidade de significados e uma polissemia que evoluiriam para o que Habermas chama de “síndrome significacional de ‘público’ e ‘esfera pública’”. Mas antes que a síndrome faça suas primeiras vítimas e em consonância parcial com as formulações de Hannah Arendt, argumenta que a palavra ganharia sua conotação sociológica atual no fim do século XVIII, ao mesmo tempo em que esta esfera, como tal, se constitui: “Ela pertence especificamente à ‘sociedade burguesa’ que, na mesma época, estabelece-se como setor da troca de mercadorias e de um trabalho social conforme leis próprias”309 O problema da concepção habermasiana é introverter, no significado presente de esfera pública, institucionalmente constituída, a própria idéia de política e, com ela, o lugar da fala, o lugar onde “aquilo que é consegue aparecer”, onde “tudo se torna visível a todos”. O que me dá a impressão de que algumas considerações importantes podem ficar disfarçadas no meio do caminho - como a transformação da técnica, por exemplo. Segundo Hannah Arendt, para se chegar ao século XVIII, um longo caminho haveria de ser percorrido: para que as idéias de público e privado retornassem à cena, seria necessário que uma nova gramática conjugasse seus significados, reordenando sintaxes e fonias, abrangendo não só os significados anteriores mas também os próprios significantes. Essa reforma gramatical parece ter sido operada por um processo histórico que se institui a partir do que Arendt chama de “ascendência da esfera social”. Por seu turno, o que hoje entendemos como esfera social, “que não era nem privada nem pública no sentido restrito do termo”310, certamente irá adquirir seu sentido atual com o advento do mundo moderno. Contudo, pretendendo referir-se estritamente a societas generis 309 HABERMAS, Jürgen. Op.cit., pág. 15. E, noutro canto, Habermas lendo Weber: “A ‘racionalização’ progressiva da sociedade depende da institucionalização do progresso científico e técnico. Na medida em que a técnica e a ciência pervadem as esferas institucionais da sociedade e transformam assim as próprias instituições, desmoronam-se as antigas legitimações” (HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência... Op.cit., pág. 45). 225 humani - de uma ‘sociedade da espécie humana’, estabelecida como condição peculiar e fundamental para a atividade de todo ser humano, a ascendência da esfera social opera uma irredutível subsunção dos termos iniciais a um novo conteúdo significacional, promovendo uma “extraordinária dificuldade” para compreendermos a “divisão decisiva entre as esferas pública e privada, entre a esfera da polis e a esfera da família, e finalmente entre as atividades pertinentes a um mundo comum e aquelas pertinentes à manutenção da vida”.311 Essa “linha divisória” que era tida como “axiomática” para a antigüidade, “evidente por si mesma”, se esvanece e torna-se “inteiramente difusa”. E é por aqui que me intrometo. Se aquele conhecimento técnico permanecesse como um patrimônio imaterial cativo da esfera privada, é certo que não conseguiríamos compreender como ele hoje se reproduz de forma tão intensa, invadindo e ocupando todos os recantos do mundo da vida recantos recônditos ou públicos - se levarmos em conta o que dizíamos quanto à perenidade seqüencial do desenvolvimento deste conhecimento ao longo da história humana, sem os cortes usuais que a síndrome classificatória gosta de tecer. Enquanto racionalidade prática e operativa que olha para seu tempo, é razoavelmente óbvio que aquela técnica também acompanharia as transformações que alteraram as relações entre “as atividades pertinentes a um mundo comum e aquelas pertinentes à manutenção da vida”, consumindo aquele abismo que Hannah Arendt avistava entre esfera pública e esfera privada nos tempos dos gregos e romanos, e assumindo a condição de racionalidade técnica instrumental (cf. Weber) que, de certa forma, organiza a ‘moderna’ esfera social. Se mesmo na Idade Média ainda é possível perceber esse abismo, por outro lado é ali que já se nota um deslizamento contínuo, em compasso de fermatas e ligaduras, dessas formas de conhecimento por sobre a fenda que separava aqueles dois âmbitos do mundo da vida. 310 ARENDT, Hannah. A Condição... Op.cit., pág. 37. 311 Ibidem. 226 Assim, a condução do conhecimento técnico privado para os novos territórios da esfera social assim reconhecida e estabelecida nos nossos ‘tempos modernos’ - aparece sempre ao mesmo tempo em que essa esfera se constitui. “A tensão medieval entre a treva da vida diária e o grandioso esplendor de tudo o que era sagrado, com a concomitante elevação do secular para o plano religioso, corresponde em muitos aspectos à ascensão do privado ao plano público da antiguidade”312 Nos mesmos termos mas por outras razões - de ordem prática e em defesa de um certo campo de atuação profissional (já se fala profissão desde o século XIII - profissom) com vistas ao sustento do artesão e seus agregados - as corporações de ofícios parecem resistir à absoluta e imediata publicização do conhecimento técnico privado que lhes assegura o sustento de seu coletivo: assim como o secular se eleva para o plano religioso, as corporações parecem revestir o seu métier com o reservado mistério que também recobre o plano do sagrado. Mesmo com o surgimento das universidades e a consolidação do ensino laico nos séculos XI e XII, este conhecimento técnico - laico por excelência - ainda se mantém num plano ‘religioso’ alternativo: não é conteúdo nem faz parte dos currículos universitários orientados pela clássica divisão entre o Trivium e o Quadrivium mas também não se eleva do “secular para o plano religioso” sob a forma de uma substituição dos elementos próprios das dimensões privadas da vida313 por aqueles que a Igreja, neste período, oferece como apanágio coletivizante em prol de uma comunidade fraterna. No entanto, ainda na forma de um certo ‘encantamento’ proto-religioso, esse envolvimento das artes do ofício e do conhecimento técnico privado em alguma bruma de mistério, ao mesmo tempo em que se estabelecem procedimentos de ajuda mútua (na forma de associações para a prática de artes e ofícios - as sociedades de pedreiros livres na França, o 312 Idem, págs. 43. 313 É bom lembrar que a dimensão do sagrado era própria do ambiente doméstico grego, correlata ao exercício cotidiano dos afazeres da casa: cada família possuía seus deuses próprios, protetores do dia a dia - deuses lares, mantenedores do fogo para o cozimento dos alimentos, mantido como chama permanentemente acesa sobre a pedra que lhes servia de altar; e os deuses penates, as almas veneradas de parentes mortos que velavam pela existência viva de cada família. 227 maçonner e a maçonnerie; também mason e masonry, em inglês - as guildas, confrèries e compagnons), não deixa de instituir-se como mecanismo que, se por um lado coletiviza e protege o conhecimento técnico particular - pelo menos até a extensão do grupo agregado - e já aponta para uma dimensão administrativa que irá transcender a esfera da família, por outro lado re-inventa estrategicamente sua dimensão aurática, sob a forma de um conhecimento ‘pós-demiúrgico’, ainda secreto, que compartilha com a ancestralidade o poder de criação e da transformação alquímica do mundo. É claro que não é fácil, como diz Arendt, “equacionar o público com o religioso”. Mas não gostaria de excluir a dimensão de ‘mistério’ e ‘ministério’ que algumas atividades do fazer doméstico vão ganhar ao longo da Idade Média. Também parece pertinente, contudo, a afirmação de que o plano secular acaba correspondendo, no período feudal, àquilo que havia sido a esfera pública no período helênico, absorvendo todas as atividades - inclusive de regulação jurídica e administrativa - para uma nova configuração da ‘esfera do lar’, enquanto que, no período anterior, estas atividades eram geridas exclusivamente no âmbito privado. Há, portanto, sob meu ponto de vista, um duplo movimento: se por um lado o privado ganha a cena pública pela ascensão do secular, do temporal, do mundano para o plano ‘religioso’, do privado ao plano público - já compreendido em seu novo estatuto -, por outro lado e num primeiro momento, a ‘casa’ medieval assume, substituindo o antigo chefe de família pelo senhor feudal, todas as atividades de regulação do comportamento e de ordenação produtiva, sob o mando despótico da administração senhorial. Dessa forma, a ‘esfera secular’, ao mesmo tempo em que seqüestra algumas atividades do mundo doméstico e se eleva ao plano do mistério, recua para aquém das soleiras medievais: “Sua principal característica foi a absorção de todas as atividades para a esfera do lar (onde a importância dessas atividades era apenas privada) e, conseqüentemente, a própria existência de uma esfera pública”314. 314 Idem, pág. 43. 228 É esta ‘esfera secular’ que, portanto, assumiria primeiramente um caráter bifronte, resultado deste duplo movimento: da privacidade das atividades domésticas em direção à publicidade dos interesses coletivos - e corporativos - e das dimensões de regulação do exercício da vida em público para o mundo restrito da herdade feudal. Mas o mais significativo é que há um movimento seguinte que tratará de preencher o abismo original e que promoverá a definitiva diluição do contraste entre público e privado: a ascendência da esfera social fará migrar, paulatinamente, as tais atividades de regulação do comportamento e de ordenação produtiva - os mecanismos de mando doméstico para o universo público - onde já se encontravam instaladas algumas atividades particulares de produção e de prática de ofícios. Ao mesmo tempo, a ascensão desta esfera fará conduzir também o que restava de atividade técnica reservada estritamente ao âmbito doméstico. Só assim seria possível, nos termos de Arendt, uma “economia política”. E, no embalo deste movimento, seria destruída qualquer possibilidade de uma relação natural com a técnica - lá, então, transformada em tecnologia. Para referendar esta afirmação e para, nesse movimento, inserir o ofício de um ‘construtor de abrigos’, cabe espiar um pouco alguns fatos desse percurso histórico - e, para isso, abro um largo parêntese. 229 #2 De início, é importante manter a atenção para o fato de que aquelas atividades domésticas próprias do mundo antigo não são transferidas em bloco para um novo grupo social. É importante distinguir quem são os “homens novos” que passaram a exercer profissionalmente os ofícios no final do século X e no século XI, diferentes dos “servos que trabalhavam nos teares domésticos das ‘cortes’ senhoriais ou os servos encarregados, em tempo de penúria, do abastecimento do senhorio, e em tempo de abundância, de vender, em outras regiões, o excedente da sua produção. Nem os textos nem a verossimilhança permitem crer em tal evolução.”315 Estes “homens novos” são os ‘vilões’: aqueles camponeses que, em tempos de escassez, acabavam sendo desligados das herdades, ou porque haviam adquirido o direito de deixá-la, ou porque consistiam já indivíduos excedentes em relação à capacidade de abastecimento dos numerosos dependentes de uma determinada propriedade. Os ‘vilões’, então, inaugurariam o duplo sentido para a palavra - da qual hoje praticamos apenas uma: é um camponês que não é servo de um determinado senhor, mas que pode, eventualmente, morar e usufruir suas posses - diferentemente do ‘servo’, agregado como posse à propriedade de seu 230 senhor e sem usufruir o direito de abandonar a gleba. O termo vem do latim vulgar: villanus, que significa ‘habitante’ de uma casa de campo. Refere-se também a villis, que lhe traz o lado obscuro: é aquele que não pertence à nobreza, um plebeu; que é indigno, abjeto ou desprezível; um sujeito rústico, rudimentar e sem arte. Enfim, um sujeito vil. São estes ‘vilões’, os moradores das vilas - dos ‘burgos’ ou de seus arredores, os ‘farbourg’ instalados em torno das fortalezas senhoriais ou das cidades episcopais do século X - juntamente com os filhos dos servos que abandonaram as herdades de seus senhores, que irão constituir essa nova classe. Não seria muito ressaltar, contudo, que essa nova ordem social vai se estruturando na medida em que determinadas condições já se encontravam instaladas ou em processo pleno de sedimentação: o recrudescimento do comércio no Mediterrâneo (pisanos, genoveses, venezianos e catalães) e no Mar do Norte (escandinavos, flamencos e galeses), impulsionado pelas instáveis relações políticas entre o Império Bizantino e o restante da Europa e pela nova geografia desenhada pelas Cruzadas; o estabelecimento de um ‘mercado’, propriamente dito, que já relevava as restrições impostas pelo padrão religioso da época e pelas instâncias do poder secular - o que implicava em um movimento comercial bastante inescrupuloso, abrigando inclusive a prática da pirataria como rotina comercial; e, finalmente, o ressurgimento da vida urbana. Ou seja, inclusive o ‘renascimento’ da própria cidade é anterior e concomitante à composição deste novo grupo social. Ali a burguesia nascente encontraria as condições adequadas para o exercício territorial de sua liberdade, como afirma Pirenne, reivindicando, inclusive, transformá-la em direito: “die Stadtluft macht frei”316. Assim, as cidades vão adquirindo, ao lado de um direito comercial ainda insípido mas já institucionalmente e juridicamente estruturado, também uma equivalente autonomia formal, principalmente se considerarmos que essa autonomia jurídica implicaria também na autonomia administrativa - o que não era, a princípio, benefício algum: até o século 315 PIRENNE, Henri. História econômica e social da Idade Média. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1968, págs. 50/51. 231 X, a cidade era, em si, uma instalação considerada ainda improdutiva, mantida economicamente - freqüentemente a contragosto - pelo clero e pelos senhores feudais apenas como instância administrativa e burocrática, em quase tudo dependente da economia rural317. Entretanto, ao pretendê-la como território seu, essa ‘proto-burguesia’ enfrentará, por um lado, o interesse dos príncipes leigos - que perceberam as vantagens que a circulação de mercadorias poderia trazer na forma de taxas e portagens sobre as transações realizadas em seus territórios e a oposição dos príncipes eclesiásticos - que em absoluto pretendiam dividir o poder nas cidades em que residiam. Por sua vez, será de forma associada que a regulamentação dos ofícios fundamentalmente praticados pelos ‘vilões’ - surgirá no mesmo processo de institucionalização normativa das cidades: as constituições municipais do século XI e principalmente do século XII, cuidariam de regular a vida e as relações econômicas dos novos burgos ou portus, onde houvesse aglomerações de mercadores e artesãos, desmontando as velhas formas insipientes de aglomeração urbana - levando junto as primitivas formas de regulação jurídica. O que não ocorreu sem conflitos uma vez que o direito consuetudinário burguês, fundado portanto na prática e nos costumes, colidia frontalmente com o direito também consuetudinário feudal do sistema senhorial, implicando obviamente em permanentes disputas pelo direito de legislar. O significado é importante: é assim que este novo grupo social atribui, a si, privilégios. Porque é novo, na medida em que constitui essa novidade, atribui-se a legitimidade de legislar sobre o que institui: torna-se “uma classe de exceção, se bem se deva observar que é uma classe sem espírito geral de classe” 318. Ainda. Qualquer aglomeração que pudesse assemelhar-se a uma aglomeração urbana, até então, tomava forma compatível com a organização espacial das atividades ali realizadas, 316 Provérbio alemão: “o ar da cidade faz a liberdade” (PIRENNE, Henri. Op.cit., págs. 57/58). 317 “Enquanto a antigüidade partia da cidade e de seu pequeno território, a Idade Média partia do campo” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia.... Op.cit., pág. 15). 318 PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 62. 232 mas ainda compreendidas como atividades pertinentes à economia rural. As ‘vilas’ eram propriedades de um senhor ou de um bispado ou de uma abadia e o latifúndio que as continham era rigorosamente organizado, hierarquizado e submetido. A economia era ainda predominantemente natural, baseada na troca e no intercâmbio em espécie, no tráfico de gêneros. As atividades para manutenção cotidiana - para além da produção agrícola restringiam-se à confecção de tecidos e roupas, mobílias, utensílios e fabricação de alguns implementos agrícolas, freqüentemente realizadas em edificações instaladas junto à unidade jurisdicional da propriedade - a corte senhorial (curtis) -, em oficinas conhecidas como gineceus. Para além destes domínios, só alguns ofícios específicos, como os ‘barbeiros’ - que, além das atividades que lhes dá o nome, também praticavam a cirurgia e a pantomima - e os maçons - que, necessariamente, perambulavam entre canteiros. O dinheiro existia mas era mais utilizado no comércio exterior, em virtude das limitações óbvias da economia natural. O predomínio econômico alcançado pelas cidades no século XIII, na verdade, é decorrência de um acirrado desenvolvimento comercial extralocal, da intensificação da circulação de gêneros na forma de mercadorias, da cada vez maior compatibilização da equivalência monetária ao valor destas mercadorias e da especialização da base produtiva a partir do século XII. Até então, “o ‘vilão’ não ocuparia lugar algum na hierarquia social” 319 e sua afirmação como grupo disposto a disputar algum poder dar-se-ia, por um lado, a partir de sua própria atividade como comerciante e como artesão, alimentando o processo de intensificação da atividade mercantil de base, e, por outro lado, beneficiando-se com este mesmo processo, só que em virtude de seu alargamento continental propiciado pelo comércio exterior320. 319 Idem, pág. 92. 320 “A constituição de uma classe particular dedicada ao comércio, a extensão do comércio para além dos arredores mais próximos da cidade graças aos negociantes, fizeram logo surgir uma ação recíproca entre a produção e o comércio. As cidades entram em contato entre si, transferem-se de uma cidade para a outra instrumentos novos e a divisão da produção e do comércio rapidamente suscita uma nova divisão da produção 233 #2.1 Se, como afirma Pirenne, todo o maior desenvolvimento econômico da Europa se dá sob a influência do comércio exterior - e não do comércio local, que se mantinha empenhado no provimento de mercadorias e gêneros de primeira necessidade para a comunidade agregada nos domínios da curtis - e considerando que é este comércio que faz aparecer uma nova classe de comerciantes e todos os sistemas adventícios, responsáveis pela regulação das práticas comerciais e da relação entre indivíduos (posse, censos, tributos etc.), é plausível considerar que todo o arcabouço jurídico que então se estruturava - para além do consuetudinário e canônico - parece estabelecer-se sob as regras do flexível jogo do tráfico e da circulação das mercadorias e do dinheiro. Longe, portanto, das atividades cotidianas aplicadas na provisão material para atendimento às primeiras necessidades da vida: um cotidiano profundamente arraigado às disposições estruturais dos domínios senhoriais ou, quando muito, entranhado nas toscas oficinas, carnearias e alfaiatarias instaladas junto aos muros dos burgos. Além disso, o fato de o desenvolvimento econômico mais relevante dar-se assentado na atividade de comércio exterior significa que tanto o surgimento da classe dos mercadores (o primeiro ‘estamento’ da nova burguesia que se cristaliza) como o maior acúmulo e concentração de riqueza no período da Alta Idade Média são fruto do comércio de supérfluos - especiarias da África, Índia e China ou tecidos flamencos, principalmente -, isto é, deram-se a custo de toneladas de pimenta, cravo, canela, noz-moscada, açúcar de cana etc. Nada que, necessário e indispensável, concorresse para a manutenção da vida na Europa. Uma ‘civilização’ que se constitui sobre interesses privados e concorrentes, com regras oriundas de uma finalidade exterior ao ser humano, sendo que esta finalidade tem como substrato o que não entre diferentes cidades, cada uma explorando um ramo de indústria predominante” (MARX, Karl; ENGELS, 234 é essencial para a manutenção e reprodução da vida - que, por si e por seus porões, continua se reproduzindo para que o ‘alto comércio’ possa prevalecer. As atividades técnicas, ajustadas ao universo da casa, do abrigo, permanecerão oclusas até o momento em que a divisão de operações produtivas exigir sua localização em outras organizações espaciais. #2.2 Em grande medida, serão as corporações de ofício que assumirão os fundamentos dessa nova ordem de separação técnica do trabalho, daquilo que Pirenne chama de “organização da indústria” urbana: “Toda cidade, grande ou pequena, possui um número e uma diversidade, proporcionais à sua importância, de artesãos de primeira categoria, pois nenhuma burguesia pode prescindir dos objetos fabricados que a satisfação das suas necessidades exige. Se os ofícios de luxo existem unicamente em aglomerações consideráveis, em compensação, encontra-se por toda parte os artesãos, indispensáveis à existência cotidiana: padeiros, carniceiros, alfaiates, ferreiros, oleiros ou picheleiros etc.”321 Há, certamente, uma tendência voluntária ao associativismo de uma parte desses artesãos, frente à premente concorrência estrangeira, como comumente se afirma. No entanto, é evidente que a cooperação para realização de tarefas manuais não é nenhuma novidade inventada pelo século X, é até mesmo condição intrínseca para a realização de determinadas operações. É também evidente que as associações corporativas profissionais vinculavam-se, primordialmente, às cidades e não aos domínios senhoriais. Isso significa que esses artesãos não só não dependiam de senhores como careciam de alguma proteção - física, inclusive. A Friedrich. A ideologia... Op.cit., pág. 60). 321 PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 185. Ao comentar como a estrutura feudal se estabelecera nos moldes de “uma associação contra a classe produtora” e como essa relação entre senhores e servos era determinada pelas formas de produção, Marx afirma: “A essa estrutura feudal da propriedade fundiária correspondia, nas cidades, a propriedade corporativa, organização feudal do ofício artesanal. Na cidade, a propriedade consistia principalmente no trabalho de cada indivíduo: a necessidade de associação contra os nobres pilhadores conluiados, a necessidade de construções comunais para as atividades mercantis numa época em que o industrial era também comerciante, a 235 idéia de “corporativismo”, assim, surge associada à idéia de autoproteção de um coletivo que se constitui a partir da necessidade de defesa, além de um interesse comum, também da disposição física do próprio grupo não só frente a ameaças materiais como também frente àquelas de cunho moral - e local. Por seu turno, no conhecimento articulado pelo artesão ingresso nas corporações persiste um caráter mais operatório que intelectual, restrito à inteligência das mãos, mais uma capacidade que um saber. Se instado pelas contingências e até por sua natureza a permanecer nos domínios do secreto, este conhecimento também permanece secreto para o próprio artesão, para sua própria consciência. É assim que surgem os experts, no sentido íntegro do termo, aqueles sujeitos que mantêm uma relação de “fraternidade”, como diz Simondon, com a “natureza vivente da coisa que conhecem”, com um “aspecto do mundo, valorizado e qualificado”322. O que estou a dizer, reproduzindo os argumentos de Simondon, é que não se trata de atribuir exclusivamente o enclausuramento dos ofícios e das técnicas ao processo de ‘estamentização’ corporativa promovido pela reordenação social e jurídica que se insinua com o surgimento da vida urbana neste período. Esta oclusão faz parte da natureza do próprio conhecimento técnico ali praticado. O que faz Simondon inferir que “Il semble que les historiens soient portés à considérer de manière bien abstraite les rites d’initiation des métiers anciens, en les traitant d’un point de vue purement sociologique”323. Pelo avesso da natureza íntima de suas atividades, contudo, as corporações surgirão já instadas por um poder local que lhes é externo: os ‘poderes públicos’ dessa época, tributários do “caráter regulamentário” do arcabouço jurídico romano, são prolíferos na instituição de referencial calculável e hierarquizável das atividades econômicas. Assim é que são instituídos pesos, medidas, moedas, alcavalas e delimitadas as circunscrições dos mercados. concorrência crescente dos servos que fugiam em massa para as cidades prósperas, a estrutura feudal de todo o país - tudo isso fez surgir as corporações” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia.... Op.cit., págs. 16/17). 322 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág. 89. 323 Idem, pág. 91. 236 Os senhores e alcaides já estabelecidos como prepostos nas cidades nascentes atribuem-se o poder de regulação e fiscalização de todas as atividades urbanas desde a primeira metade do século XI. No caso das cidades episcopais, concorrem ainda fragmentos de uma postura ética piedosa: o “justum pretium” desrespeitado equivalia a “incorrer em pecado”. Daí a autoridade comunal absorver e ampliar estes princípios de regulação do cotidiano produtivo junto com as primeiras constituições municipais: desde o preço até a qualidade do produto, tudo era sujeito a uma infindável lista de restrições, recomendações e padrões de referência. “É preciso, pois, instituir um regime que proteja igualmente o artesão que fabrica e vende e o cliente que compra”324. Alguns éditos de Flandres, na segunda metade do século XII, regulam a produção e o comércio “in pane et vino caeteris mercibus”, isto é, não só produtos alimentícios como qualquer produto comerciável. O que se justifica pelo pretenso controle da qualidade e do preço, por outro lado, interessa aos senhores e alcaides para melhor vigiar e policiar os companheiros de ofício: “Nada mais eficaz a este respeito do que reuni-los em agrupamentos profissionais, sujeitos à vigilância do poder municipal. À tendência espontânea que compelia os artesãos à corporação juntava-se, do mesmo modo, o interesse da polícia administrativa”325. Étiene Boileau transcreve os regulamentos das corporações de Paris, para outros usos, e explica o que o levou a tal empreendimento: “Porque vimos em Paris, em nossos tempos, muitas lutas causadas pela inveja desleal, que é a mãe dos litígios, e pela desenfreada cobiça que se corrompe a si mesma e pela falta de juízo, própria dos jovens e dos incautos, entre os forasteiros e os habitantes da cidade, que não exercem ofício algum, pela razão de terem vendido aos forasteiros algumas coisas que não eram tão boas e tão leais como deviam ser...”326 Para uma idéia da magnitude do sistema de corporações, em meados do século XII e em lugares até que bastante pequenos, podiam ser contados 1.099 tecelões organizados na 324 PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 185. O que ecoa um certo ‘fundamentalismo’ de um sistema de avaliação que se baseia numa relação de heteronomia entre produtor e usuário, já presente entre os gregos: “O poiemas, diz Aristóteles, é pior juiz de sua obra que o usuário (Política, III, 1282 b 28-30): sua ação fabricadora concerne aos meios, o objetivo o ultrapassa. (...) O artesão fabrica efetivamente a coisa, mas sem conhecer perfeitamente, enquanto artesão, sua eîdos, ou seja, sua finalidade. Apenas o usuário possui essa competência” (VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 31). 325 PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 188. 326 Idem, pág. 190. 237 Mogúncia, 1.106 pescadores em Worms, 1.128 sapateiros em Wurtzburg, 1.149 tecelões de colchas em Colônia, entre outros, estabelecidos como agrupamentos oficiais de artesãos. Em cada lugar, tais agrupamentos assumiam nomes locais próprios327 mas em praticamente todos eles a necessidade era a mesma: controle e autoproteção. Nelas “encontrou a economia urbana a sua expressão mais geral e característica”328. A submissão a uma regulação exterior, além de ser compensada com o privilégio da proteção operacional - o direito de funcionar -, também tinha como contrapartida a proteção mercantil através da concessão de monopólio da mercadoria produzida. Na Inglaterra, as craftsguilds pagavam um direito anual à coroa pela concessão - e defesa - do monopólio de seus produtos. Se por um lado as corporações surgem como admissão de indivíduos particulares, de artesãos a um regime de administração hierárquica e autoregulada para a prática de um ofício329, por outro lado o controle do regime ao qual se submete o trabalho coletivo é regulado por um poder que lhe é externo. Atribuir-lhe algum laivo de auto-administração ou autogestão seria não só impróprio pelo tanto de hierarquia que, internamente, vigorava, como também pelo tanto que pesavam os “regulamentos sancionados 327 O sistema de corporações é um fenômeno amplo e, portanto, bastante plural. Qualquer tentativa de consolidar uma abordagem funcional estanque irá complicar-se já com os próprios nomes que lhes são atribuídos: desde officium ou ministerium em latim, elas são também designadas como oficio, métiers ou jurande na França; são craftguilds ou mistery, na Inglaterra, Zunft, Innung ou Handwerk, entre os germânicos e, mais para frente, vão ser denominadas grêmios nos países Ibéricos; a Itália apresenta o maior número de variações, talvez devido à própria condição geopolítica: são artes, na Toscana e em várias outras regiões, consulados em Roma (também na Lombardia), universidade no Piemonte, companhia, na Emília, grêmio na Sardenha, confrarias ou irmandades no Vêneto e mestranças na Sicília (PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 186 / RUGIU, Antonio Santoni. Nostalgia do mestre artesão. Campinas: Editora Autores Associados, 1998, págs. 23/24) 328 PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 186. 329 O objetivo essencial das corporações “é proteger o artesão, não só contra a concorrência do estrangeiro, mas também contra a dos colegas. Reserva-lhe exclusivamente o mercado da cidade e fecha-os aos produtores do estrangeiro; cuida, ao mesmo tempo, de que nenhum membro da profissão possa enriquecer-se em detrimento dos outros. Por esse motivo, os regulamentos impõem-se com uma minuciosidade cada vez maior; os processos, de técnica rigorosamente idêntica para todos, fixam as horas de trabalho, impõem os preços e o montante dos salários, proíbem toda espécie de anúncios, determinam o número dos utensílios e o dos trabalhadores nas oficinas, instituem vigilantes encarregados de exercer a inspeção mais minuciosa e inquisitorial; em uma palavra, esforçam-se em garantir a cada um a proteção e, ao mesmo tempo, a mais completa igualdade possível. Assim, consegue-se salvaguardar a independência de cada membro, mediante a estreita subordinação de todos eles.” (PIRENNE, Henri. Op.cit., págs. 191/192). 238 pela autoridade pública” 330 . Em Nuremberg, os Rath (conselhos municipais) não só outorgavam a possibilidade de existência das corporações como exigiam controlar as correspondências dos artesãos locais com os de outras cidades além de determinar que, para que uma corporação se reunisse, deveria ser solicitada sua autorização. Diante deste quadro regulador e das criteriosas condições estabelecidas para a prática do ofício, estabelecidas tanto externamente como no seu interior, as corporações atuam entre os estreitos domínios de um modo de organização laboral heterônomo. Pirenne chega a afirmar que a compensação para a corporação preservar seus privilégios e o monopólio de seus produtos é “o aniquilamento de toda iniciativa”331. Talvez seja exagero mas a idéia de se vincular oportunidades iguais a procedimentos técnicos padronizados, a quantidades de trabalho uniformemente distribuídas e a um número minuciosamente equacionado de artesãos envolvidos, pode ser tudo, menos autonomia autogestionária. Os chefes das oficinas - os mestres - eram os proprietários da matéria-prima, os donos das ferramentas - isto é, dos meios de produção - e a eles cabiam os lucros e rendimentos, restando aos aprendizes (Lehrlingen), iniciados no ofício sob a direção dos mestres, a manutenção orgânica de suas vidas e a proteção interessada de um grupo. Os companheiros (Knechten ou servingmen) eram artesãos assalariados mas restritos a um número limitado, regulado conforme as demandas de mercado. Normalmente, eram aprendizes que haviam completado sua formação mas que não haviam se tornado mestres - o que, na hierarquia das corporações era uma tarefa cara ou um desígnio da sorte: ou se pagava alta soma pelos direitos ao título, ou por direito hereditário legítimo, ou se estabelecia algum vínculo direto com uma família burguesa poderosa (através do casamento, por exemplo - o que era absolutamente raro, visto que a endogamia era também uma condição de defesa do grupo). Pirenne é enfático ao afirmar que romper a condição de igualdade era o mesmo que “deslealdade”. Mas ele mesmo considera que, por outro lado, o próprio regime 330 Idem, pág. 190. 331 Ibidem, pág. 192. 239 industrial obstruía qualquer concorrência entre artesãos e entre corporações, isto é, não se tratava de uma questão moral, mas econômica332. Essa heteronomia endógena e exógena ao mesmo tempo, contudo, não impedia a tendência corporativa em direção a uma relativa autonomia, o que criava tensões, em vários casos, frente ao poder que a regulava e mesmo entre corporações. Na primeira metade do séc. XIII, as corporações intensificariam suas reivindicações para que lhes fosse concedido o mesmo padrão de reconhecimento que aquele estabelecido para os ricos comerciantes - o que significa que não era o mesmo padrão. Isto é, o mundo burguês já nasce classificando e hierarquizando padrões de atividades produtivas, essencialmente parametrizadas pelas relações de produção estabelecidas pela aplicação e pelos resultados do trabalho empregado. Reservava-se aos comerciantes, naquele momento, posição privilegiada - pela sua capacidade de transformar mercadoria em dinheiro, o poder migrará, ao longo do tempo, para suas mãos333. Paralelamente, o poder dos ofícios, pela sua capacidade de transformar dinheiro em mercadoria, também migrará para as mãos dos comerciantes, como veremos. De qualquer forma, as atividades artesanais permanecerão, por um bom tempo, relegadas a uma categoria inferior. Apenas no séc. XIV as corporações serão reconhecidas como “corpo político” autônomo, com direito à partilha do poder com a alta burguesia comercial. Mas se qualquer possibilidade de concorrência ou incremento de desempenho era obstruída às corporações neste padrão descrito por Pirenne, como e quando “o processo de 332 “Ninguém pode permitir-se prejudicar os outros por processos que o capacitariam a produzir mais depressa e mais barato. O progresso técnico é considerado como uma deslealdade” (PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 192). Talvez ainda tomado por algum ímpeto liberal, Pirenne termina a descrição da hierarquia entre os artesãos da seguinte forma: “Se por acaso algum mestre adquire por matrimônio ou herança uma fortuna mais vultosa do que a dos seus companheiros, ser-lhe-á impossível aumentar o volume dos negócios em detrimento daqueles, uma vez que o regime industrial não dá lugar algum à concorrência. Mas a desigualdade das fortunas devia ser muito rara entre esses pequenos burgueses. Para quase todos eles, a organização econômica envolve o mesmo gênero da existência e os mesmos recursos. A referida organização proporciona-lhes uma posição certa, impede que progridam; em suma, poder-se-ia classificá-la com o termo ‘acapitalista’” (O grifo, certamente, é meu. PIRENNE, Henri. Op.cit., pág. 193) 333 O comerciante será o primeiro banqueiro medieval: é ele que dispõe de numerário e acúmulo de excedentes para oferecer operações creditícias à aristocracia secular instalada nas cortes e à alta nobreza eclesiástica consolidada em seu poder nos finais do séc. XIII. No começo deste século, uma boa parte da alta nobreza e diversas cidades acham-se endividadas com os comerciantes burgueses. Idem, pág. 132 a 134. 240 trabalho amplia sua escala e fornece produtos em maior quantidade”334? Cada oficina congregava, além das instalações para as operações produtivas, também a loja. Logo, o lugar da produção confundia-se com o lugar da comercialização dos produtos ali fabricados. Algumas dessas oficinas, em virtude de uma série de circunstâncias (localização em grandes centros urbanos, aceleração dos tempos de produção, incompatibilidades operacionais entre atividades de produção e comercialização ou alguma demanda especializada, entre outras), acabaram compondo associações de corporações e, abrindo mão de comercializar seus próprios produtos, transformaram-se em corporações de oficinas de exportação: elas passariam a produzir e fornecer para o comércio atacadista internacional e seus artesãos desempenhariam o papel de ‘assalariados’ dos grandes comerciantes que, por sua vez, lhes abasteciam com a matéria-prima necessária. Muda, portanto, a conjugação entre capital e trabalho: separam-se, nesta medida, os domínios das ferramentas, da matéria-prima e da força de trabalho - e aí chegamos no que Marx denomina manufatura e trabalhador coletivo, stricto sensu, e onde identifica o início do modo de produção capitalista propriamente dito335. Assim, algumas cidades medievais assumem o caráter de ‘centros manufatureiros’, especializando-se num determinado ramo da produção manufatureira. Já nessa época, há uma particular proeminência desse padrão organizativo do trabalho aplicado à produção têxtil, compondo, numa ‘linha de produção’ espacialmente fragmentada e rudimentar, tecelões, batedores e tintureiros, transferindo uma daquelas atividades próprias à reprodução e manutenção material da vida - a fabricação do tecido, principalmente para o vestuário - até 334 MARX, Karl. O capital: crítica... Op.cit., livro I, vol. I, pág. 375. 335 “A atuação simultânea de grande número de trabalhadores, no mesmo local, ou, se se quiser, no mesmo campo de atividade, para produzir a mesma espécie de mercadoria sob o comando do mesmo capitalista constitui, histórica e logicamente, o ponto de partida da produção capitalista. Nos seus começos, a manufatura quase não se distingue, do ponto de vista do modo de produção, do artesanato das corporações, a não ser através do número maior de trabalhadores simultaneamente ocupados pelo mesmo capital. Amplia-se apenas a oficina do mestre artesão” (Ibidem). E n’A Ideologia Alemã: “A divisão do trabalho entre as diferentes cidades teve como primeira conseqüência o nascimento das manufaturas, ramos da produção que escapam ao sistema corporativo.” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia... Op.cit., págs. 62/63). 241 então praticada pelos camponeses até mesmo em suas próprias moradias - portanto, no âmbito privado de suas existências - para esse mundo híbrido que então se constituía - a esfera social, como quer Hannah Arendt. Para uma idéia das dimensões que tal padrão organizativo assumiu em relativo pouco tempo, em 1431 a indústria têxtil de Ypres agregava 51,6% dos ofícios. Na mesma época, os tecelões de Frankfurt correspondiam a 16% dos companheiros e aprendizes ocupados pelas corporações das indústrias de exportação. Para minhas questões, é muito significativo o fato de ser a indústria têxtil uma das primeiras bases produtivas organizada sob este padrão: como lembra Marx, “o trabalho que dependia de início do uso de uma máquina, por mais rudimentar que fosse, logo se revelou o mais suscetível de desenvolvimento”336. É claro que não é possível identificar tais relações de trabalho com aquelas conformadas pelo modo de produção capitalista contemporâneo: tratava-se, ali, do que Marx chamou de manufatura homogênea, principalmente porque se promovia uma divisão espacial do trabalho e não das operações técnicas parciais necessárias à confecção do produto: “Em um ponto essencial os trabalhadores das indústrias de exportação diferiam dos assalariados da nossa época. Em vez de reunirem-se em grandes estabelecimentos, [os trabalhadores das oficinas de exportação] dividiam-se em numerosas pequenas oficinas.”337 Conforme Pirenne, estes trabalhadores eram companheiros assalariados, em sua maioria, que dependiam exclusivamente do emprego. Aglomeravam-se nas praças às segundas-feiras, sequiosos por uma contratação de 8 dias, para uma jornada de trabalho que se estendia do nascer ao pôr do sol, pela qual se remuneravam com salários pagos pelo período, sempre aos sábados (é impressionante a ancestralidade e a permanência do sistema que até hoje submete, aqui por estas paragens, grande parte dos trabalhadores da construção civil). 336 Idem, pág. 63. 337 PIRRENNE, Henri. Op.cit., pág. 196. “Esses trabalhadores, que chegavam isoladamente, jamais conseguiram ser uma força, porque ou seu trabalho era da alçada de uma corporação e devia ser aprendido, e então os mestres da corporação os submetiam às suas leis e os organizavam segundo seus interesses; ou então seu trabalho não exigia aprendizagem, não era da esfera de uma corporação, era um trabalho de diaristas e, neste caso, nunca chegavam a criar uma organização e permaneciam como uma plebe desorganizada. A necessidade do trabalho de diaristas nas cidades criou a plebe” (MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia.... Op.cit., pág. 57). O que não significa, contudo, que este lumpenproletariät não insurgisse contra seus contratantes, como veremos adiante. 242 Viviam, contudo, em permanente estado de crise: bastava faltar matéria-prima em virtude de uma guerra ou das veleidades da nobreza ou igreja, para que se instalassem, nas cidades, verdadeiros campos de guerra. O desemprego e a fome empurravam os trabalhadores para movimentos grevistas - já em 1245, noticiava-se a mais antiga greve da história, em Douai, no sentido atual do termo - e a violentos enfrentamentos urbanos. Inclusive entre si mesmos. Os “unhas azuis”, tintureiros que assim eram conhecidos pela cor característica que o anil lhes entranhava nas unhas, acabaram transferindo essa denominação genérica para os empregados das manufaturas de exportação. Segundo Pirenne, eram agressivos, rudes e eram reconhecidos pelo uso de indumentária própria. Seus ‘excessos’ eram tratados com o desterro ou a peso de pena de morte, o que significava já um mecanismo apurado de controle das relações entre o contingente empregado e o enorme exército de reserva que compunham: saísse da linha, exílio ou morte, descartabilidade; sempre haveria um outro à disposição para ocupar o lugar do descartado338. O permanente estado de tensão gerado acabou conduzindo diversas alterações significativas na estrutura de poder e mando nos sécs. XIV e XV. Uma relativa estagnação do desenvolvimento comercial europeu, que atingira um certo equilíbrio sistêmico, e o desabastecimento e a fome endêmica associados com o advento das epidemias - como a peste negra que, de 1347 a 1350, teria dizimado um terço da população européia -, acabaram levando a Europa a um estado de convulsão que induziria mudanças - pelo menos formais - nas mecânicas de mediação entre os pólos que iam conformando aquele híbrido de público e privado a que se refere Hannah Arendt. Em resposta às inúmeras insurreições locais e regionais339 - ou para evitá-las -, é particularmente nas cidades, em virtude dos conflitos entre 338 PIRENNE, Henri. Op.cit., págs. 195/196. 339 As razões para tais insurreições são diversas: na Flandres, em 1328, os camponeses revoltaram-se contra os pesados tributos impostos pelos franceses após a derrota na batalha de Courtrai, dirigindo seu ódio e violência contra igreja e a nobreza local, “com o fim de arrebatar-lhe autoridade judicial e financeira”; a Jacquerie, na Ilha de França, em 1357, levantara a população esfomeada e miserável contra os nobres, acusados de serem os responsáveis pelo seu flagelo; as insurreições rurais inglesas de 1381 também seguem padrão semelhante ao da 243 ‘pequena’ e ‘grande’ burguesia, entre comerciantes e artesãos, entre ‘vilões’ e nobreza, assalariados e capitalistas, que se promovem reformas nas estruturas de administração local, instituindo governos municipais que cediam parcelas controladas de poder aos grupos assalariados e ‘proletários’. Tais reformas eram conduzidas pelas ciosas mãos dos conluios locais: capitalistas do grande comércio, corretores ou exportadores, associados aos pequenos empresários independentes da indústria local - particularmente os donos das oficinas de exportação340, em virtual ajuste com o poder eclesiástico e a aristocracia feudal já em descenso. É dessa forma que aquela legitimidade auto-atribuída a que me referi anteriormente toma corpo institucional. Por outro lado, a contração no regime de crescimento populacional acaba gerando menor demanda pelos produtos das corporações. Isso significou, também, uma alteração no caráter de relacionamento entre mestres, companheiros e aprendizes, fazendo prevalecer a oposição entre capital & trabalho na forma do conflito entre patrões e empregados, substituindo o original padrão ‘familiar’ de relacionamento laboral. É assim que surgem as compagnonnages, primeiro na França, e as Gesellenverbaende, posteriormente na Alemanha, espécie de ‘sindicatos’ que pretendiam auxiliar os companheiros na defesa de seus interesses frente a possíveis abusos dos mestres e, por ajuda-mútua, “proporcionar trabalho aos seus membros”341. #2.3 Um movimento de mão dupla: se por um lado uma boa parte das atividades cotidianas de reprodução da vida desliza para o mundo público mas sob circunscrição dos Flandres marítima: camponeses e vilões, acossados pela miséria, revoltam-se contra os landlords; todas as circunstâncias, entretanto, denotam o grau de indisposição que tomava em cheio o séc. XIV europeu e explicitam as primeiras manifestações de contraposição violenta entre capital e trabalho (Idem, págs. 197 a 208). 340 Idem, pág. 210. 244 interesses privados, por outro os tais interesses privados assumem a condição de interesse público e se esparramam por entre as dobras das necessidades cotidianas. Se for verdade que o que irá determinar o acentuado desenvolvimento econômico europeu ao longo do séc. XII é o comércio exterior - um comércio, no mínimo, especializado - também é verdade que as comezinhas e corriqueiras operações para a produção material da vida serão como que sugadas pela atividade econômica ‘de ponta’. Ora, era lá, sim, que se situava o verdadeiro centro gerador de valor, nos termos de Marx, e não o comércio especializado em si mesmo, como insinua Pirenne. O preceito é lógico: ninguém, nem servos, nem aldeões, nem aprendizes, nem companheiros, nem mestres, nem eclesiásticos, nem senhores ou reis prescidiam do pão que os padeiros assavam, das roupas que os alfaiates costuravam, das carnes que os carniceiros preparavam, dos utensílios de estanho que os picheleiros produziam, de ferraduras para os cavalos, de ladrilhos e tijolos que os oleiros coziam para as mãos dos maçons levantarem abrigos. É certo que muito ainda se produzia no interior das propriedades feudais mas o regime senhorial entra em declínio na mesma proporção que o desenvolvimento comercial se consolida342. A regulação jurídica exterior vem, portanto, para confinar a prática cotidiana e assegurar este processo de sucção, de confisco daquilo que é essencial para a existência do inessencial. Mesmo a atividade interna da profissão, do ofício nas corporações, é externamente determinada: a atividade não se determina a si mesma, ela não se debruça sobre si mesma para compreender suas entranhas, ela se debruça sobre o trabalho, que é heterônomo. A atividade produtiva se tecniciza pelo trabalho e não em si mesma, como sugere Simondon. Uma outra questão. As oficinas de exportação, como conta Pirenne, parecem ser as primeiras instalações rudimentares que originaram a grande indústria moderna. É significativa a 341 Idem, págs. 212/213. 342 Ibidem, pág. 89. 245 observação de Marx quanto ao potencial evolutivo da primitiva indústria têxtil, justamente pela condição de o trabalho “depender de início do uso de uma máquina, por mais rudimentar que fosse”, como já mencionei. Ora, é essa grande indústria que justamente destrói, amparada pela ordem pública dos interesses privados, toda a possibilidade de uma relação natural com a atividade produtiva e faz a máquina subsumir aquela contraposição contraditória à cultura a que se refere Simondon: um quase autômato que espreita hostilmente nossa existência e que, ao mesmo tempo, nos serve submissa os produtos de sua engenhosidade. Novamente, a técnica se tecniciza pelo ‘trabalho’ da máquina, e não em si mesma, transformando-se em sistema, em tecnologia, em produto, isto é, em mercadoria. “Foi ela (a grande indústria) que criou de fato a história mundial, na medida em que fez depender do mundo inteiro cada nação civilizada, e cada indivíduo para satisfazer suas necessidades, e na medida em que aniquilou nas diversas nações a identidade própria que até então lhes era natural. Subordinou a ciência da natureza ao capital e privou a divisão do trabalho de sua última aparência de fenômeno natural. De modo geral, aniquilou todo elemento natural na medida em que isso é possível no âmbito do trabalho, e conseguiu dissolver todas as relações naturais para transformá-las em relações monetárias.”343 Parece-me que alguma coisa ficou para trás. Fim - enfim - do parêntese. #3 Se continuar seguindo a mesma trilha aberta por Hannah Arendt e às custas da genealogia que arrisquei, posso concluir então que, com a transferência e absorção da esfera privada para a esfera do social, também é para ali que serão transferidos, como representação, os meios, as práticas e os conhecimentos correlatos às atividades cotidianas, de sustento e reprodução da vida. “Desde o advento da sociedade, desde a admissão das atividades caseiras e da economia doméstica à esfera pública, a nova esfera tem-se caracterizado principalmente por uma irresistível tendência de crescer, de devorar as esferas mais 343 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia... Op.cit., pág. 71. 246 antigas do político e do privado, bem como a esfera mais recente da intimidade”344 Dessa forma, aquele conhecimento técnico particular e privativo das mãos que o conduziam - num primeiro momento compartilhado no interior de uma envoltória corporativa na Idade Média e, posteriormente, privatizado e expropriado numa estrutura manufatureira de produção - vai ganhando visibilidade pública e lugar relativamente privilegiado na sociedade essa nova categoria que se esparrama e regula as condições da existência humana. Isto acontece na medida em que as coisas e as atividades necessárias à subsistência da espécie têm que, irredutivelmente (viver é inter homines esse), ser realizadas sob a “dependência mútua” dos indivíduos que as promovem, sob a forma de trabalho social, e conduzidas sob a estrita regulação jurídica e institucional estabelecida como forma política de representação desta sociedade. Pelo que isso significa, a técnica, como conhecimento natural, começa a deixar os porões escuros dos escravos e dos artesãos para ser “admitida em praça pública”, só que sob outras roupagens345. Além disso, o conhecimento técnico retroverte, pela nova indumentária, o papel que lhe cabe na ascensão daquela nova categoria: acompanha a voracidade da esfera social, devorando os conhecimentos tradicionais e vernaculares - patrimônio hereditário da esfera da família. Saneando suas entranhas para aparecer de cara limpa, o conhecimento técnico alcança a condição de assunto com direito a assento nas esferas da política e do público na medida em que se associa à operacionalidade do trabalho parcelar, justificada como conhecimento aplicado para a divisão técnica do trabalho e o decorrente aumento da produtividade deste trabalho - nos termos de Gorz e Marx346. Seria este novo papel atribuído à técnica que permitiria à sociedade reproduzir-se exponencialmente, como se refere Arendt: “O que chamamos de artificial 344 ARENDT, Hannah. Op.cit., pág. 55. 345 “A sociedade é a forma na qual o fato da dependência mútua em prol da subsistência, e de nada mais, adquire importância pública, e na qual as atividades que dizem respeito à mera sobrevivência são admitidas em praça pública” (Idem, pág. 56). 346 GORZ, André. Crítica da divisão do trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1996; e mais precisamente: “Para trabalhar produtivamente não é mais necessário executar uma tarefa de manipulação do objeto de trabalho; basta 247 crescimento do natural é visto geralmente como o aumento constante acelerado da produtividade do trabalho (labor)”347 Parece consenso: esta produtividade em processo hipertrofiado de evolução decorre de uma divisão técnica do trabalho que se rende à crescente mecanização dos processos do labor. Daí: se o princípio organizacional deriva de uma concepção política de ordem produtiva que é própria da esfera da sociedade - como assim entendia o Marcuse de 1964348 mas o que é organizado são as atividades do labor - que provém da esfera privada, como procurei mostrar até aqui -, é o meio técnico que surgirá como aparato passível de uma nova ordenação eficiente da capacidade produtiva, seja por meio da divisão racional - e técnica - do trabalho, seja pela mecanização crescente dos processos produtivos349. A concepção do meio técnico decorreria, então, de uma concepção de sociedade, isto é, tratar-se-ia de uma representação técnica, transformando em abstração não a técnica em si, mas o modo de produção dos objetos técnicos. A representação técnica, nos termos de Simondon, dá lugar a uma representação social de si mesma, numa forma que chamei de abstrata no início deste ensaio - o que, aparentemente, sugere algum fundamento para considerá-la, em si, ideologia. Por outras vias, se for verdade que a técnica, enquanto saber particular de transformação material do mundo, como arte de interpretar a convergência entre forma e matéria, permaneceu ao longo de muito tempo sob o domínio dos âmbitos privados da vida; que ser órgão do trabalhador coletivo, exercendo qualquer uma das suas funções fracionárias” (MARX, Karl. O capital: crítica... Op.cit., livro I, vol. II, pág. 577). 347 Idem, pág. 57. Para melhor esclarecer o que Arendt chama de natural e porque assim designo aquele conhecimento que sai dos porões medievais: “No instante em que o labor foi liberado das restrições que lhe eram impostas pelo banimento à esfera privada - e essa emancipação do labor não foi conseqüência da emancipação da classe operária, mas a precedeu -, foi como se o elemento de crescimento inerente a toda vida orgânica houvesse completamente superado e se sobreposto aos processos de perecimento através dos quais a vida orgânica é controlada e equilibrada na esfera doméstica da natureza” (Idem, pág. 56). 348 “Mas se a razão técnica se revela nesses termos como razão política, então isto ocorre unicamente porque, desde o início, já era esta razão técnica e esta razão política: delimitada pelo interesse determinado da dominação” (MARCUSE, Herbert. “Industrialização e capitalismo na obra de Max Weber” in Cultura e sociedade, volume II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, pág. 133). 349 “A produtividade do trabalho é determinada pelas mais diversas circunstâncias, dentre elas a destreza média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e a sua aplicação tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais” (MARX, Karl. O capital: crítica... Op.cit., livro I, vol. I, pág. 62) 248 aquele conhecimento técnico privado sai daqueles âmbitos e transforma seus modos de representação à medida que se transformam as relações sociais e se institui uma esfera social; que, ao mesmo tempo em que se constitui esta esfera social, compreendida como advento de uma sociedade burguesa, também ocorrem mudanças estruturais nos campos do conhecimento, também tributárias àquela ascensão (o que chamamos de ‘revolução copernicana’, a inversão epistemológica promovida pelo método cartesiano e o ascenso de uma visão galiláica-baconiana de natureza e ciência); então, da mesma forma, o conhecimento prático e empírico - um domínio essencialmente técnico - também escapa do mundo da vida e, na forma de um enlaçamento orientado em duas direções, penetra e é abraçado pelo mundo da epistéme, pelo conhecimento teórico e dedutivo - aquele possível de existir enquanto produto de um olhar interessado em dispor de uma natureza que se transforma em armação para usufruto da sociedade que o patrocina. O gradual descolamento entre pensamento e práxis social que Marcuse identifica como um legado cartesiano - uma classificação do mundo em dois mundos, a res extensa e a res cogitans - não erige apenas domínios excludentes entre si, como alma e corpo, mas opera também uma dissociação entre os produtos da res cogitans e os feitos da res extensa, uma dissociação que se institui à semelhança daquela operada entre forma e matéria. Não seria apenas a filosofia que abandonaria o indivíduo à aparência de um mundo reificado que se regula pelas suas relações materiais, entregando-se à “constituição transcendental do mundo da subjetividade pura”, como diz Marcuse350. Diria que, junto com a filosofia, também a ciência, como obra do espírito, arvora-se como domínio imune à reificação que sustenta. Assim, a ciência investe-se também no disfarce que procura ocultar, sob a máscara de uma pretensa objetividade científica, a “subjetividade pura” que organiza a natureza como domínio seu, entregando-a à volúpia de uma representação técnica reificada pelas relações materiais objetivas tecidas com a ascensão da esfera social, nos termos de Arendt. 350 MARCUSE, Herbert. “Sobre o caráter afirmativo da cultura” in Cultura e sociedade, volume I. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, págs. 104 a 106. 249 No entanto, o que desafina os acordes que poderiam suavizar a melodia que acompanha o encontro entre técnica e ciência, é que esse conhecimento prático e empírico não volta, assim como saiu, para seu berço de origem. Pois a técnica, como prática operativa aplicada na reprodução da vida, reflui para o mundo da vida. Mas para ali retorna como objeto ou procedimento que agrega, ao mesmo tempo em que oculta, o conhecimento teórico que o abrigou: volta como tecnologia. Sai como técnica: o conhecimento prático do cozinheiro, do ferreiro, do tecelão, do agricultor, do agrimensor, do construtor, todos ocupados com a laboriosidade da vida, com a mutabilidade do transitório e com a necessidade de estabelecer alguma mediação com a natureza enquanto entes viventes; volta como tecnologia: conjunto de conhecimentos aplicados, agenciado nas formas puras de sua elaboração abstrata original, capaz de pensar a si mesmo e de reproduzir a si mesmo. Um conhecimento que sai da esfera privada, pretende-se universalizável, torna-se visível e, portanto, público, ao mesmo tempo em que se esconde entre as dobras do que ajudou a produzir. Um conhecimento que lida com os “interesses privados” e os fazem assumir “importância pública” mas que retorna e pervade o âmbito privado sob a forma de seus produtos: não é mais nem o que é pelo pensamento, pela ciência, nem o que é exclusivamente por arte, por téchne, o arte/fato. Diluindo e tornando invisíveis os limites entre técnica e si mesma, a tecnologia é um sentido em si mesmo, a ‘racionalidade meio-fim’ weberiana (Zweckmittel Rationalität), a instrumentalização reificante das dimensões práticas da esfera social. #4 Seria com este disfarce que a técnica já teria sido absorvida pela cultura: como tecnologia. Certamente não a tecnologia proposta por Simondon, uma tecnologia geral, mas 250 como arranjo interessado e sistematizado de conhecimentos naturais, armado juntamente com o campo das ciências, para o cumprimento de uma finalidade que é externa ao próprio modo de existência destes conhecimentos. Insisto neste quase lugar comum porque acho necessário problematizá-lo, compondo os elementos que marcaram o debate que registrei no início, entre Habermas e Marcuse. Parece-me que despachar a técnica e a tecnologia para a linha do horizonte demarcado pelo mundo administrado, erigido com o universo burocrático, institucionalizado e tecnicizado em si mesmo da sociedade burguesa, nada contribui senão descartá-la apenas como ideologia. Enquanto instrumentalidade teleológica, a cultura é essencialmente representação técnica: não escapamos de uma relação essencialmente técnica com o mundo. Parece-me impossível, pelo tanto que conjuguei até aqui, não passarmos pela técnica para chegarmos ao mundo. Todo o universo material e imaterial que nos rodeia está saturado de existências técnicas: não são apenas objetos, mas toda e qualquer atividade, no sentido aristotélico, é hoje permeada ou mediada por uma representação técnica. Naquele processo de ida e volta, a téchne, travestida em seu sentido, em seu logos, pervade a praxis, diluindo a oposição original entre termos e estabelecendo um outro regime de relações entre o “necessário e útil” e o “belo e verdadeiro”, conforme a classificação aristotélica das partes em que se divide a vida. No entanto, alguém poderia argumentar que seria justamente a cultura que alcançaria um reino de unidade e liberdade, submetendo e apaziguando “relações existenciais antagônicas”, reificando relações na medida em que identifica o “indivíduo abstrato” e o “sujeito da práxis”, libertando-o do jugo das mediações entre si e sua felicidade pelo constante exercício do conhecimento e da busca da verdade para orientação do mundo prático351. Este argumento parece anunciar, no horizonte, uma reafirmação do papel afirmativo atribuído à cultura, mas que reafirma também a distinção grega entre o “necessário e útil” e o “belo e 351 MARCUSE, Herbert. “Sobre o caráter...” in Op.cit., pág. 89 e 90. A referência a Aristóteles, conforme nota em Marcuse, é oriunda de ARISTÓTELES. Política. 1333 a. 251 verdadeiro”, na medida em que seria ela responsável por alcançar o conhecimento puro - do bom, do belo e do verdadeiro -, transformá-lo em e pela tecnologia e transportá-lo para o cotidiano dos dias - um domínio do útil e do necessário, melhorando progressiva e indefinidamente a vida humana. Mas, “na medida em que essa distinção não for questionada, na medida em que a teoria ‘pura’ se consolida com os outros âmbitos do ‘belo’ em uma atividade autônoma ao lado e acima das outras atividades, desaparece a pretensão originária da filosofia: de constituir a práxis em conformidade às verdades conhecidas.”352 Como procurei demonstrar, o processo histórico e a ascensão da sociedade burguesa conduziram um esmaecimento dos limites entre domínios - sem no entanto suprimi-los - cujo borrador seria justamente a tecnologia: a impressão que aquele argumento enuncia é que toda a virtude e liberdade do mundo do conhecimento puro poderiam contaminar e ‘perverter’, às avessas, o mundo da pura imanência material, tendo a tecnologia como o medium que nos permitiria aplicar positivamente os fatos do cérebro nos feitos das mãos. Mas, como diz Heidegger, podemos assim introverter o verdadeiro no correto, instalando confortavelmente uma racionalidade teleológica nos domínios da vida, abstraindo-a como determinismo existencial e justificada pelos efeitos de uma aparente validade universal que lhe é conferida pela objetividade autônoma dos âmbitos do “belo e verdadeiro” e da “teoria pura”. O efeito parece inverter-se: embaralhando as atividades “necessárias e úteis” com as essencialmente “belas e verdadeiras” e sem nos determos claramente numa ‘agrimensura’ crítica dos limites da oposição, acabamos com os sinais trocados, transformando aquilo que nos emanciparia em travões que nos mantêm presos ao mundo de exclusiva necessidade, justamente porque nos subordinaríamos a um fim externo à própria vida: “Existe um tema recorrente na fundamentação que se apresenta ao remeter o conhecimento supremo e o prazer supremo à teoria pura e desprovida de finalidade: o mundo do necessário, da provisão cotidiana da vida, é inconstante, inseguro e não livre - essencialmente e não só de fato. Dispor sobre os bens materiais nunca constitui inteiramente obra da sabedoria e da laboriosidade humanas; eles se encontram sob o domínio do acaso. O indivíduo que coloca seu objetivo supremo, sua felicidade, nesses bens, se converte em escravo de homens e de coisas que se subtraem a seu poder: renuncia à sua liberdade. Riqueza e bem-estar não são alcançados e mantidos 352 Idem, pág. 90. 252 por sua decisão autônoma, mas devido aos favores mutáveis de relações imprevisíveis. Portanto os homens subordinam sua existência a um fim em seu exterior. Que um fim exterior por si só já atrofie e escravize os homens, implica o pressuposto de uma ordem perversa das condições materiais de vida, cuja reprodução é regulada pela anarquia de interesses sociais opostos entre si, uma ordem em que a manutenção da existência geral não coincide com a felicidade e a liberdade dos indivíduos”353 De qualquer forma, enquanto a distinção entre o “belo e verdadeiro” e o “útil e necessário” não é questionada, a cultura continua estabelecida como “atividade autônoma” do reino da necessidade, como um âmbito que contrasta necessidade e liberdade. Se, por outro lado, a racionalidade e a determinação produtiva tornaram-se imanentes à vida social e necessárias à existência humana, esta imanência assume o desígnio do castigo mítico original: como condição para o usufruto do conhecimento, grava-se o preço de uma sina que colhe sustento às custas de muito suor. Assim, a cultura seqüestra para si o direito à ‘felicidade’, dominando, por seus meios, o controle da base produtiva que atende o sustento da existência material - se quiséssemos ser gregos, parece-me que o caminho já estaria delineado: aos iguais, o reino da cultura, da “teoria ‘pura’” que “se consolida com os outros âmbitos do ‘belo’”; aos que não são os iguais, o “mundo do necessário, da provisão cotidiana da vida”, que “é inconstante, inseguro e não livre - essencialmente e não só de fato”. No entanto, a lógica da base produtiva, para sua autosustentação, não permite à cultura o luxo da prescindir de legitimação: o que o faz pela auto-exaltação, pela exaltação de si como fonte de um conhecimento que, ao mesmo tempo que subjuga, concede a aparência de um mundo material abastado. Seria assim que a cultura, conforme Marcuse, assumiria seu caráter afirmativo. Como preço de ‘progresso’, contudo, a racionalidade investe-se em aparatos de servidão que, nos termos de filósofo, não cedem um passo no constante desenvolvimento de uma “força sinistra” que promove a “escravidão progressiva”; e, no entanto, o negativo cada vez mais se introverte no positivo, o desumano se regula como humanização e a escravidão nos aparece como libertação - e é por isso que o aparato tecnológico assume contornos absolutamente lógicos354. 353 Ibidem. 354 MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade... Op.cit., pág. 142 e 143. 253 Como então dialogar nestes termos com Simondon? Procurei, até aqui, assegurar alguma essencialidade sob a forma de um vocabulário que não se limita, entretanto, a uma operação lingüística: assim como Marcuse, eu diria que a técnica é esta que aí está porque decorre desta razão política que a história nos outorga. No entanto, como imaginar “falsa e sem fundamento” a oposição construída entre cultura e técnica como diz Simondon? Se há uma “realidade rica em esforços humanos e em forças naturais” oculta por detrás de um “humanismo cômodo” que esta oposição engendra, não seria possível uma superação de seus termos sem que se passe, necessariamente, por dentro dos próprios termos, alocados em sua dimensão histórica e material. Não me parece possível deslocar a existência dos entes técnicos para uma relação não dialética, como Simondon, em alguns momentos, chega a insinuar. Simondon sugere que o desconhecimento da realidade técnica em si mesma é a principal causa de alienação no mundo contemporâneo, uma vez que esta realidade não partilha significados e valores próprios do mundo da cultura. Considero isso plausível, pelo tanto que insisto ao apresentar a arquitetura e o urbanismo como solo fértil para o acirramento da oposição entre forma e matéria, entre o fato e o feito, entre o pensado e o construído. Por seu turno, o homem aproveitaria o embaciamento destes significados para convocar a máquina e o automatismo - e eu incluiria a racionalidade técnica - para interpor a dominação de seus semelhantes e libertar-se das aflições do “útil e necessário” às custas de servidão. O que também pode soar como obviedade, particularmente se recordo o caráter dos mecanismos técnicos que fundamentam as relações heterônomas de produção do edifício e da cidade: canteiro & desenho. Mas o que me parece fundamental na tese de Simondon - para além do exercício de ontogenêse dos objetos técnicos que promove - é sua concepção de tecnicidade e do quanto 254 ela pode informar, como um gradiente, um regime qualitativo para os atos técnicos: “La machine qui est douée d’une haute technicité est une machine ouvert, et l’ensemble des machines ouvertes suppose l’homme comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres. Loin d’être le surveillant d’une troupe d’esclaves, l’homme est l’organisateur permanent d’une société des objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin du chef d’orchestre.”355 Segundo o filósofo, a tomada de consciência de uma realidade técnica em si mesma não se efetiva por meio de uma consciência alienada, presa, pelo trabalho, à máquina e à “imobilidade dos gestos cotidianos”. Não seria a partir de uma racionalidade teleológica adjudicada como finalidade última do processo de produção técnica da vida que se permitiria alguma reconciliação entre técnica e cultura; pelo contrário, o filósofo reivindica que as realidades técnicas, compreendidas em seus próprios significados, apenas se abrem à consciência na medida em que é possível estabelecer uma “pluralidade aberta das técnicas”, em que se permita uma abordagem generalista da cultura, ao invés da “estereotipia dos gestos adaptados à consciência das estruturas e dos funcionamentos”. A machine ouvert, como metáfora de um ensemble técnico engajado numa produção técnica qualquer, poderia sugerir, então, mais que o acesso aos meios de produção um passo, certamente - mas também o acesso aos “moyens pour penser son existence et sa situation en fonction de la réalité qui l’entoure”356. Compreender a realidade técnica em si mesma e em sua própria natureza equivaleria, nos termos de Simondon, ao homem permitir-se colocar a natureza à frente de si no seu próprio devir, ao invés de submetê-la como fonte aparentemente inesgotável de recursos para sua existência; significaria o homem permitir-se reconhecer aquela estreita continuidade entre técnica e o mundo natural da qual nos fala o filósofo. Apenas a título de ensaio - e já insinuando o próximo passo: até que ponto 355 SIMONDON, Gilbert. Du mode... Op.cit., pág.11. 356 Idem, pág. 14. 255 Marcuse não sugere algumas possibilidades que convergem para um horizonte parecido com aquele reclamado por Simondon?357 Marcuse consome o trajeto delineado por Max Weber, demonstrando como a sociedade burguesa introjeta seus próprios mecanismos de servidão, em um sistema de “regulação assustadoramente efetiva”, submetendo todo e qualquer interesse aos interesses privados que se determinam pelas mecânicas de reprodução de valor. Uma superação da reificação às avessas, como defende o filósofo: o que poderia se constituir como racionalidade que efetivamente conduziria à emancipação humana, reverte-se no seu oposto, transforma-se no “casulo da servidão” - pelas mãos de uma razão técnica que se erige como instrumento de alienação, como separação entre homens e dos homens em relação às obras de suas mãos358. Mas “enquanto razão política, a razão técnica é histórica”. Se aceitarmos que é a máquina que determina a separação entre homens e meios de produção, que os subordina aos tempos de sua eficiência calculada e os conforma segundo necessidades técnicas - nos termos de Marx, lembrado por Marcuse -, então parece válida a afirmação de Weber: “a máquina desprovida de vida é espírito coagulado. Só esse fato lhe confere o poder de obrigar os homens a servi-la...”. No entanto, retruca Marcuse, justamente por ser “espírito coagulado” é que a máquina reclama não só a submissão do homem mas também promove a “dominação dos homens sobre os homens”359. Nos termos de Simondon, parece-me que o reconhecimento da máquina como um ente técnico que abriga e faz permanecer uma parte do vivo recusa o “espírito coagulado” de Weber. A machine ouvert de Simondon é viva, porque supõe o homem como intérprete vivo de suas engrenagens. Se for possível conceber a máquina como um engenho que se permite permeável 357 Adiantando-me: relegar as considerações marcusianas como ‘textos datados’ apenas contribui para esmaecer os contornos de uma crítica que, se datada, ainda certamente não se mostra superada. 358 MARCUSE, Herbert. “Industrialização e capitalismo...” in Op.cit., págs. 133/134. 359 Idem, pág. 134. 256 em seus mecanismos operativos, não seria incongruente afirmar que, então, não poderia existir contradição entre homens e seus meios de produção. No entanto, a relação com as machines ouverts reclamaria uma outra representação técnica, forjada por uma remissão histórica dos imperativos de uma outra organização social. Mas se a razão técnica é conforme a razão política de uma época e por isso é histórica, como ficamos? Não é fácil alinhar concepções tão distintas. De imediato, Marcuse manifesta uma idéia de técnica que parece absolutamente avessa à de Simondon - que não autoriza, de maneira nenhuma, a validação de técnica como dominação em si mesma: “O conceito de razão técnica talvez seja ele próprio ideologia. Não somente sua aplicação mas já a técnica ela mesma é dominação (sobre a natureza e sobre os homens), dominação metódica, científica, calculada e calculista”360 No entanto, Marcuse insiste que a razão técnica se revela como razão política porque ambas são tributárias de uma racionalidade histórica específica. Parece-me então razoável afirmar que é daí que o filósofo imagina a possibilidade de uma outra técnica: “Determinados fins não são impostos apenas ‘posteriormente’ e exteriormente à técnica - mas eles participam da própria construção do aparelho técnico; a técnica é sempre um projeto sócio-histórico; nela encontra-se projetado o que uma sociedade e os interesses nela dominantes pretendem fazer com o homem e com as coisas. Uma tal ‘finalidade’ da dominação é ‘material’, e nesta medida pertence à própria forma da razão técnica”361 Por isso Marcuse, em outras partes, procura mostrar como a ciência, armada como constructo e método, articula o domínio instrumental da natureza ao mesmo tempo em que estabelece, pelo aparato técnico que sustenta e pelo qual é sustentada, as mecânicas de dominação do homem. Assim, a natureza reapareceria no “aparato técnico de produção e destruição” como um dispositivo dominado pelas mãos das ciências, aplicado na manutenção e melhora da vida dos homens ao mesmo tempo em que os faz submissos aos “senhores do aparato”. Mas é no cíclico eterno retorno ao “casulo de servidão” que Marcuse insinua alguma brecha: “...uma mudança na direção do progresso, que pode romper essa ligação fatal, 360 Idem, pág. 132. 361 Ibidem. 257 também afetaria a própria estrutura da ciência - o projeto científico. Suas hipóteses, sem perder seu carácter racional, se desenvolveriam num contexto experimental essencialmente diferente (o de um mundo apaziguado); conseqüentemente, a ciência chegaria a conceitos de natureza essencialmente distintos e estabeleceria fatos essencialmente diferentes”362 Inclusive uma nova técnica. O ponto de convergência que estou procurando demonstrar entre as insinuações de Marcuse e as ilações de Simondon talvez fique mais claro pelo contraste desenhado por Habermas, ao recusar a hipótese de Marcuse de uma outra ciência e uma outra técnica decorrentes de uma “racionalidade qualitativamente diferente”363. Habermas não desqualifica, num primeiro momento, as brechas apontadas por Marcuse: “De modo muito conseqüente, Marcuse não só tem diante dos olhos uma outra formação de teorias, mas também uma metodologia da ciência diferente nos seus princípios. O enquadramento transcendental em que a natureza se converteria em objecto de uma nova experiência já não mais seria o círculo funcional da acção instrumental, mas, em vez do ponto de vista da possível disposição técnica, surgiria o de um carinhoso cuidado que libertaria o potencial da natureza”364 Pela leitura de Habermas, o projeto de Marcuse parece aproximar-se, ainda mais explicitamente, de algumas concepções simondonianas. No entanto, o próprio Habermas recusa terminantemente ceder aos argumentos de Marcuse. Defendendo que a racionalidade gravada nos “sistemas de ação racional dirigida a fins” - simplificando, uma razão técnica - é uma racionalidade especificamente restrita, Habermas assevera: “Uma tal consideração desanima-nos, já que a técnica, se em geral pudesse reduzir-se a um projecto histórico, teria evidentemente de conduzir a um ‘projecto’ do gênero humano no seu conjunto, e não a um projecto historicamente superável”365 Tenho a impressão que a questão é justamente não reduzir a técnica como possibilidade de um único projeto histórico. A crítica pode reduzir-se a escolástica se não divisarmos o porque pensamos e para quê agimos. Os escolhos permanecerão obstruindo qualquer passagem: o devir, fora da experiência como história, é vazio. Por isso realizar os 362 MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade... Op.cit., pág. 160. O grifo é meu. 363 MARCUSE, Herbert. “Industrialização e capitalismo...” in Op.cit., pág. 134. 364 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência... Op.cit., pág. 51. 365 Idem, págs. 51. 258 efeitos das mãos pelo tanto que pensam, ali onde o pensamento nega-os pelos fatos: “o outro já germina no seu contrário e pode ser prefigurado sob forma de sua negação determinada”366. 366 FERRO, Sérgio. Nota sobre a Usina in USINA - Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, documento interno. São Paulo: mimeo, novembro 2004. 259 ENSAIO IV 260 O ABRIGO entre o “útil e necessário” e o “belo e verdadeiro” #1 arquitetura como arte & arquitetura como utilidade A impressão é que as configurações enantiomórficas de nossa existência biológica insistem imiscuir dualidades que se estendem na forma de oposições a todos os domínios da vida: entre esquerdo e direito, masculino e feminino, quente ou frio, positivo e negativo, também informamos esquerda e direita, opressor e oprimido, rico ou pobre, patrão e operário, técnica e cultura, homem ou natureza, o “bom, belo e verdadeiro” ou o “útil e necessário”. Uma espécie de síndrome de dualismo alcança a realidade social e insiste na existência de um único caminho de mão dupla. Conforme disposições classificatórias, também a arquitetura sucumbe a uma existência especular, particularmente quando discutimos função ou forma, objeto técnico ou objeto estético, arquitetura como algo “necessário e útil” ou como algo singularmente “belo e verdadeiro”. É entre os termos da polarização que me intrometo. O debate é controverso: fica difícil discernir, no horizonte, o que faz com que uma atividade como a arquitetura reúna argumentos para estatuir-se na condição de “objeto 261 estético”. Se lembrarmos Aristóteles, a proximidade entre técnica e arte pode enunciar um vínculo estreito, se consideradas suas gêneses no vocábulo comum. No entanto, parece-me que téchne deriva em dois ramos semânticos que deslizam, de modo não intercambiável mas muito imbricados - o artista ainda é um artesão -, até chegar nos tempos de hoje: a arte parece ir se instalando, lentamente, ao longo da história, nos elevados domínios do conhecimento abstrato pelo qual “contemplamos as coisas cujas causas determinantes são invariáveis” 367, daquele campo que reunia os conhecimentos intuitivos do mundo inteligível, distante das instâncias sensíveis, deliberativas e práticas de téchne e phrónesis. Esta nova geografia para o termo original parece conceder à arte uma espécie de alforria do mundo sensível e dos compromissos com as “coisas variáveis” do mundo mutável e impreciso: reivindica normatividade própria e um campo de referencial relativamente isolado. Platão não queria o pintor na República porque este era capaz de usurpar e desocultar a essência no simulacro de sua mímesis. Por outro lado, o ramo da técnica parece manter seus fundamentos naquele aspecto eficiente e útil daquela formalidade da razão que se ocupa com a capacidade raciocinada de produzir segundo finalidades que são exteriores à atividade em si mesma. Por referir-se a um fim que lhe é exterior, a técnica faz fungíveis seus princípios naturais - suas causas materiais e formais -, submetidos às determinações que lhes são alheias - finalidades eficientes. Parece-me que é deste aspecto que a arte de hoje procura distanciar-se, mesmo que a atividade ‘artesanal’ que lhe é imanente e o vínculo insuperável com a técnica prevaleçam como meios368. Talvez por isso a arquitetura acabe assumindo este caráter ambivalente, muito pelo tanto que preserva daquele aspecto eficiente e útil que falei - mais que a pintura, a escultura ou qualquer outra arte que assim possa se reconhecer. Lembrando Hegel, a arquitetura não 367 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, 1139a 7-9. 368 “Quase sempre favorável à técnica em abstrato, seu discurso [o do arquiteto] não é suficiente para esconder um desconhecimento e um desprezo na prática - o que é reforçado objetivamente pelas formas muitas vezes obtusas das técnicas aplicadas, vítimas também da mesma tirania. Uma falsa dicotomia se estabelece e desabrocha entre arte e técnica. (...) A falsa oposição entre a arquitetura e a técnica faz da produção um mistério para o arquiteto - e mesmo obstáculo” (FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 205). 262 recolhe um fim em si mesma, tem em vista uma exteriorização e sempre se afirma como necessidade - que faz parte de sua essência369. E talvez por isso também, a estética pratique verdadeiras acrobacias para receber a arquitetura como arte em seus domínios: é necessário revesti-la, paramentá-la, limpar os vestígios de sua fabricação, distanciá-la do mundo natural e dos intransigentes e mal humorados efeitos de uma gravidade que insiste em querer devolvê-la ao chão370. Tentando estabelecer o que é originário no fato arquitetônico em si, parece-me que o primeiro passo é isolá-lo do que lhe é duplamente exterior: se a finalidade primeira é necessidade e sua disposição como objeto estético decorre de sua existência enquanto conjunto forma & matéria, tenho a impressão que o termo originário é o objeto em seu aspecto eficiente e útil e por isso o chamo de abrigo. Como já me referi, o abrigo agrega forma, matéria, eficiência e finalidade como um indivíduo colocado no devir - primeiramente técnico e mediatamente estético. Qualifico o abrigo mais como aspecto e menos que instrumento, uma primeira afecção nos passos de um desejo de objetivação, no sentido aristotélico. Alguém poderia retrucar e dizer que já a forma, consubstanciada como idea e prescindindo do material, recolhe em si a eloqüência de um objeto estético - falo aqui do projeto. Mas seria abusivo atribuir existência sensível à essência de um princípio - Aristóteles agora me é útil - sem imaginá-lo disposto como sinolón. Além disso, o que asseguraria que um objeto necessário é sempre um objeto sujeito às normas e regras da fruição estética, impregnada por uma normatividade que é historicamente fluida? O exercício kantiano tem seus limites. Por estes termos, diria que o abrigo se abre como um amplo domínio no qual instalamos: (1) a arquitetura em si mesma - a boa e a má arquitetura, tanto faz; (2) o que 369 Como lembra Sérgio Ferro, o material na arquitetura “na ótica hegeliana, mantém-se demasiado presente, demasiado premente, demasiado atraente. Não se sublima, não recua o bastante diante do conteúdo conceitual (como na poesia ou na prosa): ele é ‘objetivo’ demais” (Idem, pág. 414). 370 “Arquitetura só abriga uma dimensão estética quando a coerência responsável do projeto está profundamente ancorada num comprometimento prático. Ou seja, quando responde, como técnica, à necessidade que a pressiona” 263 chamamos de arquitetura vernacular ou autóctone, essencialmente artesanal e resultado de um conhecimento técnico tradicional - essencialmente abstrata e analítica, usando os termos de Simondon; e (3) a imensa e desproporcional extensão dos objetos destinados ao atendimento da pura necessidade. Não faço estanques, contudo, os limites do que proponho: imagino o universo do abrigo como um campo de tendências para onde convergem os objetos técnicos: ou para o corpo da arquitetura vernacular ou para aquele da arquitetura stricto sensu - que, para minha comodidade, chamo aqui de arquitetura adventícia, por oposição ao significado de vernacular. Saliento: não trato como oposições, mas como resultado da permanência e movimento de uma resolução parcial e de caracteres abstratos no processo de individuação do objeto técnico abrigo. No sentido dado por Simondon, poderia dizer que a arquitetura vernacular é menos convergente, mais abstrata, aberta e analítica, enquanto que a arquitetura adventícia, mais convergente, mais concreta, fechada e sintética, portanto. Lembrando, não necessariamente: uma avaliação mais precisa pode indicar o contrário. O que justifica as tendências que defendo, é o fato de que nas configurações originais da construção, quando prevalecia o saber do ofício, onde a subjetividade analítica do artesão interpretava a individuação do objeto segundo um conhecimento decorrente da experiência, transmitido como uma tradição e operado a partir de uma sensibilidade natural, o objeto construído já se configurava como abrigo. Na etapa seguinte, quando a construção já é pensada e produzida a partir de mecanismos seriais ou até mesmo heterogêneos que organizam os diversos ofícios compartilhados nas corporações, quando o conhecimento é partilhado parcelarmente e a cooperação define o caráter do ajuntamento do originalmente separado, prevalece o aspecto abrigo. Mudando muito pouco, insistindo numa manufatura enrugada agora submissa ao desenho - não é mais coisa de um só e seus ajudantes, orifícios do trabalho, até hoje prevalecem os ocos entre suas especialidades - ainda é produção de abrigo, só que (Idem, pág. 54). A realidade da mecânica dos corpos e dos corpos sob a mecânica do modo de produção, contudo, são sistematicamente proscritas da dimensão estética. 264 agora cristalizando definitivamente os dois ramos de conhecimento aos quais me referi, na aparente dualidade canteiro & desenho - por que aparente, argumento mais tarde. Mas, mesmo lá atrás ou cá na frente, permanece o pressuposto teimoso que é atino e circunstância de sua produção: o aspecto abrigo, um componente primário da economia material da vida. Não se trata, contudo, de uma especialidade conceitual sem alma, sem carne e sem osso. É pelo aspecto abrigo que aparecem as pegadas, é por ele que conhecemos os elementos que nos informam os próximos passos, mesmo que não seja o que compreendemos como arquitetura: “O rastro começa como vestígio, índice do que produz no produto. Saber, saber fazer, instrumento, gesto etc. manifestam-se em seu resultado - se for conveniente, junção de causa e efeito, concordância entre meio e fim.”371 Pelas mãos do artesão, na operação complexa de gestos simples que se repetem desde sua ancestralidade, manipulando seus instrumentos, sua memória e percepção, esse objeto útil que é o abrigo, assume, sob certas circunstâncias, a aura benjaminiana como roupagem de ocasião, destituída dos compromissos com a materialidade aflitivamente poeirenta de suas entranhas: de aí decorre, assim, o discurso que foge, como o diabo da cruz, de qualquer diálogo com os alforriadores que pretendem fazer pular algum traço da produção material - que, engraçado, seria justamente o que dá alguma consistência à aura, ainda no sentido de Benjamin. Parece-me que há, aqui, uma dupla inversão: reescrevo a dualidade para argumentar sua limitação. A construção utilitária segue o pressuposto de uma relação objetiva com o mundo natural, vinculada à sua condição de resposta prática a uma necessidade material - o abrigo. A construção, vista como objeto estético, parte do pressuposto de um necessário distanciamento e descolamento de uma razão técnica ‘inferior’ que lhe é imanente, conduzindo-a para um novo patamar que a disponha à fruição e apropriação subjetiva, sucedânea do que Alois Riegl chamou de “vontade de arte”, e sujeita às tensões, como dizia 265 Worringer, que nos empurrariam entre uma einfhülung (pura projeção sentimental, intuição) e o desejo de abstração. No entanto, à construção demandada pela pura necessidade material aderem-se e superpõem-se referências, intrometidas pelas quatro causas, de um universo simbólico imaterial, que acabam transigindo, sem necessariamente algum acordo, com a pura finalidade utilitária atribuída ao abrigo: desde os amuletos nas soleiras e batentes de portas, passando pela forma e orientação do edifício ou pela ascética persistência de tradições familiares, ícones e referências existenciais, com os quais ornamos nossos ‘abrigos’ com vistas à ‘pessoalizá-los’ o máximo possível, até a concessão obediente aos imperativos comerciais que induzem o empastelamento definitivo entre o que é mau ou belo, entre o que é útil e o desnecessário. Mesmo aquele projeto, tecnicamente saudável e neutro, que salta de um desenho para a digestão do canteiro, brotará, lá adiante, reivindicando, para si, alguma subjetividade. Por outro lado, o discurso estético, aparentemente assentado num juízo de gosto que pretende uma universalidade subjetiva e destituída de interesse, racionaliza e, através da uma observação objetivante e de uma explicação teleológica para suas razões - semelhante à atitude teórica frente à natureza prescrita como objeto de conhecimento -, ‘desencanta’ o objeto estético de tal maneira, que sua reificação elimina qualquer possibilidade imaginativa 371 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 366. 266 para além de sua materialidade formal - que é o que lhe explica. Aquele objeto, disposto à fruição e que recusa os interesses do bom e do agradável, aparece, no discurso estético, como uma alma que esconde o corpo que lhe dá objetividade. Ou seja, não é só o gosto que se discute. Como não queremos ser gregos, insisto: arte, no sentido contemporâneo, já não é mais técnica, a não ser no interlúdio da mediação. O primeiro passo para se questionar a separação - se assim o quisermos - é admitir que o regime significacional presente enclausura os dois termos em campos distintos - e freqüentemente opostos. No que isso implica? #2 natureza e arquitetura Utilizo uma asserção simondoniana: as conseqüências da individuação do objeto técnico abrigo são também intelectuais. O modo de existência do objeto técnico abrigo, ao caminhar para alguma concretização, também se submete a um estudo indutivo: tem, para Simondon, o mesmo estatuto que uma estrutura natural. Como já disse, esta concepção parece inverter a relação entre ente vivente e ente fabricado, trazendo para adiante o mundo natural, como uma tendência à frente e não como um domínio para o qual voltamos as costas - o que, insistindo, não significaria franquear analogias frouxas: dizer que a toca de um joão-de-barro parece uma cúpula, ou que as árvores na floresta parecem uma composição gótica, seria novamente enviar a natureza para um atrás, para um antes que precede o entendimento que a explora num sentido puramente mimético. Os objetos técnicos são, nos termos de Simondon, esquematicamente diferentes de qualquer estrutura 267 natural - não repito os argumentos para economia de verbos. No entanto, se concordarmos com a idéia de que os objetos técnicos tendem para a concretude do objeto natural, não seria incorreto dizer que os sistemas de causalidades recorrentes, o nível de coerência interna entre elementos e a ressonância que caminha por transdução no processo de individuação dos objetos naturais podem, também por transdução, informar a invenção ou produção do objeto técnico, entre eles o objeto técnico abrigo. O fundo é comum, a forma agrega elementos e esquemas que pertencem àquele fundo para criar um novo indivíduo, acessados pela sensibilidade do homem que aproxima a sua individualidade para participar da individuação. Contudo, não seria equivocado estabelecer juízo lógico a uma pedra? Não é do que se trata: desde os gregos sabe-se que a lógica é um atributo humano, uma obra do entendimento e não é a natureza que pretende nos entender mas somos nós que queremos entender a natureza. Parece-me que ocorre, no entanto, uma introversão do julgamento objetivo, absolutamente restrito às formas inteligíveis do acordo entre natureza e objetos técnicos, recusando um possível reconhecimento do que há de natureza no produto humano ou de humano imbricado no que é técnico; como se, pelo juízo prático e moral, reconhecer um fundo informacional que nos é ao mesmo tempo imanente e desconhecido, permeável porém extenso demais, cognoscível mas muitas vezes incompreensível, seria admitir a finitude humana, uma profunda ignorância e negação de humanidade. Tento ser mais claro: sabemos que não existe uma “arquitetura da natureza” excessos verbais podem causar sérios danos. Tomo um exemplo. Instala-se um certo desconforto quando afirmamos que o objeto técnico abrigo é, necessariamente, sujeito às determinações da gravitação universal. Talvez até pela obviedade. No entanto, a dureza e a gravidade da pedra são sistematicamente desafiadas por um contorcionismo estrutural que, muitas vezes, insiste em colocar a pedra onde ela ‘não quer’ e nem do modo como ela ‘gostaria de estar’. 268 Dentro do conjunto arquitetônico construído para abrigar a Exposição Mundial de Lisboa, em 1998, há um edifício, à beira do Tejo, destinado a abrigar o Pavilhão de Portugal. Separado em dois corpos, um deles é uma praça coberta: um conjunto de pórticos estende, como se fosse um tecido, uma ampla e muito esbelta cobertura em cabos que são protegidos por uma diminuta envoltória de concreto que assegura a impermeabilidade e a função de abrigo372. A estrutura, que se assemelha a uma lona, é literalmente pendurada, formando uma lâmina com a geometria da catenária, sustentada pelos pórticos que funcionam como contrafortes para absorção das cargas horizontais provocadas pela tensão nos cabos. Parece um exagero - e é, se considerarmos todas as questões que obstruem um juízo de gosto, no sentido de Kant (fundamentar o juízo no agradável ou no bom, interesses que se interpõem na complacência do belo, segundo o filósofo). Proponho, contudo, destituí-lo de interesse para submetê-lo a um outro juízo: o julgamento de seu grau de concretização, nos termos de Simondon. 372 O projeto foi conduzido por Álvaro Sisa, arquiteto português bastante conhecido na atualidade. A praça coberta mede 65x50m e é destinada para eventos públicos (VILLALOBOS, Bárbara; MOREIRA, Luís, orgs. Lisboa Expo’98. Lisboa: Editorial Blau, 1998, págs. 120 a 129). Certamente restam antagonismos residuais: dispersão de águas pluviais, acomodação de esforços tangenciais no sentido transversal da lâmina etc. Contudo, mesmo os antagonismos residuais se mantêm como natureza. 269 Por um caminho que pareceria lógico, seria natural recomendar a utilização de um tecido, de uma lona impermeável e resistente o bastante para acomodar os esforços de tração - numa palavra, uma grande toalha. Seria mais leve, resultaria na mesma composição geométrica, os esforços nos contrafortes seriam reduzidos etc. Contudo, seria natural também que a lona, por ser mais leve, ficasse sujeita à inversão de sua forma - assumisse a geometria de uma abóbada mas sem sua capacidade estrutural - na medida em que o vento, ao passar pela estrutura, promovesse uma camada de baixa pressão na face superior dessa lona, sugando-a para cima e desestabilizando todo o conjunto. Para enrijecer a lâmina, a solução foi introduzir um regime de causalidade recorrente, isto é, usar uma fragilidade do sistema para reduzir antagonismos residuais, como diz Simondon: a idéia foi imaginar a cobertura já como uma abóbada invertida. Ao mesmo tempo em que a força da gravidade atua na lâmina, fazendo-a assumir a forma da catenária, os intervalos da malha de cabos são preenchidos com concreto, impedindo a inversão da geometria ao mesmo tempo em que dá conta da questão da permeabilidade. Resumindo, a estrutura funciona ‘para cima’ e ‘para baixo’: ou como a lona estendida, sujeita e resistente à gravidade, ou como uma abóbada catenária invertida, sujeita e resistente aos esforços invertidos provocados pelo vento. Interferindo numa fragilidade do sistema, transformo-a numa vantagem. O regime de existência desse objeto técnico regula-se por uma adequação entre o meio natural e o meio técnico, desenvolvendo em si um meio associado de causalidades recorrentes. Ora, é a natureza que dialoga e permanecerá dialogando com a estrutura o tempo todo: os esforços não cessam com o término da obra, continuarão atuando enquanto o edifício existir. Mas o que é significativo neste diálogo é o modo como ele se realiza: ele faz o objeto arquitetônico conatural do natural. As informações trocadas pertencem a um fundo único, do qual a forma final é tributária. Quando olhado assim, pelo gosto ou desgosto, o juízo deixa de reconhecer o que 270 há de natural na técnica e o que há de técnico no natural. Pela sua própria fisiologia, o juízo de gosto implica sempre na racionalidade apodítica de uma vontade de forma, refratária às demandas que eventualmente a mecânica dos corpos e o tempo da matéria vierem apresentar; o julgamento arquitetônico da forma, sob um ponto de vista corriqueiro, é visto como atitude que tem que se submeter exclusivamente à racionalidade formal e jamais ao determinismo da mecânica dos corpos e até mesmo à técnica: esta, eu submeto à minha vontade de forma. Assim, uma ginástica estrutural qualquer pode parecer normal (como as formas contorcionistas de Niemeyer no caminho de Niterói). Ao recusar sugestões para mudanças no projeto para o Convento de La Tourette, Le Corbusier afiança o juízo nas ordens subjetivas do gosto - o seu -, recusando alguma franqueza - e fraqueza - perante um domínio que pretende submeter a pulso. “Rejeita as reclamações de bom senso vindas da obra. Aplica o modulor que idolatra a regra de ouro mas desconhece as medidas dos materiais”373. #3 arquitetura com e sem arquitetos Talvez essa relação um tanto esquizofrênica promovida pela distinção entre o “belo e verdadeiro” e o “útil e necessário” seja também responsável por um já antigo antagonismo entre arquitetura vernacular e arquitetura adventícia. A primeira, concebida e feita pelo senso comum, estabelecida sob pressupostos não organizados sistemicamente (do ponto de vista do sistema hegemônico estabelecido pela ‘alta cultura arquitetônica’), construída sob a ordem de uma ‘cultura’ construtiva autóctone e sem nenhum compromisso ou pretensão de pertencimento a um lugar num sistema das artes, nos termos de Hegel, e abstratamente organizada, conforme Simondon. A segunda, pelo contrário, pretende até constituir ‘campo de conhecimento’ próprio e autônomo, com lugar assegurado naquele sistema das artes, uma vez que articula fontes distintas e parcelares do conhecimento formal, organiza-se forçadamente a ponto de se 373 FERRO, Sérgio. Arquitetura e ... Op.cit., pág.217. 271 estabelecer sob forma tratadística e pressupõe vínculos diretamente interferentes no corpo amplo da cultura tradicional. Opõe-se ao conhecimento autóctone assim como se opõe à sabedoria das mãos dos operários na construção civil que, submissas, sujeitam-se ao contrato que lhes comprou o gesto 374 . Uma oposição que faz reaparecer o antagonismo entre conhecimento prático e autóctone e conhecimento teórico e formalmente organizado; entre senso comum e saber conceitualmente estruturado: trato disso um pouco mais adiante. Nesse contraponto, deita-se fora a água com a criança junto na medida em que se borram os contornos de uma tecnicidade que vai sendo, metodicamente, descolada, isto é, alienada em relação ao objeto que lhe conforma. A construção vernacular, que também é um aparato técnico - ainda que muito abstrato, nos termos de Simondon, mas posto em movimento num processo de individuação -, acaba descartada, seguramente encarcerada no universo natural de sua re/produção. É anacrônica, arcaica e miserabilista. Ou seja, não interessam à arquitetura adventícia os obscuros mundos de transformação da matéria, das entranhas onde o homem não penetra para participar do que ali ocorre, entre elas e a forma, a idea: o que não tem lógica apreensível não pode informar o entendimento. Ainda que previsíveis, os eventos que regulam a construção vernacular rememoram profundamente a irregularidade e a inconstância, submissos apenas ao cálculo de aproximação e ao controle operativo de uma convergência, sem que se submetam suas causas. Dali, consumindo os vestígios e as cicatrizes de uma forma e uma matéria que parecem fundidas por uma obra do acaso, ‘eleva-se’ o patamar, instalando o resultado material daquele aparato técnico que é o objeto arquitetônico em um universo abstrato de fruição, transformando-o em pura transcendência estética, onde pouco importa quem o produziu e como foi produzido: a construção vernacular é por demais próxima ao produtor. Neste patamar, os olhos sublimam as mãos, como uma distração flutuante e involuntária - paradoxalmente consciente e sistemática diante dos canteiros sujos e aparentemente indisciplinados da construção vernacular que em muito se assemelham à teimosa 374 “O poder que, finalmente, os arquitetos obtêm no tempo de Palladio só se justifica através de um suposto saber - que eles anunciam, do qual se vangloriam, que pretendem dominar (basta ler os tratados da época). Ora, esse saber é vazio. Lembremos que, para justificá-lo bem, esse saber não pode ser o dos operários (nem mesmo sua soma: apenas a síntese semicientífica do século XIX se prestará a tal utilização). Ele precisa, portanto, vestir-se com as armadilhas do engodo” (Idem, pág. 355). 272 condição manufatureira e artesanal da construção adventícia. Por estes feitos, a cultura arquitetônica e o debate sobre seus objetos parecem sempre querer esconder as dimensões privadas e obscuras que, genealogicamente, os fez aparecer. Sua materialidade poeirenta, os processos reagentes vividos pelas suas entranhas e os segredos das mãos que os criaram carregam o signo da fuligem dos porões onde foram forjados, cabendo apenas, aos modos de sua produção, instruir procedimentos para o progresso de sua reprodutibilidade técnica - que se acumulam nos manuais de engenharia. Como um objeto ainda muito abstrato, a construção adventícia tecniciza-se agora pelo trabalho do homem em relação a outros homens, instalado no modo de produção que faz a realidade técnica transformar-se em labor: esforço e suor, ofuscamento, asfixia, cansaço e dor. Mas há uma permanência irritante do vernacular que recusa descartá-lo como conhecimento e informação. A condição abstrata de sua estrutura analítica permanece praticamente a mesma nas formas adventícias contemporâneas do objeto arquitetônico: mesmo que se insista numa ‘indústria da construção civil’, o regime da operação que produz o compósito forma & matéria continua artesanal - isto é, tão artesanal quanto aquele regime disposto para a individuação do objeto vernacular. A recusa ao vernacular manifesta preconceito. Mesmo que permitido em alguns círculos da cultura arquitetônica, ainda é visto como curiosidade de ofício, como se caminhássemos pelas alamedas de um zoológico, cativados pela nobreza primitiva de manifestações construtivas tão atrasadas. Pouco ou quase nada contribui para compreendermos uma fase de individuação do objeto técnico abrigo. É freqüente também recusá-lo porque vinculado a culturas ‘inferiores’, tribos, índios, aborígines que pouco contribuem para o progresso da civilização: misticismo exacerbado no tratamento icônico do abrigo, precariedade e singeleza miserável dos materiais utilizados, primarismo de soluções formais etc. Ou então, associado àquilo que mais queremos negar: à exigüidade material do meio técnico que aparentemente restringe as possibilidades de adequação ao meio geográfico, defletem atraso, pobreza e descompasso. Como já registrei, não é porque um objeto é mais antigo que se permite considerá-lo mais atrasado. É necessário analisar a convergência na gênese do objeto, o regime de causalidades, o nível de reciprocidade destas causalidades, como no exemplo da janela medieval e da esquadria de alumínio atual. Pode ser que se descubram antagonismos residuais que denunciem um baixo grau de concretização de um objeto atual quando comparado a outro mais antigo. Além disso, o arranjo dos elementos numa composição vernacular não é, 273 necessariamente, o mesmo que aquele agenciado na produção da arquitetura adventícia. Portanto: os elementos de um conjunto técnico abrigo situado como vernacular pode informar outras possibilidades de arranjo na produção formal da arquitetura adventícia; o objeto arquitetônico adventício é, ainda, uma resolução parcial num processo de concretização de um objeto técnico - senão, considerando Simondon, teríamos consumido a distância assintótica entre entes viventes e entes produzidos tecnicamente. Um conhecimento não pode descartar o outro no movimento de individuação: os elementos passam de um aparato para o outro de modo não linear, informando esquemas que não são necessariamente colocados no mesmo lugar do aparato que se fez outro. #4 técnicas ‘alternativas’ & arquitetura ‘alternativa’ Há uma equação bastante perversa que associa sistemas construtivos e técnicas chamadas alternativas. Na verdade, é uma equação que indica dois resultados. Por um lado, temos observado uma proliferação razoavelmente intensa de proposições que defendem o emprego de materiais e sistemas construtivos alternativos aos produtos industrializados normalmente aplicados. A academia tem sido bastante fecunda neste setor. Mas, além dela, uma série de grupos e organizações vem promovendo cursos, treinamentos e ‘vivências’ em ritmo de colônia de férias, congregando um número bastante razoável de estudantes, profissionais da arquitetura e outros ramos de atividades, para aprender a construir com terra, palha, bambu etc. ou produzir equipamentos para o abrigo como vasos sanitários que não utilizam água (bason), sistemas de captação, armazenamento e uso de água de chuva acumulada em cisternas, entre tantas outras ‘alternativas’. Ganharam, nos últimos tempos, nomes sintomáticos como bio-arquitetura ou permacultura. O argumento que defende uma tecnologia leve, neste sentido, é, principalmente, a sustentabilidade ambiental ou uma ‘relação mais harmônica’ com a natureza, propondo uma extração mais ‘delicada’ dos recursos 274 energéticos que ela provê, adequadamente batizada de energia limpa: argumentos que vêm fundamentando inúmeros projetos de pesquisa, angariando recursos bastante volumosos para seu desenvolvimento, ou seduzindo um contingente bastante significativo de estudantes e profissionais para uma semana de imersão no psicotrópico mundo das técnicas alternativas. Não me parece, contudo, que o problema seja o modo como se articulam materiais, técnicas construtivas e desenho do abrigo; neste caso o problema não é o objeto técnico em si, mas todo o aparato aplicado na produção deste objeto técnico, alcançando inclusive sua extensão responsável pela produção dos materiais construtivos. O canteiro é uma forma manufatureira de organizar analiticamente as operações artesanais - ainda o é e assim parece que será por um bom tempo375. O canteiro de obras exige que o artesão - ou o operário, se observarmos o artesão pela sua relação de trabalho - complete com seu corpo, seus músculos e a inteligência de suas mãos o movimento de individuação do objeto técnico abrigo. Mas, na maior parte das vezes, os componentes são provenientes de uma planta industrial: materiais hidráulicos, elétricos, de revestimento, o próprio cimento ou até mesmo blocos cerâmicos laminados (são produzidos industrialmente, em processos já bastante mecanizados). Quanto mais procuramos convergência interna no processo de produção do objeto abrigo, mais demandamos componentes industrializados: modulação e regularidade nas dimensões dos elementos construtivos, por exemplo; ou argamassas prontas, peças pré-fabricadas, estrutura metálica etc. Isso significa que, quanto mais procurarmos a concretização do objeto técnico abrigo, maior a demanda por produtos e sistemas industrializados ou produzidos heterogeneamente, ampliando o foco do problema das relações de produção para além do canteiro e sua manufatura serial: são corpos, linfas e sangue expropriados na produção de 375 Em um depoimento a Pedro Fiori Arantes, Sérgio Ferro comenta a postura do grupo que fazia parte, nos anos de 1960: “Era evidente, a construção civil não caminhava para a industrialização; ao contrário, mesmo que pudesse, ela não se industrializaria rapidamente - a construção civil ‘atrasada’ é essencial para frear [a] queda da taxa de lucros. (...) Em segundo lugar, uma vez que a manufatura iria ainda permanecer, nós estávamos dispostos a trabalhar dentro dela; afinal, trata-se de um meio de produção como outro qualquer, não tem virtudes nem defeitos intrínsecos, depende da forma como é utilizado” (Idem, pág. 276). 275 componentes que não vão aparecer no canteiro preocupado em se ‘industrializar’. Pelo contrário, quanto mais recusamos sua utilização, mais e mais corpos, linfas, mãos e pés serão necessários para cavar, carregar, amolentar, distribuir, empilhar etc., no canteiro mantido em sua ordem analítica e serial - um exercício que em nada me sugere harmonia ou sublime relação com a natureza. O abrigo, por circunstâncias técnicas e estruturais, ainda depende muito da inércia: ou obtida pela forma e pela geometria - um passo no grau de concretização e redução de antagonismos residuais, como exemplifiquei com o caso das abóbadas -, ou assegurada pelo peso próprio - matéria sobre matéria e mais matéria. Ora, se visto por este aspecto, a defesa de uma tecnologia leve, de uma “tecnologia alternativa” para produção do abrigo, ou significa tornar mais analítico e artesanal o aparato técnico estruturado como canteiro - descarregando no corpo dos indivíduos humanos os antagonismos residuais que os indivíduos técnicos não regulam por si mesmos -, ou significa ceder a realidade técnica aos imperativos econômicos que lhe são externos, o problema do custo: também um dos freqüentes argumentos para justificar a pesquisa acadêmica em tecnologias alternativas para, principalmente, aplicação na produção de moradia para os pobres376 - e aqui chegamos ao outro resultado da equação perversa. Parece-me que esta equação, compondo as mesmas constantes e variáveis num arranjo distinto, disfarça um sistema de desvalorização relativa do produto técnico abrigo em função da qualificação econômica do usuário: baixa taxa de recursos investidos - porque são sistemas alternativos de produção do abrigo ou porque se trata de uma questão ambiental, uma questão de sustentabilidade - associada à justificativa formulada a partir da condição econômica do usuário - porque é para o pobre, destina-se a um sujeito que não dispõe de recursos para pagar por uma tecnologia não alternativa. Na verdade, o imperativo econômico é fundado numa perequação que é exterior à realidade técnica envolvida na produção do abrigo para os 376 A universidade cumprindo sua função social. 276 pobres: a baixa taxa de investimento em capital dinheiro inicial é decorrente da incongruência entre valor total investido e capacidade de endividamento do pobre, forçando uma redução artificial (sistemas construtivos e materiais ‘alternativos’) na qualidade do produto para manutenção da relativa taxa de lucro e de mais-valia. Isto é, pobre não dá retorno. Como decorrência, é por entre os elementos dessa equação que se disfarça uma outra perversidade, tão grave como a anterior: porque é abrigo para pobre, a pesquisa é admissível, ali é possível experimentar, ensaiar e, se der errado, não tem problema - desde que não comprometa a reprodução do capital investido. É por esta operação que a pesquisa de materiais ‘alternativos’ vem alimentando a introdução de novos elementos construtivos no mercado da construção civil: se numa fase de individuação estes elementos ficam dispostos a uma evolução técnica razoavelmente independente, são literalmente seqüestrados pelo mercado da construção civil na medida em que os pobres confirmaram sua eficácia em termos de alguma qualidade e, principalmente, em termos de reprodução de valor. É o caso, por exemplo, do tijolo de solo-cimento: se no final dos 1970 e início dos 1980 a pesquisa com o compósito terra e cimento ganhava alguma visibilidade enquanto possibilidade de material construtivo, já no início da presente década podemos encontrar um grupo razoável de empresas comercializando o tijolo de solo cimento, arengando suas virtudes que, de início, eram circunscritas aos estreitos e precários canteiros de obras em favelas ou de moradias populares377. Por um caminho ou por outro, são determinações externas que acabam implicando no ajuste de sistemas que pretendem dar conta dos antagonismos residuais dos quais fala Simondon: pensa-se no sistema construtivo como um paliativo para uma relação mais leve com a natureza ou para redução de custos e manutenção da taxa de lucro e mais-valia, e não 377 “Enquanto houver a possibilidade de venda de um produto produzido com meios arcaicos baseados na força animal, o que significa, enquanto não for imposto pelas regras da concorrência a redução do valor da unidade produzida, não haverá progresso. O capital faz avançar as forças produtivas mas ‘na marra’ e a contragosto. Por que se arriscariam os capitalistas se, com o ‘know-how’ adquirido, hábitos depositados, equipamento amortizado, administração e operários com comportamento conhecido e controlado produzem e vendem? Para que tentar e ousar temerariamente?” (FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 85). 277 na coerência interna do aparato técnico a que corresponde. Mesmo relevando as injunções exteriores, ainda assim a pesquisa dos elementos construtivos tem sido conduzida por uma complexificação dos sous-ensembles, aqueles organismos infra-individuais que estruturam o objeto técnico. Os sistemas construtivos que fazem uso da madeira são um exemplo. Apesar da ancestralidade do material e de seu uso na arquitetura já muito freqüente, é atualmente um dos sistemas construtivos mais complexos em termos de soluções de segurança: inúmeros sistemas particulares para defesa do funcionamento coerente entre partes como apoios e encaixes metálicos que assegurem o isolamento entre madeira e água, controle da indução térmica, materiais de revestimento e pintura para protegê-la da ação de térmitas, fungos e também do fogo etc. Na maioria das investigações e experiências com madeira não se busca a convergência entre as funções internas dos materiais empregados. Da mesma forma, uma certa nostalgia em relação aos sistemas abstratos e artesanais também conjuga posturas projetuais e construtivas que têm assumido diversos modos de manifestação, ainda provocados por determinações provenientes do exterior: posturas que recomendam a utilização de sistemas alternativos na produção da casa do burguês que, “como ele próprio, existe para os outros”. Uma vertente da tecnologia alternativa tem sido empregada para produzir uma arquitetura também alternativa, agregando valor de tesouro ao abrigo pela inscrição de “bizarros caprichos” que são aplicados no uso conspícuo do objeto arquitetônico: o up to date pode ser morar numa casa de pedra e barro378. Mas construir com terra não significa, necessariamente, abandonar o conhecimento mais sintético ou os ensembles e indivíduos técnicos mais concretos obtidos com o aprendizado técnico pelo modo do engenheiro de Simondon. Por outro lado, recusar a terra como opção material para um sistema construtivo qualquer significa desconsiderar a 278 permanência e a transdução do conhecimento, descartando suas formas analíticas articuladas pelo modo artesão. Mas se pensarmos a construção do objeto técnico abrigo levando em conta a interação entre meio técnico e meio geográfico, bastaria para percebermos o quanto fica difícil construir moradias para os pobres numa favela que não dispõe de terra. Seria necessário compreendermos o diálogo entre meios para podermos estabelecer o caminho inverso na análise de pertinência ou não de um determinado material ou sistema construtivo, permitindo que insuficiências de um lado e insuficiências de outro, organizadas conforme a logicidade de possíveis convergências internas do meio associado, dessem conta de um processo efetivo de evolução técnica, em direção a ensembles e sistemas mais concretos. Para tanto, não me parece conveniente restringir preconceituosamente e de antemão qualquer possibilidade. Há uma tendência a uma oposição entre os defensores de uma arquitetura alternativa, disposta como avatar que prega uma relação mais equilibrada com uma natureza ainda estática, e aqueles que maioria - reagem visceralmente, de forma explícita ou implícita, acusando essa arquitetura alternativa de arcaísmo, anacronismo ou até mesmo de elogio à miséria. Recusam ou negligenciam importância e qualquer atribuição de seriedade às pesquisas que se realizam neste sentido. De um campo a outro, contudo, se há algum diálogo, trata-se, na maioria das vezes, de circunstância: ou interessa às mecânicas de reprodução de valor - mercado e academia -, ou destina-se à função tesouro e ao uso conspícuo. Campos opostos, as abordagens que recusam ou defendem uma tecnologia alternativa não se permitem olhar cuidadosamente o sistema de coerências internas de cada indivíduo técnico, sujeitando-se às restrições oriundas das razões exteriores, marcadamente de ordem mercadológica e da cultura comercial ou da crítica arquitetônica formal. 378 “O tesouro não tem somente uma forma bruta, tem também uma forma estética” (Idem, pág. 73); referências a uso conspícuo e valor de tesouro, bem como citações no parágrafo, conforme FERRO, Sérgio. Arquitetura e... 279 #5 a sustentabilidade do abrigo Em território contíguo, os preceitos de uma arquitetura sustentável - parentes próximos dos esquemas organizadores do que hoje se chama de engenharia ambiental parecem recolher grande parte do receituário que a tecnologia alternativa administrou ao longo dos últimos 35 anos. Reproduzem, assim, boa parte das idiossincrasias que relacionei anteriormente. Mas há dois aspectos que me parecem referir-se exclusivamente a este novo campo de pesquisas e produção arquitetônica e urbanística - particularmente. A utilização de recursos naturais coloca-nos a uma distância muito estreita com a natureza: nos pressupostos da engenharia ambiental, ficam explícitas as relações com os regimes dos corpos d’água, comportamento dos solos, humores das massas atmosféricas, transformações orgânicas da matéria etc. Isto é, intensifica-se a relação e a necessidade de reconhecimento do meio geográfico. Mas uma atitude bastante comum entre ambientalistas - e que entram em conflito direto com alguns segmentos da engenharia urbana - é uma dessimetria entre meio técnico e meio geográfico, promovendo uma espécie de decalagem no meio associado, uma desproporcionalidade entre aspectos técnicos e naturais. A maior importância relativa estabelecida para o meio geográfico - decorrente até mesmo das abordagens que ali se empenham -, acaba levando os ambientalistas a posturas que tomam, por pressuposto, uma relação de alteridade reificada com a natureza. A defesa da integridade desta relação resvala ironias tão assustadoras que me reservo o direito de não reproduzi-las. Mas conduz também a contradições de fato: como por exemplo, a defesa de faixas non aedificandi ao longo dos corpos d’água que atravessam grandes centros urbanos. Por uma série de razões que aqui não vem ao caso, amplos contingentes da população urbana instalaram-se, ao longo do tempo, justamente Op.cit., particularmente págs.72 a 75. 280 junto a estes corpos d’água: restaram-lhes as beiras de rios e córregos ou até mesmo áreas que apresentavam insurgências de água (as minas). Talvez porque a questão ambiental não era uma questão, a engenharia urbana promoveu com bastante liberdade, desde sempre e particularmente nos países acometidos pela síndrome do atraso379, um intenso reordenamento da natureza que lhe atravessava: canalizações, pontes, vias veiculares expressas etc., implicando também numa geografia urbana bastante distante daquela que hoje defendem os ambientalistas. Se prevalecerem as formulações mais radicais do discurso ambientalista, uma boa porção dos habitantes das cidades, se já mora mal, não terá sequer para onde ir. Pelos mesmos motivos, seria necessário inventar um outro padrão de circulação urbana, que prescindisse da circulação viária pelas marginais de fundo de vale - o que não é ruim, se consideradas as implicações de todo o ensemble técnico - que, insisto, é a cidade. Imagino que este fato é suficiente para exemplificar o ritmo dos conflitos entre concepções que tendem a privilegiar ou o meio geográfico - a engenharia ambiental - ou o meio técnico - a engenharia urbana. Se radicalizadas enquanto tendências, por um lado recusam compreender a cidade como um ensemble técnico infinitamente complexo que se individua como uma “máquina aberta” ainda muito abstrata e analítica, onde indivíduos humanos - ricos e pobres (muitos) atuam com seus corpos, participando desta individuação: ecologia não é, então, exclusividade dos ricos. Por outro lado, tais posturas, se tensionadas como tendências reativas, recusam relacionar meio geográfico e meio técnico, negando simetria e acordo entre cada um dos meios para composição de um meio associado: como se traíssem a natureza que se propõem defender. Por razões semelhantes àquela que envia a natureza para um antes do entendimento, para um atrás que tem à frente de si um indivíduo humano que lhe quer uma proximidade comparativa ou puramente mimética, o ambientalismo exacerbado não se dá conta que fundamenta suas posturas a partir de uma concepção de natureza muito próxima daquela 379 Ou “obsessão do descompasso”, como diz Alfredo Bosi, citado em SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas... Op.cit., pág. 49. 281 contra a qual julga defendê-la: é um outro que, indefeso, ou se presta às regras da reprodução de valor, ou carece de uma empertigada proteção. Mas, no entanto, é sempre um outro. Um outro aspecto: quando o discurso ambientalista se radicaliza e recusa compreender as dinâmicas e condições do meio técnico, recusa também as roupas que veste, o alimento que digere e os meios de locomoção que utiliza. Muitas vezes a produção de energia limpa ou de objetos e produtos ecologicamente corretos envolve uma tão extensa cadeia produtiva que é praticamente impossível descartar seu comprometimento, em alguma parte, com operações danosas à natureza. O abrigo sustentável - muitos o divulgam como construção ‘ecológica’ - não observa a cadeia produtiva em toda sua extensão, maior parte das vezes. Por um lado, não se questiona se um componente industrial aplicado na sua produção consome mais ou menos biosfera; por outro lado, não se ocupa com o como será produzida nem com a sustentabilidade dos indivíduos que terão que construí-la. A sustentabilidade é do objeto técnico em si, não do ensemble aplicado na sua produção. O ensemble é, boa parte das vezes, precário: insiste-se na coleta seletiva de lixo mas não são estabelecidas condições para o meio técnico suportá-la. Assumindo a categoria de serviço urbano, o recolhimento de lixo limpo, rico em materiais recicláveis, é promovido por grupamentos cooperativos que não dispõem nem de estrutura compatível com o volume de lixo produzido, nem de condições formais de trabalho minimamente dignas para efetivá-lo. Como indivíduos, os catadores de lixo agrupados continuam aplicando seus corpos e suas mãos em troca de uma relação desproporcional entre meios de produção e produto, alimentados a conta-gotas por um mercado ávido por matéria prima a baixíssimo custo - ainda a reciclagem remonta a perequação da reprodução de valor, um atraso necessário que alimenta a voracidade de taxas de lucro da organização industrial. A coleta seletiva de lixo se tecniciza por através da miséria em que é mantido o ensemble técnico, do qual faz parte o catador. Atendo-me aos termos que aqui agencio, o que parece é que o discurso da 282 sustentabilidade em arquitetura e urbanismo ainda é pautado por aquele descolamento entre o “útil e necessário” e o “belo e verdadeiro”, permitindo ao discurso ambientalista uma reinterpolação entre os termos, restabelecendo o necessário junto ao belo e recusando o que considera apenas útil, ainda que verdadeiro. #6 conhecimentos exclusivos - o arquiteto e o artesão Retomando os domínios de fabricação e utilização do abrigo, a impressão que tenho é que as conseqüências intelectuais da cisão operada entre o “útil e necessário” e o “belo e verdadeiro” também atingem o modo como se articulam e se relacionam os modos de conhecimento entre artesão e arquiteto (trato aqui do artesão na sua representação como operário da construção civil, reforço). Desde o modo grego de encarar as coisas, aquilo que é por arte automaticamente separa-se do que é por natureza e a Física aristotélica, assim, arranja em termos opostos razão e sensibilidade, mundo inteligível e sensível, lógica e fenômeno. Por esta operação, somos convidados para fora do mudo mundo da natureza em direção ao verborrágico mundo das formas, as responsáveis últimas pelas verdades e belezas que criamos para nosso deleite. Parece-me que é assim que isolamos um sistema das artes daquilo que é simplesmente o produzido, daquilo que é eminentemente técnico; por aí separamos também o conhecimento teórico e o conhecimento prático, nos intrincados meandros do exercício do ofício. Como já me referi em nota, Platão e Aristóteles - particularmente na Física apresentam um exemplo para caracterizar as duas modalidades de conhecimentos presentes nas “artes que dominam a matéria”: o timoneiro, que domina o conhecimento de como fazer uso do 283 timão, e o artesão - um carpinteiro - que sabe como o timão deve ser fabricado: melhor madeira, ferramentas adequadas e competente convergência de gestos380. Um arquiteto - architekton para Platão e Aristóteles, é o sujeito que, em oposição à idéia de artesão, agencia conhecimento intelectual metodicamente tratado, estabelecendo conexões lógicas entre informações parciais e passíveis de transmissão num “ensino de caráter racional” e essencialmente matemático381. Por outro lado, o artesão - um keirotechnes - é aquele que aprende por aptidão, pelo lento e habitual amolentar rigoroso da matéria, adaptando-se, “graças a uma espécie de faro adquirido na própria profissão, àquilo que a matéria - sobre a qual age - comporta sempre de mais ou menos imprevisível e incerto” 382 . As artes arquitetônicas, segundo Aristóteles, são as artes que conhecem a forma enquanto que as artes produtivas, dominam a matéria. Mas o próprio Aristóteles deixa transparecer uma certa dificuldade de isolar os termos - passo-lhe a palavra: “Las artes que dominan la materia y la conocen son dos: unas consisten en saber hacer uso de las cosas, y otras, que pertenecen a las artes productivas, son las arquitectónicas. El arte de hacer uso de las cosas es de algún modo tambíen arquitectónico, aunque ambas se diferencian por el hecho de que las artes arquitectónicas conocen la forma, mientras que las artes productivas conocen la matéria.”383 O tempo do artesão é o tempo aprendido, esperado e agarrado astuciosamente no momento certo - o kairós que, conforme Platão, o gesto não pode deixar passar sob pena de perder toda sua obra384. Seria plausível afirmar, contudo, que aquele conhecimento intelectual do arquiteto se processa, em ampla medida, por uma sistematização teórica e matemática do agir do artesão, como se o tempo do arquiteto de Aristóteles fosse, por sua vez, uma espécie de kairós oportuno que se apropria, no tempo certo, não só da mecânica do gesto do artesão transformando-o em geometria e conectando-o a outros domínios da operação de fabricação mas, mediado pelas mãos do artesão, também da tecnicidade da própria operação. Pelos mesmos motivos que o artesão não penetra no momento da tomada de forma pela matéria, 380 ARISTÓTELES. Física. 194b, 5 a 10; PLATÃO. Crátilo. 390d. 381 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 46. 382 Idem, pág. 63. 383 ARISTÓTELES. Física. 194b, 1 a 5. 284 também o arquiteto não participa da tecnicidade em si mesma deste evento. Se a modalidade e o uso do kairós são distintos, o processo de individuação do objeto técnico não o é: o limite de conhecimento para arquiteto e artesão é o mesmo. O que realmente parece distinto é o modo como o kairós de cada um é resultado de diferentes topologias de aproximação: se o artesão tem os olhos e a atenção postos na operação, se todo seu corpo se aplica colaborando com a individuação do objeto técnico que fabrica, o arquiteto distancia-se, pode ter seus olhos, seu corpo e sua atenção voltados não só para aquele evento particular mas é livre para alcançar outros aspectos do ensemble técnico que colabora para aquela fabricação. A diferença fica por conta da escala, da geometria e do lugar que aproxima ou distancia o indivíduo humano do processo de individuação: o conhecimento, em si, é o mesmo, a tecnicidade é a mesma. Se o conhecimento fosse realmente fracionado e assim cristalizado, não seria admissível imaginarmos papéis trocados: quantas vezes o arquiteto não se concentra na resolução de uma convergência entre forma e matéria, assim como o artesão? Ou o artesão não é, por vezes, obrigado a olhar em torno para compor nos seus gestos o resto da operação, assim como o arquiteto? Pelos mesmos pressupostos aristotélicos, da mesma forma que um sujeito pode curar-se a si mesmo e, por acaso, ser médico, também um sujeito qualquer pode construir para si mesmo e, por acaso, ser arquiteto. A fratura do conhecimento e a oposição parecem-me falsas: repito, o que muda é a topologia de abordagem do conhecimento. Ora, esta distinção topológica permite engendrar também uma outra morfologia para os esquemas que traduzem a operação técnica. Se os elementos infra-individuais do objeto técnico são conhecidos esquematicamente pelo artesão por uma relação de proximidade que instrui sua intuição - informando assim uma habilidade -, estes mesmos elementos são organizados pelo arquiteto indutivamente numa relação também entre esquemas. Mas estes 384 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág. 60. 285 esquemas, enquanto geometria e cálculo, assumirão a forma de uma representação morfológica diferenciada: o desenho. Talvez seja por estas vias que o desenho recolhe em si algum poder: descola do que lhe parece impreciso e incerto, o domínio natural do “útil e necessário”, para coagular os esquemas no campo do “belo e verdadeiro”, lá junto do que é possível se dizer algo com alguma ‘certeza’. Fazemos reproduzir teimosamente a oposição: a presença do artesão no espaço público lá no mundo grego - como vimos - era regulada conforme os critérios de sua admissão como um ‘igual’ no universo da polis. Na Idade Média, no período em que me detive, o artesão passa a dispor de uma relativa importância política, na medida em que se instala o modo de produção que depende de sua presença, mas uma importância rigorosamente mediada e regulada pelas ordens jurídicas instituídas a partir dos interesses dos senhores de então. Nos opacos canteiros de nossos dias, em que a presença do artesão torna-se transparente na relação do arquiteto com a tecnicidade das operações, a captura da informação presente nos elementos cristaliza os esquemas numa representação técnica - o desenho - que abstrai de si a imanência daquela tecnicidade. Mas lá ou cá, o que difere essencialmente o artesão dos senhores da polis, do senhor dos meios de produção ou do arquiteto de hoje, é a topologia do olhar: o artesão tem os olhos apontados para os gestos e a atenção voltada para as mãos. No entanto, o fundo informacional é o mesmo. Logo, o que o arquiteto da concepção aristotélica domina é o saber e o tempo do artesão, não a tecnicidade em si mesma: e tenho a impressão que esta concepção se mantém385. Não estou aqui a dizer que se trata de uma apropriação imediata. Trata-se de uma apropriação mediada por um aprendizado dos esquemas que caminham de um ensemble para outro, uma apropriação que se dá através de uma intuição das ressonâncias internas que se 385 Como conseqüência do que argumento, não me parece que Brunelleschi tenha sido o inventor da alienação do produto construído em relação ao artesão que o constrói. Talvez o arquiteto florentino tenha sido um dos primeiros a perceber que as diferentes topologias de aproximação em relação ao conhecimento poderiam render-lhe algumas 286 transferem pela transdução entre ensembles. Este aprendizado, por sua vez, é traduzido em esquemas num desenho e numa teoria - ainda que vista como inferência lógica - a partir de um conhecimento que se enraíza nas “receitas tradicionais e habilidades práticas cuja eficácia nada mais tem de natural” mas que são regidas por um tempo que não é comandado pela inteligência mas pela própria dinâmica natural da matéria386. A impressão que tenho é que essa topologia diferenciada permite a introdução de mecanismos alheios ao processo de individuação do objeto técnico: tendo o desenho como aparato de captura da tecnicidade da operação técnica, o arquiteto - rendendo a interesse, sem dúvida - converte em abstração não o objeto, mas o modo como ele passa a ser produzido. “Já dissemos que, no desenho, é como aparência de relação que as separações do fazer e do pensar, do dever e do poder, da força e dos meios de trabalho se manifestam. E que os laços que o desenho propõe são laços do separado mantido separado.”387 A diferença topológica permite a separação não só entre o ‘conhecimento’ do arquiteto e o ‘conhecimento’ do artesão. Astuciosamente apropriada, divide e aparta também ossatura e parede, vedos e coberturas, fundações e superestrutura, osso e revestimento, instalações e acabamentos, mestres e oficiais, oficiais e serventes, carpinteiros e armadores, pedreiros, encanadores e eletricistas, operários, arquitetos e usuários, dissecando em fragmentos o que essencialmente é um só: um único objeto técnico que se individua pelas convergências entre seus elementos, compondo um único assemblage. Pelo tanto que abriga de artesanal, pelo tanto que ainda o mantém analítico, o canteiro é ainda uma grande “máquina aberta” que pode tender a alguma concretização. No entanto, ao prevalecer a dualidade e oposição entre o conhecimento do artesão e do arquiteto, o separado continuará sendo juntado como trabalho coagulado, uma vocação esperta da apropriação dos esquemas, justificada pelo argumento de uma topologia inessencial. vantagens: assim, reproduzia e introduzia no canteiro de obras a mesma relação estabelecida entre os senhores das corporações de oficinas de exportação dos séculos XII e XIII e os artesãos que submetiam. 287 #7 entre arquiteturas: o abrigo Seria abusivo considerarmos a operação técnica de produzir objetos arquitetônicos como um atributo exclusivo dos arquitetos. Sequer seria possível dizer que toda arquitetura é feita por arquitetos ou que tudo o que um arquiteto faz é sempre arquitetura. O mundo se constrói enquanto os arquitetos pensam388- ou constroem muito pouco. Entre a arquitetura vernacular e arquitetura adventícia, resta apenas o aspecto abrigo: não aquele original, a cabana primitiva, um objeto técnico disposto como entidade ancestral e subjetiva, submetida às dimensões conceituais de uma teoria. Mas o abrigo enquanto exercício objetivo do conhecimento que se refere exclusivamente ao “uso das coisas”. O abrigo se estende das mais remotas construções da arquitetura espontânea às mais altas manifestações da arquitetura adventícia: o que resta, entre elas, é só abrigo. A favela não tem arquitetura (algumas vezes até tem) nem é vernacular (outras vezes até é), nos termos que aqui agencio; uma casa burguesa, paramentada em quinquilharias que lhe conferem a função tesouro, não necessariamente tem arquitetura: também é abrigo. Agora, há situações em que a arquitetura é ruim, isso é outra coisa: o regime de valoração é polivalente, o vigente não opera conforme uma avaliação da coerência interna entre elementos, já falei a respeito. De qualquer forma, toda arquitetura pressupõe o abrigo que reserva a si a condição de causalidade necessária: abrigo para os deuses, para o negócio, para a política, para o sono ou a festa. O abrigo é conatural do natural e, portanto, não o trato aqui submetido a 386 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e escravidão... Op.cit., pág., pág. 61. 387 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 159. 388 “Corremos o risco de ter gente filosofando inutilmente de um lado, enquanto, do outro, tudo acontece de qualquer maneira. Nas palavras de Saint-John Perse (s/d), ‘as cidades se constroem enquanto as mulheres sonham’” (SANTOS, Carlos Nelson F. dos. A cidade como um jogo de cartas. Niterói: Universidade Federal Fluminense: EDUFF; São Paulo: Projeto Editores, 1988, pág. 15). 288 algum juízo de valor, positivo ou negativo. Para produzi-lo não se faz necessário o conhecimento indutivo e sistematicamente articulado entre a forma de uma casa, por exemplo, e a matéria que lhe subjaz - novamente, a separação entre forma e matéria me favorece, recurso esperto perante outras separações mais danosas. Porque arquitetura vernacular e arquitetura adventícia são poucas, muitíssimo poucas se comparadas à vasta proliferação do abrigo, solitário entre as duas. A arquitetura adventícia é arquitetura de poucos. Essa arquitetura de poucos, ainda por cima, disfarça em si mesma as mecânicas de reprodução da racionalidade técnica, nos termos de Marcuse, que a história humana construiu para si - denegando possibilidades de arranjo que não pela ordem social do trabalho e de reprodução do capital. Adianto-me: não imagino possível qualquer transformação dessa realidade social sem interferir historicamente por dentro e por entre suas tramas (parece-me ser este um detalhe do ponto cego de Habermas). Não é condição necessária que o ensemble técnico que produz o abrigo seja sempre de domínio do “bem fazer” arquitetura, apenas porque este organiza os sous-ensemble sob um regime pretensamente ‘científico’, ordenando sistemicamente matérias que hilemorficamente se agregam a formas extrinsecamente elaboradas, boas ou ruins. O ensemble técnico vernacular pode organizar indivíduos técnicos, por vezes, de maneira mais inteligente, como já vimos 389 . Também não é condição necessária que o conhecimento aplicado para produção dos objetos técnicos edifício e cidade seja redutível à distinção topológica entre arquiteto e artesão: o acesso às informações do fundo de onde provêm as formas não é subssumível inteiramente à representação técnica formal que lhe digere os elementos, transforma-os em esquemas e os devolve nas formas do desenho - uma boa parte deste 389 O comportamento dos arquitetos às vezes espreita alguma hipocrisia: se por um lado recusam a arquitetura vernacular e manifestações espontâneas do objeto técnico construído - porque submetidos a um criterioso juízo de gosto -, por outro lado esmeram-se na defesa de um patrimônio definido como histórico, muitas vezes repleto de 289 conhecimento é ainda transferido pelo hábito e pela tradição, como vimos, da qual o ofício depende: por mais que se mecanizem as operações aplicadas na produção do objeto técnico abrigo, a intermediação humana será, nas condições atuais e provavelmente nas futuras também, absolutamente imprescindível, como presença necessária para que a individuação do objeto se realize - por isso, a impropriedade de uma “arquitetura virtual”390. Além disso, o conhecimento das mãos, analítico e operatório por excelência, não aponta para uma evolução técnica linear e uma resolução completa do objeto técnico: ele faz parte da sua gênese e o acompanha em qualquer fase de sua individuação. Detemo-nos sobre a obra de alguns poucos arquitetos e, maioria das vezes, a produção extensa do abrigo faz parte de uma ‘não-arquitetura’, uma espécie de inversão no modo de existência do objeto técnico abrigo, estabelecida exclusivamente por injunções extrínsecas que caracterizam o abrigo como uma ‘não arquitetura’: portanto, não interessa391. Intervém, então, a presença do usuário. É este terceiro indivíduo que, por razões históricas, separa-se do artesão e do arquiteto, interpolando a sua racionalidade técnica entre as razões, também técnicas, do artesão e do arquiteto. Como racionalidades que se submetem a um regime ideológico, a construção do abrigo passa a contar com a interferência de um terceiro conjunto de razões teleológicas que objetos técnicos construídos espontaneamente - defesa esta fundamentada pelos mesmos critérios de juízo de gosto, solidariamente articulados com critérios de juízo prático. 390 O canteiro de obras continua sendo uma extensa fonte de altas taxas de mais valia: não interessa ao capital sua mecanização, como nos lembra Sérgio Ferro. Mas mesmo que - imaginemos - todas as operações num canteiro de obras pudessem ser mecanizadas, ou ainda, que mesmo o próprio abrigo fosse completamente industrializado (como propunha Buckminster Fuller com sua Dymaxion House), tamanho, inércia e materialidade são imposições de ordem mecânica que, associadas à própria função abrigo (adequada defesa frente às intempéries, proteção e conforto físico, psíquico e biológico), destituem de fundamento a virtualidade material e corpórea de suposições que se pretendem reconhecer como “arquitetura”. Ainda assim, se confinada como suposição informacional, transitando exclusivamente naquele fundo descrito por Simondon, a “arquitetura virtual” resume-se a especulações que, quando trazidas para os domínios do existente, pelo menos como uma representação sensível, vazam a materialidade que se faz transparente, paramenta-se com a ligeireza e o apelo dos modos contemporâneos de representação em arquitetura e apresenta-se como a cristalização etérea de formas puras. 391 Se imaginarmos a quantidade de escolas de arquitetura e urbanismo esparramadas pelos quatro cantos do país e se considerarmos que a sala de aula consegue apenas administrar algumas referências mais ou menos constantes, com algumas variações pertencentes a uma ordem formal razoavelmente formatada, fica fácil concluir porque a arquitetura que fazemos é esta que vemos e não outra. Mesmo em terras de “brutalismo caboclo”, que se abastece 290 parecem extrínsecas à individuação do objeto técnico. Por um lado, até são extrínsecas, se considerarmos como a ideologia marca profundamente as relações estabelecidas pelo modo de produção do objeto técnico, dissimulando em aparência natural as divisões sociais necessárias para a reprodução e extração de valor. No entanto, o sujeito usuário intervém no modo de existência do objeto técnico abrigo, na medida em que compartilha um devir, em que participa da individuação deste objeto. Os arquitetos muitas vezes mostram-se azedos com as interferências do usuário: é comum comentar que para a arquitetura seria bom se não existisse o cliente. Contudo, é este usuário que incorpora a razão teleológica, o destino e finalidade de existência do abrigo. É ele que, em grande medida, produz o abrigo que não é arquitetura vernacular nem arquitetura adventícia, operando por seu esforço próprio o arranjo de um ensemble produtivo, de um canteiro sem arquitetos ou engenheiros, instalando materiais e formas numa disposição que lhe apraz. Não deslizo aqui para o flerte com um certo vitalismo ou com o que já se julgou ‘romântico’, num certo sentido: da mesma maneira que escapa ao artesão e ao arquiteto o julgamento técnico necessário para uma avaliação adequada da tecnicidade de um objeto técnico, muito mais ao usuário. Não se trata de inferência corporativa: objetivamente, a atenção do usuário também é topologicamente distinta em si mesma, conduz-se essencialmente como finalidade, concebendo, como o atomismo, o indivíduo integralmente completo no momento de sua gênese. É por estas vias que se aderem razões externas que acabam determinando o modo de existência do abrigo392. Por outro lado, não seria pertinente desqualificar ou desconsiderar a presença do usuário: trata-se de um indivíduo necessariamente instalado como parte do assemblage, de referências formais e funcionais colhidas às beiras do desenvolvimento de um capitalismo periférico, a chave de reprodução continua sendo a mesma - parece-me. 392 Dito de outra forma: “A proposta de fazer cada cidadão um urbanista parece idéia fantasiosa... Isso é assunto de quem tem muitos anos de escola, é especialista, conhecedor de desenho, geometria, matemática, sociologia e economias... Na verdade, porém, quem vive, trabalha, se desloca e usa de muitas formas um espaço urbano está contribuindo para refazê-lo sem parar” (SANTOS, Carlos Nelson F. dos. A cidade como... Op. cit., pág. 55). 291 cumprindo com o seu devir, o contínuo processo de individuação do edifício e da cidade. Sublimá-lo significaria retroverter o processo de individuação. Da mesma forma que não se trata de conhecimentos distintos e apartados entre arquitetos e artesãos, também a finalidade útil não se remete exclusivamente ao usuário. Na prática do ofício, a impressão que tenho é que matéria, forma e causa eficiente têm sido estabelecidos como um problema de arquitetos e artesãos; a causa final, domínio dos usuários. Como não estou aqui a falar para usuários - para tanto, os meios são outros -, mas reservo-me às circunstâncias do ofício, parece-me que a contingente estrutura triádica do ensemble que produz o abrigo precisa reconciliar as quatro causas e as topologias que desenham conhecimentos fraturados: são ordens infra-individuais distintas que precisariam concorrer também de modo não antagônico, atuando de maneira convergente e não apenas nos termos de um compromisso que cessa quando o objeto parece concluído. O edifício e a cidade agradeceriam. 292 ABRIGO e desejo de EMANCIPAÇÃO A heteronomia do aparato (o ensemble) e arquitetura #1 Mas novamente, avisto os escolhos. Se referendada a arquitetura como necessidade, parece que é dali que também emerge a concepção de que ela é capaz de, por si, intervir nos rumos da humanidade, de abrigar ou determinar um outro projeto histórico: uma pertinência que certamente Marcuse não avalizaria. Ora, o abrigo é essencialmente necessário, como já disse, conatural do natural. Conforme Platão, se juntados os homens para mutuamente auxiliarem-se na lida pelo sustento da vida, a primeira atividade irretorquível é a lavoura, a segunda, a construção do abrigo, e a terceira, a proteção do corpo, o vestuário393. Assim, pela via dos olhos de quem o produz projetando-o como idea, fica fácil o arquiteto justapor algum juízo prático como se o destino da humanidade repousasse em suas mãos. Se essencialmente necessário, há que ser útil. Se útil, 393 PLATÃO. A República, 367b/c/d. 293 que nos livre dos gonzos que nos prendem à esfera das necessidades e nos coloque rumo ao melhor possível dos mundos: pelo progresso material, técnico e formal. Quanto mais perto o abrigo se faz de suas imanências maltrapilhas, mais os arquitetos - em geral - a rejeitam. Reafirmam, assim, o nobre papel que reputam à sua atividade. O Projeto Moderno na arquitetura e sua Utopia Técnica do Projeto - reescrevo aqui, com vocábulos que me são úteis, a Utopia Técnica do Trabalho, uma versão mais refinada para ‘emancipação pelo contínuo e exacerbado desenvolvimento das forças produtivas’ seduziu amplamente o receituário das Vanguardas, recomendando transformar em realidade, pela arquitetura e pelo urbanismo, uma das passagens mais quintessenciais, segundo Erich Fromm, da pena marxiana: “O reino da liberdade só começa, de fato, onde cessa o trabalho que é determinado pela necessidade e por objetivos externos; por conseqüência, em virtude da sua natureza, encontra-se fora da esfera da produção material propriamente dita. Assim como o selvagem tem de lutar com a Natureza para satisfazer as suas necessidades, para manter e reproduzir a vida, assim também tem de o fazer o homem civilizado em todas as formas de sociedade e com todos os modos de produção possíveis. Com o seu desenvolvimento, dilata-se o reino da necessidade natural, porque também as suas privações se intensificam, mas ao mesmo tempo amplificam-se igualmente as forças de produção, pelas quais se justificam estas privações. A liberdade neste campo só pode consistir no fato de a humanidade socializada, os produtores associados, regularem racionalmente o intercâmbio com a Natureza, submetendo-a ao seu comum controle, em vez de serem governados por ela como por um poder cego, e cumprindo a sua tarefa com o menor dispêndio de energia possível e em condições tais que sejam próprias e dignas de seres humanos. No entanto, aqui encontramo-nos ainda no reino da necessidade. Para além dele começa o desenvolvimento da potencialidade humana com fim em si mesma, o verdadeiro reino da liberdade que, no entanto, só pode florescer tendo como base o reino da necessidade. A redução do dia de trabalho é sua condição prévia fundamental.”394 Não reproduzo aqui as questões que desenvolvi no primeiro Ensaio, mas convoco o leitor a tê-las em mente: economia prudente. 394 MARX, Karl. O capital: crítica... vol. III apud FROMM, Erich. “Prefácio” in MARX, Karl. Manuscritos econômicos-filosóficos. Lisboa: Edições 70, tradução de 1975, edição de 1993, pág. 12. É por esta formulação de Marx que ficam claras as oposições em relação às concepções simondonianas: a relação com a natureza é de “luta” e “submissão”, subordinando-a a um “controle” de “produtores associados”, ampliando a posição de alteridade que lhe é conferida por pressuposto, recusando a humanidade submeter-se como a um “poder cego”. No entanto, volto a argumentar: se Marx propõe um novo modo de “intercâmbio” com a natureza, retirando-lhe as vendas que a transformam num “poder cego”, não é condição necessária submetê-la ou lutar com ela. Além disso, parece-me que a idéia de que a liberdade inicia onde “cessa o trabalho”, um domínio que se pauta pela “necessidade e por objetivos externos”, pressupõe uma incongruência entre liberdade e trabalho: seria por este aspecto que, de certa forma, poderíamos estabelecer dimensões distintas mas não antagônicas para as teses simondonianas e as concepções marxianas. 294 Nas ordens do tempo que é este, lá onde se organizaram suas fontes e aqui onde ainda inspiram vertentes, as promessas do Movimento Moderno passaram pelo questionamento sistemático enquanto utopia técnica aferida como potencialidade de a arquitetura e o urbanismo integrarem-se em um ou promoverem um processo de emancipação social. Lá e cá, a crítica fez e tem feito entrever as fissuras que se alargam em brechas por onde escapam as possibilidades enunciadas pelo ideário Modernista. Vejamos lá: “Mesmo quando o Moderno conserva, enquanto técnicas, aquisições tradicionais, estas são suprimidas pelo choque que não deixa nenhuma herança intacta.”395 “O sujeito tomou consciência da perda de poder, que lhe adveio da tecnologia por ele libertada, erigiu-a em problema, sem dúvida, a partir do impulso inconsciente para dominar a heteronomia ameaçadora, ao integrá-la no ponto de partida subjectivo para dela fazer um momento do processo de produção.”396 “Para os arquitectos, a descoberta do seu declínio como ideólogos activos, a constatação das enormes possibilidades tecnológicas utilizáveis para racionalizar as cidades e os territórios, juntamente com a constatação diária da sua dissipação, o envelhecimento dos métodos específicos do projectar, mesmo antes de poder verificar as suas hipóteses na realidade, geram um clima de ansiedade que deixa entrever no horizonte um panorama muito concreto e temido como o pior dos males: o declínio do ‘profissionalismo’ do arquiteto e a sua inserção, já sem obstáculos tardo-humanísticos, em programas onde o papel ideológico da arquitetura é mínimo.”397 E cá: “Toda arquitetura moderna atuante e responsável levanta propostas para o atendimento de um progresso esperado e de necessidades coletivas - o que é normal em uma atividade cujo núcleo, o projeto, inclui sempre o futuro a ser construído por muitos. De Ledoux a Le Corbusier são constantes as sugestões que avançam sobre seu tempo e elas importam mais que o simples funcionalismo da rigorosa e comportada observação de um programa geralmente imposto. Estas antecipações hipotéticas, além de exporem o gênero de desenvolvimento previsto, acusam, pelo que contrariam do presente que as alimenta, suas limitações mais sofridas.”398 “Para o arquiteto e o urbanista, a solidão frente à prancheta é muito grande. As mentiras, apresentadas ao longo do século como ideais altaneiros, estão desmoralizadas. Os equívocos da profissão correm, porém, o perigo de continuarem os mesmos. O Brasil é um país famoso por sua antropofagia; absorve novidades sem muita relutância ou exame prévio. Pode ser verdade, mas também é um país teimoso: depois que algo é erigido em verdade e modelo absolutos é aquilo ou nada. Há cinqüenta anos somos ‘modernos’. O resto do mundo até já se converteu a um duvidoso ‘pós-modernismo’. Aqui, no entanto, nem isso surgiu de forma convincente. 395 ADORNO, Theodor. Teoria Estética. Op.cit., pág. 35. Lembrando que a publicação original da Teoria Estética é de 1970. 396 Idem, pág. 36. 397 TAFURI, Manfredo. Projecto e Utopia - Arquitectura e Desenvolvimento do Capitalismo. Lisboa: Editorial Presença, 1985, pág. 120. Tafuri redige sua crítica à ideologia arquitetônica no final dos 1970. 398 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 48. A extração é do ensaio “Arquitetura Nova”, publicado pela primeira vez em 1967. 295 Vivemos numa estranha modernidade de antigamente - arcaica ou esclerosada?”399 “Desde o início, nos anos 30, ninguém duvidava de que cabia ao programa de racionalização da Arquitetura Nova contribuir decisivamente para o esforço nacional de superação do subdesenvolvimento. Poder-se-ia perguntar como, se num meio acanhado como o nosso faltava o essencial: a base material e social que daria sentido à racionalidade arquitetônica desejada pelos modernos. (...) Ironicamente, a Nova Construção nos era funcional sob todos os aspectos: ao servir aos propósitos de modernização do Brasil (ela passa a integrar a ideologia do país ‘condenado ao moderno’) e por afinal revelar a afinidade estrutural de seu programa técnico com a racionalidade do cálculo econômico empresarial, ou do Estado, embora seu horizonte utópico parecesse dizer o contrário. (...) Mas era justamente nessa surpreendente funcionalidade que se manifestava o paradoxo a que aludi: tudo se passava como se o Movimento Moderno tivesse encontrado o seu verdadeiro lugar na periferia do Capital, e não no centro metropolitano para cuja reordenação espacial e habitacional fora afinal concebido.”400 O que, aparentemente, nos deixa as mãos vazias. Persistente, a concepção racionalista de desenvolvimento técnico enquanto técnica construtiva na arquitetura e no urbanismo - ainda que com significativas variações, já frisei isto - continua justificando e alimentando o culto à forma e o elogio da técnica ao mesmo tempo: a técnica construtiva ali empregada reúne em si fragmentos de ciências aplicadas, conhecimentos parcelares investidos no domínio da matéria e de suas mecânicas. Nas entranhas do objeto técnico construído, é consumida e sublimada no compósito, suprimindo sua aparência numa “vontade de forma” que lhe é superior. Paradoxalmente, quanto mais se pretenda escondê-la, mais ela se faz presente e mais necessária é sua complexificação superlativa, para que não restem vestígios de sua existência. Daí, mais necessário se faz seu desenvolvimento operativo, funcional e material. E quanto mais a técnica construtiva evolui nestes termos, mais ela se afasta do estritamente necessário, banindo do horizonte qualquer compromisso com algum desejo de emancipação. Assim, a técnica construtiva acaba assumindo também a aura que paramenta a forma, como meio de produção fetichizado que se apresenta como o glamour da alta eficácia instrumental - pronta, oca e coagulada no final da operação. Mesmo que não apareça, dá a aparência de que realmente é possível ampliar indefinidamente seu poder de 399 SANTOS, Carlos Nelson F. dos. A cidade como... Op.cit., pág. 185. Os originais são de 1985. 400 ARANTES, Otília B. Fiori. Urbanismo em fim de linha e outros estudos sobre o colapso da modernização arquitetônica. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998, págs. 109, 112 e 113. O trecho citado foi extraído da conferência “Do Universalismo Moderno ao Regionalismo Pós-crítico”, de 1995. 296 suprimir necessidades materiais, promovendo a profunda e esparramada imersão de seus objetos - glamorizados - no mundo da vida, reunindo beleza e utilidade como um só momento da existência. O “belo e verdadeiro” introverte em si o “útil e necessário”, parecendo possível, por aí, suprimir a distinção aristotélica. A idéia é que, na aparente positividade inscrita no projeto de desenvolvimento infinito das técnicas construtivas, permanece a sombra negativa da necessidade que se reproduz. Paradoxalmente, seu poder de reprodução aumenta à medida que é suprida. E a capacidade de suprimir necessidades aumenta, na medida em que o poder de sua reprodução lhe reconstrói. Sabemos que este poder atende e se associa às formas plurais de submissão também das técnicas construtivas ao capital. No entanto, caberia discutir também o caráter subjetivo desta operação - conforme Adorno, tratou-se de instalar a tecnologia como “um momento do processo de produção” para enfrentar a “heteronomia ameaçadora” que o ciclo de sua reprodução induz. #2 Por vezes, há uma suspensão de juízo que denega, subliminarmente ou de forma explícita, qualquer atributo à técnica enquanto modos do possível, enquanto universo capaz de pensar uma outra relação com o mundo: a cultura engendra processos formalmente estruturados, heuristicamente lógicos e discursivamente competentes que conduzem a técnica para os porões do puramente instrumental. Dado o fato de a técnica ter se transformado em tecnologia, pelos caminhos que propus, e de todas as dobras da práxis terem sido progressivamente inoculadas por uma racionalidade técnica que resiste inócua à crítica, parece que qualquer ação técnica que pretenda para si alguma dimensão transformadora terá, então, 297 que ser precedida pela reestruturação da normatividade do discurso, pelo acordo estabelecido na transitividade dialógica da relação intersubjetiva, enfim, por um novo projeto histórico determinado pelas relações sociais transformadas. Não falo apenas de Habermas: mas a impressão que tenho é que, se a ação técnica é vista como atividade irremediavelmente conspurcada pelas atrocidades e pelas ordens de exceção que nos impõem uma vida cada vez mais nua, e nos arrastam inexoravelmente para uma retroversão subjetiva frente a uma “heteronomia ameaçadora”, a ela recolhem-se diversos modos de aporias que nos são atravessados no horizonte como uma negação de horizonte, uma espécie heterodoxa de fim da história. Ironicamente, é aqui que se instala justamente um dos campos privilegiados para cultura & técnica erigirem aquela falsa oposição que Simondon aponta: a axiomática invertida que recusa a neutralidade da técnica - ela já é ideologia - precisa dela vazia, para ali depositar alguma ideologia. Vacuidade e neutralidade não me parecem adjetivos contraditórios. Pela axiomática invertida, objeto técnico ou a ação técnica, não podem abrigar em si mesmos qualquer potência de transformação ou mudança - o movimento, em Aristóteles. Eles são inessenciais, não podem dispor de princípio ontogênico: são conteúdos sem formas, preocupados apenas com a sua logicidade instrumental que enraíza, no solo que desseca, as dimensões da alienação e do extermínio. São apenas “momentos do processo de produção”, a oficina do trabalho que aliena o homem frente ao seu produto. Objeto técnico e atividade técnica não podem tomar parte do movimento da existência que os integrariam nos rumos de um devir que se estende no infinito (infinito?): eles são os “outros” do pensamento, que povoam irremediavelmente nosso cotidiano com as obras e os odores da exclusão - o inferno. O mundo psicossocial não lhes diz respeito, as ordens de ação política não devem ser maculadas por sua instrumentalidade imanente: é preciso separá-los, apartá-los entre si, classificá-los e descobrir suas artimanhas. Assim, a cultura permanece em seu promontório, resignando-se ou resistindo 298 à proximidade ameaçadora da técnica, às hostes de uma tecnicidade ideológica que se avizinha dos redutos onde fazemos recluso o pouco que nos resta; ela coloca-se a postos enquanto a técnica se recolhe à sua lida e se espraia em seus territórios enquanto aborda e medra os muros da razão. Mas, como já defendi, não só a realidade social é técnica, mas a realidade da existência é essencialmente técnica. Se proponho uma memória das mãos, não significa que pretendo um ‘retorno’ aos gestos viciosos de Leroi-Gourhan ou à téchne, que se resume ao saber ‘como’ mas não ‘o porquê’401, causalidade teleológica restrita a uma física, não lhe é concedido ser íntegra e integrar o ser, não compartilha no devir. Se - abraçando ‘heuristicamente’ as teses de Simondon - a produção da vida passa pela individuação do objeto técnico, se o trabalho passa por ele como ainda um momento do processo de individuação, a memória das mãos não significa compor um réquiem resignado perante um fim inexorável mas, pelo contrário, significa fazê-las audíveis como possibilidade de sobredeterminação das mãos em si mesmas, como parte correlata do que não são em-si-mesmas. As sensibilidades exteriores - como o domínio da economia política, por exemplo - são índices de desregulação e desvio, um gradiente que se justapõe ao princípio de individuação que permite a leitura e a crítica do que lê. Se inteligência e hábito num passo, linguagem e gesto no entre, e representação e ação no porvir forem compreendidos também como um processo único de individuação e devir, então cultura e técnica não radicam, em si mesmas, motivo algum para proeminência entre as partes. Por isso, uma memória das mãos: quero apenas lembrar que elas existem e que talvez não estejamos lhes dando a devida atenção. Repito, não queremos ser gregos: manter o que é essencialmente técnico, as operações sujas das mãos nuas ou aparelhadas, para além ou aquém da praça pública, parece-me excluir 401 ARISTÓTELES. Metafísica, 981a. 299 qualquer possibilidade de politizar a técnica por dentro dela mesma. O “desencantamento da técnica na arquitetura e urbanismo” pode parecer terreno carregado de feiúra e lodo pegajoso: engraçado como ainda teimamos em revestir nossos feitos em teofania, pretendendo assim purgá-los, abençoá-los e beatificá-los frente à imanente objetificação da vida. Não pretendo um reencantamento da técnica. Insisto na possibilidade de pensar as mãos como correlatas da ação de pensar. Para toda atividade teórica que a arquitetura organiza como campo de conhecimento ilustrado, corresponde a atividade técnica que coloca o objeto arquitetônico no devir. Se assim considerarmos, há sim uma possibilidade de compreendermos a atividade técnica do praefecti fabrum não mais como uma tecnologia apartada da práxis: nos tempos que aí estão, a práxis investe-se como o legítimo e único campo de realização da política porque repele ou recusa a condição ideológica da tecnologia. À ação técnica, reserva-se apenas sua instrumentalidade causal - que segue a reboque da práxis -, a condição de ‘vasilhame’ ideológico que a transforma em tecnologia e no recalque de uma essência que lhe é exterior. Se por um lado o embate político - um domínio da práxis - por vezes sucumbe às concepções que pretendem a neutralidade da técnica, por outro lado recusar qualquer dimensão política à técnica - apartá-la da práxis - acaba retrovertendo a neutralidade que se tenta negar: denega sua potência em virtude de sua permeabilidade ideológica, enquanto tecnologia, porque esvazia a técnica do conteúdo político que poderia assumir. A práxis recalca a técnica em si mesma, na medida em que submete ou recusa a tecnologia que ajudou a construir. Imagino, contudo, muito pouco. (Lembremos: imaginação, como “função mediadora”, seria a única possibilidade de conciliação entre entendimento e sensibilidade402) 402 Convoco, novamente, uma formulação do prof. Bento Prado, redigida originalmente para explicar as convergências entre Sartre e Adorno no que se refere ao lugar da forma ensaio: ali entre “o conceito e a intuição poética, dando-lhe um lugar semelhante ao que Kant atribuía à imaginação transcendental, que permite o comércio 300 Nos termos que agencio, talvez seja possível conceber uma outra relação técnica com o mundo que, se não realiza senão por mediações, certamente ajusta o passo para outras relações entre cultura & técnica. Se mantivermos a técnica apartada da práxis à espera de sua transformação, nada mais fazemos que condenar a primeira a reproduzir as mecânicas que justamente obstruem qualquer transformação. Se práxis e técnica passam a ser compreendidas como essência e história reconciliadas numa única instância no extenso modo do existir, parece-me possível acreditar na solidariedade mais que neurológica entre gesto e palavra para alcançar o horizonte oculto do devir: que é o “ser em cujo seio se efetua uma individuação”403, a dimensão simondoniana que assegura a possibilidade da invenção. O que imagino é somente uma mudança de postura: a invenção recusa a receita. A crítica é caminho que questiona a invenção mas ela não pode se interpor como escolhos no horizonte do devir. Seria por demais presunçoso prevermos o futuro. #3 Mas reduzo ainda mais alguma expectativa - pelo menos à fase restrita de individuação que se encontra o gesto e a palavra que nos faz arquitetos. No que se refere ao abrigo, o aparato técnico aplicado para sua produção, apesar de manufaturado, ainda preserva sua condição artesanal - é praticamente inteiro organizado sob medida, se considerarmos sua configuração mais corriqueira, estruturada para produzir o abrigo burguês, também projetado sob medida. Os caprichos e adereços são aspectos inessenciais - efetivamente aquilo que é sob medida - superpostos naquilo que o abrigo tem de essencial: fundações, estrutura, vedações e cobertura compõem um sistema que entre o entendimento e a sensibilidade” (PRADO Jr. Bento. “A metafísica do romancista” in Folha de São Paulo, São Paulo, 12 de abril de 2003. Jornal de Resenhas, pág. 3). 301 tende a uma convergência interna, até certo ponto isolada do sistema de exigências que irá promover a configuração dos acabamentos. No entanto, contingências externas, de origens econômicas ou estabelecidas por um ‘juízo de gosto’ submisso às marés do mercado e da publicidade, podem fazer também com que o essencial se transforme no inessencial: artifícios e operações complexas sob medida são aplicados para que o inessencial tenha a aparência do essencial. O concreto aparente, por exemplo, se por um lado revela o que é estrutura, disfarça o cuidado na fabricação das formas, a qualidade da madeira utilizada, o rigor exigido do artesão, aditivos aplicados no composto concreto e o esmerado acabamento superficial necessário para proteção da peça estrutural e impermeabilização microscópica. É recorrente a experiência do “acabamento que nunca acaba”: justamente pelas razões argumentadas por Simondon, quando o sistema de exigências provém de uma ordem de demandas exterior e quanto mais o abrigo responder às exigências inessenciais, ao que é sob medida, sejam demandas do usuário, do arquiteto ou até mesmo do artesão, “mais suas características essenciais são marcadas de uma servidão exterior”, isto é, mercado, propaganda, deformações de gosto etc. Numa configuração tida como ‘normal’, fundações, estrutura, vedos e coberturas equivalem a: Fundações: 8% Estruturas: 20% Vedos: Cobertura: 10% 15% Algo em torno de 50 a 55% de todo o aparato aplicado, considerando materiais, mão-de-obra, administração, projetos e custos acessórios, vinculando custos financeiros, indivíduos, energia e tempo necessários404. O restante do aparato é aplicado na produção dos 403 SIMONDON, Gilbert. “Introdução” in Cadernos... Op.cit., pág. 101. 404 Trata-se de uma aproximação bastante grosseira, a partir de experiência minha. Certamente a composição orgânica do capital altera bastante as proporções, se observados apenas os aspectos do investimento financeiro. 302 acabamentos e sistemas. Claro que isso varia muito: dependendo da qualidade e custo dos materiais de revestimento, louças e metais sanitários, aparelhagens e sistemas elétricos, a proporção entre as partes se altera significativamente. Por outro lado, o conjunto técnico abrigo, sob sua conformação burguesa, é também logicamente mais simples mas tecnologicamente mais complicado uma vez que se trata de compromissar sistemas complexos por aproximação e não em virtude de uma convergência que promova uma coerência interna entre sistemas. Isso fica mais claro quando lembramos Sérgio Ferro quando, em A Casa Popular, comenta a função tesouro que se superpõe ao que é essencial na produção de um abrigo. Também, no modo de produção do abrigo como manufatura, fica clara a disposição concertada de sistemas complexos que se organizam por aproximação e não em função de uma convergência interna. Entretanto, a produção do abrigo, quando pensada em si mesma enquanto conjunto técnico e processo de organização de uma realidade técnica, pode tender aos aspectos essenciais se comparada ao aparato aplicado para produzir o abrigo sob medida, isto é, sem medida intrínseca. Quando Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império defendiam o “mínimo útil”, o “mínimo construtivo” e o “mínimo didático” para a produção de uma arquitetura “inteiramente estabelecida nas bases de nossa realidade histórica”, instruindo uma “poética da economia” para a formulação de uma nova linguagem 405 , não me parece proposta para instalação de um receituário formal que se reproduzisse indiscriminadamente. A impressão que tenho é que se tratava de uma mudança de postura, de uma compreensão da realidade técnica em si mesma, de uma abordagem menos arrogante na avaliação do meio geográfico e sua interação com o meio técnico para constituição de um meio associado, enfim, de uma exposição plena do gesto e do pensamento arquitetônicos às possibilidades da invenção. Tratava-se de Mas, como trabalho em situações onde a mão-de-obra não é considerada como investimento, como valor (apesar de insistirmos no contrário), parece-me plausível estabelecer outro modo de compor o ensemble. 303 buscar uma convergência interna do objeto técnico em si mesmo, procurando compreender o quanto corpos, linfas e sangue ainda são necessários na composição daquele aparato. Era mais ou menos isso que os arquitetos procuravam nas abóbadas, tentando encontrar os elementos dessa convergência interna do objeto técnico abrigo: cobertura, vedação e estrutura num único sistema funcional. O que não significa que não permanecia a indeterminação do inessencial, principalmente por se tratar de um objeto técnico artesanal, sob medida, no sentido de Simondon. O que também não significava imaginar alcançado o nível de concretização definitivo do objeto técnico ou a redução do esforço intelectual e prático a um exercício para a adoção de um único padrão formal: seria negar a possibilidade da invenção. Basta imaginarmos o que seria uma Vila Kennedy toda em abóbadas406. Traduzindo Sérgio Ferro para os termos pelos quais desenvolvo meu raciocínio, a dialética da “separação”, que engendraria uma “estética da separação”, seria análoga ao reconhecimento de metaestabilidades no assemblage que se aplica no processo de produção do abrigo, percebendo-o tenso e rico em potencialidades de concretização, como quer Simondon: o canteiro e o desenho deixariam de ser tratados como ‘abstrações técnicas reificadas’ - e, portanto, ideológicas - apenas território privilegiado para representação das contradições entre capital e trabalho. Insisto, estas contradições persistiriam, mas pressinto novamente o desassossego cômodo ou o conformismo crítico recomendando aguardar sua superação por outras vias - ou descartando qualquer possibilidade de superação. “A evolução provável do projetista e do executante separados passa pela sua negação, negação que será a gênese de uma nova manifestação do construtor em unidade superior (e não em regressão à figura mítica do artesão, unidade ainda abstrata do fazer e do pensar). Impossível sua apreensão antecipada: só no formar-se proporá o que será.”407 405 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 36. 406 A inferência é de Magaly Pulhez: grato. 407 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 176. 304 Parece faltar, aqui, um elemento na equação de Ferro: o usuário. A dualidade negada entre arquiteto e artesão não dá conta do trânsito dialético completo, é necessário que um terceiro termo intervenha na polarização. Não se trata do “terceiro excluído”: não é o caso de isolar a dualidade pela simples afirmação de não identidade do terceiro termo. É possível imaginarmos uma composição que ‘supere contradições’ entre arquiteto e usuário, mas ambos são excluídos do uso no devir do objeto. Seria plausível supor arquiteto e artesão como um único sujeito; ou o arquiteto usuário, um usuário que, por acaso, é arquiteto; ou que o artesão e o usuário se integrassem na mesma pessoa. Noutra escala, o artesão que ocupa um lugar num aparato organizado como canteiro para produção de um abrigo qualquer, quando transita, mora e vive na cidade, é um usuário do conjunto técnico cidade. O canteiro é uma fase no processo de individuação do objeto técnico abrigo. A dualidade entre canteiro e desenho é aparente porque traduz o modo como o objeto técnico é produzido: na fase do canteiro, os indivíduos humanos que se colocam - ou são colocados - no processo de individuação pertencem ao aparato aplicado exclusivamente na fase de produção do abrigo. Uma “máquina fechada” e muito analítica, contudo, onde os indivíduos humanos têm que ceder seus “corpos, sua linfa e seu sangue” para que a individuação aconteça. Tudo aparentemente pronto, aqueles indivíduos são violentamente arrancados do processo que continua, reservando apenas ao usuário o desenvolvimento da individuação: um desenvolvimento marcado pela força do trabalho que transforma o abrigo em mercadoria408. Mas por que não imaginarmos o canteiro de obras de um edifício como uma “máquina aberta”? Ou mesmo o conjunto técnico cidade? O canteiro de obras que se autodetermina como “máquina aberta”, atualiza, num certo sentido, o ‘trabalhador coletivo’ de Marx, adjudicando aqui o sentido dado por Simondon: 408 “É necessário que o operário, o que sabe e sabe fazer, que seu tempo, o da produção concreta, caiam fora, desapareçam. Eles não devem invadir a propriedade do capital, é proibido. Eles não têm nada a fazer no produzido. O produzido não lhe diz respeito e o operário deve respeitar o decoro e desaparecer. (...) É preciso que seja fiel a 305 congrega as partes infra-individuais do aparato como um todo, preservando a separação entre elementos, esquemas (o desenho) e indivíduos humanos (artesão, arquiteto e usuário) e indivíduos físicos ou técnicos (materiais, instrumentos e equipamentos), estabelecidos para a produção do objeto técnico abrigo - o edifício ou a cidade. Seria possível, ali, compreender melhor a tecnicidade do aparato, conhecer melhor o interior da zona obscura entre forma e matéria, estabelecendo a pertinência lógica da interioridade da relação entre cada uma das partes componentes dessa “máquina aberta”. A cidade é, essencialmente, uma “máquina aberta”: um complexo de indivíduos técnicos e humanos, instruindo permanentemente seu processo de individuação. A construção lhe é imanente, sua transformação reclama o engenho aberto e permeável. Os vestígios são cotidianamente gravados no seu corpo rugoso e os índices saltam a partir de relações topológicas absolutamente variadas. Antes que minhas confabulações se confundam com pretensões a um congraçamento entre entes viventes e entes físicos para “uma nova manifestação em ordem superior”, advirto que a “máquina aberta” significa uma organização analítica, ainda muito abstrata, e, portanto, muito mais sujeita a instabilidades geradas pelo conflito entre cada uma das partes. Os subconjuntos técnicos são dispostos fundamentalmente na forma de compromisso entre partes, que cessa na medida em que deixam de ser necessários. Trato aqui de imaginar possível orientar a produção do abrigo no sentido de sua concretização, uma busca de convergências internas e superação dos antagonismos residuais - que, conforme Simondon, continuarão surgindo. Por se tratar de uma “máquina aberta”, seu grau de concretização mínimo permite a introdução de uma infinidade de metaestabilidades que geram permanentes conflitos e tensões. Insisto: é muito pouco. seu contrato: ele vendeu sua força de trabalho. Habitá-lo ainda é um crime.” (FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 377). 306 Não se trata de ontologizar os objetos técnicos edifício e cidade, mas de colocá-los problematicamente no devir. O caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo, muda apenas o modo de olhá-lo. #4 Quando experimentamos desempenhar papéis trocados (arquiteto, usuário ou artesão), também experimentamos um questionamento das topologias diferentes que lhes são imanentes. O ensaio destas situações nos coloca de frente com as tais contradições que nos fala Sérgio Ferro. Como ele, também desconfio de quem argumenta suas idéias com exemplos extraídos de sua própria experiência: parece que eles já, lá atrás, anunciavam o que hoje defendemos409. No entanto, os exemplos que trago a seguir não são meus: deles faço parte como qualquer outro indivíduo ali representado. Ainda aprendo com eles. Apresento uma situação onde o artesão e o usuário tornam-se o mesmo indivíduo: falo da produção do abrigo pelos próprios usuários, particularmente, na produção de uma arquitetura com e para os pobres. Se Le Corbusier considerava que “projetar cidades é tarefa por demais importante para ser entregue aos cidadãos”, os exemplos que trago para finalizar minha empreitada apenas refletem um pouco sobre o quanto pode ser restrito insistirmos numa topologia excludente entre arquiteto, usuário e artesão. Além disso, quando pensamos os aparatos empregados para produzir a moradia popular, somos forçados, por injunções econômicas e operacionais (não é uma mão-de-obra 307 especializada, por exemplo), a abordar o aparato assumindo outra postura: o que, paradoxalmente, pode nos fazer planejar o aparato não mais a partir das contingências econômicas ou operacionais mas a partir de uma postura de ofício que procura convergir todos os seus elementos constitutivos, sejam eles indivíduos humanos, ferramentas, materiais e sistemas que têm que se olhar todo o tempo, consultarem-se permanentemente: “O design requer que se compreenda a ordem. Quando se trabalha com o tijolo, é preciso perguntar para o tijolo o que ele quer, ou o que ele pode fazer. E se você perguntar para o tijolo o que ele quer, ele dirá ‘- Bem, eu quero um arco’. Então você diz ‘- Mas um arco é difícil de fazer. Custa mais caro. Acho que dá para usar o concreto nessa entrada da mesma forma’ (...) E o arco diz ‘- Você percebe que está falando com um ser, e o ser em tijolo é um arco?’ Isso é conhecer a ordem. É conhecer a sua natureza, é conhecer o que cada elemento pode fazer.”410 Um terreno espinhoso, contudo. Um campo fértil para o exercício ideológico, fica absolutamente claro que as categorias são muito frágeis: as idiossincrasias de um usuário-artesão que faz transitar e inverter constantemente as condições de proprietário, operário e patrão (como contratante do arquiteto, de serviços e de mão-de-obra especializada); a difícil e contraditória posição do arquiteto que se vê assumir o papel de capataz de tarefas e prestador de serviços ao mesmo tempo; a complexidade de um diálogo quanto às formas representativas que são caras aos arquitetos mas que nada significam para os artesãos-usuários (é aqui o momento privilegiado que faz emergir a carga ideológica do arquiteto: o desenho disfarça, esconde a origem do gosto, enfeita o abrigo e se impõe como única alternativa econômica); trabalho e sobretrabalho se misturam, confundem argumentos e posam, os dois, como virtudes; o abrigo útil, a economia necessária (por isso a ajuda mútua), o belo do mercado e o verdadeiro da política, embaralham-se num emaranhado inextricável; etc. etc. Enfim, uma “máquina aberta” - e devassada - em todos os sentidos. 409 Sérgio Ferro inicia seu ‘balanço acadêmico’ no encerramento de suas atividades em Grenoble com uma suspeita de si mesmo: “Desconfio de quem justifica idéias por meio da história pessoal. Isso parece intervenção ortopédica para soldar as fissuras do raciocínio;...” (Idem, pág. 321). 410 KAHN, L. I. “Louis Kahn: life and work”. Apud BARONE, Ana Cláudia Castilho. Team 10: arquitetura como crítica. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2002, pág. 83. 308 No entanto, parece-me que só é possível perceber as contradições se as intenções são dispostas como contraditórias: “A Arquitetura pode talvez ajudar a resolver problemas sociais, mas só sob a condição de que as intenções libertadoras do arquiteto coincidam com a prática (e o desejo...) real das pessoas em exercitar sua liberdade.”411 “A dimensão social da arquitetura, como se diz, faz parte de sua essência - se ela for livre.”412 411 SANTOS, Carlos Nelson F. dos. A cidade como... Op.cit., pág. 24. 412 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 417. 309 INDIVIDUAÇÃO e CONSTRUÇÃO a técnica quando aplicada numa arquitetura para os pobres #1 o indivíduo usuário-artesão Habermas pretendia o leigo como um “especialista do dia-a-dia”. Um sujeito atrelado, contudo, à “ideologia da infracomplexidade” que venera a “banalidade” e se aferra ao “culto da tradição local”. Apenas uma rápida espiada neste sujeito “infracomplexo” que é o usuário-artesão. Se definido como indivíduo que se apresenta como um sujeito histórico, antropológica e sociologicamente falando, correria o risco de reduzi-lo a uma mônada, complexa - se prevalecer uma abordagem mais cuidadosa - mas fechada em si mesma, uma mônada heterodeterminada como agente que congrega em si diversidades contraditórias exógenas mas antropológica e sociologicamente cognoscíveis e apreensíveis. Minhas imprecauções nas ciências sociais têm limites. Não vou me deter em sua especificidade. Apenas registro minhas impressões para situá-lo no aparato técnico do qual também faço parte. Interessa-me apenas localizá-lo e caracterizá-lo minimamente - ainda que de modo impressionista - na composição dos aparatos que descrevo a seguir. Gostaria, no entanto, de mantê-lo como um sujeito em trânsito, na medida em que se movimenta em um conjunto de relações entre exterior e interior que diferem a cada fase do movimento. Sua individuação em processo, como diz Simondon, impede seu enclausuramento num sistema estável e permanente, onde relações preestabelecidas 310 conjunturalmente precisam ceder a uma organização mínima das possibilidades de eventos engendrados na relação interior/exterior. Assim, se determinados como indivíduos que agem como agem porque premidos por uma realidade econômica - a necessidade -, não auxiliaria compreendê-los como capazes de acessar a base informacional que se habilita a cada instante sob nova configuração. Também obstrui compreendê-los se os consideramos como um recipiente inerme de deformações ideológicas, como se sua individualidade mutante apenas operasse a partir de uma tabula rasa, ordenando conexões estabelecidas por uma inteligência “infracomplexa”. Tais modalidades ideológicas resultam, justamente ao contrário, de uma inteligência que não é ‘ilustrada’ em termos formais, mas que organiza as informações do sistema no qual transita, sob ordens completamente distintas, estruturadas a partir de um raciocínio não mecanicista, linear ou formalmente matemático, mas absolutamente lógico em seu próprio sistema de logicidade bastante complexa, por sinal413. Apenas a formalidade é distinta, em virtude dos meios que dispõe - o que não exclui submetê-lo ao crivo de algum juízo prático, que aqui procuro evitar (território vasto para um crivo, por vezes, também ideológico). Se mantivermos este sujeito como categoria estanque em si mesma pelo tanto que lhe atribuímos, ela manterá também permeabilidade relativamente restrita, se observada por um aspecto exclusivamente quantitativo: compreendido como a parte de um todo, preencherá todos os requisitos estatísticos que dariam a forma de um indivíduo representativo de uma abordagem totalizante, mas negaria sua capacidade transdutiva que a fluida base informacional lhe assegura. No entanto, esta permeabilidade sequer é dimensionável se considerarmos a variabilidade das condições de interação que são colocadas em jogo. Categorias formatadas não nos deixam perceber o tamanho da complexidade que 413 Numa obra para construção de 561 moradias, um encarregado registrava, num pequeno caderno, o estágio de todas as alvenarias e quais os pedreiros que eram responsáveis por elas. Nos processos de medição quinzenais, a precisão daquilo que me pareciam rabiscos indecifráveis correspondia exatamente às minhas aferições, matematicamente e geometricamente organizadas. Isso quando não me enganava. 311 o arranjo pode assumir - basta integrarmos o restante dos indivíduos humanos instalados no aparato: técnicos, contratados, comerciantes, lideranças, integrantes do movimento social, agentes públicos, sacerdotes e clérigos, acadêmicos ou familiares - ou o próprio coletivo que muda a cada passo da individuação. Caberia, portanto, compreendê-lo no processo de interação, no movimento que o transporta entre sua interioridade e o exterior, entre sua individualidade e a individualidade do coletivo, entre sua condição de “usuário-artesão” e o conjunto de meios que reagem à sua ação. Faço este preâmbulo só porque preciso de um nome: falo aqui de um caso de “usuário-artesão”, falo de um mutirante e de sua reunião num coletivo: o mutirão. Mas recuso compreender mutirante e mutirão conforme modalidades estanques de abordagem. Para entender o canteiro de obras de um mutirão como uma possível “máquina aberta”, preciso que o indivíduo que a integra permaneça em trânsito. Como qualquer indivíduo, o mutirante é sujeito de sua própria reprodução material, seja ele responsável funcionalmente por ela ou não, esteja no mutirão ou não; por outro lado, dispõe de sua intimidade da forma que lhe convém e sob determinadas regulações que são variáveis de indivíduo para indivíduo ou conforme o meio em que se encontre; além disso, abre-se ou fecha-se às informações conforme os significados convenham ou não à seqüência de seu movimento. Não disse nada até aqui que não correspondesse a qualquer um de nós. Mas há um aspecto que lhe é peculiar. Parece-me que a ambigüidade da relação usuário-artesão manifesta uma certa ‘esquizofrenia’ no sujeito que agrega em si as duas posições. Por um lado, não conduz a si mesmo porque é determinado por uma necessidade e porque é colocado numa relação heterônoma de mando. Por outro lado, conduz-se como um “em-si” porque é dono da força e do resultado de seu trabalho. O usuário-artesão parece estar sempre deslizando entre ‘vontade que 312 determina’ e ‘necessidade que é determinante’. Por uma série de considerações, prevalece explícita a relação heterônoma que lhe é imposta: sua precariedade econômica e a necessidade de dispor de seu tempo livre para produzir sua moradia, os mecanismos de financiamento a que se vê obrigado sujeitar-se, a obediência às regras impostas pelo coletivo que regulam o ritmo e a localização de suas ações, a submissão às ordens dos chefes de grupos de tarefa, do mestre de obras ou do arquiteto etc. No entanto, o discurso implícito quer fazer aparente a prevalência da autonomia: direitos iguais para todos, a decisão pelo voto em assembléias, respeito às diversidades, a futura propriedade exclusiva do abrigo que produziu etc. Um sistema de avaliação é fundado nesta relação, embaralhando não só os aspectos práticos e políticos da condição univalente de usuário e artesão - outros já abordaram o assunto -, mas também os modos de introversão subjetiva do que é essencialmente objetivo, entre o que é produzido e o seu produtor. Se a finalidade é atribuição do usuário que demanda os meios para alcançá-la - o que é uma atribuição do artesão -, há uma relação de autonomia ‘necessária’ entre produtor e seu produto - ele precisa deixá-lo para ser produto. No entanto, é uma relação de autonomia que abriga uma relação de heteronomia entre artesão e usuário - são a mesma pessoa, um depende do outro que é o mesmo um. Logo, o produto que deixa as mãos do produtor ganha existência autônoma através de uma relação heterônoma: como o médico que, por acidente, cura a si mesmo, o usuário depende de si mesmo como artesão para produzir seu abrigo. Mas o produzido não é saúde de si mesmo, como no caso do médico, o produzido deixa-lhe as mãos. O que é “por acidente” não difere aqui do que é “por arte”, como em Aristóteles. A objetificação do que é produzido resguarda a autonomia do produto como vestígio de quem o produziu, introduzindo um aspecto subjetivo que grava o que aparentemente é pura objetividade. Sei que faço alguma ginástica para descrever o que é aparentemente óbvio, mas o fato de o artesão não poder relevar o usuário e este, por sua vez, depender do artesão, introduz 313 um aspecto de heteronomia que se aloja na necessária autonomia entre produto e produtor. O sistema de avaliação é, então, invertido: os meios passam a justificar as finalidades. O usuário passa a justificar o artesão em qualquer circunstância, assumindo diversos modos de manifestação: a idade do usuário é impedimento para que o artesão realize o trabalho necessário, a ausência do artesão é justificada pelas necessidades particulares do usuário, a morosidade do usuário é reação à indolência dos outros artesãos (se eles não se preocupam com a casa deles, porque vou me preocupar?). De aí, o que pareceria abrigar uma autonomia do artesão em relação aos meios de produção tradicionais, parece introverter heteronomia de si em relação a si mesmo. É por uma operação profundamente ideológica que o sujeito que não conduz a si mesmo mas que poderia conduzir-se como um “em-si” salta permanentemente entre a condição de usuário e a de artesão, segundo melhor lhe convier a cada situação determinada. Assim, a possibilidade de autonomia escapa e reaparece também de forma permanente - às vezes numa mesma frase formulada por este sujeito (talvez por isso a ‘normatividade’ do ‘especialista do dia-a-dia não interesse para Habermas). Creio, no entanto, que é justamente nesse movimento pendular que interfere a inversão de heteronomia em autonomia entre artesão e usuário: o ‘fazer para si’ institui uma outra modalidade de existência dos objetos técnicos produzidos pelo usuário-artesão, como se gravassem, em si mesmos, produto e produtor, os “vestígios do fazer no feito”, como diz Sérgio Ferro. Talvez aí as contradições se manifestem mais claramente. Sem ‘romantismos’, parece-me que desconsiderar este fato como subserviente à dinâmica sócio-econômica, às modalidades de reprodução de valor - de uso e de troca -, é submeter o que há de mais significativo no processo de produção de autonomia à clausura de um devir estático e sem direito à transformação. “Autonomia não é autismo: é evidente que a destinação social do produto - o objetivo imediato - integra-se totalmente nessa autonomia. Caso viesse a se impor como determinação exterior, esta anularia a autonomia. Só é efetivamente autônomo o que 314 integra a necessidade objetiva (necessidade técnica mas também social) como manifestação de sua própria liberdade, pois esta (e repito isto incansavelmente) exige que todas as razões de seu querer lhe pertençam, sob pena de, em caso contrário, se contradizer. (...) Inversamente, a autonomia também implica, obrigatoriamente, a total consideração do outro.”414 #2 Há uma série de aspectos que decorrem deste movimento de produção de autonomia, no contexto que trato. Quando o usuário é o artesão, muda completamente o caráter da aproximação entre saber especializado e seu “mundo da vida”: na elaboração dos projetos, esta aproximação recusa soluções tipológicas pré-determinadas, exigindo a descritização dos significados dos movimentos cotidianos, reelaborados na organização entre os cômodos (a tempo, como história do cotidiano, é resgatado ao espaço - como sugeria Rodrigo Lefèvre). A linguagem dos deuses, o discurso geométrico-matemático dos arquitetos quando abertos (seriamente) à escuta dos pobres, fazem o desenho ocupar o meio do caminho, o produto de um diálogo. As imagens que agregam aspirações forjadas pelo senso comum (a propaganda, a casa burguesa, o desejo de uma forma tesouro), promovem rupturas e tensões quando dispostas frente às limitações de ordem econômica. Mas são injunções exteriores, tanto as imagens como as limitações. Se tratarmos os significados dos movimentos cotidianos com a devida importância, emerge a possibilidade de um aparato que se aplique na resolução de convergências internas e eliminação de antagonismos funcionais para melhor adequar o funcionamento do conjunto técnico abrigo. Na presença compartilhada de usuários-artesãos, o significado de cada indivíduo no ajuntamento de significados dispersos constrói uma possível ‘subjetividade coletiva’ que reinventa sentidos pelo compartilhamento dos significados comuns. Isso fica muito claro 414 FERRO, Sérgio. Arquitetura e... Op.cit., pág. 417. 315 quando, na organização coletiva, o discurso introspectivo do “sujeito da intimidade” tem que dar conta de uma superposição aplainada dos significados que compõem o discurso coletivo “competente”, muitas vezes formulado e anunciado por seus pares: até onde vai a competência do indivíduo e o que é competência do grupo? A densidade rarefeita da experiência do indivíduo vê-se imersa na volatilidade sufocante do discurso fragmentário da eficiência. Na organização para o trabalho no canteiro de obras, já de saída, o usuário-artesão entra em desvantagem: o peso próprio das ferramentas já estabelece, de início, um saldo negativo de esforço físico - eles não são uma mão-de-obra especializada (mesmo que fossem, ferramentas pesam). O peso das ferramentas que se soma ao peso do corpo, produz um corpo que se vê obrigado a negociar com os materiais, a cada gesto, sua transformação. Daí, uma carga de ‘negatividade’ entranhada no gesto: para “manipular o concreto e suas formas”, para cortar e desbastar o aço, para montar armaduras, para amolentar a argamassa e levantar as paredes, “calos se formam”, “fagulhas ofuscam”, farpas perfuram as mãos e uma infinidade de riscos assombra cada gesto que pactua, com o mundo, a sua transformação. Nenhuma lembrança cativa mais os mutirantes que aquela que traz o dia inaugural: o sofrimento, as dificuldades, o frio ou calor, todas as vicissitudes da existência material acabam concorrendo para a concessão de uma outra dimensão ao ato inaugural ‘em-si’. Daí, nós, arquitetos, somos engajados no mesmo espírito como ‘parceiros’ e ‘coadjutores’ na medida em que sofremos junto, deslizamos com eles na fina superfície do solo escorregadio, ou encharcamos nossas roupas com a mesma chuva que lhes diluiu a alma. Assim, parece realizar-se uma dupla conversão: uma autoridade de fato em troca de uma autoridade formal, a ruptura de uma distância interposta pelo âmbito de classe e conferência de uma autoridade que se afirma pela sua negação (que arquiteto é este que se chafurda na mesma lama que eu?). Ao mesmo tempo, a destituição da autoridade formal abre campo largo para a contestação: o que coloca o arquiteto de frente com suas próprias contradições. 316 Mas, é persistente o círculo de fogo: são relações de trabalho que estão em jogo - no caso do mutirão, a caracterização de um sobretrabalho simplesmente torna superlativo o esquema de obstrução a qualquer outra estrutura que possa vir-a-ser, que possa ser inventada. Nessa “máquina aberta” que é o canteiro que se autodetermina - que é como quero afirmar ser possível o canteiro de obras do mutirão -, para além das relações de trabalho, há, contudo, a relação com o objeto técnico ‘edifício’ e com o objeto técnico ‘cidade’ que preservam, em si mesmos, a imanência substantiva do ente técnico em cujo interior se processa a tecnicidade. Deixo enunciados os aspectos que acabo de registrar: são por demais complexos para um tratamento expedito. Atenho-me exclusivamente a uma tecnicidade diferenciada que nos faz, arquitetos, usuários e artesãos, ficarmos de frente com as contradições que normalmente teimamos desconsiderar. #3 Alguns professores e estudantes de arquitetura reuniram-se num Laboratório de Habitação, no início dos anos de 1980, contribuindo para inaugurar uma modalidade de atuação do arquiteto, colocando-o diretamente em contato com aqueles usuários que, normalmente, não têm acesso ao seu trabalho: os pobres. O Laboratório de Habitação - o LabHab - era vinculado ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, a FEBASP, e funcionava como uma espécie de atividade de extensão acadêmica, mantida com bolsas para os alunos e remuneração em horas-aula para professores. A proposta do grupo era atuar junto a movimentos sociais e populações pobres, desenvolvendo projetos e obras para aqueles a quem geralmente só resta o abrigo - quando resta. Na ordem dos fatos, um grupo do LabHab acompanhou um mutirão numa 317 favela em São Paulo, para sua urbanização e construção de novas moradias, entre os anos de 1982 e 1985 - o Recanto da Alegria, no bairro do Grajaú, zona sul da cidade415. Como professor, fazia parte do grupo de forma periférica: atuava voluntariamente, disposto a integrar o conjunto que se aplicava na obra, particularmente para a construção de um centro comunitário no local. Falo dele mais adiante. Os projetos foram elaborados a partir de uma intensa discussão entre técnicos e moradores, procurando estabelecer um resultado que assegurasse o que chamávamos, na época, de uma adequada ‘apropriação’ do objeto produzido. Um termo ambíguo que procurava explicitar uma conciliação entre o conhecimento ilustrado dos arquitetos e aquele de domínio dos usuários. Um projeto ‘apropriável’ corresponderia àquele resultado abrigo que se ajustasse, sob medida, às necessidades e ao gosto do usuário - um sentido que adquiria valências entre ser ‘próprio de alguém’ e ‘tornar-se da propriedade de alguém’. Como eram muitas casas, era imprescindível que as opções tipológicas guardassem alguns aspectos de modulação e padronização de elementos. O que, obviamente, implicava num limite para ‘apropriação’ integral do abrigo, portanto: não era possível atender a todas as demandas particulares dos moradores. Na esteira do que supúnhamos ‘apropriável’, certamente concorreram os aspectos referentes ao sistema construtivo: uma tecnologia alternativa às usualmente dispostas, poderia apontar possibilidades para redução de custos - tratava-se de casas para pobres e o provável financiamento pelo poder público municipal reclamava o corriqueiro - mas sempre impressionante - enxugamento de custos. Uma injunção econômica exterior que colocava a necessidade de se organizar o conjunto a partir de uma articulação entre elementos de modo minimamente mais convergente. Além disso, uma tecnologia alternativa também poderia assegurar um reequilíbrio entre custo e qualidade do abrigo: um processo construtivo que fosse 415 Para um relato mais preciso deste trabalho e outros aspectos do LabHab, ver BONDUKI, Nabil G. Habitação & autogestão: construindo territórios da utopia. Rio de Janeiro, FASE, 1992. 318 permeável à operação pelos mutirantes, que se adequasse a uma outra contingência exterior - a mão-de-obra não especializada. Uma vez que os usuários, transformados em artesãos, não dispunham de recursos para comprar mão-de-obra, era imprescindível organizar o processo de produção a partir de objetos técnicos e materiais que pudessem prescindir de sua especialização. Por outro lado, alguma vantagem precisava ser assegurada: a redução relativa dos custos com a ajuda mútua nos finais de semana - ou sobretrabalho - e a opção por um sistema construtivo alternativo, permitiria a construção de casas maiores e mais ajustadas às necessidades de cada morador. A opção inicial foi um sistema que já vinha sendo pesquisado, tanto no âmbito da universidade como no meio empresarial: a construção com um agregado simples de solo e cimento416. O composto é regulado por uma proporção que varia em torno de 5% de cimento para o restante do volume em solo, dependendo de suas características granulométricas e tipológicas (se areia, silte ou argila). Depende, contudo, de sua compactação para uma adequada consistência final, assegurando impermeabilidade e resistência mecânica. Os encaminhamentos operacionais haviam estabelecido a construção de uma primeira casa, que chamávamos de protótipo ou casa-modelo: uma referência que deixava pistas de um remoto vínculo desejado com o processo industrial. Iniciamos a abertura das valetas para lançamento das fundações em ritmo até que bastante acelerado: finais de semana, arquitetos, estudantes e moradores da favela juntavam ombros para escavar o perímetro das fundações 416 Algumas experiências já haviam sido levadas adiante em Camaçari, na Bahia, pelo CEPED, um centro de pesquisas que se dedicou à pesquisa em técnicas construtivas, vinculado à Universidade Estadual da Bahia. Também a Associação Brasileira de Concreto Portland - ABCP - promovia sistematicamente a aplicação do sistema, uma vez que lhe interessava a ampliação do consumo de cimento em mais uma modalidade de sua utilização. 319 que iam delineando a geometria dos cômodos do pavimento térreo. Paralelamente, o solo de um barranco ao lado - esquadrinhado e ensaiado para melhor se adequar no composto - era recolhido e armazenado para produzir a quantidade de solo necessária para a composição do material solo-cimento. As fundações daquele primeiro sobrado do conjunto consistiam em grandes vigas baldrames não armadas de solo-cimento, isto é, bastaria depositar o composto nas valetas e socá-los com pilões improvisados, até que adquirissem a compacidade adequada. Obviamente isto era feito manualmente: pequenas camadas umedecidas do composto eram dispostas ao longo das valetas enquanto os mutirantes esforçavam-se no vai-e-vem contínuo dos pilões. Uma das mutirantes fazia graça da operação: “por que a gente tira a terra do chão para depois devolver e ainda ter que socar até ela voltar a ser como era?”. Aquilo não parecia nem um pouco convergente. Particularmente porque toda a operação dependia de muito esforço: o que parecia para arquitetos e alunos uma relação mais ‘natural’ e cheia de significados, para os moradores nada mais significava que um despropósito que lhes parecia muito mais complicado que fazer como todo mundo: sapatas corridas de concreto, alvenarias de bloco, lajes e um telhado de fibro-cimento. O sistema montado com esta configuração não passou das fundações da primeira casa: a proposta inicial era que todas as paredes fossem executadas com o mesmo processo construtivo, isto é, o agregado de solo-cimento sendo lançado e apiloado em formas de madeiras que deslizariam, acompanhando a elevação das paredes. Não precisou de muito para os mutirantes recusarem a seqüência do sistema: eram seus “corpos, linfas e sangue” que assegurariam redução de custos, casas maiores, mais conforto etc. O preço lhes parecia desproporcionalmente exagerado. 320 #4 Nesta mesma favela, tinha sido prevista a construção de um centro comunitário, numa área reservada para uso coletivo. Dispusemo-nos, um colega e eu, a projetá-lo. Éramos professores de Sistemas Estruturais e vivíamos (ainda vivemos) às voltas com questões relativas à estrutura das edificações, suas opções formais e construtivas, concedendo uma importância bastante significativa para sistemas de convergência entre elementos que reduziriam a quantidade de material empregado e melhor acomodação de esforços. Numa operação semelhante àquela que comentei a respeito das abóbadas, fizemos uma pequena malha de segmentos de arame, articulados por nós também de arame, formando uma espécie de trama de pequenas correntes, vinculadas entre si. Quando pendurada, a malha assumia a forma de catenárias compostas em duas direções, assumindo a geometria de uma cúpula. A idéia era que - à semelhança da arquitetura de Gaudi e dos trabalhos do Instituto de Estruturas Leves de Stuttgart, entre outros que bisbilhotávamos - conseguiríamos estabelecer uma cúpula que, partindo do chão, poderia teoricamente ser construída sem armadura, isto é, sem que fosse necessário adicionar aço para absorção de esforços de tração. O expediente permitiria construí-la apenas com blocos cerâmicos furados - conhecidos por aqui como ‘tijolo baiano’ (não imagino porque) -, simplesmente assentados com uma argamassa mais forte de 321 areia e cimento. A forma era dada pela estrutura que, por sua vez, já eram os próprios vedos e cobertura, tudo reunido em um único elemento: a cúpula. O argumento que defendia nossa proposta era assentado numa explicação até que bastante convincente em termos econômicos, práticos e de convergência entre elementos: podíamos prescindir do aço, um material relativamente sempre muito caro; os blocos cerâmicos furados eram e são até hoje um material relativamente barato; resguardada a geometria, isto é, a posição relativa de cada tijolo, seria fácil dispô-los a cada fiada; a construção da cúpula reunia em si fundações, vedos e coberturas em si mesma, isto é, concluída a estrutura a edificação estaria praticamente pronta etc. Mas, objetivamente, não havíamos discutido com os moradores toda a concepção ou o resultado formal que a cúpula assumiria. Não havia sequer um programa para seu uso interno: era apenas um lugar para reuniões dos moradores. Iniciamos a escavação das fundações - uma valeta circular - que, depois do fracasso do solo-cimento e em virtude da esbeltez da estrutura que lhe concedia significativa leveza - foi resolvida com uma sapata corrida utilizando os mesmos blocos cerâmicos. Mais uma vez, lá estavam os mutirantes abrindo a valeta e curiosos para ver o que ia sair daquele anel encravado no solo. Montamos uma espécie de compasso enorme de madeira, resolvendo um problema que era crucial: como encontrar o lugar geométrico de cada tijolo? Havíamos fotografado a maquete feita de malha de arame, pendurada na frente de um papel quadriculado que nos permitiu recolher sua geometria num desenho em escala. Era a partir dele que descobríamos, a cada altura das fiadas, qual deveria ser a distância do tijolo em relação ao centro da cúpula. 322 Ao iniciarmos a construção da cúpula - sempre aos finais de semana, sobretrabalho para os moradores, sobras do trabalho para nós -, as primeiras fiadas contaram com a participação já reduzida dos moradores. À medida que as fiadas subiam, mais e mais minguava a presença dos futuros usuários de nossa cúpula. Mais que sua ausência nos trabalhos, sua presença manifestava-se numa seqüência crescente de depredações, à medida que a cúpula surgia: usavam o interior como banheiro, atiravam pedras nos tijolos já assentados etc. Além disso, reclamavam discretamente da forma que lhes parecia muito estranha. O contingente de força trabalho reduziu-se, em poucas semanas, a eu e meu colega, mais três ou quatro alunos que nos acompanhavam: insistíamos na construção da cúpula, enfrentando condições absolutamente precárias, limpando o interior para não tropeçarmos em fezes, preparando nossa própria argamassa e revirando a favela atrás do compasso que toda semana sumia. É óbvio que nosso empenho tinha limites: após um esforço que nos animava a freqüência, fomos abandonando o trabalho, até mesmo porque o nível de depredação desfazia cada tanto de esforço que arduamente depositávamos na cúpula a cada semana. A cúpula ficaria lá, como um balde emborcado e sem fundo, esperando, na paisagem da favela como um objeto alienígena, alguma solução de destino. O que acabou 323 acontecendo quando uma das últimas casas que deveria ser demolida para dar lugar a uma nova veio abaixo num dia de chuva. O morador, sem ter para onde ir, obteve a permissão para ocupar o centro comunitário. Precisava cobri-lo, no entanto. A solução era simples: um telhado de duas águas de fibro-cimento, apoiado no respaldo da cúpula inacabada. Aquilo nos parecia muito significativo: por que o ocupante da cúpula não se dispusera concluí-la como uma cúpula? Uma solução absolutamente tradicional do objeto técnico abrigo, justaposta a uma forma que em nada correspondia à cultura construtiva dos moradores. Uma cobertura cobrindo o que se propunha prescindir da forma cobertura. Ficava claro que o aparato técnico que havíamos montado não considerava o usuário como parte do sistema. Talvez o considerássemos, sim, mas apenas na função artesão: à qual, certamente, o usuário não correspondeu. Num dia de fim de semana, à tarde, um dos alunos que sempre nos acompanhava apareceu, consternado porque estavam demolindo a cúpula. Não demoramos muito para concluir que era melhor assim. 324 #5 Em 1986, o Laboratório de Habitação da Belas Artes foi fechado quando, em virtude de uma greve não resolvida, praticamente todos os professores foram sumariamente despedidos. Uma boa parte de seu espólio seria transferido para a Universidade Estadual de Campinas, a UNICAMP, constituindo a base para a organização de um novo Laboratório de Habitação, organizado também como um braço de extensão da universidade, abrigado junto ao Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, o NUDECRI. Esta nova configuração institucional parecia conceder à idéia de um segmento profissional aplicado na produção de arquitetura para os pobres uma certa longevidade: uma instituição aparentemente mais estável, aparentemente menos sujeita aos desmandos de seus dirigentes, o ambiente de pesquisa e a demanda por atividades que justificassem seus objetivos de extensão, pareciam fazer a universidade pública o lugar mais adequado para uma proposta como aquela. No último período de existência do LabHab, um sistema construtivo baseado em princípios de pré-fabricação de componentes, vinha sendo elaborado, calculado e ensaiado. A idéia era produzir, em canteiros bem pouco complexos, painéis de blocos cerâmicos armados que poderiam assumir o papel de componentes para paredes, lajes, telhados, escadas e mobiliário. 325 O componente era tecnologicamente bastante simples: os painéis eram modulados conforme as dimensões dos blocos cerâmicos - 9x19x19cm - e da nervura em concreto armado, responsável pela estabilidade do painel. Contando a dimensão da argamassa de rejuntamento, o painel tinha uma seção típica de 9x45cm - dois blocos cerâmicos mais uma nervura de 7cm - e um desenvolvimento que variava conforme a quantidade de blocos compostos, partindo de 20cm e acrescendo esta medida conforme a destinação do componente. As pontas eram reforçadas com um encabeçamento de concreto de 5cm, vedando as extremidades e permitindo apoiá-las ou servirem de apoio. A posição dos tijolos permitia a introdução prévia de dutos e componentes de instalações elétricas e hidráulicas: eram os painéis de chuveiro, de pia, de vaso sanitário, de tomadas, interruptores ou arandelas, já com alturas previamente estabelecidas conforme padrões de uso mais usuais. Como se destinava para uma produção por ajuda mútua, a restrição da falta de especialização da mão-de-obra era um fator exterior que determinava a procura de uma convergência entre elementos já no momento de sua fabricação. Por outro lado, precisava ser barato, tanto em termos de composição material como em termos do modo como seria produzido: era necessário pensar as tais convergências já na fase do canteiro, exacerbá-las e pré-definir todas as recorrências. O canteiro organizava-se, mais ou menos de modo invariável, em pistas de areia regularizada, apoiada diretamente sobre uma porção de terreno regularizada, confinada entre duas réguas paralelas de concreto, precisamente alinhadas e niveladas. Sobre estas duas réguas de concreto, eram apoiados gabaritos - primeiro eram de madeira e, posteriormente, de concreto - que definiam a largura modular do painel. As alturas eram definidas em planilhas que saltavam dos projetos em números e códigos: painéis de parede, de instalação, painéis para peitoris de janela, para empenas, para lajes, escadas ou coberturas. Os blocos cerâmicos eram encostados nas laterais dos gabaritos e em seguida preenchidos os vãos com concreto, na 326 nervura entre o par de blocos, e argamassa, entre os blocos no desenvolvimento da altura do painel. O processo de produção apresentava, com bastante apuro, uma resolução bastante concreta do aparato técnico canteiro, se faço uma avaliação segundo os critérios de Simondon. Uma razoável convergência entre meio geográfico e meio técnico para a resolução de um meio associado que assegurava um sistema de causalidades recíprocas que eliminavam - pelo menos parcialmente - uma série de antagonismos residuais na concepção de um processo de fabricação de componentes para a produção de casas para os pobres. Era significativo que qualquer um pudesse participar na fabricação dos painéis, independendo de idade, sexo ou força física. Os blocos eram estocados junto às pistas, distribuídos nos gabaritos, concretados e rejuntados com relativa facilidade. Quando comecei a trabalhar no Laboratório da UNICAMP, no início de 1988, fui designado para o projeto e acompanhamento das obras de um conjunto de 72 casas em Socorro, interior de São Paulo, juntamente com outros arquitetos. A capacidade do mutirão de Socorro produzir painéis era significativa: se uma casa demandava em torno de 500 a 600 painéis em média, os mutirantes dali fabricavam uma média de 400 painéis a cada dia do fim de 327 semana, isto é, praticamente uma casa e meia por semana. Pelos números absolutos, significaria que o conjunto todo poderia ser concluído entre 10 a 14 meses. A obra para a construção da Moradia Estudantil, para alunos da UNICAMP, por circunstâncias óbvias (difícil imaginar um mutirão de estudantes), foi realizada por uma empreiteira, a partir dos projetos e sistema construtivo elaborados pelo Laboratório. A uma certa altura do desenvolvimento das obras, os serventes iniciaram uma greve por melhoria de salários, porque não viam distinção entre sua atividade na fabricação dos componentes e a qualidade dos painéis que produziam, da atividade e da qualidade dos painéis fabricados pelos oficiais pedreiros. Isto é, o sistema diluía a diferença de habilidades tradicionais que eram mecanicamente traduzidas em diferencial de salários. Procuro deixar claro nestes dois exemplos de aplicação dos ‘painéis cerâmicos’ simplificávamos o nome para também pré-fabricar a fala - o quanto o sistema todo aplicado na sua fabricação - o aparato canteiro - demonstrava alguma pertinência enquanto processo técnico. Mas era a partir do canteiro de fabricação que começavam os problemas. Os painéis em Socorro empilhavam-se em carreiras extensas, dispostos em pilhas cuidadosamente montadas, numa área central que não seria ocupada nas primeiras etapas de obra. Mas, mesmo central, a área de estocagem mantinha uma distância variável dos locais onde as casas seriam montadas. Para carregá-los, corpos, linfas e sangue aos montes. As péssimas condições topográficas das áreas em que trabalhávamos (aos pobres, freqüentemente é o que resta) impedia o uso de carrinhos; mesmo assim, vivíamos procurando ou inventado modelos que melhor adequassem relevo e transporte horizontal dos painéis. Basicamente, toda a movimentação dos painéis era feita pelos braços, corpos e mãos dos mutirantes. Não é necessário dizer que a obra se estendeu por muito mais tempo. No caso da obra da Moradia, a empreiteira havia empregado sistemas mecanizados de içamento e transporte. Como as edificações ali chegavam a até 3 pavimentos, 328 eram necessárias gruas já de porte razoável: o que fazia parecer uma operação desproporcional, comparando a potência da grua e o peso - agora insignificante - dos painéis. No caso de empreendimentos menores, invariavelmente a morfologia do terreno e o adensamento entre as construções (pobres moram em adensamentos edificados), impediam sequer a entrada e o trânsito de pequenos caminhões com gruas de menor porte - o que chamamos de ‘caminhão munck’, a marca que assume o nome da coisa. O que me parece é que faltava um meio termo, isto é, ajuste fino do meio associado, estendendo os critérios de causalidades recíprocas para todo o meio técnico envolvido, não apenas parcialmente, circunscrito ao canteiro de fabricação dos painéis. Faltava inventar o meio técnico adequado para o restante do sistema: transporte horizontal e vertical, mecanismos para o manuseio dos painéis no local de montagem, equipamentos para montagem de lajes de modo seguro etc. Se num primeiro momento o sistema da UNICAMP seduziu arquitetos e usuários - vários mutirões na cidade e no estado de São Paulo e algumas investidas, de menor e maior porte, em outros estados -, já em 1990 era vista com desconfiança, justamente pelo aspecto que acabo de relatar. #6 Mas o sistema oferecia possibilidades efetivas de resolução parcial de antagonismos. Para a construção de um restaurante para os professores da universidade, à beira de um lago no campus, a idéia do coordenador do Laboratório era abrigar todo o programa sob 329 um conjunto de abóbadas articuladas entre si e apoiadas em pórticos, tudo executado com os painéis cerâmicos do sistema. Para a fabricação do painel de arco, aquelas réguas de concreto que falei eram transformadas em réguas de madeira que desenhavam um arco de circunferência. O perímetro desenvolvido pelo arco de circunferência media aproximadamente 3,5m, para confecção de um painel que comporia um arco de 15m de vão - o que significava, pela pequena altura da flecha, ser possível descrever este arco numa tábua com largura padrão de 30cm. Montávamos como se fosse um grande caixote, com 30cm de altura, mais ou menos 3,5m de comprimento, com as faces laterais abrigando o desenho do arco, e largura correspondendo a um número de painéis que permitisse alcançar o meio do caixote, para posicionarmos os tijolos. O caixote era então preenchido com areia que era aparada e regularizada conforme o corte dos arcos nas laterais. Acomodávamos ali os tijolos, seguindo o mesmo princípio de modulação, conformávamos a ferragem para concretar a nervura e mantínhamos os painéis já prontos apoiados lateralmente, para não forçar suas nervuras. Detenho-me nesta descrição por um detalhe simples: todos os painéis eram iguais - a mesma curvatura, a mesma geometria do arco de circunferência. 330 Não reproduzo aqui a explicação da catenária: parece-me que já esclareci sua vantagem como geometria estrutural. Mas acontece que o desenvolvimento da curva catenária é uma função hiperbólica, compreensivelmente abstrata para um canteiro de obras. Poderíamos então produzir um molde para reprodução na face da tábua que funciona como régua. Mas aí as peças não seriam iguais entre si: a cada trecho de desenvolvimento da curva, a geometria muda. Ficava difícil, então, pretendermos as catenárias para a geometria das abóbadas. O desenvolvimento do projeto foi-nos conduzindo para uma solução do conjunto em 3 abóbadas: o corpo central, uma abóbada de raio menor, era apoiado em uma seqüência de pórticos, com a arquitrave razoavelmente larga para funcionar como uma viga deitada; dois corpos laterais, duas abóbadas de raio bem maior, apoiavam uma de suas pontas no mesmo conjunto de pórticos, absorvendo os esforços horizontais produzidos pelo corpo central ao mesmo tempo que descarregavam ali aqueles produzidos por eles; uma das outras pontas dos corpos laterais repousava diretamente sobre um arrimo, graças ao desnível natural do terreno que acabava organizando um ambiente interno neste local. Restava a outra ponta, que queríamos levar até o chão. Havíamos observado que a geometria da circunferência, pelo abatimento do arco que usávamos e em virtude da espessura da abóbada, acabava abrigando uma catenária. Isto é, 331 não era necessário descrever exatamente a catenária porque a geometria do arco de circunferência que usávamos era muito próxima de um trecho característico da catenária. Mas a ponta que sobrava, se continuássemos com o arco de circunferência, iria provocar movimentos de flexão bastante complicados - além do que ficava muito feio. Mas não queríamos reproduzir a solução dos pórticos, até mesmo porque seria complicado prepará-los para absorver os empuxos horizontais - além do que, também ficava muito feio. A ficha caiu quando resolvemos colocar ali um painel reto: o desenvolvimento da catenária seguia seu percurso normal, descarregando os esforços no solo, sem provocar flexão. Literalmente, a catenária pedia ali um painel reto: nada mais. 332 #7 Como diz Simondon, quanto mais um sistema se torna concreto, quanto mais redundâncias e mais reciprocidade de causalidades acontecem ali dentro, mais o sistema é sintético, menos aberto. Era um pouco isso que sentíamos no sistema de pré-fabricação da UNICAMP: ficava difícil equacionar os antagonismos residuais - como o problema do transporte, por exemplo - porque o sistema acabava muito fechado. Foi este um dos motivos que nos conduziram a procura de outros caminhos. Parecia-nos que as vantagens do ambiente acadêmico não eram tão vantajosas assim. Mas atenho-me à questão que enunciei: imaginávamos possível compor uma abordagem técnica que prescindisse de um sistema tão fechado e ainda assim capaz de dar conta da interação entre artesão, usuário e arquiteto. Quando o sistema se fecha em si mesmo, o primeiro que sobra é o artesão - que, no caso do mutirão, leva junto o usuário. Entre outras tantas coisas, começamos a pensar nestes aspectos em meados de 1989, quando saímos da UNICAMP, eu e mais alguns colegas. Juntamos outros e criamos uma ‘associação de profissionais’, a USINA - que só um bom tempo depois descobriríamos que se tratava de uma Organização Não-Governamental, uma ONG (cada vez mais difícil suportar o que somos). Mas foi na USINA que acabamos tendo a chance de perceber melhor o tamanho da complexidade tecnológica em que nos metíamos. Um de nossos primeiros trabalhos foi adequar projetos já prontos e acompanhar uma obra em Diadema, município vizinho a São Paulo, para a construção de um conjunto de 100 moradias: 32 apartamentos distribuídos em 2 prédios de 4 pavimentos e 64 casas sobrepostas (a casa de cima tem frente para a rua de um lado, a de baixo para a rua do outro lado 333 - malabarismos urbanísticos). O lugar chamava-se Garzouzi mas a pronúncia complicada acabou simplificando o nome que batizava o lugar: era mais fácil Cazuza. Parecia-nos um desafio bastante interessante. Já nesta época o estoque de terras para produção habitacional definhava a olhos vistos. Várias vezes os agentes de financiamento interpunham, como limitação, a disponibilidade de terras para produção de casas térreas ou sobrados - que era o que acreditavam possível ser executado em regime de ajuda mútua. Certamente um recurso esperto para a manutenção das empreiteiras, únicas com competência e apuro para a produção de edificações em pavimentos, os prédios, como argumentavam. Assim, conseguir resolver um conjunto técnico produtivo que desse conta da insuficiência de especialização da mão-de-obra, mantendo o pressuposto (ainda e sempre) do baixo custo e ainda conseguirmos fazer arquitetura, parecia uma equação complexa mas muito atraente. Todo o projeto havia sido concebido para ser construído em blocos de concreto. Como já me manifestei, parece-me que o bloco de concreto não deveria sequer existir. Sugerimos e discutimos exaustivamente a adoção de blocos cerâmicos laminados, que substituiriam os de concreto com vantagens - além do que o preço, por metro quadrado de alvenaria era praticamente igual. A idéia era manter as alvenarias autoportantes - difere da alvenaria simples porque as paredes se tornam a própria estrutura, dispensando uma estrutura independente de concreto ou aço, por exemplo - porque já prenunciávamos a aplicação de economias em mão-de-obra especializada, contratada para sua execução. Associamos no conjunto, lajes pré-fabricadas com vigotas protendidas para reduzir a quantidade de escoramentos: trocávamos valores iguais, se comparássemos com o custo das lajes simples associadas à quantidade excessiva de escoramento que exigiam. Mas a operação facilitava a montagem das lajes, pois bons carpinteiros sempre foram indivíduos raros, ainda mais em um canteiro de ajuda mútua. Quando muito, um ou dois num grupo de cem famílias. 334 Parecia tudo em ordem e os percalços técnicos restringiam-se a ajustes aqui e ali, maioria de ordem operacional. Alguma dificuldade dos mutirantes, alguns problemas administrativos, muitas faltas etc. Mas havíamos relevado um elemento importante: prédios têm escadas. Como trabalhávamos com andaimes ‘fachadeiros’, armados como uma envoltória de todo o prédio, subíamos e descíamos - nós, mutirantes e contratados - pingentes entre aquelas estruturas tubulares nem um pouco próximas de um equipamento seguro. Por isso, não precisávamos das escadas dos prédios. Quando concluímos alvenarias e lajes, pronta a cobertura dos prédios, iniciamos a construção das escadas: algo muito próximo de um desastre. O elemento escada, como já falei, não só é um esquema complicado, como também é uma estrutura muito complexa para execução. Nossos mutirantes pedreiros revezavam-se, tentando dar conta de um sistema improvisado com lajes pré-fabricadas que havíamos desenvolvido um tanto à pressas. Estas lajes apoiavam-se em vigas de concreto que descarregavam os esforços pontualmente nas alvenarias autoportantes que confinavam as escadarias, uma contradição que exagera na falta de coerência interna e em antagonismos residuais. 335 Os prédios foram concluídos, as escadas estão lá, os usuários que as construíram moram ali. Mas as escadas do Cazuza acabaram nos informando alguns esquemas que precisavam ser mais bem considerados. Como já enunciei, o problema das escadas num edifício é um problema de circulação vertical. Ora, como também já me referi, não bastaria uma solução que desse conta apenas do indivíduo técnico escada. Os indivíduos humanos que se aplicavam naquele conjunto de operações técnicas eram vivos, em todos os sentidos. Por um lado, não seria aceitável redistribuir os antagonismos e reservar-lhes o peso de uma solução que não os considerasse como já havia ocorrido nas fundações no Recanto da Alegria e no sistema da UNICAMP. Por outro lado, esbarrávamos em limitações de ordem econômica que, por si, impedia-nos seguir por um caminho que tornasse mais complicada e complexa a produção do objeto técnico escada. Isto é, era imprescindível olharmos para todo o conjunto técnico empregado, inclusive para os nossos artesãos-usuários. Mas foram as primeiras escadas construídas por ajuda mútua que nos obrigaram mudar nossa própria posição dentro do conjunto técnico. Elas carregavam em si não só os esquemas que as representavam como indivíduos técnicos mas também as informações que as relacionavam com os indivíduos humanos aplicados em sua produção. Cada vestígio da dificuldade que havia sido construí-las aparecia nas incongruências que teimavam saltar de cada degrau. Isso pode parecer com aquela concessão de juízo lógico a uma escada. Não é do que se trata. O que quero dizer é que o “vestígio do fazer no feito” tem o poder do sinal que transita de um indivíduo técnico para outro. Não compreendê-lo, não enxergá-lo, recusá-lo como um erro, condena-nos repeti-lo como erro. Parece-me que, sem absolutamente qualquer conotação de subjetividade concedida a uma escada, o vestígio é o indício daquela informação que salta do fundo para o mundo das formas. O tempo oportuno do arquiteto é apanhá-lo na 336 hora certa, percebê-lo como quem percebe o óbvio. Tratar a escada como um problema apenas de escada, não sustentava a resolução do indivíduo técnico escada. Pensar em sua pré-fabricação no canteiro, já havíamos tentado numa outra obra: degraus e mais degraus de concreto que depois tinham que ser transportados até as casas - eram 561 sobrados -, rasgar as paredes, chumbar as peças, uma operação lenta demais, pesada demais, absurda demais. Tentar organizar melhor os elementos infra-individuais, optando por uma estrutura toda resolvida em concreto armado, moldando integralmente o conjunto, também já estávamos tentando: numa outra obra para construção de 408 apartamentos, na zona sul de São Paulo, estabelecemos que cada laje só seria concretada quando prontas as formas e armaduras de cada lance de escada. Mas das 408 famílias, tínhamos apenas um carpinteiro e um armador que conheciam bem seus ofícios. Isso significava que, obviamente, não dávamos conta de preparar a concretagem conjunta, lajes e escadas: as alvenarias subiam, mais uma vez, deixando as escadas para trás. Continuávamos assim em torno de compromissos forçados e não convergentes, se avaliarmos conforme os critérios de Simondon. Como já relatei, esta série de tentativas de arranjo entre elementos e objetos técnicos, indivíduos humanos e indivíduos físicos, levou-nos perceber que não era imprescindível uma estrutura contínua em concreto armado para carregar um degrau, ou que não era necessário fragmentar o objeto em suas partes para compreender-lhe o todo. Se as escadas eram um estorvo que nos esperava no final da construção dos prédios, precisávamos achar um modo de transformar aquela deficiência técnica em vantagem. Trouxemos as escadas, então, para o início das obras. Percebemos que seria possível organizar os degraus e patamares como uma grande estrutura metálica única: partíamos do pressuposto de que as vigas inclinadas que sustentavam os degraus poderiam participar de um grande painel treliçado, cujas diagonais já 337 conformariam os lances das escadas. Isso não era nenhuma novidade: muitas escadas de incêndio, construídas após os acidentes com grandes edifícios em São Paulo (falo do Andraus e Joelma), partiam deste pressuposto. Mas o que nos interessava era a possibilidade de plantarmos um par destes painéis treliçados e montarmos as escadas assim que as fundações fossem sendo concluídas. Um outro pressuposto era que se pensássemos a escada como uma estrutura mínima, seria possível encaixar seu custo nos nossos orçamentos. Íamos percebendo, também, que na medida em que uma boa parte da escada era produzida numa instalação industrial, liberávamos o canteiro de uma grande parte de trabalho e disposições produtivas. Mas o que era essencial: transformávamos uma boa parte do que poderia ser aferido como mão-de-obra em produto. Dispúnhamos de muito pouco recurso para contratar serviços, sendo que a maior parte mão-de-obra aplicada era assegurada pelos mutirantes. Isto é, a mão-de-obra agregava-se ao produto e retirava das costas dos nossos usuários-artesãos o peso da tarefa de produzir as escadas. Isso tinha um significado importante no trato político dos financiamentos: os mutirantes só recebiam recursos para aquisição de materiais, uma outra pequena porcentagem para nos remunerar e para comprar ferramentas, e uma parcela ínfima para contratação de mão-de-obra especializada - que muitas vezes resumia-se a um mestre de obras e uma pequena equipe de obra e administração que trabalhava no meio de semana para preparar o canteiro para os finais de semana. Quando empurramos uma parte significativa do custo para um produto manufaturado, percebemos que podíamos introduzir um valor significativo de mão-de-obra que não aparecia aos olhos do agente financiador. Seria uma heresia política pretendermos uma 338 obra administrada pelos usuários sem o mutirão e seu correlato sobretrabalho. A mão-de-obra aparentemente sem valor dos mutirantes era a justificativa para um programa de financiamento de mutirões. Começamos com esta história das escadas metálicas numa obra que iniciamos em 1992 e, mais particularmente, numa outra iniciada em 1994. Para alguma economia, falo da segunda. Quando montamos os primeiros painéis treliçados, percebemos que haviam outras convergências que fomos descobrindo à medida que as escadas iam sendo literalmente plantadas. Estruturas metálicas são gabaritadas em milímetros, assegurando uma precisão que normalmente o canteiro de obras tradicional não conhece: variações de centímetros são regularizadas com grossas camadas de revestimento, conhecemos o desperdício. Essa precisão acabava contribuindo com a elevação das alvenarias autoportantes em blocos cerâmicos (depois do Cazuza, ficou mais fácil demonstrarmos as vantagens do material cerâmico), uma 339 vez que dispúnhamos de um grande gabarito vertical no qual indicávamos a altura exata de cada fiada, orientando sua disposição. O patamar já denunciava o nível exato do pavimento seguinte. Uma outra convergência era a possibilidade de estabelecer a circulação vertical já no princípio da obra, isto é, não precisávamos mais, arquitetos e usuários-artesãos, correr riscos trepando em andaimes instáveis. Também contribuía muito para melhorar o transporte e disposição dos materiais nos pavimentos que iam sendo construídos. A própria estrutura da escada já servia para apoio de um sistema de polias que auxiliavam no içamento de materiais mais pesados, como lajes ou pilhas de blocos, acondicionados em cestos metálicos. De qualquer forma, a opção pelas escadas metálicas naquele momento poderia sugerir - e assim anunciamos por algumas vezes - tratar-se de uma solução demandada por uma ordem econômica que nos impedia pensar possibilidades mais caras ou complexas. No entanto, o fato era que sempre contrapúnhamos o custo como relação inversa: por que o pobre, que é um indivíduo tão humano quanto um outro qualquer, tem que sofrer mais porque não dispõe de recursos para meios técnicos mais elaborados? E até que ponto, necessariamente, tais meios técnicos são mais caros? Isto é, a equação que nos permitiu, ao longo de 15 anos, procurar uma coerência entre partes que diminuísse os conflitos entre indivíduos e conjuntos técnicos que agregávamos num edifício, partia de um pressuposto que recusava sujeição passiva frente a determinações econômicas de ordem externa. Caso contrário, sequer os mutirantes fariam parte das preocupações de projeto: força de trabalho sobrante, aparentemente destituída de valor, pouco importaria coerência entre sistemas, seu suor bastaria para o compromisso forçado do conjunto técnico quase puramente analítico de uma obra de arquitetura. Novamente, acredito que as injunções econômicas que asseguram o funcionamento sistêmico da perequação de transferência de valor dos setores ditos mais “atrasados” para os “setores de ponta” é ainda responsável pela obstrução dos saturamentos possíveis, conforme Simondon, dos sistemas que aplicamos na produção do edifício e da cidade em geral - e mais perversamente na produção da 340 moradia para os pobres. As circunstâncias técnicas que articulamos, nós arquitetos e os usuários-artesãos que acompanhávamos, acabaram apontando para uma possibilidade de acirrarmos ainda mais a procura pelos tais regimes de causalidades recorrentes: ainda restavam inúmeros antagonismos residuais e outros antagonismos surgiam - vários. A opção pela estrutura metálica parecia-nos prenunciar uma possibilidade que acalentávamos há algum tempo: uma obra dirigida e administrada a partir de uma outra relação de produção. Naquela primeira obra, de 1992, onde primeiro aplicamos o conjunto técnico escada metálica, os mutirantes observavam atentamente a empresa que produzia os perfis e montava as escadas. Até que, num determinado momento, eles perceberam que poderiam fabricá-las ali mesmo, desde que o meio técnico - ofícios especializados, estrutura jurídica e equipamentos adequados - fosse minimamente equacionado. Montaram assim uma cooperativa para poder comprar os perfis e vender a montagem para o mutirão. Não tem dúvida, os problemas decorrentes foram inúmeros, mas, apesar deles, produziram e montaram as escadas de mais ou menos 30 de 50 prédios no total. A idéia de uma autodeterminação produtiva nesta escala parece-me significativa. 341 Um outro aspecto: quanto mais mão-de-obra conseguíssemos fazer migrar para o item materiais, na distribuição dos valores de financiamento, menos carga de sobretrabalho restaria para os mutirantes. Nestes termos, numa outra obra que iniciamos em 2003, depois de 5 anos de negociações intermináveis com o agente público, resolvemos fabricar toda a estrutura dos edifícios para acomodar 100 apartamentos, em estrutura metálica. Outra vez, nenhuma novidade: o meio empresarial tem sido profícuo na utilização do aço em estruturas. Mas no caso em questão, prevalecia a idéia de transferir quase exatos 30% do custo da obra para um produto manufaturado. A obra ainda está em andamento: uma série de entraves burocráticos, discordâncias de concepção de cálculo estrutural, trâmites intermináveis de análise e revisão de projetos - além da habitual morosidade para liberação de recursos (todos os motivos são logicamente justificados) - acabaram estendendo o que seria uma das vantagens da estrutura metálica, a velocidade. Mas estes são também antagonismos residuais, assim como os problemas de aderência das alvenarias nas peças metálicas, a passagem de instalações pelos perfis que compõem as vigas, o ritmo de trabalho difícil de compatibilizar entre as operações de montagem da estrutura e o trabalho dos mutirantes e contratados, contornar as exigências abusivas da fiscalização preposta pelo poder público etc. O que acho significativamente importante no processo todo que descrevi é que ele se realiza no tempo. Não se esgota, não se resume numa resolução acabada e estabilizada. As tais metaestabilidades de Simondon vão surgindo a cada passo, obrigando uma outra organização de todo o conjunto técnico. A conformação, prima pobre do conformismo, nega a possibilidade da invenção - que é coletiva enquanto processo de individuação, que é mais que um indivíduo isolado no seu 342 próprio devir. Não gostaria de ouvir que nos falta “aquele olhar aguçado pelo ódio a tudo que está no lugar”, como dizia Horkheimer a Adorno417. #último Tentei organizar meus exemplos de modo a demonstrar a pertinência de um processo de individuação que não encontra senão resoluções parciais. A invenção nada mais seria que uma mudança de estágio no processo de individuação: ela está aberta, assim como o próprio devir. Relato apenas pouco mais de 25 anos de um aspecto ínfimo do ‘devir’ e de um ponto de vista muito particular. Mas só temos um tempo, seria falso imaginarmos que a existência se reparte em tempos parciais, como querem fazer crer os senhores do tempo. Como diz Sérgio Ferro, nós arquitetos construímos e construir pressupõe futuro. Pelos termos que procurei agenciar, não me parece possível um futuro se lhe obstruirmos a possibilidade com uma racionalidade técnica que se recusa terminantemente a ser só existência técnica. Certamente palavra e gesto têm ainda muitas contas para acertar: a existência como práxis, como linguagem e política, não pode manter a técnica apartada de si, exclusivamente como recipiente ideológico ou apenas como razão instrumental. Politizar a técnica seria impossível sem pensá-la como práxis. Não proponho um receituário para a integração do arquiteto num movimento do espírito rumo ao absoluto, onde seu ser-aí se identifique com sua essência, aos modos de Hegel - seria uma absoluta pretensão. Arrisquei descrever alguns aspectos dos meus ensaios como uma fenomenologia crítica, na medida em que não pretendo uma descrição fenomênica isenta de uma historicidade que se nega terminantemente abandonar as oficinas do ofício. Logo, não 417 Ver nota 27. 343 tem valor de verdade, nem sequer o pretendo. Basto-me com a possibilidade de argumentar opções e impressões que julgo relativamente relegadas a um ponto de fuga que teima persistir no horizonte de nossas reflexões. Quando insisti numa abordagem para este trabalho que não se ativesse aos meandros do ofício - que me parecem conduzir todo o tempo a “cair do cavalo” Bento Prado redargüiu: “Talvez descubramos que é necessário continuarmos ‘caindo do cavalo’”. Como arquitetos, construímos num mundo - lugar comum, nos dois sentidos entranhado de contradições. Mas construímos. Ou por gestos, ou por palavras, como homens ou matéria, em pensamento ou técnica, construímos. O vir-a-ser do arquiteto é o objeto técnico construído no devir: se o pensamento recusa e encalha nos escolhos, talvez as mãos, caladas em seus calos mas pensando em seus gestos, nos permitam sondar por entre aquelas aporias que o mundo desencantado nos apresenta a cada dia. 344 REFERÊNCIAS 345 ADORNO, Theodor. Teoria Estética. Lisboa: Edições 70, 1970. _____. Notas de literatura I. São Paulo: Duas Cidades / Editora 34 (Coleção Espírito Crítico), 2003. ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. ARANTES, Otília. O lugar da arquitetura depois dos modernos. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 1995. ARANTES, Otília; ARANTES, Paulo. Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas: arquitetura e dimensão estética depois das Vanguardas. 1ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1992. ARAÚJO, Hermetes Reis de (org.) [et al.]. Tecnociência e Cultura: ensaios sobre o tempo presente. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. ARENDT, Hannah. A condição humana. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1997. ARISTÓTELES. Física. Madrid: Editorial Gredos (Coleção Biblioteca Clássica Gredos, 203), 1995. _____. Ética a Nicômaco. In Os Pensadores IV. São Paulo: Abril Cultural, 1973. ARMELLA, Virginia Aspe. El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles. México: Fondo de Cultura Econômica, 1993. ASSON, Paul-Laurent. A Escola de Frankfurt. São Paulo: Editora Ática (Série Fundamentos, 76), 1991. BACCA, Juan David G. Elogia de la técnica.1ª ed. Barcelona: Editorial Anthropos, 1987. BANHAM, Reyner. Teoria e projeto na primeira era da máquina. 2ª ed. São Paulo: Editora Perspectiva (Coleção Debates – Arquitetura), 1979. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas – Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995. BERLIN, Isaiah. Las raíces del romanticismo. Edição de Henry Hardy. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones / Taurus, 2000. BRANDÃO, C. A. Leite. A formação do homem moderno vista através da arquitetura. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG (Coleção Humanitas), 1999. BRONNER, Stephen Eric. Da Teoria Crítica e seus teóricos. Campinas: Editora Papirus, 1997. CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia – dos pré-socráticos a Aristóteles - Volume I. 346 São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. COOK, Robert M. Os gregos até Alexandre. Lisboa: Editorial Verbo (Coleção História Mundi), 1966. D’AMARAL, Marcio Tavares (org.). Contemporaneidade e novas tecnologias. Rio de Janeiro: IDEA / ECO/UFRJ / Sette Letras, 1996. FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac Naify, 2006. FRAMPTON, Kennneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997. FREITAG, Bárbara; ROUANET, Sérgio Paulo (org.). Habermas. 3ª ed. São Paulo: Ática (Coleção Grandes Cientistas Sociais), 2001. FREITAG, Barbara. A Teoria Crítica ontem e hoje. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004. FRIEDMAN, Yona. Pour l’architecture scientifique. Paris: Pierre Belfond / Art-Action-Architecture, 1971. FULLER, R. Buckminster. Sinergetics - explorations in the geometry of thinking. New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1977. _____. Manual de operação para a espaçonave terra. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1985. _____. Novas explorações na geometria do pensamento. São Paulo: Agência Internacional de Comunicação dos EUA, s/d. FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma. São Paulo: HEMUS, 1975. GHIRALDELLI JR., Paulo. Neopragmatismo, Escola de Frankfurt e Marxismo. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001. GIANNOTTI, José Arthur. “O ardil do trabalho”. Estudos CEBRAP, n.° 4, p. 5 - 63, 1973. GIDDENS, Anthony [et al.]. Habermas y la modernidad. 2a ed. Madrid: Ediciones Cátedra (Colección Teorema), 1991. GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto: uma tragédia – Primeira parte. São Paulo: Editora 34, 2004. GORZ, André. Crítica da divisão do trabalho. 3a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. _____. Metamorfoses do trabalho: crítica da razão econômica. São Paulo: Annablume, 2003. 347 HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1982 (original de 1968). _____. Técnica e ciência como ‘ideologia’. Lisboa: Edições 70, 1997 (original de 1968). _____. Teoria de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 1988 (original de 1981). _____. Mudança estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro (Biblioteca Tempo Universitário, n.° 76. Série Estudos Alemães), 1984. _____. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990 (original de 1985). _____. “A nova intransparência”. Novos Estudos CEBRAP, n.º18, , p. 103 - 114, 1987. HALL, Peter. Cidades do Amanhã: uma história intelectual do planejamento e do projeto urbanos no século XX. São Paulo: Editora Perspectiva (Coleção Estudos – Arquitetura), 2002. HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 12a ed. São Paulo: Edições Loyola, 2003. HEGEL, G. W. F. Curso de Estética – O Sistema das Artes. São Paulo: Martins Fontes, 1997. HEIDEGGER, Martin. “A questão da técnica”. In Cadernos de Tradução, vol. 2. São Paulo: Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, 1997. _____. Ensaios e conferências. Petrópolis: Vozes, 2001. HORKHEIMER, Max. Teoria Crítica I. São Paulo: Editora Perspectiva (Coleção Estudos – Filosofia, vol. 77), 1990. KANT, Immanuel. Prolegómenos a toda metafísica futura. Lisboa: Edições 70, 1988. KOYRÉ, Alexandre. Estudos de história do pensamento científico. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1991. _____. Estudos de história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1991. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 5ª ed. São Paulo: Editora Perspectiva (Coleção Debates – Ciência, vol. 115), 1970. _____. A tensão essencial. Lisboa: Edições 70, 1977. 348 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1996. LEBRUN, Gérard. “Sobre a tecnofobia”. In NOVAES, Adauto. A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. São Paulo: HUCITEC - Edusp (Coleção Estudos Urbanos), 1989. _____. Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. LE GOFF, Jacques. O apogeu da cidade medieval. São Paulo: Martins Fontes, 1992. _____. Os intelectuais na Idade Média. 4ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995. LENOBLE, Robert. História da idéia de natureza. Lisboa: Edições 70, 1969. LEROI-GOURHAN, André. Evolução e técnicas. I - O homem e a matéria. Lisboa: Edições 70, 1971. _____. O gesto e a palavra – memória e ritmos. Lisboa: Edições 70, 1971. _____. O gesto e a palavra – técnica e linguagem. Lisboa: Edições 70, 1990. LIBERA, Alain De. A filosofia medieval. São Paulo: Edições Loyola, 1998. MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1973. _____. “Algumas implicações sociais da tecnologia moderna”. PRAGA - Revista de Estudos Marxistas, nº1, set/dez 1996 (trad. de Marcos Barbosa de Oliveira e Isabel Maria Loureiro, do original Studies in Philosophy and Social Sciences, Nova York, 1941). _____. Cultura e sociedade. Volume I. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. _____. Cultura e sociedade. Volume II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. MARX, Karl. Manuscritos económico-filosóficos. Lisboa: Edições 70 (Textos Filosóficos), 1993. _____. O capital: crítica da economia política. Livro Primeiro: O processo de produção do capital – Volume I. 19ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. _____. O capital: crítica da economia política. Livro Primeiro: O processo de produção do capital – Volume II. 18ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. _____. O capital: crítica da economia política. Livro Segundo: O processo de circulação do capital. 8ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 349 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998. MORRIS, William. Notícias de lugar nenhum: ou uma época de tranqüilidade. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo (Coleção Clássicos do Pensamento Radical), 2002. MUMFORD, Lewis. Arte e técnica. 21ª ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora (Coleção Arte e Comunicação), 1986. PAPANEK, Victor. Diseñar para el mundo real – ecologia humana e cambio social. 1ª ed. Madrid: H. Blume Ediciones, 1977. _____. Arquitectura e Design – ecologia e ética. Lisboa: Edições 70, 1995. PEARCE, Peter. Structure in nature is a strategy for design. London: Penguin Books, 1978. PIRENNE, Henri. História econômica e social da Idade Média. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1973. PLATÃO. A república. 8a. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. PRADO Jr., Bento. “Por que rir da filosofia?” (em homenagem a A. Candido). In _____. Alguns ensaios – filosofia / literatura / psicanálise. 1ª ed. São Paulo: Editora Max Limonad Ltda., 1985. _____. “Ética e Estética: uma versão neoliberal do Juízo de Gosto”. São Carlos, 2001, mimeo. REPA, Luiz. Habermas e a reconstrução do conceito hegeliano de modernidade. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas , Universidade de São Paulo, 2000. ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes (Coleção ‘a’), 2001. ROSSI, Paolo. Os filósofos e as máquinas – 1400 / 1700. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. RUGIU, Antonio Santoni. Nostalgia do Mestre Artesão. Campinas: Editora Autores Associados (Coleção Memória da Educação), 1998. SAFRANSKY, Rüdiger. Heidegger, um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. São Paulo: Geração Editorial, 2000. SANTOS, Laymert Garcia. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio-econômico da informação digital e genética. 1ª ed. São Paulo: Editora 34, 2003. SCHEPS, Ruth (org.). O império das técnicas. Campinas: Papirus Editora, 1996. SCHILLER, Friedrich. Cartas sobre a educação estética da humanidade. São Paulo: EPU, 1991. SIMONDON, Gilbert. Du monde d’existence dês objets techniques. France: Aubier Philosophie, 1989. 350 _____. L’individu et sa genèse physico-biologique. Grenoble: Éditions Jérôme Millon, 1995. _____. “Introdução”. In Cadernos de Subjetividade. Publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa de Estudos Pós-Graduandos em Psicologia Clínica da PUC-SP, vol. I, n°. 1. São Paulo: Editora Hucitec, 1993. _____. L’invention dans les techniques – cours et conferénces. Paris: Seuil, 2005. SPENGLER, Oswald. O homem e a técnica. 2ª ed. Lisboa: Guimarães Editores (Colecção Filosofia & Ensaios), 1993. STEADMAN, Philip. Arquitectura y naturaleza – las analogias biológicas en el diseño. Madrid: H. Blume Ediciones, 1982. TAFURI, Manfredo. Teorias e história da arquitectura. Lisboa: Editorial Presença, 1979. _____. Projecto e utopia: arquitectura e desenvolvimento do capitalismo. Lisboa: Editorial Presença (Coleção Dimensões), 1985. TEXTOS Escolhidos / Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural (Série Os Pensadores), 1983. TIMOSHENKO, Stephen P. History of strength of materials. New York: Dover, 1953. VENTURI, Robert. Complexidade e contradição em arquitetura. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes (Coleção ‘a’), 2004. VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. Aprendendo com Las Vegas. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga I e II. São Paulo: Editora Perspectiva (Coleção Estudos – História, vol. 163), 1999. _____. Trabalho e escravidão na Grécia Antiga. Campinas: Papirus, 1989. VILLALBA, Antonio Castro. Historia de la construcción arquitectónica. 2ª ed. Barcelona: Edicions de la Universitat Politecnica de Catalunya (Quadernos d’Arquitectes), 1996. WELLMER, Albrecht. “Arte, Arquitetura e Produção Industrial”. In SVENSSON, Frank (resp.). Arquitetura e conhecimento - Volume 1. Brasília: Publicação semestral em apoio às disciplinas ministradas pelo prof. Frank Svensson nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, s/d. 351 _____. Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad: la crítica de la razón después de Adorno. 2ª ed. Madrid: A. Machado Libros (Colección La balsa de la Medusa, 59), 2004. WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade: o uso humano de sêres humanos. São Paulo: Editora Cultrix, 1954. WIGGERHAUS, Rolf. A Escola de Frankfurt: história, desenvolvimento teórico, significação política. Rio de Janeiro: Difel, s/d.
Download