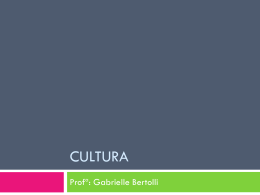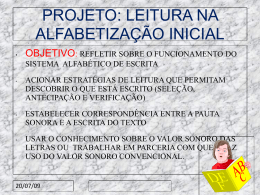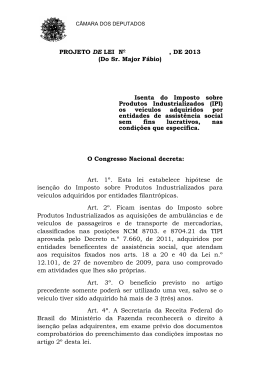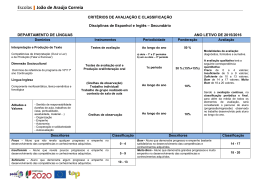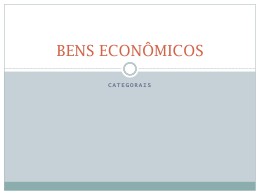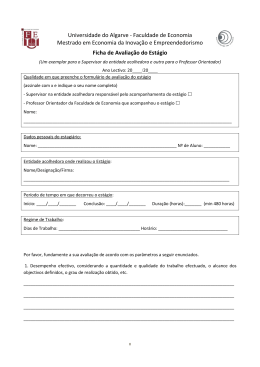Damos início, uma vez mais, a uma tradição de anos deste Supremo Tribunal, e cujo motor tem sido sempre a sua Secção Social: discutir temas que a atualidade político-jurídica torna candentes, necessários e urgentes. “Revisão das leis do Trabalho, direitos adquiridos, função da Jurisprudência” é desta feita, a temática escolhida e dificilmente haveria outra mais sugestiva. Estamos numa crise estrutural de todo o Ocidente, depois de termos sido hegemónicos no mundo: o fim dos ciclos coloniais e neo-coloniais asiático, americano e africano que tantas matérias-primas nos forneceram e a queda demográfica da população europeia e da América do Norte dão-nos o toque de uma perceção de fim de festa. Há vinte e cinco anos, com o ruir do bloco de Leste, muitos pensaram que tinha chegado o fim da História como a ingenuidade ideológica de Francis Fukuyama apregoava apesar de, mais tarde, ele próprio ter repudiado a sua herança; e nem nos demos conta de que vários países se recompunham e enriqueciam enquanto nós jogávamos numa especulação de casino que não criava riqueza mas criava ricos. Os efeitos de tudo isto numa nova conceção de direito que se quer fazer passar pela palavra final da Justiça são já demasiado visíveis para não serem notados. E não se trata de efeitos apenas ao nível do direito laboral; trata-se também de efeitos que emergem, ou podem emergir, em setores jurídicos variados, mas todos eles interligados pelo laço comum que as dificuldades crescentes potenciam. Parece que lentamente vamos regredindo à época descrita por Charles Dickens com um mercado desregulado quase em absoluto que é o contraponto perfeito da coletivização total e levando a um neoliberalismo sem controlo que irá ter sequelas nefastas. Um mercado assim vai conduzir, no direito contratual, à lei do mais forte, faltando saber se os freios jurídicos que hoje existem para evitar isso não serão abrandados até serem ineficazes; e os ventos da história já mostraram que a necessidade de acumulação de capital justifica regimes jurídicos de cumprimento defeituoso que são sistematicamente desfavoráveis ao cidadão e favoráveis ao empresário/produtor/vendedor/construtor o que coloca a questão de saber qual será o futuro dos contratos-tipo de adesão. É neste comprimento de onde que se quer ver o futuro direito laboral? O moderno direito do trabalho emergiu de um conjunto estruturado de normas negociadas coletivamente entre associações patronais e sindicatos de assalariados, tal como o direito contratual se legitima no equilíbrio das prestações acordadas e, por consequência, em limites jurídicos que salvaguardam o contraente mais débil como é evidente no direito do consumidor. Hoje, o direito do trabalho parece descaracterizar-se traçando o seu caminho em direção a uma mera prestação de serviço, saco comum onde cabem contratos vários com variações periféricas, e onde os contraentes são formalmente iguais mas substancialmente desiguais. Porque o desemprego crescente e a regra de ouro da liberdade contratual vão sustentar essa desigualdade substancial é previsível que tenhamos um país retratado em Oliver Twist para os que ficarem, e despojado daqueles que, altamente qualificados, não ficarem. É caso para perguntar se, afinal, o direito do trabalho não se dissolverá, inespecificamente, no direito contratual comum? X X X X É nesta sequência que nos surgem os “direitos adquiridos” que são uma aquisição cultural de uma civilização avançada, a nossa. Adquiridos são quase todos os direitos, ou seja, adquiridos são todos os direitos, exceção aberta tão-só para os direitos de personalidade, que são originários. Daí que adquiridos são os direitos dos trabalhadores, dos pensionistas, dos proprietários, dos empresários, dos donos societários, dos credores contratuais e dos credores extra-contratuais, dos herdeiros sucessórios, e por aí fora numa lista quilométrica. Sacrificar, hoje, alguns tipos de direitos adquiridos em detrimento de outros é, tão-só, um puro exercício de opção política que desnuda a autoria de quem a faz; daí a grandeza do estado social dos países da Europa ocidental que, durante sessenta anos, souberam combinar o que era iniciativa privada com a satisfação pública das necessidades coletivas de quem, por si só, não podia desenvolver as suas capacidades naturais. O conceito de direito adquirido entronca na ideia do pacto social oriundo do direito romano justinianeu, reelaborado, entretanto, a partir da Renascença por teóricos católicos e protestantes como forma de legitimar ou deslegitimar o poder do rei quando desligado do povo e como forma de solidificar a coesão e solidariedade entre as várias classes sociais. Em Inglaterra, os Stuarts foram deslegitimados desta forma porque, católicos como eram, haviam quebrado o contrato com um povo anglicano que os substituiu pelos príncipes de Orange; em Portugal, a legitimação de D. João I nas Cortes de Coimbra por João das Regras, seguiu o mesmo trilho porque só ele (e ninguém mais) podia refazer o pacto entretanto dissolvido com o povo como no-lo descreve, no seu estudo, Maria Helena Cruz Coelho. O contrato social vai estar na génese do liberalismo, da monarquia constitucional, da democracia representativa e do catálogo dos direitos fundamentais, nomeadamente dos adquiridos. Com uma variante: em Inglaterra, país de poder político tradicionalmente desconcentrado, o contrato é visto como acordado essencialmente entre indivíduos da comunidade; em França, país do poder político concentrado depois da tragédia de Pavia (e com os principais picos em Luis XIV e Napoleão) o contrato é visto como subscrito entre cidadãos e estado. Curiosamente, dois diplomas publicados em Janeiro deste ano, entre nós, (os Decretos-Leis n.ºs 11/2012 e 12/2012) referentes ao regime jurídico dos membros dos gabinetes ministeriais, socorrem-se de princípios estribados no espírito dos direitos adquiridos (artigos 20 e 9, respetivamente) relativamente a cargos transitórios de confiança política. Reler, depois disto, as crónicas sobre direitos adquiridos de Henrique Monteiro no Expresso de 4/2/2012 e de José Manuel Fernandes no Público de 3/2/2012, é como recuar a conceitos de miopia paleolítica de figuras menores do teatro vicentino. X X X X Mas este colóquio vai mais longe; aborda a função da Jurisprudência. Os juízes, e por extensão, a jurisprudência, deixaram de ser, há muito, “a boca que pronuncia as palavras da lei” à boa maneira do positivismo setecentista francês, para ser a seiva vivificadora que faz a justiça dos casos concretos onde se espelha quer o drama, quer o direito do homem com nome e identidade. Daí que no período temporal que nos espera a Jurisprudência tenha uma função inestimável no que se refere ao equilíbrio que todo o pacto pressupõe; ou seja, por ela passará indelevelmente a questão de saber até que ponto interesses privados podem ter soluções públicas suportadas pelos cidadãos-contribuintes, e até que ponto interesses públicos podem ter soluções privadas que a fracassarem (como sucedeu em Inglaterra) regressam, debilitadas, à esfera do público para, por este, serem de novo suportadas. Realizar, por isto, este Colóquio neste momento é de uma urgência inadiável. Luís António Noronha Nascimento Lisboa, 10 de Outubro de 2012
Baixar