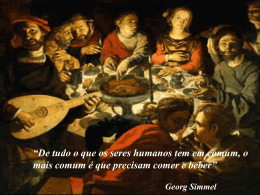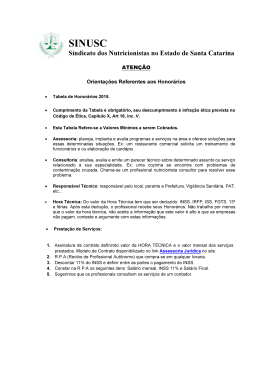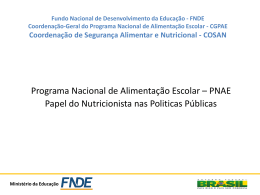CADERNO DE MATERIAIS TÉCNICOS PNAE – 2014 1 Sumário 1 RESUMOS EXECUTIVOS .................................................................................. 3 1.1 RESUMO EXECUTIVO – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE CARDÁPIOS – 2011. .............................................................................................. 4 1.2 RESUMO EXECUTIVO - UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE GÊNEROS ORGÂNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE ESCOLARES E SUA INTERFACE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CECANE UFSC. ....................................................... 43 1.3 RESUMO EXECUTIVO - ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS NUMÉRICOS MÍNIMOS DE REFERÊNCIA COM RELAÇÃO ÀS ATRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS DO NUTRICIONISTA EM UMA AMOSTRA DE MUNICÍPIOS DO BRASIL – CECANE UFRGS. ................................................................................................. 87 1.4 RESUMO EXECUTIVO - [PRELIMINAR] – EM ANDAMENTO – AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS CECANE UFG. .................................................................................................... 139 2 INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA ................................................................. 146 3 NOTAS TÉCNICAS......................................................................................... 148 3.1 BEBIDAS À BASE DE FRUTAS EM SUBSTITUIÇÃO À FRUTA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ................................................................................ 149 3.2 ESPECIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ................................................................................ 158 3.3 REGULAMENTAÇÃO DE CANTINAS ESCOLARES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO BRASIL....................................................................................... 162 3.4 RESTRIÇÃO DA OFERTA DE DOCES E PREPARAÇÕES DOCES NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ................................................................................ 168 3.5 INCLUSÃO DO PESCADO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ........................ 174 3.6 OBRIGATORIEDADE DA PASTEURIZAÇÃO DO LEITE PARA A AQUISIÇÃO E OFERTA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. ....................................................... 180 3.7 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. ......... 182 4 CARTAZ ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO AMBIENTE ESCOLAR ............. 184 5 CARTAZ DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL ... 186 2 1 RESUMOS EXECUTIVOS Pesquisas Cecanes 2011- 2013 3 1.1 RESUMO EXECUTIVO – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE CARDÁPIOS – 2011. OBJETIVO E METODOLOGIA O presente documento apresenta os resultados da pesquisa “Composição nutricional da alimentação escolar no Brasil: uma análise a partir de uma amostra de cardápios”. O objetivo deste estudo foi avaliar a composição nutricional da alimentação oferecida em uma amostra representativa de cardápios de escolas públicas brasileiras atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Por meio de sorteio, foram abrangidos, aleatoriamente, cardápios de diferentes modalidades de ensino bem como de escolas de diferentes localidades, como do meio urbano, rural, escolas indígenas e quilombolas. A pesquisa, desenvolvida pelo CECANE UFRGS no período de agosto de 2010 a dezembro de 2011, avaliou a composição nutricional e de nutrientes em termos de energia, macro e micronutrientes; frequência dos diferentes grupos de alimentos na alimentação escolar; e, frequência da utilização de produtos provenientes da compra da agricultura familiar na alimentação escolar. Utilizaram-se as recomendações do PNAE para fim de comparação dos resultados encontrados, conforme Resolução vigente no ano de realização da pesquisa (Resolução nº38 de 2009 FNDE-PNAE). Para a análise da composição nutricional e respectiva adequação, foram considerados os valores de referência da Resolução nº38 de 2009 – FNDE/PNAE, sendo considerado adequado o intervalo de 90 a 110% da recomendação (10% de margem). Foram solicitadas as informações de cardápios praticados na alimentação escolar durante uma semana, por meio das fichas técnicas das preparações com o detalhamento dos ingredientes utilizados, per capta destes e descrição de produtos provenientes da agricultura familiar. Foram analisados 1064 cardápios de escolas públicas do Brasil. 4 PRINCIPAIS RESULTADOS - BRASIL E REGIÕES Oferta de nutrientes – Brasil e Regiões Nas escolas do Brasil, de uma forma geral, observa-se a oferta, abaixo da recomendação, em 59% das escolas para cálcio e 70% para fibras. Analisando as escolas de educação infantil do Brasil, tanto em turno parcial como integral 46% ou mais ofertaram calorias, proteína e gordura acima da recomendação. As escolas de ensino fundamental foram as que apresentaram maior adequação em termos de macronutrientes (energia, carboidrato, proteína e gordura total). Já as escolas de ensino médio e de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) foram as mais inadequadas em termos de macro e micronutrientes devido a oferta abaixo da recomendação. Brasil - Escolas de educação infantil (turno parcial) Conforme as recomendações para esta modalidade de ensino, 80,3% das escolas apresentaram valores acima do recomendado para proteína, 67,1% para a energia e 62,6% para a oferta de carboidrato. Ainda, encontrava-se acima da recomendação alguns dos micronutrientes, como o magnésio, em 91,6% das escolas, a vitamina C em 82,5% e o zinco em 79,4% das escolas. A oferta de nutrientes abaixo da recomendação ocorreu em 73,4% das escolas para o cálcio e 59,7% das escolas para Fibra. Figura 1. Adequação da composição nutricional dos cardápios das escolas de educação infantil em turno parcial do Brasil. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 5 Brasil - Escolas de educação infantil (turno integral) De acordo com o preconizado para a educação infantil em tempo integral, 81,5% das escolas apresentaram valores abaixo da recomendação para fibras e 68,5% para o cálcio. A oferta de nutrientes acima da recomendação ocorreu em: 46,3% das escolas para energia, 70,4% para proteína, 59,3% para gordura total, 92,6% para zinco e em todas as escolas (100%) para magnésio. Figura 2. Adequação da composição nutricional dos cardápios das escolas de educação infantil em turno integral do Brasil. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Brasil - Escolas de ensino fundamental Levando-se em consideração as recomendações para esta modalidade de ensino, 64,6% das escolas apresentaram valores abaixo do recomendado para fibras, 54,2% das escolas para vitamina A e 84,5% para o cálcio. A oferta encontrava-se adequada em 55,1% das escolas para a energia, 52,8% para carboidrato e 51,5% para magnésio. Percentuais de adequação acima da recomendação foram encontrados em 58,2% das escolas para o ferro. 6 Figura 3. Adequação da composição nutricional dos cardápios das escolas de ensino fundamental em turno parcial do Brasil. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Brasil - Escolas de ensino médio A maioria das escolas apresentou percentuais de inadequação para todos os nutrientes, sendo encontrados valores abaixo do recomendado variando entre 40,7% e 87,4% das escolas. Destaca-se a oferta abaixo da recomendação de cálcio em 87,4% das escolas, carboidrato em 72,5% e energia em 68,9%. Figura 4. Adequação da composição nutricional dos cardápios das escolas de ensino médio em turno parcial do Brasil. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 7 Brasil - Escolas de educação para jovens e adultos (EJA) Grande parte das escolas apresentou percentuais de inadequação para macro e micronutrientes, sendo que valores abaixo do recomendado foram encontrados entre 45,1% a 85% das escolas. Destaca-se a oferta inadequada de Cálcio por 85% das escolas, vitamina A por 78,4% e energia cuja oferta estava abaixo da recomendação em 65,7% das escolas. Figura 5. Adequação da composição nutricional dos cardápios das escolas de educação para jovens e adultos (EJA) em turno parcial do Brasil. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Brasil - Escolas indígenas Foram avaliadas 14 escolas de Educação Infantil, 20 escolas de Ensino Fundamental e 5 escolas de Educação para Jovens e Adultos. As escolas de educação infantil apresentaram percentuais de inadequação abaixo da recomendação para cálcio e fibra em 64,3% das escolas e vitamina A 57,1%. Em relação à oferta de nutrientes acima da recomendação, esta ocorreu em 71,4% das escolas para proteína, vitamina C, magnésio e zinco e em 50% das escolas para o ferro. Dentre as escolas indígenas de ensino fundamental encontrou-se inadequação de macro e micronutrientes abaixo do recomendado, destacando-se a oferta inadequada em 90% das escolas para o cálcio, 70% para fibras e 60% das escolas 8 para vitamina A. Em relação à oferta de energia e gordura total, 55% das escolas apresentaram uma oferta adequada e 50% para magnésio. A maioria das escolas indígenas de Educação para Jovens e Adultos apresentaram percentuais de inadequação abaixo do recomendado para os nutrientes analisados, destacando-se a oferta insuficiente de cálcio em 100% das escolas, gordura e vitamina A em 80% e energia, carboidrato e vitamina C em 60% das escolas analisadas. Brasil - Escolas Quilombolas Foram avaliadas 29 escolas de Educação Infantil, 33 escolas de Ensino Fundamental, 2 escolas de Ensino Médio e 9 escolas de Educação para Jovens e Adultos. As escolas de educação infantil apresentaram percentuais de inadequação, abaixo da recomendação, para a maioria dos nutrientes analisados, destacando-se a oferta inadequada de fibra em 82,8% e cálcio em 86,2% das escolas, vitamina A em 72,4% das escolas e energia e gordura total em 51,7% das escolas. Acima da recomendação encontrava-se a oferta de proteína e zinco 51,7% das escolas, vitamina C em 65,5% e magnésio em 79,3% das escolas. Nas escolas quilombolas de Ensino Fundamental, destacam-se a inadequação abaixo da recomendação para cálcio em 90,9% das escolas, fibra em 84,8%, vitamina A em 69,7% e energia e gordura total em 63,6% das escolas analisadas. As escolas quilombolas de Ensino Médio analisadas apresentaram inadequação abaixo da recomendação para vitamina A e cálcio. Em relação aos demais nutrientes analisados observa-se a inadequação em uma das escolas, sendo esta abaixo da recomendação. Todas as escolas quilombolas de Educação de Jovens e Adultos (100%) apresentaram oferta inadequada abaixo da recomendação para energia, carboidrato, gordura total, fibra, vitamina A, cálcio e magnésio. Região Centro-Oeste Analisando-se as escolas de educação infantil em turno parcial, 84,6% e 92,3% das escolas apresentaram valores abaixo da recomendação para fibras e cálcio, respectivamente. Ainda, 85% das escolas apresentaram inadequação para oferta de proteína, seguido de 64% das escolas para gordura total, 71,8% para vitamina C, 94,9% magnésio e 87,2% das escolas para o zinco, sendo estas inadequações devido a oferta acima da recomendação destes nutrientes. 9 Dentre os cardápios das escolas de educação infantil em turno integral, todos (100%) apresentaram inadequação da oferta de fibra, seguido de 80% dos cardápios para o cálcio. Também, em 80% das escolas houve inadequação, acima da recomendação, para gordura total e vitamina C, e em todas as escolas (100%) para magnésio e zinco. Em relação às escolas de ensino fundamental da região Centro-Oeste, 84,1%, 68,3% e 96,8% das escolas apresentaram valores abaixo do recomendado para a oferta de fibra, vitamina A e cálcio respectivamente. Dentre os cardápios de escolas de ensino fundamental desta região, encontrou-se maior proporção de cardápios com adequação à recomendação para energia (54% dos cardápios adequados), carboidrato (50,8% adequados), proteína (68,3% adequados), gordura total (63,5% adequados), magnésio (60,3% adequados) e zinco (55,6% adequados). Em contraponto, a maioria dos cardápios avaliados de escolas de ensino médio apresentou percentuais de inadequação para todos os nutrientes. Dentre os nutrientes analisados destaca-se a inadequação de todas as escolas (100%) para a oferta de cálcio e carboidrato, seguido da inadequação da oferta de vitamina A por 93,3% das escolas, e fibra e magnésio, a qual estava abaixo da recomendação em 86,7% dos cardápios avaliados. Resultado semelhante foi encontrado na análise dos cardápios das escolas de educação para jovens e adultos. A inadequação, abaixo da recomendação, foi predominante nesta análise, destacando-se a oferta abaixo da recomendação de energia e carboidrato por 84,6% das escolas. Região Norte Grande parte das escolas de educação infantil em turno parcial (82,1%) apresentaram inadequação da oferta de fibras sendo esta abaixo da recomendação, 71,4% para a oferta de vitamina A e 92,8% para Cálcio. Encontram-se acima dos percentuais de adequação 64,3% das escolas para proteína, 60,7% para gordura total, 67,9% para vitamina C, 75% para zinco e 85,7% das escolas para magnésio. A análise dos cardápios de escolas de ensino fundamental revelou maior proporção de escolas adequadas à recomendação, destacando-se a adequação de 53,6% dos cardápios para oferta de energia e gordura total, e metade da amostra (50%) para carboidrato e proteína. Observou-se oferta abaixo da recomendação em 89,3% das escolas para fibras, 96,4% para vitamina A e 98,2% das escolas para o cálcio. 10 A maioria das escolas de ensino médio apresentou percentuais de inadequação para todos os nutrientes, sendo a proporção de escolas inadequadas, com valores abaixo da recomendação, de 70 e 100% das escolas cujos cardápios do ensino médio foram avaliados. Todas as escolas de ensino médio (100%) estavam inadequadas quanto a oferta de Vitamina A e Cálcio, e 85,7% dos cardápios desta modalidade não atingiram a recomendação de energia. Na mesma direção, este resultado concorda com a análise dos cardápios de escolas de educação para jovens e adultos, cuja inadequação de Vitamina A abaixo da recomendação foi em todas as escolas, bem como verificou-se em 85,7% das escolas oferta baixo da recomendação de Energia, Carboidrato e Fibra. Região Nordeste De acordo com as recomendações para Escolas de educação infantil (parcial), 76,4% e 72,7% das escolas apresentaram valores abaixo do recomendado para fibras e cálcio, respectivamente. Acima da adequação, encontram-se a oferta de energia em 55,8% das escolas, carboidrato em 54,5%, proteína em 71,5%, vitamina C em 76,4%, zinco em 66,1% e magnésio em 85,5% das escolas. Já dentre as escolas de educação infantil em tempo integral fibras e cálcio são ofertados abaixo da recomendação em 75% e 87,5% das escolas, respectivamente. Acima da adequação encontram-se a oferta de proteína em 62,5% das escolas, vitamina A em 50%, vitamina C em 87,5%, zinco em 87,5% e magnésio em 100% das escolas. A análise dos cardápios de escolas de ensino fundamental mostrou maior proporção de cardápios adequados às recomendações do PNAE, sendo que 62,8% encontravam-se com a energia adequada, 61,9% magnésio e 59,9% carboidrato. Quanto a oferta abaixo da recomendação, destaca-se a oferta insuficiente de fibras em 79,8% das escolas, vitamina A em 63,6% e cálcio em 89,1% dos cardápios das escolas analisadas. Na análise dos cardápios das escolas de ensino médio observou-se que a maioria das escolas apresentou percentuais de inadequação para os nutrientes analisados, sendo a oferta abaixo da recomendação. Dos nutrientes analisados observa-se que em 81,1% dos cardápios não atingiu-se a recomendação de cálcio, bem como em 75,7 não contemplou-se a necessidade de vitamina A deste público. Acima da adequação encontram-se a oferta de vitamina C em 60,4% das escolas e de ferro em 45,3% das escolas. Também, dentre as escolas de educação para jovens e adultos, verificou-se a inadequação às 11 recomendações, sendo esta abaixo do preconizado na resolução. Nesta modalidade, 80,8% das escolas não oferta fibra em quantidades suficientes, 81,6% carboidrato e 83,7% Vitamina A. Região Sudeste Na região Sudeste, 89,5% das escolas de educação infantil (turno parcial) apresentaram valores acima da recomendação para energia, 82% das escolas para carboidratos, 93,2% para proteína, 78,2% para gordura total. O único nutriente cuja recomendação não foi atingida pela maioria das escolas (59,4%) foi o Cálcio. Já dentre as escolas de educação infantil em turno integral, encontrou-se inadequação da oferta de energia, acima da recomendação, em 50% das escolas, gordura total em 54,5%, proteína em 68,2%, zinco em 86,4% e magnésio em 100% das escolas analisadas. Fibra e Cálcio encontravam-se abaixo da recomendação em 81,8% e 68,2% das escolas, respectivamente. Dentre as escolas de ensino fundamental 69,5% destas ultrapassaram a recomendação de proteína e 81,1% ultrapassaram a recomendação para o ferro. Destacam-se ainda a oferta das escolas acima da recomendação para os nutrientes: energia (48,9%), gordura total (52,4%), vitamina C (59,2%), magnésio (63,1%), zinco (75,5%) e ferro (81,1%). Houve oferta abaixo da recomendação de cálcio em 71,2% das escolas. Analisando-se os cardápios de escolas de ensino médio, verificou-se que o percentual de escolas que atingiu a recomendação conforme a resolução ficou abaixo de 20% para todos os nutrientes analisados. Dentre os nutrientes cujas escolas ultrapassaram a recomendação, destacam-se proteína, ferro e zinco, e abaixo da recomendação proposta carboidrato, vitamina A e cálcio. O resultado concorda com o encontrado na análise dos cardápios de escolas de educação para jovens e adultos (EJA): o percentual de escolas que atingiu a recomendação adequada ficou abaixo de 35% para todos os nutrientes analisados. Quanto à oferta abaixo da recomendação, esta esteve presente em 71,4% das escolas para o cálcio e 58,9% para a vitamina A. Já entre os nutrientes cuja oferta foi acima da recomendação, destacam-se a proteína oferecida em excesso por 69,6% das escolas, a gordura total em 51,8%, o ferro em 66,1% e o zinco em 67,9% das escolas. 12 Região Sul As escolas de educação infantil em turno parcial, de acordo com as recomendações vigentes, apresentaram valores abaixo do recomendado para fibra (63,9%) e para o cálcio (80,4%). A oferta de nutrientes acima da recomendação ocorreu em: 67% das escolas para a energia, 62,9% para carboidratos, 80,5% para proteína, 53,6% para gordura total, 92,8% para vitamina C, 53,6% para ferro, 91,8% para magnésio e 77,3% para zinco. Dentre as escolas de educação infantil em turno integral, 78,9% das escolas apresentaram valores abaixo da recomendação para fibras e 57,9% das escolas para o cálcio. A oferta de nutrientes acima da recomendação ocorreu em: 52,6% das escolas para energia, 84,2% para proteína, 63,2% para gordura total, 63,2% para vitamina A, 94,7% para vitamina C e 100% das escolas para magnésio e zinco. Avaliando-se a adequação na oferta de nutrientes das escolas de ensino fundamental observa-se que 70,6% das escolas apresentaram valores abaixo do recomendado para fibras, 58,8% das escolas para vitamina A e 87% para o cálcio. Percentuais de adequação acima da recomendação foram encontrados em 52,5% das escolas para a vitamina C e 52% das escolas para o ferro. Tanto os cardápios avaliados do ensino médio, quanto do EJA apresentaram maiores inadequações quanto a oferta de nutrientes abaixo da recomendação. Dentre os cardápios do EM, 86,1% estão inadequados para energia, 88,9% para gordura total e fibra e 94,4% para cálcio. Para o EJA encontrou-se 88,5% dos cardápios com oferta abaixo da recomendação de cálcio, e 76,9% inadequados quanto à oferta de fibra, gordura total e carboidrato, não atingindo a recomendação. Frequência dos Alimentos na Semana no Cardápio – Análise Brasil e Regiões Grupo de cereais, tubérculos e raízes Analisando-se a frequência dos grupos de alimentos nos cardápios do Brasil, percebe-se que os alimentos mais frequentes ofertados no cardápio da alimentação escolar do grupo dos cereais, tubérculos e raízes são: arroz branco, macarrão, batatas (do tipo inglesa, doce e baroa), biscoitos (doces e salgados) e pães, de acordo com as figuras 6 e 7. 13 Figura 6. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, arroz branco, macarrão e batatas. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Figura 7. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, bolos e pães. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Considerando a oferta mínima de uma vez por semana, a região CentroOeste é a que oferta com maior frequência mandioca e pães, a região Nordeste a que oferta com maior frequência arroz parboilizado, biscoitos (salgados e doces), canjica, cereal flocos de milho e macarrão, a região Sudeste a que oferta com maior 14 frequência arroz branco, batatas e bolos e a Sul aveia em flocos e polenta, conforme apresentado na tabela 6. Ao encontro com os achados desta pesquisa, foram referidos maiores frequências de consumo na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF) do grupo dos cereais e tubérculos, o arroz (84%) e o pão de sal (63%). Também a pesquisa realizada pelo FNDE em 2006, onde foram analisados cardápios de escolas de ensino fundamental, apresentaram como alimento mais ofertado deste grupo o arroz (95%), seguido do macarrão (80%). A oferta de biscoitos teve alta frequência nos cardápios (57,2%), concordando com os resultados encontrados na pesquisa FNDE 2006 de 56%. A POF 2008 – 2009 referiu um maior consumo de biscoitos nas faixas etárias menores. Tabela 1. Frequência da oferta de alimentos do grupo de cereais, tubérculos e raízes. Brasil e regiões, 2011. Alimento Mandioca Arroz branco Arroz parboilizado Aveia em flocos Batatas Frequência Brasil Nenhuma vez 79,4 CentroOeste 68,5 1 ou 2 vezes 20,1 3 ou 4 vezes Norte Nordeste Sudeste Sul 81,4 86 74,6 80,2 31,5 16,3 13,1 25,4 19,8 0,5 0 2,3 0,9 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 17,4 5,6 11,6 27,1 4,4 27,8 1 ou 2 vezes 46,5 55,1 68,6 63,8 12,5 56,4 3 ou 4 vezes 26,3 33,7 16,3 7,9 57,4 11,5 5 vezes ou mais 9,8 5,6 3,5 1,2 25,7 4,4 Nenhuma vez 88,7 - 97,7 81 96,2 81,9 1 ou 2 vezes 9,3 - 2,3 17,2 1,3 15,0 3 ou 4 vezes 1,7 - 0 1,5 2,2 2,6 5 vezes ou mais 0,3 - 0 0,3 0,3 0,4 Nenhuma vez 96,2 98,9 95,3 96,8 97,2 1 ou 2 vezes 3,8 1,1 4,7 3,2 2,8 93,4 6,6 3 ou 4 vezes 0 0 0 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 41,1 52,8 70,9 39,7 22,6 53,3 1 ou 2 vezes 53,5 42,7 27,9 55,4 68,3 43,6 3 ou 4 vezes 4,8 4,5 1,2 4,4 7,8 2,6 5 vezes ou mais 0,7 0 0 0,6 1,3 0,4 15 Tabela 1. Frequência da oferta de alimentos do grupo de cereais, tubérculos e raízes. Brasil e regiões, 2011. (continuação). CentroAlimento Frequência Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Oeste Nenhuma vez 42,8 64,0 29,1 22,2 63 42,3 Biscoitos 1 ou 2 vezes 47,7 32,6 68,6 72 17,2 52 salgados e 3 ou 4 vezes 6,5 3,4 1,2 5,2 11 5,3 doces Bolos Canjica Cereal flocos de milho Macarrão Pães 5 vezes ou mais 3 0 1,2 0,6 8,8 0,4 Nenhuma vez 93,0 92,1 98,8 92,4 90,6 95,2 1 ou 2 vezes 7 7,9 1,2 7,6 9,4 4,8 3 ou 4 vezes 0 0 0 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 86,7 92,1 89,5 83,1 88,1 86,8 1 ou 2 vezes 13,3 7,9 10,5 16,9 11,9 13,2 3 ou 4 vezes 0 0 0 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 94,0 95,5 - 91,5 95,9 92,1 1 ou 2 vezes 6,0 4,5 - 8,5 4,1 7,9 3 ou 4 vezes 0 0 - 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 - 0 0 0 Nenhuma vez 26,6 27 22,1 21,3 28,2 33,9 1 ou 2 vezes 71,9 73 77,9 75,8 69,9 66,1 3 ou 4 vezes 1,4 0 0 2,6 1,9 0 5 vezes ou mais 0,1 0 0 0,3 0 0 Nenhuma vez 54,9 41,6 84,9 58,3 54,9 43,6 1 ou 2 vezes 36,4 53,9 14 40,5 23,5 49,8 3 ou 4 vezes 3,5 3,4 1,2 1,2 6,9 3,1 5,3 1,1 0 0 14,7 3,5 5 vezes ou mais Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Foi possível identificar a diversificação de produtos utilizados na alimentação escolar. Na região Centro-Oeste, destaca-se a elevada oferta de farinha de mandioca (47,2% no mínimo uma vez por semana) e esta região como sendo a única a ofertar farinha de soja. Já a região Nordeste é a única que oferta arroz selvagem (vermelho). A região Norte é a única a ofertar milho branco (9,3% ofertam entre 1 e 2 vezes na semana) na alimentação escolar e a que mais oferta cará (1,2% ofertam entre 1 e 2 vezes na semana) e tapioca (17,4% de uma a duas vezes na semana). As regiões Sudeste e Sul são as únicas que ofertam sagu, sendo que a Sudeste é a única que oferta batata palha na alimentação escolar (2,2% ofertam entre 1 e 2 vezes na semana) e a que mais oferta inhame (10% ofertam 1 ou mais 16 vezes na semana). A região Sul é a única que oferta farinha de linhaça, farinha de trigo integral, crostoli (cueca virada ou orelha de gato), cuca, granola, além de arroz e pão integrais. Grupo das frutas e hortaliças Analisando a frequência da oferta do grupo das frutas e hortaliças nos cardápios do Brasil, percebe-se que os alimentos mais frequentemente ofertados no cardápio da alimentação escolar deste grupo são frutas em geral, vegetais folhosos e não folhosos, de acordo com as figuras 8, 9 e 10. A região Nordeste foi a que mais ofertou polpas de frutas, a Norte a que mais ofertou sucos de frutas concentrados, a Sul a que mais ofertou frutas, suco de frutas natural e vegetais folhosos, e a Sudeste a que mais ofertou não folhosos. Analisando a categoria de frequência de oferta de 5 vezes ou mais na semana de frutas, observa-se que a região Norte apresenta o menor percentual (2,3%) e a região Sudeste o maior percentual (11,3%). Figura 8. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, frutas e polpas de frutas. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 17 Figura 9. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, sucos de frutas concentrado e suco de frutas natural. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Quanto à frequência da oferta de vegetais não folhosos, observa-se que a menor oferta ocorre nas regiões Nordeste e Norte, e a maior na Sul, de acordo com a Figura 10. Figura 10. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, vegetais não folhosos e vegetais folhosos. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 18 As regiões Norte e Nordeste não apresentaram a oferta de 5 vezes ou mais na semana de vegetais folhosos. Em relação aos vegetais não folhosos, 97,8% e 62,8% das escolas da região Sudeste e Norte, respectivamente, ofertaram no mínimo uma vez por semana esses alimentos. Analisando a categoria de frequência de oferta de 5 vezes ou mais na semana, observa-se que a região Sudeste apresenta a maior oferta desta categoria (28,8%), contrastando com a região Norte, que não apresenta esta frequência, conforme tabela 2. Tabela 2. Frequência da oferta de alimentos do grupo das frutas e hortaliças. Brasil e regiões, 2011. Alimento Frutas Polpas de frutas Sucos de frutas concentrados Sucos de fruta natural Vegetais não folhosos Vegetais folhosos Frequência Brasil Nenhuma vez 29,5 CentroOeste 30,3 1 ou 2 vezes 47,1 3 ou 4 vezes Norte Nordeste Sudeste Sul 53,5 37,6 21,6 18,9 60,7 34,9 47,8 42,9 51,1 16,4 3,4 9,3 11,1 24,1 21,6 5 vezes ou mais 7,0 5,6 2,3 3,5 11,3 8,4 Nenhuma vez 79,1 75,3 72,1 63,6 89 93 1 ou 2 vezes 17,8 22,5 23,3 31,2 9,1 5,7 3 ou 4 vezes 2,5 2,2 3,5 4,4 1,3 1,3 5 vezes ou mais 0,6 0 1,2 0,9 0,6 0 Nenhuma vez 86,9 84,3 74,4 87,5 85,3 94,3 1 ou 2 vezes 11,1 15,7 17,4 11,1 11,9 5,7 3 ou 4 vezes 1,9 0 8,1 1,5 2,5 0 5 vezes ou mais 0,1 0 0 0 0,3 0 Nenhuma vez 96,3 92,1 97,7 98,8 99,1 89,9 1 ou 2 vezes 3,6 7,9 2,3 1,2 0,9 9,7 3 ou 4 vezes 0,1 0 0 0 0 0,4 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 12 6,7 37,2 14,3 2,2 22 1 ou 2 vezes 38,3 44,9 39,5 42,6 18,5 57,3 3 ou 4 vezes 36,9 39,3 23,3 36,7 50,5 17,6 5 vezes ou mais 12,8 9 0 6,4 28,8 3,1 Nenhuma vez 52,2 48,3 72,1 90,1 28,8 21,6 1 ou 2 vezes 36,7 46,1 22,1 9,3 55,8 53,3 3 ou 4 vezes 9,8 4,5 5,8 0,6 13,2 22,5 1,3 1,1 0 0 2,2 2,6 5 vezes ou mais Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 19 Destaca-se ainda a ausência de frutas em 29,5% dos cardápios do Brasil, sendo a região Norte a com menor frequência de oferta, chegando a ausência de frutas nos cardápios analisados a 53,5%. A mesma região também recebe o mesmo destaque negativo na oferta de vegetais não folhosos (37,2%). Na região Norte, foi alto o percentual de cardápios onde não foram ofertados nenhuma vez vegetais folhosos (90,1%). No Brasil, 12% dos cardápios não apresentaram nenhuma vez vegetais não folhosos e 52,2% não ofereceram nenhuma vez vegetais folhosos (Tabela 2). A pesquisa de cardápios do ensino fundamental de 2006 do FNDE já revelava uma lacuna na oferta de frutas e hortaliças, visto que nem todas as escolas ofertavam alimentos destes grupos. Percebem-se nos dados apresentados na presente pesquisa que este distanciamento entre o analisado e o recomendado permanece, pois segundo a Resolução FNDE 38/2009 os cardápios da alimentação escolar deveriam oferecer, pelo menos, três porções de frutas e hortaliças por semana, equivalendo a 200g por aluno por semana. Em relação ao tamanho da porção ofertada, verificou-se que a mediana da oferta diária de frutas é de 35g, de vegetais não folhosos 14,4g e de vegetais folhosos é de 4,53g. O per capita de frutas encontra-se superior ao encontrado nos cardápios do ensino fundamental na pesquisa de 2006, que era de 28g/dia e a oferta de vegetais superior se considerada a soma de vegetais folhosos e não folhosos a qual era de 12g e na presente pesquisa foi de 18,93g de vegetais por dia. Em 2006, 84% dos cardápios ofertavam hortaliças (folhosos e legumes), enquanto que na presente pesquisa 43,4% oferta vegetais folhosos e 89,7% vegetais não folhosos. Ressalta-se a importância da oferta em âmbito escolar destes grupos alimentares, reforçando que saladas e verduras em geral são menos consumidas por adolescentes quando comparados aos adultos e idosos (POF 2008 – 2009). Associam-se a este achado as deficiências de micronutrientes e fibra presentes na maior parte das regiões, que poderiam ser solucionadas com o aumento na oferta de frutas e vegetais, folhosos ou não. Quanto à diversidade de frutas e hortaliças na alimentação escolar, as frutas que foram ofertadas em todas as regiões foram: abacaxi, banana, tangerina, coco ralado, laranja, limão, maçã, mamão, maracujá e melancia. A região Sul foi a que apresentou a maior diversificação de frutas, sendo a única região que ofertou ameixa, amora, kiwi, morango e nectarina no cardápio da alimentação escolar. Nas 20 demais regiões, se destacaram por serem as únicas a fornecer determinadas frutas: caju e pequi no Centro-Oeste, cajá, graviola, hibisco e mangaba no Nordeste, açaí e cupuaçu no Norte e carambola e pêssego no Sudeste. As regiões Norte e Nordeste destacaram-se na utilização de frutas regionais. Dentre as hortaliças, a região Sul foi a que apresentou maior diversificação de vegetais folhosos, enquanto a Sudeste foi a que ofertou com maior variedade vegetais não folhosos. Foram ofertados em todas as regiões os seguintes vegetais folhosos: alface, couve, espinafre e rúcula, exceto a região Nordeste, que ofertou somente os dois primeiros itens. Para os vegetais não folhosos, todas ofertaram abóbora moranga cabotiã, beterraba, cenoura, chuchu, repolho e tomate. Destacaram por serem as únicas a fornecer determinados vegetais: Nordeste o maxixe, Sudeste o rabanete e Sul o nabo. Grupo das carnes e ovos Analisando a frequência dos grupos de alimentos nos cardápios do Brasil, percebe-se que no grupo das carnes e ovos, a carne bovina é o tipo de carne mais ofertado na alimentação escolar, seguido da carne de frango, da carne seca e dos ovos, conforme a tabela 3 e a Figura 11. A região Sudeste é a que apresenta a maior oferta de carnes, peixe fresco e ovos, provavelmente por ofertar com maior frequência preparações salgadas na alimentação escolar. Figura 11. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, carne bovina, carne de frango e ovos. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 21 Em relação ao tipo de carne, a oferta de carne bovina é predominante em todas as regiões, esta seguida da oferta de carne de frango. A região Sudeste segue o padrão brasileiro no que diz respeito ao consumo de carne bovina e de frango, seguida da oferta de salsicha, peixes frescos e miúdos. Já a carne seca é ofertada com maior frequência nas regiões Norte e Nordeste. Em relação à carne de frango, a região Norte foi a que menos ofertou, seguida da região Nordeste. Tabela 3. Frequência da oferta de alimentos do grupo das carnes e ovos. Brasil e regiões, 2011. Alimento Carne bovina Carne de caprino / ovino Carne de Frango Carne Seca Carne suína Ovos Frequência Brasil Nenhuma vez 20,4 CentroOeste 7,9 1 ou 2 vezes 59,7 3 ou 4 vezes Norte Nordeste Sudeste Sul 58,1 30,9 4,4 17,6 62,9 33,7 60,3 58,6 68,3 19 29,2 8,1 8,7 34,2 13,7 5 vezes ou mais 0,9 0 0 0 2,8 0,4 Nenhuma vez 99,5 - 98,8 98,8 - - 1 ou 2 vezes 0,5 - 1,2 1,2 - - 3 ou 4 vezes 0 - 0 0 - - 5 vezes ou mais 0 - 0 0 - - Nenhuma vez 33,6 13,5 61,6 38,5 10,7 26,9 1 ou 2 vezes 63,6 82 37,2 60,6 84,3 68,7 3 ou 4 vezes 2,7 4,5 1,2 0,9 5 4 5 vezes ou mais 0,1 0 0 0 0 0,4 Nenhuma vez 80,2 78,7 53,5 60,6 95 99,6 1 ou 2 vezes 19 19,1 43 38,2 5 0,4 3 ou 4 vezes 0,8 2,2 3,5 0,9 0 0 5 vezes ou mais 0,1 0 0 0,3 0 0 Nenhuma vez 96 96,6 98,8 - 94,7 90,3 1 ou 2 vezes 4 3,4 1,2 - 5,3 9,7 3 ou 4 vezes 0 0 0 - 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 - 0 0 Nenhuma vez 62,3 61,8 83,7 76,7 47,3 53,7 1 ou 2 vezes 35,1 38,2 14 23,3 49,5 39,2 3 ou 4 vezes 2,4 0 2,3 0 3,1 6,2 5 vezes ou mais 0,2 0 0 0 0 0,9 22 Tabela 3. Frequência da oferta de alimentos do grupo das carnes e ovos (continuação). Brasil e regiões, 2011. Alimento Miúdos Peixes e frutos do mar Peixes enlatados (atum e sardinha) Salsicha Linguiça Embutidos (fiambre, apresuntado e mortadela) Frequência Brasil Nenhuma vez 95,5 CentroOeste 97,8 1 ou 2 vezes 4,5 3 ou 4 vezes Norte Nordeste Sudeste Sul - 98,5 88,7 97,8 2,2 - 1,5 11,3 2,2 0 0 - 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 - 0 0 0 Nenhuma vez 93,8 97,8 93 98 87,1 96,9 1 ou 2 vezes 6,2 2,2 7 2 12,9 3,1 3 ou 4 vezes 0 0 0 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 92,5 98,9 95,3 84 96,9 96,9 1 ou 2 vezes 7,5 1,1 4,7 16 3,1 3,1 3 ou 4 vezes 0 0 0 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 83,6 94,4 84,9 88 76,5 81,9 1 ou 2 vezes 16,4 5,6 15,1 12 23,5 18,1 3 ou 4 vezes 0 0 0 0 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 88,1 67,4 - 91 82,1 95,6 1 ou 2 vezes 11,8 32,6 - 8,7 17,9 4,4 3 ou 4 vezes 0,1 0 - 0,3 0 0 5 vezes ou mais 0 0 - 0 0 0 Nenhuma vez 94,4 - 97,7 99,1 93,1 85,9 1 ou 2 vezes 5,3 - 2,3 0,9 6 13,7 3 ou 4 vezes 0,2 - 0 0 0,6 0 0,2 - 0 0 0,3 0,4 5 vezes ou mais Fonte: CECANE UFRGS, 2011. No que se refere à oferta do grupo das carnes, ovos e peixes, a pesquisa dos cardápios do ensino fundamental de 2006 apresentou o mesmo padrão de fornecimento de carnes que o encontrado nesta pesquisa, exceto para o mais baixo percentual de fornecimento de carne bovina e frango, a qual era menor na região Nordeste e agora se apresenta menor na região Norte. Destaca-se a elevada oferta de peixes enlatados na região Nordeste, comparando-se com as outras regiões. No entanto, segundo a POF de 20082009, está é a segunda região que mais consome peixes frescos e preparações. Tal hábito de consumo deveria ser acompanhado da adequada 23 escolha do tipo de pescado ofertado, o qual deve ser preferencialmente fresco em decorrência das altas concentrações de sódio e conservantes presentes no pescado enlatado. Ainda, destaca-se que na pesquisa de orçamentos familiares a região Norte despontou como a de maior consumo de peixes frescos, já na presente pesquisa esta foi a segunda região que mais ofertou este tipo de peixe nos cardápios da alimentação escolar. A Figura 12 destaca a baixa oferta de peixe e frutos do mar em todas as regiões brasileiras, sendo a oferta de uma a duas vezes na semana no Nordeste de 2% e no Sudeste de 12,9%. Quanto ao peixe enlatado, a maior oferta é encontrada na região Nordeste, de 16%. Tanto os peixes in natura quanto os enlatados não foram ofertados em nenhuma das regiões do Brasil com uma frequência maior que 3 vezes na semana. Figura 12. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, peixe e frutos do mar e peixes enlatados. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. A salsicha foi ofertada em todas as regiões, sendo que a região Sudeste foi a que apresentou maior oferta (23,5%); a linguiça foi ofertada em todas as regiões, exceto a Norte, sendo a maior oferta encontrada no Centro-Oeste (32,6%). As regiões Sul e Sudeste apresentaram a maior oferta de embutidos (apresuntado, mortadela, mortadela de frango, presunto e presunto magro), 24 sendo o percentual mais elevado encontrado na região Sul (14,1%), conforme a Figura 13. Figura 13. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, salsicha, linguiça e embutidos. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Na pesquisa de cardápios de 2006, os embutidos foram ofertados, em média, em 12% dos cardápios analisados, sendo mais presentes nas regiões Centro-Oeste (25%) e Sudeste (24%). A média da porção per capita de linguiça, salsicha e embutidos foi de 30,1, 30,5 e 18,7 gramas, respectivamente. Apesar de presente na análise das regiões do Brasil, os embutidos, as salsichas e as linguiças não deveriam ser ofertados com frequência no cardápio da alimentação escolar por estes produtos serem pouco saudáveis. O artigo 17 da resolução 38 de 2009, o qual trata da aquisição dos gêneros alimentícios com os recursos do FNDE, restringe a compra de embutidos e outros alimentos industrializados com quantidades elevadas de sódio e/ou gordura saturada. Apesar desta restrição, ainda existe a oferta nos cardápios da alimentação escolar deste tipo de alimento. A POF 2008-2009 apresenta um comparativo do consumo segundo os grupos de faixa etária, chamando a atenção para as diferenças no percentual de pessoas que reportaram o consumo de biscoitos, linguiça, salsicha, mortadela, sanduíches e salgados, que diminuem com o aumento da idade. Os 25 valores per capita indicam um menor consumo de feijão, saladas e verduras, em geral, para adolescentes quando comparados aos adultos e idosos. O ambiente escolar é reconhecido como um espaço de construção de hábitos, devendo reforçar a preferência por alimentos mais saudáveis. Grupo do leite e derivados No grupo dos leites de derivados, aproximadamente 50% das escolas brasileiras ofertaram o leite integral uma ou duas vezes na semana. Na região Sudeste, o leite integral foi ofertado no mínimo uma vez por semana em 59,2% das escolas, enquanto que na região Norte foi apresentado um percentual de 87,2, conforme apresentado na tabela 4. Tabela 4. Frequência da oferta de alimentos do grupo dos leites e derivados. Brasil e regiões, 2011. Alimento Bebidas à base de leite Leite integral Queijos Frequência Brasil Nenhuma vez 81,6 CentroOeste 93,3 1 ou 2 vezes 16 3 ou 4 vezes Norte Nordeste Sudeste Sul 88,4 80,2 78,1 82,8 5,6 11,6 19,8 14,1 17,2 0,8 0 0 0 2,8 0 5 vezes ou mais 1,6 1,1 0 0 5 0 Nenhuma vez 27,8 44,9 12,8 16 40,8 43,2 1 ou 2 vezes 50 46,1 73,3 64,1 24,1 45,8 3 ou 4 vezes 11,4 3,4 14,0 15,2 9,7 6,6 5 vezes ou mais 10,8 5,6 0 4,7 25,4 4,4 Nenhuma vez 89,4 98,9 95,3 94,5 89 76,2 1 ou 2 vezes 9,3 1,1 4,7 5,5 10 18,9 3 ou 4 vezes 0,7 0 0 0 0,6 2,2 5 vezes ou mais 0,7 0 0 0 0,3 2,6 Fonte: CECANE UFRGS, 2011. As bebidas à base de leite (que incluem as bebidas lácteas, iogurtes, leites achocolatados prontos e pó para preparo de vitamina de frutas) apresentaram menor oferta, tanto a nível nacional quanto por regiões. Quanto à oferta de queijos, na avaliação nacional somente 10,6% das escolas ofertaram uma vez ou mais esse produto no cardápio semanal. A maior oferta de bebidas à base de leite foi verificada na região Sudeste e de queijos na região Sul, conforme a figura 14. As regiões Sudeste e Sul foram as que apresentam a 26 maior variedade de queijos na alimentação escolar, sendo elas: colonial, lanche, muçarela, minas, parmesão, prato e requeijão. Figura 14. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, leite integral, bebidas á base de leite e queijos. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. A pesquisa de cardápios realizada em 2006 pelo FNDE com escolas de ensino fundamental encontrou uma oferta frequente de leite e derivados nos cardápios brasileiros (78%), sendo maior na região Sul (89%) e menor no Sudeste (62%). A presente pesquisa encontrou a região Centro-Oeste como a que menos oferta leite integral. Apesar de a região Norte ser classificada como a que mais oferta leite integral, a região Sul é a que mais oferta queijos e a Sudeste bebidas à base de leite. Grupo das leguminosas Analisando a frequência dos grupos de alimentos nos cardápios do Brasil, percebe-se que os alimentos mais frequentes ofertados no cardápio da alimentação escolar do grupo das leguminosas são os feijões e a soja, de acordo com a tabela 5. No total do Brasil, 12 tipos de feijões foram ofertados: branco, carioca, caupi, da colônia, de corda, fradinho, macassar, mulatinho, preto, rajado, verde e vermelho. Em todas as regiões brasileiras foram ofertadas as variedades de feijões preto e carioca. As regiões Norte e Nordeste 27 foram as que apresentaram maior variedade (8 a 9 tipos) de feijões, provenientes principalmente da compra da agricultura familiar. A menor frequência da oferta de feijões foi encontrada no Nordeste (61,8%), enquanto que a maior foi na região Sudeste (94,7%), considerando a oferta mínima de uma vez por semana. A oferta de lentilha foi inexpressiva na maioria das regiões, apresentando-se maior na região Sul (4,8%), conforme figura 15. Figura 15. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, feijões e lentilha. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 3. 28 Tabela 5. Frequência da oferta de alimentos do grupo das leguminosas. Brasil e regiões, 2011. Alimento Amendoim Bebida à base de soja Feijões Lentilha Soja e proteína texturizada de soja Frequência Brasil Nenhuma vez 99,1 CentroOeste 98,9 1 ou 2 vezes 0,9 3 ou 4 vezes Norte Nordeste Sudeste Sul 97,7 - 99,1 98,2 1,1 2,3 - 0,9 1,8 0 0 0 - 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 - 0 0 Nenhuma vez 99,3 - 98,8 - 99,1 99,1 1 ou 2 vezes 0,7 - 1,2 - 0,9 0,9 3 ou 4 vezes 0 - 0 - 0 0 5 vezes ou mais 0 - 0 - 0 0 Nenhuma vez 25,7 25,8 36 38,2 5,3 31,3 1 ou 2 vezes 47,1 53,9 57 58,3 23,8 56,4 3 ou 4 vezes 16,4 12,4 3,5 2,3 41,1 9,7 5 vezes ou mais 10,8 7,9 3,5 1,2 29,8 2,6 Nenhuma vez 98,6 97,8 - - 99,4 95,2 1 ou 2 vezes 1,3 2,2 - - 0,6 4,4 3 ou 4 vezes 0,1 0 - - 0 0,4 5 vezes ou mais 0 0 - - 0 0 Nenhuma vez 79,1 85,4 89,5 51,9 92,8 95,6 1 ou 2 vezes 19,7 13,5 9,3 45,8 6,9 4 3 ou 4 vezes 1,1 1,1 1,2 2,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 5 vezes ou mais Fonte: CECANE UFRGS, 2011. A utilização de soja e de proteína texturizada de soja foi observada em todas as regiões, sendo maior na região Nordeste (51,9%), compatível com os achados da pesquisa de cardápios das escolas de ensino fundamental de 2006. A menor oferta ocorreu na região Sul (4,4%). A região que mais ofertou a vagem no cardápio foi a Sudeste (22,6%), conforme apresentado na figura 16. 29 Figura 16. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, soja e vagem. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Grupo das gorduras e óleos Quanto à oferta do grupo das gorduras e óleos, destaca-se a elevada oferta de óleo de soja, que foi ofertado em todas as regiões brasileiras com percentuais superiores a 90%, conforme Figura 17. Figura 17. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, óleo de soja, margarina e manteiga. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 30 Estes dados concordam com os encontrados na pesquisa de 2006, que obtiveram percentuais elevados de oferta de óleos, manteiga e margarina em todas as regiões, com valores oscilando entre 90% a 99%. A média da porção per capita de óleo de soja ofertado foi de 6 mL. No presente estudo, a região que possui a menor oferta de margarinas é a Norte (18,6%) e a maior a Sudeste (46,4%). As regiões Nordeste e Sudeste ofertaram azeite de oliva na alimentação escolar, e as regiões Sudeste e Sul, bacon. A região Norte é a única a ofertar azeite de dendê, castanha do Brasil e leite de coco light, enquanto que a Sul é a única que oferta gordura vegetal hidrogenada, maionese caseira, margarina sem sal e nata. Grupo dos açúcares No grupo dos açúcares, os mais ofertados são o açúcar refinado, o achocolatado e o refresco industrializado, conforme apresentado Nas Figuras 18 e 19. Considerando a frequência mínima de uma vez na semana, as regiões que mais utilizam o açúcar simples no cardápio da alimentação escolar são a Norte e Nordeste. A região Sudeste apresenta a menor oferta de açúcar refinado (52,7%), entretanto esta mesma região apresenta a maior oferta de refresco industrializado e gelatina no país, conforme a tabela 6. Na pesquisa dos cardápios de 2006, o grupo de açúcares, que também incluiu achocolatados e doces, apresentou maior frequência nos cardápios das regiões Norte e Sul (89%), sendo o menor percentual encontrado na região Sudeste (59%). 31 Figura 18. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, açúcar e achocolatado. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Figura 19. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, refresco industrializado. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Na tabela 6 observa-se que o doce de fruta esteve presente com maior frequência na região Sul (20,8%), e o mel teve ocorrência de oferta nas regiões Norte e Sul acima de 10%. 32 Tabela 6. Frequência da oferta de alimentos do grupo dos açúcares. Brasil e regiões, 2011. Alimento Achocolatado Açúcar Açúcar mascavo Doce de leite ou leite condensado Doce de fruta Gelatina Mel Rapadura Refresco industrializado Frequência Brasil Nenhuma vez 60,3 CentroOeste 64 1 ou 2 vezes 32,1 3 ou 4 vezes Norte Nordeste Sudeste Sul 69,8 60,9 62,4 51,5 31,5 30,2 38,8 16,6 44,9 2,8 2,2 0 ,3 7,2 1,8 5 vezes ou mais 4,7 2,2 0 0 13,8 1,8 Nenhuma vez 25 31,5 7 7,9 47,3 23,8 1 ou 2 vezes 49,1 55,1 60,5 56,9 30,7 56,4 3 ou 4 vezes 18,1 10,1 24,4 28,0 11 14,1 5 vezes ou mais 7,8 3,4 8,1 7,3 11 5,7 Nenhuma vez 98,8 - 96,5 - 99,7 96 1 ou 2 vezes 0,9 - 2,3 - 0,3 3,5 3 ou 4 vezes 0,3 - 1,2 - 0 0,4 5 vezes ou mais 0 - 0 - 0 0 Nenhuma vez 96 96,6 94,2 98,3 95,3 93,8 1 ou 2 vezes 3,9 3,4 5,8 1,7 4,7 5,7 3 ou 4 vezes 0,1 0 0 0 0 0,4 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 0 Nenhuma vez 91,1 96,6 94,2 96,2 91,5 79,3 1 ou 2 vezes 8,6 3,4 5,8 3,8 8,5 18,9 3 ou 4 vezes 0,2 0 0 0 0 0,9 5 vezes ou mais 0,2 0 0 0 0 0,9 Nenhuma vez 95,3 95,5 97,7 - 91,2 93 1 ou 2 vezes 4,7 4,5 2,3 - 8,8 7 3 ou 4 vezes 0 0 0 - 0 0 5 vezes ou mais 0 0 0 - 0 0 Nenhuma vez 93,8 95,5 89,5 96,2 95,3 89 1 ou 2 vezes 5,8 4,5 10,5 3,8 4,4 9,7 3 ou 4 vezes 0,2 0 0 0 0 0,9 5 vezes ou mais 0,2 0 0 0 0,3 0,4 Nenhuma vez 97,7 98,9 93 95,9 99,1 - 1 ou 2 vezes 2,3 1,1 7 4,1 0,9 - 3 ou 4 vezes 0 0 0 0 0 - 5 vezes ou mais 0 0 0 0 0 - Nenhuma vez 84,4 84,3 89,5 86,6 76,8 89,9 1 ou 2 vezes 13,5 15,7 9,3 12,8 17,6 9,7 3 ou 4 vezes 1,6 0 1,2 ,6 4,1 0,4 5 vezes ou mais 0,5 0 0 0 1,6 0 Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 33 O consumo de açúcares pode ser considerado um importante marcador do hábito alimentar não saudável. A POF 2008-2009 encontrou associação entre o consumo de biscoito recheado, doces, pizza, salgadinhos industrializados, suco, bolo, refrigerante, biscoitos doces e salgados com o consumo médio elevado de açúcar (em gramas), enquanto que o consumo de feijão, arroz integral, aves, carne bovina, biscoito salgado e legumes e verduras foi relacionado às menores médias de consumo de açúcar (em gramas). Grupos dos temperos Analisando a oferta no Brasil, percebe-se a elevada utilização de sal de adição nas preparações (figura 20), assim como de temperos naturais (figura 21). O artigo 15 da Resolução 38 de 2009 recomendava que, em média, a alimentação tivesse no máximo 1g de sal. A média semanal da oferta de sal de adição nos cardápios foi de 1,9g, ressaltando-se a oferta excessiva deste. Figura 20. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana de sal de adição. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Na análise regional, considerando a frequência mínima de uma vez na semana, a região Sudeste é a que menos utiliza temperos e caldos prontos (17,6%), e a região Norte a que mais utiliza (40,7%). Destaca-se que a região Norte é a que oferta com maior frequência esse produto (29,1% das escolas ofertaram temperos e caldos prontos 3 ou 4 vezes na semana). Em todas as regiões, foram utilizados temperos prontos ou completos. Já os caldos de carne e de galinha foram utilizados em todas as regiões, exceto a região Norte. 34 Molhos, extratos e polpa de tomate são menos utilizados na região Norte (43%), e mais utilizados na Sudeste (63,3%). Figura 21. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, temperos naturais e temperos e caldos prontos. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. Os temperos naturais são utilizados em todas as regiões do Brasil, sendo a média de oferta nacional de 88,7% pelo menos uma vez na semana. As regiões Nordeste e Centro-oeste são as que apresentam maior oferta (95,3% e 87,6%, respectivamente). As regiões Sudeste e Nordeste são as que ofertam alimentação com temperos naturais com maior frequência (42% e 40,2%, respectivamente), considerando 5 vezes ou mais na semana. Verifica-se que as regiões Nordeste, Sudeste e Sul foram as que ofertaram a maior diversidade de temperos naturais. Estiveram presentes em todas as regiões: açafrão, alho, canela, cebola, cebolinha, cheiro verde, colorau e pimentão. Também foram utilizados, entretanto em algumas regiões, capim cidreira, coentro, cominho, cravo, erva doce, ervas finas, hortelã, louro, manjericão, noz moscada, orégano, pimentas, salsa, urucum. 35 Grupos das conservas e produtos formulados No grupo das conservas e produtos formulados, encontrou-se uma elevada oferta de conservas de vegetais e preparações formuladas salgadas. Considerando a frequência mínima de uma vez na semana, a região Norte apresentou o maior consumo de preparações formuladas salgadas (44,2%) e doces (11,6%). Em relação às conservas de vegetais, a região Norte apresentou a maior oferta (39,5%), conforme Figura 22. Figura 22. Percentual de municípios que apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez por semana, conservas vegetais, preparações formuladas salgadas e doces. Brasil e regiões, 2011. Fonte: CECANE UFRGS, 2011. As conservas mais ofertadas foram de milho e ervilha, sendo também ofertadas em algumas regiões seletas de legumes e conservas de batata e cenoura. Quanto à diversificação da oferta de produtos formulados salgados e doces, destacam-se as regiões Norte, Nordeste e Sul. Dentre as preparações formuladas salgadas, foram utilizadas: almôndegas, arroz à grega e formulados para risoto, arroz doce, canjicas, carne bovina, de frango e suína enlatada, creme de milho, esfiha, misturas para sopas, feijoada enlatada, salsicha com molho, pó para mistura de molho bolonhesa, pó para purê de batata e tortas salgadas. Dentre as preparações formuladas doces, foram utilizadas: misturas para mingau, bolo e frapê, pó para pudim e vitaminas de frutas, canjica pré pronta e purê de banana industrializado. 36 Alimentos Fornecidos na Alimentação Escolar provenientes da Agricultura Familiar A tabela 7 apresenta a frequência da aquisição de produtos provenientes da agricultura familiar utilizados na alimentação escolar dentre os cardápios das escolas das diferentes regiões do Brasil. As regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste adquirem entre 58,6 e 68,6%, enquanto que na região Sul, o percentual é de 85,9%, de acordo com a tabela abaixo. Tabela 7. Compra da agricultura familiar – análise por regiões, 2011. Região Não Sim n % n % Nacional 359 33,7 705 66,3 Centro-Oeste 33 37,1 56 62,9 Norte 27 31,4 59 68,6 Nordeste 142 41,4 201 58,6 Sudeste 125 39,2 194 60,8 Sul 32 14,1 195 85,9 Fonte: CECANE UFRGS, 2011. A tabela 8 apresenta os percentuais de compras dos grupos de alimentos da agricultura familiar utilizados nos cardápios da alimentação escolar nas diferentes regiões do país. Destacam-se: a região Sul por adquirir doces, carne suína, hortaliças (vegetais folhosos e não folhosos). A região Sudeste, os cereais e tubérculos, hortaliças (vegetais folhosos e não folhosos) e leguminosas (feijão e vagem). A região Nordeste, a carne bovina, de frango, frutas, vegetais não folhosos e temperos naturais. A região Norte, doces, carne de frango e cereais e tubérculos. A região Centro-Oeste, destaca-se por adquirir frutas, cereais e tubérculos e vegetais não folhosos da agricultura familiar. A tabela 9 apresenta a descrição dos produtos adquiridos da agricultura familiar utilizados na alimentação escolar. 37 Tabela 8. Percentual de compras de produtos da agricultura familiar por grupos de alimentos nas diferentes regiões do Brasil, 2011. Grupo alimentar Alimentos Centro- Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Açúcares Doces 10,7 25,4 9,3 9,8 20 Carne bovina 1,8 11,9 15,2 0,5 4,6 Carne de charque - 1,7 3,4 - - Carne de frango 8,9 15,3 21,6 - 6,2 Carne suína - 1,7 - - 3,6 Peixe e frutos do mar Ovos - 3,4 0,5 3,1 2,1 5,4 5,1 6,9 12,9 8,7 14,3 25,4 19,1 28,9 37,4 60,7 81,4 58,8 53,6 67,7 7,1 10,2 16,7 7,2 20,5 62,5 52,5 55,4 47,9 52,8 8,9 28,8 25,5 6,7 5,6 51,8 18,6 7,8 42,1 53,8 69,6 50,8 68,1 75,8 79 35,7 44,1 59,3 36,1 47,7 Carnes e ovos Leguminosas Cereais e tubérculos Laticínios Frutas Hortaliças Feijões, soja, lentilha e vagem Leite, iogurte e bebidas lácteas Frutas Polpas e sucos de fruta Vegetais folhosos Vegetais não folhosos Temperos Alho, cebola, naturais pimentão Fonte: CECANE UFRGS, 2011. 38 Tabela 9. Descrição dos produtos adquiridos da agricultura familiar – Regiões do Brasil, 2011. Grupo alimentar Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Açúcares Doce de leite, mel e rapadura Bananada, mel e rapadura Doce de banana, doce caseiro, geléia de umbu, mel e rapadura Doce de leite, mariola, mel e rapadura Carne bovina moída, carne de frango, ovos, bebida láctea e leite integral Carne bovina, charque, carne de frango, frango caipira, carne suína, camarão, ovos, filé de peixe, iogurte e leite integral Carnes, leite e ovos Cereais e tubérculos Mandioca, arroz, batata doce, batata inglesa, canjica, farinha de mandioca e milho verde em espiga Mandioca, arroz, batata inglesa, canjica,farinha de mandioca, farinha de tapioca, inhame e pão Carne bovina, carne de caprino/ovino, charque, frango, frango caipira, ovos, filé de peixe, bebida láctea, iogurte, leite em pó integral, leite integral pasteurizado e queijo Mandioca, arroz, batata doce, batata inglesa, biscoitos, bolos, broa de milho, beiju, canjica, cereal flocos de aveia, xerém, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de tapioca, farinha de trigo, fubá, inhame, massa de pizza, milho verde, pães, peta de polvilho e sequilhos Carne bovina, carne de frango, ovos, filé de peixe, manteiga, iogurte, leite integral pasteurizado, leite em pó integral e queijo Mandioca, arroz, batata baroa, batata doce, batata inglesa, biscoitos, canjica, cará, farinha de mandioca, fubá, Inhame, macarrão, milho verde, pães e polvilho Sul Açúcar mascavo, doce de abóbora, doce de fruta, doce de leite, geléia de fruta, mel e melado Carne bovina, carne de frango, frango caipira, carne suína, lingüiça, mortadela de frango, ovos, filé de peixe, salame colonial, bebida láctea, iogurte, leite em pó integral, leite integral e queijo Mandioca, arroz, batata doce, batata inglesa, biscoitos, bolachas caseiras, bolos, canjica, cuca, cueca virada, farinha de fubá, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de trigo, inhame, macarrão, milho verde, pães, quirera e tortei de moranga 39 Tabela 9. Descrição dos produtos adquiridos da agricultura familiar – Regiões do Brasil, 2011 Grupo alimentar Centro-Oeste Abacaxi, acerola, banana, tangerina, caju in natura, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, uva, polpas de fruta, suco concentrado e sucos naturais de limão e laranja Frutas Hortaliças Leguminosas Temperos (continuação). Norte Nordeste Sudeste Sul Abacaxi, açaí, banana, tangerina, coco ralado, laranja, limão, maçã, mamão, melancia, polpas de fruta Abacaxi, acerola, banana, caju, coco ralado, goiaba, graviola, hibisco, laranja, pêra, limão, maçã, mamão formosa, manga, mangaba, maracujá, melancia, melão, polpas de fruta, suco concentrado e sucos naturais Abacate, abacaxi, acerola, banana, tangerina, caqui, carambola, goiaba, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, pêssego, polpas de frutas, polpas de frutas, suco concentrado, sucos naturais e uva Abacate, abacaxi, acerola, amora, banana, tangerina, caqui, goiaba, kiwi, laranja, limão, maçã, mamão formosa, melancia, melão, morango, nectarina, pêra, polpas de fruta, sucos concentrados, sucos naturais e uva Abóbora, abobrinha italiana, acelga, agrião, alface, almeirão, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, chicória, chuchu, couve, couve-flor, escarola, espinafre, pepino, quiabo, rabanete, repolho, rúcula e tomate Abóbora, abobrinha italiana, acelga, agrião, alface, almeirão, beterraba, berinjela, brócolis, cenoura, chicória, chuchu, couve, couve chinesa, couve-flor, espinafre, nabo, pepino, seleta de legumes, radiche, repolho, rúcula e tomate Abóbora, abobrinha italiana, acelga, alface, almeirão, beterraba, brócolis, cenoura, chuchu, couve, quiabo, repolho, rúcula, tomate e tomate cereja Abóbora, abobrinha italiana, abóbora moranga jerimum, alface, cenoura, chicória, chuchu, couve, espinafre, palmito de pupunheira, pepino, repolho e tomate Abóbora, alface, beterraba, cenoura, chuchu, couve crua, maxixe, quiabo, repolho e tomate Feijão e vagem Feijão, castanhas Feijão e texturizada castanhas Tempero completo, alho, capim cidreira, cebola, cebolinha, cheiro verde, coentro, pimentão e salsa Alho, cebola, cheiro verde, colorau, pimentinha verde, pimenta de cheiro, pimentão, tempero completo Tempero completo, caldo de legumes, alho, cebola, cebolinha, cheiro verde, coentro, colorau, cominho, hortelã, orégano, pimenta de cheiro, pimentão e salsa de proteína soja, Feijão e vagem Alho, açafrão, cebola, cebolinha, cheiro verde, coentro, colorau, hortelã, louro, pimentão, tempero completo e salsa Amendoim, ervilha, lentilha e vagem feijão, Alho, açafrão, canela, cebola, cebolinha, cheiro verde, coentro, colorau, essência de baunilha, hortelã, louro, orégano, pimentão, salsa fresca e vinagre Fonte: CECANE UFRGS, 2011 40 CONCLUSÕES E SUGESTÕES O presente relatório revelou uma oferta elevada de biscoitos, salgados e doces, em três regiões do país: Norte, Nordeste e Sul. Já em relação à oferta de frutas, esta se revelou abaixo do esperado, entre as escolas do Nordeste e da região Norte. Foi identificada a baixa frequência da oferta de frutas 3 vezes ou mais na semana. Em relação à frequência de oferta de vegetais não folhosos a região Norte é a que possui a menor frequência de oferta, seguido da região Nordeste. Encontrou-se uma alta frequência de escolas que não ofertaram vegetais folhosos no cardápio semanal, principalmente nas escolas da região Nordeste. Ressalta-se ainda a baixa oferta de peixes frescos em todas as regiões, sendo a região Nordeste a que menos oferta e em contraponto a que mais utiliza peixes enlatados. Observou-se uma alta oferta de embutidos, enlatados e conservas, destacando-se a utilização de preparações formuladas tanto salgadas quanto doces principalmente na região Norte. As regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram maior variedade de feijões provindos da compra da agricultura familiar. Foi verificada a presença nos cardápios de refrescos industrializados em todas as regiões. Utilizam-se ainda sal de adição e temperos e caldos prontos, apesar da elevada utilização de temperos naturais. Quanto à compra de produtos da Agricultura Familiar, a região Sul foi a região que apresentou maior percentual de compra. Dentre os grupos alimentares mais adquiridos encontram-se: vegetais não folhosos e folhosos, cereais e tubérculos e frutas. Em relação à variedade de alimentos adquiridos da Agricultura Familiar, as regiões Norte, Nordeste e Sul apresentaram a maior variedade de produtos nos diferentes grupos analisados. Revela-se um baixo percentual de escolas que se encontram dentro das recomendações propostas para os nutrientes segundo a Resolução FNDE 38/2009, sendo mais presente a inadequação entre as escolas de Ensino Médio (EM) e Escolas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Os cardápios propostos não atingem as necessidades propostas para as faixas etárias incluídas nestas modalidades, qualitativa e quantitativamente. Destaca-se a inadequação abaixo das recomendações para cálcio e fibra em todas as regiões analisadas independente da modalidade de ensino ou localização da escola. A inadequação dos valores encontrados para as escolas indígenas e quilombolas destaca-se por ser na sua maioria insuficiente em relação à recomendação proposta. 41 Conforme os resultados apresentados em relação ao consumo de produtos industrializados, ricos em sódio, açúcar simples, aditivos e gorduras totais e saturadas, ressalta-se a importância do desestimulo do uso destes nos cardápios como forma de melhorar a qualidade através de um aumento na oferta de produtos saudáveis, como frutas, hortaliças e cereais integrais, o que possivelmente melhoraria o panorama da adequação dos nutrientes analisados. Para que ocorra tal mudança, torna-se indispensável o incentivo da relação entre os produtores e entidades executoras, escolas ou unidades executoras, envolvidos na compra de produtos para a alimentação escolar, para que haja o suprimento das demandas. Observou-se um grande número de cardápios utilizados para as diferentes modalidades de ensino de uma mesma escola, uma vez que uma escola pode apresentar desde Educação Infantil até Educação de Jovens e Adultos. Há também casos onde se utiliza o mesmo cardápio para escolas de diferentes modalidades (rural, urbana, indígena e quilombola), não sendo os per capitas destes adaptados a cada realidade. A utilização do mesmo cardápio para as diferentes faixas etárias ou diferentes modalidades é uma limitação para a adequação destes em termos de nutrientes, qualidade e quantidade da alimentação ofertada. 42 1.2 RESUMO EXECUTIVO - UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE GÊNEROS ORGÂNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE ESCOLARES E SUA INTERFACE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CECANE UFSC. INTRODUÇÃO A pesquisa nacional de avaliação da utilização de produtos da agricultura familiar e alimentos orgânicos e sua interface com o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, realizada pelo CECANE/SC no ano de 2011/2012, permitiu a análise da aplicação das determinações legais do PNAE, explicitados na Resolução CD/FNDE nº 38 de 16 de julho de 2009 (vigente no período da coleta dos dados) e Lei Federal nº 11.497 de de 16 de junho de 2009, entre outros aspectos, como a presença de Nutricionistas atuando no PNAE nos municípios e da execução de ações e estratégias educativas em saúde e nutrição sobre alimentos orgânicos. OBJETIVOS Objetivo geral Avaliar a utilização dos alimentos e produtos provenientes da agricultura familiar e dos alimentos orgânicos na alimentação escolar em todos os municípios brasileiros em 2011, assim como as possíveis dificuldades e/ou limitações para a sua implementação. Objetivos Específicos Identificar os municípios brasileiros que utilizam alimentos provenientes da agricultura familiar na alimentação escolar e o percentual destes que utilizam gêneros orgânicos com tal finalidade; Investigar o percentual dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE que está sendo utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente do produtor/empreendedor familiar rural ou de suas organizações; Descrever as ações e estratégias educativas em saúde e nutrição sobre alimentos orgânicos desenvolvidas em escolas públicas municipais do país; Investigar a percepção sobre os benefícios relacionados com a utilização de gêneros orgânicos da agricultura familiar para a alimentação escolar entre os 43 responsáveis pela alimentação escolar em cada município (nutricionista responsável técnico, secretário de educação ou responsável pelo PNAE); Identificar as principais dificuldades para efetivação da compra de gêneros da agricultura familiar, com ênfase na aquisição de produtos orgânicos. METODOLOGIA APLICADA A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário eletrônico enviado às Secretarias de Educação de todos os municípios brasileiros. Este questionário era direcionado para o responsável pelo PNAE no município (nutricionista, secretário de educação ou responsável pela alimentação escolar). Neste eram solicitadas informações sobre a utilização de alimentos provenientes da agricultura familiar, sobre o percentual de recursos destinados para tal objetivo, quais destes municípios estão obtendo alimentos do gênero dos orgânicos, assim como as dificuldades encontradas no processo. Foram realizadas três (03) tentativas via formulário eletrônico para obtenção das respostas, com intervalo de 15 dias. Num segundo momento, os municípios não respondentes foram contatados via telefone, mediante três (03) tentativas, com intervalo de 15 dias, sendo solicitado aos mesmos a resposta do questionário online. Na última tentativa de retorno, era aplicado todo o questionário via telefônica naqueles municípios não respondentes. As respostas dos questionários enviados via correio eletrônico foram automaticamente inseridas em uma planilha no formato Excel. Aqueles que precisarem ser aplicados via telefone foram preenchidos no mesmo formato online. Posteriormente os bancos de dados foram transformados para serem analisados no software estatístico STATA 11.0. Foram realizadas análises estatísticas apropriadas para as variáveis estudadas: análise descritiva usando freqüências absolutas e relativas (percentuais), e estatística analítica usando o teste de qui-quadrado. Todos os resultados foram tabulados e apresentados com detalhamento no nível estadual e regional das informações obtidas. O projeto de pesquisa foi devidamente submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução nº 196/1996 (Atualmente Substituída pela Resolução nº 496/2012) do Conselho Nacional de Saúde. 44 Os instrumentos (formulários e questionários) foram arquivados em arquivos pessoais do pesquisador coordenador. O acesso aos dados foi permitido apenas aos pesquisadores envolvidos. Os resultados finais foram divulgados preservando-se o anonimato dos sujeitos envolvidos. Ressalta-se que a pesquisa não expôs os participantes a nenhum tipo de risco e nenhuma vantagem financeira será oferecida aos mesmos. A sensibilização para a adesão à pesquisa foi feita apenas pelo esclarecimento dos seus objetivos e pelos benefícios potenciais. Dentre as principais contribuições científicas ou tecnológicas da pesquisa, pode-se destacar: A geração de informações que poderão subsidiar o aperfeiçoamento e expansão das ações de inserção de alimentos orgânicos provenientes da Agricultura Familiar na Alimentação Escolar; A proposição dos seguintes produtos acadêmicos: a publicação de pelo menos três artigos em periódicos qualificados; seis apresentações de temas livres em eventos científicos; produção de uma dissertação de mestrado; treinamento e orientação de acadêmicos dos Cursos de Graduação em Nutrição. Desta forma, espera-se a produção de novos conhecimentos científicos que possibilitarão fortalecer o Programa de Pós-Graduação em Nutrição da UFSC, com vistas á formação de mestres e à produção científica. A identificação e divulgação de ações e estratégias educativas utilizadas para a inclusão dos alimentos orgânicos provenientes da Agricultura Familiar na Alimentação Escolar. O fortalecimento da execução do PNAE em âmbito nacional, por meio da investigação e divulgação dos dados coletados sobre a utilização de alimentos orgânicos provenientes da Agricultura Familiar na Alimentação Escolar, subsidiando assim, um maior cumprimento da legislação atual sobre o PNAE. Finalmente, espera-se que os resultados desta investigação possam gerar subsídios que contribuam para a inclusão dos alimentos orgânicos provenientes da Agricultura Familiar na Alimentação Escolar, em todos os municípios brasileiros. METAS ALCANÇADAS Foi realizada a finalização do banco de dados da pesquisa e a analise das informações disponíveis no mesmo, tendo como foco principal a utilização dos 45 alimentos provenientes da agricultura familiar e orgânicos, distribuídos por regiões e estados brasileiros. Foram analisadas as dificuldades citadas pelos respondentes de cada município, assim como a presença ou não de nutricionista responsável técnico e as ações ou estratégias educativas sobre alimentação orgânica desenvolvidas nas escolas. Com relação às produções científicas desenvolvidas com os dados da pesquisa nacional “Utilização de produtos provenientes da agricultura familiar e de gêneros orgânicos na alimentação de escolares e sua interface com o Programa Nacional de Alimentação Escolar” temos: DISSERTAÇÕES DE MESTRADO Ana Paula Ferreira da Silva. Demanda e oferta de alimentos orgânicos da agricultura familiar para a alimentação escolar em municípios de Santa Catarina. 2012. Dissertação (Programa de Pós Graduação Em Nutrição) - Universidade Federal de Santa Catarina. Gabriela de Andrade Silvério. Alimentos orgânicos na alimentação escolar: Perspectivas de atores sociais em municípios de Santa Catarina. 2013. Dissertação (Programa de Pós Graduação Em Nutrição) - Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista Capes. Glenda Marreira Vidal. Avaliação de cardápios da alimentação escolar de municípios de Santa Catarina que utilizam alimentos orgânicos. 2013. Dissertação (Programa de Pós Graduação Em Nutrição) - Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista Capes. Patricia Maria de Oliveira Machado. Características do processo de aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar: um estudo transversal exploratório do universo de municípios brasileiros. (Programa de Pós Graduação Em Nutrição) - Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista Capes. Tayse Valdira Vieira. Programa Nacional de Alimentação Escolar: ações educativas sobre alimentação orgânica desenvolvidas pelo nutricionista nas escolas municipais brasileiras. (Programa de Pós Graduação Em Nutrição) - Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista Capes. 46 ARTIGOS EM PERIÓDICOS SARAIVA, Elisa Braga; Silva, A.P.F.; SOUSA, A.A.; CERQUEIRA, G.F; Chagas, C.M.S; TORAL, N.. Panorama da compra de alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ciência e Saúde Coletiva, v.18, n.4, 2013. SILVA, Ana Paula Ferreira da; SOUSA, Anete Araújo. Alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar do Estado de Santa Catarina. Revista Nutrição (no prelo). SILVÉRIO, Gabriela de andrade. Alimentos orgânicos na alimentação escolar: perspectivas de atores sociais em municípios de Santa Catarina. Revista Nutrição (em avaliação). CHICA, David A. G; CORSO, A.C.T.; CEMBRANEL, K.J.P; LEMKE, S.; SCHMITZ, B.A.S.. Percepção dos cozinheiros escolares sobre o processo de utilização de produtos orgânicos na alimentação escolar em municípios catarinenses. Revista Nutrição, v.26, p. 407 – 418, 2013. VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de. Programa Nacional de Alimentação Escolar: limites e possibilidades para a garantia do direito humano à alimentação adequada, saudável e sustentável. Ciênc. saúde coletiva[online]. 2013, vol.18, n.4, pp. 906-906. ISSN 1413-8123. CHAVES, L. G.; SANTANA, T. C. M; GABRIEL, C.G. e VASCONCELOS, F. A. G. Reflexões sobre a atuação do nutricionista no Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2013, vol.18, n.4, pp. 917-926. ISSN 1413-8123. BARBOSA, N. V. S.; MACHADO, N. M. V.; SOARES, M. C. V. ; PINTO, A. R. R.. Alimentação na escola e autonomia - desafios e possibilidades. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2013, vol.18, n.4, pp. 937-945. ISSN 1413-8123. GABRIEL, C. et al. Conselhos Municipais de Alimentação Escolar em Santa Catarina: caracterização e perfil de atuação. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2013, vol.18, n.4, pp. 971-978. ISSN 1413-8123. SILVA, Ana Paula Ferreira da; SOUSA, Anete Araújo de. Alimentos orgânicos da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar do estado de Santa Catarina, Brasil. Revista de Nutrição (no prelo). 47 SILVÉRIO, Gabriela de Andrade. Alimentos orgânicos na alimentação escolar: perspectivas de atores sociais em municípios de Santa Catarina. Revista Nutrição (em avaliação). MACHADO, Patricia Maria de Oliveira; MACHADO, Manuella de Souza; SCHMITZ, Bethsaida de Abreu Soares; CORSO, Arlete Catarina Tittoni; CHICA, David Alejandro González; VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes. Caracterização do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Estado de Santa Catarina. Revista de Nutrição[online]. (no prelo). RESUMOS EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS Vidal, Glenda M.; Sousa, Anete A.; Veiros, Marcela B.; Roeder, Andressa B.; Chica, David A. G.. INCLUSION OF FRUIT AND VEGETABLES ON SCHOOL MENUS IN THE MUNICIPALITIES OF SANTA CATARINA STATE WHICH ACQUIRED ORGANIC FOODS IN 2010. INDC 2013 – 13 th Internacional Nutrition & Diagnostics Conference – Book of proceedings. Olomouc, Czech Republic, 2013. Corso, A. C. T.; Schmitz B.A.S.; Chica, D. A. G.; Caldeira G. V.; Moreira, E. A. M.; Vieira, T. V.; Machado, P.M.O.; Alexius, S.L.; Freitas, M.B.; Vasconcelos, F.A.G.. THE PRESENCE OF FAMILY FARMING AND ORGANIC FOOD IN SCHOOL FEEDING IN BRAZIL. 13 th Internacional Nutrition & Diagnostics Conference – Olomouc, Czech Republic. August, 26 – 29, 2013. Book of Proceedings. 2013. v. 1. p. 1-138. Caldeira G. V; Corso, A. C. T.; Schmitz B.A.S; Chica, D. A. G. ; Moreira E.A.M., Machado, P.M.O; Vieira, T. V; Alexius, S.L.; Freitas M.B.; Vasconcelos, F.A.G..THE ACQUISITION OF FAMILY Y FARMING FOOD AND ORGANIC FOOD IN BRAZILIAN SCHOOLS. 13thInternational Nutrition & Diagnostics Conference - Olomouc, Czech Republic. August, 26 – 29, 2013, - : Palack University, Olomouc Facultyof Science. Book of Proceedings. 2013. v. 1. p. 1-138. PRODUÇÃO TÉCNICA Oficina de Cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar. II Encontro Catarinense de Alimentação Escolar. Centro de Cultura e Eventos da UFSC – Campus Trindade, Florianópolis, 6 de junho de 2013. 48 Os resultados da pesquisa foram também apresentados no mês de maio para técnicos do FNDE em Brasília, assim como para participantes do II Encontro Catarinense de Alimentação Escolar realizado em Florianópolis no mês de junho. Foram finalizados três boletins informativos com base nos resultados da pesquisa nacional. Estes aboradaram respectivamente O panorama da compra de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE no Brasil, O panorama da compra de alimentos orgânicos pelo PNAE no BRASIL, e, as Dificuldades encontradas pelos municípios brasileiros na compra de alimentos da agricultura familiar e orgânicos para o PNAE. O Boletim I aborda a situação da compra de alimentos da agricultura familiar e os benefícios advindos da compra para os escolares, agricultores e a comunidade em geral. Este boletim é direcionado para gestores e agricultores familiares. O Boletim II aborda a situação da compra de alimentos orgânicos e os benefícios advindos da compra destes produtos para os escolares, agricultores e a comunidade em geral. Este Boletim é direcionado para gestores e agricultores familiares. O Boletim III aborda as dificuldades encontradas pelos gestores municipais na compra de alimentos da agricultura familiar e orgânicos e algumas formas de melhorar este processo para reduzir as dificuldades encontradas. Este Boletim é direcionado a gestores, nutricionistas e agricultores familiares. RESULTADOS OBTIDOS A coleta de dados da pesquisa teve inicio em fevereiro de 2012 e foi concluída em outubro do mesmo ano e serão apresentados a seguir. Compra de Alimentos da Agricultura Familiar e dos Alimentos Orgânicos A Tabela 1 mostra que participaram da pesquisa 5184 (93,1%) municípios, sendo que a região Sul e Norte se destacaram com a maior (98,7%) e menor participação (86,6%) (p<0,001). Os estados com maior taxa de respondentes foram Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina (100% de respostas), enquanto que o percentual foi menor no Maranhão (75,6%; p<0,001). Foram obtidas respostas diretamente do nutricionista responsável técnico em 81,9% dos municípios respondentes, em 12,1% o respondente foi o secretário de educação e em 6,0% foi algum outro responsável pela alimentação escolar no município. 49 A compra de alimentos da agricultura familiar foi realizada por 78,5% dos municípios (IC95% 77,4-79,6), sendo que de forma geral os melhores resultados foram encontrados nos estados da região Sul, com mais de 90% realizando a compra deste tipo de alimentos para a alimentação escolar (P<0,001), enquanto que a região CentroOeste foi a que apresentou o menor percentual. Houve diferenças entre os estados das demais regiões, com percentuais inferiores de 65% nos estados de Distrito Federal e Goiás (região Centro-Oeste), Alagoas, Pernambuco e Piauí (região Nordeste) e Amapá e Roraima (região Norte). Os alimentos orgânicos foram adquiridos por 34,8% dos municípios respondentes (IC95% 33,5-36,1), sendo a região Sul novamente a que apresentou maior percentual de compra, enquanto que as menores frequências foram observadas nas regiões Centro-Oeste e no Sudeste (P<0,001). Os estados que apresentaram maior percentual de municípios comprando alimentos orgânicos (acima de 40%) foram Ceará, Maranhão e Paraíba (Nordeste), Amazonas e Tocantins (Norte), Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Sul). Por sua vez, os estados com resultados abaixo de 25% foram Distrito Federal e Goiás (Centro-Oeste), Alagoas e Sergipe (Nordeste), Amapá e Roraima (Norte), Rio de Janeiro e São Paulo (Sudeste). 50 Tabela 1. Municípios respondentes, realização de compra da agricultura familiar e orgânicos nas diferentes regiões e estados brasileiros. Brasil, 2012. Total Municípios Brasil 2011 Municípios respondentes Realiza compra da Agricultura Familiar Realiza a compra de produtos orgânicos N N % p* %(IC95%) p* %(IC95%) p* 5565 5184 93,1 <0,001 78,5 (77,4; 79,6) <0,001 34,8 (33,5; 36,1) <0,001 466 455 97,6 0,123 67,9 (63,6; 72,3) 0,020 26,8 (22,6; 31,0) 0,044 Distrito Federal e Goiás 247 238 96,4 60,2 (53,9; 66,6) 21,9 (16,4; 27,3) Mato Grosso 141 139 98,6 79,4 (72,5; 86, 3) 33,6 (25,4; 41,8) Mato Grosso do Sul 78 78 100,0 71,0 (60,6; 81,5) 30,1 (19,4; 40,9) 1794 1581 88,1 Alagoas 102 90 88,2 60,7 (50,3; 71,0) 23,2 (13,8; 32,5) Bahia 417 388 93,0 80,0 (76,0; 84,0) 38,3 (33,3; 43,3) Ceará 184 170 92,4 91,8 (87,6; 95,9) 40,8 (33,2; 48,4) Maranhão 217 164 75,6 71,7 (64,6; 78,8) 44,1 (36,1; 52,1) Paraíba 223 201 90,1 89,0 (84,7; 93,4) 47,6 (40,5; 54,8) Pernambuco 185 158 85,4 61,8 (54,1; 69,5) 29,4 (22,1; 36,7) Brasil Centro-Oeste Nordeste <0,001 74,6 (72,5; 76,8) <0,001 36,5 (34,1; 39,0) <0,001 51 Total Municípios Brasil 2011 Municípios respondentes Realiza compra da Agricultura Familiar p* p* N N % Piauí 224 182 81,2 55,0 (47,7; 62,3) 31,7 (24,8; 38,5) Rio Grande do Norte 167 156 93,4 70,1 (62,8; 77,4) 34,2 (26,6; 41,8) Sergipe 75 72 96,0 87,1 (79,1; 95,2) 18,3 (9,1; 27,5) Norte 448 388 86,6 Acre 22 20 90,9 70,0 (48,0; 92,0) 30,0 (8,0; 52,0) Amapá 16 13 81,2 38,5 (7,9; 69,1) 18,2 (0,0; 45,4) Amazonas 62 48 77,4 73,3(59,9; 86,8) 59,6 (45,0; 74,1) Pará 143 118 82,5 70,3 (62,0; 78,7) 31,0 (22,5; 39,6) Rondônia 51 49 96,1 79,6 (67,9; 91,3) 26,1 (12,9; 39,3) Roraima 15 13 86,7 50,0 (16,8; 83,2) 25,0 (0,0; 53,7) Tocantins 139 127 91,4 77,9 (70,6; 85,3) 41,0 (32,0; 50,1) Sudeste 1669 1587 95,1 Espírito Santo 78 78 100,0 93,6 (88,0; 99,1) 37,7 (26,6; 48,7) Minas Gerais 854 809 94,7 80,4 (77,6; 83,1) 37,7 (34,3; 41,1) 0,030 0,122 %(IC95%) Realiza a compra de produtos orgânicos 72,4 (67,9; 76,9) 75,2 (73,1; 77,3) 0,086 <0,001 %(IC95%) 36,8 (31,9; 41,8) 30,2 (27,9; 32,5) p* 0,004 <0,001 52 Total Municípios Brasil 2011 Municípios respondentes Realiza compra da Agricultura Familiar p* p* N N % Rio de Janeiro 92 85 92,4 74,1 (64,6; 83,6) 20,7 (11,8; 29,7) São Paulo 645 615 95,3 66,2 (62,4; 70,0) 20,5 (. 17,3; 23,8) Sul 1188 1173 98,7 Paraná 399 385 96,5 93,7 (91,3; 96,2) 34,2(29,4; 39,0) Rio Grande do Sul 496 495 99,8 96,6 (95,0; 98,2) 41,4 (37,0; 45,8) Santa Catarina 293 293 100,0 96,0 (93,6; 98,2) 49,0 (43,1; 54,8) <0,001 %(IC95%) Realiza a compra de produtos orgânicos 95,5 (94,3; 96,6) 0,284 %(IC95%) 40,9 (38,0; 43,7) p* 0,001 Fonte: IBGE Cidades, 2011. * - Qui-Quadrado Heterogeneidade ** - Valor p da diferença entre as regiões 53 Dificuldade na Compra de Alimentos da Agricultura Familiar Com relação as dificuldades na compra de produtos da agricultura familiar, foram definidos dez critérios de pesquisa, sendo perguntado aos participantes sobre as suas dificuldades de aquisição destes produtos em função de: • Altos preços de venda dos produtos; • Quantidade insuficiente de produtos; • Variedade insuficiente de produtos; • Baixa qualidade dos produtos ofertados; • Dificuldade do agricultor na produção dos gêneros componentes da lista; • Dificuldade na distribuição dos produtos nos centros de consumo (PNAE); • Falta de capacitação da Secretaria Municipal de Educação para a aquisição; • Falta de capacitação dos agricultores para a produção dos gêneros da lista; • Falta de interesse dos agricultores em fornecer produtos para o PNAE; e, • Falta de documentação necessária para a viabilização das compras dos produtos produzidos. As principais dificuldades apresentadas pelos respondentes da pesquisa com relação à compra de alimentos da agricultura familiar (Tabela 2 e 3) estão relacionadas à quantidade (62,4%) e variedade (61,4%) insuficientes e a falta de documentação (42,1%) necessária para formalização da compra dos alimentos. No critério de avaliação de dificuldade na aquisição de produtos da agricultura familiar por quantidade insuficiente, destacam-se à Região Nordeste (70,5%), Norte (67%) e Sudeste (59,3%). Em relação aos estados Brasileiros que informaram apresentar dificuldade na aquisição de produtos da agricultura familiar, destacam-se o Piauí (81,3%), Amazonas (75,8%), Amapá (75%) e Paraíba (73,7%). A Região Sul foi a que apresentou a menor quantidade de municípios que informaram dificuldade na aquisição de produtos da agricultura familiar pelo motivo de quantidade insuficiente, com 52,8% dos municípios respondentes, seguida pela Região Centro-Oeste com 56,7% dos municípios informando terem esta dificuldade. Com relação à dificuldade na compra de alimentos da agricultura familiar por variedade insuficiente, destacam-se as Regiões Sul (69,8%), Norte (65,6%), e Nordeste (60 %). Entre os estados Brasileiros destacam-se o Pará (76%), Paraná (74,8%), Piauí (68,8%) e Tocantins (68,3). As Regiões Centro-Oeste e Sudeste foram as que apresentaram menor dificuldade na compra de alimentos da agricultura familiar por 54 variedade insuficiente, apresentando, respectivamente, 58% e 57,5% dos seus municípios respondentes. Na avaliação das dificuldades relacionadas com logística e capacitação (Tabela 3), destaca-se a dificuldade na compra por falta de documentação necessária, que foi relatada por 42,1% dos municípios brasileiros. Os maiores percentuais foram encontrados nas Regiões Centro-Oeste (61,5%), Norte (52,3%) e Nordeste (45,4%). Entre os estados da federação, os que apresentaram maiores percentuais de municípios com esta dificuldade foram o Amapá (75%), Mato Grosso (64,2%), Mato Grosso do Sul e Pará (63,5%). Neste critério de avaliação a Região sul foi a que apresentou menor dificuldade, com 23,5% dos municípios respondentes, seguida pela Região Sudeste, com 40,9%. A falta de capacitação dos agricultores e os problemas relacionados com a distribuição dos alimentos da agricultura familiar foram apontados por quase um terço dos municípios respondentes. Já a falta de interesse dos agricultores em vender os seus produtos para o PNAE foi relatado somente por 38% nos municípios brasileiros. 55 Tabela 2 – Dificuldade encontrada pelos municípios para a aquisição de produtos da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, relacionadas aos agricultores e dinâmica de comercialização. País/Região/Estado Municípios Respondentes Altos preços Quantidade insuficiente Variedade insuficiente Baixa qualidade Dificuldade na Produção N N % N % N % N % N % 5184 525 14,2 2300 62,4 2278 61,4 465 12,6 1230 33,3 455 43 12,3 199 56,7 204 58,1 34 9,7 120 34,2 Distrito Federal e Goiás 238 30 16,8 95 53,1 100 55,9 18 10,1 54 30,2 Mato Grosso 139 8 7,3 63 57,8 68 62,4 13 11,9 44 40,4 Mato Grosso do Sul 78 5 7,9 41 65,1 36 57,1 3 4,8 22 34,9 1581 193 15,7 858 70,5 732 60,0 158 13,0 423 34,8 Alagoas 90 8 11,8 43 63,2 41 60,3 6 8,8 23 33,8 Bahia 388 64 20,2 225 71,0 186 58,7 49 15,5 101 31,9 Ceará 170 22 17,3 86 67,7 81 63,8 14 11,0 52 40,9 Maranhão 164 22 16,3 96 71,1 77 57,0 20 14,8 58 43,0 Paraíba 201 19 12,8 109 73,7 98 66,2 12 8,1 43 29,1 Pernambuco 158 13 12,4 67 63,8 49 46,7 10 9,5 34 32,4 Piauí 182 20 12,5 130 81,3 110 68,8 24 15,0 56 35,0 Brasil Centro-Oeste Nordeste 56 País/Região/Estado Municípios Respondentes Altos preços Quantidade insuficiente Variedade insuficiente Baixa qualidade Dificuldade na Produção N N % N % N % N % N % Rio Grande do Norte 156 14 12,4 77 68,1 68 60,2 15 13,3 40 35,4 Sergipe 72 11 22,9 25 52,1 22 45,8 8 16,7 16 33,3 Norte 388 73 23,3 206 67,0 202 65,6 44 14,2 115 37,1 Acre 20 5 29,4 11 64,7 8 47,1 4 23,5 5 29,4 Amapá 13 1 12,5 6 75,0 3 37,5 - - 2 25,0 Amazonas 48 5 15,2 25 75,8 20 60,6 6 18,2 8 24,2 Pará 118 21 20,2 74 71,2 79 76,0 11 10,6 44 42,3 Rondônia 49 4 10,8 22 59,5 20 54,1 3 8,1 13 35,1 Roraima 13 1 11,1 4 44,4 3 33,3 4 44,4 3 33,3 Tocantins 127 36 35,6 64 63,4 69 68,3 16 15,8 40 39,6 Sudeste 1587 125 11,2 658 59,3 639 57,5 120 10,8 327 29,4 Espírito Santo 78 11 22,0 29 58,0 34 68,0 3207 14,0 18 36,0 Minas Gerais 809 69 11,8 381 64,9 366 62,4 63 10,7 189 32,2 Rio de Janeiro 85 7 11,5 31 50,8 25 41,0 4 6,6 14 23,0 São Paulo 615 38 9,2 217 52,7 214 57,9 46 11,2 106 25,7 57 País/Região/Estado Municípios Respondentes Altos preços Quantidade insuficiente Variedade insuficiente Baixa qualidade Dificuldade na Produção N N % N % N % N % N % Sul 1173 91 12,6 379 52,8 501 69,8 109 15,2 245 34,2 Paraná 385 14 6,1 129 56,1 172 74,8 35 15,2 91 39,6 Rio Grande do Sul 495 50 16,3 160 52,3 207 67,7 39 12,8 100 32,7 Santa Catarina 293 27 14,8 90 49,5 122 67,0 35 19,2 54 29,7 58 Tabela 3 – Dificuldade encontrada pelos municípios para a aquisição de produtos da Agricultura Familiar para a alimentação escolar, relacionadas à logística e capacitação. País/Região/Estado Municípios Respondentes Dificuldade na distribuição Falta de capacitação da SME Falta de capacitação dos agricultores. Falta de interesse em vender para o PNAE Falta de documentação N N % N % N % N % N % 5184 1100 29,7 392 10,7 1044 28,3 143 3,8 1551 42,1 Centro-Oeste 455 100 28,5 39 11,1 100 28,5 16 4,6 216 61,5 Distrito Federal e Goiás 238 51 28,5 17 9,5 59 33,0 11 6,2 106 59,2 Mato Grosso 139 32 29,4 15 13,8 26 23,9 2 1,8 70 64,2 Mato Grosso do Sul 78 17 27,0 7 11,1 15 23,8 3 4,8 40 63,5 1581 388 31,9 151 12,4 360 29,5 30 34,8 553 45,4 Alagoas 90 19 27,9 9 13,2 24 35,3 4 5,9 28 41,2 Bahia 388 112 35,3 41 12,9 110 34,7 7 2,2 155 48,9 Ceará 170 47 37,0 17 13,4 29 22,8 - - 44 34,7 Maranhão 164 49 36,3 16 11,9 40 29,6 - - 67 49,6 Paraíba 201 45 30,4 7 4,7 24 16,2 3 2,0 52 35,1 Brasil Nordeste 59 País/Região/Estado Municípios Respondentes Dificuldade na distribuição Falta de capacitação da SME Falta de capacitação dos agricultores. Falta de interesse em vender para o PNAE Falta de documentação N N % N % N % N % N % Pernambuco 158 29 27,6 14 13,3 30 28,6 4 3,8 57 54,3 Piauí 182 52 32,5 24 15,0 55 34,4 5 3,1 70 43,8 Rio Grande do Norte 156 19 16,8 16 14,2 29 25,7 6 5,3 55 48,7 Sergipe 72 16 33,3 7 14,6 19 39,6 1 2,1 25 52,1 Norte 388 85 27,6 46 14,7 108 34,8 4 37,1 160 52,3 Acre 20 7 41,2 5 29,4 6 35,3 - - 7 41,2 Amapá 13 1 12,5 4 50,0 3 37,5 - - 6 75,0 Amazonas 48 8 24,2 2 6,1 12 36,4 1 3,0 18 54,6 Pará 118 34 32,7 9 8,7 33 31,7 1 1,0 66 63,5 Rondônia 49 10 27,0 7 18,9 17 46,0 2 5,4 22 59,5 Roraima 13 3 33,3 5 55,6 3 33,3 - - 4 44,4 Tocantins 127 22 21,8 14 13,9 34 33,7 - - 37 36,6 Sudeste 1587 305 27,5 99 8,9 304 27,4 66 29,4 453 40,9 60 País/Região/Estado Municípios Respondentes Dificuldade na distribuição Falta de capacitação da SME Falta de capacitação dos agricultores. Falta de interesse em vender para o PNAE Falta de documentação N N % N % N % N % N % Espírito Santo 78 20 40,0 2 4,0 11 22,0 - - 14 28,0 Minas Gerais 809 167 28,5 46 7,8 160 27,3 28 4,8 228 38,8 Rio de Janeiro 85 37 60,7 4 6,6 19 31,2 6 9,8 37 60,7 São Paulo 615 81 19,7 47 11,4 114 27,7 32 7,8 174 42,2 Sul 1173 222 30,9 57 7,9 172 24,0 27 34,2 169 23,5 Paraná 385 72 31,3 13 5,7 53 23,0 6 2,6 35 15,2 Rio Grande do Sul 495 89 29,1 31 10,1 71 23,2 15 4,9 85 27,8 Santa Catarina 293 61 33,5 13 7,1 48 26,4 6 3,3 49 26,9 61 Dificuldade na Compra de Alimentos Orgânicos Com relação à dificuldade na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura orgânica, foram definidos 13 critérios, sendo perguntado aos participantes da pesquisa as suas dificuldades de aquisição em função de: • Altos preços de venda dos produtos; • Quantidade insuficiente de produtos; • Variedade insuficiente de produtos; • Baixa qualidade dos produtos ofertados; • Dificuldade do agricultor na produção dos gêneros componentes da lista; • Produtos sem certificação da produção; • Falta de documentação necessária para a viabilização das compras dos produtos produzidos; • Dificuldade na distribuição dos produtos nos centros de consumo (PNAE); • Devido à contratação de empresas terceirizadas; • Falta de capacitação da Secretaria Municipal de Educação para a aquisição; • Falta de capacitação dos agricultores para a produção dos gêneros da lista; • Falta de interesse dos agricultores em fornecer produtos para o PNAE; e, • Inexistência deste gênero de produtos no mercado. As principais dificuldades apontadas pelos municípios respondentes são relacionadas a quantidade insuficiente (65,5%), variedade insuficiente (52,3%), falta de certificação do produto (61,4%) e dificuldade na produção (40,7%) (Tabelas 4 e 5). Com relação a dificuldade de aquisição de produtos orgânicos por quantidade insuficiente, destacam-se as regiões Nordeste (71,3%), Norte (66%) e Sudeste (64%), não havendo grande variação dos resultados em todas as regiões. Os estados que se destacam pela dificuldade de aquisição de produtos a agricultura orgânica por quantidade insuficiente são Roraima (87,5%), Amazonas (78,6%), Sergipe (75,5%) Acre e Rio Grande do Norte (75%). A Região Sul foi a que apresentou o menor percentual de dificuldade na aquisição de produtos da agricultura orgânica por quantidade insuficiente, com 60% dos municípios respondentes, seguida pela Região Centro-Oeste, com 62,2%. Os estados que apresentaram menor dificuldade na aquisição de produtos da agricultura orgânica com relação a quantidade insuficiente foram Rondônia (43,5%), Rio Grande do Sul (57,1%) e Amapá (60%). No critério de avaliação de dificuldade de aquisição por variedade insuficiente, destacam-se as Regiões Sul (55,3%), Nordeste 62 (52,9%) e Norte (52,8%), sem grandes variações de resultados em todas as regiões. Com relação aos estados que apresentaram maior dificuldade na compra de produtos da agricultura orgânica, por variedade insuficiente destacam-se o Ceará (63,1%), Tocantins (62,4%), Paraíba (60,7%), Amazonas (60,7%), e Santa Catarina (59%). Os dados anteriores estão em consonância com as dificuldades de produção dos alimentos orgânicos por parte dos agricultores, que foram apontadas por 40,7% dos respondentes, havendo uma distribuição por região e estado similar a das duas dificuldades apontadas anteriormente. Com relação à dificuldade na aquisição de alimentos orgânicos pela falta de certificação, destacam-se as regiões Sul (64,6%), Nordeste (62,7%) e Norte (62%). Os estados que apresentaram maior dificuldade de aquisição de produtos orgânicos neste critério de avaliação foram o Amazonas (75%), Espírito Santo (72,3), Mato Grosso do Sul (69,2%) e Santa Catarina (67%). Os estados que apresentaram menor dificuldade na aquisição de produtos orgânicos com relação à falta de certificação foram Rio de Janeiro (50%), Roraima (50%), Distrito Federal e Goiás (52,2%), São Paulo (53,9%) e Tocantins (54,1%). O preço dos alimentos orgânicos foi destacado como uma dificuldade por 36,7% dos respondentes, com destaques para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em que mais da metade dos respondentes apresentaram esta dificuldade. Em contrapartida, a qualidade dos alimentos orgânicos foi um problema mencionado com menor frequência, sendo relatado por 6,5% dos municípios. Os estados em que a qualidade dos orgânicos foi apontada como dificuldade por mais de 10% dos municípios foram Piauí (10,1%), Acre (16,7%), Amazonas (10,7%) e Roraima (50%). Quanto às dificuldades relacionadas com a logística e capacitação (Tabela 5) a falta de documentação foi a principal (24,4%), seguido da falta de capacitação dos agricultores (18,1%), a dificuldade na distribuição (14,4%) e a falta de capacitação da secretaria municipal de educação (6,1%). A inexistência de produtos (2,5%) e a falta de interesse dos agricultores para vender os alimentos orgânicos para o PNAE (0,3%) foram problemas pouco frequentes. 63 Tabela 4 – Dificuldade encontrada pelos municípios para a aquisição de produtos da Agricultura Orgânica para a alimentação escolar, relacionadas aos agricultores e dinâmica de comercialização. País/Região/Estado Municípios Respondentes Altos preços NR N 5184 1261 Centro-Oeste 455 Distrito Federal e Goiás % Baixa qualidade Dificuldade na produção Falta de certificação % N % N % N % 36,7 2231 65,5 1785 52,3 220 6,5 1387 40,7 2096 61,4 98 32,0 191 62,2 158 51,4 23 7,5 128 41,7 175 57,0 238 57 36,3 96 61,2 77 49,0 14 8,9 69 44,0 82 52,2 Mato Grosso 139 26 26,5 62 63,3 51 52,0 5 5,1 38 38,8 57 58,2 Mato Grosso do Sul 78 15 28,9 33 63,5 30 57,7 4 7,7 21 40,4 36 69,2 1581 366 34,4 754 71,3 559 52,9 75 7,2 467 44,2 662 62,7 Alagoas 90 24 42,1 40 70,2 29 50,9 2 3,5 20 35,1 36 61,4 Bahia 388 95 34,4 198 71,7 139 50,4 19 6,9 127 46,0 172 62,3 Ceará 170 36 32,4 79 71,2 70 63,1 6 5,4 51 46,0 74 66,7 Maranhão 164 31 29,0 68 63,6 56 52,3 9 8,4 45 42,1 62 57,9 Paraíba 201 36 29,5 91 74,6 74 60,7 6 4,9 55 45,1 77 63,1 Pernambuco 158 40 44,0 62 68,1 39 42,9 6 6,6 36 39,6 56 61,5 Piauí 182 34 24,6 101 73,2 74 53,6 14 10,1 64 46,4 91 65,9 Nordeste N Variedade insuficiente N Brasil % Quantidade insuficiente 64 País/Região/Estado Municípios Respondentes Altos preços Quantidade insuficiente Variedade insuficiente Baixa qualidade Dificuldade na produção Falta de certificação NR N % N % N % N % N % N % Rio Grande do Norte 156 41 39,4 78 75,0 50 48,1 9 8,7 45 43,3 64 61,5 Sergipe 72 29 59,2 37 75,5 28 57,1 4 8,2 24 49,0 31 63,3 Norte 388 71 28,5 161 66,0 129 52,8 23 9,4 96 38,9 151 62,0 Acre 20 5 41,7 9 75,0 5 41,7 2 16,7 2 16,7 8 66,7 Amapá 13 4 40,0 6 60,0 4 40,0 - - 2 20,0 6 60,0 Amazonas 48 3 10,7 22 78,6 17 60,7 3 10,7 6 21,4 21 75,0 Pará 118 20 25,3 51 64,6 42 53,2 6 7,6 34 43,0 51 64,6 Rondônia 49 10 43,5 10 43,5 6 26,1 - - 9 39,1 15 65,2 Roraima 13 2 25,0 7 87,5 2 25,0 4 50,0 2 25,0 4 50,0 Tocantins 127 27 31,8 56 65,9 53 62,4 8 9,4 41 48,2 46 54,1 Sudeste 1587 423 40,9 662 64,0 512 49,5 52 5,0 392 37,9 609 58,9 Espírito Santo 78 20 42,6 30 63,8 23 48,9 2 4,3 22 46,8 34 72,3 Minas Gerais 809 174 31,8 350 64,0 278 50,8 30 5,5 218 39,9 340 62,2 Rio de Janeiro 85 29 51,8 35 62,5 22 39,3 1 1,8 22 39,3 28 50,0 São Paulo 615 200 52,1 247 64,3 189 49,2 19 5,0 130 33,9 207 53,9 65 País/Região/Estado Municípios Respondentes Altos preços Quantidade insuficiente Variedade insuficiente Baixa qualidade Dificuldade na produção Falta de certificação NR N % N % N % N % N % N % Sul 1173 303 39,2 463 60,0 427 55,3 47 6,1 304 39,4 499 64,6 Paraná 385 89 36,2 154 62,6 130 52,9 24 9,8 101 41,1 158 64,2 Rio Grande do Sul 495 141 43,3 186 57,1 179 54,9 13 4,0 132 40,5 207 63,5 Santa Catarina 293 73 36,5 123 61,5 118 59,0 10 5,0 71 35,5 134 67,0 66 Tabela 5 – Dificuldade encontrada pelos municípios para a aquisição de produtos da Agricultura Orgânica para a alimentação escolar, relacionadas à logística e capacitação. País/Região/Estado Municípios Respondentes Falta de Falta de interesse Dificuldade Contratos Falta de Inexistência Falta de capacitação em na com capacitação vender de produtos documentação dos distribuição terceirizadas da SME agricultores para o PNAE NR N % N % N % N % N % N % N % 5184 822 24,4 822 14,4 3 0,1 207 6,1 614 18,1 143 0,3 87 2,5 Centro-Oeste 455 104 33,9 104 33,9 - - 19 6,2 61 19,9 16 0,3 15 4,9 Distrito Federal e Goiás 238 59 37,6 59 37,6 - - 10 6,4 39 24,8 11 0,6 8 5,1 Mato Grosso 139 30 30,6 30 30,6 - - 5 5,1 14 14,3 2 - 2 2,0 Mato Grosso do Sul 78 15 28,9 15 28,9 - - 4 7,7 8 15,4 3 - 5 9,6 1581 297 28,4 297 28,4 - - 79 7,5 220 20,8 30 0,1 16 1,5 Alagoas 90 19 33,3 19 33,3 - - 2 3,5 16 28,1 4 - 1 1,8 Bahia 388 74 26,8 74 26,8 - - 23 8,3 65 23,6 7 0,4 4 1,5 Ceará 170 22 19,8 22 19,8 - - 6 5,4 17 15,3 - - 3 2,7 Maranhão 164 40 37,4 40 37,4 - - 8 7,5 16 15,0 - - 3 2,8 Paraíba 201 27 22,1 27 22,1 - - 7 5,7 20 16,4 3 - 1 0,8 Brasil Nordeste 67 País/Região/Estado Municípios Respondentes Falta de Falta de interesse Dificuldade Contratos Falta de Inexistência Falta de capacitação em na com capacitação documentação dos vender de produtos distribuição terceirizadas da SME agricultores para o PNAE NR N % N % N % N % N % N % N % Pernambuco 158 30 33,0 30 33,0 - - 7 7,7 19 20,9 4 - 1 1,1 Piauí 182 38 27,5 38 27,5 - - 13 9,4 36 26,1 5 - - - Rio Grande do Norte 156 31 29,8 31 29,8 - - 5 4,8 19 18,3 6 - 3 2,8 Sergipe 72 16 32,7 16 32,7 - - 8 16,3 12 24,5 1 0,4 - - Norte 388 83 34,2 83 34,2 - - 21 8,5 53 21,4 4 0,9 4 1,7 Acre 20 4 33,3 4 33,3 - - 1 8,3 2 16,7 - - - - Amapá 13 5 50,0 5 50,0 - - 1 10,0 1 10,0 - - - - Amazonas 48 12 42,9 12 42,9 - - 2 7,1 4 14,3 1 1,6 1 3,6 Pará 118 29 36,7 29 36,7 - - 5 6,3 16 20,3 1 0,7 3 3,8 Rondônia 49 7 30,4 7 30,4 - - 3 13,0 3 13,0 2 3,9 - - Roraima 13 1 12,5 1 12,5 - - 3 37,5 2 25,0 - 0,0 - - Tocantins 127 25 29,4 25 29,4 - - 6 7,1 25 29,4 - 1,2 - - Sudeste 1587 219 21,2 219 21,2 3 0,3 51 4,9 166 16,1 66 0,6 30 2,9 68 País/Região/Estado Municípios Respondentes Falta de Falta de interesse Dificuldade Contratos Falta de Inexistência Falta de capacitação em na com capacitação documentação dos vender de produtos distribuição terceirizadas da SME agricultores para o PNAE NR N % N % N % N % N % N % N % Espírito Santo 78 3 6,4 3 6,4 - - 1 2,1 4 8,5 - - 1 2,1 Minas Gerais 809 125 22,9 125 22,9 - - 33 6,0 100 18,3 28 0,7 22 4,0 Rio de Janeiro 85 21 37,5 21 37,5 - - 1 1,8 7 12,5 6 - 1 1,8 São Paulo 615 70 18,2 70 18,2 3 0,7 16 4,2 55 14,3 32 0,5 6 1,6 Sul 1173 119 15,4 119 15,4 - - 37 4,8 114 14,8 27 - 22 2,9 Paraná 385 40 16,3 40 16,3 - - 11 4,5 38 15,5 6 - 9 3,7 Rio Grande do Sul 495 46 14,1 46 14,1 - - 17 5,2 40 12,3 15 - 12 3,7 Santa Catarina 293 33 16,5 33 16,5 - - 9 4,5 36 18,0 6 - 1 0,5 69 Benefícios da Compra/Consumo de Alimentos Orgânicos Com relação aos benefícios oriundos da aquisição e utilização de gêneros alimentícios da agricultura orgânica, foram definidos 13 critérios de pesquisa, sendo perguntado aos participantes quais os benefícios existentes na aquisição e consumo destes gêneros, a saber: • Benefício aos alunos; • Benefício à saúde em geral; • Rendimento escolar; • Hábitos saudáveis; • Sabor e qualidade; • Benefícios à saúde do consumidor; • Conscientização ambiental; • Benefícios aos agricultores; • Benefícios à economia regional; • Proteção ao meio ambiente; • Garantia de venda da produção; • Mantém o agricultor no campo; e, • Benefício à saúde dos agricultores Dentre os critérios avaliados para a saúde dos consumidores (Tabela 6), merecem destaque o item benefícios aos alunos, onde os valores oscilaram entre 95,7% e 100% entre os estados da federação. Com relação ao critério benefícios à saúde em geral os valores obtidos na pesquisa variaram de 88,7% na região CentroOeste a 90,1% na região Nordeste. Entre os estados destacam-se o Acre e Espírito Santo com 100% de respostas afirmativas, seguidos pelos estados de Sergipe (97,2%), Paraíba (94,5%) e Distrito Federal e Goiás (91,9%). No critério hábitos alimentares mais saudáveis todas as regiões apresentaram percentuais acima de 89%. Na avaliação dos benefícios da compra/consumo de alimentos orgânicos relacionados à saúde do consumidor, os resultados percentuais obtidos não tiveram grandes variações entre regiões e estado, com destaque à região Sul, com 85,7% de respostas positivas. Dentre os critérios de avaliação relacionados com os benefícios da aquisição e consumo de produtos orgânicos para a alimentação de escolares, apenas o critério de avaliação Sabor e Qualidade, não apresentou resultado positivo, onde a grande maioria 70 (aproximadamente 99%) respondeu não haver diferença com relação a sabor e qualidade entre produtos orgânicos e de produção convencional. No critério de avaliação benefício aos agricultores (Tabela 7) os resultados obtidos variaram de 99,3% na região Centro-Oeste a 100% na região Norte. Entre os estados, destacam-se todos os da Região Norte, Bahia, Paraíba, Piauí, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro com 100% de resultados positivos. No critério de avaliação dos benefícios com conscientização ambiental (79,6%) e proteção ao meio ambiente (84,6%), destacam-se as regiões Sul, Sudeste e CentroOeste. Entre os estados da federação, merecem destaque os estados do Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os benefícios para a economia regional foram apontados por 61,9% dos municípios, enquanto que a garantia para a venda da produção e a manutenção do agricultor no campo foram relatados como benefícios por 49,6% e 53,2% respectivamente. 71 Tabela 6 – Benefícios da compra e consumo de produtos da Agricultura Orgânica para a alimentação escolar, relacionadas com as condições de saúde dos consumidores. Municípios País/Região/Estado Respondentes Benefícios aos alunos Benefícios à saúde em geral Rendimento escolar Hábitos saudáveis Sabor e qualidade Benefícios à saúde do consumidor N N % N % N % N % N % N % 5184 5138 99,6 4595 89,4 2813 54,9 4673 90,9 8 0,2 4241 83,2 Centro-Oeste 455 449 98,9 398 88,7 243 54,2 410 91,3 - - 370 83,6 Distrito Federal e Goiás 238 234 98,7 215 91,9 134 57,3 214 91,5 - - 202 87,8 Mato Grosso 139 139 100,0 115 82,7 76 54,7 129 92,8 - - 104 75,9 Mato Grosso do Sul 78 76 97,4 68 89,5 33 43,4 67 88,2 - - 64 84,2 1581 1568 99,7 1414 90,1 876 56,0 1431 91,3 2 0,1 1289 82,5 Alagoas 90 90 100,0 82 91,1 55 61,1 86 95,6 - - 76 86,4 Bahia 388 384 100,0 342 89,1 206 53,7 355 92,5 - - 320 83,3 Ceará 170 169 99,4 152 89,9 89 52,7 153 90,5 1 0,6 132 79,0 Maranhão 164 161 100,0 144 89,4 91 56,5 147 91,3 - - 120 76,4 Paraíba 201 117 99,5 106 94,5 70 55,8 107 91,5 - - 91 81,5 Pernambuco 158 156 98,7 136 87,2 84 53,9 138 88,5 1 - 134 85,4 Brasil Nordeste 72 Municípios País/Região/Estado Respondentes Benefícios aos alunos Benefícios à saúde em geral Rendimento escolar Hábitos saudáveis Sabor e qualidade Benefícios à saúde do consumidor N N % N % N % N % N % N % Piauí 182 181 99,5 156 86,2 120 66,3 165 91,2 - - 148 81,8 Rio Grande do Norte 156 156 100,0 144 92,3 73 46,8 141 90,4 - - 130 83,9 Sergipe 72 72 100,0 70 97,2 47 65,3 64 88,9 - - 66 93,0 Norte 388 382 99,4 339 88,8 219 57,7 341 89,4 - - 312 81,1 Acre 20 20 100,0 20 100,0 12 60,0 19 95,0 - - 19 95,0 Amapá 13 13 100,0 12 92,3 9 69,2 11 84,6 - - 10 76,9 Amazonas 48 44 95,7 40 90,9 31 70,5 42 95,5 - - 38 80,9 Pará 118 117 100,0 106 90,6 70 59,8 107 91,5 - - 91 77,8 Rondônia 49 49 100,0 44 89,8 26 53,1 41 83,7 - - 43 89,6 Roraima 13 13 100,0 9 69,2 5 38,5 10 76,9 - - 10 76,9 Tocantins 127 126 100,0 108 85,7 66 52,4 111 88,1 - - 101 80,2 Sudeste 1587 1579 99,7 1407 89,1 813 51,5 1410 89,3 4 0,3 1284 82,7 Espírito Santo 78 78 100,0 78 100,0 39 50,0 70 89,7 - - 68 88,3 Minas Gerais 809 807 99,9 719 89,1 455 56,4 741 91,8 - - 656 81,6 73 Municípios País/Região/Estado Respondentes Benefícios aos alunos Benefícios à saúde em geral Rendimento escolar Hábitos saudáveis Sabor e qualidade Benefícios à saúde do consumidor N N % N % N % N % N % N % Rio de Janeiro 85 85 100,0 74 87,6 36 42,4 74 87,1 - - 69 82,1 São Paulo 615 609 99,4 536 88,0 283 46,5 525 86,2 4 0,7 491 83,7 Sul 1173 1160 99,5 1037 89,4 662 57,0 1081 93,2 2 0,2 986 85,7 Paraná 385 378 99,5 331 87,6 187 49,5 348 92,1 - - 322 85,0 Rio Grande do Sul 495 491 99,4 447 91,0 304 61,9 464 94,5 1 0,2 418 86,5 Santa Catarina 293 291 99,7 259 89,0 171 58,8 269 92,4 1 0,3 246 85,1 74 Tabela 7 – Benefícios da compra e consumo de produtos da Agricultura Orgânica para a alimentação escolar, relacionadas com os agricultores, economia e ambiente. Benefícios Garantia Benefícios Benefícios Mantém Proteção Municípios Conscientização à de venda à saúde País/Região/Estado aos agricultor ao meio Respondentes ambiental economia da dos agricultores no campo ambiente regional produção agricultores N N % N % Brasil 5184 4104 79,6 5090 99,6 3143 61,9 4319 84,6 2520 49,6 2707 53,2 4173 81,7 Centro-Oeste 455 363 80,8 443 99,3 270 61,0 375 84,7 220 49,7 238 53,8 357 80,6 Distrito Federal e Goiás 238 189 80,8 230 99,6 144 62,6 197 85,7 120 52,2 129 56,1 197 85,7 Mato Grosso 139 108 77,7 137 99,3 74 54,0 110 80,3 61 44,5 73 53,3 98 71,5 Mato Grosso do Sul 78 66 86,8 76 98,7 52 68,4 39 51,3 36 47,4 62 81,6 1581 1208 76,7 1560 99,6 Alagoas 90 75 83,3 88 98,9 49 55,7 55,7 73 83,0 Bahia 388 301 78,4 384 100,0 243 63,3 325 84,6 183 47,7 214 55,7 308 80,2 Ceará 170 139 82,3 167 99,4 106 63,5 148 88,6 85 50,9 91 54,5 142 85,0 Maranhão 164 102 63,4 157 98,7 115 73,3 105 66,9 77 49,0 81 51,6 110 70,1 Paraíba 201 90 75,4 117 100,0 74 64,0 63 57,0 60 58,0 89 76,5 Nordeste N % N 68 % 89,5 N % N % N 1028 66,0 1275 81,3 815 52,1 873 55,8 1236 81 96 92,1 79,0 44 50,0 49 % 79,0 75 Benefícios Garantia Benefícios Proteção Benefícios Mantém Municípios Conscientização à de venda à saúde País/Região/Estado ao meio aos agricultor Respondentes ambiental economia da dos agricultores ambiente no campo regional produção agricultores N N % N % N Pernambuco 158 123 78,9 157 99,4 97 Piauí 182 128 70,7 181 100,0 Rio Grande do Norte 156 126 80,8 155 Sergipe 72 64 88,9 Norte 388 284 Acre 20 Amapá % N N % N % N % 61,8 129 82,2 75 47,8 83 52,9 125 79,6 127 70,2 135 74,6 95 52,5 97 53,6 138 76,2 99,4 113 72,9 128 82,6 99 63,9 94 60,7 125 80,7 71 100,0 50 70,4 43 60,6 48 67,6 62 87,3 74,5 384 100,0 250 65,3 296 77,2 216 56,6 225 58,5 286 74,5 16 80,0 20 100,0 14 70,0 14 70,0 12 60,0 12 60,0 14 70,0 13 10 76,9 13 100,0 8 61,5 8 61,5 10 76,9 6 46,2 9 69,2 Amazonas 48 34 77,3 47 100,0 38 80,9 36 76,6 33 70,2 33 70,2 35 74,5 Pará 118 90 76,9 117 100,0 74 63,3 96 82,1 63 53,9 60 51,3 89 76,1 Rondônia 49 39 79,6 48 100,0 35 72,9 38 79,2 21 43,8 29 60,4 40 83,3 Roraima 13 9 69,2 13 100,0 6 46,2 11 84,6 5 38,5 5 38,5 10 76,9 Tocantins 127 86 68,3 126 100,0 75 59,5 93 73,8 72 57,1 80 63,5 89 70,6 Sudeste 1587 1270 80,4 1552 99,7 873 56,3 1346 86,7 669 43,1 759 49,0 1277 66 % 93,0 82,3 76 Benefícios Garantia Benefícios Proteção Benefícios Mantém Municípios Conscientização à de venda à saúde País/Região/Estado ao meio aos agricultor Respondentes ambiental economia da dos agricultores ambiente no campo regional produção agricultores N N % N % N % N % N % N % N % Espírito Santo 78 68 87,2 77 100,0 39 50,7 71 92,2 30 39,0 30 39,0 67 87,0 Minas Gerais 809 635 78,7 804 99,9 489 60,8 686 85,3 375 46,6 434 54,0 640 79,6 Rio de Janeiro 85 74 87,1 84 100,0 45 53,6 51,2 71 84,5 São Paulo 615 493 81,0 587 99,3 300 51,1 515 87,7 232 39,5 252 42,9 499 85,0 Sul 1173 979 84,4 1151 99,6 722 62,7 1027 89,2 600 52,1 612 53,1 1017 88,3 Paraná 385 302 79,9 379 99,5 220 58,1 335 88,4 190 50,1 178 47,0 329 86,8 Rio Grande do Sul 495 427 87,0 483 99,2 306 63,4 439 90,9 262 54,2 273 56,5 423 87,6 Santa Catarina 293 250 85,9 289 99,7 196 67,8 253 87,5 148 51,2 161 55,7 265 91,7 74 88,1 32 38,1 43 77 Presença de Nutricionista Responsável Técnico e Realização de Atividades Educativas nos Municípios Dos municípios respondentes 94,2% relataram contar com a presença de um nutricionista responsável técnico pela alimentação escolar (Tabela 8), sendo que as regiões Centro-Oeste (88,4%) e Norte (82,1%) apresentaram percentuais inferiores frequência nacional (p<0,001). Embora o percentual de municípios sem nutricionista seja de 5,8%, isso corresponde a aproximadamente 300 secretarias municipais de educação que não contam com este profissional atuando no PNAE. Deve-se salientar que constitui-se um limite da pesquisa não ter questionado os municípios sobre o número de nutricionistas contratados, uma vez que a existência de NRT em 94,2% dos municípios brasileiros não significa que sejam cumpridas as diretrizes apresentadas na Resolução CFN nº 465/2010, no que diz respeito ao número de nutricionistas (NRT e QT) em relação ao número de escolares bem como a compatibilidade de atendimento destes, quando em atuação em mais de um município. Tabela 8. Presença de nutricionista responsável técnico pela alimentação escolar nas diferentes regiões e estados brasileiros. Brasil, 2012. Municípios respondentes Possui NRT N % (IC95%) 5184 94,2 (93,6; 94,8) Região Centro-Oeste 455 88,4 (85,4; 91,3) Distrito Federal e Goiás 238 91,2 (87,5; 94,8) Mato Grosso 139 78,4 (71,5; 85,3) Mato Grosso do Sul 78 97,4(93,8; 100,0) 1581 96,3 (95,4; 97,2) Alagoas 90 98,9 (96,7; 100,0) Bahia 388 97,2 (95,5; 98,8) Ceará 170 97,1 (94,5; 99,6) Maranhão 164 96,3 (93,4; 99,2) Brasil Nordeste 78 Municípios respondentes Possui NRT N % (IC95%) Paraíba 201 91,5 (87,7; 95,4) Pernambuco 158 96,8 (94,1; 99,6) Piauí 182 95,1 (91,9; 98,2) Rio Grande do Norte 156 97,4 (94,9; 99,9) Sergipe 72 100,0 (- -) Norte 388 82,1 (78,3; 85,9) Acre 20 85,0 (67,8; 100,0) Amapá 13 76,9 (50,4; 100,0) Amazonas 48 81,2 (69,8; 92,7) Pará 118 94,9 (90,9; 98,9) Rondônia 49 89,8 (81,0; 98,6) Roraima 13 100,0 (- -) Tocantins 127 64,6 (56,1; 73,0) Sudeste 1587 94,7 (93,6; 95,8) Espírito Santo 78 97,4 (93,8; 100,0) Minas Gerais 809 92,2 (90,3; 94,1) Rio de Janeiro 85 94,1 (89,0; 99,2) São Paulo 615 97,9 (96,7; 99,0) Sul 1173 97,2 (96,2; 98,1) Paraná 385 96,6( 94,8; 98,4) Rio Grande do Sul 495 97,8 (96,5; 99,1) Santa Catarina 293 96,9 (94,9; 98,9) Na análise da carga horária e tempo de serviço dos nutricionistas nas atividades do PNAE foram utilizados os dados de todos os municípios que referiram contar com estes profissionais (N=4883). A mediana de carga horária semanal de trabalho dos 79 nutricionistas foi de 20 horas/semana (intervalo interquartil 20-30 horas/semana). Já o tempo de serviço no município apresentou uma mediana de 31,5 meses (intervalo interquartil 14-60 meses). A Tabela 9 mostra que dos 4883 municípios brasileiros que possuem NRT, em 56,7% dos casos a carga horária semanal de trabalho foi inferior à normativa de 30 horas semanais. As duas regiões com percentuais superiores a frequência nacional foram as regiões Nordeste e Sul. No Nordeste, com exceção de Pernambuco, todos os estados apresentaram NRT com carga horária semanal inferior a 30 horas em mais de 60% municípios. Ainda na Tabela 9, mais de dois terços dos nutricionistas atuam a menos de 48 meses no município, com destaque para as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que apresentaram percentuais superiores a 70%. Os estados com as maiores prevalências (superior a 80%) foram das regiões Norte e Nordeste: Bahia (82,3%), Maranhão (80,8%) Sergipe (87,1%), Amazonas (89,5%), Roraima (84,6%) e Tocantins (85,2%). O único estado em que este percentual foi inferior a 50% foi o estado de São Paulo. 80 Tabela 9. Descrição das atividades do nutricionista responsável técnico (NRT) pela alimentação escolar segundo as diferentes regiões e estados brasileiros. Brasil, 2012. Nutricionista trabalha <30h/semana Realiza atividades educativas nas escolas Nutricionista trabalha há <48 meses Na % (IC95%)b % (IC95%)b Nc % (IC95%)d Brasil 4883 56,7 (55,3; 58,1) 67,9 (66,6; 69,2) 5184 37,9 (36,5; 39,3) Centro-Oeste 402 52,8 (47,9; 57,7) 72,2 (67,8; 76,6) 455 39,6 (34,8; 44,4) Goiás e DF 217 63,1 (56,7; 69,6) 76,0 (70,3; 81,8) 238 43,8 (37,0; 50,6) Mato Grosso 109 41,3 (31,9; 50,7) 69,7 (61,0; 78,5) 139 39,3 (30,5; 48,1) Mato Grosso do Sul 76 39,5 (28,2; 50,7) 64,5 (53,5; 75,5) 78 26,1 (15,2; 37,1) 1522 65,5 (63,1; 67,9) 74,6 (72,3; 76,8) 1581 37,8 (35,3; 40,4) Alagoas 89 68,5 (58,7; 78,4) 57,3 (46,8; 67,8) 90 33,3 (21,9; 44,7) Bahia 376 64,0 (59,1; 68,9) 82,3 (78,4; 86,2) 388 37,8 (33,6; 44,0) Ceará 165 66,5 (59,2; 73,7) 62,2 (54,7; 69,7) 170 34,7 (27,0; 42,5) Maranhão 158 71,3 (64,2; 78,5) 80,8 (74,5; 87,0) 164 39,6 (31,3; 47,8) Paraíba 184 72,5 (66,0; 79,1) 76,4 (70,1; 82,6) 201 41,6 (34,5; 48,6) Pernambuco 173 54,3 (46,3; 62,3) 72,0 (64,7; 79,3) 158 40,0 (31,8; 48,2) Piauí 173 61,3 (53,9; 68,6) 70,0 (63,0; 76,8) 182 36,7 (29,3; 44,2) Nordeste 81 Rio Grande do Norte 152 62,9 (55,1; 70,7) 72,8 (65,7; 80,0) 156 42,7 (34,7; 50,7) Sergipe 72 75,7 (65,4; 86,0) 87,1 (79,1; 95,2) 72 13,3 (4,5; 22,2) Norte 317 50,3 (44,8; 55,9) 76,6 (71,9; 81,3) 388 37,8 (32,7; 43,0) Acre 17 70,6 (46,4; 94,7) 52,9 (26,5; 79,4) 20 41,2 (15,1; 67,3) Amapá 10 20,0 (0,0; 50,2) 80,0 (49,8;100,0) 13 16,7 (0,0; 41,4) Amazonas 39 36,8 (20,8; 52,9) 89,5 (79,2; 99,7) 48 46,5 (31,0; 62,0) Pará 112 35,7 (26,7; 44,7) 70,5 (62,0; 79,1) 118 31,4 (22,2; 40,5) Rondônia 44 43,2 (27,9; 58,4) 70,0 (56,4; 84,5) 49 35,7 (20,6; 50,8) Roraima 13 61,5 (30,9; 92,1) 84,6 (61,9;100,0) 13 15,4 (0,0; 38,1) Tocantins 82 81,7 (73,2; 90,2) 85,2 (77,3; 93,1) 127 46,0 (36,7; 55,3) 1503 45,8 (43,2; 48,3) 62,5 (60,1; 65,0) 1587 35,1 (32,6; 37,6) Espírito Santo 76 36,8 (25,7; 47,9) 71,2 (61,1; 82,1) 78 30,2 (18,5; 41,8) Minas Gerais 745 54,8 (51,3; 58,4) 73,0 (69,8; 76,2) 809 36,7 (33,3; 40,2) Rio de Janeiro 80 61,2 (50,3; 72,2) 63,3 (52,4; 74,2) 85 35,2 (23,8; 46,6) São Paulo 602 33,4 (29,6; 37,2) 48,1 (44,1; 52,2) 615 33,3 (29,1; 37,4) Sul 1139 62,1 (59,3; 64,9) 61,0 (58,2; 63,9) 1173 41,1 (38,2; 44,1) Paraná 153 55,0 (49,9; 60,1) 60,3 (55,3; 385 35,1 (30,0; Sudeste 82 65,3) 40,2) Rio Grande do Sul 484 70,1 (66,0; 74,2) 56,9 (52,4; 61,4) 495 43,5 (38,9; 48,1) Santa Catarina 284 58,1 (52,3; 63,9) 69,0 (63,6; 74,4) 293 45,1 (39,1; 51,1) a – O número corresponde aos municípios que possuem NRT b – Percentual em relação aos municípios que possuem NRT c – O número correspondente aos municípios respondentes d – Percentual em relação aos municípios respondentes CONSIDERAÇÕES FINAIS Com a análise e sistematização dos dados da pesquisa nacional “Utilização de produtos provenientes da agricultura familiar e de gêneros orgânicos na alimentação de escolares e sua interface com o Programa Nacional de Alimentação Escolar”, foi possível identificar as principais dificuldades para a efetivação da compra de produtos da agricultura familiar e orgânicos, os benefícios percebidos pelos gestores da alimentação escolar nos municípios brasileiros relacionados ao uso de alimentos orgânicos no PNAE, bem como a atuação do Profissional de Nutrição e as estratégias educativas em saúde e nutrição sobre alimentos orgânicos desenvolvidas em escolas públicas municipais do país. Esta pesquisa destaca-se principalmente por ser a primeira em âmbito nacional que avaliou a inserção dos alimentos da agricultura familiar e orgânicos na alimentação escolar, destacando-se a contribuição da mesma para a viabilização de ações de intervenção, tanto por parte dos atores quanto dos órgãos públicos envolvidos com o PNAE. A participação de 93,15% dos municípios brasileiros à pesquisa faz com que os resultados obtidos sejam representativos e permitam identificar as diferentes realidades encontradas nos estados e regiões brasileiras com relação ao desenvolvimento das diretrizes legais do PNAE. Apesar da implementação das diretrizes da Resolução CD/FNDE nO 38/2009 (substituída pela Resolução CD/FNDE nº 26/2013) relacionadas a política de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar ter sido recente a realização da coleta de 83 dados desta pesquisa, pode-se identificar por meio dos resultados que uma parcela significativa dos municípios brasileiros está comprando alimentos da agricultura familiar. Com relação aos orgânicos, pode-se observar que uma parcela reduzida está comprando estes produtos para a alimentação escolar, havendo necessidade de incentivos, tanto para os agricultores, quanto para os gestores das secretarias de educação e das escolas, visando promover a aquisição e o consumo destes produtos. Estes incentivos devem ser privilegiados na elaboração das políticas públicas visando assegurar a sua implementação e a evolução crescente do programa, refletindo em melhorias na educação, economia, saúde pública e o fortalecimento da agricultura familiar e dos mercados locais e regionais. A socialização dos dados da pesquisa através de boletins informativos, apresentações em eventos técnicos e científicos, elaboração de artigos científicos e dissertações, tem a função de divulgar os dados da pesquisa sob diferentes aspectos e aprofundamentos, permitindo com isso a abordagem das dificuldades encontradas pelos gestores e demais atores envolvidos no processo com relação a execução do Programa permitindo com isso a sua melhoria contínua. A reprodução da pesquisa nacional no ano de 2014, permitirá traçar um comparativo e avaliar a evolução do PNAE ao longo destes 3 anos, além de possibilitar, a partir da avaliação e entendimento do FNDE, à viabilização de novas políticas públicas, programas e subsídios para o desenvolvimento de novas ações que estimulem a inclusão dos alimentos da agricultura familiar e orgânicos na alimentação escolar por meio de atividades de capacitação de agricultores familiares, gestores, nutricionistas e demais atores envolvidos no PNAE. Por fim entendemos que as expectativas de participação à pesquisa foram superadas bem como o cumprimento de algumas metas estipuladas. Também entendemos que são necessárias novas investigações sobre o assunto e novas abordagens nos instrumentos de coletas de dados, permitindo com isso elaboração de um cenário comparativo para avaliar a evolução do programa e novas informações que permitirão uma análise mais aprofundada das dimensões do programa no país. 84 REFERÊNCIAS ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/d214350042f576d489399f536d630 8db/RELAT%C3%93RIO+DO+PARA+2009.pdf?MOD=AJPERES. Acessado em: 20 de agosto de 2010. BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Resolução CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Brasília, 2013. BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Lei 11.947 de 16 julho de 2009. Brasília, 2009a. BRASIL. LEI nº 10.831, de 23 de Dezembro de 2003. Brasília, 2009b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm. Acesso em 20 de agosto de 2009. DAROLT, M. R. A Evolução da Agricultura Orgânica no contexto brasileiro. Disponível em: http://www.planetaorganico.com.br/brasil.htm. Acessado em: 20 de setembro de 2010. EPAGRI – Empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Disponível em: http://www.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82 :a-agroecologia-em-santa-catarina&catid=40:pesquisas-destaque&Itemid=38 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário, 2006. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/200 6/default.shtm. Acessado em 24 de agosto de 2010. BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 2009c. Alimentação escolar. Disponível em: www.fnde.gov.br. Acesso em: 15 de junho de 2009. Governo do Rio Grande do Sul – Projeto Biodiversidade. Conceitos e termos. Disponível em: http://www.biodiversidade.rs.gov.br/portal/index.php?acao=secoes_portal&id=4 1&submenu=7 Acessado em 02 de setembro de 2010. 85 MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agricultura Familiar. Disponível em: http://www.conab.gov.br/conabweb/index.php?PAG=14. Acesso em 15 de agosto de 2009. MDS - Ministério do Desenvolvimento Social. Programa de aquisição de alimentos. Disponível em: http://www.mds.gov.br. Acesso em 10 de agosto 2009. MIKKELSEN, B.E et al. Organic foods in catering: The Nordic perspective. Report supported by Danish Veterinary and Food Admnistration. Danish Technical University e Nordic Industrial Fund. Mar. 2002. Disponível em: http://orgprints.org/2748/01/Organic_foods_in_catering_project_report.pdf. Acesso em 17 de agosto de 2009. SIDANER, E., BALABAN, D., BURLANDY L. The Brazilian school feeding programme: an example of an integrated programme in support of food and nutrition security. Public Health Nutrition, 16, pp 989-994. 2013. doi:10.1017/S1368980012005101. 86 1.3 RESUMO EXECUTIVO - ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS NUMÉRICOS MÍNIMOS DE REFERÊNCIA COM RELAÇÃO ÀS ATRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS DO NUTRICIONISTA EM UMA AMOSTRA DE MUNICÍPIOS DO BRASIL – CECANE UFRGS. OBJETIVO E METODOLOGIA O presente documento apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida pelo CECANE UFRGS no período de outubro de 2012 a janeiro de 2014, intitulada “Adequação dos Parâmetros Numéricos Mínimos de Referência com Relação às Atribuições Obrigatórias do Nutricionista em uma Amostra de Municípios do Brasil”. A presente pesquisa teve como principal objetivo verificar a adequação dos parâmetros numéricos mínimos de referência com relação às atribuições obrigatórias do nutricionista de acordo com a Resolução do CFN 465/2010 em uma amostra de municípios do Brasil. Também, objetivou-se, por meio deste estudo, verificar quais atribuições obrigatórias e complementares estão sendo desenvolvidas pelos nutricionistas; quantificar a frequência do desenvolvimento de cada uma das atribuições obrigatórias e complementares do nutricionista em relação ao quadro técnico presente no município e a demanda de trabalho; Analisar o quantitativo de nutricionistas necessário para o atendimento da educação infantil, de acordo com as atribuições do profissional para esse público específico, conforme exceção da Resolução; e, averiguar se a existência de outros profissionais/atores influencia e/ou auxilia no desenvolvimento das atividades do nutricionista no PNAE. Esse estudo foi realizado a partir de uma amostra representativa de nutricionistas responsáveis técnicos (RTs) pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar em municípios brasileiros. Para tanto, a metodologia de pesquisa escolhida foi envio de questionários via meio eletrônico. O instrumento para a coleta de dados foi desenvolvido pela equipe do CECANE/UFRGS, em parceria com integrantes do FNDE. O questionário foi construído a partir da Resolução 465/2010 do Conselho Federal de 87 Nutricionistas, focando-se na execução das atividades inerentes ao responsável técnico e sua equipe, e na carga horária despendida para tais atividades. Além destas questões, o questionário contemplou também os seguintes fatores: número de escolas sob-responsabilidade de cada nutricionista e a sua localização; número de escolares atendidos; existência de equipe de apoio no setor de alimentação, como técnicas de nutrição e estagiárias; e, existência de trabalho interdisciplinar. Para verificar a adequação dos parâmetros numéricos mínimos de referência comparou-se o número de nutricionistas evidenciado em cada município, conforme resposta do questionário (RT + QT), com o preconizado na Resolução do CFN 465/2010. A análise do quantitativo de Responsáveis Técnicos que desenvolvem as atribuições obrigatórias foi verificada por meio da frequência das respostas dos nutricionistas quanto à realização das atribuições, periodicidade, dentre outros itens inerentes a cada atribuição os quais também foram considerados para compor este panorama. Ainda, considerou-se nesta análise outros fatores que poderiam influenciaram/contribuir para a realização das atribuições obrigatórias e complementares do nutricionista, como por exemplo existência de quadro técnico, número de escolas do município, localização das escolas, atendimento à necessidades específicas, carga horária do RT no município e tempo de atuação deste na Entidade Executora (EEx). A análise dos resultados foi realizada utilizando-se o software estatístico SPSS versão 18. As variáveis categóricas encontram-se expressas em número absoluto e percentual e as variáveis quantitativas em média e desvio padrão, e, quando apropriado, em mediana e percentil 25 e 75. Para comparação da realização das atribuições entre as regiões utilizou-se o teste qui quadrado e para comparação entre médias, ANOVA. Considerou-se significativo o resultado quando p<0,05. 88 PRINCIPAIS RESULTADOS – MUNICÍPIOS - BRASIL E REGIÕES 1.3.1 Caracterização do profissional que atua no PNAE – Brasil e Regiões Até a primeira quinzena de novembro de 2013, retornaram 467 questionários, ultrapassando-se assim a amostra calculada, a qual era de 387. A Tabela 1 apresenta as características da amostra (Brasil e regiões) de Responsáveis Técnicos (RTs) quanto ao tempo de atuação no PNAE, forma de vínculo com o município, carga horária praticada, atuação em outras secretarias além da de Educação e atuação em outros municípios, além do sorteado para participação na pesquisa. A mediana do tempo de atuação do RT no PNAE, na amostra total, foi de 24 meses. A região que apresentou maior mediana foi a região Sudeste, 36 meses, seguida da região Sul, 30,5 meses. Em contraponto, o tempo de atuação na região Norte não chegou à um ano (mediana= 7,5 meses), denotando tempo relativamente curto de atuação do programa. Em relação à carga horária (CH) do RT no município, 42,6% (n=199) relataram possuir CH inferior a 30 horas. Este dado revela uma possível inadequação destes municípios à Resolução CFN 465/2010, que recomenda que a carga horária técnica mínima da RT seja de 30h, para cada fração de 500 alunos. Quanto à forma de contratação do profissional pela Entidade Executora, destacaram-se como principais formas de vinculo “concursado”, “prestador de serviço – contratado” e “Cargo de Confiança”. As regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram maiores percentuais de profissionais com vínculo por Cargo de Confiança, podendo este fator estar associado à baixa permanência do profissional como RT no programa (tempo de atuação no PNAE). Por outro lado, as regiões com maiores percentuais de profissionais concursados corresponderam àquelas cujos profissionais atuam há mais tempo no PNAE (Sudeste e Sul). A maioria dos RTs atua somente no município que responderam a pesquisa, no entanto, 13,3% (n=62) da amostra atuam em mais um município e 2,1% (n=10) em dois ou mais municípios. Um nutricionista relatou atuar em 89 mais cinco municípios, além do município sorteado para a pesquisa, tendo 30 horas no município em questão. Tabela 1. Perfil profissional dos nutricionistas Responsáveis Técnicos pelo PNAE, Brasil e Regiões. Centro Oeste (n=39) <------------------------------------------------------------ Mediana (P25 –P75) ----------------------------------------------> Tempo de Atuação no 24,0 7,5 18,00 36,0 30,5 14,0 PNAE (meses) (6,0 - 55,25) (3,75-54) (5,50 - 48,0) (13,5 - 72,0) (12,5 - 60,0) (5,0 - 36,0) 30,0 30,0 20 30,0 30,0 30,0 Carga Horária no (20,0 – 40,0) (20,0 – 40,0) (20,0 – 30,0) (20,0 – 40,0) (20,0 – 40,0) (20,0 – 40,0) Município (horas) Min – Max Min – Max Min – Max Min – Max Min – Max Min – Max 4 – 44 20 – 40 8 – 40 4 – 44 4 – 44 8 – 44 n % n % n % n % n % n % Tipo de Vinculo com a Entidade Executora 53, 34, 66, Concursado (a) 251 10 38,5 48 98 76 65,5 19 48,7 7 8 2 15, Cargo de confiança 55 11,8 5 19,2 22 12 8,1 11 9,5 5 12,8 9 Consultor (a) 3 0,6 1 3,8 0 0 1 0,7 1 0,9 0 0 Prestador (a) de serviço 29, 44, 22, 138 10 38,5 62 33 21 18,1 12 30,8 (contratado) 6 9 3 RT da empresa contratada 11 2,4 0 0 5 3,6 0 0 3 2,6 3 7,7 (terceirizada) Outra resposta 9 1,9 0 0 1 0,7 4 2,7 4 3,4 0 0 Total 467 100 26 100 138 100 146 100 116 100 39 100 RT atua em outra Secretaria 75, 73, Não 354 28 71,8 85 122 82,4 85 73,3 28 71,8 8 3 Total 467 100 39 100 138 100 146 100 116 100 39 100 RT atua em outro município 84, 73, 86, Não 393 21 80,8 102 134 91,2 103 88,8 33 5 9 8 13, 21, 10, Sim, mais 1 município 62 5 19,2 29 13 8,8 11 9,5 4 3 0 5 Sim, 2 ou mais 10 2,1 0 0 7 5,1 0 0 2 1,7 1 2,6 municípios Total 465 100 26 100 138 100 147 100 116 100 38 100 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Brasil (n=464) Norte (n=26) Nordeste (n=138) Sudeste (n=146) Sul (n=116) A Figura 1 apresenta a mediana do total de escolas, total de alunos e total de alunos da Educação Infantil, por município, para cada região. Verifica90 se maior mediana de escolas e alunos na Região Norte e Nordeste, contrapondo-se ao verificado nas regiões Centro-Oeste e Sul. A Resolução CFN 465/2010 define os parâmetros numéricos de nutricionistas por município de acordo com o total de alunos do município, portanto, quanto maior o número de alunos atendidos maior será o quantitativo de nutricionistas necessário para atender a demanda do PNAE. Figura 1. Mediana do total de escolas, total de alunos e total de alunos da Educação Infantil por município, para cada região, Brasil. Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Resultados Adequação Parâmetros Numéricos – Brasil A Figura 2 apresenta a proporção de municípios com o quadro de nutricionistas adequado ou inadequado, conforme os parâmetros numéricos definidos pela Resolução CFN 465/2010. A maioria dos municípios (n=411, 88%) está com o quadro inadequado, em comparação com o quantitativo recomendado pela legislação vigente. 91 Figura 2. Proporção de municípios com o quadro de nutricionistas adequado ou inadequado, conforme os parâmetros numéricos definidos pela Resolução CFN 465/2010. 56 municípios 411 municípios % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. A Tabela 2 apresenta a proporção de municípios divididos por região com o quadro de nutricionistas adequado/inadequado conforme os parâmetros numéricos definidos pela Resolução CFN 465/2010. A região Nordeste apresentou maior proporção de municípios com o quadro de nutricionistas inadequado (99,3%, n=137), seguido da região Norte (92,3%, n=24), regiões essas que também apresentaram maiores medianas de números de alunos e número de escolas. Na região Sul 73,7% dos municípios (n=85) encontram-se adequados, sendo esta também a região que apresentou menor mediana do número de escolas, total de alunos e total de alunos de Educação Infantil por município. 92 Tabela 2. Adequação Parâmetros numéricos mínimos de referência CentroNorte Nordeste Sudeste Sul Oeste Total N % n % n % n % n % n % 2 7,7 1 0,7 17 11,5 31 26,7 5 12,8 56 12,0 Inadequa 24 do 92,3 137 99,3 13 1 88,5 85 73,3 34 87,2 41 1 88,0 26 100, 0 138 100, 0 14 8 100, 0 11 6 100, 0 39 100,0 46 7 100, 0 Adequad o Total Fonte: CECANE UFRGS, 2014. p *Teste qui quadrado Em relação às atribuições obrigatórias, a Tabela 3 apresenta a proporção de Responsáveis Técnicos que referem à realização dessas atribuições em seu município, bem como a comparação do resultado encontrado entre as regiões. Ainda, incluiu-se nesta análise o questionamento acerca da realização de visitas às escolas, visto que para o cumprimento pleno das atribuições é necessário que o nutricionista conheça o espaço escolar bem como é desejável que o visite com frequência. Encontrou-se diferença significativa para a realização das seguintes atribuições entre as regiões: realização do diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares; identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas; elaboração das fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; planejamento orientação e supervisão das atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos; interação com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações; e, elaboração e implantação do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. A região Norte é a que apresenta menor percentual de RTs que realizam o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares (38,5%, n=10), contrapondo-se a região Centro-Oeste na qual 84,6% dos RTs (n=33) referiram realizar esta atribuição. Nas regiões Norte e Centro-Oeste 100% da amostra (n=26, n=39, respectivamente) referiram que o planejamento, 93 p<0,00 1* elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar são realizados pelo nutricionista. A não elaboração de fichas técnicas foi predominante nas regiões Norte (61,5%, n=16), Sul (66,4%, n=77) e Centro Oeste (51,3%, n=20). Em todas as regiões, exceto Sudeste, foi predominante a resposta negativa em relação à elaboração do Manual de Boas Práticas. Tabela 3. Realização das atribuições obrigatórias pelos Responsáveis Técnicos dos municípios e comparação da proporção de RTs que realizam cada atribuição por região, Brasil. CentroNorte Nordeste Sudeste Sul Oeste n % n % n % n % n % Diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares Não Sim 16 61,5 42 30,4 34 10 38,5 96 69,6 114 23,0 23 19,8 6 15,4 77,0 93 80,2 33 84,6 100, 100, 100, 100, 26 138 148 116 39 100,0 Total 0 0 0 0 Identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas 8 30,8 50 36,2 34 23,0 22 19,0 5 12,8 Não Total n % 12 0 34 7 46 7 p 25,7 74,3 p<0,001* 100, 0 11 25,5 9 18 69,2 88 63,8 114 77,0 94 81,0 34 87,2 34 74,5 Sim 8 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 Planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar Não 0 0 3 2,2 4 2,7 2 1,7 0 0 9 1,9 100 135 97,8 144 97,3 114 98,3 39 100 45 98,1 26 Sim 8 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar Não 5 19,2 26 18,8 28 18,9 11 9,5 3 7,7 73 15,6 21 80,8 112 81,2 120 81,1 105 90,5 36 92,3 39 84,4 Sim 4 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 p=0,004* p=0,769* p=0,102* 94 Tabela 3. (continuação) Realização das atribuições obrigatórias pelos Responsáveis Técnicos dos municípios e comparação da proporção de RTs que realizam cada atribuição por região, Brasil. CentroNorte Nordeste Sudeste Sul Oeste n % n % n % n % n % Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio 16 61,5 45 32,6 64 43,2 77 66,4 20 51,3 Não n Total % p 22 47,5 2 10 38,5 93 67,4 84 56,8 39 33,6 19 48,7 24 52,5 Sim p<0,001* 5 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos Não 7 26,9 12 8,7 11 7,4 4 3,4 6 15,4 40 8,6 19 73,1 126 91,3 137 92,6 112 96,6 84,6 42 91,4 Sim 33 7 p<0,001* 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto aos escolares 6 23,1 32 23,2 28 18,9 30 25,9 7 17,9 36 77,9 Não 4 20 76,9 106 76,8 120 81,1 86 74,1 32 82,1 10 22,1 Sim p=0,676* 3 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações Não 7,7 24 17,4 32 21,6 13 11,2 6 15,4 77 16,5 2 24 92,3 114 82,6 116 78,4 103 88,8 33 84,6 39 83,5 Sim 0 p<0,001* 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação 18 69,2 90 65,2 70 47,3 65 56,0 22 56,4 26 56,7 Não 5 8 30,8 48 34,8 78 52,7 51 44,0 17 43,6 20 43,6 Sim p=0,026* 2 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 39 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 7 0 Elaborar o Plano Anual de Trabalho do PNAE 13 50,0 58 42,0 51 34,7 45 38,8 16 42,1 18 39,4 Não 3 13 50,0 80 58,0 96 65,3 71 61,2 22 57,9 28 60,6 Sim p=0,538* 2 26 100, 138 100, 148 100, 116 100, 38 100,0 46 100, Total 0 0 0 0 5 0 95 Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PNAE Não 8 30,8 18 13,0 17 11,6 8 6,9 5 18 69,2 120 87,0 130 88,4 108 93,1 33 Sim 26 100, 138 100, Total 0 0 Realização de visitas às escolas Não 7,7 4 2,9 2 24 92,3 134 97,1 Sim 26 Total 100, 0 138 100, 0 13,2 86,8 148 100, 0 116 100, 0 38 100,0 3 145 2,0 98,0 1 115 0,9 99,1 0 39 0 100,0 148 100, 0 116 100, 0 39 100,0 Fonte: CECANE UFRGS, 2014 56 40 9 46 5 12,0 88,0 10 45 7 46 7 2,1 97,9 p=0,020* 100, 0 p=0,201* 100, 0 *Teste qui quadrado RESULTADOS POR REGIÃO REGIÃO NORTE Parceiros/colaboradores para o trabalho A maioria dos RTs não considera ter parceiros/colaboradores que contribuam para a execução de seu trabalho, pois somente 26,9% (n=7) relatou contar com o apoio de associações e, também 26,9% (n=7), considerou ter como parceiro cooperativas. A Secretaria de Saúde foi considerada colaboradora por 34,6% (n=9). Profissionais que trabalham no setor de alimentação escolar Somente 7,7% dos RTs (n=2) relataram não ter outros profissionais, além dos nutricionistas, que trabalham no setor de alimentação escolar. A maioria dos municípios possui o cargo de “coordenador da alimentação escolar” (76,9%, n=20), em segundo lugar o cargo de maior expressividade nesta região foi o de “estoquista” (38,5%, n=10), seguido do “técnico de nutrição”, presente em 11,5% dos municípios (n=3), e do “estagiário de Nutrição” presente somente em 3,8% dos municípios (n=1). 96 Realização das Atribuições Obrigatórias Visitas às Escolas Em relação à realização de visitas às escolas do município, 92,3% dos RTs (n=24) responderam afirmativamente, sendo que destes 45,8% (n=11) responderam ter visitado todas as escolas do município nos últimos seis meses, 25% (n=6) visitaram mais de metade das escolas, o mesmo percentual relatou ter visitado menos da metade, e um RT respondeu ter visitado metade dos estabelecimentos de ensino nos últimos seis meses. Relacionando-se o número de escolas do município à frequência de visita, encontrou-se diferença estatisticamente significativa, sendo 35,45 (±18,56) a média de escolas dos municípios que o RT relatou ter visitado todas as escolas nos últimos seis meses, 64,16 (±25,13) a média de escolas dentre aqueles que visitaram mais da metade, e de 137,66 (±25,13) a média de escolas dentre os RTs que responderam ter visitado menos da metade das escolas (p=0,028). Os RTs foram questionados em relação às horas semanais, aproximadamente, despendidas quando realizavam visitas às escolas. A mediana foi de 20 horas (P25=15,75 – P75=20). O número total de escolas do município não se correlacionou de forma significativa com a carga horária despendida (p=0,058, r=0,411). Diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares A maioria dos RTs (61,53%, n=16) respondeu que não realizam avaliações nutricionais dos escolares. Os principais motivos elencados para não realização desta atribuição foram: falta de equipamentos de antropometria, ausência de quadro técnico no município, carga horária do RT insuficiente e pouco tempo de atuação no município, este último fator concorda com o resultado encontrado para “tempo de atuação no município”. Dentre os 38,5% (n=10) que responderam afirmativamente, todos realizam o diagnóstico por meio de antropometria, metade utiliza-se de ferramentas para investigação de hábitos alimentares, e três referiram investigar o consumo alimentar dos escolares. Quanto ao público avaliado, 9 realizam avaliações com os escolares 97 da Educação Infantil e de 5° a 9° ano, e todos referiram avaliar os alunos do 1° ao 4° ano. Em contraponto, nenhum RT referiu realizar o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos. Em relação à estimativa da carga horária despendida para esta atribuição, todos os nutricionistas que realizam avaliação nutricional responderam 20 horas semanais. Identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas A maioria dos nutricionistas RTs (69,2%, n=18) relatou que busca identificar os escolares que possuam necessidade especificas, e, destes, quatro RTs não encontraram em sua realidade indivíduos com necessidades nutricionais específicas. Dentre as patologias atendidas nestas realidades, destaca-se a intolerância a lactose, identificada em 34,6% (n=9) dos municípios, seguido da Diabetes Mellitus identificada em 23,1% (n=6) dos municípios. Planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar Em todos os municípios (100%, n=26) a elaboração e o planejamento do cardápio da alimentação escolar são realizados pelo nutricionista. Variam os fatores considerados na elaboração do cardápio, conforme se visualiza na Tabela 4. Observa-se que os fatores levados em consideração pela maioria dos nutricionistas dizem respeito às características regionais, à cultura alimentar e a vocação agrícola da região. 98 Tabela 4. Fatores considerados pelos RTs no planejamento e elaboração do cardápio, região Norte, Brasil. Fatores considerados para elaboração do cardápio Hábitos alimentares e cultura alimentar de cada localidade, considerando uma alimentação saudável e adequada Utilização de produtos da agricultura familiar e dos empreendedores familiares rurais locais Referências nutricionais de acordo com a faixa etária Período de permanência na escola Perfis epidemiológicos da população Comunidade escolar Indígena e Quilombola Cardápio anterior Cardápio para necessidades específicas Diagnóstico nutricional realizado a partir da avaliação nutricional n 25 % 96,2 24 92,3 20 16 8 8 7 5 2 76,9 61,5 30,8 30,8 26,9 19,2 7,7 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Confrontando-se o resultado obtido com a atribuição conforme preconizada pela Resolução vigente, observa-se que embora o RT planeje e elabore o cardápio, este nem sempre leva em consideração fatores importantes como, por exemplo, o perfil epidemiológico da população e a existência de necessidades específicas. Embora dez nutricionistas tenham relatado realizar o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares, somente dois relataram que o utilizam na hora de planejar o cardápio. Ainda, conforme a Resolução FNDE 26 de 2013, os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados a partir das fichas técnicas de preparo. Quanto a esta demanda, 61,5% dos RTs (n=16) não possuem fichas técnicas das preparações dos cardápios do município. Já o cálculo nutricional do cardápio é realizado por 69,2% (n=18). Para o planejamento, elaboração e cálculo do cardápio a mediana de tempo semanal estimado foi 20 horas (P25=10, P75=21,25). Proposição e realização de ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar Conforme a Resolução vigente compete ao nutricionista coordenar e realizar, em conjunto com a direção da escola e coordenação pedagógica, ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Embora seja uma atribuição 99 obrigatória, 19,2% dos nutricionistas (n=5) relataram não realizar ações de EAN. Novamente o curto período de atuação dos nutricionistas na região Norte aparece como um dos entraves para a realização desta atribuição, assim como relatado em “diagnóstico nutricional”. Com relação ao público abrangido nas ações de EAN, todos (100%, n=21) assinalaram a opção “manipuladores”, 42,85% (n=9) realizam ações com a direção pedagógica, 61,9% dos RTs (n=13) realizam ações com os pais dos escolares, 71,42% (n=15) realizam ações com os escolares da educação infantil, 80,95% (n=17) com os escolares do ensino fundamental e 33,3% dos RTs (n=7) com os alunos do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos - interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações No âmbito do PNAE, o profissional responsável pelo planejamento, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos é o nutricionista. Quanto à esta atribuição obrigatória, 73,1% (n=19) dos RTs referem seu cumprimento. A mediana de horas despendidas, semanalmente, quando realizado o planejamento, orientação e supervisão das atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos foi de 20,0 (P25=17, P75=25). Ainda referente ao processo de compra, 92,3% dos RTs (n=24) afirmaram que interagem com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, de forma a conhecer a produção local, inserindo tais produtos na alimentação escolar. Elaboração e implementação do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação A maioria dos municípios da amostra da região Norte não possui manual de boas práticas para serviços de alimentação específico para cada escola (69,2%, n=18). Quando da negativa, solicitou-se que o nutricionista justificasse a sua resposta. A partir da análise das respostas dos RTs foi possível verificar que a ausência do manual, em grande parte dos municípios, é, na verdade, 100 reflexo do panorama evidenciado nesta região, ainda que seja possível a identificação de profissionais que desconhecem a importância e função deste material. Planejamento, coordenação e supervisão da aplicação de testes de aceitabilidade junto aos escolares Dentre as metodologias utilizadas para análise da aceitabilidade houve predomínio da utilização da metodologia indicada pelo FNDE de escala hedônica (42,3%, n=11), seguida em mesma proporção pela metodologia indicada pelo FNDE de resto ingestão (23,07%, n=6) e pelo uso de outras metodologias (23,07%, n=6). Nesta região, 23,1% (n=6) dos RTs respondeu que não são realizados testes de aceitabilidade nas escolas do município. Em relação aos motivos para aplicação do teste, 46,2% (n=12) aplicam em função da inserção de preparações novas no cardápio, 50% (n=13) para avaliar a aceitabilidade dos cardápios oferecidos frequentemente e somente 11,5% dos nutricionistas (n=3) aplicam em função de alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo de preparações pré-existentes no cardápio. Orientação e supervisão das atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição Visando a qualidade e a segurança da alimentação ofertada, é responsabilidade da Entidade Executora, no papel do nutricionista responsável, zelar pela higiene em todos os processos da alimentação escolar. Para tanto, o RT deverá orientar e supervisionar tais atividades, que incluem desde o transporte dos insumos, até o local de armazenamento, oferta, distribuição, bem como os utensílios e equipamentos utilizados para preparação/consumo do alimento. A proporção de RTs que responderam afirmativamente quanto à orientação e/ou supervisão dos itens listados encontra-se na tabela abaixo (Tabela 5). 101 Tabela 5. Proporção de Responsáveis Técnicos que orientam e/ou supervisionam as atividades de higienização em relação aos ambientes previstos para esta atividade, Região Norte, Brasil ORIENTAÇÃO n % Ambientes 25 96,2 Local de armazenamento dos alimentos 26 100 Veículos de transporte dos alimentos 21 92,3 Equipamento e utensílios 25 96,2 SUPERVISÃO n % Ambientes 22 84,6 Local de armazenamento dos alimentos 25 96,2 Veículos de transporte dos alimentos 13 50,0 Equipamento e utensílios 24 92,3 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Elaboração do Plano Anual de Trabalho do PNAE Metade dos nutricionistas da região Norte (50%, n=13) relatou não elaborar o plano anual de trabalho. A Figura 3 ilustra o percentual de respostas, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição pelos nutricionistas que cumprem a atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam. Figura 3. Percentual de RTs que elaboram plano de trabalho, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam, região Norte, Brasil. Mediana (horas): 20h P25=18,5 – P75=28,75 Desconhecimento quanto à existência do plano % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. 102 Assessoramento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no que diz respeito à execução técnica do PNAE A maioria dos nutricionistas referiu realizar o assessoramento do CAE (69,2%, n=18). Para cumprimento desta atribuição os nutricionistas estimaram como necessária mediana de 2 horas/semanais (P25=1,0 P75=3,75). NORDESTE Parceiros/colaboradores para o trabalho Aproximadamente um terço dos RTs da região Nordeste (29%, n=40) consideram que não possuem colaboradores que contribuam para a execução de seu trabalho. Dentre aqueles que acreditam ter parceiros, 26,1% (n=36) percebem a Secretaria de Saúde como colaboradora, seguido de 16,7% (n=23) que consideram o órgão de Assistência e Extensão Rural um aliado, e, em terceiro lugar, destaca-se as associações lembradas por 17,4% dos RTs (n=24). Profissionais que trabalham no setor de alimentação escolar Poucos RTs da região Nordeste (11,6%, n=16) relataram não ter outros profissionais, além dos nutricionistas, que trabalham no setor de alimentação escolar. A maioria dos municípios possui o cargo de “coordenador da alimentação escolar” (62,3%, n=86), em segundo lugar o cargo de maior expressividade nesta região foi o de “estoquista” (36,2%, n=50), seguido do “secretário do setor de alimentação escolar”, presente em 18,1% dos municípios (n=25). Um pequeno número de RTs conta com “estagiário de Nutrição” (3,6%, n=5) e/ou “técnico de nutrição” presente somente em 2,2% dos municípios (n=3). Realização das Atribuições Obrigatórias Visitas às Escolas Em relação à realização de visitas às escolas do município, 97,1% dos RTs (n=134) responderam afirmativamente, sendo que destes 44,8% (n=43) responderam ter visitado todas as escolas do município nos últimos seis 103 meses, 22,9% (n=22) visitaram mais de metade das escolas, e 16,7% (n=16) relatou ter visitado mais da metade. Comparando-se o número de escolas dos municípios com a resposta obtida para a pergunta “Nos últimos 6 meses, quantas escolas foram visitadas?”, encontrou-se diferença estatisticamente significativa (p<0,001), sendo menor o número de escolas dentre os municípios que referiram ter visitado todas as escolas nos últimos 6 meses. A média do total de escolas dos municípios que responderam ter visitado todas as escolas nos últimos 6 meses foi 22,82 (DP 4,09), enquanto a média de escolas dentre os municípios que responderam ter visitado menos da metade das escolas foi de 74,70 (DP=6,58). Os RTs foram questionados em relação a quantas horas semanais, aproximadamente, estes acreditavam despender quando realizavam visitas às escolas. A mediana foi de 15 horas (P25=8,5 – P75=20). O número total de escolas do município não se correlacionou de forma significativa com a carga horária despendida (p=0,319, r=0,090). Diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares A maioria dos RTs (69,6%, n=96) responderam que realizam avaliação nutricional dos escolares. Dentre os que responderam afirmativamente, 31,2% (n=43) referiu contar com o auxílio da Secretaria de Saúde para a realização desta tarefa, e 16,7% (n=23) referiu realizar a avaliação sem a participação de colaboradores. Quanto às metodologias utilizadas para realização da avaliação nutricional, a maioria dos RTs que realiza diagnóstico (95,83%, n=92), utilizam a antropometria, 30,20% (n=29) utilizam ferramentas para investigação de hábitos alimentares, e 31,25% (n=30) referiram investigar o consumo alimentar dos escolares. A Figura 4 apresenta as modalidades de ensino contempladas pelos RTs na avaliação nutricional. Em relação à estimativa da carga horária despendida para esta atribuição, a mediana foi de 20 horas (P25=8, P75=20). 104 Figura 4. Modalidades de ensino contempladas pelos Responsáveis Técnicos na Avaliação Nutricional, Nordeste, Brasil. % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas A maioria dos nutricionistas RTs (63,8%, n=88) relatou que busca identificar os escolares que possuam necessidade especificas, e, destes, 12,3% (n=17) não encontraram em sua realidade indivíduos com necessidades nutricionais específicas. Dentre as patologias atendidas nestas realidades, destaca-se a Diabetes Mellitus, identificada em 31,2% (n=43) dos municípios, seguido da intolerância a lactose identificada em 25,4% (n=35) e, alergias alimentares, identificada em 18,8% (n=26). Planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar Em 97,8% (n=135) dos municípios a elaboração e o planejamento do cardápio da alimentação escolar são realizados pelo nutricionista. Analisandose os dados dos três municípios cuja resposta foi negativa, observa-se que em dois deles o RT assumiu há pouco tempo (1 mês e 4 meses), o que poderia justificar a resposta. No entanto, o RT do terceiro município encontra-se no cargo há 36 meses, e refere ter 20h na alimentação escolar. Os fatores considerados na elaboração do cardápio variaram, conforme se visualiza na 105 Tabela 6. Observa-se que os fatores levados em consideração pela maioria dos nutricionistas dizem respeito às características regionais, à cultura alimentar, a vocação agrícola da região e as necessidades nutricionais da população. Tabela 6. Fatores considerados pelos RTs no planejamento e elaboração do cardápio, região Nordeste, Brasil. Fatores considerados para elaboração do cardápio n Hábitos alimentares e cultura alimentar de cada localidade, 128 considerando uma alimentação saudável e adequada Utilização de produtos da agricultura familiar e dos empreendedores 109 familiares rurais locais Referências nutricionais de acordo com a faixa etária 87 Período de permanência na escola 79 Cardápio anterior 46 Perfis epidemiológicos da população 29 Diagnóstico nutricional realizado a partir da avaliação nutricional 26 Cardápio para necessidades específicas 24 Comunidade escolar Indígena e Quilombola 14 % 92,8 79,0 63,0 57,2 33,3 21,0 18,8 17,4 10,1 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Dentre os municípios da região Nordeste, 21,7% dos RTs (n=30) relataram atender escolas indígenas e/ou quilombolas. Entretanto, quando questionados os parâmetros contemplados na elaboração do cardápio, 14 RTs relataram considerar as especificidades culturais desta população no planejamento do cardápio. Quanto à adequação do cardápio à populações específicas, 51,5% dos nutricionistas (n=71) relatou ter identificado escolares com patologias específicas em seu município, mas, somente 17,4% (n=24) apontou que leva em consideração este parâmetro ao elaborar o cardápio. Conforme a Resolução FNDE 26 de 2013, os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados a partir das fichas técnicas de preparo. Quanto a este fator, 64,5% dos RTs (n=89) elaboram fichas técnicas das preparações dos cardápios do município, e 2,9% dos RTs (n=4) relataram não ter elaborado pois o município já possuía fichas técnicas. Já o cálculo nutricional do cardápio é realizado por 77,5% (n=107). Para o planejamento, elaboração e cálculo do cardápio a mediana de tempo semanal estimado foi 20 horas (P25=8, P75=20). 106 Proposição e realização de ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar Conforme a Resolução vigente compete ao nutricionista coordenar e realizar, em conjunto com a direção da escola e coordenação pedagógica, ações de educação alimentar e nutricional (EAN). Na amostra de RTs do Nordeste, 81,2% (n=112) nutricionistas realizam ações de EAN. Com relação ao público abrangido nas ações, todos (100%, n=112) assinalaram a opção “manipuladores”, 50,89% (n=57) realizam ações com a direção pedagógica, 55,36% (n=62) RTs realizam ações com os pais dos escolares, 84,82% (n=95) realizam ações com os escolares da educação infantil, 83,93% (n=94) com os escolares do ensino fundamental e 36,61% dos RTs (n=41) com os alunos do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos. A mediana de horas empregues no planejamento e execução de ações de Educação Alimentar e Nutricional foi de 12,0 (P25=5, P75=20). Quanto à existência de articulação da parte do Responsável Técnico e do Quadro Técnico com a direção e com a coordenação pedagógica da(s) escola(s) para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição, 79% (n=109) RTs responderam afirmativamente. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos - interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações No âmbito do PNAE, o profissional responsável pelo planejamento, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos é o nutricionista. Quanto a esta atribuição obrigatória, 91,3% (n=126) dos RTs referem seu cumprimento. A mediana de horas despendidas, semanalmente, quando realizado o planejamento, orientação e supervisão das atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos foi de 10,0 (P25=8, P75=20). Ainda referente ao processo de compra, 82,6% RTs (114) afirmaram que interagem com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, 107 de forma a conhecer a produção local, inserindo tais produtos na alimentação escolar. Dos 17,4% (n=24) que responderam negativamente esta questão, metade (n=12) justificou a sua resposta, indicando que está interação não ocorre pois o município não compra produtos da agricultura familiar. Elaboração e implementação do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação A maioria dos municípios da amostra da região Nordeste não possui manual de boas práticas para serviços de alimentação específico para cada escola (65,2%, n=90). Quando da negativa, solicitou-se que o nutricionista justificasse a sua resposta. A partir da análise das respostas é possível verificar que a ausência do manual em grande parte dos municípios é, na verdade, reflexo do panorama evidenciado nesta região, ainda que seja possível a identificação de profissionais que desconhecem a importância e função deste material. Planejamento, coordenação e supervisão da aplicação de testes de aceitabilidade junto aos escolares Dentre as metodologias utilizadas para análise da aceitabilidade houve predomínio da utilização da metodologia indicada pelo FNDE de escala hedônica (52,9%, n=73), seguida pelo uso de “outras metodologias” (22,5%, n=31), e, em menor escala, da metodologia indicada pelo FNDE de resto ingestão (9,4%, n=13). Ainda, 23,2% dos nutricionistas (n=32) responderam que não são realizados testes de aceitabilidade nas escolas do município. Em relação aos motivos para aplicação do teste, 53,7% (n=73) aplicam em função da inserção de preparações novas no cardápio, 50,7% (n=69) para avaliar a aceitabilidade dos cardápios oferecidos frequentemente e somente 18,1% (n=25) aplicam em função de alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo de preparações pré-existentes no cardápio. 108 Orientação e supervisão das atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição Visando a qualidade e a segurança da alimentação ofertada, é responsabilidade da Entidade Executora, no papel do nutricionista responsável, zelar pela higiene em todos os processos da alimentação escolar. Para tanto, o RT deverá orientar e supervisionar tais atividades, que incluem desde o transporte dos insumos, até o local de armazenamento, oferta, distribuição, bem como os utensílios e equipamentos utilizados para preparação/consumo do alimento. A proporção de RTs que responderam afirmativamente quanto à orientação e/ou supervisão dos itens listados encontra-se na tabela abaixo (Tabela 7). Tabela 7. Proporção de Responsáveis Técnicos que orientam e/ou supervisionam as atividades de higienização em relação aos ambientes previstos para esta atividade, Região Nordeste, Brasil ORIENTAÇÃO N % Ambientes 130 95,2 Local de armazenamento dos alimentos 134 98,5 Veículos de transporte dos alimentos 93 71,5 Equipamento e utensílios 132 95,7 SUPERVISÃO N % Ambientes 106 79,1 Local de armazenamento dos alimentos 129 89,7 Veículos de transporte dos alimentos 76 60,8 Equipamento e utensílios 111 84,1 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Elaboração do Plano Anual de Trabalho do PNAE Pouco mais da metade dos nutricionistas da região Nordeste (58%, n=80) relataram elaborar o plano anual de trabalho. A Figura 5 ilustra o percentual de respostas, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição pelos nutricionistas que cumprem a atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam. 109 Figura 5. Percentual de RTs que elaboram plano de trabalho, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam, região Nordeste, Brasil. Mediana (horas): 20h P25=10 – P75=20 Desconhecimento quanto à atribuição % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Assessoramento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no que diz respeito à execução técnica do PNAE A maioria dos nutricionistas referiu realizar o assessoramento do CAE (87%, n=120). Para cumprimento desta atribuição os nutricionistas estimaram como necessária mediana de 4 horas/semanais (P25=2,0 P75=10). SUDESTE Parceiros/colaboradores para o trabalho Aproximadamente um terço dos RTs da região Sudeste (33,1%, n=49) consideram que não possuem parceiros/colaboradores que contribuam para a execução de seu trabalho. Dentre aqueles que contam com parceiros no desenvolvimento do trabalho 43,43% (n=43) consideram o órgão de Assistência e Extensão Rural um aliado, seguido de 40,4% (n=40) que percebem a Secretaria de Saúde como colaboradora, e, em terceiro lugar, destacam-se as associações lembradas por 23,23% dos RTs (n=23). 110 Profissionais que trabalham no setor de alimentação escolar Em relação aos profissionais que compõem o Setor de Alimentação Escolar, grande parte dos RTs referiu que a Secretaria possui o cargo de “coordenador da alimentação escolar” (27,0%, n=40), em segundo lugar o cargo de maior expressividade nesta região foi o de “estoquista” (21,6%, n=32), seguido do “estagiário de Nutrição”, presente em 16,2% dos municípios (n=24). Um pequeno número de RTs conta com “estagiário de outras áreas” (3,4%, n=5) e/ou “técnico de nutrição” presente somente em 5,4% dos municípios (n=8). Destaca-se que aproximadamente um terço da amostra de RTs do sudeste (n=55, 37,2%) assinalou “não, não existem outros profissionais no setor de alimentação escolar”. Realização das Atribuições Obrigatórias Visitas às Escolas Em relação à realização de visitas às escolas do município, 98,0% dos RTs (n=145) responderam afirmativamente, sendo que destes 81,6% (n=115) responderam ter visitado todas as escolas do município nos últimos seis meses, 7,8% (n=11) visitaram mais de metade das escolas, e 10,6% (n=15) relatou ter visitado metade ou menos da metade das escolas. Comparando-se o número de escolas dos municípios a partir da resposta obtida para a pergunta “Nos últimos 6 meses, quantas escolas foram visitadas?”, encontrouse diferença significativa (p<0,001), sendo menor o número de escolas dentre os municípios que referiram ter visitado todas as escolas nos últimos 6 meses. A média do total de escolas dos municípios que responderam ter visitado todas as escolas nos últimos 6 meses foi 14,36 (DP 1,98), enquanto a média de escolas dentre os municípios que responderam ter visitado metade das escolas foi de 60,00 (DP=10,66). Os RTs foram questionados em relação a quantas horas semanais, aproximadamente, estes acreditavam despender quando realizavam visitas às escolas. A mediana foi de 14 horas (P25=8 – P75=20). O número total de escolas do município correlacionou-se de forma significativa com a carga horária despendida (p<0,001, r=0,331). 111 Diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares A maioria dos RTs (77%, n=114) respondeu que realiza avaliação nutricional dos escolares. Dentre os que responderam afirmativamente, 35,96% (n=41) referiu contar com o auxílio da Secretaria de Saúde para a realização desta tarefa, e 31,57% (n=36) referiu realizar a avaliação sem a participação de colaboradores. Quanto as metodologias utilizadas para realização da avaliação nutricional, a maioria dos RTs que realizam diagnóstico utilizam a antropometria (96,49%, n=110), 23,68% (n=27) utiliza-se de ferramentas para investigação de hábitos alimentares, e 16,66% (n=19) referiram investigar o consumo alimentar dos escolares. A figura 6 apresenta as modalidades de ensino contempladas pelos RTs na avaliação nutricional. Em relação a estimativa da carga horária despendida para esta atribuição, mediana foi de 20 horas (P25=10, P75=20). Figura 6. Modalidades de ensino contempladas pelos Responsáveis Técnicos na Avaliação Nutricional, Sudeste, Brasil. % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas A maioria dos nutricionistas RTs (77%, n=114) relatou que busca identificar os escolares que possuam necessidade especificas, e, destes, 112 10,1% (n=15) não encontraram em sua realidade indivíduos com necessidades nutricionais específicas. Dentre as patologias atendidas nestas realidades, destaca-se a Diabetes Mellitus, identificada em 48,6% (n=72) dos municípios, seguido da intolerância a lactose identificada em 47,3% (n=70) e, ainda, alergias alimentares identificada em 41,2% (n=71). Planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar Em 97,3% (n=144) dos municípios a elaboração e o planejamento do cardápio da alimentação escolar são realizados pelo nutricionista. Analisandose os dados dos quatro municípios cuja resposta foi negativa, observa-se que em três deles o RT já assumiu há algum tempo (30, 36 e 94 meses), e somente em um município o RT está no cargo há pouco tempo, três meses. Os fatores considerados na elaboração do cardápio variaram, conforme se visualiza na Tabela 8. Tabela 8. Fatores considerados pelos RTs no planejamento e elaboração do cardápio, região Sudeste, Brasil. Fatores considerados para elaboração do cardápio n Hábitos alimentares e cultura alimentar de cada localidade, 139 considerando uma alimentação saudável e adequada Utilização de produtos da agricultura familiar e dos empreendedores 111 familiares rurais locais Referências nutricionais de acordo com a faixa etária 110 Período de permanência na escola 99 Cardápio anterior 42 Cardápio para necessidades específicas 42 Perfis epidemiológicos da população 38 Diagnóstico nutricional realizado a partir da avaliação nutricional 34 Comunidade escolar Indígena e Quilombola 8 % 93,9 75,0 74,3 66,9 28,4 28,4 25,7 23,0 5,4 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Dentre os municípios da região Sudeste, 12,16% RTs (n=26) relataram atender escolas indígenas e/ou quilombolas. Entretanto, quando questionados os parâmetros contemplados na elaboração do cardápio, 5,4% RTs (n=8) relataram considerar as especificidades culturais destas populações no 113 planejamento do cardápio. A importância deste eixo vincula-se a busca da garantia ao Direito Humano à Alimentação Adequada, por meio do atendimento diferenciado aos escolares de comunidades quilombolas e indígenas como estratégia para superação da Insegurança Alimentar e Nutricional desses grupos populacionais. Quanto à adequação do cardápio a populações específicas, 66,9% dos nutricionistas (n=99) relatou ter identificado escolares com patologias específicas em seu município, mas, somente 28,4% (n=42) apontou que leva em consideração este parâmetro ao elaborar o cardápio. Embora 77% (114) nutricionista tenham relatado realizar o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares, somente 23% (n=34) relataram que o utilizam na hora de planejar o cardápio. Ainda, 47,3% dos RTs (n=70) elaboram fichas técnicas das preparações dos cardápios do município, 9,5% (n=14) relataram não ter elaborado, pois o município já possuía fichas técnicas. Já o cálculo nutricional do cardápio é realizado por 70,3% (n=104). Para o planejamento, elaboração e cálculo do cardápio a mediana de tempo semanal estimado foi 10 horas (P25=5, P75=20). Proposição e realização de ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar Na amostra de RTs do Sudeste, 81,1% (n=120) nutricionistas realizam ações de EAN. Com relação ao público abrangido nas ações, todos (98,3%, n=118) assinalaram a opção “manipuladores”, 49,17% (n=59) realizam ações com a direção pedagógica, 55,0% dos RTs (n=66) realizam ações com os pais dos escolares, 91,67% (n=110) realizam ações com os escolares da educação infantil, 85,83% (n=103) com os escolares do ensino fundamental e 31,67% dos RTs (n=38) com os alunos do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos. Nesse sentido, quanto à existência de articulação da parte do Responsável Técnico e do Quadro Técnico com a direção e com a coordenação pedagógica da(s) escola(s) para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição, 73,6% (n=109) RTs responderam afirmativamente. 114 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos - interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações No âmbito do PNAE, o profissional responsável pelo planejamento, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos é o nutricionista. Quanto a esta atribuição obrigatória, 92,6% (n=137) dos RTs referem seu cumprimento. A mediana de horas despendidas, semanalmente, foi de 10,0 (P25=5, P75=20). Ainda referente ao processo de compra, 78,4% dos RTs (n=116) afirmaram que interagem com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, de forma a conhecer a produção local, inserindo tais produtos na alimentação escolar. Dos 21,6% nutricionistas (n=32) que responderam negativamente esta questão, a maioria (n=24, 75,0%) justificou a sua resposta, indicando que está interação não ocorre pois o município não compra produtos da agricultura familiar. Elaboração e implementação do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação Aproximadamente metade dos municípios da amostra da região Sudeste não possui manual de boas práticas para serviços de alimentação específico para cada escola (47,3%, n=70). Dentre os municípios que já possuem manual de boas práticas (n=78, 52,7%) nas escolas, 69 municípios já implementaram o manual. Quanto à revisão periódica do manual, 61 RTs responderam afirmativamente. Planejamento, coordenação e supervisão da aplicação de testes de aceitabilidade junto aos escolares Dentre as metodologias utilizadas para análise da aceitabilidade houve predomínio da utilização da metodologia indicada pelo FNDE de escala hedônica (47,3%, n=70), seguida pelo uso da metodologia indicada pelo FNDE de resto ingestão (28,4%, n=42) e, em menor escala, de “outras metodologias” 115 (18,9%, n=28). Ainda, 18,9% dos nutricionistas (n=28) responderam que não são realizados testes de aceitabilidade nas escolas do município. Em relação aos motivos para aplicação do teste, 64,2% (n=95) aplicam em função da inserção de preparações novas no cardápio, 45,3% (n=67) para avaliar a aceitabilidade dos cardápios oferecidos frequentemente e somente 16,2% dos nutricionistas (n=24) aplicam em função de alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo de preparações pré-existentes no cardápio. Orientação e supervisão das atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição Visando a qualidade e a segurança da alimentação ofertada, é responsabilidade da Entidade Executora, no papel do nutricionista responsável, zelar pela higiene e boas práticas em todos os processos da alimentação escolar. A proporção de RTs que responderam afirmativamente quanto à orientação e/ou supervisão dos itens listados encontra-se na tabela abaixo (Tabela 9). Tabela 9. Proporção de Responsáveis Técnicos que orientam e/ou supervisionam as atividades de higienização em relação aos ambientes previstos para esta atividade, Região Sudeste, Brasil ORIENTAÇÃO n % Ambientes 141 97,2 Local de armazenamento dos alimentos 146 98,6 Veículos de transporte dos alimentos 86 64,7 Equipamento e utensílios 141 97,9 SUPERVISÃO n % Ambientes 119 83,8 Local de armazenamento dos alimentos 132 91,0 Veículos de transporte dos alimentos 71 54,2 Equipamento e utensílios 124 88,6 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Elaboração do Plano Anual de Trabalho do PNAE A maioria dos nutricionistas da região Sudeste (87,8%, n=130) relatou elaborar o plano anual de trabalho. A Figura 7 contempla o percentual de respostas, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da 116 atribuição pelos nutricionistas que cumprem a atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam. Figura 7. Percentual de RTs que elaboram plano de trabalho, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam, região Sudeste, Brasil. Mediana (horas): 10h P25=5 – P75=20 Desconhecimento quanto à atribuição/ Falta de tempo % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Assessoramento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no que diz respeito à execução técnica do PNAE A maioria dos nutricionistas referiu realizar o assessoramento do CAE (87,8%, n=130). Para cumprimento desta atribuição os nutricionistas estimaram como necessária mediana de 4 horas/semanais (P25=2,0 P75=7,5). SUL Parceiros/colaboradores para o trabalho Somente 10,3% dos RTs da região Sul (n=12) consideram que não possuem parceiros/colaboradores que contribuam para a execução de seu trabalho. Dentre aqueles que contam com parceiros no desenvolvimento do trabalho 49,04% (n=51) consideram o órgão de Assistência e Extensão Rural (EMATER) um aliado, seguido de 31,73% (n=33) que percebem a Secretaria 117 de Saúde como colaboradora, e, em terceiro lugar, destacam-se as cooperativas lembradas por 27,88% dos RTs (n=29). Profissionais que trabalham no setor de alimentação escolar Em relação aos profissionais que compõem o Setor de Alimentação Escolar, destaca-se que aproximadamente metade da amostra de RTs do Sul (n=53, 45,7%) assinalou “não, não existem outros profissionais no setor de alimentação escolar”. Dentre aqueles nutricionistas que responderam afirmativamente (n=63), grande parte dos RTs 52,38%, (n=33) referem ter o cargo de “coordenador da alimentação escolar” no município, em segundo lugar o cargo de maior expressividade nesta região foi o de “estoquista” (26,98%, n=17), seguido do “secretário do setor de Alimentação Escolar ”, presente em 14,29% dos municípios (n=9). Em nenhum município da amostra da região Sul há “técnico de nutrição”, e apenas 12,7% (n=8) contam com “estagiário de Nutrição” e 7,94% (n=5) com “estagiário de outras áreas”. Realização das Atribuições Obrigatórias Visitas às Escolas Em relação à realização de visitas às escolas do município, 99,1% dos RTs (n=115) responderam afirmativamente, sendo que destes 85,2% (n=98) responderam ter visitado todas as escolas do município nos últimos seis meses, 5,2% (n=6) visitaram mais de metade das escolas, e 8,7% (n=10) relatou ter visitado metade ou menos da metade das escolas. Somente um nutricionista relatou que não realiza visitas às escolas, no entanto este não justificou sua resposta. Comparando-se o número de escolas dos municípios a partir da resposta obtida para a pergunta “Nos últimos 6 meses, quantas escolas foram visitadas?”, encontrou-se diferença estatisticamente significativa, sendo menor o número de escolas dentre os municípios que referiram ter visitado todas as escolas nos últimos 6 meses. A média do total de escolas dos municípios que responderam ter visitado todas as escolas nos últimos 6 meses foi 9,68 (DP=0,99), enquanto a média de escolas dentre os municípios que 118 responderam ter visitado mais de metade das escolas foi de 36,16 (DP=4,03), e menos da metade das escolas foi de 24,5 (DP=4,03) (p<0,001). Em relação a carga horária despendida para visitar às escolas, a mediana foi de 10 horas (P25=7 – P75=20). O número total de escolas do município correlacionou-se de forma significativa com a carga horária despendida (p=0,043, r=0,190). Diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares A maioria dos RTs (80,2%, n=93) respondeu que realiza avaliação nutricional dos escolares. Dentre os que responderam afirmativamente, 35,3% (n=41) referiu contar com o auxílio da Secretaria de Saúde para a realização desta tarefa, e 26,7% (n=31) referiu realizar a avaliação sem a participação de colaboradores. Quanto as metodologias utilizadas para realização da avaliação nutricional, todos os RTs (100%, n=93) que realizam diagnóstico utilizam-se da antropometria para tanto, 21,51% (n=20) utiliza-se de ferramentas para investigação de hábitos alimentares, e 13,98% (n=13) referiram investigar o consumo alimentar dos escolares. A figura 8 apresenta as modalidades de ensino contempladas pelos RTs na avaliação nutricional. Em relação à estimativa da carga horária despendida para esta atribuição, mediana foi de 20 horas (P25=10, P75=20). Figura 8. Modalidades de ensino contempladas pelos Responsáveis Técnicos na Avaliação Nutricional, Sul, Brasil. % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. 119 Identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas A maioria dos nutricionistas RTs (81%, n=94) relatou que busca identificar os escolares que possuam necessidade especificas, e, destes, 9,5% (n=11) não encontraram em sua realidade indivíduos com necessidades nutricionais específicas. Dentre as patologias atendidas nestas realidades, destaca-se a Diabetes Mellitus, identificada em 54,6% (n=51) dos municípios, seguido da intolerância a lactose identificada em 52,13% (n=49) e, ainda, alergias alimentares identificada em 38,3% (n=36). A doença celíaca também se mostrou prevalente nesta região, sendo identificada por 29,79% (n=28) dos RTs. Planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar Em 98,3% (n=114) dos municípios a elaboração e o planejamento do cardápio da alimentação escolar são realizados pelo nutricionista. Analisandose os dados dos dois municípios cuja resposta foi negativa, observa-se que ambos assumiram recentemente a Responsabilidade Técnica do PNAE. Os fatores considerados na elaboração do cardápio variaram, conforme se visualiza na Tabela 10. Tabela 10. Fatores considerados pelos RTs no planejamento e elaboração do cardápio, região Sul, Brasil. Fatores considerados para elaboração do cardápio n Hábitos alimentares e cultura alimentar de cada localidade, 114 considerando uma alimentação saudável e adequada Utilização de produtos da agricultura familiar e dos 111 empreendedores familiares rurais locais Referências nutricionais de acordo com a faixa etária 84 Período de permanência na escola 72 Cardápio anterior 36 Cardápio para necessidades específicas 32 Perfis epidemiológicos da população 22 Diagnóstico nutricional realizado a partir da avaliação nutricional 37 Comunidade escolar Indígena e Quilombola 2 % 98,3 95,7 72,4 62,1 31,0 27,6 19,0 31,9 1,7 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. 120 O emprego da alimentação saudável e adequada por meio do respeito aos hábitos alimentares e cultura alimentar de cada localidade figura entre as Diretrizes do PNAE, fator esse que mais se destacou para o planejamento e elaboração dos cardápios na região Sul (n=114, 98,3%). Dentre os municípios da região Sul, 81% (n=94) relatou ter identificado escolares com patologias específicas em seu município, mas, somente 27,6% (n=32) apontou que leva em consideração este parâmetro ao elaborar o cardápio. A importância deste eixo vincula-se a busca da garantia ao Direito Humano à Alimentação Adequada, por meio do atendimento diferenciado aos escolares que possuem necessidade específicas. Ainda que a maioria dos nutricionistas da Região Sul tenham relatado realizar o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares (n=93, 80,2%), somente 31,9% (n=37) relataram que o utilizam na hora de planejar o cardápio. Em conformidade com a Resolução FNDE 26 de 2013, os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados a partir das fichas técnicas de preparo. Quanto a este quesito, a maioria dos RTs desta região (n=77, 66,4%) respondeu que não são elaboradas fichas técnicas das preparações dos cardápios do município. Já o cálculo nutricional do cardápio é realizado por 63,8% (n=74). Para o planejamento, elaboração e cálculo do cardápio a mediana de tempo semanal estimado foi 10 horas (P25=4, P75=20). Proposição e realização de ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar Conforme a legislação vigente compete ao nutricionista coordenar e realizar, em conjunto com a direção da escola e coordenação pedagógica, ações de educação alimentar e nutricional (EAN). Na amostra de RTs do Sul, 90,5% dos nutricionistas (n=105) realizam ações de EAN. Com relação ao público abrangido nas ações, 98,1% (n=103) assinalaram a opção “manipuladores”, 31,43% (n=33) realizam ações com a direção pedagógica e 56,19% dos RTs (n=59) realizam ações com os pais dos escolares. Em relação aos escolares, 82,86% (n=87) realizam ações com a educação infantil, 89,52% (n=94) com os escolares do ensino fundamental e 20,0% dos RTs (n=21) com os alunos do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos. A mediana de horas 121 empregues no planejamento e execução de ações de Educação Alimentar e Nutricional foi de 10,0 (P25=5, P75=20). Quanto à existência de articulação da parte do Responsável Técnico e do Quadro Técnico com a direção e com a coordenação pedagógica da(s) escola(s) para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição, 79,3% (n=92) RTs responderam afirmativamente. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos - interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações No âmbito do PNAE, o profissional responsável pelo planejamento, compra armazenamento, produção e distribuição dos alimentos é o nutricionista. Quanto a esta atribuição obrigatória, 96,6% (n=112) dos RTs referem seu cumprimento. A estimativa da mediana de horas despendidas para realização desta atribuição foi de 10,0 (P25=5,5, P75=20). Ainda referente ao processo de compra, 88,8% RTs (n=103) afirmaram que interagem com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, de forma a conhecer a produção local, inserindo tais produtos na alimentação escolar. Dos 11,21% nutricionistas (n=13) que responderam negativamente esta questão, apenas quatro referiram que tal interação não ocorre pois o município não compra produtos da agricultura familiar. Elaboração e implementação do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação Pouco mais da metade dos municípios da amostra da região Sul não possui manual de boas práticas para serviços de alimentação específico para cada escola (56%, n=65). Dentre os municípios que já possuem manual de boas práticas nas escolas (n=51, 43,9%), 92,16% (n=47) já implementaram o manual. Quanto à revisão periódica do manual, 70,59% dos RTs (n=36) responderam afirmativamente. 122 Planejamento, coordenação e supervisão da aplicação de testes de aceitabilidade junto aos escolares Embora a aplicação de testes de aceitabilidade seja uma atribuição obrigatória de reconhecida importância, um quarto da amostra (n=30, 25,9%), respondeu que não são realizados testes de aceitabilidade nas escolas do município pelo qual foi respondido o questionário. Dentre os que realizam teste de aceitabilidade, analisaram-se as metodologias utilizadas para análise da aceitabilidade. Houve predomínio da utilização da metodologia indicada pelo FNDE de escala hedônica (58,6%, n=68), seguida pelo uso da metodologia indicada pelo FNDE de resto ingestão (14,7%, n=17) e, em menor escala, de “outras metodologias” (11,2%, n=13). Em relação aos motivos para aplicação do teste, 87,21% (n=75) aplicam em função da inserção de preparações novas no cardápio, 54,65% (n=47) para avaliar a aceitabilidade dos cardápios oferecidos frequentemente e 26,74% (n=23) aplicam em função de alterações inovadoras, no que diz respeito a forma de preparo de preparações préexistentes no cardápio. Orientação e supervisão das atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição Visando a qualidade e a segurança da alimentação ofertada, é responsabilidade da Entidade Executora, no papel do nutricionista responsável, zelar pela higiene e boas práticas em todos os processos da alimentação escolar. Para tanto, o RT deverá orientar e supervisionar tais atividades, que incluem desde o transporte dos insumos, até o local de armazenamento, oferta, distribuição, bem como os utensílios e equipamentos utilizados para preparação/cosumo do alimento. A proporção de RTs que responderam afirmativamente quanto à orientação e/ou supervisão dos itens listados encontra-se na tabela abaixo (Tabela 11). 123 Tabela 11. Proporção de Responsáveis Técnicos que orientam e/ou supervisionam as atividades de higienização em relação aos ambientes previstos para esta atividade, Região Sul, Brasil. ORIENTAÇÃO n % Ambientes 111 95,7 Local de armazenamento dos alimentos 114 98,3 Veículos de transporte dos alimentos 76 71,0 Equipamento e utensílios 114 99,1 SUPERVISÃO n % Ambientes 93 80,2 Local de armazenamento dos alimentos 104 89,7 Veículos de transporte dos alimentos 54 46,6 Equipamento e utensílios 98 84,5 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Elaboração do Plano Anual de Trabalho do PNAE A maioria dos nutricionistas da região Sul (61,2%, n=71) relatou elaborar o plano anual de trabalho. A Figura 9 contempla o percentual de respostas, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição pelos nutricionistas que cumprem a atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam. Figura 9. Percentual de RTs que elaboram plano de trabalho, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam, região Sul, Brasil. Mediana (horas): 10h P25=5 – P75=20 -Desconhecimento atribuição - Falta de tempo/ horária % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. 124 da carga Assessoramento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no que diz respeito à execução técnica do PNAE A maioria dos nutricionistas referiu realizar o assessoramento do CAE (93,1%, n=108). Para cumprimento desta atribuição os nutricionistas estimaram como necessária mediana de 4 horas/semanais (P25=2,0 P75=5). CENTRO-OESTE Parceiros/colaboradores para o trabalho Dentre os Responsáveis Técnicos da Região Centro-Oeste, um quarto (25,6%, n=10) consideram que não possuem parceiros/colaboradores que contribuam para a execução de seu trabalho. Dentre aqueles que contam com parceiros no desenvolvimento do trabalho 55,17% (n=16) consideram a Secretaria de Saúde como colaboradora, seguido de 24,14% (n=7) que destacam a parceria com as cooperativas, e, em terceiro lugar, 20,69% (n=6) percebem o órgão de Assistência e Extensão Rural (EMATER) como um aliado. Profissionais que trabalham no setor de alimentação escolar Em relação aos profissionais que compõem o Setor de Alimentação Escolar, 33,3% (n=13) RTs do Centro-Oeste assinalou “não, não existem outros profissionais no setor de alimentação escolar”. Dentre aqueles nutricionistas que responderam afirmativamente (n=26, 66,7%), grande parte dos RTs (73,08%, n=19) referiu ter o cargo de “coordenador da alimentação escolar” na secretaria de educação, em segundo lugar o cargo de maior expressividade nesta região foi o de “secretário do setor de Alimentação Escolar” (23,08%, n=6), seguido do “estoquista”, presente em 11,54% dos municípios (n=3). Somente 3,85% da região Centro-Oeste (n=1) há “técnico de nutrição”, e em apenas 7,69% (n=2) há “estagiário de Nutrição”. 125 Realização das Atribuições Obrigatórias Visitas às Escolas Em relação à realização de visitas às escolas do município, todos RTs (n=39, 100%) responderam afirmativamente, sendo que destes 71,8% (n=28) responderam ter visitado todas as escolas do município nos últimos seis meses, 15,4% (n=6) visitaram mais de metade das escolas, e 12,7% (n=5) relatou ter visitado metade ou menos da metade das escolas. Os RTs foram questionados em relação a quantas horas semanais, aproximadamente, estes acreditavam despender quando realizavam visitas às escolas. A mediana foi de 11 horas (P25=8 – P75=20). O número total de escolas do município correlacionou-se de forma significativa com a carga horária despendida (p=0,018, r=0,391). Diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares A maioria dos RTs (84,6%, n=33) respondeu que realiza avaliação nutricional dos escolares. Dentre os que responderam afirmativamente, 48,48% (n=16) referiu contar com o auxílio da Secretaria de Saúde para a realização desta tarefa, e 27,27% (n=9) referiu realizar a avaliação sem a participação de colaboradores. Quanto as metodologias utilizadas para realização da avaliação nutricional, todos os RTs (100%, n=33) que realizam diagnóstico utilizam-se da antropometria para tanto, 30,30% (n=10) utiliza-se de ferramentas para investigação de hábitos alimentares, e 24,24% (n=8) referiram investigar o consumo alimentar dos escolares. A figura 10 apresenta as modalidades de ensino contempladas pelos RTs na avaliação nutricional. Em relação à estimativa da carga horária despendida para esta atribuição, mediana foi de 20 horas (P25=12, P75=30). 126 Figura 10. Modalidades de ensino contempladas pelos Responsáveis Técnicos na Avaliação Nutricional, Centro-Oeste, Brasil. % Fonte: CECANE UFRGS, 2014 Identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas A maioria dos nutricionistas RTs (76,9%, n=30) relatou que busca identificar os escolares que possuam necessidade especificas, e 10,3% dos nutricionistas (n=4), realizam a identificação, porém referiram não ter encontrado em sua realidade indivíduos com necessidades nutricionais específicas. Dentre as patologias atendidas nestas realidades, destaca-se a Diabetes Mellitus, identificada em 70% (n=21) dos municípios, seguido da intolerância a lactose identificada em 66,67% (n=20) e, ainda, alergias alimentares identificada em 46,67% (n=14). Planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar A elaboração, planejamento, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar são realizados pelo nutricionista em todos os municípios da Região Centro-Oeste (n=39, 100%). Os fatores considerados na elaboração do cardápio variaram, conforme se visualiza na Tabela 12. Observa-se que os fatores levados em consideração pela maioria dos nutricionistas dizem respeito às características regionais, à cultura alimentar, a vocação agrícola da região e as necessidades nutricionais da população. 127 Tabela 12. Fatores considerados pelos RTs no planejamento e elaboração do cardápio, região Centro-Oeste , Brasil. Fatores considerados para elaboração do cardápio Hábitos alimentares e cultura alimentar de cada localidade, considerando uma alimentação saudável e adequada Utilização de produtos da agricultura familiar e dos empreendedores familiares rurais locais Referências nutricionais de acordo com a faixa etária Período de permanência na escola Cardápio anterior Cardápio para necessidades específicas Perfis epidemiológicos da população Diagnóstico nutricional realizado a partir da avaliação nutricional Comunidade escolar Indígena e Quilombola n 38 % 97,4 30 76,9 28 25 16 12 10 15 6 71,8 64,1 41,0 30,8 25,6 38,5 15,4 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Dentre os pontos positivos a ser destacado, o fato de 76,9% dos RTs (n=30) levar em consideração a utilização de produtos da agricultura familiar e dos empreendedores familiares rurais locais no planejamento do cardápio. Esta ação contribui para o fortalecimento da Agricultura Familiar, e, desta forma, auxilia no fortalecimento da economia e desenvolvimento local. Dentre os municípios da região Centro-Oeste, 76,9% (n=30) relatou ter identificado escolares com patologias específicas em seu município, mas, somente 30,8% (n=12) apontou que leva em consideração este parâmetro ao elaborar o cardápio. A importância deste eixo vincula-se a busca da garantia ao Direito Humano à Alimentação Adequada, por meio do atendimento diferenciado aos escolares que possuem necessidades específicas. Ainda que a 84,6% (n=33) dos nutricionistas da Região Centro-Oeste tenham relatado realizar o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares somente 38,5% (n=15) relataram que o utilizam na hora de planejar o cardápio. Para estar em conformidade com a Resolução FNDE 26 de 2013, os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados a partir das fichas técnicas de preparo. Quanto a este fator, 51,3% (n=20) dos RTs dessa região respondeu que não são elaboradas fichas técnicas das preparações dos cardápios do município. Já o cálculo nutricional do cardápio é realizado por 128 79,6% (n=31). Para o planejamento, elaboração e cálculo do cardápio, a mediana de tempo semanal estimado foi 15,5 horas (P25=6, P75=25). Proposição e realização de ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar Compete ao nutricionista coordenar e realizar, em conjunto com a direção da escola e coordenação pedagógica, ações de educação alimentar e nutricional (EAN). Na amostra de RTs do Centro-Oeste, 92,3% dos nutricionistas (n=36) realizam ações de EAN. Com relação ao público abrangido nas ações, 97,22% (n=35) realizam ações com os “manipuladores”, 61,11% (n=22) realizam ações com a direção pedagógica e 44,44% (n=16) RTs realizam ações com os pais dos escolares. Em relação aos escolares, 86,11% (n=31) realizam ações com a educação infantil, 80,56% (n=29) com os escolares do ensino fundamental e 16,67% RTs (n=6) com os alunos do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos. A mediana de horas empregues no planejamento e execução de ações de Educação Alimentar e Nutricional foi de 10,0 (P25=6, P75=20). Quanto à existência de articulação da parte do Responsável Técnico e do Quadro Técnico com a direção e com a coordenação pedagógica da(s) escola(s) para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição, 87,2% (n=34) RTs responderam afirmativamente. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos - interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações No âmbito do PNAE, o profissional responsável pelo planejamento, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos é o nutricionista. Quanto a esta atribuição obrigatória, 84,6% (n=33) dos RTs referem seu cumprimento. A mediana de horas despendidas, semanalmente, nesta atribuição é de 10,0 horas (p25=5,5, P75=20). Ainda referente ao processo de compra, 84,6% RTs (n=33) afirmaram que interagem com os agricultores familiares e empreendedores familiares 129 rurais, de forma a conhecer a produção local, inserindo tais produtos na alimentação escolar. Os três nutricionistas (7,69%) que responderam negativamente esta questão, referiram que tal interação não ocorre pois o município não compra produtos da agricultura familiar ou não possui agricultores familiares na região. Elaboração e implementação do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação Pouco mais da metade dos municípios da amostra da região CentroOeste não possui manual de boas práticas para serviços de alimentação específico para cada escola (56,4%, n=22). Dentre os municípios que já possuem manual de boas práticas nas escolas (n=17, 43,6%), 82,35% (13 municípios) já implementaram o manual. Quanto à revisão periódica do manual, 76,47% RTs (n=13) responderam afirmativamente. Planejamento, coordenação e supervisão da aplicação de testes de aceitabilidade junto aos escolares Dentre os que realizam teste de aceitabilidade (n=32, 82,1%), analisaram-se as metodologias utilizadas para análise da aceitabilidade. Houve predomínio da utilização da metodologia indicada pelo FNDE de escala hedônica (71,88%, n=23), seguida pelo uso da metodologia indicada pelo FNDE de resto ingestão (21,88%, n=7) e, em menor escala, de “outras metodologias” (12,5%, n=4). Em relação aos motivos para aplicação do teste, 75,0% (n=24) aplicam em função da inserção de preparações novas no cardápio, 71,88% (n=23) para avaliar a aceitabilidade dos cardápios oferecidos frequentemente e 21,88% (n=7) aplicam em função de alterações inovadoras, no que diz respeito à forma de preparo de preparações pré-existentes no cardápio. 130 Orientação e supervisão das atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição Visando a qualidade e a segurança da alimentação ofertada, é responsabilidade da Entidade Executora, no papel do nutricionista responsável, zelar pela higiene e boas práticas em todos os processos da alimentação escolar. Para tanto, o RT deverá orientar e supervisionar tais atividades, que incluem desde o transporte dos insumos, até o local de armazenamento, oferta, distribuição, bem como os utensílios e equipamentos utilizados para preparação/consumo do alimento. A proporção de RTs que responderam afirmativamente quanto à orientação e/ou supervisão dos itens listados encontra-se na tabela 13. Tabela 13. Proporção de Responsáveis Técnicos que orientam e/ou supervisionam as atividades de higienização em relação aos ambientes previstos para esta atividade, Região Centro-Oeste , Brasil ORIENTAÇÃO n % Ambientes 37 94,9 Local de armazenamento dos alimentos 38 97,4 Veículos de transporte dos alimentos 20 51,3 Equipamento e utensílios 37 94,9 SUPERVISÃO n % Ambientes 30 76,9 Local de armazenamento dos alimentos 34 87,2 Veículos de transporte dos alimentos 14 35,9 Equipamento e utensílios 32 86,5 Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Elaboração do Plano Anual de Trabalho do PNAE A maioria dos nutricionistas da região Centro-Oeste (57,9%, n=22) relatou elaborar o plano anual de trabalho. A Figura 11 contempla o percentual de respostas, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição pelos nutricionistas que cumprem a atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam. 131 Figura 11. Percentual de RTs que elaboram plano de trabalho, mediana de horas semanais apontada para cumprimento da atribuição, e principal motivo da não realização desta por parte daqueles que não a realizam, região CentroOeste, Brasil. Mediana (horas): 18h P25=8 – P75=20 -Desconhecimento atribuição - Falta de tempo/ % Fonte: CECANE UFRGS, 2014. Assessoramento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no que diz respeito à execução técnica do PNAE A maioria dos nutricionistas referiu realizar o assessoramento do CAE (84,6%, n=36). Para cumprimento desta atribuição os nutricionistas estimaram como necessária mediana de 5 horas/semanais (P25=4,0 P75=8). PRINCIPAIS RESULTADOS - ESTADOS – SECRETARIAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO Dentre as Secretarias Estaduais de Educação, houve retorno de 23 Responsáveis Técnicos (85,19%). A mediana do tempo de atuação na amostra de RTs que atuam nas Secretarias Estaduais foi de 40 meses (P25=19 P75=87). Em relação à carga horária (CH), a Resolução CFN 465/2010 recomenda que a CH técnica mínima da RT seja de 30h. A carga horária média superou a recomendação, sendo de 36,87 horas (DP=7,38), no entanto a CH mínima encontrada foi de 8 horas. 132 da carga A Tabela 14 apresenta a forma de contratação dos RTs que atuam nas Secretarias Estaduais. Evidencia-se um pequeno percentual de nutricionistas com vínculo estável, pois apenas 30,4% (n=7) são concursados no estado pelo qual respondem como RT. Tabela 14. Forma de contratação dos RTs das Secretarias Estaduais de Educação, Brasil. Tipo de Vinculo com a Entidade n % Concursado (a) 7 30,4 Cargo de confiança 5 21,7 6 26,1 Outra resposta 5 21,7 Total 23 100 Executora Prestador (a) de serviço (contratado) Fonte: CECANE UFRGS, 2014 1.3.2 Resultados Adequação Parâmetros Numéricos Levando-se em consideração os parâmetros numéricos mínimos atuais, definidos pela Resolução CFN 465/2010, tendo por base o número de alunos, nenhum estado encontra-se em conformidade com o definido pela Resolução. A Tabela 15 apresenta o número total de alunos atendidos por cada estado (conforme dados do CENSO ESCOLAR 2013), o quadro de nutricionistas atual, o número de nutricionistas necessário para estar em conformidade com o preconizado (Parâmetro Numérico Calculado) e a diferença entre a realidade atual e o preconizado. Quanto à exceção da Resolução 465/2010 que trata do atendimento à Educação Infantil, 82,6% (n=19) dos RTs relataram que não há no setor de Alimentação Escolar nutricionista que atenda exclusivamente a modalidade de Educação Infantil. Dentre os municípios que possuem nutricionista que atende exclusivamente a Educação Infantil, 13% (n=3) contam com três nutricionistas para esta modalidade e 4,3% (n=1) com quatro nutricionistas. 133 Tabela 15. Número total de alunos atendidos por cada estado, quadro atual de nutricionistas, parâmetro numérico calculado e a diferença entre a realidade atual e o preconizado, secretarias estaduais de educação, Brasil. Nº Total de Alunos Quadro de Nutricionistas Atual Parâmetro Diferença Numérico (Atual – Calculado Calculado) 156.083 2 68 -66 209.214 2 87 -85 135.686 13 58 -45 465.632 15 189 -174 902.734 2 365 -363 448.557 5 185 -180 459.902 28 257 -229 266.213 7 109 -102 497.777 10 202 -192 418.508 4 171 -167 434.476 5 179 -174 250.724 3 104 -101 2.127.657 7 855 -848 325.138 2 134 -132 1.138.384 4 459 -455 223.810 31 93 -62 803.325 3 326 -323 277.538 11 114 -103 1.007.180 8 424 -416 545.748 1 221 -220 4.137.380 10 1660 -1650 178.783 4 75 -71 200.998 11 84 -73 Realização das Atribuições Obrigatórias – Secretarias Estaduais de Educação Em relação às atribuições obrigatórias, a Tabela 16 apresenta a proporção de Responsáveis Técnicos que referem à realização dessas atribuições em seu estado. Ainda, incluiu-se nesta análise o questionamento acerca da realização de visitas às escolas, visto que para o cumprimento pleno das atribuições é necessário que o nutricionista conheça o espaço escolar bem 134 como é desejável que o visite com frequência. Todos os nutricionistas referiram que são realizadas visitas as escolas. Em uma análise geral, somente a elaboração do Manual de Boas Práticas não é realizada pela maioria dos estados, as demais atribuições são realizadas em grande parte dos das secretarias estaduais. Tabela 16. Realização das atribuições obrigatórias pelos Responsáveis Técnicos das Secretarias Estaduais de Educação, Brasil. Atribuição n % Realização de visitas às escolas Não 0 0 Sim 23 100 Total 23 100 Diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares Não 11 47,8 Sim 12 52,2 Total 23 100 Identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas Não 6 26,1 Sim 17 73,9 Total 23 100 Planejamento, elaboração, acompanhamento e avaliação do cardápio da alimentação escolar Não 1 4,3 Sim 22 95,7 Total 23 100 Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio Não 7 30,4 Sim 16 69,6 Total 23 100 Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar Não 6 26,1 Sim 17 73,9 Total 23 100 Cálculo do cardápio Não 2 8,7 Sim 21 91,3 Total 23 100 135 Tabela 16. (continuação) Realização das atribuições obrigatórias pelos Responsáveis Técnicos das Secretarias Estaduais de Educação, Brasil. Atribuição n % Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PNAE Não 5 21,7 Sim 18 78,3 Total 23 100 Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação Não 13 56,5 Sim 10 43,5 Total 23 100 Elaborar o Plano Anual de Trabalho do PNAE Não 3 13,0 Sim 20 87,0 Total 23 100 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos Não 9 39,1 Sim 14 60,9 Total 23 100 Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações Não 1 4,3 Sim 22 95,7 Total 23 100 Articulação com direção da escola para planejamento e realização de ações de EAN Não 8 34,8 Sim 15 65,2 Total 23 100 CONCLUSÃO A presente pesquisa teve por objetivo verificar a adequação dos parâmetros numéricos mínimos de referência com relação às atribuições obrigatórias do nutricionista de acordo com a resolução do CFN 465/2010 em uma amostra de municípios e nos estados do Brasil. Além disso, objetivou-se verificar o cumprimento das atribuições obrigatórias, quantificar a frequência do desenvolvimento das atribuições e os fatores relacionados, tais como presença de quadro técnico e demanda de trabalho e, ainda, verificar se a existência de outros profissionais/atores influencia e/ou auxilia no desenvolvimento das atividades do nutricionista no PNAE. Os resultados, tanto municipais quanto estaduais, apontam para a não conformidade dos municípios e estados no que tange o quantitativo de nutricionistas definido conforme os parâmetros numéricos mínimos de referência da Resolução CFN 465/2010. Esta inadequação reflete no cumprimento das atribuições do nutricionista, embora se percebam outros 136 fatores que influenciam na execução do PNAE e que poderiam ser contemplados nos parâmetros numéricos mínimos, dentre os quais se destacam o número de escolas do município/estado, a localização destas (rural/urbana), dentre outros. Outros fatores podem ser facilitadores na execução das atribuições do PNAE, como por exemplo, a presença de outros profissionais no Setor de Alimentação Escolar e na Entidade Executora, como técnicos administrativos, técnicos em Nutrição, estagiários, dentre outros. Ressalta-se a necessidade de formação de parcerias e o trabalho intersetorial para o fortalecimento da execução do PNAE. Ainda, verifica-se a necessidade de adequação deste panorama, bem como dos parâmetros numéricos mínimos e atribuições às realidades estaduais, principalmente quando ocorre delegação de rede das escolas dos estados aos municípios. Isto por que tendo em vista a magnitude e proporção dos estados brasileiros torna-se difícil a execução de atribuições como, por exemplo, a realização contínua e permanente de ações de EAN, conforme preconizado na Resolução FNDE 26 de 2013 quando trata deste tópico. Entende-se como necessário o fortalecimento do vínculo do nutricionista à Entidade Executora, visto que este fator mostrou-se um forte entrave para a realização das atribuições e entendimento do programa. Também, salienta-se a pertinência do diálogo da gestão com o nutricionista para que este tenha pleno conhecimento das atribuições que devem ser exercidas pelo profissional segundo a legislação vigente. Além do diálogo entre gestor e nutricionista, sugere-se a realização de ações que divulguem o trabalho do nutricionista em âmbito do PNAE aos gestores e comunidade escolar. Verifica-se a necessidade da gestão garantir as condições de trabalho preconizadas na legislação para que o profissional possa exercer suas atividades conforme planejado. O tempo de atuação do nutricionista no PNAE esteve relacionado com a forma de contratação, que por sua vez refletiu na realização das atribuições obrigatórias do PNAE. Também se encontraram Responsáveis Técnicos com carga horária reduzida nos municípios e estados, sendo esta abaixo da carga horária técnica mínima recomendada pela Resolução CFN 465/2010 (30 137 horas). Sugere-se que a forma ideal de contratação do nutricionista pela Entidade Executora é por meio de concurso público, sendo este de acordo com a carga horária mínima preconizada, o que possibilitaria a estabilidade do Setor de Alimentação Escolar e desta forma tornaria possível um trabalho continuo e permanente. Assim sendo, espera-se que estes resultados contribuam para subsidiar o planejamento das ações futuras do CECANE, do FNDE e do Conselho Federal de Nutrição (CFN). 138 1.4 RESUMO EXECUTIVO - [PRELIMINAR]1 – EM ANDAMENTO – AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS CECANE UFG. OBJETIVOS Avaliar as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas em municípios selecionados nas regiões geográficas do Brasil, conforme disciplinado no Art. 2º (inciso II) e Art. 17 (inciso III) da Lei 11.947/2009. Objetivos específicos Caracterizar as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas nos municípios participantes; Analisar as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas por nutricionistas e outros atores sociais nos municípios investigados; Verificar possíveis dificuldades quanto à execução de ações de educação alimentar e nutricional; Formar nutricionistas e/ou outros atores sociais para desenvolvimento/implementação de novas ações de educação alimentar e nutricional, com utilização de metodologias ativas; Elaborar documento norteador de ações de educação alimentar e nutricional, com base nas atividades sugeridas durante a formação. FASE QUANTITATIVA O produto “Avaliação das ações de educação alimentar e nutricional em municípios brasileiros”, executado pelo CECANE UFG – RCO no período de janeiro de 2011 a outubro de 2013, teve como objetivo investigar, por meio de entrevistas telefônicas, as ações de EAN desenvolvidas em municípios selecionados nas cinco regiões geográficas do Brasil, conforme disciplinado no Artigo 2º (inciso II) e Artigo 17º (inciso III) da Lei 11.947/2009. 1 Elaborado por Estelamaris T Monego, Simoni Urbano da Silva e Nicolly Patricia Gregorio, em fevereiro de 2014. 139 Tratou-se de um corte transversal onde foi feita uma seleção aleatória e proporcional de municípios nas macrorregiões brasileiras. Foram incluídos 556 municípios (10%), as 26 capitais brasileiras (incluindo o Distrito Federal). Foram feitas entrevistas telefônicas com os nutricionistas da alimentação escolar e na ausência deste(a) com o(a) gestor(a) do PNAE, por meio de questionário padronizado e testado em momento anterior à pesquisa. RESULTADOS Devido aos critérios de exclusão (por recusa ou insucesso de contato telefônico após 10 tentativas) obteve-se informação de 441 municípios, sendo 36 (8,2%) municípios na região Norte, 132 (29,9%) no Nordeste, 132 (29,9%) na região Sudeste, 103 (23,4%) no Sul e 38 (8,6%) municípios na região Centro-Oeste. Tabela 1. Frequência e proporção de municípios incluídos na E1 do estudo, por região geográfica. Brasil, 2013. Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total Número de municípios N % 449 8,1 1.794 32,2 466 8,4 1.668 30,0 1.188 21,3 5565 100,00 Amostra N 45 179 47 167 118 556 % 8,1 32,2 8,4 30,0 21,3 100,00 O entrevistado foi o nutricionista em 392 (88,9%) dos municípios, nos demais, por não haver nutricionista RT da alimentação escolar ou pelo mesmo não ter sido encontrado, o gestor do PNAE foi o entrevistado. Respondentes de 372 municípios (84,3%) afirmaram que são realizadas ações de EAN nas escolas e creches. A frequência de realização de ações de EAN nos municípios foi de uma a três vezes/mês nas escolas e nas creches (23,7% e 21,0%, respectivamente), seguida da frequência semestral (22,0% e 16,9% para escolas e creches). Para os entrevistados o 140 profissional nutricionista é o responsável pelas ações de EAN (67,9%) e por sua execução (80,7%), seguido do professor (61,3%). Tabela 2. Frequência de realização de ações de educação alimentar e nutricional nas escolas e creches dos municípios estudados. Brasil, 2013. Frequência de realização de ações de EAN Uma a cinco vezes/semana Uma a três vezes/mês Duas a quatro vezes/semestre Uma vez/semestre Uma vez/ano Outros Não sabe Não são realizadas Total Escolas Creches n % n % 21 5,6 21 5,6 88 65 23,7 17,5 78 51 21,0 13,7 82 38 24 52 2 372 22,0 10,2 6,4 14,0 0,5 100,0 63 27 15 42 75 372 16,9 7,3 4,0 11,3 20,2 100,0 Dos municípios em que se realizam as ações de EAN, em 333 (89,5%) os entrevistados relataram saber quais as ações são desenvolvidas, sendo as palestras a metodologia mais informada, porém ainda sendo lembradas as atividades lúdicas, oficinas de arte culinária, hortas escolares e elaboração de murais. Também relataram que a EAN está inserida no projeto político pedagógico (PPP) em 169 (45,4%) municípios, porém somente 89 (52,7%) souberam informar em quais disciplinas esse conteúdo se insere. CONCLUSÃO A EAN é atividade que se insere de forma esporádica no contexto da escola. As atividades ainda envolvem predominantemente os métodos tradicionais como a palestra. O nutricionista é visto como o principal responsável pela estruturação e execução dessas atividades. 141 O insuficiente numero de profissionais, em desacordo com a legislação, parece contribuir com as escolhas feitas pelo profissional, quanto às atividades previstas na lei. Parece ser essencial o ajuste do número de profissionais ao quantitativo dos alunos bem como a proposição de um programa de educação permanente, por serem caminhos que podem auxiliar na garantia da realização de EAN nas escolas brasileiras. FASE QUALITATIVA O produto “Ações de educação alimentar e nutricional em municípios brasileiros”, executado pelo CECANE UFG – RCO no período de março a novembro de 2013, teve como objetivo avaliar in loco as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas em municípios selecionados nas regiões geográficas do Brasil, conforme disciplinado na Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 38/2009. Tratou-se de estudo qualitativo, estudado por meio da construção do Discurso do Sujeito Coletivo. Para a E2 foram realizadas visitas a uma amostra de 57 municípios sorteados aleatoriamente, a partir dos resultados da E1. Foram incluídos 30 municípios que realizavam ações de EAN (Etapa 1), sendo no mínimo um por estado. Considerando a existência de 26 estados, para atingir o quantitativo desejado e compensar possíveis perdas, foram incluídos dois municípios naqueles onde o quantitativo era maior. Além disso, foram incluídas as 26 capitais e o Distrito Federal, totalizando assim 57 municípios. O fluxograma do processamento da amostra pode ser observado na Figura 1. 142 5565 Municípios Brasileiros por Região (Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste) Seleção dos municípios participantes da Etapa 1 Sorteio aleatório de 10% dos municípios por região e por estado 556 municípios selecionados para entrevista telefônica Alocação aleatória simples Seleção dos municípios participantes da Etapa 2 30 municípios do interior dos estados 26 capitais + Distrito Federal Figura 1. Fluxograma dos procedimentos de amostragem do projeto “Ações de educação alimentar e nutricional em municípios brasileiros”. Brasil, 2013. A equipe do CECANE UFG-RCO realizou uma visita in loco nos municípios sorteados, na qual foram realizadas entrevistas com os seguintes atores sociais: nutricionista do PNAE ou na ausência deste o gestor do PNAE, coordenador pedagógico ou na ausência deste o diretor da escola, professor e manipulador de alimentos. RESULTADOS Participaram da pesquisa 57 municípios divididos proporcionalmente nas regiões brasileiras sendo: 6 no Centro-Oeste, 10 no Norte, 6 no Sul, 10 no Sudeste e 21 no Nordeste. Os municípios foram selecionados por sorteio aleatório simples entre aqueles que afirmaram realizar ações de educação alimentar e nutricional na etapa quantitativa do produto. Até o momento foram analisadas as entrevistas de 21 professores, 21 coordenadores pedagógicos, 19 nutricionistas e 19 manipuladores de alimentos, o que representa aproximadamente 37% da amostra. 143 Quando questionados sobre sua compreensão a cerca do que seja a educação alimentar e nutricional foram identificadas como principais ideias centrais: • Para o professor: educação alimentar e nutricional seria ensinar sobre uma alimentação saudável; o conceito de educação alimentar e nutricional está relacionado à prevenção de doenças, ligando a alimentação à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Havia uma confusão na compreensão do conceito de educação alimentar e nutricional e de alimentação. • Para o coordenador pedagógico: a educação alimentar e nutricional é a transmissão de conhecimentos a cerca da alimentação saudável e/ou prevenção de doenças; alimentação adequada foi citada como sendo educação alimentar e nutricional; e a educação alimentar e nutricional seria a importância de uma alimentação adequada para o desenvolvimento biopsicossocial do aluno. • Para o nutricionista: educação alimentar e nutricional é realizar ações para a comunidade escolar sobre alimentação saudável; educação alimentar e nutricional é ofertar uma alimentação adequada e variada; educação alimentar e nutricional é realizar orientações sobre alimentação saudável para a comunidade escolar de forma contínua; e educação alimentar e nutricional é o trabalho conjunto entre nutricionista, escola e/ou comunidade para formação dos hábitos saudáveis. • Para o manipulador de alimentos: Educação alimentar e nutricional é ensinar a criança a se alimentar; educação alimentar e nutricional é fornecer uma alimentação saudável; educação alimentar e nutricional é preparar o cardápio corretamente; e educação alimentar e nutricional é oferecer uma alimentação que é complementar àquela que não se tem em casa. 144 CONCLUSOES Embora a maioria dos entrevistados tenha afirmado que a EAN está inserida no projeto pedagógico das escolas, poucos souberam relatar em quais disciplinas o tema está inserido, sendo Ciências a mais citada. Tal informação é um indício de que ainda é incipiente a inserção do tema alimentação saudável no currículo escolar de forma transversal, o que contraria a legislação que regulamenta o PNAE. Na Etapa 2 verificou-se a alimentação escolar é percebida como um instrumento pedagógico para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, porém com um viés acentuado para o assistencialismo, o que contraria a legislação atual. Observa-se ainda que a EAN parece ser trabalhada de forma interdisciplinar nas escolas visitadas, porém isso se limita a eventos pontuais, como a Semana da Alimentação. A maior dificuldade encontrada foi o contato com o nutricionista RT dos municípios selecionados. Na maioria das vezes, o profissional não é encontrado na Secretaria Municipal de Educação ou mesmo no município, o que fez com que fosse necessário vários retornos com vistas a agendar um horário para a entrevista, necessitando retornar várias vezes a ligação para a entrevista. Sugere-se que os nutricionistas RT dos municípios mantenham seus dados atualizados no cadastro do FNDE, com vistas a facilitar o contato com o FNDE e CECANEs. 145 2 INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA “Suco de Laranja” 146 GABINETE DO MINISTRO INSTRUÇÃO NORMATIVA N⁰ 21, DE 27 DE AGOSTO DE 2012 O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto nº 6.871, de 04 de junho de 2009, no Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, e o que consta do Processo no 70514.000446/2012-71, resolve: Art. 1º Fixar a quantidade mínima de cinquenta por cento de suco de laranja no Néctar de Laranja. Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a adequação do produto já registrado. MENDES RIBEIRO FILHO Publicado no DOU em 28/08/2012. 147 3 NOTAS TÉCNICAS 148 3.1 BEBIDAS À BASE DE FRUTAS EM SUBSTITUIÇÃO À FRUTA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nota Técnica nº 01/2011 – COTAN/CGPAE/DIRAE/FNDE Assunto: Posicionamento da COTAN em relação às bebidas a base de frutas em substituição à fruta na alimentação escolar. A Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição - COTAN, com apoio dos Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição do Escolar - CECANEs, no cumprimento de sua missão de criar mecanismos gerenciais destinados à promoção do direito à alimentação adequada ao escolar, o estímulo à inserção da educação alimentar e nutricional, apresenta seu posicionamento sobre a inclusão de bebidas à base de frutas em substituição à obrigatoriedade da oferta das porções de frutas, conforme prevê a Resolução CD/FNDE nº 38/2009. Serão apresentadas inicialmente algumas definições, conceitos e o referencial teórico sobre a temática que embasam o posicionamento adotado por esta Coordenação, descrito a seguir. Bebidas à base de frutas Utilizando como instrumento de pesquisa o Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, verifica-se que a terminologia “bebida” está condicionada a diferentes tipos de preparos sólidos ou líquidos e diferentes classificações, como exposto a seguir: [...] II – bebida: o produto de origem vegetal industrializada, destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica; III – também bebida: a polpa de fruta, o xarope sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados 149 alcoólicos de origem animal, os destilados alcoólicos de origem animal e as bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal2. Considerando apenas as bebidas não alcoólicas, não gaseificadas, não desidratadas/concentradas, e aquelas que não são classificadas como bebidas de baixo teor nutricional, ou seja, restringindo o conteúdo do documento somente para as bebidas de interesse para as normativas do PNAE, destacamse as definições de suco, suco misto, polpa de fruta, néctar e bebidas compostas de frutas, descritas no anexo desse referido documento. Importância do Consumo de Frutas e Hortaliças A importância do consumo de frutas e hortaliças para prevenir Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) está amplamente descrita na literatura científica, porém, a ingestão destes alimentos por crianças está abaixo dos valores recomendados. Cabe destacar que a infância e a adolescência são períodos cruciais para o estabelecimento das práticas alimentares que serão mantidos ao longo da vida adulta. Dessa forma, ressalta-se a importância do monitoramento e da promoção de práticas alimentares saudáveis desde os primeiros anos do indivíduo, incluindo o consumo diário de frutas e hortaliças. Estudos sobre os hábitos alimentares de crianças que freqüentam creches, concluíram que crianças estimuladas a práticas alimentares saudáveis através da exposição e do ato de provar uma variedade de alimentos nutritivos, favorecem o crescimento e o desenvolvimento adequado da criança3. A partir destes achados, recomenda-se que a incorporação habitual de frutas e hortaliças de forma variada nos cardápios adotados nas escolas seja uma importante estratégia de estímulo ao consumo de tais alimentos. De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira4, o número de porções recomendadas de frutas e de hortaliças equivale a 3 porções por dia para cada grupo. Sendo assim, o estímulo a uma alimentação saudável no 2 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação de Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para população brasileira: promovendo a alimentação saudável. 210p. Brasília, 2006. BARBOSA R.M.S., SOARES E.A., LANZZILLOTI H. S. Avaliação da ingestão de nutrientes de crianças de uma creche filantrópica: aplicação do consumo dietético de referência. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. 2007 Abr; 7 (2): 159-166. 4 BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação de Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para população brasileira: promovendo a alimentação saudável. 210p. Brasília, 2006. 3 150 espaço escolar pode ser realizado por meio da oferta de uma alimentação nutricionalmente equilibrada, considerando que no PNAE o aluno realiza, no mínimo, uma refeição na escola. O consumo de bebidas industrializadas por crianças na idade escolar é preocupante, pois contêm alta densidade calórica e elevado teor de açúcar, são pobres em fibras e micronutrientes (vitaminas e minerais) e possuem aditivos e corantes. Estudos recentes têm evidenciado uma relação negativa dessas substâncias sobre o sistema nervoso central, podendo desencadear de déficit de atenção como hiperatividade em crianças, intolerância e alergia alimentar e câncer5. A pesquisa sobre o perfil nutricional dos alimentos processados, realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2010, informa que o teor de açúcar e sódio de sucos e néctares industrializados analisados foi em média de 11,7g/100ml, classificado como alimento com quantidade elevada de açúcar, nos termos da Resolução – RDC, nº 24/2010 em, acima do estabelecido pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009, que recomenda que na alimentação escolar tenha 10% (dez por centro) da energia total proveniente de açúcar simples adicionado. Conclui-se, portanto, que no âmbito escolar é necessário estimular o consumo de alimentos adequados, incluindo a oferta regular de frutas e hortaliças. Entendendo dessa forma, o PNAE determinou que os cardápios escolares deverão oferecer, pelo menos, três porções de frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas6, além do incentivo ao desenvolvimento de estratégias de educação alimentar e nutricional que incentivem seu consumo7. Posicionamento técnico As normativas do PNAE lançadas no ano de 2009 representaram o aprimoramento do Programa do ponto de vista técnico e estão contribuindo 5 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. Experiências estaduais e municipais de regulamentação da comercialização de alimentos em escolas no Brasil: identificação e sistematização do processo de construção e dispositivos legais adotados. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 85 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde) POLÔNIO, M. L. Aditivos Alimentares e Saúde Infantil. In: ACCIOLLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M.A. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2003. Cap. 29. p. 511-527. 6 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Resolução nº. 38, de 16 de julho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponível em ftp://ftp.fnde.gov.br/web/resolucoes_2009/res038_16072009.pdf. Acesso em 07 de fevereiro 2011. 7 BARCIOTTE, M. L., BADUE, A. F. Educação nutricional, mídia e novas relações de consumo: uma visão ética e responsável. In: TADDEI, J. A. A. C. (Coord.) Jornadas científicas do Nisan – Núcleo Interdepartamental de Segurança Alimentar e Nutricional. Barueri: Minha Editora, 2007, p. 59-70. 151 para a melhoria da qualidade das refeições oferecidas aos escolares. Neste sentido, a obrigatoriedade da oferta de frutas e hortaliças no cardápio das escolas, assim como a proibição de compra de bebidas com baixo teor nutricional devem ser incentivadas. Portanto, a COTAN entende a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura e não considera nenhum tipo de bebida a base de frutas como porção de fruta, considerando que há perdas nutricionais importantes, pois alimentos industrializados e processados retiram grande parte das fibras e nutrientes e ainda podem vir acrescidos de corantes e conservantes, sendo que alguns são apontados como causadores de reações alérgicas e aumento de distúrbios de atenção e hiperatividade infantil. Existe ainda a dificuldade para o estabelecimento de um padrão de equivalência nutricional das polpas de frutas, às referências estabelecidas na pela Resolução 38/2009. Sabe-se que a quantidade média sólidos oriundos da parte comestível do fruto é de apenas 13,30g em 100g de polpa, sendo necessária uma quantidade muito elevada para atingir o preconizado na resolução. A grande variabilidade encontrada no teor de açúcar dos alimentos dentro de uma mesma categoria sugere que é difícil construir e inadequado utilizar tabelas de composição química de alimentos como fonte de informação para alimentos industrializados. Portanto, esta Coordenação Técnica entende que cabe ao Responsável Técnico a adequação do cardápio à realidade local, levando em consideração a infra estrutura e logística e a oferta de frutas e hortaliças in natura, priorizando a aquisição pela agricultura familiar. 152 ANEXO Conceito bebidas a base de fruta. I. Suco: [...] Art. 18. Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não concentrada, ressalvados os casos a seguir especificados, e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. § 1o O suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou parte do vegetal de sua origem, excetuadas as previstas na legislação específica. § 2o É proibida a adição, em sucos, de aromas e corantes artificiais. § 3o O suco poderá ser adicionado de açúcares na quantidade máxima fixada para cada tipo de suco, observado o percentual máximo de dez por cento em peso, calculado em gramas de açúcar por cem gramas de suco, tendo sua denominação acrescida pela designação adoçado. [...] § 10. A designação integral será privativa do suco sem adição de açúcares e na sua concentração natural, sendo vedado o uso de tal designação para o suco reconstituído8 (Brasil, 2009). Baseado nesses conceitos, considera-se que a denominação “suco integral” possa ser atribuída a sucos de um único tipo de fruta (apenas melão, 8 153 melancia, laranja, tangerina, uva, abacaxi ou caju, por exemplo), desde que não adicionados de água, açúcares e de substâncias estranhas à fruta. II. Suco Misto: [...] § 11. Suco misto é o suco obtido pela mistura de frutas, combinação de fruta e vegetal, combinação das partes comestíveis de vegetais ou mistura de suco de fruta e vegetal, sendo a denominação constituída da expressão suco misto, seguida da relação de frutas ou vegetais utilizados, em ordem decrescente das quantidades presentes na mistura9 (Brasil, 2009). Entende-se que a denominação “suco misto” pode ser atribuída aos sucos de duas ou mais frutas misturadas, desde que não adicionados de água, açúcares e de substâncias estranhas. III. Polpa de fruta: [...] Art. 19. Polpa de fruta é o produto não fermentado, não concentrado, obtido de fruta polposa, por processo tecnológico adequado, atendido o teor mínimo de sólidos em suspensão. Parágrafo único. Polpa mista é a bebida obtida pela mistura de fruta polposa com outra fruta polposa ou fruta não polposa ou com a parte comestível do vegetal, ou com misturas destas, sendo a denominação constituída da expressão polpa mista, seguida da relação de frutas e vegetais utilizados, em ordem decrescente das quantidades presentes na mistura10 (Brasil, 2009). Para facilitar o entendimento do conceito pontuado acima, foi feita uma pesquisa adicional na Instrução Normativa nº 01/2000 do Ministério da 9 10 154 Agricultura e Abastecimento (Brasil, 2009), que estabelece os padrões de identidade e as características mínimas de qualidade do produto “polpa de fruta”, destinado ao consumo como bebida. Nessa normativa, são apresentadas as características de algumas polpas, sendo importante destacar os teores mínimos de sólidos totais, proveniente da parte comestível do fruto, a saber: Sólidos totais (g/100g) Sabores de polpas de frutas Mínimo Máximo Acerola 6,50 ### Cacau 16,00 ### Cupuaçu 12,00 ### Graviola 12,50 60,00 Açaí 40,00 ### Maracujá 11,00 Caju 10,50 ### Manga 14,00 ### Goiaba 9,00 ### Pitanga 7,00 ### Uva 15,00 ### Mamão 10,50 ### Cajá 9,50 ### Melão 7,50 ### Mangaba 8,50 ### Conforme observado na tabela acima, a média de sólidos em suspensão, ou seja, a quantidade de sólidos oriundos da parte comestível do fruto é de apenas 13,30g em 100g de polpa. Destaca-se ainda que as polpas de fruta, segundo a mesma normativa, poderão ser adicionadas de acidulantes como regulador de acidez, conservadores químicos e corantes naturais. 155 IV. Néctar: Art. 21. Néctar é a bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto. [...] § 2o Néctar misto é a bebida obtida da diluição em água potável da mistura de partes comestíveis de vegetais, de seus extratos ou combinação de ambos, e adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto. Os diferentes néctares de frutas são adicionados de água e açúcares. Contudo, é importante destacar que não existem nas normativas pesquisadas o percentual máximo de adição de sacarose. Tomando como ponto de comparação a Resolução nº 38/2009, entendese que os néctares de frutas, elaborados nas escolas, poderiam conter no máximo 10% (dez por cento) da energia total proveniente de açúcar simples adicionado (FNDE, 2009). Reforçando essa regulamentação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), segundo a Resolução-RDC nº 24/2010, também define um quantitativo para que o alimento não seja classificado como produto com elevada quantia de açúcar, sendo definido que “alimento com quantidade elevada de açúcar é aquele que possui em sua composição uma quantidade igual ou superior a 15 g de açúcar por 100 g ou 7,5 g por 100 ml [...]” (ANVISA, 2010, p.2). V. Bebidas compostas de frutas: Art. 34. Bebida composta de fruta, de polpa ou de extrato vegetal é a bebida obtida pela mistura de sucos, polpas ou extratos vegetais, em conjunto ou separadamente, com produto de origem animal, tendo predominância em sua composição de produto de origem vegetal, adicionada ou não de açúcares. 156 O conceito acima foi considerado neste documento, baseado no entendimento de que as chamadas “vitaminas de frutas”, em que há mistura de sucos ou polpas com leite, fazem parte das preparações à base de frutas fornecidas, principalmente, nas escolas de educação infantil (creches e préescolas). 157 3.2 ESPECIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nota Técnica nº 01/2012 – CGPAE/DIRAE/FNDE Assunto: Posicionamento da Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar a respeito da especificação para aquisição de suco de laranja para a alimentação escolar. A Coordenação Geral do Programa de Alimentação Escolar - CGPAE, no cumprimento de sua missão de criar mecanismos gerenciais destinados a promoção do direito à alimentação adequada ao escolar, o estímulo à inserção da educação alimentar e nutricional, apresenta seu posicionamento a respeito das bebidas à base de frutas, em especial ao suco de laranja a ser adquirido para as refeições escolares, conforme prevê a Resolução CD/FNDE nº 38/2009. Serão apresentadas algumas definições, conceitos e o referencial teórico sobre a temática que embasam o posicionamento adotado por esta Coordenação, descrito a seguir. Conceito de bebidas à base de fruta, conforme Decreto nº 6871, de 04 de junho de 2009, que regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. VI. Suco: [...] Art. 18. Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não concentrada, ressalvados os casos a seguir especificados, e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. 158 § 1o O suco não poderá conter substâncias estranhas à fruta ou parte do vegetal de sua origem, excetuadas as previstas na legislação específica. § 2o É proibida a adição, em sucos, de aromas e corantes artificiais. § 3o O suco poderá ser adicionado de açúcares na quantidade máxima fixada para cada tipo de suco, observado o percentual máximo de dez por cento em peso, calculado em gramas de açúcar por cem gramas de suco, tendo sua denominação acrescida pela designação adoçado (na rotulagem da embalagem). [...] § 10. A designação integral será privativa do suco sem adição de açúcares e na sua concentração natural, sendo vedado o uso de tal designação para o suco reconstituído11 (Brasil, 2009). Baseado nesses conceitos, considera-se que a denominação “suco integral” possa ser atribuída a sucos de um único tipo de fruta (apenas melão, melancia, laranja, tangerina, uva, abacaxi ou caju, por exemplo), desde que não adicionados de água, açúcares, conservantes, aditivos químicos, aromatizantes artificiais e de substâncias estranhas à fruta. Art. 22. Refresco ou bebida de fruta ou de vegetal é a bebida não fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de açúcares. § 2o Os refrescos de laranja ou laranjada, de tangerina e de uva deverão conter no mínimo trinta por cento em volume de suco natural. 11 Decreto nº 6871, de 04 de junho de 2009. Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. 159 Caso os sucos de laranja na sua forma natural sejam adicionados de açúcar e água, não poderão exceder a 10% da energia total proveniente de açúcar simples adicionado, por exemplo, em 150 ml (1 copo pequeno) de suco por aluno, poderá ser acrescido de, no máximo, 11,4g de açúcar, que corresponde ao percentual referido. A oferta deverá estar em consonância com o cardápio elaborado pelo nutricionista responsável técnico pelo PNAE, para que não exceda o percentual de açúcar simples adicionado, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, bem como para atingir a meta do plano de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e de Obesidade, do Governo Federal. A Resolução CD/FNDE nº 38/2009 restringe e, portanto, não proíbe, que a Entidade Executora do Programa adquira com até 30% dos recursos repassados pelo FNDE os alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos ou prontos para consumo, ou alimentos concentrados, com quantidade elevada de sódio (aqueles que possuem em sua composição uma quantidade igual ou superior a 500mg de sódio por 100 g ou ml) ou de gordura saturada (quantidade igual ou superior a 5,5g de gordura saturada por 100g, ou 2,75g de gordura saturada por 100ml). Além disso, ressaltamos que os sucos industrializados a serem ofertados na alimentação escolar tenham até 10% da energia total proveniente de açúcar simples adicionado e até 500mg de sódio por 100ml e quando ofertados refrescos, estes deverão conter no mínimo 30% do seu volume total do suco natural de laranja. Estes devem ser envasados e, no mínimo, pasteurizados, para que prolonguem seu prazo de validade, diminuindo a necessidade de adição de conservantes naturais e artificiais. Portanto, entende-se que a aquisição de sucos de laranja para alimentação escolar deva seguir os preceitos que foram acima apresentados, especialmente aos Padrões de Identidade e Qualidade previstas na Instrução Normativa nº 01/2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, anexa. Albaneide Peixinho Coordenadora Geral do PNAE 160 Instrução Normativa nº 01, de 07 de janeiro de 2000 - MAPA ANEXO XXVII REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DOS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE PARA SUCO DE LARANJA 1. DEFINIÇÃO Suco de laranja é bebida não fermentada e não diluída, obtida da parte comestível da laranja (Citrus sinensis), através de processo tecnológico adequado. 2. COMPOSIÇÃO O suco de laranja deverá obedecer às características e composição abaixo: Cor: amarelo Sabor: próprio Aroma: próprio Mínimo Máximo Sólidos solúveis em º Brix, a 20º C 10,5 - 7,0 - 25,00 - Açúcares totais naturais da laranja (g/100g) - 13,00 Óleo essencial de laranja %v/v - 0,035 Relação de sólidos solúveis em brix/acidez em g/100g de ácido cítrico anidro Ácido ascórbico (mg/100mg) 3. INGREDIENTES OPCIONAIS 3.1. Ao suco de laranja poderão ser incorporadas as células da própria fruta; 4. O suco de laranja deverá obedecer aos Padrões de Identidade e Qualidade fixados para suco de fruta. 161 3.3 REGULAMENTAÇÃO DE CANTINAS ESCOLARES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO BRASIL Nota Técnica nº 02/2012 – COTAN/CGPAE/DIRAE/FNDE Assunto: Regulamentação de cantinas escolares em escolas públicas do Brasil. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é regulamentado pela Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009 e atende aos alunos matriculados na educação básica da rede pública de ensino. Seguindo os ideais do Direito Humano à Alimentação Adequada, o programa busca ofertar refeições saudáveis, seguras e balanceadas com o intuito de suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo, mas também, em caráter orientador, reconhecendo a escola como um espaço propício à formação de hábitos saudáveis (BRASIL, 2009). Assim as ações do PNAE abrangem de forma integrada a oferta de refeições e a realização de ações de educação alimentar e nutricional, abordando a alimentação como um ato pedagógico e tema essencial na formação dos estudantes brasileiros. Entretanto a oferta de alimentos por outras fontes no interior da escola é fato presente e sempre muito polêmico. A existência de cantinas no ambiente escolar é constante tema de debate. Segundo Gabriel et al (2010), a cantina é uma dependência dentro do estabelecimento de ensino destinada a fornecer serviços de alimentação a alunos, professores e demais funcionários mediante pagamento. A presença desse estabelecimento no ambiente escolar propicia ao estudante uma maior autonomia e variedade no que diz respeito à sua alimentação (DANELON; DANELON; SILVA, 2006). No entanto, tal fato pode representar um grande problema para a saúde dos alunos, pois a maioria dos lanches comercializados nas cantinas escolares encontra-se com baixo teor de nutrientes e com alto teor de açúcar, gordura e sódio (BRASIL, 2007). Vários estudos sinalizam que quando o escolar dispõe de recursos para compra de alimentos em cantinas de 162 unidades de ensino, as preferências recaem sobre aqueles com alta densidade energética, como balas, salgadinhos do tipo chips, doces, salgados caseiros, biscoitos e refrigerantes (COROBA, 2002; DANELON; SILVA, 2004; STURION; PANCIERA; SILVA, 2005). A facilidade de acesso por parte dos escolares a esses alimentos contribui para uma menor aceitação e adesão à alimentação escolar, podendo provocar desvios nutricionais que interferem no crescimento e no desenvolvimento (GROSS; CINELLI, 2004). Assim, estudos apontam que atualmente o ambiente escolar pode contribuir de forma sistemática para a adoção de práticas alimentares consideradas não saudáveis. Do mesmo modo, a existência de cantinas escolares gera uma profunda incoerência entre o que é aprendido em sala de aula e as práticas e posturas da escola, principalmente com relação ao tema “alimentação saudável”. Segundo Silva e Boccaletto (2009) no ambiente escolar a cantina configura-se como um entrave para a educação nutricional e a formação de hábitos alimentares saudáveis. Sturion et al (2005) com o objetivo de avaliar o nível de adesão dos alunos ao Programa de Alimentação Escolar e identificar as principais variáveis que o afetam, realizaram pesquisa, tendo por base amostra de 2.678 escolares, com no máximo 14 anos de idade. A maioria (70%) dos escolares que afirmou não participar do Programa frequentava unidades de ensino que apresentavam cantinas escolares. Em relação à adesão dos estudantes de escolas públicas ao PNAE, as variáveis de renda familiar per capita, escolaridade dos pais, idade e estado nutricional dos alunos e a maior frequência de consumo de alimentos nas cantinas escolares se revelaram inversamente associadas à adesão diária ao PNAE. Este cenário associado a outros elementos contribui para o aumento da incidência da obesidade infantil, que é um problema de saúde pública presente em todas as classes sociais (OLIVEIRA; RUIZ; WILLHERM, 2010). Dados da última Pesquisa Nacional de Orçamentos Familiares - POF, indicam que 1 entre cada 3 crianças brasileiras apresentam sobrepeso e 1 entre cada 5, apresentam obesidade (IBGE, 2010). Diante do exposto, inúmeras alternativas e estratégias vem sendo lançadas no sentido de intervir nos crescentes índices de sobrepeso e obesidade. O debate em torno da regulamentação ou da adoção de medidas 163 que possam transformar as cantinas escolares em locais que garantam o fornecimento de alimentos e refeições saudáveis, principalmente no que ser refere ao aumento da oferta de frutas, legumes e verduras e restrição de alimentos de baixo valor nutricional vem tomando dimensão internacional (BRASIL, 2007). No Brasil, o Ministério da Saúde e o FNDE/Ministério da Educação publicaram em 2010 a Portaria Interministerial n.º 1.010 de 08 de maio de 2006, a fim de instituir as diretrizes para a alimentação saudável no ambiente escolar (BRASIL, 2006). Experiências de regulamentação da comercialização de alimentos não saudáveis em cantinas escolares têm sido desenvolvidas em alguns estados e municípios brasileiros, cita-se como exemplo: Florianópolis/SC - Lei municipal n.º 5.853, de 04 de junho de 2001. Abrangência: Unidades educacionais públicas e privadas que atendem a educação básica do Município. Santa Catarina/SC - Lei estadual n.º 12.061, de 18 de dezembro de 2001. Abrangência: Unidades educacionais públicas e privadas que atendem a educação básica do Estado. Paraná/ PR - Lei estadual n.º 14.423, de 02 de junho de 2004 e Lei estadual n.º 14.855, de 19 de outubro de 2005. Abrangência: Unidades educacionais públicas e privadas que atendam a educação básica do Estado. Rio de Janeiro/RJ - Decreto municipal n.º 21.217, de 01 de abril de 2002, Portaria n.º 02/2004, da I Vara da Infância e da Juventude e Lei estadual n.º 4.508, de 11 de janeiro de 2005. Abrangência: Rede pública e privada do município e Estado. Distrito Federal/DF - Lei n.º 3.695, de 8 de novembro de 2005. Abrangência: Escolas de educação infantil e de ensino fundamental e médio das redes pública e privada. São Paulo/SP - Portaria conjunta COGSP/CEI/DSE, de 23 de março de 2005. Abrangência: Rede pública do Estado. Ribeirão Preto/ SP - Resolução municipal n.º 16/2002, de 29 de julho de 2002 (BRASIL, 2007). 164 Goiás/GO – Secretaria de Estado de Educação. Portaria GAB/SEDUC nº 3405, de 18 de maio de 2011. Resolve que fica terminantemente proibido, dentro das dependências permanentes à Secretaria de Estado de Educação, o comércio de qualquer tipo de produto ou mercadoria, seja por servidores ou por terceiros. É importante destacar que tais documentos têm por objetivo a regulamentação de alimentos que podem ou não ser comercializados nas cantinas escolares, contando com a proibição de refrigerantes, doces e alimentos considerados não saudáveis. De forma geral estas regulamentações abordam (Gabriel et al, 2010): - Proibição do comércio dos seguintes itens: bebidas alcoólicas; balas, pirulitos e gomas de mascar; refrigerantes, sucos artificiais; salgadinhos industrializados; salgados fritos e pipocas industrializadas; - Oferta de duas opções de frutas sazonais diariamente; - Presença obrigatória de mural ou material de comunicação visual para divulgação de informações relacionadas à alimentação e nutrição; - Proibição de exposição de cartazes publicitários que estimulem a aquisição e o consumo de balas, chicletes, salgadinhos e refrigerantes. Ressalta-se que, em novembro de 2011 na cidade de Salvador-BA ocorreu a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a qual foi a culminância de um processo amplo e participativo que envolveu aproximadamente 75 mil pessoas de mais de 3.200 municípios de todos os estados brasileiros. Os delegados presentes na conferência citada, aprovaram a moção em defesa da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar, solicitando aprovação de uma lei por parte do congresso Nacional, orientado pelo CONSEA, pelo fechamento das cantinas escolares no Brasil. Diante das prerrogativas apresentadas acima, a Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição defende a não existência de cantinas nas escolas públicas e seu posicionamento é que, caso vigore a iniciativa legislativa de regulamentação das cantinas escolares, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, que esta ação seja extensiva a todos os equipamentos públicos, tais como as Unidades Básicas de Saúde, os hospitais e os restaurantes populares, entre outros, pois parte-se do pressuposto que esses 165 equipamentos também fazem parte do lócus das ações de combate ao sobrepeso e obesidade, contidas nos Planos Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Plano de Doença Crônica Não Transmissível e do Plano Intersetorial de Combate à Obesidade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL. Ministério da Saúde. Regulamentação da Comercialização de Alimentos em Escolas no Brasil: Experiências estaduais e municipais. Brasília, 2007. Disponível em: http://nutricao.saude.gov.br/pas.php?conteudo=publicacoes_pas. Acesso: 03 de jul de 2012. BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, altera a Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, e dá outras providências. BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Portaria Interministerial nº 1010, de 8 de maio de 2006. Institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional. Brasília, DF: MS, MEC, 2006[citado 2012 abr 12]. Disponível GM/GMem:<http://dtr2001.saude.gov.br/sas /PORTARIAS/ Port2006/ 1110.htm>. COROBA, D.C. R. A escola e consumo alimentar de adolescentes matriculados na rede pública de ensino. 2002. 162f. Dissertação (mestrado), Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba. 2002. DANELON, M. A. S.; DANELON, M. S.; SILVA, M. V. Serviços de alimentação destinados ao público escolar: análise da convivência do Programa Nacional de Alimentação Escolar e das cantinas. Segurança Alimentar e Nutricional. Campinas, v. 13, n.1, p.85-94, 2006. DANELON, M. S.; SILVA, M. V. Consumo de alimentos entre alunos de escolas particulares de Piracicaba (SP). In: Anais do 12° Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo. Piracicaba – SP, 2004. GABRIEL, C. G.; SANTOS, M. V.; VASCONCELOS, F. A. G.; MILANEZ, G. H. G.; HULSE, S. B. Cantinas escolares de Florianópolis: existência e produtos comercializados após a instituição da Lei de Regulamentação. Revista de. Nutrição, Campinas, v.23, n.2, p.191-199, 2010. 166 GROSS S. M; CINELLI, B. Coordinated School Health Program and dietetics professionals: partners in promoting healthful eating. Journaul of the American Dietetic Association, v. 104, n. 5, p 793-798, 2004. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009. Rio de Janeiro, 2010. OLIVEIRA, A.B.; RUIZ, E; WILLHELM, F.F. Cantina Escolar: Qualidade Nutricional e adequação à legislação vigente. Revista do Hospital de Clinicas de Porte Alegre, v.30, n.3, p.266-270, 2010. SILVA, C.C.; BOCALETTO, E.M.A. Educação para alimentação saudável na escola. In: BOCCALETTO, E.M.A.; MENDES, R.T (org.). Alimentação, Atividade física e qualidade de vida dos escolares do município de Vinhedo/ SP. Campinas: Ipes Editorial, 2009. p.23-39. Disponível em: http://www.fef.unicamp.br/departamentos/deafa/qvaf/livros/alimen_saudavel_ql _af/estrategias/estrategias_cap3.pdf. Acesso em julho de 2010. STURION, G. L.; PANCIERA, A. L.; SILVA, M. V. Alimentação escolar: opções de consumo na unidade de ensino. In: Anais do 6o Simpósio Latino-Americano de Ciência de Alimentos. Campinas, 2005. STURION, G.L.; SILVA, M. V.; OMETTO, A. M. H.; FURTUOSO, C. O. M.; PIPITONE, M. A. P. Fatores condicionantes da adesão dos alunos ao Programa de Alimentação Escolar no Brasil. Revista de Nutrição. v.18, n.2, p.167-181, 2005. 167 3.4 RESTRIÇÃO DA OFERTA DE DOCES E PREPARAÇÕES DOCES NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nota Técnica nº 01/2014 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE Assunto: Restrição da oferta de doces e preparações doces na alimentação escolar. A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no cumprimento da sua missão de criar mecanismos gerenciais destinados à promoção do direito humano à alimentação adequada e ao estímulo à inserção da educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, apresenta seu entendimento quanto à restrição da oferta de doces e preparações doces na Alimentação Escolar, com base em evidências científicas. Alimentos industrializados geralmente tendem a apresentar alta densidade energética, menos fibras, mais gordura, açúcar e sal, além de substâncias químicas (conservantes, estabilizantes, aromatizantes) prejudiciais à saúde1. O processo de industrialização de alimentos tem encontrado espaço para a sua expansão, fato que, associado a outros fatores, reflete em um menor consumo de alimentos in natura e no aumento do consumo de alimentos industrializados, tendência demonstrada pelos resultados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística2. Destaca-se que a dieta do brasileiro ainda possui alimentos tradicionais, como o arroz e o feijão, no entanto há crescente consumo de alimentos com teor reduzido de nutrientes e de alto valor calórico. Observa-se, por exemplo, consumo muito abaixo do recomendado para frutas, verduras e legumes e consumo elevado de bebidas com adição de açúcar, como sucos, refrigerantes e refrescos, principalmente pelos adolescentes2. 168 O frequente consumo de alimentos industrializados, característica da alimentação na atualidade, é uma das principais causas do aumento dos casos de excesso de peso e obesidade, dentre outras complicações à saúde1. De acordo com Organização Mundial de Saúde e a Organização Panamericana de Saúde, as recomendações que objetivam contribuir para garantir o crescimento e o desenvolvimento adequados, a promoção da saúde e a prevenção das doenças relacionadas à alimentação, preconizam3: • manter o peso saudável; • limitar o consumo energético procedente das gorduras, substituir as gorduras saturadas por gorduras insaturadas e eliminar as gorduras trans; • aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras e de cereais integrais; • limitar o consumo de sal (sódio); • limitar o consumo de açúcares (grifo nosso). A elevada ingestão de açúcares diminui a qualidade nutritiva da dieta, pois há um alto consumo de energia concomitante a baixa ingestão de nutrientes, além dos açúcares contribuírem para a densidade energética global da dieta, promovendo um balanço energético positivo. Ademais, os açúcares e doces possuem alto índice glicêmico e alta carga glicêmica e o seu consumo pode estar associado ao aumento do risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, doença coronariana, dentre outras4. A restrição da oferta de açúcares contribui para a redução do risco de obesidade, dentre outras alterações metabólicas. Na pirâmide dos alimentos, instrumento utilizado como orientação para uma alimentação saudável, os açúcares e doces - principalmente constituídos de carboidratos de cadeia curta e mais rápida absorção, dos tipos monossacarídeo e dissacarídeo - encontramse no ápice, devendo contribuir com a menor parcela das calorias da dieta e ser consumidos de forma moderada e com baixa frequência quando comparados aos alimentos da base (cereais, tubérculos e raízes, frutas e hortaliças, leguminosas, carnes e ovos, leite e produtos lácteos)4. 169 O cardápio da alimentação escolar é um instrumento de planejamento que visa assegurar a oferta de uma alimentação saudável e adequada, que garanta o atendimento das necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo5. Ademais, a oferta da alimentação escolar configura um elemento pedagógico, caracterizando uma importante ação de educação alimentar e nutricional. Assim, o PNAE, visando limitar a oferta de alimentos processados de baixo valor nutricional, estabelece em sua normativa, Resolução CD/FNDE n⁰ 26 de 17 de junho de 20136: Art. 16. Parágrafo único. A oferta de doces e/ou preparações doces fica limitada a duas porções por semana, equivalente a 110 kcal/porção. Para o PNAE, são considerados doces e preparações doces (ANEXO A – Exemplos de Doces e Preparações Doces)7: • balas, confeitos, bombons, chocolates e similares; • bebidas lácteas; • produtos de confeitaria com recheio e/ou cobertura; • biscoitos e similares com recheio e/ou cobertura; • sobremesas; • gelados comestíveis; • doces em pasta; • geleias de fruta; • doce de leite; • mel; • melaço, melado e rapadura; • compota ou fruta em calda; • frutas cristalizadas; • cereais matinais com açúcar; • barras de cereais. 170 OBSERVAÇÃO: são consideradas exceções a esta restrição as seguintes preparações doces: arroz doce; canjica/mungunzá; curau (mingau de milho) e mingau. Tais exceções justificam-se em função das diferentes realidades existentes no país, no processo que envolve o planejamento até a execução dos cardápios da alimentação escolar, processo no qual devem ser consideradas a diversidade das realidades relacionadas com as condições das estruturas das cozinhas das escolas, condições de estocagem e armazenamento, especialmente para gêneros perecíveis, recursos humanos disponíveis, bem como às associadas com a logística disponível para o transporte e distribuição dos alimentos. Foi levada ainda em consideração que tais preparações podem contribuir para a variedade da alimentação escolar, especialmente nas escolas onde são ofertadas mais de uma refeição por dia, realidade esta em expansão na educação pública brasileira com a ampliação da educação infantil, do programa Mais Educação e da Educação integral. Essas citadas preparações podem, ainda, servir como opções nutritivas, principalmente se adicionadas de frutas e hortaliças, contribuindo para o alcance das necessidades nutricionais de micronutrientes. Vale ainda ressaltar que tais opções de preparações não devem ser ofertadas com muita frequência, atentando para as prioridades na oferta de frutas e preparações a base de frutas. Dessa forma, para análise da frequência de doces e preparações doces nos cardápios da alimentação escolar, essa Coordenação- COSAN analisará as Fichas Técnicas de Preparações e seus respectivos ingredientes e per capitas, levando em consideração para o cálculo das 110 Kcal por porção, apenas os ingredientes fonte de açúcar. Por exemplo, caso seja ofertado um bolo de cenoura com recheio e com cobertura, serão considerados para cálculo do valor calórico apenas os ingredientes utilizados no complemento da preparação do bolo. Ou seja, serão levados em consideração o açúcar e o achocolatado utilizados na elaboração da cobertura e do recheio, e não o utilizado na preparação como um todo. Outro exemplo seria a oferta de um 171 iogurte com cereal matinal açucarado, será considerado, neste caso, somente o cereal matinal adicionado. Rosane Nascimento Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN ________________________ 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Alimentar para a População Brasileira. Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/05_1109_M.pdf>. 2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. Análise do Consumo Alimentar no Brasil. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/pof analise_2008_2009.pdf>. 3 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde. Disponível em: < http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/ebPortugues.pdf>. 4 PHILIPPI, S. T.; SILVA, G. V.; PIMENTEL, C. V. M. B. Pirâmide dos Alimentos - Fundamentos Básicos da Nutrição. Grupo dos açúcares e doces. Capitulo 8. 292-313p. 5 BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, altera a Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, e dá outras providências. 6 BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnden%C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013>. 7 BRASIL. Portaria nº 1003, de 11 de dezembro de 1998. Lista e enumera categorias de alimentos para efeito de avaliação do emprego de aditivos. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/35af2d0047458a8093f6d73fbc4c6735/PORTARIA_1003_199 8.pdf?MOD=AJPERES>. 172 ANEXO A – EXEMPLOS DE DOCES E PREPARAÇÕES DOCES DOCES E PREPARAÇÕES DOCES EXEMPLOS Bananada/mariola, pé de moleque, Balas, confeitos, bombons, chocolates e cocada, paçoca, caramelos, balas de similares goma/gelatina, achocolatado em pó, achocolatado líquido, entre outros. Bebida láctea Sabores diversos Produtos de confeitaria com recheio e/ou Bolos recheados ou com cobertura, tortas cobertura doces, roscas doces, entre outros. Biscoitos e similares com recheio e/ou Wafer, bolachas ou biscoitos recheados, cobertura cookies, entre outros. Sobremesas Gelados comestíveis Gelatina, pudim, manjar, sagu, quindim, entre outros. Sorvetes, picolés, dindim/geladinho/sacolé Doces em pasta Marmelada, goiabada, entre outros. Geleias de fruta Geleias de frutas e chimia Doce de leite Mel Melaço, melado e rapadura Compota ou fruta em calda Frutas cristalizadas Cereais matinais com açúcar Flocos de cereais Barras de cereais Com ou sem chocolate 173 3.5 INCLUSÃO DO PESCADO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Nota Técnica nº 04/2013 – CGPAE/DIRAE/FNDE Brasília, 11 de julho de 2013. Assunto: Inclusão de pescado na alimentação escolar. A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN, no cumprimento de sua missão de criar mecanismos gerenciais destinados a promoção do direito à alimentação adequada ao escolar, especialmente quanto ao estímulo à inserção da educação alimentar e nutricional, apresenta seu posicionamento sobre a inclusão do pescado na alimentação escolar. A atuação da COSAN para a inclusão do pescado na alimentação escolar vem incentivar em seus eixos temáticos de garantia da segurança alimentar, o fortalecimento da agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na conformidade da Lei nº 11.947/2009, bem como o caráter pedagógico do alimento no ambiente escolar. A inclusão do pescado nas escolas permite a criação de uma demanda por alimentos com forte estímulo ao desenvolvimento socioeconômico local, vai ao encontro das diretrizes do PNAE, como o emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura e as tradições alimentares, contribuindo para o desenvolvimento do aluno em conformidade com a faixa etária, sexo, atividade física e o estado de saúde dos escolares. Serão apresentadas inicialmente algumas informações sobre a temática que embasam o posicionamento adotado por esta Coordenação, descrito a seguir: 174 1. Dados da Pesquisa da inclusão do Pescado na alimentação escolar Em uma pesquisa realizada em 2012 pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em parceria com o FNDE, sobre a inclusão do pescado na alimentação escolar em 2011, obtiveram os seguintes resultados destacados a seguir: • 638 (34%) dos municípios afirmaram que houve inclusão do pescado na alimentação escolar, enquanto 1246 (66%) alegaram não ter incluído o pescado nos cardápios em 2011. Nessa pesquisa foram apontadas as dificuldades encontradas pelo município para a inclusão do pescado na alimentação escolar. 175 As duas primeiras dificuldades apontadas, foram a baixa aceitação/falta de hábitos pelos alunos e o custo elevado (36% para cada), seguidos pelo risco de espinhas (28%), dificuldade de acesso (17%) e falta de fornecedores/ausência de produtos no mercado (15%). No entanto, 200 respostas (31%) alegaram não encontrar nenhuma dificuldade na inclusão do pescado nas escolas. Das respostas que alegaram a inclusão do pescado na alimentação escolar, a frequência predominante de consumo foi a mensal (42%), seguida pela quinzenal (31%). Espera-se, com base em uma alimentação saudável de 250 gramas de pescado por semana, que o consumo seja semanal ou superior, percentual que totalizou apenas 15% das respostas. 176 A forma em que o pescado foi adquirido para a alimentação escolar também foi questionada na pesquisa. O produto com maior representatividade foi o filé de peixe, com 56,1%, seguido pelo enlatado (37%). Por outro lado, o pescado inteiro e eviscerado, assim como os moluscos e crustáceos são pouco frequentes na alimentação escolar. Em relação à média do consumo do pescado na alimentação escolar, obteve-se o consumo per capita de 41,4g/aluno/refeição, valor considerado insuficiente quando comparado à recomendação de 12kg/habitante/ano da Organização Mundial de Saúde – OMS. A forma de preparo predominante do pescado servido para os alunos foi o cozido e/ou ao molho, representando 72,8% das respostas. Ademais, observou-se que a forma frita e a empanada, menos saudáveis, estiveram presentes em 13% das respostas. 177 Para os municípios que incluíram pescado no cardápio escolar, as principais dificuldades encontradas durante a inclusão foram: baixa aceitação e/ou falta de hábitos pelos alunos e o custo elevado (36% cada), seguidos pelo risco de espinhas (28%), Vale destacar que 31% alegaram não encontrar nenhuma dificuldade na inclusão do pescado nas escolas. Na perspectiva de aumentar a inserção do pescado de qualidade oriundo da produção familiar, destacamos a importância da interação entre todos os atores envolvidos, como os produtores familiares, os gestores públicos e o CAE. 2. Posicionamento CGPAE Considerando o art. 12 da Lei 11.947/2009 e o art. 14 da Resolução CD/FNDE n°26/2013 que dispõem que os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável, com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada; 178 Considerando que as Entidades Executoras do PNAE (secretarias estaduais e municipais de educação) são as responsáveis pela compra dos gêneros alimentícios e, ao nutricionista responsável técnico, cabe a responsabilidade pela definição dos gêneros alimentícios, de acordo com o disposto na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, arts. 14, 15, 18, 19 e 20. Assim, este profissional deverá analisar, por meio da avaliação nutricional, hábitos e culturas alimentares locais, a real necessidade e pertinência da escolha de qualquer alimento a ser acrescido no cardápio da alimentação escolar; Considerando que a competência do FNDE está relacionada com a normatização da execução do programa, em especial com a definição da qualidade da alimentação oferecida; e com as ações de alimentação e nutrição na escola; O pescado pode ser inserido na alimentação escolar de diversas formas, tais como: assado, grelhado, ao molho, entre outros. Mas além da forma tradicional o pescado pode ser oferecido como principal ingrediente, tais como: pão de peixe, hambúrguer de peixe, almôndega de peixe, entre outros. Albaneide Peixinho Coordenadora-Geral do PNAE 179 3.6 OBRIGATORIEDADE DA PASTEURIZAÇÃO DO LEITE PARA A AQUISIÇÃO E OFERTA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Nota Técnica nº 01/2013 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE Assunto: Obrigatoriedade da pasteurização do leite para aquisição e oferta na Alimentação Escolar. Segundo a Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entende-se por leite o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Todo o leite comercializado no Brasil para consumo humano deve ser pasteurizado, processo que garante ao consumidor a qualidade higiênicosanitária do produto por meio da destruição de micro-organismos patogênicos. Diversos riscos à saúde têm sido associados com o consumo de leite cru, especialmente a propagação de doenças como a tuberculose, listeriose e brucelose. O Decreto-Lei nº 923, de 10 de outubro de 1969 dispõe sobre a comercialização do leite, e afirma em seu Art. 1⁰ que fica proibida a venda de leite cru, para consumo direto da população, em todo o território nacional. Logo, o leite cru refrigerado produzido nas propriedades rurais do território nacional deve ser destinado à obtenção de leite pasteurizado para consumo humano direto ou para transformação em derivados lácteos em todos os estabelecimentos de laticínios submetidos à inspeção sanitária oficial. Segundo pesquisa realizada em 2011 pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – CECANE UFRGS sobre a Composição Nutricional da Alimentação Escolar no Brasil: Uma Análise a partir de uma amostra de Cardápios, no grupo dos leites e derivados 82,9% dos municípios apresentaram no cardápio escolar, pelo menos uma vez na semana, leite e queijos. Devido à sua importância em termos de saúde coletiva e considerando a relação entre a qualidade sanitária dos alimentos e a saúde da população, o 180 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE destaca em suas normativas a preocupação com a oferta de alimentos seguros. Para o PNAE, os gêneros alimentícios a serem adquiridos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Neste sentido, os cardápios da alimentação escolar elaborados pelo nutricionista responsável técnico, quando na oferta de produtos lácteos, deverão utilizar somente produtos pasteurizados. Rosane Nascimento Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN ______________________________ BRASIL. Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011. Anexo IV - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado. BRASIL. Decreto-Lei nº 923, de 10 de outubro de 1969. Dispõe sobre a comercialização do leite cru. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Zoonosis y Enfermedades Transmisibles Comunes al Hombre y a los Animales. 3ª Ed. 2003. (Publicación Científica y Técnica n⁰ 580). BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica, altera a Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, e dá outras providências. BRASIL. Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar – CECNAE UFRGS. Composição Nutricional da Alimentação Escolar no Brasil: Uma Análise a partir de uma Amostra de Cardápios. 2011. 181 3.7 AQUISIÇÃO DE LEITE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EM PÓ PARA A Nota Técnica nº 02/2014 – COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE Assunto: Aquisição de leite em pó para a alimentação escolar. Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em Pó anexo à Portaria nº 369, de 4 de setembro de 1997, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entende-se por leite em pó o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente desnatado e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. Em sua composição, o leite em pó deverá conter somente as proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias minerais do leite e nas mesmas proporções relativas. São aceitos como aditivos unicamente: a lecitina, utilizada como emulsionante para a elaboração de leites instantâneos, e os antiumectantes silicatos de alumínio, cálcio, fosfato tricálcico, dióxido de silício, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, cuja adição é permitida apenas para o leite em pó utilizado em máquina de venda automática. O leite em pó é obtido por processo industrial (secagem) no qual a água é removida em condições controladas de temperatura, umidade e corrente de ar, obtendose um produto estável, de baixa umidade e com mínimas alterações nutricionais. O processo de secagem prolonga a vida de prateleira do alimento, conferindo melhor conservação do produto, por meio da redução da atividade de água - o que inibe o crescimento microbiano e a atividade enzimática. Além disso, há redução de seu peso e volume, o que representa economia na embalagem, no transporte e no armazenamento. Deste modo, excetua-se da restrição disposta no Art. 17, inciso II, da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 e Art. 23 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, a aquisição do leite em pó, considerando: - que o leite em pó, atendendo a normativa vigente, não possui aditivos químicos como corantes, estabilizantes ou outras substâncias artificiais; 182 - que o leite em pó possui características nutricionais semelhantes ao leite UHT, com composição similar em macro e micronutrientes; - a precária estrutura físico-estrutural, higiênico-sanitária e operacional de algumas unidades de alimentação e nutrição (UANs) nas escolas; - que o leite em pó apresenta menor risco de contaminação microbiológica devido à baixa atividade de água; - que o leite em pó facilita a logística de transporte, armazenamento e distribuição do produto, uma vez que não necessita de refrigeração e possui prazo de validade estendido. Neste sentido, destaca-se que para a utilização do leite em pó na alimentação escolar é necessário atentar-se às características da embalagem do produto, que deve estar íntegra e em boas condições. Ademais, o controle de qualidade da água a ser utilizada para a reconstituição do produto é fundamental, bem como sua correta dissolução, respeitando a adequada proporção de adição de água ao leite, seguindo as instruções do fabricante ou da área técnica responsável pela alimentação escolar na Entidade Executora. Caso necessário, as merendeiras/manipuladores de alimentos e funcionários envolvidos no preparo e distribuição da alimentação escolar deverão ser capacitados para a correta realização do procedimento. Por fim, alertamos que o composto lácteo, embora elaborado a partir de substâncias lácteas, difere do leite em pó em sua composição, pois permite a adição de outros ingredientes, como óleos vegetais e açúcar. Fique atento, composto lácteo não é leite em pó. Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – COSAN Apoio: Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de São Paulo – CECANE UNIFESP Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – CECANE UFRGS Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás – CECANE UFG 183 4 CARTAZ ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO AMBIENTE ESCOLAR Passo a Passo para uma Alimentação Saudável no Ambiente Escolar 184 185 5 CARTAZ DIREITO HUMANO ESCOLAR SAUDÁVEL À ALIMENTAÇÃO Alimentação saudável na escola é um direito humano 186 187
Download