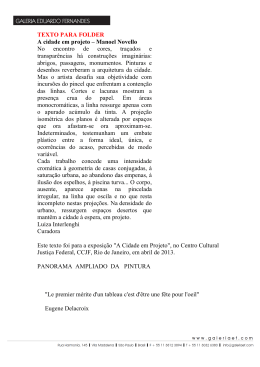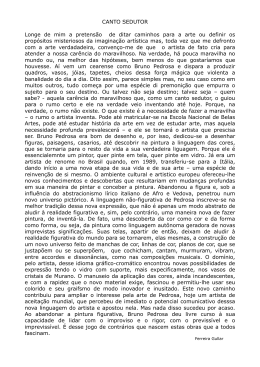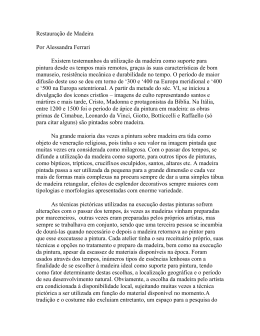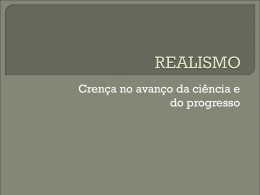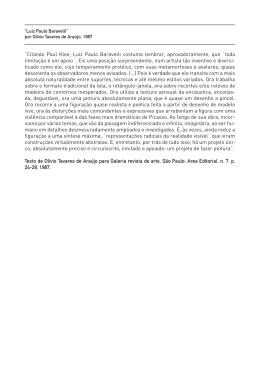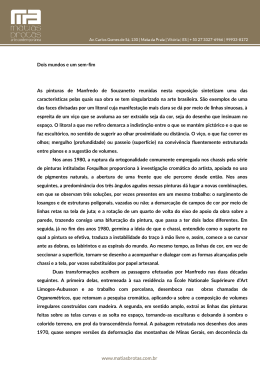SERGIO FINGERMANN Sônia Salzstein Mesmo demonstrando disposição relativamente moderada para as aparições públicas, o trabalho de Sergio Fingermann vem se desenvolvendo em ritmo constante e intenso desde o final da década de 70. O obscurecimento contemporâneo da medida individual do ateliê e seu corolário de práticas e tradições da pintura, se introduzem como questões fortes para o artista. A esta questão, aliás, parece se dever a atitude reticente e confiante que o mesmo revela frente às possibilidades da pintura. De qualquer modo, o fato é que tal trabalho trai certo pudor ou ceticismo para se declarar pronto. Afinal, os problemas que advinham ao trabalho, relativos, basicamente, à viabilidade de uma pintura preocupada com a representação e com a figuração, indicavam um campo de trabalho incerto e freqüentado pelas mais diversas revisões ideológicas, incitando a um permanente estado de dúvidas e riscos conceituais. Parecia então estar em curso uma opção tanto extemporânea, porque o artista escolhia deixar de lado imagens “prontas”, prescindia das vantagens comunicativas militantes que estas poderiam lhe propiciar e com isto inclinava-se para a sondagem de uma dimensão interna e processual da pintura figurativa. Como decorrência, o trabalho tendia a rumar em sentido contrário ao das pressões do presente, longe da valorização do instante, da ação e das preocupações contextuais de boa parte da arte contemporânea. Esta atitude solicitava um tempo físico de produção, isto é, tempo suficiente para se dispender com as qualidades sensíveis e os desenvolvimentos empíricos da pintura. Neste caso, a instância formal da obra estaria sempre obrigada à prova de uma espécie de plasticidade historicamente inerente à matéria pictórica. É claro que a “lentidão” e a materialidade que o trabalho exigia para fabricar suas imagens pareceriam incongruentes em face da disponibilidade instantânea e ilimitada de imagens no ambiente da arte contemporânea. Mas era justamente disto de que se tratava: reencontrar o parentesco entre o universo subjetivo das coisas e seus referentes no universo da vida material. Mais do que descrever o mundo em imagens, estaria em jogo, portanto, deixar provisoriamente de lado tudo o que fosse apenas ótico, digamos assim, para desentranhar uma natureza antropológica, exploratória e, em suma, genericamente humana, das imagens. Tal escolha abria uma perspectiva de trabalho árida para o artista, pois a maior parte da arte produzida dos anos 80 para cá vinha tratando a pintura figurativa quase invariavelmente em tom de comentário, e colocaria uma opção como esta sob suspeita metafísica. Para ele, não obstante, o principal era interrogar se a pintura (contra todas as evidências em contrário) poderia ainda propor novas configurações do mundo contemporâneo da técnica, isto é, de uma “natureza” em constante mutação (ela própria manancial permanente de novas imagens, sem qualquer referente numa matéria originária) e à mercê de processos tecnológicos de transformação cada vez mais autônomos e podendo declinar, para seguir seu curso, das especialidades cognitivas e reflexivas do pensamento artístico. O trabalho, enfim, parecia não desejar tomar como fato consumado a imanência da visão às comodidades espirituais do novo quadro pragmático da cultura. Importaria saber se a pintura se demonstraria capaz de algum senso de autonomia e de produtividade nessa situação cultural em que as coisas, para acontecerem, não necessitam mais do que permanecerem ponto morto – e sendo, assim tanto fariam noções como as de “autonomia” ou “produtividade”. Evidentemente, tal atitude tenderia a valorizar a natureza artesanal do processo de trabalho do artista, comprometendo-o em duradouros enfrentamentos empíricos, empenhados em testar a resistência das “vocações plásticas” da matéria pictórica. Isto é, em liberar uma figuração alentada por algum oxigênio histórico, não totalmente fantasmática. São estes enfrentamentos empíricas que produzem na obra aquela medida própria do tempo, elemento chave, porquanto introduzindo-se aí como índice do atrito que cada pintura teria de produzir para fazer suas figuras se soltarem do plasma indiferenciado de imagens em que engorda o “enfant gaté” da cultura contemporânea. Com isto o artista relativiza o valor visual (ótico, conforme se disse), de seus trabalhos, a face externa e desfrutável destes, solicitando a atenção, inversamente, a uma impossível apreensão “perpendicular” (a expressão é dele) das imagens, que acompanhasse o movimento retrospectivo da narração ali interiorizada. Explica-se então que tais figuras estejam freqüentemente engastadas, de modo quase indiferenciado, nas camadas (virtuais) de um “muro” ou “parede”, construído à base da sobreposição e do desgaste progressivo das cores. Dado que inexiste um centro privilegiado nessas telas, nem tampouco padrão de escala único, pois cada objeto e cada área representados pertencem apenas aos espaços respectivos que encerram, convocando pontos de vista heterogêneos e a princípio incomunicáveis, cabe ao olho o trabalho redobrado de discriminar continuamente um campo visual, diferenciar e selecionar imagens que poderão constituir um universo visual significativo. É claro que o que conta aqui não é apenas o teor confessional que possa se depreender de tais imagens, mas a capacidade dessa espécie de memória pessoal, pouco a pouco sedimentada, reconduzir sinceramente ao debate a memória formal da história da arte moderna, irritar a sensibilidade contemporânea com a reconsideração lírica mas desapaixonada do projeto moderno da autonomia e do poder constituinte das formas. Embora ciente da verdade que possa conter uma figuração pop, nisto que tal figuração sela a despedida de toda indagação pelos fundamentos, pelos sentimentos da profundidade, o artista estaria apostando numa pintura figurativa capaz, no mínimo, de recobrar a prerrogativa de infundir critério e assegurar discriminação pessoal neste cenário de heteronomia. Porque, se não há como representar de maneira convincente os objetos de corpo inteiro (o artista está quase sempre às voltas com fragmentos), suas pinturas não abrem mão da prerrogativa de restituir-lhes um campo semântico, no qual as marcas da subjetividade, se já não têm nenhuma garantia de receptividade na situação contemporânea, poderiam quem sabe reaparecer, mediante o trabalho do tempo e da memória. Mas isto, é claro, a depender de uma disposição pessoal para o esquecimento ou para a rememoração. Como se vê, a obra de Sergio Fingermann abriu alto poder discriminatório à visão. Compreende-se, neste sentido, a presença forte do desenho em suas pinturas, como espécie de elemento motriz que organiza e retira da empiria a matéria pictórica. Penso aqui, naturalmente, na tradição clássica do desenho que o concebe dotado de inédito poder intelectivo, um instrumento de ordenação do visível, do conhecimento e controle da natureza. A numerosa produção em gravura do artista atesta de modo límpido o sentido construtivo, iluminador que a obra em geral atribui ao desenho. Ele transmite à pintura algo do que possa ser ainda, para a arte contemporânea, projetar e intervir normalmente no real. Como declarou, certa vez, o próprio artista: “A pintura não nos dá qualquer garantia quanto à compreensão de seu processo. Ela exige que nos abandonemos a uma certa desorientação. Mas é difícil nos desorientarmos completamente, porque todo nosso esforço vai no sentido da construção”. Cabe sublinhar, desta frase, o quanto ela concede à dúvida intelectual e ao diálogo (com o sentido construtivo da tradição moderna), em sua modesta inquirição por alguma verdade constitutiva da imagem. O que se verá, de todo modo, nas pinturas de Sergio Fingermann serão as formas residuais daquela concepção clássica do desenho, batalhando para circunscrever a dimensão coletiva de um imaginário pessoal, e com isto revelando a inconsistência pueril de um mundo excitado por objetos parciais.
Baixar