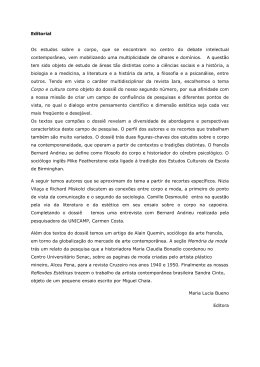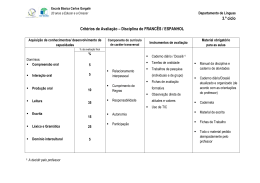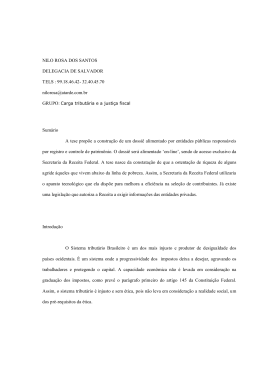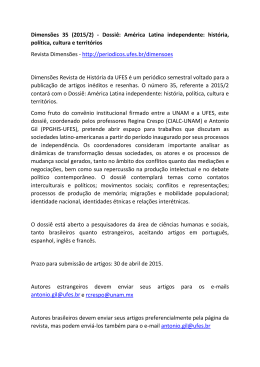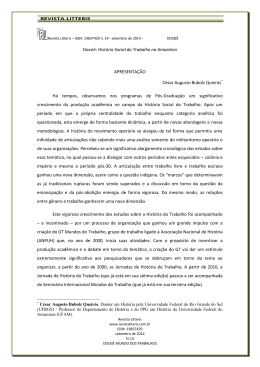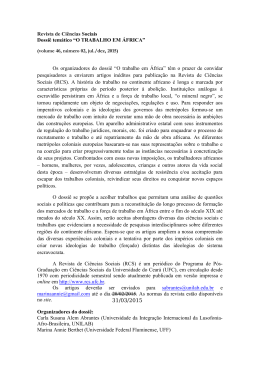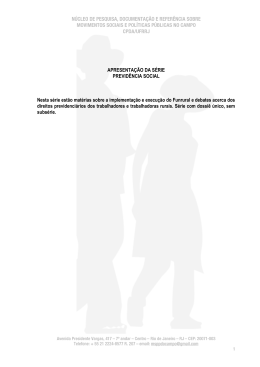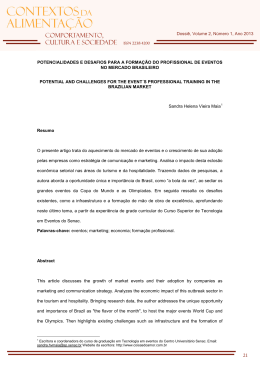editorial Num artigo que se tornou célebre, José Pacheco Pereira falou de dois grandes rios de contestação, um composto pelos «movimentos sociais» e pelas suas «manifestações inorgânicas», o outro pela área do PCP e da CGTP. O artigo foi publicado em Outubro de 2012 – após o inesperado sucesso da manifestação de 15 de Setembro e antes de uma série de eventos que viriam a culminar nos confrontos da greve geral de 14 de Novembro –, ou seja, num pico da capacidade de mobilização dos «movimentos sociais» em que, paradoxalmente, as suas contradições e limites se tornaram claros. O texto terminava sugerindo que, se e quando estes rios se juntassem, a rua tomaria o poder. O próprio autor, no entanto, viria a escrever posteriormente que a inconstância dos «movimentos sociais» face ao «profissionalismo» da CGTP faria da central sindical (e da sua capacidade mobilizadora) o grande trunfo da esquerda, um ás escondido na manga imperceptível ao poder. A promessa de ver uma quimérica «unidade das esquerdas» forjada nas mobilizações de massas foi inegavelmente sedutora, mas não se materializou. O propósito de fazer a coligação cair por uma rua que, de passagem, se prestaria a legitimar um governo das esquerdas gorou-se perante o esgotamento das modalidades de civismo convocadas e pela aparente invulnerabilidade do Governo às (cada vez menos) multitudinárias jornadas de luta. Ainda assim, o recuo da hipótese cidadã não significou um regresso à normalidade; antes serviu, pelo contrário, para sublinhar uma violência latente que se tornou central em todas as disposições políticas, sem nunca ter sido assumida enquanto tal. O facto de o secretário-geral da CGTP, após anunciada a intenção de marchar sobre a Ponte 25 de Abril, ter reunido durante várias horas com o ministro da Administração Interna – sem nunca ter sido explícito o que ali foi discutido, que ameaças estiveram em cima da mesa e que cenários de confronto ou colaboração foram traçados – vem reforçar esta ideia: foi aberto um espaço de excepção e a gestão do conflito político será feita a partir deste, procurando capturar as representações da conflitualidade social em cenários cada vez mais circunscritos e separados dessa dimensão de «rua» que vinha ganhando forma. A manifestação das forças policiais em que as escadarias da Assembleia da República foram invadidas perante a complacência do corpo de intervenção, com consequências mínimas, e o modo como o debate interno do PS se procurou esboçar a partir das questões de legalidade e legitimidade que pontuaram as críticas à coligação no poder, resvalando posteriormente para a inevitável dimensão paroquial, ilustram esta deslocação do espaço de conflito político para um território difuso e pleno de contradições mas bem cercado pelos limites, cada vez mais extremos, da governamentalidade necessária, bem como o desfasamento geral do debate sobre as geografias orgânicas da esquerda, mais preocupado com os meios formais da sua reprodução enquanto possibilidade representativa e identitária do que com as suas possibilidades emancipatórias. No primeiro dossiê deste número discutimos o liberalismo. No artigo que abre o dossiê, Rui Lopes revisita a Guerra Fria, dando conta da pluralidade de perspectivas e da complexidade terminológica, cronológica, geográfica e causal que a cerca. Propõe que essa dissonância, «que invoca a um sentido crítico face a discursos simplistas e deterministas sobre finalidade», possa potenciar uma reflexão sobre «a crença de que a continuidade da ordem actual é simplesmente inevitável». O segundo artigo, intitulado «Para uma história operária do pós-fordismo», de Ricardo Noronha e José Nuno Matos, pretende interpretar a transformação dos regimes de acumulação dos últimos 50 anos a partir de uma proposta de Mário Tronti, segundo a qual a dinâmica de desenvolvimento do modo de produção capitalista resultaria dos conflitos sociais que o atravessam. Através dos comporta- mentos da classe trabalhadora no seio das relações capitalistas de produção, os autores procuram conceber uma «história operária do capital», rompendo com as visões tradicionais que fazem a classe operária derivar do desenvolvimento capitalista. O dossiê prossegue com «Uma genealogia do Homo economicus: o neoliberalismo e a produção de subjectividade», de Jason Read. O autor procura fazer uma análise crítica do neoliberalismo tendo em conta a transformação da sua implantação discursiva enquanto novo entendimento da natureza humana e da existência social, e não apenas enquanto programa político. Para Read, é no confronto com o neoliberalismo que debates entre pós-estruturalistas como Michel Foucault e neomarxistas como Antonio Negri, sobre a natureza do poder e a relação entre «ideologias» ou «discursos» e existência material, deixam de ser doutrinas abstractas e se tornam modos concretos de compreender e transformar o presente. No artigo seguinte, Mário Moura procura reequacionar uma análise da história do design gráfico português, dos seus praticantes, das suas práticas, das suas identidades e do modo como se relacionaram com o Estado, como ponto de partida para pensar o neoliberalismo em Portugal. O dossiê fecha com um texto de Maurizio Lazzarato, intitulado «A renovação do conceito de «produção» e suas semióticas». A partir da abordagem de Deleuze e Guattari em torno das subjectividades, Lazzarato desenvolve uma análise do capitalismo, assinalando um risco que limita as teorias de «sujeição social», como as de Rancière e de Foucault. Para o autor, «se elas permitem captar as divisões entre os que monopolizam o poder e aqueles que o suportam, se permitem delinear estas divisões com as divisões em raças, sexos, idades, etc., negligenciam singularmente as servidões maquínicas». Reflectindo sobre a ideia de «servidão maquínica», argumenta que o indivíduo já não é instituído como sujeito, mas sim como «uma peça, uma roda na engrenagem, um elemento do agenciamento “empresa”, do agenciamento “Estado-providência”», e se considerarmos o capitalismo apenas do ponto de vista da «dominação», perdemos a especificidade das «modalidades de dessubjectivação». No primeiro artigo do dossiê «Natureza», «Pensar a natureza na época do Antropoceno», Davide Scarso explora as implicações do esboroar da fronteira entre natureza e cultura e sugere alguns caminhos que nos permitam pensar para lá dos termos dessa dicotomia. Irina Castro, no texto seguinte, através do questionamento de algumas das ideias dominantes associadas ao evolucionismo, contesta a ideia de uma natureza única e global para propor, no seu lugar, o que considera uma natureza alterglobal. No terceiro texto, «Natureza, normatividade, valores», Hermínio Martins aborda o papel que a natureza desempenhou nas principais tradições intelectuais do Ocidente no decurso dos dois últimos milénios, enquanto matriz global de normatividade, até ao seu gradual enfraquecimento na Modernidade e eventual fim pós-moderno, para reflectir sobre as múltiplas formulações éticas potenciadas por esse percurso e por factores antropogénicos actuais. Com o artigo de Paolo Virno, a reflexão concentra-se na imbricação entre natureza humana e teoria das instituições políticas. Partindo do esquema conceptual formulado por Carl Schmitt, correspondente a praticamente toda a moderna teoria da soberania estatal, o filósofo italiano problematiza as conclusões dele habitualmente extraídas para pensar a possibilidade de instituições políticas «pós-estatais». «Raças com crânios, ossos com histórias», o texto mais próximo de um estudo de caso, encerra o dossiê. Nele, o antropólogo Ricardo Roque olha para a produção científica de «raças» humanas realizada a partir da classificação e inventariação de crânios e ossadas humanas, especialmente comum no século XIX, analisando a importância que as histórias e discursos que acompanhavam esses materiais possuíam para o reconhecimento da sua objectividade científica. l 8
Download