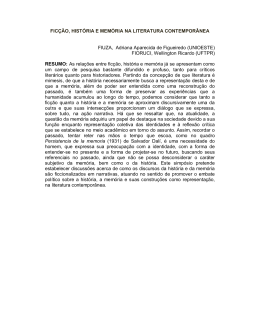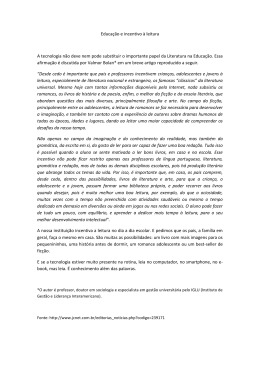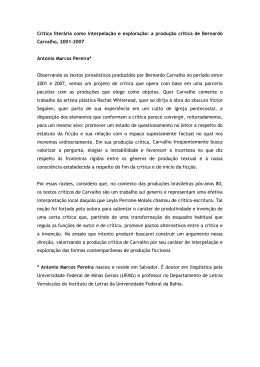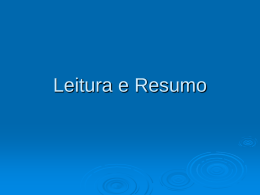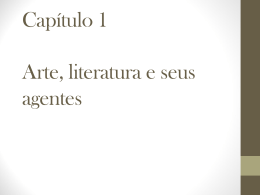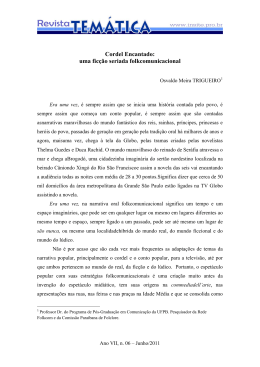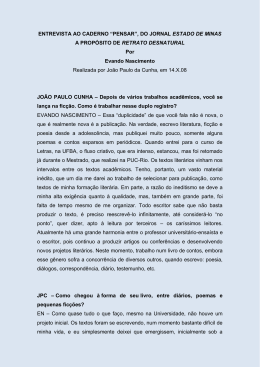“ERA UMA VEZ O DIREITO...”: ALGUMAS IDÉIAS SOBRE A RELAÇÃO DIREITO x FICÇÃO. Helena Maria Ramos de Mendonça1 “Do demo? Não gloso. Senhor pergunte aos moradores. Em falso receio desfalam o nome dele – dizem só: o Que‐diga. Vote, não... Quem muito se evita, se convive.” (Guimarães Rosa – Grande Sertão: veredas) O trecho que serve de epígrafe a este ensaio aparece na primeira página do romance de Guimarães Rosa, anunciando o dilema que angustia o personagem‐ narrador – Riobaldo ‐ na sua rotina de crenças e descrenças: não acreditar na existência do diabo é, por outro lado, acreditar na não‐existência do diabo e tal crença introduz aquilo que se pretende evitar, de forma irremediável, através de um discurso de negação, que exige tantas provas e contra‐ provas quanto o discurso de afirmação. A escolha desse pequeno recorte da obra acima mencionada parece ser particularmente pertinente na tentativa de iniciar uma discussão sobre a relação entre o direito e a subjetividade, afinal a história da teoria jurídica poderia ser contada como uma história de busca da objetividade e a conseqüente tentativa de exclusão da subjetividade. Da mesma maneira que acontece com o personagem de Rosa, esta negação do discurso jurídico, no que se refere à subjetividade, expõe a inevitabilidade desta convivência. Desta forma, o objetivo deste ensaio é traçar as linhas, indissociavelmente paralelas, que aproximam direito e subjetividade – mais especificamente a subjetividade que se revela através da ficção – demonstrando as estratégias que tentam ocultar tais linhas e as razões para sobre(im)por novas formas. Em primeiro lugar, faz‐se necessário compreender a relação entre subjetividade e ficção e entre estas e o direito. Diante das muitas possibilidades de abordagem do problema, optou‐se por trazer para a discussão a teoria formulada por Jeremy Bentham2 (Theory of Fictions) através da leitura realizada por Luiz Costa Lima, no livro O Controle do Imaginário: razão e imaginação no ocidente (LIMA, 1984, pp. 46‐51). Bentham parte do pressuposto da existência de dois tipos de entidades: as entidades reais e as entidades fictícias, onde esta última distingue‐se da primeira por ter origem na mente de cada indivíduo e, consequentemente, não possuir uma representação objetiva na “realidade”: 1 Doutora em Teoria e Dogmática do Direito pelo Programa de Pós‐ Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco ‐ PPGD/UFPE. 2 Filósofo e jurista inglês, nascido em 1748. “De nada que tem lugar, ou que se passa, em nossas mentes podemos dar conta, senão disso falando como se se tratasse de uma porção do espaço, com porções de matéria, algumas delas em repouso, outras nele se movendo. De nada, portanto, que tem lugar ou se passa em nossas mentes podemos falar ou pensar senão como Ficção” ( Bentham apud LIMA, 1984, p. 48) Mesmo sem proceder a uma investigação mais minuciosa do conceito de “subjetividade” (atividade que demandaria tempo e espaço não compreendidos pelos objetivos deste texto), é possível encontrar coerência na argumentação do jurista: partindo do simples conceito dicionarizado de “subjetividade”, obtém‐se que seu significado remete àquilo “que pertence unicamente ao pensamento humano, em oposição ao mundo físico, i.e., à natureza empírica dos objetos a que se refere”, ou seja, subjetividade é aquilo que Bentham opõe ao conceito de “entidade real” e classifica como “entidade fictícia”. O jurista inglês parece identificar “subjetividade” e “ficção” e tal coincidência torna‐se ainda mais razoável na medida em que se considera o conceito de “ficção” como anterior à expressão literária. Desta maneira, “ficção é sinônimo de imaginação ou invenção (...) [e] Literatura é a expressão dos conteúdos da imaginação, é ficção transmitida por meio da palavra escrita” (MOISÉS, 2004, p. 188). A literatura é um dos resultados da “expressão da ficção”, mas não se confunde com ela, pois a “ficção” encerra o significado mais amplo daquilo “que tem lugar ou se passa em nossas mentes”. Utilizando a teoria semiótica de Hjelmslev de oposição entre “expressão e conteúdo”, a ficção estaria inserida no campo da “substância do conteúdo”: “Trata‐se de uma esfera onde não há binarismos, onde ainda não temos formas de conteúdo. Portanto, uma esfera anterior ao que se denomina ‘sentido’. Deste modo, a fascinação recente com o imaginário, como uma zona prévia à estruturação do sentido, revela o interesse pela substância do conteúdo” (GUMBRECHT, 1998, p. 145) As distinções acima desenvolvidas são particularmente importantes, uma vez que permitem aproximar direito e ficção, sem necessariamente confundi‐lo com o campo específico da expressão literária. Se a ficção é algo que antecede a estruturação do sentido, ela pode ser representada por formatos diversos: tanto através da literatura, como do direito. Sendo assim, a pergunta a ser respondida a partir de agora deve ser “De que maneira é possível – ou necessário ‐ compreender o direito com algo ‘que tem lugar ou se passa em nossas mentes’”? Ou ainda: “De que maneira é possível – ou necessário – compreender o direito como ‘ficção’”? Ressalvando as várias possibilidades de abordagem e desdobramento do problema, optou‐se por utilizar a perspectiva privilegiada por Pierre Bourdieu em seu texto A força do direito: elementos para uma sociologia do campo jurídico (BOURDIEU, 2007, pp. 209‐254). Tratando dos elementos que concedem eficácia ao direito, Bourdieu (2007, pp. 244‐5) afirma: “Forma por excelência do discurso legítimo, o direito só pode exercer a sua eficácia específica na medida em que obtém o reconhecimento, quer dizer, na medida em que permanece desconhecida a parte maior ou menor de arbitrário que está na origem do seu funcionamento. A crença que é tacitamente concedida à ordem jurídica deve ser reproduzida sem interrupções e uma das funções do trabalho propriamente jurídico de codificação das representações e das práticas éticas é a de contribuir para fundamentar a adesão dos profanos aos próprios fundamentos da ideologia profissional do corpo dos juristas, a saber, a crença na neutralidade e na autonomia do direito e dos juristas” Apesar de parecer extenso para uma citação, o trecho acima mencionado torna‐se sintético ao permitir o entrelaçamento de questões relevantes e complexas em um curto espaço de texto. Desta forma, Bourdieu opera a seguinte relação: trabalho jurídico ‐ crença na neutralidade e autonomia do direito x arbitrariedade intrínseca ao funcionamento do direito. O que chama a atenção no raciocínio desenvolvido pelo sociólogo francês e serve de respaldo a um princípio de resposta à pergunta supra‐formulada é a percepção de que “uma das funções do trabalho propriamente jurídico” consiste em um esforço de “tornar real”, ou seja, o funcionamento do direito é edificado sobre um alicerce flexível, flutuante, avesso à imobilidade e ao controle absoluto (isto é real), no entanto, é necessário “fazer crer” que a estrutura que sustenta o jurídico é sólida e segura, neutra e autônoma, justa e racional (isto não é real). Ora, mas se “uma das funções do trabalho propriamente jurídico” é estabelecer uma crença, o direito, como algo “neutro e autônomo”, não tem lugar na realidade, mas é “algo que tem lugar ou se passa em nossas mentes”, portanto, de acordo com a classificação de Bentham, pode ser tratado como ficção. O estabelecimento de um sistema “justo e racional” é uma forma de expressão desta ficção que é o direito, assim como a literatura é uma forma de expressão do imaginário. Em passagem significativa do texto, Bourdieu (2007, pp. 247‐8) ilustra de maneira esclarecedora a relação entre a superfície (o que se pretende expor) e os gradientes mais profundos do funcionamento jurídico (o que é real): “Do mesmo modo que o verdadeiro responsável pela aplicação do direito não é este ou aquele magistrado, mas todo o conjunto dos agentes, (...), assim também o verdadeiro legislador não é o redator da lei, mas sim o conjunto dos agentes que, determinados pelos interesses e os constrangimentos específicos associados às suas posições em campos diferentes (...), elaboram aspirações ou reivindicações privadas e oficiosas, as fazem aceder ao estado de ‘problemas sociais’, organizam as expressões (...) e as pressões destinadas a ‘fazê‐las avançar’. É todo este conjunto de construção e de formulação das representações que o trabalho jurídico consagra (...)” De acordo com o argumento, é interessante perceber que “o” magistrado, “a” decisão ou “a” lei são apenas projeções, modos de elaboração ou de organização de estruturas anteriores que se originam da combinação de múltiplas variáveis (isto é o direito, ou ainda, parafraseando o quadro de Magritte, “isto não é o direito”). Após esta breve discussão sobre a pertinência do conceito de ficção aplicado ao jurídico, resta compreender o porquê da censura ao ficcional, ou seja, por que o modelo da razão, da formalização e da ordem é privilegiado em detrimento do modelo da criação3? E ainda: de que maneira tal camuflagem se processa? A primeira pergunta soa um tanto ingênua, senão escandalosa. Ora, a questão da razão ser superior àquilo que não se dobra tão docilmente aos seus critérios (como a criação, a imaginação e os símbolos) é uma daquelas perguntas a que se responde sem pensar como algo “óbvio”, afinal de contas tudo aquilo que se opõe à razão é facilmente classificado como “a louca da casa”, lembrando a referência que Malebranche fazia à imaginação. Observe‐se ainda o que Chevalier (2005, p. XXIII) afirma a respeito do conhecimento simbólico: “(o conhecimento simbólico) extravasa sempre os esquemas, mecanismos, conceitos e representações que lhe servem de sustentação. Jamais é adquirido para sempre, nem é idêntico para todos. Contudo, de modo algum confunde‐se com o indeterminado puro e simples.” A citação de Chevalier é suficientemente eloqüente para responder a questão, principalmente quando o que está em discussão é o conhecimento jurídico. Como foi visto anteriormente o direito se ocupa do convencimento da “neutralidade e autonomia” de seu objeto, por conseguinte, aquilo que “extravasa os esquemas”, ou seja, que não cabe em uma 3 O próprio Jeremy Bentham percebia a aproximação entre “direito” e “ficção” e a não via com bons olhos: “Bentham articula um veemente ataque ao jargão jurídico que os anos de estudo do Direito lhe transmitiram. Bentham se propõe a combater as ficções (fictions) que seriam utilizadas pelos legisladores, magistrados e advogados, visando a enganar seus adversários e a satisfazer interesses particulares.” (MARTINS, 2006, p. 95) forma ou “não pode ser adquirido para sempre, nem é idêntico para todos”, ou seja, não obedece previsivelmente a precedentes, nem a um critério de universalidade, não pode ser aplicado ao campo jurídico sem anular o próprio alicerce sobre o qual ele se fundamenta. Desta maneira, mesmo que se reconhecesse o quanto de subjetividade, ficção, criação ou símbolos estão contidos na “realidade” do direito, isto não poderia ser exposto sem destruir o propósito de ordem e racionalidade que o jurídico pretende representar. Ora, se o direito impõe a negação desta “realidade” como condição de validade de sua existência, o objeto do direito não é a “realidade”, nem tampouco a “verdade”, mas antes esta representação, esta razão ficcionalizada. Este é o primeiro motivo de privilégio do modelo da razão: o direito não tem alternativa, uma vez que privilegiar o modelo da criação seria puxar o tapete que está sob seus pés. Um segundo motivo que leva à eleição da razão é a possibilidade de promover conhecimento especializado (formalizado) através de seus agentes. Como foi visto anteriormente, o modelo da imaginação e da criação “extravasa os esquemas”, portanto não estabelece, de forma legítima, referências que favoreçam dicotomias entre “competentes x incompetentes” ou “profissionais x leigos”. Observe‐se o que Bourdieu (2007, p. 234) afirma a respeito da necessidade de tais divisões: “(...), à medida que um campo (...) se constitui um processo de reforço circular põe‐ se em movimento: cada progresso no sentido da ‘jurisdicização’ de uma dimensão da prática gera novas ‘necessidades jurídicas’, portanto, novos interesses jurídicos entre aqueles que, estando de posse da competência especificamente exigida (...) encontram aí um novo mercado: estes, pela sua intervenção, determinam um aumento do formalismo jurídico dos procedimentos e contribuem assim para reforçar a necessidade dos seus próprios serviços e dos seus próprios produtos e para determinar a exclusão de fato dos simples profanos, [...].” (Grifo do autor) A razão que proporciona a sensação de controle e ordem, exteriorizados através da forma, é o único modelo que pode legitimar a divisão entre aqueles que estão autorizados a agir em nome do direito e aqueles que devem obedecê‐los. O modelo da criação, ao “extravasar os esquemas”, reforça a sensação de desorganização, insegurança e caos ao não reconhecer a autoridade de “eleitos”. Finalmente, o terceiro motivo de eleição da razão está na origem das duas questões anteriores: o grupo e os cidadãos individualmente precisam acreditar que a atribuição que estão colocando sob a responsabilidade dos agentes jurídicos será tratada de forma segura, neutra e racional, ou seja, a eleição do modelo da razão não é algo imposto unilateralmente pelo direito, mas antes representa uma via de mão dupla: o direito representa aquilo que lhe é exigido, ou melhor, o direito corresponde à expectativa que lhe é dirigida e desta maneira o círculo se fecha (expectativa / agentes‐representantes da razão / correspondência necessária). Pensando neste intercâmbio de expectativas é interessante reservar um breve espaço do texto para destacar a metáfora do “jogo” como uma perspectiva de apreensão do jurídico. O direito é um “jogo” ao estabelecer dois campos opostos (não necessariamente oponentes), representando funções diversas dos papéis habitualmente exercidos no cotidiano4, reconhecendo mutuamente suas regras5 com a intenção de atingir uma finalidade abstrata (ou uma finalidade “que se passa em nossas mentes”): no caso do “jogo”, a vitória; no caso do direito, a justiça. Observe‐se que a finalidade é tão desejada pelo indivíduo que “entra no jogo” que a possibilidade ou ameaça de perder é superada pela expectativa da vitória. No direito acontece algo semelhante: a crença na ordem e na justiça, proveniente de uma instância superior, é tão firme e convicta que o indivíduo abdica da opção de resolver sua pretensão pessoalmente (valendo‐se de sua própria razão), delegando esta responsabilidade ao agente jurídico e assumindo o risco de submeter‐se a uma solução imprevista ou indesejada. Bourdieu (2007, pp. 229‐30) elabora a seguinte compreensão: “Entrar no jogo, conformar‐se com o direito para resolver o conflito, é aceitar tacitamente a adoção de um modo de expressão e de discussão que implica a renúncia à violência física e às formas elementares de violência simbólica, como a injúria. É também, e sobretudo, reconhecer as exigências específicas da construção jurídica do objeto: dado que os fatos jurídicos são produto da construção jurídica (e não o inverso), uma verdadeira retradução de todos os aspectos do ‘caso’ é necessária para ponere causam, como diziam os romanos, para constituir o objeto da controvérsia enquanto causa [...]” Porém, qual seria a explicação para esta necessidade de ordem e justiça que faz o indivíduo descrer de si e do “outro”, colocando toda sua fé em algo distante de sua realidade? Uma resposta que parece fazer sentido é a necessidade de unidade contrária a sensação de fragmentariedade: “O justo cumpre em si mesmo a função da balança, quando os dois pratos se equilibram perfeitamente, face a face. O justo se encontra, portanto, além das 4 Segundo Huizinga (1980, p. 16) o caráter “exterior à vida habitual” é um dos principais atributos formais do jogo. 5 O cumprimento da lei como regra estabelecida pelo direito em relação ao indivíduo e a prestação jurisdicional em sentido oposto. oposições e dos contrários, realiza em si a unidade e, por isso, pertence já, de certo modo, à eternidade, que é una e total, ignorando a fragmentação do tempo.” (CHEVALIER, 2005, p. 527) Note‐se que a unidade, a “ausência de binarismos” foi uma das referências utilizadas anteriormente para definir a “substância de conteúdo”, de Hjelmslev, dirigindo o pensamento para a subjetividade, o imaginário e a ficção. Desta forma, a idéia de justiça corresponde perfeitamente àquilo que “se passa em nossas mentes”, representando uma “ficção ideal”, uma noção adequadamente paralela, complementar ao imaginário e ao subjetivo. De acordo com o que foi proposto no princípio do texto, a terceira e última parte deste ensaio possui, ainda, a pretensão de compreender a maneira pela qual o direito opera o processo de “mostrar‐se racional” ou de camuflar a subjetividade que lhe é inerente. Para tanto, optou‐se por retornar à leitura de Costa Lima no que diz respeito aos mecanismos de legitimação da ficção. No capítulo especificamente reservado ao Controle do imaginário, Lima (1984, pp. 12‐3) observa que o “movimento de reconhecimento da subjetividade parte do Século XII” em oposição à vontade ou ao sentido divino absoluto que aos poucos perdia sua autoridade: “Na proporção em que se deixa de crer que a verdade foi inscrita pela divindade nas coisas do mundo, revelando‐se então por sinais inequívocos, cada fenômeno passa a admitir vários sentidos e ao sujeito passa a caber a apreensão do adequado. A subjetividade adquiria, por assim dizer, uma função de suplemento: não sendo mais suficiente a ordem cósmica tradicional, religiosamente justificada e teologicamente formulada, ao sujeito individual cabia a descoberta da razão orientadora.” A autoridade passava às mãos do indivíduo: este era um movimento inevitável, no entanto perigoso, uma vez que reconhecia a potencialidade do individual e, desta forma, precisava ser controlado. Alguns artifícios foram eleitos para servir de parâmetro ao exercício da subjetividade, ou seja, alguns artifícios foram resgatados para buscar “objetividade na subjetividade”. Desta maneira, o indivíduo estava autorizado a expor seu pensamento, desde que este processo representasse a “verdade”; fosse colocado de forma eloqüente, oposta à oralidade e ao saber do homem leigo ou comum; não inspirasse nenhuma ameaça ao decoro (instrumento através do qual o “verossímil recebia sua carga ética” (LIMA, 1984, p. 38)) e estivesse submetido a algum modelo universalmente aceito, ou seja, estivesse submetido a alguma referência formal (no caso da análise de Lima, a referência que servia de legitimação à ficção era a Poética dos antigos, de Aristóteles e Horácio). Note‐se que Costa Lima produz um texto que problematiza os mecanismos de “controle do imaginário”, ou seja, a legitimação ficcional em apreço refere‐se ao poético especificamente, no entanto a aproximação com os artifícios de legitimação do direito são evidentes: em primeiro lugar, ao estabelecer limites ao subjetivo (o limite da verdade, da eloqüência, do decoro e da forma), criava‐se como condição de existência desses limites a necessidade de uma autoridade apta a desenhar estas fronteiras e a julgar os elementos que mereceriam estar incluídos ou excluídos de seu território e, em segundo lugar, os critérios expostos identificam‐se com os valores pretendidos pela idéia de direito. Ratificando tal aproximação, Lima estabelece uma comparação entre o controle do imaginário e a mudança no processo judicial no Séc. XII, a partir da leitura da obra Medieval French literature and Law, de Howard Bloch. Afirma Lima (1984, p. 14): “Esta forma de manifestação da verdade [manifestação da verdade através de sinais divinos] começa a ser corrompida no Século XII e ‘significativamente, o uso da perícia criminal se torna crescentemente freqüente nas documentações processuais do fim do Século XIII e XIV’.” (Bloch apud LIMA, 1984, p. 14) Ou seja, o critério da verdade orientado por uma autoridade competente para comprovar tal realidade consolidava‐se como um mecanismo de legitimidade tanto da ficção poética, quanto jurídica. Em relação ao destaque imposto à eloqüência e à submissão a um modelo previamente estabelecido, o autor de Vida e Mimesis observa: “(...) o veto à ficção não é a subjetividade em si mesma (...); para esta se abre uma possibilidade de legitimação, alcançável desde que ela se abrigue em um modelo aceitável pelos doutores e leigos, os humanistas, e pelos representantes do pensamento eclesiástico. Como entretanto consegui‐lo? Mostra‐se de imediato um ponto de acordo: ambas as posições consideram a nobreza de linguagem, a elegantia sermonis, condição indispensável para a obra que demandam.” (LIMA, 1984, p. 26) (Grifo meu) Percebe‐se, desta maneira, que os dois critérios entrelaçavam‐se, ou seja: o modelo que servia de referência à ficção poética era um modelo que previa o “sutil escrever”. No direito, porém, estes critérios demonstram aparência diversa: como foi visto anteriormente, a possibilidade de promover conhecimento formalizado é a oportunidade de gerar a dicotomia entre indivíduos juridicamente competentes e leigos, portanto a linguagem diversa daquela utilizada por homens e mulheres comuns é um critério permanente na vida jurídica. Não obstante, os modelos que servem de referência à ficção jurídica variam segundo determinadas demandas sociais. É neste contexto que servem de referência ao direito os “modelos” do direito natural, do positivismo jurídico, da hermenêutica jurídica, ou ainda, da lógica jurídica. Walter Benjamin (1994, p.169) afirmava que “[...] no interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência”. Sendo assim, o direito acompanha as mudanças de “forma de percepção das coletividades humanas”, adaptando‐se através de novos mecanismos de legitimação: foi assim com a decadência do positivismo e renascimento do direito natural pós‐ segunda guerra mundial, assim como aconteceu com as tentativas de renovação do direito através da “Teoria Fenomenológica”; “Estruturas lógico‐objetivas”; “Natureza das coisas”; “Neohegelianismo”; “Teoria Analítica do Direito”; “Teoria das normas”; “Lógica Jurídica”; “Tópica”; “Retórica” e “Hermenêutica”, como ensina Kaufmann (2002, pp. 121‐156): “Temos de encontrar um caminho para além do direito natural substantivo‐ ontológico e do positivismo legalista‐funcionalista (...). A tarefa que nos é dada é a limitação da arbitrariedade na legislação e na aplicação da lei; está em causa a descoberta da um elemento ‘indisponível’ no direito” Observe‐se que a utilização da palavra “caminho” poderia, perfeitamente, ser substituída por “um novo modelo” ou um “modelo alternativo”, ou seja, diante das necessidades próprias de determinado momento histórico, o direito precisa encontrar argumentos convincentes que compatibilizem sua existência aos desejos do grupo. Neste sentido, é interessante perceber a coincidência entre o desenvolvimento do que se convencionou chamar de “lógica jurídica” e a atenção crescente reservada às teorias da interpretação. É como se a “lógica jurídica” pretendesse reagir com sua objetividade e precisão à ameaça de indeterminação e insegurança gerada pela valorização da interpretação. Citando J.D. March, Herbert Hart (2007, p. 17) utiliza um esclarecedor exemplo para expor as dificuldades de aplicação de uma “lógica” ao direito: “Se tanta incerteza pode surgir nas humildes esferas do direito privado, quantas mais não encontraremos nas grandes frases grandíloquas de uma Constituição, por exemplo nos Quinto e Décimo‐Quarto Aditamentos à Constituição dos Estados Unidos, quando se estatui que ninguém será ‘privado da vida, liberdade ou propriedade sem a observância dos trâmites legais’? Acerca disto disse um autor que o verdadeiro sentido desta frase é na realidade bastante claro. Significa que ‘nenhum w será x ou y sem z, sendo que w,x,y e z podem assumir quaisquer outros valores dentro de um extenso conjunto’.” A lógica jurídica pode fornecer segurança à forma, mas o direito não pode prescindir da discussão do conteúdo, uma vez que seu núcleo, de acordo com o raciocínio desenvolvido por este ensaio, é exatamente aquilo que é anterior ao sentido (ou à forma): a sensação de unidade exposta pelos valores da “ordem” e da “justiça”. Se alguma “lógica” pode ser perseguida pelo direito, a alternativa parece ser uma “lógica do imaginário”, uma “lógica dos símbolos”. Dando continuidade à afirmação anteriormente citada, Chevalier (2005, p. XVIII) acrescenta que o “símbolo” “[...] é, portanto, muito mais do que um simples signo ou sinal: transcende o significado e depende da interpretação que, por sua vez, depende de certa predisposição”. Tal argumento pode ser complementado pela perspectiva de Tzvetan Todorov (apud CHEVALIER 2005, p. XXIV) que observava no “símbolo” um “fenômeno de condensação”: “Um só significante induz‐nos ao conhecimento de mais de um significado; ou, para simplificar, o significado é mais abundante que o significante”, ou seja, o “significante”, representante imediato do “símbolo”, é acessível a todos que possuem uma espécie de “canal de decodificação” (a “predisposição” destacada por Chevalier), e por esta razão os “significados” são múltiplos. Estas noções encaminham o raciocínio na direção daquelas que são classificadas como as “duas características fundamentais dos símbolos” e que dão origem à “lógica do imaginário”, segundo Jean Chevalier (2005, p. XXXVII): são os atributos simbólicos da “constância” e da “relatividade”. Esclarece o autor: “Conforme já assinalamos, os símbolos apresentam certa constância na história das religiões, das sociedades e do psiquismo individual. Estão ligados a situações, pulsões e conjuntos análogos. Evoluem de acordo com os mesmos processos. [...]. A constância dessas criações está numa relatividade. [...]. Varia com cada sujeito, com cada grupo e, em muitos casos, com cada fase de sua respectiva existência.” Compreender a “constância” e a “relatividade” do simbolismo da “justiça” perante as “formas de percepção das coletividades humanas” seria um princípio sugestivo para o desenvolvimento de uma “lógica do imaginário jurídico”, mas o desenvolvimento desta reflexão exigiria um novo começo, idéia incompatível com o espaço reservado para a última página de um ensaio. Referências Bibliográficas: ‐BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica. Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994. p.165‐196. ‐BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 11ª Ed. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2007. ‐CHEVALIER, Jean e GUEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. 19ª Ed. Rio de Janeiro : José Olympio, 2005 ‐GUMBRECHT, Hans Ulrich. O corpo e forma. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1998. ‐HART, Herbert. O Conceito de direito. 5ª Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2007. ‐HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. 2ª Ed. São Paulo: Perspectiva, 1980. p.3‐33. ‐KAUFMANN, Arthur. Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. p. 121‐156. ‐LIMA, Luiz Costa. O Controle do Imaginário. São Paulo: Brasiliense, 1984. p.11‐72. ‐MARTINS, Aloysio Augusto Paz de Lima. Jeremy Bentham. In: Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS; Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. p.94‐6. ‐MOISÉS, Massaud. Ficção. In: Dicionário de Termos Literários. 12ª Ed. São Paulo: Cultrix, 2004.
Baixar