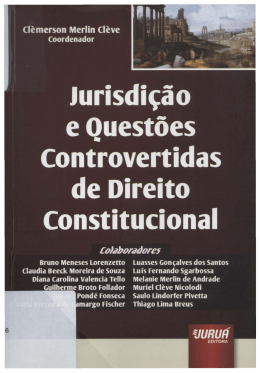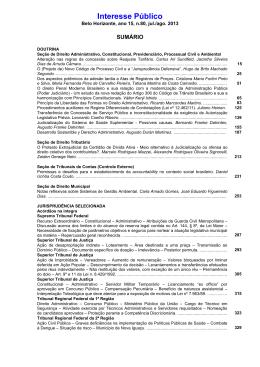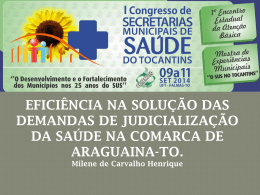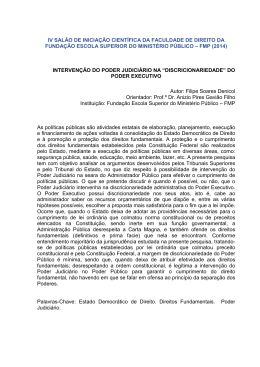FACULDADE DE PARÁ DE MINAS Curso de Direito Sérgio Eustáquio Barros O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE Pará de Minas 2015 Sérgio Eustáquio Barros O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, como requisito parcial para conclusão do Curso de Direito. Orientador: Renato Corradi Bachelaine. Pará de Minas 2015 Sérgio Eustáquio Barros O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, como requisito para elaboração de TCC do Curso de Direito. Aprovado em _____ / _____ / _____ __________________________________ Professor Renato Corradi Bechelaine Especialista em Direito Público pela FADOM __________________________________ Professor Evandro Alair Camargos Alves Mestre em Direito pela Universidade de Itaúna. Especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes – UCAM O presente trabalho, elaborado principalmente a partir de pesquisa bibliográfica, sobre o tema “O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE”, tem o objetivo de abordar as decisões judiciais no campo da saúde e seus respectivos impactos financeiros no orçamento estatal e, consequentemente, nas políticas públicas de atenção primária, individual e coletiva, especialmente quanto à avaliação das perspectivas de futuro para a sociedade brasileira. Pretende-se, ainda, contribuir para as necessárias discussões específicas sobre esse assunto no meio científico, pois, o estudo deste tema se revela essencial sob a perspectiva financeira do Estado para o futuro, já que os recursos são sempre escassos diante das crescentes demandas sociais, sobretudo na área da saúde. Diante da relevância e complexidade do tema, demonstrase inadiável e inevitável que haja discussão acerca do tema para viabilizar a racionalização no uso dos recursos existentes, de forma a garantir um atendimento de saúde minimamente eficiente e igualitário à população, de maneira a realizar a garantia constitucional, sem, contudo, inviabilizar a atuação estatal nas mais diversas áreas sociais. Palavras-chave: saúde. Judicialização. escassez de recursos. direitos fundamentais. orçamento. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 6 2 DIREITOS SOCIAIS E SAÚDE..........................................................................................8 3 CONCEITO JURÍDICO DE SAÚDE................................................................................13 3.1 Saúde âmbito dos Direitos Fundamentais ...................................................................... 13 3.2 Saúde no Direito Internacional........................................................................................16 3.2.1 Direito Internacional Público e Saúde............................................................................17 3.2.2 Direito à saúde no Direito Comparado........................................................................... 19 4 BASE CONSTITUCIONAL E LEGAL DO DIREITO À SAÚDE.................................22 4.1 Evolução do Direito Sanitário nas Constituições Brasileiras.......................................22 4.1.1 Constituição do Império do Brasil de 1824.....................................................................22 4.1.2 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891.................................23 4.1.3 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934.................................23 4.1.4 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937.......................................................24 4.1.5 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946.......................................................24 4.1.6 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 e EC 01/69............................25 4.2 Direito sanitário na Constituição de 1988......................................................................26 4.3 Direito Sanitário na legislação infraconstitucional........................................................29 4.3.1 Lei Complementar 141/2012............................................................................................29 4.3.2 LOS...................................................................................................................................31 4.3.3 Saúde suplementar...........................................................................................................33 5 LIMITAÇÕES DO ESTADO.............................................................................................35 6 ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO............................................................................39 6.1 Análise de casos submetidos ao Judiciário......................................................................44 6.1.1 Direito de defesa oposto ao Estado.................................................................................44 6.1.2 Medicamento de alto custo não fornecido pelo SUS – legitimidade do MP....................46 6.1.3 Saúde Suplementar...........................................................................................................47 7 CONCLUSÃO......................................................................................................................50 REFERÊNCIAS 6 1 INTRODUÇÃO Na elaboração do presente Trabalho de Conclusão de Curso: O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, realizado a partir de fontes de pesquisa bibliográficas, jurisprudenciais e curso específico de Direito à Saúde, patrocinado pelo TJMG, realizado por intermédio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, todos ao final referenciados, e partindo da premissa de que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º, CRFB/88), dentre as quais inclui-se o direito subjetivo, individual e coletivo à saúde, buscou-se a formação de subsídios sólidos, no decorrer dos capítulos deste trabalho acadêmico, para verificação dos entraves para a integral realização desse importante direito, bem como para aferir a atuação Poder Público em relação à promoção de soluções viáveis para o complexo problema que se apresenta diante de toda a sociedade brasileira. Daí a relevância do tema, pois, diante da realidade do sistema de saúde nacional, o indivíduo busca no Poder Judiciário o cumprimento do comando constitucional, o que pode acarretar consequências desastrosas à coletividade, ante o impacto deslocativo do orçamento ocasionado por eventual determinação judicial. Em princípio, procedemos ao estudo da alocação do direito sanitário dentre os direitos fundamentais e sociais, conforme previsão constitucional, bem como o desenvolvimento, sob a perspectiva do objeto deste trabalho, de conceito dos direitos sociais e do direito à saúde, relacionando-os à consecução do principio constitucional máximo da dignidade da pessoa humana, estabelecendo os principais desafios a serem superados pelo Poder Público para cumprir os comandos constitucionais, sob pena de ineficácia do próprio texto constitucional. No intento de fixar parâmetros para a eficaz realização do direito à saúde, promovemos pesquisa acerca do direito sanitário no Direito Internacional Público e no Direito Comparado, explicitando a forma como as organizações internacionais e os estados estrangeiros tratam do direito em questão nos seus principais diplomas legais. Seguindo, procede-se a analise do direito sanitário em todas as constituições nacionais no decorrer dos tempos, para compreender as razões de tamanha importância que o legislador constitucional originário conferiu ao direito sanitário na atual Carta Magna brasileira. Para encerrar esta primeira parte do trabalho, realizamos estudo acerca da legislação infraconstitucional acerca do assunto aqui tratado, pois, embora comumente os fundamentos de ações judiciais sobre saúde sejam, como não poderiam deixar de ser, eminentemente constitucionais, o próprio texto constitucional estabeleceu que o direito sanitário deve ser regulamentado “na forma da Lei”. Nesse ponto do estudo, procedemos ao estudo da saúde suplementar, que, atualmente, além de prevista constitucionalmente, tomou dimensões de enorme relevância na realidade dos brasileiros, como demonstrados por seus números estatísticos trazidos no bojo desse trabalho, 7 apresentando reflexos diretos nas contas públicas quando seus usuários contribuem por anos (ou décadas) com seus respectivos planos de saúde e têm determinado tratamento negado, se veem obrigados, assim, a recorrer ao sistema público para a realização de tratamento de alto custo, o que, aliás, ocorre por via judiciária, desconsiderando os meios próprios ditados pelo SUS, dando ensejo à denominada universalidade excludente do acesso à saúde. Assim, a normatização infraconstitucional tem fundamental importância para a devida realização do direito sanitário, bem como deve ser observado pelos advogados, defensores públicos e promotores, antes mesmo da propositura da ação judicial, assim como pelos magistrados nas decisões judiciais, as quais são aqui analisadas sob as perspectivas da micro e macrojustiça, de forma a realizar, de fato, e não apenas de forma, a igualdade tão almejada pela CRFB/88 e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana. Visto o direito posto em abstrato, passa-se à segunda parte do trabalho especificando as obrigações do Estado para garantir o direito sanitário de qualidade, expondo as principais dificuldades em realizá-lo. Para tanto, destacamos as alterações sociais e culturais operadas na sociedade brasileira, como, v.g., o significativo crescimento da expectativa de vida do brasileiro e o respectivo impacto financeiro aos cofres públicos dessas modificações sociais e culturais. Procedemos também à análise dos efeitos da saúde na seara privada em relação ao Poder Público, pois ao particular também é concedido o direito de exploração do mercado sanitário, mediante observância do regramento legal, bem como constatamos que, não obstante a legislação pertinente, o particular também se utiliza do Poder Judiciário para obter financiamentos indevidos para pesquisas ou para inserir fraudulentamente produtos, serviços e medicamentos muito caros, e nem sempre eficazes, no tratamento de determinadas patologias. Buscamos ainda analisar a escassez de recursos, financeiros, de pessoal e materiais do Estado no que se refere à saúde, analisando os efeitos da teoria denominada “reserva do possível”, já que esta afastada individualmente no caso concreto, é imperativamente imposta à coletividade, sob uma perspectiva de macrojustiça. Ao analisar a atuação do Poder Judiciário, já num terceiro momento desta pesquisa científica, estudamos as limitações dos magistrados para decidir processos relacionados à saúde, tendose em vista o alto grau de especificidade do tema, e as medidas que o próprio Poder Judiciário tem adotado para minimizar os efeitos negativos ao erário público, bem como as ações multidisciplinares apresentadas pelo Poder Judiciário, pois não raros casos levados à justiça revelam situações nas quais a justiça tardia pode não só configurar injustiça, mas a própria violação do direito à vida de determinado indivíduo. Por outro lado, o dilema do magistrado 8 surge quando, no afã de garantir a proteção constitucional ao indivíduo, em última análise, prejudica vários outros usuários da saúde pública e, ainda, involuntariamente, favorece financeiramente aos particulares que com extrema habilidade desvirtuam os fatos de maneira a comercializar seus produtos ou financiar pesquisa de medicamentos e tratamentos experimentais. Para encerrar a terceira parte do trabalho, procedemos à análise de alguns casos concretos levados ao Poder Judiciário, de forma a analisar se houve, ou não, negativa do Estado em fornecer devidamente a prestação sanitária, conforme a normatização nacional, ou se nesses casos o Poder Judiciário foi utilizado como instrumento para fraudar o erário ou para que um indivíduo conseguisse uma vantagem pessoal sobre os demais que aguardam na “fila” para realizar determinados tratamentos de custo e complexidade elevados. Por fim, com o intuito de contribuir para a inevitável e sempre atual discussão sobre Direito e saúde pública, procedemos às considerações finais, trazendo à baila as principais soluções já encontradas para as questões sanitárias e seus respectivos impactos financeiros e sociais, bem como buscamos explicitar um prognóstico dos sentidos aos quais se direcionam as ações sobre saúde no Direito brasileiro para, através da realização do direito humano fundamental à saúde, garantir o inerente direito à vida digna. 2- DIREITOS SOCIAIS E SAÚDE Sendo o foco do presente Trabalho de Conclusão de Curso o direito à saúde, revela-se importante tecer considerações relevantes, ainda que breves, acerca dos direitos sociais no tempo e no espaço, sobretudo no Brasil, pois o direito à saúde está inserido no rol de direitos sociais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no título que trata dos direitos e garantias fundamentais, logo, entender o desenvolvimento dos direitos sociais no tempo e no espaço, partindo da experiência sociológica que alavancou seu desenvolvimento, fornece fundamento sólido sobre o qual edificamos o desenvolvimento da ideia central deste trabalho acadêmico. Por esta razão, neste capítulo, desenvolve-se breve histórico dos direitos sociais no âmbito jurídico internacional, elegendo o conceito mais adequado ao desenvolvimento da pesquisa em curso e apontando os principais desafios ainda a ser superados, a fim de subsidiar os capítulos seguintes que tratarão especificamente do direito à saúde, analisando as limitações orçamentárias do Poder Público brasileiro à realização do 9 direito sanitário subjetivo, individual e coletivo, e a atuação do Poder Judiciário, bem como os respectivos efeitos de suas decisões dentro da relação processual individual e à coletividade, para garantir a concretização deste importante direito constitucionalmente garantido. Historicamente, os direitos sociais se desenvolveram lentamente e de forma descontínua no decorrer dos tempos, sempre partindo, cada nova conquista, de necessidades sociais diante das manifestações de arbitrariedade e/ou omissões estatais, por meio de seus governantes (imperadores, monarcas, ditadores, etc.), ou do abuso do poder econômico. Como exemplo, cita-se a Revolução Francesa, baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que somente foi concretizada após décadas de descontentamento da população, sobretudo da ascendente burguesia, com o autoritarismo do governo monárquico. Até o início da Idade Contemporânea, cujo marco histórico inicial foi a Revolução Francesa (1789), as referências históricas a direitos fundamentais, embora importantes, foram fragmentadas e marcadas por retrocessos, quase sempre dirigidas à solução de problemas relacionados à pobreza extrema, exclusão social e lutas pela subsistência e por segurança material dos indivíduos e de suas famílias. Após a citada revolução, percebe-se desenvolvimento mais consistente dos direitos fundamentais, ainda que com alguns retrocessos, observando-se, em princípio, direitos fundamentais de cunho negativo para o Estado, ou seja, obrigação de abstenção do Estado e direito de resistência do indivíduo em relação ao Estado, como, v. g., o direito natural do indivíduo à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a Lei. Assim, a atuação estatal se limitava na garantia de segurança do indivíduo e de suas próprias fronteiras, abstendo-se de intervir nas relações particulares individuais. Todavia, a primeira Constituição Francesa promulgada pós-revolução (1791) já continha tímida referência a direitos sociais no tocante a assistência aos pobres e à instrução, porém esta constituição estabelecia a Monarquia Parlamentar, ficando o Rei limitado pela atuação do Poder Legislativo (Parlamento), e este era escolhido através do voto censitário, o que significa que o poder político continuava nas mãos de uma minoria, qual seja: uma parte privilegiada da burguesia. Segundo Fabiana Okchstein Kelbert, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Constituição Francesa de 1791 poderiam ter sido mais abrangentes no que se refere aos direitos sociais, já que Emmanuel Joseph Sieyès (1748/1836), representante da Igreja e da aristocracia francesa que participou ativamente da criação da Assembleia Nacional Francesa de 1789, foi responsável pela elaboração de um projeto de Constituição, o qual estabelecia 10 que o Estado deveria apoiar aos seus cidadão em tudo o que fosse possível e não apenas oferecer defesa contra inimigos externos e contra abusos do poder das autoridades internas, ideais estes que foram repetidos em seu Catálogo de Direito Humanos (KELBERT, 2011). Entretanto, tais ideais não serviram de fundamento para a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e nem para a Constituição Francesa de 1791, fato atribuído pela doutrina à insuficiência de força para realização desses direitos naquele momento. Da mesma forma, a Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776) continha previsões de cunho social que delineava ideia de igualdade, entretanto ignorou a grave situação da exploração de escravos, bem como não promoveu a inclusão das mulheres, por exemplo. Assim, percebe-se que as revoluções que sucederam o absolutismo, embora trouxessem consigo a semente dos direitos sociais e concentrassem-se nas liberdades individuais (abstenção do Estado), ainda mantiveram as classes mais exploradas em situação de exclusão social. Nesses termos, a visão do Estado como opressor quando intervém nas relações particulares perdeu força, pois a igualdade conquistada com o que se convencionou chamar Estado Liberal foi apenas formal, ainda assim, nem mesmo nesse aspecto formal foi absoluta. Materialmente a classe proletária não progrediu, uma vez que o poder econômico da burguesia, sobretudo com a Revolução Industrial, reprimia brutalmente a classe trabalhadora, pois, trabalhadores e empregadores elaboravam contratos que deveriam simplesmente ser cumpridos (pacta sunt servanda), mercantilizando o trabalho, ou seja, tratando-o como mercadoria sujeita à lei da oferta e procura, em razão de que os mencionados contratos eram entabulados a partir de uma perspectiva míope de igualdade, sendo assim, desconsiderava a individualidade do trabalhador. Tal situação fática acarretou, segundo GOTTI, na luta pela melhoria das condições dos trabalhadores e a percepção das distorções intoleráveis a que levavam a aplicação das noções jurídicas típicas do liberalismo às relações la orais onduziram à derro ada desse modelo, e à sua substituição por um novo, ao qual – dada sua articulação como resposta ao conflito que então se denominava „questão so ial‟ – se deu o nome de Direito social. (GOTTI, 2012, p.35) Sob influência marxista-leninista, as constituições do século XX, paulatinamente, inseriram em seus textos direitos sociais, notadamente as constituições Mexicana de 1917, a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado da República Soviética Russa, em 1918, a Constituição de Weimar de 1919 e a Constituição Espanhola de 1931. Dessa forma, o Estado abandona sua posição liberal de abstenção para firmar uma posição ativa, positiva e intervencionista, sem abandonar a igualdade formal, mas buscando também uma igualdade material entre os indivíduos, de forma a atenuar desigualdades sociais então 11 existentes. Assim, o Estado busca garantir direitos sociais aos indivíduos, tais como o direito à saúde, educação, condições mínimas de trabalho, previdência social, dentre outros. Surge o Estado Social, intervencionista, que se vale de políticas públicas (programas de ação governamental) para garantir os chamados direitos de segunda geração – Direitos Sociais. Cumpre esclarecer, que séculos de desigualdades não se resolvem simplesmente com a tentativa de colocação em prática de uma teoria, assim, o Estado Social também não prospera. Diversas são as razões apontadas pelos estudiosos, dentre as quais destacamos as dificuldades econômicas dos estados para garantir os direitos sociais, os governos autoritários observados em vários países nesse período, as transformações pelas quais as sociedades passam com o decorrer do tempo, o processo de globalização e, com ele, o neoliberalismo, pregando a abstenção estatal e a maximização dos lucros, etc.. Entretanto, o modelo neoliberal agrava as desigualdades sociais, pois suprime direitos sociais e intensificação de um processo de exclusão social e econômico de grande parcela da população. Somente no período pós-guerra (pós 2ª Guerra Mundial), com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros pactos internacionais, os estados foram reconhecendo em suas constituições os princípios supremos da Dignidade da Pessoa Humana e da Igualdade. Segundo Paulo Bonavides, citado por Kelbert, “o Estado Social do constitucionalismo democrático da segunda metade do século XX apresenta-se como mais adequado a concretizar a universalidade dos valores abstratos das Declarações de Direitos Fundamentais.” (BONAVIDES, apud KELBERT. 2011. p.26) Dessa forma, como se percebe, no decorrer da história cada conquista de direitos, sejam estes individuais ou sociais, decorreu de momentos sociais nos quais determinadas sociedades tinham a dignidade de determinados grupos ofendida, sobretudo no âmbito trabalhista, o que se refletiu nas lutas de classes. No Brasil, embora tenha havido algumas referência a direitos sociais nas constituições nacionais, a atual Carta Magna é a principal protetora dos direitos sociais, como se verá em tópico próprio. Como afirma o Ministro Eros Gral, citado por GOTTI, a Constituição de 1988 define “um modelo econômico de em-estar. sse mode o desenhado desde o disposto nos seus arts. e at o quanto enun iado no seu art. não pode ser ignorado pelo Poder Executivo [muito menos pelos Poderes Legislativo e Judiciário, diga-se de passagem]”... (GRAL apud GOTTI, 2012, p. 44). 12 Considerando o fundamento máximo da Constituição Federal de 1988 - Dignidade da Pessoa Humana -, em princípio, podemos conceituar direitos sociais como sendo o resultado de reivindicações de caráter social, que materializa direitos assegurados pelo Estado aos indivíduos para viabilizar a realização da igualdade material e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana. Em qualquer país do mundo o principal obstáculo à concretização plena dos direitos sociais é seu alto custo, principalmente no que se refere à saúde. Ao enfrentar o tema, Kelbert, com amparo em majoritária doutrina, afirma que “todos os direitos têm custos. Ao contrário do que já se pensou, não apenas os direitos a prestações positivas, mas mesmos os direitos a prestações negativas envo vem ustos.” (KELBERT, 2011, p. 66). Ao custo financeiro da realização dos direitos sociais, em termos de Brasil, acrescente-se a corrupção dentro e fora do Poder Público, a enorme dimensão territorial do País, as acentuadas diferenças sociais, culturais e regionais existentes, além do envelhecimento da população brasileira, dentre outros. Havia entendimento doutrinário de que somente os direitos constitucionalizados de primeira geração/dimensão seriam de aplicação imediata, pois requeriam apenas atuação negativa do Estado para garantir as liberdades individuais, ao passo que os direitos sociais (segunda geração/dimensão) seriam de aplicação mediata, dependendo de mediação legislativa e políticas públicas, já que geram ônus financeiro ao Estado, entretanto, tal posicionamento foi superado sob o argumento de que a igualdade prestigiada pela constituição seria superficial com a distinção de aplicabilidade entre direitos de primeira e segunda dimensão. Por fim, quando o Estado se omite quanto em relação às suas obrigações constitucionalmente estabelecidas para a garantia dos direitos sociais, não resta alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para forçar o Poder Público (Poder Executivo e/ou Legislativo) ao cumprimento do comando constitucional. Entretanto, a satisfação de um direito pela via judicial nem sempre é a melhor alternativa para a sociedade de uma forma geral, pois ao proferir uma decisão, em regra, o magistrado se restringe à análise das questões jurídicas individuais e subjetivas da lide (microjustiça), não levando em consideração as disposições orçamentárias do ente político e seus efeitos à coletividade, podendo, assim, esgotar a capacidade orçamentária do ente estatal, comprometendo, com isso, a realização de outros direitos fundamentais e ainda, como se verá no decorrer deste estudo, favorece a utilização do Poder Judiciário para fraudar o erário estatal. Corroborando este posicionamento, entende Gustavo Amaral que: 13 Nenhum direito cuja efetividade pressupõe um gasto seletivo dos valores arrecadados dos contribuintes pode, enfim, ser protegido de maneira unilateral pelo Judiciário sem considerações às consequências orçamentárias, pelas quais, em última instância, os outros dois poderes são responsáveis. (AMARAL, 2001, p. 78) 3 CONCEITO JURÍDICO DE SAÚDE Neste tópico busca-se conceituar juridicamente o direito à saúde a partir de sua inserção dentre os direitos fundamentais sociais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, demonstrando uma comparação com as disposições contidas sobre o tema em algumas constituições estrangeiras e no âmbito do Direito Internacional Público, bem como sua evolução nas constituições nacionais, com a finalidade de analisar eventual existência de parâmetros externos e estabelecer limites aos quais o Estado estaria vinculado à sua garantia. 3.1 Saúde no âmbito dos direitos fundamentais Segundo Cury, “o direito a saúde é o principal direito fundamental social encontrado na Lei Maior brasileira, diretamente ligado ao princípio maior que rege todo o ordenamento jurídico pátrio: o princípio da dignidade da pessoa humana.” (CURY. 2005. p. 30). O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana se refere a princípio matriz da Constituição Federal de 1988, de difícil conceituação, do qual decorrem todos os outros, portanto, importante relacioná-lo aos demais direitos fundamentais. Assim, tamanha é sua importância que logo no artigo 1º, inciso III, o Poder Constituinte Originário o inseriu como fundamento da República Federativa do Brasil. Reafirmando o princípio da dignidade da pessoa humana, a CRFB/88 determina como objetivos fundamentais constituir uma sociedade justa, reduzir desigualdades sociais e promover o bem de todos, assim como elenca em todo o seu corpo numerosos direitos humanos, individuais e/ou coletivos, de observância obrigatória para efetivação da dignidade da pessoa humana. Não há como realizar a dignidade da pessoa, nem os objetivos fundamentais supramencionados sem que haja eficaz sistema de saúde, pois o direito à vida digna, garantido constitucionalmente, jamais será efetivado enquanto houver abandono dos indivíduos pelo Estado em caso de enfermidade grave ou na velhice. Tal é a relevância do direito à saúde, que o Poder Constituinte Originário incluiu como hipótese de intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal, dentre outras, a não observância do princípio da dignidade da pessoa humana e a não aplicação do mínimo exigido por lei (LC 141/2012) de suas respectivas 14 receitas em ações e serviços de saúde (artigo 34,VII, “ ” e “e”). No mesmo sentido a CF/88 previu em seu artigo 35, inciso III a possibilidade de intervenção dos estados em seus respectivos municípios. Não obstante o comando constitucional, várias constituições estaduais, como, por exemplo, as constituições paulista, mato-grossense e catarinense, previram expressamente a possibilidade de intervenção nos municípios de forma semelhante o previsto na Carta Magna. Do ponto de vista do senso comum, considerando o significado literal do vocábulo, saúde é o estado daquele cujas funções orgânicas físicas e mentais se acham em situação normal, ou seja, significa não estar enfermo. Porém, se déssemos esse sentido ao termo saúde inserido no texto constitucional, o Estado não teria responsabilidade com o tratamento daquelas pessoas que são acometidas por moléstias crônico-degenerativas incuráveis, pois elas nunca estariam saudáveis. Portanto, em sentido jurídico o direito à saúde tem significado amplo, engloba a preservação de um meio-ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações atuais e futuras, o direito ao lazer e educação, o direito ao tratamento médico preventivo, bem como o direito de acesso aos meios adequados para o restabelecimento da saúde e tratamento humanizado e eficiente àqueles acometidos por moléstias as quais a Ciência ainda não encontrou soluções definitivas. O Poder Constituinte Originário inseriu o direito à saúde em vários dispositivos constitucionais com a intenção de corrigir distorções da realidade social brasileira. Entretanto, o acesso pleno à saúde, preconizado na Carta Magna, parece ainda longe de ser realizado. De um lado a maioria da população, dependente do Sistema Único de Saúde - SUS -, não tem o acesso adequado aos meios preventivos e curativos, de outro lado o Poder Público, através de seus representantes, alega não dispor de recursos financeiros para avançar mais rapidamente no desenvolvimento de formas de aprimoramento do atual sistema de saúde brasileiro. No meio dessa contenda, o Poder Judiciário, sem conhecimento técnico em relação á medicina e sem responsabilidade direta com a administração das finanças públicas, é responsável por decidir se o Estado deve ou não arcar com tal ônus financeiro e procedimental. Em verdade, boas ideias têm sido colocadas em prática na área da saúde, porém, devido à extensão continental, à enorme população e à diversidade cultural e regional existente no País, tais ideias não são aplicadas em sua plenitude. Outra situação importante a ser analisada se refere ao envelhecimento da população brasileira. É notório que a cada dia a população de idosos do País aumenta e, com esse aumento, vem também o aumento das moléstias próprias 15 da idade avançada, tais como osteoporose, doença de Alzheimer e de Parkinson, dentre outras doenças demenciais, cujo cuidado é permanente, especializado, incurável e de alto custo financeiro. Nosso País, infelizmente, não está preparado para atender devidamente ao comando constitucional de realização do direito ao acesso universal, igualitário à saúde integral, ou seja, segundo o Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Renato Luiz Dresch, a CRFB/88, promulgada após longo período ditatorial no qual o Brasil não criou estrutura adequada no que se refere à saúde, garante “tudo para todos”. No Brasil se gasta muito e investe pouco do campo da saúde. Como consequência, as pessoas economicamente necessitadas (ou não) buscam garantir seus direitos pela via judicial. Esse processo de judicialização da saúde atende a casos pontuais, porém, não é vocação do Poder Judiciário administrar finanças públicas e nesse processo, o Poder Executivo redistribui seu orçamento, redirecionando verbas do próprio sistema de para atender às determinações judiciais. Noutras palavras, retira-se verba do atendimento preventivo/coletivo para alocá-lo no tratamento curativo individual. Considerados direitos de 2ª geração/dimensão, os direitos sociais, principalmente o direito à saúde, no contexto constitucional, assume dois enfoques, quais sejam: natureza negativa, inibindo o Estado e o particular da prática de atos que prejudiquem o indivíduo; e de natureza positiva, fomentando o Estado à prática de atos, mediante de políticas sociais e econômicas, para implementação dos direitos sociais. Diante do exposto, percebe-se a “perfeita integração entre os grupos de direitos humanos constitucionalizados, pois, os direitos individuais se concretizam através da disposição dos direitos sociais, que somente são possíveis através do Direito Econômico”. (MAGALHÃES. 2005. p. 150). Enfim, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é definida omo um “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade”. 3.2 Saúde no Direito Internacional A finalidade do presente tópico é estudar como o direito à saúde é amparado no Direito Internacional e as principais normas sanitárias contidas em acordos e tratados internacionais sobre saúde os quais o Brasil é signatário, bem como entender a forma com que Estados 16 estrangeiros tratam a saúde em suas respectivas constituições, para possibilitar a análise comparativa de soluções encontradas no campo internacional em relação ao Brasil. A partir da diferenciação entre direito humano e direito fundamental, sendo este último o direito que pertença a grupo de direitos essenciais à dignidade da pessoa humana positivados na ordem interna e aquele o mesmo direito, porém positivados em instrumentos de Direito Internacional, busca-se analisar a forma e a força como o ordenamento jurídico nacional adota as regras de Direito Internacional. 3.2.1 Direito Internacional Público e Saúde Segundo Vanessa Oliveira Batista, (...) para o cumprimento das obrigações internacionais de proteção é necessária a atuação dos órgãos internos dos Estados para que apliquem as normas internacionais. Da adoção e aperfeiçoamento de medidas nacionais eficazes depende hoje, em grande parte, a evolução da própria proteção internacional dos direitos humanos. Em outras palavras, o direito internacional e o direito interno devem formar um todo harmônico para que se efetive a proteção. (BATISTA. 2012. p.8) Assim, considerando que várias constituições alienígenas conferem tratamento especial às normas de Direitos Humanos convencionadas, o Estado se obriga a cumpri-las, sob pena de determinado Estado se sujeitar à responsabilização internacional. No caso do Brasil, há necessidade de procedimento legislativo de aprovação de convenção para que a norma internacional a qual o País aderiu passe a surtir efeitos, mas não há necessidade de edição de lei especial para conferir-lhe validade. As normas protetoras de direitos humanos que sejam recepcionadas pelo Estado brasileiro nos termos do art. 5º, §§ 2º e 3º da CRFB/88, terão status de legislação constitucional. Entretanto, no Brasil não há controle prévio de constitucionalidade de acordos internacionais, assim, sendo o acordo incompatível com a Constituição Federal, a inconstitucionalidade deverá ser declarada pelo STF (Constituição Federal de 1988, artigo 102, III, alínea b), hipótese na qual o acordo deverá ser denunciado no plano internacional. Conforme esclarece Vanessa Oliveira Batista o direito à saúde, consagrado em instrumentos internacionais de que participe o Brasil e que tenham sido ratificados, pode ser invocado internamente por ter suporte jurídico constitucional. (BATISTA, 2012. p.12) Prestados breves esclarecimentos acerca da força normativa dos tratados internacionais no âmbito jurídico nacional, vejamos alguns instrumentos internacionais de proteção à saúde. 17 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de Dezembro de 1948, trata expressamente do direito à saúde como Direito Humano Fundamental nos seguintes termos: Artigo 25° 1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social. Como forma de garantir que os diversos Estados-membros implementem Direitos Humanos no âmbito de suas respectivas competências internas, incluindo o direito à saúde, a DUDH estabeleceu em seu artigo 8º que toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, em seu artigo 12, estabelece medidas preventivas para garantia do direito à saúde: Artigo 12 §1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental. §2. As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito, incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: 1. A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças. 2. A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente. 3. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças. 4. A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Subordinada à Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, com sede em Genebra, na Suíça, fundada em 07 de abril de 1948, é uma agência internacional especializada em saúde. A OMS é composta por 194 Estados-membros, incluindo todos os Estados Membros da ONU, exceto o Liechtenstein e inclui também dois não membros da ONU, Niue e as Ilhas Cook. O embrião da OMS foi o Comitê de Higiene, criado pela extinta Sociedade das Nações – SDN – (também denominada Liga das Nações) após a Primeira Guerra Mundial. O Brasil teve grande importância para a criação da Organização Mundial da 18 Saúde (OMS) - ou World Health Organization (WHO), em inglês -, uma vez que a proposta para criá-la, foi de autoria de delegados brasileiros e chineses. Segundo sua constituição, a OMS “tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos”. A saúde é definida nesse mesmo documento como um “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade”. A OMS vem desenvolvendo políticas de promoção e proteção, bem como estabelecendo diretrizes na área de saúde, constando de sua pauta a luta contra o tabagismo, o câncer, os problemas geriátricos, o monitoramento do meio ambiente, as ações de emergência e humanitárias, dentre outras, bem como desenvolve trabalhos conjuntos com entidades não estatais. Atualmente, em colaboração com a OMS atuam mais de 190 Organizações não governamentais, que lhe dão apoio na promoção de políticas sanitárias, estratégias e programas. Nas Américas foi criado em 1902 a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), que, mais tarde, em 1947, passou a fazer parte da ONU, se tornando escritório regional da OMS, tendo por finalidade promover e coordenar esforços para os países da região das Américas no sentido de combater enfermidades, aumentar a expectativa de vida promover a saúde física e mental das pessoas. A OPAS, atualmente, vem implementando políticas específicas sobre a saúde da mulher, bioética, drogas essenciais e tecnologia, saúde de família, alimentação e nutrição, saúde e meio ambiente, saúde veterinária, além de políticas de prevenção e controle de enfermidades. Não podemos deixar de mencionar a Cruz Vermelha (Crescente vermelha nos países muçulmanos), criada a partir da Convenção de Genebra para Proteção das Vítimas de Guerra de 1864, que, atualmente, além de atuar em países em conflitos armados, também socorre vítimas de desastres naturais. Enfim, percebe-se a importância do direito à saúde demonstrada internacionalmente, sendo tal direito norma cogente, não submetido ao princípio da reciprocidade, configurando compromisso da humanidade com direitos humanitários. 3.2.2 Direito à saúde no Direito Comparado 19 Observando a precariedade como é colocado em prática este relevante direito individual e social no Brasil, apesar de amplamente garantido pela CRFB/88, é relevante estudar, ainda que de forma sucinta, como outros estados tratam do tema, pois, conforme entendimento de Caroline Leite de Camargo, em artigo publicado no site Âmbito Jurídico em janeiro de 2014: Para que um direito fundamental individual seja reconhecido como tal é necessário que esteja regulamentado na forma de Constituição dentro de um Estado, essa proteção terá a forma de um direito subjetivo. Se a proteção for de todos os indivíduos dentro da coletividade, e cada membro protegido não puder ser individualizado de forma concreta, teremos o direito objetivo como forma de proteção. (CAMARGO. 2014) Assim, vejamos como se estabelece o direito à saúde em alguns importantes ordenamentos constitucionais. A Constituição Italiana trouxe em seu bojo os seguintes termos: Art. 32. A República tutela a saúde como direito fundamental do indivíduo e interesse da coletividade, e garante tratamento gratuito aos indigentes. Ninguém pode ser obrigado a um determinado tratamento sanitário, salvo disposição de lei. A lei não pode, em hipótese alguma violar os limites impostos pelo respeito da pessoa humana. O texto supratranscrito utiliza-se de terminologia de difícil compreensão, a exemplo de determinar que o Estado Italiano “tutela” a saúde omo direito fundamental individual, ou seja, protege o direito, no entanto, somente garante tratamento gratuito somente aos indigentes. Tais expressões sugerem uma participação menor do Estado no fornecimento de saúde à população, não fazendo qualquer referência à saúde preventiva ou a instrumentos para sua concretização. Esse dispositivo ainda protege o indivíduo da ação do Estado, exceto em casos dispostos em Lei, como, o exemplo de epidemias, impondo, inclusive, o respeito à pessoa humana. Ao contrário, a Constituição da Espanha de 1978 trata de forma mais abrangente, reconhecendo o direito à proteção à saúde, trata de tratamento preventivo e de recuperação, bem como faz referência à relação entre a saúde e a educação sanitária, educação física e o desporto. Tudo conforme artigo 43: Artículo 43 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 20 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. A Constituição de Portugal (1976) trata de direitos sociais em vários artigos, dentre os quais, no artigo 64, trata do direito à saúde, nos seguintes termos: Artigo 64.º Saúde 1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. 2. O direito à proteção da saúde é realizado: a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável. 3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde; c) Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos; d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade; e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico; f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência. 4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada. (grifo nosso) A Carta Magna Lusa, que guarda algumas semelhanças com a brasileira, como, por exemplo, ambas trazem em seus artigos 1º a dignidade da pessoa humana como fundamento. Passou por revisões constitucionais que buscaram, na verdade, liberar o Estado Português de parte de sua responsabilidade reduzindo o caráter social de alguns dispositivos. Por exemplo, em relação ao direito à saúde, o item 2 do artigo 64, antes da 7ª revisão constitucional (2005) continha o seguinte conteúdo: O direito à proteção da saúde é realizado pela criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gratuito, pela criação de condições económicas, sociais e culturais que garantam a proteção da infância, da juventude e da velhice e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo. (grifo nosso) 21 Assim, a assistência de saúde que inicialmente seria gratuita, passa a ser tendencialmente gratuita e, ainda assim, observando as condições econômicas da população. Portanto, percebese a complexidade do tema, pois, em qualquer país de mundo garantir o direito à saúde é, sem dúvida, o desafio mais difícil, ante o alto custo da promoção da saúde. A alteração do texto constitucional ocorreu após discussão judicial acerca da criação pelo Poder Público Português de lei que autorizava a cobrança de taxas moderadoras dos indivíduos pelo uso do Sistema Nacional de Saúde. Nesse momento o Tribunal Constitucional julgou constitucional a cobrança como forma de racionalizar a utilização do SNS, malgrado o texto constitucional constasse, naquele momento, que o atendimento de saúde fosse “universal, geral e gratuito”. A Constituição Estadunidense, principal exemplo de Constituição liberal, não contém dispositivos que versem expressamente sobre direitos sociais. Segundo José Luiz Quadros Magalhães (2008), em 2008 cerca de 50 milhões de norte-americanos não possuíam qualquer acesso à assistência à saúde. Por outro lado, a Constituição de Cuba, exemplo de Constituição socialista, enfatiza os direitos sociais, conforme se observa em seu artigo 50: artículo 50º.- Todos tienen derecho a que se atienda y proteja su salud. El Estado garantiza este derecho: con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones de servicio medico rural, de los policlínicos, hospitales, centros profilácticos y de tratamiento especializado; con la prestación de asistencia estomatológica gratuita; con el desarrollo de los planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades. En estos planes y actividades coopera toda la población a través de las organizaciones de masas y sociales. Como se observa, há uma referência ampla ao direito à saúde com explicitação à medicina curativa e preventiva, sendo que em outros dispositivos constitucionais há referências à segurança do trabalho, higiene, etc.. Enfim citamos a Inglaterra, que estipula limite máximo de gastos em saúde anual por pessoa no montante de £ 20.000,00 (vinte mil libras esterlinas) e, excepcionalmente, £ 30.000,00 (trinta mil libras esterlinas). Acima de tal montante, não há saúde pública no sistema inglês. Diante da reduzida, mas significativa, comparação supramencionada, à qual acrescenta-se ainda a informação prestada pelo Dr. Renato Drech, Desembargador do TJMG, coordenador 22 do Comitê Executivo da Saúde de Minas Gerais do CNJ e membro do Comitê Executivo Nacional da Saúde do CNJ, de que não há no mundo nenhum país com mais de 80.000.000 (oitenta milhões) de habitantes com a abrangência de saúde pública que se compare com o sistema de saúde Brasileiro1. Portanto, verificamos o enorme desafio do Brasil em financiar e manter sistema tão abrangente e completo de saúde e, ainda, avançar na qualidade de atendimento. 4 BASE CONSTITUCIONAL E LEGAL DO DIREITO À SAÚDE Antes de o Brasil ter constituição própria, antes mesmo da independência, havia apenas ações isoladas na área da saúde, sem, contudo, ter abrangência geral, como, por exemplo, no século XIX a Corte Portuguesa criou a Sociedade de Medicina e Cirurgia no RJ, em 1808 foi criada a Escola de Cirurgia na Bahia e em 1809 foi instituída a Cátedra de Anatomia no Hospital Militar – RJ. Posteriormente surgiu a primeira Constituição Brasileira (1824). 4.1 Evolução do Direito Sanitário nas Constituições Brasileiras De um modo geral, historicamente, as diversas constituições brasileiras inseriram poucos direitos sociais em seus textos, à exceção da atual Carta Magna. Na análise que se segue das constituições brasileiras (1824 a 1967 e EC01/69) percebe-se que o foco do legislador constitucional, quanto a direitos sociais e sanitários, dirigiam-se principalmente aos trabalhadores, ficando o restante da população amparada pela insuficiente estrutura de filantropia das santas casas. 4.1.1 Constituição do Império do Brasil de 1824 A Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, primeira Constituição Nacional, concebida sob a influência de ideais liberais, destinou um de seus títulos (Título VIII) aos direitos individuais, ao qual nomeou “Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros”. Entretanto, as garantias ali tuteladas configuravam uma dimensão negativa, ou seja, direito de defesa dos cidadãos contra arbitrariedades estatais. Quanto a direitos sociais, o cerne da referida Carta Magna foi o artigo 179, XXIV, que vedava a proibição aos cidadãos do exercício de qualquer trabalho que não se opusesse aos costumes públicos, à segurança, e à saúde dos Cidadãos, sendo esta a única 1 Aula do CURSO DE DIREITO À SAÚDE, ministrada no dia 06/03/2015. 23 referência expressa ao termo saúde. Como se percebe não houve proteção à população em geral, mas tão somente contra atividades laborativas que se opusessem à saúde dos cidadãos. 4.1.2 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro 1891, por sua vez, também garantiu o direito ao exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial (art. 72, § 24), bem como fez referência ao ensino público, entretanto, nela não houve qualquer menção de garantia do Estado Brasileiro ao direito sanitário, apenas, de forma abstrata, no artigo 78, determinou que além dos direitos e garantias expressos, haveria proteção de outros “não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos prin ípios que onsigna.” No mesmo sentido do Poder Público, nesse período, a própria população revelava-se contrária às ações efetivas quanto à saúde, a exemplo da famosa Revolta das Vacinas, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, em razão da obrigatoriedade de vacinação da população contra a febre amarela. Nesse evento, coordenado pelo sanitarista Osvaldo Cruz, parte da população carioca pensava que a vacinação se destinava a matar pessoas, outros pensavam que a intensão dos sanitaristas seria ter contato com os corpos das mulheres, motivos que causaram a revolta da população, que culminou em “que ra-que ra” na então Capital da República, em 1904. 4.1.3 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 A constituição seguinte foi a Constituição de 16 de julho de 1934, que previa como competência concorrente da União e dos Estados cuidar da saúde e assistências públicas (art. 10, II), sem, contudo, estabelecer qualquer parâmetro para que se pudesse dimensionar a abrangência do direito tutelado ou diferenciar saúde de assistência pública. Estabeleceu um apítulo intitulado “Dos Direitos e Garantias Individuais”, dentre os quais se destacam o direito de exercício livre de qualquer profissão e o direito de prover à própria subsistência e à de sua família, mediante trabalho honesto; bem como estabeleceu que o Poder Público deveria amparar, na forma da lei, os que estejam em situação de indigência. Assim, segundo Kelbert, “essa constituição contemplou o primeiro esboço de assistência so ia ”, embora tenha excluído do direito à aposentadoria. 4.1.4 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 24 Seguiu-se a Constituição de 10 de novembro de 1937, outorgada pelo Governo Vargas, que estabeleceu como competência privativa da União legislar sobre normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da criança (art. 16, XXVII), garantindo aos estados, contudo, legislar sobre assistência pública, obras de higiene popular, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais, suprindo omissões ou complementando leis nacionais, ou tratando da matéria quando a União não o fizer (art. 18). Ainda, na parte destinada aos Direitos e Garantias Individuais, garantiu o direito à igualdade, liberdade, segurança, liberdade de escolha de profissão e o ensino primário gratuito e obrigatório, dentre outros direitos (arts. 122/123). Quanto à saúde do trabalhador, proibiu o trabalho de menores de quatorze anos e de trabalho noturno aos menores de dezesseis, e, em indústrias insalubres, aos menores de dezoito anos e às mulheres; garantiu assistência médica e higiênica ao trabalhador e à gestante, assegurado a esta, sem prejuízo do salário, um período de repouso antes e depois do parto; instituiu seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de acidentes do trabalho. 4.1.5 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 A Constituição de 1946 amplia as previsões dos direitos sociais, estipulando, inclusive parâmetros mínimos de investimentos em determinadas áreas sociais, como, por exemplo, 10% (dez por cento) da renda dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 169) e metade, no mínimo, dos 15% (quinze por cento) arrecadado pela União e repassado aos municípios, será aplicada em benefícios de ordem rural, considerando por benefício de ordem rural todo o serviço que for instalado ou obra que for realizada com o objetivo de melhoria das condições econômicas, sociais, sanitárias ou culturais das populações das zonas rurais. Previu, ainda, que atos do Presidente da República que atentassem contra direitos sociais seriam considerados crime de responsabilidade (art. 89, II). Destaca-se que, na vigência da CF/46 houve significativa alteração previdenciária, pois a previdência social no Brasil teve início com a chamada Lei Elói Chaves (1923), que criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), que operavam em regime de capitalização, eram, em regra, organizadas por empresas e empregados. Entretanto eram estruturalmente frágeis por possuírem um número reduzido de contribuintes e seguirem hipóteses demográficas de parâmetros duvidosos. Outro fator de fragilidade era o elevado número de fraudes na concessão de benefícios. Em 1930, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, suspendeu as aposentadorias das CAPs durante seis meses e promoveu uma reestruturação 25 que acabou por substitui-las por Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). As IAPs eram autarquias de nível nacional centralizadas no Governo Federal. As principais IAPs criadas foram as seguintes: IAPM (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos- 1933), IAPC (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, criada pelo Decreto n° 24.272, de 21 de maio de 1934), IAPB (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, criada pelo Decreto nº 24.615, de 9 de julho de 1934), IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (Lei n° 367, de 31 de dezembro de 1936), IPASE (Instituto de Pensões e Assistência dos Servidores do Estado criado pelo Decreto-Lei n° 288, de 23 de fevereiro de 1938), dentre outros. Dessa forma, a filiação passou a ocorrer por categorias profissionais, ao contrário do modelo das CAPs, que se organizavam por empresas. Em 1964, houve a fusão de todos os IAPs no INPS (Instituto Nacional da Previdência Social). Finalmente, em 1990, o INPS se fundiu ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) para formar o Instituto Nacional de Seguridade Social. O INAMPS, que funcionava junto ao INSS, por sua vez, foi extinto e seu serviço passou a ser coberto universalmente a todos pelo SUS. Noutras palavras, houve dissociação do trabalho e previdência social da prestação de serviços de saúde. 4.1.6 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 e EC 01/69 A Constituição de 1967, cujo foco principal era segurança nacional e o desenvolvimento econômico-social, manteve vários direitos aos trabalhadores que tinham como escopo o desenvolvimento de sua vida social (artigo 158), como, por exemplo, assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva aos trabalhadores (inciso XV). Segundo Ledur, citado por Kelbert, “normas que antes da Constituição de 1967 se limitavam a preceitos endereçados ao egis ador ordinário passaram a a rigar direitos de natureza onstitu iona ” (LEDUR apud KELBERT.2011.p.31). A Emenda Constitucional nº 01 de 1969, alterou substancialmente o texto constitucional de 67, porém, aos direitos sociais houve poucas modificações. Assim, percebe-se que o amparo social, sobretudo, sanitário e previdenciário, nas constituições brasileiras anteriores à de 1988, tinham natureza securitária e assistencial, ou seja, ao trabalhador havia o direito à assistência de saúde e às demais camadas populacionais restavam o amparo insuficiente das santas casas. Por fim, é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, contendo o maior rol de direitos sociais jamais vistos nas constituições nacionais anteriores. O estudo do Direito Sanitário na CRFB/88 será estudado no tópico seguinte, face a sua abrangência e importância para este TCC. 4.2 Direito Sanitário na Constituição de 1988 26 Cada novo ordenamento jurídico-constitucional que se inaugura tem origem no descontentamento com o regime anterior, assim, cada constituição nacional seguiu ideais que romperam de alguma forma com o modelo anterior. Dessa forma também foi a CRFB/88, que instituiu o Estado Democrático de Direito no Brasil, inserindo grande número de direitos individuais e sociais, expressos ou não em seu corpo, rompendo como o modelo autoritário anterior. Nas palavras de Luís Roberto Barroso, citado por Gustavo Amaral: (...) ao longo da historia brasileira, sobretudo nos períodos ditatoriais, reservou-se ao direito constitucional um papel menor, marginal. Nele buscou-se, não o caminho, mas o desvio; não a verdade, mas o disfarce. A Constituição de 1988, com suas virtudes e imperfeições, teve o mérito de criar um ambiente propicio a superação dessas patologias e a difusão de um sentimento constitucional, apto a inspirar uma atitude de acatamento e afeição em relação à Lei Maior. (BARROSO, apud AMARAL. 2001. p.10) A saúde é tratada com importância tão significativa que a CRFB, considerada marco histórico brasileiro na introdução de direitos sociais, constou de 57 referên ias à expressão “saúde”, sendo, 42 no texto principal e 15 no ADCT. Institui, ainda, a denominada tripartição da prestação da saúde, o que significa que a prestação de serviços de saúde pode ser prestada de forma pública, prestada regular e diretamente pelo Poder Público/Estado; complementar, que complementa a saúde pública, sendo também prestada pelo Estado, no entanto, através de interpostas pessoas (laboratórios, hospitais, etc.); e suplementar, prestada pela iniciativa privada sem contrapartida do Estado, a exemplo dos planos de saúde. O direito à saúde é norma de direito fundamental social (não mais assistencial) de aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5º, § 1º da CRFB/88, pois se encontra alocado topograficamente no capítulo que trata dos direitos sociais, inserido no Título II da Constituição federal, que se refere aos direitos e garantias fundamentais, além de constituir, conforme dito alhures, um direito social fundamental. O artigo 6º esta ele e que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infân ia a assistên ia aos desamparados” (...). Já o artigo 7º, IV determina que o salário mínimo deverá ser capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Determina a atual Carta Magna como competência comum dos entes da Federação cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 27 deficiência (art. 23, II), bem como estabelece competência concorrente de seus entes federativos legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). Ao tema proposto neste TCC, urge destacar a importância do artigo 30, inciso VII que determina que aos muni ípios ompete “prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da popu ação”. Nesses termos, os municípios, são responsáveis pelo atendimento de saúde à população, mas há solidariedade com estados e União, o que se realiza por meio da solidariedade sistêmica, ou seja, aquele atendimento que não é de possível realização pelo município, deve ser encaminhado ao Estado e este, quando necessário, deve encaminhar o paciente ao atendimento da União. Nesses termos, o Sistema Único de Saúde criou uma espécie de rede à qual o usuário deve ser encaminhado conforme a necessidade e complexidade do tratamento. Nesse sentido, Antônio José Avelãs Nunes, analisando o artigo 196 da CRFB/88 em comparação com a Constituição Portuguesa de 1976 no que se refere à proteção do direito à proteção a saúde, entende que (...) a Constituição Portuguesa torna claro que ele é realizado pela criação de serviço nacional de saúde universal, geral e (tendencialmente) gratuito. E creio que é este também o sentido do art. 196 ° da Constituição Federal brasileira. Como direito coletivo, só deste modo pode realizar-se corretamente, em benefício de todos e nas mesmas condições para todos. (NUNES. 2011.p.59) O problema surge quando o usuário do sistema suplementar entra no sistema público já acometido por estágio avançado de determinada patologia, pois, em regra, não há tempo para o encaminhamento conforme determina o sistema. Tal situação será melhor analisada posteriormente. Também importante destacar a possibilidade de intervenção da União nos estados, e dos estados nos municípios, quando não aplicarem o mínimo exigido das suas respectivas receitas na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde (arts. 34, VII, “e” e 35, III). Posteriormente, dada a importância do direito à saúde, o legislador originário trata mais detalhadamente do direito à saúde em tópico próprio, o qual denominou “DA SAÚDE”, amparando-o por princípios que garantem o acesso universal e igualitário, bem como elevando-o ao patamar de relevância pública (arts. 196 e 197), impondo ao Poder Público a obrigação de legislar, regulamentar, controlar e fiscalizar sua execução, independentemente de quem o prestar, seguindo, portanto, os caminhos do Direito Internacional, segundo o qual considera-se o direito à saúde mais que a liberação de doenças, mas o completo bem-estar 28 físico, mental e social do homem, impondo ao Estado a obrigação de prestações positivas amplas, ao contrário do que ocorria nas constituições anteriores, que condicionava o Estado principalmente a prestações negativas. Importante salientar os conceitos de atendimento igualitário, universal e integral, garantidos constitucionalmente, quais sejam: Acesso universal é a garantia assegurada a todos, sejam brasileiros ou estrangeiros que estiverem no País, por força do princípio da isonomia matéria tutelado pelo art. 5º, caput¸ da CF/88; Acesso igualitário é atendimento deve ser isonômico sem distinção de classe, seja rico, seja pobre, sem discriminação e nem privilégios, sendo inadmitida da diferença de classe2, pois a saúde pública não tem natureza assistencial, sendo considerado o atendimento integral como o cuidado preventivo e curativo (prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento e acesso às tecnologias). Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, não houve definição do objeto do direito à saúde, assim, cabe ao Poder Público competente para a concretização do direito à saúde elaborar normas de acordo com sua respectiva interpretação do texto constitucional. Assim, há sempre discussão quanto á abrangência da normatização infraconstitucional, como por exemplo, saber se a norma constitucional deve ser interpretada de forma a abranger toda e qualquer necessidade humana na área de saúde (fornecer próteses, tratamentos estéticos, tratamentos no exterior, etc.) ou se as prestações devem se resumir aos tratamentos e fornecimentos de medicamentos essenciais à vida digna. De qualquer forma, a criação e organização de entidades e procedimentos para garantir o direito sanitário não podem se sujeitar à oportunidade ou conveniência de agentes públicos, sob pena do direito em questão passar a configurar apenas declarações de intenções inseridas no texto constitucional, mas sem o condão de promover a dignidade humana, ideia que seria absurda. Nestes termos, a própria Constituição Federal determinou que fosse criado o SUS, estabelecendo que fosse o órgão responsável pela coordenação e a execução das políticas para proteção e promoção da saúde no Brasil, de forma descentralizada e hierarquizada, universal e participativa (art. 198), consistindo, segundo Márcio Dias de Oliveira, como o grande marco prático da ordem sanitária. Cabe destacar que deve haver uma criação de rede de 2 Recurso Extraordinário (RExt.) 581488, que discutiu a melhoria do tipo de acomodação de paciente internado pelo Sistema Úni o de Saúde (SUS) mediante o pagamento da diferença respe tiva, onhe ida omo “diferença de lasse”. 29 atendimento, pela União e Estados, de forma a realizar a solidariedade preconizada no artigo 30 da CRFB/88, fracionando a responsabilidade dos entes políticos. 4.3 Direito Sanitário na legislação infraconstitucional O estudo da legislação infraconstitucional é importante para o tema proposto, pois as decisões judiciais devem respeito às determinações constitucionais, bem como à legislação infraconstitucional, uma vez que a própria Lei Maior prevê a elaboração de normatização por leis inferiores. Exemplo dessa importância é o fato de em nenhum momento a Carta Magna Brasileira garante, expressamente, o acesso gratuito à saúde, tal encargo coube à legislação infraconstitucional (Lei 8080/90) Entretanto, analisam-se, a seguir, somente as mais relevantes leis, pois nelas que se observam os limites impostos, obrigações de direitos do indivíduo e do prestador do serviço de saúde. 4.3.1 Lei Complementar 141/2012 Atendendo às determinações contidas no artigo 198, § 3º da Constituição Federal e artigo 77 do ADCT, foi editada a Lei Complementar nº 141/2012 para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Na gestão dos recursos destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde, essa importante Lei Complementar estabelece quais são as ações às quais poderão ser alocados recursos públicos destinados à prestação de saúde (art. 3º), impedindo assim, que o gestor das finanças públicas aloque recursos em determinadas áreas, como previdência, assistência social e saneamento básico, por exemplo, sob o pretexto de estar investindo em saúde (art. 4º). Nos termos do artigo 5º da referida LC, a União deverá aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos desta LC 141, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei orçamentária anual. Sendo que em caso de variação negativa do PIB, o valor acima mencionado não poderá ser reduzido, em termos nominais, de um exercício financeiro para o 30 outro. Ocorre que a União tem investido algo entre 6% a 7% do orçamento em ações de saúde. No artigo 6º, a LC 141 estabelece que os Estados e o Distrito Federal apliquem, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) de sua arrecadação, sendo este o valor que os estados tem realmente investido, ou seja, o mínimo exigido. Já os municípios são obrigados a investir na área de saúde o mínimo de 15% (quinze por cento) de sua arrecadação (art. 7º, LC 141/2012). Entretanto, em média, os municípios tem investido, em média, cerca de 23% (vinte e três por cento) de suas arrecadações em saúde. O que demonstra disparidade entre os entes da federação, no que se refere aos gastos em prestação de saúde, bem como se observa que municípios com arrecadações inferiores, em ora umpram a “Lei”, a a am por investir valores menores por pessoa em saúde. Para corroborar a afirmação supra, segue algumas tabelas de gastos municipais e do Estado de Minas Gerais com saúde3: Pará de Minas: Percentual de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Índice 2010 Total gasto com Saúde População Gastos com saúde por habitante 2011 2012 2013 26,23% 26,73% 28,75% 30,17% R$ 17.221.703,67 R$ 20.669.060,94 R$ 24.067.214,72 R$ 27.838.381,98 84.215 hab. 85.076 hab. 85.908 hab. 89.418 hab. R$ 204,38 R$ 242,95 R$ 280,15 R$ 311,33 Índice constitucional aplicado Itaúna: Percentual de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Índice 2010 Total gasto com Saúde População Gastos com saúde por habitante 2011 2012 2013 21,18% 22,22% 21,85% 23,64% R$ 15.390.064,43 R$ 18.878.748,68 R$ 19.633.073,88 R$ 23.149.313,93 85.463 hab. 86.124 hab. 86.762 hab. 90.084 hab. R$ 179,29 R$ 219,20 R$ 226,29 R$ 256,97 Índice constitucional aplicado Manga: Percentual de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Índice 2010 População Gastos com saúde por habitante 2012 2013 16,15% 17,78% 19,36% 18,86% R$ 2.159.482,26 R$ 2.905.736,87 R$ 3.366.066,90 R$ 3.510.174,73 19.813 hab. 19.649 hab. 19.489 hab. 19.898 hab. R$ 88,86 R$ 119,56 R$ 138,50 R$ 144,43 Índice constitucional aplicado Total gasto com Saúde 2011 Florestal: Percentual de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Índice 3 2010 2011 2012 2013 Observe-se que até 2011 alguns municípios e o Estado de MG contabilizavam como gasto com saúde despesas com tecnologia da informação e saneamento básico urbano, entre outros, o que a LC 141/2012, expressamente, excluiu das despesas intituladas saúde. 31 Índice Índice constitucional aplicado Total gasto com Saúde População 2010 2011 2012 2013 21,12% 20,94% 25,31% 27,37% 1.657.357,92 6.600 1.915.999,86 6.674 2.436.410,50 6.744 2.918.980,40 7.026 251,11 287,08 361,27 415,45 Gastos com saúde por habitante BH: Percentual de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Índice 2010 Total gasto com Saúde 2011 19,39% Índice constitucional aplicado 2012 19,25% 2013 20,15% 20,2% R$ 583.068.894,52 R$ 668.334.348,29 R$ 775.157.488,98 R$ 840.914.172,27 População Gastos com saúde por habitante 2.375.151 hab. 2.385.640 hab. 2.395.785 hab. 2.479.165 hab. R$ 237,73 R$ 272,50 R$ 316,05 R$ 339,19 Fonte: SIACE/PCA - dados apresentados/auditados. Dados demográficos - 2010 a 2013 Fonte:SIACE / PCA. Nota: Data da Consulta ao SIACE: 01/04/2015. Os dados informados poderão ser alterados em razão de Pedido de Reexame e/ou Ação Fiscalizatória. Estado de Minas Gerais:Percentual de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Índice Índice constitucional aplicado Total gasto com Saúde Saneamento Básico Urbano - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA Total Gastos Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) População Minas Gerais Total gasto com Saúde 2010 2011 2012 2013 12,08% 12,29% 12,02% 12,22% R$ 2.433.732.525,48 R$ 2.864.561.747,36 R$ 3.826.925.967,20 R$ 4.294.403.427,00 R$ 816.198.368,86 R$ 661.052.394,67 0 0 R$ 3.249.930.894,34 19.597.330 hab. R$ 3.525.614.142,03 19.728.701 hab. R$ 3.826.925.967,20 19.855.332 hab. R$ 4.294.403.427,00 20.593.356hab. R$ 124,19 R$ 145,20 R$ 192,74 R$ 208,53 Fonte: Armazém de Informações- SIAFI; Relatórios Técnicos das Contas do Governador – TCEMG No mesmo sentido, os estados e municípios brasileiros seguem aplicando os percentuais de suas respectivas arrecadações em saúde, conforme definido em lei, como por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul gastou com saúde 12,46% de sua arrecadação. Sua Capital, Porto Alegre, gastou 21,50% de sua arrecadação em saúde. Mesmo quando se observa alguma exceção, esta está bem próxima da exigência constitucional, a exemplo do Estado do Paraná que, em 2013, gastou com saúde montante inferior aos 12% determinados em lei, gastando cerca de 11,22% de sua arrecadação. 4.3.2 LOS A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, também denominada Lei Orgânica da Saúde – LOS - , atendendo o comando constitucional, criou o SUS, conceituando-o como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4º), determinando que o particular poderá participar do SUS em caráter complementar quando as disponibilidades do Poder Público forem insuficientes, mediante formalização de contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público (arts. 5º e 24/26). 32 Fixa, também, as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Ou seja, abrange a gestão de saúde pública prestada pelo Estado de maneira direta ou por interpostos agentes (complementar), sem, contudo, abarcar a chamada saúde suplementar. Ocorre que a lei ora em estudo, foi criada pelo então Presidente da República Fernando Collor de Melo, que vetou importantes artigos da mesma. Assim, para complementá-la, foi editada a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, para disciplinar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Estabeleceu, ainda, a instituição de instâncias colegiadas de participação social, que serão a Conferência da Saúde e os Conselhos de Saúde, nas três esferas do Poder Público. Mas é importante ressaltar que esta Lei fornece mecanismos para facilitar a consecução de serviços de saúde, como a possibilidade de criação de consórcios de saúde entre os entes municipais, e a necessidade de investimento em rede de serviços de saúde. Também determina que setenta por cento dos recursos para investimento em saúde repassados pela União deverão ser destinados aos municípios, bem como estabelece critérios para o repasse desses recursos. A Lei 12.401/11 incluiu vários dispositivos à Lei 8080/90, dentre os quais o artigo 19-T, que veda em todas as esferas de gestão do SUS o pagamento, ressarcimento ou reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, bem como a dispensação, pagamento, ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na ANVISA. Entretanto, não raros casos são deferidos judicialmente o fornecimento de medicamentos experimentais e/ou sem registro na ANVISA, portanto, a tais decisões judiciais violam norma expressa de lei. A CRFB/88 determinou que fosse criado o Sistema Único de Saúde, criado no Brasil em 1988, e a LOS regulamentou o SUS, tornando o acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão, rompendo com o modelo anterior, segundo o qual o atendimento de saúde era dividido em três categorias: aqueles que podiam pagar por serviços de saúde privados, aqueles que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social (que eram os trabalhadores com carteira assinada e seus dependentes) e aqueles que não podiam pagar nem tinham emprego formal e, por isso, não tinham direito algum à saúde. O SUS é considerado por muitos especialistas como patrimônio dos brasileiros, pois, segundo o Ministério da Saúde, o SUS conta com mais de 6,5 mil hospitais credenciados, 45 mil 33 unidades de atenção primária e 30,3 mil Equipes de Saúde da Família (ESF). O sistema realiza 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais anuais, 19 mil transplantes, 236 mil cirurgias cardíacas, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia e 11 milhões de internações, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), das Políticas Nacionais de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Programas de Saúde do Trabalhador, programas de vacinação em massa de crianças e idosos em todo o País, dentre outros. A Lei nº 8.080/90, através das alteração trazidas pela Lei 12.401/2011, trata também da incorporação, alteração e exclusão de novas tecnologias dos produtos e serviços na área de saúde pública, envolvendo sobretudo os mais judicializados, determinando que todos sejam submetidos à avaliações de tecnologias pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que deve analisar, entre outros requisitos, as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento e seu respectivo custo benefício para incorporar novas tecnologias (Art.19Q, § 2º). 4.3.3 Saúde suplementar Estabelece o artigo 197 da Constituição Federal que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Cumprindo a determinação constitucional e com inspiração do CDC, aplicável subsidiariamente, a Lei 9.656/98 estabelece a regulação dos planos e seguros privados de assistência de saúde (saúde suplementar). É imperioso o estudo de a saúde suplementar em razão de abranger, atualmente, mais de 25% da população brasileira, distribuídas irregularmente pelas regiões brasileiras, atendidas por cerca de mil operadoras de saúde (dados extraídos do site da ANS). Ainda segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e no DF, mais de 30% da população é coberta por alguma espécie de plano privado de saúde; nos demais estados da região Sudeste e nos estados da região Sul do Brasil, entre 20 e 30 por cento da população é coberta por alguma espécie de plano de saúde privado; já nos estados de Tocantins, Acre, Roraima Maranhão e Piauí, menos de 05 por cento da população tem cobertura de plano privado de saúde; e nos demais estados da Federação o percentual e cobertura da população por planos de saúde privados giram entre 05 e 20 por cento. Apesar da grandiosidade de abrangência e da enorme arrecadação das operadoras de saúde privada (total de mais de 110 34 bilhões de receita bruta em 2013, segundo divulgado no site da ANS), como se verá na análise de casos, quando os planos de saúde negam determinado tratamento, o beneficiário, em sua maioria de classe média, busca no SUS o tratamento, através do Poder Judiciário. Daí a importância de estudar e entender bem este sistema constitucionalmente previsto (art. 199, CRFB/88), embora sem especificar com clareza suas obrigações sociais. Ademais, em relação à formação do sistema sanitário, o Brasil convive com sistema sanitário público, universal, igualitário e integral, ao lado de sistema de saúde suplementar (privado), podendo o indivíduo valer-se do sistema privado, caso disponha de recursos suficientes, ou valer-se do sistema público, independentemente de sua capacidade econômica. Após décadas praticamente sem regulamentação, a área de saúde suplementar passa a ser regulamentado pela Lei 9.656/98, que estabelece requisitos mínimos aos planos de saúde, como, por exemplo, doenças as quais a cobertura é obrigatória (art. 10), área de abrangência, faixa etária, período de cobertura parcial e temporária, etc., e, posteriormente, passa a ser regulado pela ANS4, pois havia contratos que previam exclusão de tratamento de doenças infecciosas e doenças crônicas, assim, cobriam pouquíssimas patologias e procedimentos. Por outro lado, também havia planos mais benéficos aos usuários, motivo pelo qual ainda há alguns contratos de planos antigos (anteriores a 1999) em vigor (art. 35). Um dos grandes desafios da ANS é a diversidade regional brasileira, dadas as gigantescas dimensões territoriais, populacionais e desigualdades culturais e econômicas do País, como demonstra a irregularidade de distribuição proporcional da cobertura dos planos de saúde entre os estados brasileiros. Portanto, para efetivação de um mínimo de isonomia regional a ANS deve levar em consideração as particularidades regionais ao proceder à regulação as saúde suplementar. A lei 9656/98 regulamenta todas as operadoras de plano de assistência à saúde, considerados como pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de plano privado de assistência à saúde. Assim, ainda que não tenha fins lucrativos, a exemplo de cooperativas, as operadoras de plano de saúde serão submetidas à referida Lei. O artigo 8º estabeleceu os requisitos para obter a autorização de funcionamento das operadoras de planos privados de assistência à saúde, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS. 4 Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, criada pela Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2.000, regulamentada pelo Decreto n. 3.327/2000, vinculada ao Ministério da Saúde, cabendo-lhe normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. 35 Essa Lei, cuja constitucionalidade foi suscitada perante o STF (ADI 1931-8/2003)5, veda a chamada seleção de riscos, segundo a qual, antes da vigência da Lei, as operadoras de planos de saúde poderiam negar o ingresso de pessoas que tivessem potenciais possibilidades de contrair patologias cujo custo de tratamento fosse alto. Também estabeleceu que as operadoras criassem reservas de financeiras (provisões) aplicados em instituições financeiras e vinculadas à ANS, de maneira a garantir os seus clientes em caso de liquidação do empreendimento. Outros importantes benefícios garantidos são: a portabilidade aos beneficiários em caso de insolvência da operadora, a cobertura parcial temporária máximas de 24 meses para doenças preexistentes e a obrigatoriedade de cobertura segundo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que são revistos a cada dois anos. Entretanto, tendo-se em vista o objeto desta pesquisa, o artigo mais relevante da lei 9656/98 é o artigo 32 que impõe às operadoras de planos de saúde a obrigatoriedade de ressarcimento ao SUS das despesas referentes aos serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS. A constitucionalidade do artigo em questão foi suscitada perante o STF que reconheceu a repercussão geral sobre o tema (RE 597064-RG/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.3.2011), estando a matéria de mérito ainda pendente de julgamento. 5 LIMITAÇÕES DO ESTADO Como visto em tópicos anteriores, numerosos e variados são os direitos sanitários positivados pelo legislador constitucional e infraconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro, objetivando a consecução do direito à vida digna. Contudo, de uma forma geral, todos os direitos sociais custam recursos financeiros escassos ao Estado, mesmo quando se referem a obrigações negativas, como v. g., o direito de ir e vir, quando manifestações populares, cada vez mais comuns nos dias atuais, impedem profissionais da saúde e pacientes de chegar a hospitais, sendo necessário reforço policial para garantir o acesso, ou quando a legislação tributária privilegia o princípio do não confisco, impedindo que o Estado angarie recursos necessários para implementação de políticas públicas nas mais diversas áreas. 5 Na ADI 1931-8/2003 o STF entendeu que a Lei 9656/98 é constitucional em razão da relevância pública da saúde, o que admite a intervenção estatal no setor privado, sendo apenas um artigo considerado inconstitucional (art. 30) , o qual foi alterado pela MP 2.177-44/2001. 36 Torna clara a limitação do Estado à prestação da saúde diante da escassez de recursos, aqui conceituada como a insuficiência de bens para atendimento a contento de toda a sociedade. A escassez de recursos materiais e não materiais, segundo Gustavo Amaral, pode ocorrer em vários graus, aos quais o referido autor classifica em natural severa, natural suave, quase natural e artificial. Sendo: A escassez natural severa aparece quando não há nada que alguém possa fazer para aumentar a oferta. Pinturas de Rembrandt são um exemplo. A escassez natural suave ocorre quando não há nada que se possa fazer para aumentar a oferta a ponto de atender a todos. As reservas de petróleo são um exemplo, a disponibilização de órgãos de cadáveres para transplante é outra. A escassez quase natural ocorre quando a oferta pode ser aumentada, talvez a ponto da satisfação, apenas por condutas não coativas dos cidadãos. A oferta de crianças para adoção e de esperma para inseminação artificial são exemplos. A escassez artificial surge nas hipóteses em que o governo pode, se assim decidir, tornar o bem acessível a todos, a ponto da satisfação. A dispensa do serviço militar e a oferta de vagas em jardim de infância são exemplos. (AMARAL, 2001. p.133/134) Os bens escassos e necessários podem ser heterogêneos, como a terra e a moradia; divisíveis como a água e energia elétrica; ou indivisíveis como órgãos para transplantes. No caso de bem indivisível, como órgãos para transplante, em regra insuficientes em quantidade para atender à demanda nacional acarretam no problema das listas de espera de transplantes, pois não nos parece razoável estipular qualquer forma de prioridades. Entretanto, observa-se existência de pessoas que aguardam para realização de transplante de um único órgão e outros que aguardam transplantes múltiplos, cabendo ao Poder Público o dever de regulamentação e organização de listas de espera e traçar prioridades, bem como campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos. Em qualquer caso, haja vista serem os recursos, financeiros ou não, finitos e a demanda de saúde da sociedade infinita, surge ao Poder Público o tormentoso desafio de alocar os insuficientes recursos existentes de maneira a garantir, da melhor forma possível, a igualdade na distribuição dos recursos, sob pena de violação do princípio basilar da igualdade preconizado pela Constituição Federal de 1988. A sociedade sempre demanda mais atuações positivas estatais, principalmente na área da saúde, já que a própria ação positiva do Estado acarreta-lhe mais despesas. No início do século XX engatinhavam as primeiras preocupações com a medicina preventiva, como programas de vacinação, de saneamento básico, atendimento pré-natal, etc.. Com o decorrer do tempo o Estado foi ampliando programas de medicina preventiva, obtendo resultados positivos, como a diminuição da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida, com isso também se verifica grande aumento da população e de suas necessidades perante o Estado, como as doenças próprias da idade avançada, que demandam alto custo para o 37 tratamento e resultados pouco promissores, assim o sucesso da atuação estatal na área sanitária gera problemas financeiros futuros de difícil solução ante a escassez de recursos. Segundo Gustavo Amaral, os professores Stephen Holmes e Cass R. Sunstein publicaram em 1999 o livro The Cost o f Rights: Why Liberty Depends on Taxes, no qual tratavam da superação da diferenciação entre direitos positivos e negativos, destacando o alto custo para a garantia de ambos os casos e as limitações do Poder Público Estadunidense à sua realização. No Brasil, o infectologista David Uip6, em entrevista concedida à repórter do Jornal Folha de São Paulo, Lu iana Marins, em 25/05/1998, já afirmava que: “o atendimento universal previsto na Constituição - um „engano de retóri a‟ (...) não possíve dar um atendimento de ente a toda a popu ação om os re ursos disponíveis hoje para a Saúde”. Na mesma entrevista o sanitarista/infectologista já apontava, a seu ver, um aminho para a solução: “a úni a so ução para a rise retirar das „ ostas‟ do SUS (Sistema Úni o de Saúde) os 41 milhões de pessoas que hoje pagam planos de saúde. Se você tira da responsabilidade do SUS os 41 milhões, quem fica vai ser mais bem atendido.” A verdade é que o problema da escassez de recursos se revela especialmente grave em relação ao acesso à saúde. O senso comum nos leva a pensar que quando a saúde e a vida do indivíduo estão em risco, questionar o seu custo é algo repugnante, imoral e inadmissível, principalmente diante do cenário político contemporâneo, no qual são divulgados diariamente pelos veículos de comunicação notícias de corrupção e desvios milionários de verbas públicas, inclusive da área de saúde. Mas, o aumento do custo com o tratamento sanitário individual tornou essa posição insustentável, pois, além da questão financeira a ser observada, há recursos que extrapolam a problemática das finanças públicas, tais como órgãos insuficientes para transplante, falta de pessoal especializado e equipamentos, que são escassos em relação às necessidades da sociedade. Portanto, em se tratando de saúde pública, a escassez de recursos é inerente à necessidade humana. Por isso, cabe ao Poder Público alocar adequadamente os recursos públicos. Nas palavras de Gustavo Amaral, a alocação de recurso envolve decisões de três ordens, relativas a quanto disponibilizar, a quem atender e, ainda, a condutas dos potenciais beneficiados, e que não há um critério único que possa balizar todas essas decisões. Ao contrario, as decisões tendem a ser politicas e locais. (AMARAL. 2001. p.172) Como se não bastassem as limitações orçamentárias do Estado para consecução do direito à saúde, há ainda a problemática social, pois a implementação de politicas públicas relacionadas 6 Médico infectologista, atualmente comentarista da Record News e Secretário de Saúde da Cidade de São Paulo. 38 à área sanitária, tais como a ampliação de saneamento básico, desenvolvimento de tratamento preventivo de saúde, facilitação de acesso à informação, dentre outros, acarreta na ampliação da expectativa de vida do brasileiro e, com isso, grande impacto na demanda por políticas públicas, sobretudo nas áreas da saúde e previdenciária. Segundo estatísticas do IBGE, em 2025 a população idosa no Brasil deverá alcançar cerca de 30.000.000 (trinta milhões) de habitantes. Nesse sentido e dentro de perspectivas mundiais, a OMS elaborou estudo denominado “Envelhecimento Ativo: uma política de saúde”, no qual analisa o envelhecimento da população. Segundo este estudo, o Brasil e outros países em desenvolvimento, terão basicamente sete grandes desafios a suportar, a saber: (1) a carga dupla de doenças, que se refere às mudanças nos padrões de vida e trabalho, uma vez que os países em desenvolvimento ainda lutam contra doenças infectocontagiosas, desnutrição e complicações puerperais, esses países enfrentam um rápido crescimento das doenças não transmissíveis (DNTs ou doenças crônico-degenerativas), esta “ arga dupla de doenças” reduz os recursos já escassos ao seu limite; (2) o maior risco de deficiência, relacionado à mobilidade do idoso; (3) provisão de cuidado para populações em processo de envelhecimento, cujos desafios da política de saúde é alcançar um equilíbrio entre o apoio ao “auto uidado” (pessoas que uidam de si mesmas), apoio informal ( uidado por familiares e amigos) e cuidado formal (serviço social e institucional de saúde); (4) a feminização do envelhecimento, pois as mulheres correspondem a dois terços da população acima de 75 anos, nesse caso, o desafio reside no fato das mulheres, mesmo as idosas, serem as principais vítimas da violência doméstica, bem como são mais suscetíveis de sofrer doenças em razão do maior sofrimento físico aos quais são submetidas no decorrer de suas vidas (dupla jornada de trabalho, partos, violência doméstica, etc.); (5) ética e iniquidades, relacionada à discriminação para alocação de recursos aos idosos; (6) a economia de uma população em processo de envelhecimento, relacionado ao excessivo aumentos dos gastos públicos com saúde e previdência social; (7) a criação de um novo paradigma, ou seja, é necessário perceber os idosos como participantes ativos de uma sociedade com integração de idade, contribuintes ativos e beneficiários do desenvolvimento. Há também o impacto deslocativo do orçamento, quando as decisões judiciais determinam que o administrador público forneça determinado medicamento ou tratamento de saúde de alto custo a determinado indivíduo, obrigando o deslocamento de verbas que seriam destinadas à saúde preventiva coletiva. Entretanto, atualmente, em muitos casos o particular se vale do Poder Judiciário para fraudar o sistema de saúde, através de laboratórios que, 39 através de remuneração indireta, faz com que médicos receitem determinados medicamentos e tratamentos de alto custo, muitas vezes experimentais, de eficácia duvidosa e/ou superfaturados, e advogados que ingressam com ações junto ao Poder Judiciário para pleitear que tais tratamentos sejam fornecidos pelo Estado. A limitação orçamentária revela-se particularmente grave em se tratando dos municípios de pequeno porte quanto ao atendimento das determinações judiciais. Em determinados casos, uma única determinação judicial pode extrapolar a capacidade financeira de municípios menores, cuja principal fonte de arrecadação de recursos são repasses dos estados e da União. A título de exemplo, apenas no ano de 2013, o Município de Pará de Minas, conforme dados do próprio Município, respondia por 144 ações judiciais sobre saúde, sendo que gastou cerca de R$ 2.225.000,00 com o cumprimento de decisões judiciais no mesmo ano, principalmente com ações propostas nos juizados especiais, que direcionam suas demandas exclusivamente em face do município. É fato que há solidariedade entre os entes políticos no atendimento de saúde, portanto, caso um ente seja condenado ao cumprimento de determinações judiciais, não raras vezes com sequestro de valores, este ente poderia ajuizar ação de regresso contra os demais para reaver as respectivas cota-partes que seriam de responsabilidade destes entes. Entretanto, o ressarcimento somente ocorreria, nesse caso, após anos de tramite processual e espera na fila de precatórios, o que, segundo estima-se, ocorreria após vários anos. 6 ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A Constituição Federal de 1988 garante como direito fundamental a inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), assim, todos os indivíduos têm direito de recorrer ao Poder Judiciário quando entender que direito seu foi violado ou está na iminência de ser violado. Portanto, o acesso à Justiça também é direito fundamental, pois se não fosse assim a garantia de acesso universal e igualitário com atendimento integral à saúde, seria inócuo, pois não haveria forma de garantir o direito material. Entretanto, adverte-se que o entendimento de que a justiça, em sentido amplo, é alcançada somente através do Poder Judiciário é equivocado, pois uma justiça social somente será alcançada através de ações dos três poderes e da sociedade em geral, dirigidos ao melhor interesse da coletividade. Entretanto, o direito a saúde, não depende da ocorrência de nenhum fato, nem mesmo de estar doente, tanto que os sãos têm direito de pleitear o acesso a programas públicos de saúde, 40 como à vacinação. Gustavo Amaral entende que a atuação do Poder Judiciário deve ser ativa, pois, (...) a Constituição de 1988 reclama um judiciário vinculado às diretivas e às diretrizes materiais da Constituição, um judiciário ativista, voltado para a plena realização dos comandos constitucionais e para compensar as desigualdades e o descuido da sociedade brasileira: para com a dignidade da pessoa humana, diz que disso não resultaria o judiciário atuar como legislador, nem que deva se substituir à atividade do administrador, mas sim que a Constituição Federal exige um novo tipo de juiz, não apenas apegado aos esquemas da racionalidade formal e, por isso, 'muitas' vezes, simples guardião do status quo. (AMARAL. 2001 P.17) É crescente o número de ações judiciais pleiteando tratamento de alto custo em razão de negativa de tais tratamentos pelo Estado. Mas, o Poder Judiciário esbarra em diversos problemas das mais variadas ordens. A começar pela própria limitação interna para julgar a quantidade de processos existentes em trâmite nos numerosos juízos espalhados pelo País. Tendo-se em vista que a demora na prestação jurisdicional retrata, não raros casos, inocuidade das decisões tardias, grande é o esforço do Poder Público para superar tal obstáculo, como, por exemplo, incentivo à conciliação e aos meios alternativos de solução de conflitos (exemplo da lei 9.307/96) e a edição da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/90). Porém, conforme adverte Gustavo Amaral: O dilema talvez possa ser resumido da seguinte maneira: sentença tardia é injusta independentemente de seu conteúdo material. A se assegurar a mais ampla possibilidade de argumentação e de produção de provas, em todos os processos, a solução final tardaria bem mais que o suportável, tornando-a intrinsecamente injusta, como já colocado. Um procedimento célere, com limitações a argumentação, a produção de provas e a possibilidade de recursos gerará um percentual de decisões in orretas, indetermináveis „a priori‟, mas entre entregar na grande maioria dos casos sentenças injustas porque tardias e assumir o risco de um grau de imperfeição no exercício jurisdicional, opta-se pela segunda possibilidade. (AMARAL. 2001. p.39) Contudo, no enfrentamento da judicialização da saúde o Poder Judiciário, seja em primeiro grau, seja em grau recursal, se depara com o dilema do desconhecimento técnico na área médica, pois, segundo a Desembargadora do TJMG, Dra. Vanessa Verdolini Úrsula Andrade, não raras vezes os pedidos de liminar são requeridos não por quem de fato tem seu direito à saúde violado, mas por pessoas que, através de seus advogados, querem “furar a fila” do SUS ou por laboratórios que querem inserir no mercado medicamentos de altíssimo custo ou experimentais através do Poder Judiciário, ou mesmo por pessoas que se encontram amparadas por planos de saúde privados. Segundo a mesma Desembargadora, o referido problema, atualmente, por recomendação do CNJ, foi mitigado no âmbito da Justiça Mineira 41 através de convênio firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde (Nats), do Hospital das Clínicas da UFMG, o qual emite notas técnicas científicas colocadas à disposição do Poder Judiciário, por requerimento de magistrados em casos concretos, para viabilizar julgamento de ações relacionadas à saúde, sobretudo no caso de liminares, com mais equidade e justiça. Segundo o Desembargador Renato Luiz Dresch, o Estado de São Paulo está atualmente cobrando judicialmente de laboratórios particulares cerca de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões) em razão de experimentos efetuados às custas de ações propostas junto ao Poder Judiciário. Ocorre o seguinte: para fazer experimentos os laboratórios devem custear a saúde do indivíduo que se submete ao experimento por toda a vida, inclusive após término da experiência, mas os laboratórios estavam fazendo “a ordos” om médi os e advogados, sendo que aqueles prescreviam os medicamentos e estes ajuizavam ações para obrigar o Estado a pagar o tratamento experimental, ou seja, utilizavam-se do Poder Judiciário para obrigar o Estado a financiar suas pesquisas, para, se fossem bem sucedidos os tratamentos com os novos medicamentos, lançá-los no mercado, sem ter de arcar com os custos de eventual insu esso. Ou o aso da “fraude das próteses”, vei ulado pelo site globo.com em 19/01/2015, que contava com a atuação de médicos, advogados e empresas distribuidoras de próteses, que, resumidamente, buscavam o Poder Judiciário para compelir o Estado a financiar o uso de próteses superfaturadas, que culminou com a prisão de 21 pessoas no Rio Grande do Sul e a instauração de CPI no Congresso Nacional. A questão orçamentária municipal também constitui grave desafio ao Poder Judiciário, pois, caso determinado município forneça medicamento de alto custo não constante das listas de medicamentos da ANVISA, suas contas não serão aprovadas, mas, caso o próprio agente político orientar o paciente a ajuizar a ação judicial e o pedido for deferido, as contas serão aprovadas, pois o fornecimento do medicamento ocorreu por determinação judicial. Ou casos como do município de Teresópolis/RJ, que se valia de decisões judiciais para adquirir medicamentos superfaturados da farmácia de um ex-vereador municipal, conforme apurado na operação Tarja Preta realizada pela PF e MP. Outro problema complexo enfrentado pelos juízes é a questão de mensurar o quanto uma decisão judicial que garante um direito individual transcende ao processo e gera reflexos à coletividade. Nesse caso, ocorre o chamado impacto deslocativo do orçamento e a desestruturação das ações públicas programadas pelos gestores públicos, ou seja, há a 42 previsão de alocação de determinados recursos em setores predeterminados da saúde preventiva, por exemplo, e o magistrado, diante de situação fática, determina que o ente político promova imediatamente tratamento de alto custo para determinado indivíduo, assim aqueles recursos anteriormente destinados para outras ações em saúde são deslocados para cumprimento da determinação judicial, gerando prejuízos à coletividade, uma vez que as verbas serão insuficientes para a implementação daquela ação inicialmente definida. Porém, não é razoável negar a prestação de saúde, constitucionalmente garantida como direito fundamental, ao simples argumento da reserva do possível. Se, por um lado o juiz tem a difícil missão de manter isenção quando noticiado o risco de morte iminente (sobreposição da razão à emoção), por outro lado deve observar também o interesse individual no caso concreto, interpretando a normatização constitucional e infraconstitucional, de maneira a buscar a harmonização social e a garantia de vida digna do indivíduo. Tem ganhado força no âmbito da Justiça a chamada medicina baseada em evidências, que consiste em acesso à saúde sujeito às evidências científicas da relação custo/benefício/efetividade do medicamento para o tratamento proposto, ou seja, fornecer o tratamento/medicamento mais adequado para cada paciente e estágio de cada enfermidade com análise de seu custo à sociedade. Assim, o que define a medicina baseada em evidência se baseia nas seguintes indagações: Eficácia: o produto ou procedimento produz efeito? Eficiência: o efeito produzido melhora a saúde do paciente? Efetividade: resultado positivo prolonga a vida do paciente? Segurança: quais são os efeitos colaterais do medicamento? Comparação: há outro medicamento/tratamento eficiente no mercado? Custo: quanto custa o tratamento ou medicamento em relação a outros disponíveis no mercado? É claro que a ampliação da utilização desse conceito nas decisões judiciais não é suficiente para que o Judiciário atinja seus objetivos, porém, por se tratar de critérios objetivos, certamente tem relevante valor na composição do convencimento do julgador. Dada importância do tema, o CNJ emite resoluções, dentre as quais destacamos a Resolução nº 107/2010 que cria o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, a Resolução nº 127/2011, que sugere a criação de um fundo de perícia e a Recomendação CNJ nº 43/2013, que sugere a especialização de varas para ações de saúde. Efetivamente, o CNJ promove fóruns estaduais do Poder Judiciário para a saúde, que contam com gestores públicos, profissionais da área da saúde de operadores do Direito, cujos produtos são enunciados ou recomendações sobre saúde que, embora não tenham efeito vinculativo e não sejam de observância obrigatória, podem ser 43 observados por magistrados, advogados, defensores públicos e promotores de justiça, uma vez que tratam de temas controversos e relevantes em relação à saúde e justiça. Nos próprios termos expressos pelo CNJ, os enunciados têm por finalidade auxiliar a comunidade jurídica na interpretação de questões não pacificadas no âmbito doutrinário e jurisprudencial. A título de exemplo, vejamos três enunciados sobre o tema: ENUNCIADO Nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde: Recomenda-se ao autor da ação a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. A Judicialização deve ser exceção, pois cabe ao gestor público administrar as contas públicas e manter a distribuição de medicamentos e organização de atendimentos e tratamentos em saúde. O que se observa em vários casos é o pedido, via judicial, de medicamentos, disponíveis gratuitamente nas farmácias públicas ou de tratamentos de alto custo mesmo havendo tratamentos similares disponibilizados pelo SUS. ENUNCIADO Nº 6 da I Jornada de Direito da Saúde: A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Questão delicada se refere ao fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, pois muitos estudiosos do assunto já consideram os critérios para registro de medicamentos na Anvisa pouco confiáveis, uma vez que a própria Agência não procede aos testes de qualidade e eficiência, cabendo tal ônus ao próprio fabricante ou a prova do registro do medicamento no país onde foi produzido. ENUNCIADO Nº 17 da I Jornada de Direito da Saúde: Na composição dos Núcleos de Assessoria Técnica (NATs), será franqueada a participação de profissionais dos Serviços de Saúde dos Municípios. As notas técnicas emitidas pelo NAT em Minas Gerais se mostram úteis como forma de atenuação das limitações técnicas às quais os magistrados se sujeitam quando estão diante de demandas em razão do Direito Sanitário. Segundo estudos da OMS, estima-se de 50% dos diagnósticos médicos são equivocados, nesse contexto, os pareceres técnicos mostram-se mais relevantes. Analisando alguns deles, solicitados por magistrados, verificam-se casos em que a medicação pleiteada a partir de receituário médico não é compatível com a patologia, ou há medicamentos igualmente eficientes, porém fornecidos pelo SUS ou com custo inferior àquele mencionado no receituário. 6.1 Análise de casos 44 Em se tratando de ações estatais no campo da saúde, dada relevância do tema, a escassez de recursos do Estado e as infinitas necessidades individuais e coletivas, numerosas e nem sempre uniformes são as decisões judiciais sobre o tema. Nas palavras do Ministro do STF Gilmar Mendes; “A doutrina constitucional brasileira há muito se dedica à interpretação do artigo 196 da Constituição. Teses, muitas vezes antagônicas, proliferaram-se em todas as instân ias do Poder Judi iário e na seara a adêmi a.” (MENDES.2010.p.06). Por estes motivos, selecionamos alguns casos levados ao Poder Judiciário sobre os principais pontos abordados nos tópicos anteriores desse trabalho. 6.1.1 Direito de defesa oposto ao Estado Para início de estudo de casos, diante da dificuldade de visualização concreta do direito à saúde como um direito de defesa oposto ao arbítrio estatal, procedemos à análise de um caso submetido ao TRF da 4ª Região para contestar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.068/98 do município gaúcho de São Sebastião do Caí, que tornou obrigatório o exame periódico de saúde pelas pessoas que se dedicam ao comércio do sexo. Segundo a referida lei, as profissionais do sexo deveriam se submeter a exames de HIV a cada 90 dias, sendo que as pessoas acometidas da doença não poderiam trabalhar nas casas de prostituição, sob o fundamento de prevenção da doença. Nesse caso o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por entender que a lei em questão viola direito indisponível. Em primeira instância a ação foi julgada improcedente em razão de carência da ação por falta de interesse de agir do MPF. O MPF interpôs apelação ao TRF da 4ª Região (APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000.04.01.031627-9/RS), que foi julgada procedente, reconhecendo a legitimidade do MPF por se tratar de direitos individuais homogêneos são aspectos de abrangência e repercussão social, segundo a Relatora Des. Federal Marga Inge Barth Tessler, bem como condenado o Município de São Sebastião do Caí à obrigação de não fazer, consubstanciada em não submeter pessoas que se entregam ou se supõe entregar-se à prostituição, a exame de HIV e DST de noventa em noventa dias e apresentação dos respectivos resultados, fixando, caso persista a ilegalidade, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada pessoa que eventualmente submetida aos exames obrigatórios de saúde por parte do Município de São Sebastião de Caí/RS, com fulcro no artigo 11 da Lei nº 7.347/1985. Vejamos o acórdão: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS HUMANOS. PROFISSIONAIS DO SEXO. LEI MUNICIPAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE EXAME HIV/AIDS. 45 DISCRIMINAÇÃO. ÉTICA MÉDICA. OFENSA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Constituição atribui ao Ministério Público a função institucional de promover ação civil pública para a proteção de quaisquer interesses difusos ou coletivos por força dos artigos 127, caput, e 129, inc. III. 2. A exigência da municipalidade - obrigar as pessoas que se dedicam ao comércio do sexo a exames de saúde para diagnóstico de HIV e DST vulnera de forma aberta os direitos fundamentais de proteção da dignidade da pessoa humana, da intimidade, da igualdade e os princípios regedores do SUS. 3. A norma Municipal, ao desrespeitar princípios basilares do SUS, como a autonomia do paciente, o sigilo, a intimidade, investe contra o próprio sistema público de saúde e só isto seria motivo suficiente a conferir legitimidade ao Ministério Público Federal. 4. As normas veiculadas em tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos firmados pela República se encontram equiparados aos direitos fundamentais, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição Federal, particularmente da prioridade que atribui aos direitos fundamentais e ao princípio da dignidade humana. 5. A ação civil pública é o instrumento adequado para a declaração de inconstitucionalidade da norma, desde que veicule pretensão, mandamental ou condenatória, que na via do controle abstrato seria inadmissível. 6. "Se a inconstitucionalidade é argüida como fundamento de outra pretensão que não a mera declaração da invalidez da norma - por exemplo, de uma pretensão condenatória ou mandamental, malgrado derivada da inconstitucionalidade de determinada regra jurídica - não será a da ação direta a via processual adequada, mas sim a do controle incidente e difuso". (Precedente STF, Reclamação nº 1.017/SP) 7. É o caso dos autos, porque a alegada inconstitucionalidade da lei Municipal é fundamento da pretensão deduzida, que é a condenação da Municipalidade a não fazer o coercitivo controle sociológico em relação às pessoas que se dedicam ao comércio do sexo. 8. O Eminente Magistrado sentenciante, ao usar a tese da derrogação da convenção pela lei municipal posterior, ingressou no mérito da ação, o que permite a solução imediata da controvérsia neste processo, procedimento que adoto também com suporte no § 3º do artigo 515 do CPC. 9. A lei Municipal nº 2.068/1998 não se sustenta no ordenamento jurídico pátrio, pois em relação a um grupo determinado de pessoas instituiu um apartheid sanitário e social, com violação de preceitos da Constituição e do SUS. 10. A conduta do réu, que se sente autorizado por uma lei municipal, contraria o art. 6° da Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, pois estabelece condições excepcionais de vigilância sanitária às pessoas que se entregam à prostituição. 11. Os direitos inscritos no art. 6° da Convenção são direitos fundamentais incorporados à Constituição Federal de 1988 por força do § 2° do art. 5°. Ademais, remetem aos direitos fundamentais de igualdade (art. 5°, caput, da intimidade (art. 5°, X), que são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III). 12. A condenação da parte ré na verba honorária em ação civil pública, por não se aplicar ao caso o CPC, só se justifica no caso de litigância de má-fé, por aplicação do princípio da simetria (art. 17 da Lei nº Lei 7.347/85, com a redação dada Lei 8.078/90). 13. Fixada multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada pessoa que eventualmente for doravante submetida aos exames obrigatórios de saúde por parte do Município de São Sebastião de Caí/RS (art. 11 da Lei nº 7.347/1985). (TRF-4, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 18/04/2007, QUARTA TURMA) 6.1.2 Medicamento de alto custo não fornecido pelo SUS – legitimidade do MP Uma jovem cearense de 21 anos foi acometida de doença neurodegenerativa rara, denominada Niemann-Pick Tipo C, sendo que, segundo laudo de especialista, o único tratamento eficaz se faria com a substância miglustat (Zavesca), ainda pendente de registro na Anvisa, ressaltando 46 que tal fármaco poderia aumentar a sobrevida e/ou a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Asseverando que os pais da jovem não possuiriam condições financeiras de custear o medicamento, cujo custo estimado da dosagem mensal prescrita giraria em torno de R$ 52.000,00. Os pais da jovem solicitaram o custeio do referido medicamento aos poderes públicos, não obtendo resposta. Diante desse quadro, foi proposta Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela pelo MPF para que o Poder Público fosse compelido ao fornecimento do fármaco. O Juiz Federal a quo julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade do Ministério Público Federal, tendo em conta que a paciente já contaria com 21 anos de idade, podendo recorrer à Defensoria Pública. O MPF interpôs apelação ao TRF da 5ª Região (APELAÇÃO CÍVEL Nº 408729 CE (2006.81.00.003148-1), que foi julgada procedente por unanimidade reconhecendo a legitimidade do MPF para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais indisponíveis e deferindo a tutela antecipada, condenando os réus Município de Fortaleza e Estado do Ceará ao fornecimento de medicamento (TRF-5 - AC: 408729 CE 2006.81.00.003148-1, Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 24/05/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 28/06/2007 - Página: 743 - Nº: 123 - Ano: 2007). Inconformada a União interpôs junto ao STF a STA nº 175-CE, sob argumento de que o acórdão do TRF da 5ª Região violaria o princípio da separação de poderes, as normas e os regulamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), desconsideraria a função exclusiva da Administração na definição das políticas públicas, o Poder Judiciário estaria interferindo nas diretrizes de políticas públicas, além de sua ilegitimidade passiva, bem como ofende ao sistema de repartição de competências, como a inexistência de responsabilidade solidária entre os integrantes do SUS ante a ausência de previsão normativa, que foi prontamente indeferido pela Presidência do STF. Ainda inconformada, a União interpôs agravo regimental contra a decisão do então Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes. Por fim foi indeferida a suspensão, sendo rechaçados todos os argumentos. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. SAÚDE PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AUDIÊNCIA PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. POLÍTICAS PÚBLICAS. JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PARÂMETROS PARA SOLUÇÃO JUDICIAL DOS CASOS 47 CONCRETOS QUE ENVOLVEM DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: ZAVESCA (MIGLUSTAT). FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA, À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - STA: 175 CE , Relator: Min. GILMAR MENDES (Presidente), Data de Julgamento: 17/03/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070). Essa decisão é considerada pela doutrina como um marco da judicialização do direito fundamental à saúde, especialmente no que concerne à omissão do Estado no fornecimento de medicamentos e legitimidade do Ministério Público. Isso porque o acórdão analisado foi o primeiro que utilizou subsídios de audiência pública para fixar orientações sobre a questão consolida o posicionamento da Suprema Corte brasileira a respeito desse tema tão debatido e controvertido e que reflete um dos maiores anseios dos cidadãos brasileiros a respeito da implementação de direitos fundamentais. 6.1.3 Saúde Suplementar A saúde suplementar, embora seja regida pelo direito privado, também é objeto do presente estudo, como já mencionado anteriormente, por compor o sistema de saúde brasileiro, dada sua abrangência e aceitação no mercado nacional, bem como por comercializar tratamento sanitário, constitucionalmente elevado à categoria de relevância pública. Por outro lado, gastos com saúde particular são hipóteses de deduções de imposto de renda, portanto, diminuição de arrecadação de impostos pelo Estado. Assim, analisaremos a seguir dois casos, com desfechos diferentes relacionados a usuários de planos de saúde: Agravo de Instrumento Cv : AI 10024133910687001 MG AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO ORAL E DOMICILIAR ESPECÍFICO E IMPRESCINDIVEL PARA O TRATAMENTO DE CARCINOMA DAS CÉLULAS HEPÁTICAS - NEXAVAR - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - ABUSIVIDADE DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, mesmo quando o contrato 48 não prevê cobertura para uso domiciliar ou ambulatorial, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pelo agravado, não importando a forma como o tratamento será ministrado. II - Tendo em vista a presença da verossimilhança das alegações fundada em prova inequívoca, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde do agravado, deve ser mantida a decisão recorrida. III - Abusividade da cláusula que exclui o fornecimento do medicamento para uso domiciliar, violação a direitos da personalidade, proteção constitucional à saúde e à vida - Os tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados dos medicamentos utilizados para sua realização, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas terapias. III - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL) Nesse caso, em resumo, a autora da ação, usuária do plano de saúde, foi diagnosticada com carcinoma invasor da mama, patologia coberta pelo seu respectivo plano de saúde. Ocorre que o profissional médico de confiança da paciente prescreveu o medicamento examestano associado ao everolimus, segundo a operadora de plano de saúde, não coberto pelo plano e sem registro na ANVISA. Tanto o Juízo a quo quanto a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entenderam que não é admissível a dissociação da patologia e medicamento ou tratamento quanto à cobertura dos planos de saúde, condenando a operadora ao fornecimento do medicamento conforme prescrição médica, sob pena de incorrer em multa mensal de R$ 20.000,00 mensais, em caso de descumprimento. Agravo de Instrumento CV: AI 1.0471.13.019324-9/001 ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRESTAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO DE MINAS GERAIS E AO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DO ÚLTIMO. - No âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade atribuída ao Município limita-se aos medicamentos que integram a denominada farmácia básica - o Programa Farmácia de Minas. - Descabe atribuir ao Município a incumbência de fornecer medicamento que é padronizado pelo Estado de Minas Gerais, porquanto, além de não lhe competir a disponibilização de tratamento de alto custo, a medida pode gerar danos aos cofres públicos municipais, bem como a toda coletividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0647.14.004309-0/001 - COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO SÃO SEBASTIAO PARAISO - AGRAVADO (A)(S): MARCELO RAMOS SANTOS - INTERESSADO: ESTADO DE MINAS 49 GERAIS. (TJ-MG - AI: 10647140043090001 MG , Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2014) As partes desse processo são o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representando o autor, idoso acometido de doença oncológica, o Município de Pará de Minas e o Estado de Minas Gerais, sendo objeto o fornecimento de radioterápico de alto custo (cerca de R$ 25.000,00). O Juízo a quo concedeu liminar condenando os réus à promover o tratamento constante do relatório médico, com arbitramento de multa diária de R$ 5.000,00 pelo descumprimento da decisão, sem prejuízo de bloqueio de valores, o que efetivamente ocorreu para realização efetiva do tratamento. O Município de Pará de Minas interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva e suas limitações financeiras. O que foi deferido, excluindo-se o Município da abrangência da decisão de primeira instância, conforme acórdão supra. Nesse caso, conforme jurisprudência consolidada em todas as instâncias e tribunais, não há qualquer dúvida acerca do direito invocado judicialmente. Entretanto, colacionamos esses dois julgados porque têm em comum o fato de que em ambos os casos os pacientes eram usuários de planos de saúde, ou seja, contribuíram por vários anos aos planos de saúde, no último caso, conforme recibos juntados aos autos, em valor superior a R$ 1.000,00 por mês. Ambos procederam a todo o tratamento junto às suas respectivas operadoras de saúde, sendolhe negados os tratamentos ou medicamentos quando se revelaram de alto custo, embora em ambos os casos seus direitos, segundo a jurisprudência, eram evidentes, pois, conforme decidido no AI 10024133910687001 MG, tratamentos que se encontram inseridos na cobertura contratada não podem ser, de forma alguma, dissociados dos medicamentos utilizados para sua realização, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá cobertura a determinadas terapias. Compulsando os autos do AI 1.0471.13.019324-9/001, verifica-se se tratar o paciente de pessoa de classe média, com recursos suficientes para arcar com custo de plano de saúde, como de fato fazia, portanto, em uma visão de macrojustiça, seria mais coerente e justo com a sociedade que o Ministério Público tivesse acionado o plano de saúde, pois acionado diretamente o Poder Público, sequestrando valores que foram utilizados no tratamento individual imediato, percebe-se a ocorrência o fenômeno do impacto deslocativo do orçamento e, principalmente, por outro lado, também se verifica concretização da teoria da universalidade excludente do direito à saúde, pois, aquele que teve todo o tratamento 50 realizado pela iniciativa privada teve preferência de tratamento sobre indivíduos indeterminados, em regra de pouca instrução e limitados recursos financeiros, que se submetem aos procedimentos determinados pelo SUS, necessariamente, precisam passar por procedimentos predeterminados e coordenados. 7 CONCLUSÃO Diante do quadro da saúde no Brasil demonstrado neste trabalho, a tendência natural que se percebe é a busca de amparo judicial para garantia desse importante direito constitucionalmente garantido. Segundo dados do CNJ foram propostas mais de 240 mil ações versando sobre saúde no Brasil desde 2010, que passaram a ser acompanhadas mais de perto pelo Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. A partir das decisões judiciais favoráveis à concessão de tratamentos de saúde negados administrativamente, parece real a sensação geral de que o discurso de que o Estado dispõe de recursos, mas que estes recursos não são bem empregados. Isso se dá porque o juiz observa apenas o caso concreto posto nos autos, tomado individualmente e sob a ótica da necessidade de realizar plenamente o comando constitucional que é determinante para a consecução do direito à vida digna, assim, judicialmente, não há situação para a qual não haja recursos. Não há tratamento inviável ou que suplante o orçamento da saúde ou, mais ainda, aos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, impondo a reserva do possível à coletividade. Assim, focando apenas o caso individual, vislumbrando apenas o custo de alguns milhares de reais para fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, ou algumas centenas de milhares de reais para tratamento no exterior, ou, ainda, para tratamentos de urgência. Não discordamos de que a administração pública é ineficiente, realmente empregando mal os recursos públicos, bem como deixando que os recursos públicos se percam diante da morosidade administrativa e corrupção de agentes públicos e particulares que se vinculam (ou não) à administração pública. Entretanto, diante da crescente demanda por prestações estatais de custo cada vez mais elevados, nos parece claro que questão da limitação de recursos deve ser levada a sério, principalmente pelo Poder Judiciário no momento da concessão de medidas liminares e de suas decisões finais, já que de outra forma, o Estado sequer será capaz de atender às determinações judiciais. Amparados pela corrente majoritária da doutrina e jurisprudência, conforme cada assunto tratado no decorrer desse trabalho acadêmico, é possível afirmar que o direito social à saúde é 51 de eficácia concreta e imediata; o Poder Judiciário é legítimo para assegurar acesso a ações e serviços de saúde quando houver omissão do poder público, bem como não pode se negar a tal mister; o acesso à saúde é um direito público subjetivo, de todos, com acesso por ação individual ou coletiva; a solidariedade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, reconhecida a prevalência de acesso pelas políticas públicas na rede integrada com critérios de subsidiariedade que constituem o sistema único; é necessário da incorporar novas tecnologias relacionadas à saúde, observada a evolução da medicina para atender novas doenças e evitar a volta de doenças supostamente erradicadas no Brasil, com garantia de acesso aos recursos de saúde sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. A ausência de recursos parece obstáculo intransponível, pelo menos a curto prazo, porém, medidas imediatas devem ser manejadas para evitar um colapso do sistema de saúde. Assim, em relação à atuação Poder Judiciário, o CNJ emitiu as recomendações 31/2010 e 36/2011, destacando as seguintes medidas: a prevalência das políticas públicas em relação a outros procedimentos requeridos pelo paciente; o acesso fora das políticas públicas deve ser condicionado ao não comprometimento das políticas públicas de funcionamento do SUS; deve-se, sempre que possível, optar pela medicina baseada em evidências; deve haver imprescindibilidade de prova da ineficácia ou impropriedade das políticas de saúde para o acesso a procedimentos não incorporados pelo SUS; acesso apenas excepcional a medicamentos não registrados na ANVISA; o Poder Judiciário deve proceder à celebração de convênios para disponibilizar notas de apoio técnico7; sempre que possível, o juiz deve ouvir os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência; e negativa de fornecimento de tratamentos experimentais. O apoio técnico dos núcleos de assessoria técnica, principalmente em medias liminares e antecipações de tutela, têm se revelado de fundamental importância aos magistrados, o que fica evidenciado na análise das decisões judiciais que utilizam expressamente de seus argumentos para sua fundamentação. Portanto, os NATs são dirigidos ao apoio dos magistrados no momento da decisão, ou seja, após a instauração da ação judicial, o que, a nosso ver, é deficiente porque, na maior parte dos casos as demandas judiciais propostas através do Ministério Público ou das defensorias públicas, assim, entendemos que a criação de convênios para disposição de pareceres técnicos também por solicitação de promotores e defensores públicos seria também importante instrumento para averiguação da existência ou 7 O Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, mesmo antes da implantação da iniciativa do CNJ, já funcionava com uma atuação relevante o chamado Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) na área de saúde. 52 não de outro medicamento/tratamento de igual eficiência fornecido pelo SUS, para combate a possíveis fraudes, para diminuição de demandas judiciais e, principalmente, para tornar mais ágil o tratamento da patologia. O Poder Judiciário não é substituto do gestor público, cabendo-lhe apenas assegurar o acesso à saúde quando as políticas públicas inexistirem ou forem ineficientes. Portanto, ao decidir, o julgador não pode ficar alheio às normas infraconstitucionais e infralegais que regulam a saúde, devendo igualmente ficar atento às consequências jurídicas das suas decisões, porque os seus efeitos podem transcender aos limites objetivos da lide, interferindo na gestão e causando grave e desnecessário impacto deslocativo no orçamento, dessa forma reforçando indesejáveis efeitos diversos das decisões, tais como exclusão dos mais necessitados em relação aos mais abastados (universalidade excludente). No momento da promulgação da constituição Federal de 1988, a herança deixada por décadas de ditadura militar foi a falta de estrutura em quase todos os setores, principalmente na área de saúde. A ampla previsão constitucional de direitos e garantias fundamentais não estava amparada em estrutura básica suficiente para seu desenvolvimento, talvez por isso até os dias atuais seja tão difícil a consecução desses direitos. Além disso, diante dos desafios ainda maiores que se apresentam para o futuro do País, com o envelhecimento da população, o momento é de criação de estrutura básica para que seja possível, no futuro, garantir pelo menos o mínimo existencial a todos os brasileiros. Nesse sentido, adverte Gustavo Amaral que, “na quase totalidade dos países não se conseguiu colocar a todos dentro do padrão aceitável de vida, o que comprova não ser a escassez, quanto ao mínimo existencial, uma excepcionalidade, uma hipótese limite e irreal que não deva ser considerada seriamente” (AMARAL. 2001. p. 185). Atualmente, quase todos os países enfrentam enormes dificuldades no enfrentamento das questões sanitárias, sobretudo no Brasil, onde os brasileiros têm visto no Poder Judiciário a única forma de suprir a ineficiência dos Poderes Executivo e Legislativo. Entretanto, o caminho deve ser inverso, ao pensar em judicialização da saúde deve-se vislumbrar exceção, porque a regra deve ser o regular atendimento pela via de políticas públicas de saúde, para que haja de fato justiça social. Esta, não será atingida apenas através do Poder Judiciário, mas em ações coordenadas das três esferas do Poder Público e dos particulares, que devem arcar com suas responsabilidades sociais, para que a saúde como direito humano fundamental seja concretizada realmente como direito de todos, já que é dever do Estado cabendo a este, 53 através de seus três entes, implementar as políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário e com atendimento integral de saúde. REFERÊNCIAS AMARAL, Gustavo. DIREITO, ESCASSEZ E ESCOLHA: Em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro. Renovar. 2001. ASSIS, Gilmar de. A saúde pública em face da União, dos estados e dos municípios. O Direito à Saúde na Perspectiva da Constituição Federal. Dos princípios inerentes ao SUS. Saúde Pública e Suplementar. Fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos não oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Responsabilidades. O controle social e a efetividade da saúde como direito. A saúde como direito constitucional fundamental. A contextualização da saúde suplementar. A responsabilidade civil, criminal e ética dos profissionais de saúde e dos gestores públicos e privados. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Disponível em: <http://tjmg.overseebrasil.com.br/course/view.php?id=106>. Acesso em: 27/03/2015. BATISTA, Vanessa Oliveira. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO DIREITO À SAÚDE. Disponível em: <www.altosestudos.com.br/?p=47944 tratados internacionais sobre saúde>. Acesso em 16/02/2015. BRASIL. Constituição (1988). CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Brasília: Senado, 2003. BRASIL. Lei 8080, de 19 de set. de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ Ccivil_03/leis/L8080.htm#art7>. Acesso em 20/01/2015. BRASIL. Lei 9.656, de 03 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm>. Acesso em 01/02/2015. 54 BRASIL. Lei Complementar 141, de 13 de jan. de 2012. Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os serviços públicos de saúde. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm>. Acesso em 10/01/2015. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº: 581488. Brasília.2012. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?id Conteudo=219865&caixaBusca=N>. Acesso em 02/03/2015. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AGRAVO REGIMENTAL SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 175/CE. Brasília. 2010. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/ paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255>. Acesso em 02/03/2015. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.04.01.031627-9/RS. Porto Alegre. 2007. Disponível em: <http://jurisprudencia.trf4.jus. br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em 20/02/2015. CAMARGO, Caroline Leite de. SAÚDE: um direito essencialmente fundamental. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVII, n.120, jan2014. Disponível em: <http://www.ambito-juridico .com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14074>. Acesso em 29/10/2014. CANOTILHO, J. J. Gomes; ORIONE, Marcus; PAULA, Érica. Direitos Fundamentais Sociais. Saraiva.2010. CIARLINI, Alvaro. DIREITO À SAÚDE: paradigmas procedimentais e substanciais da Constituição, 1ª edição. Saraiva, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. CURY, Ieda Tatiana. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: evolução, normatização e efetividade. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p.30. DUARTE, Evangelina Castilho. A Judicialização da Saúde Suplementar - Conflito de Valores - Sobrevivência dos Planos de Saúde e o Direito do cidadão à saúde - A saúde pública e a saúde suplementar : natureza das obrigações - limites e princípios – Código de Defesa do Consumidor - Notas Técnicas como instrumento de apoio aos magistrados – Acesso. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Disponível ?id=106>. Acesso em: 20/03/2015. em: <http://tjmg.overseebrasil.com.br/course/view.php 55 ENVELHECIMENTO ATIVO: UMA POLÍTICA DE SAÚDE. World Health Organization; tradução Suzana Gontijo. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. Disponível em: <http://www.prosaude.org/publicacoes/diversos/envelhecimento_ativo.pdf>. Acesso em 25/02/2015. FONSECA. Roberto Porto. A oncologia – Neoplasias e tratamentos - Medicamentos – eficácia – Medicamentos de alto custo – O Câncer e a Medicina baseada em evidência Direito à dignidade no tratamento – Tendências mundiais – Atualidades – Principais medicamentos e a comprovação de sua eficácia. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Disponível em: <http://tjmg. overseebrasil.com.br/course/view.php?id= 106>. Acesso em: 27/04/2015. GOTTI, Alessandra. DIREITOS SOCIAIS: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de resultados, 1ª Edição. Saraiva, 2012. VitalBook file. KELBERT. Fabiana Okchstein. RESERVA DO POSSÍVEL e a efetivação dos direitos sociais no direito brasileiro. Porto Alegre. Livraria do Advogado.2011. LENZA, Pedro. DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO. 15ª edição, revisada, atualizada e ampliada.São Paulo. Saraiva. 2011. p. 975. MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. DIREITO CONSTITUCIONAL: Curso de Direitos Fundamentais. 3ª edição. Revisada e atualizada. São Paulo. Método, 2008. MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 10647140043090001 MG , Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2014. MOURA, Elisangela Santos de. O DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/25309/o-direito-a-saude-na-constituicaofederal-de-1988/3. Acesso em 12/12/2014. NUNES, Antõnio José Avelãs; SCAFF, Fernando Facury. OS TRIBUNAIS E O DIREITO À SAÚDE. Porto Alegre. Livraria do Advogado.2011. 56 OLIVEIRA, Márcio Dias de. SAÚDE POSSÍVEL E JUDICIALIZAÇÃO EXCEPCIONAL: a efetivação do direito fundamental à saúde e a necessária racionalização. Dissertação de Mestrado. Instituição Toledo de Ensino. Bauru. 2008. OLIVEIRA, Martha Regina de. A prestação de serviços e produtos na saúde suplementar. Papel da ANS. Implicações. Normatização. Lei nº 9.656 / 98.". Planos Novos e Planos antigos. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Disponível em: <http://tjmg.overseebrasil.com.br/course/ view.php?id=106>. Acesso em: 20/03/2015. RAMOS DE CASTRO. Sebastião Helvécio. A judicialização da saúde perante os municípios - A saúde pública perante a União, Estados e Municípios - Questões orçamentárias Responsabilidade Fiscal - Impacto das liminares - A saúde como direito fundamental Conflitos entre princípios e Valores. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Disponível em: <http://tjmg. overseebrasil.com.br/course/view.php?id= 106>. Acesso em: 27/04/2015. SANTOS. Fausto Pereira dos. Gestão e Políticas de Saúde - regulação pública da saúde no Brasil. intervenção nos processos de prestação de serviços - estratégias de regulamentação e seus objetivos - os atores envolvidos - os instrumentos criados pelo governo. - aspectos conceituais e ferramentas utilizadas no processo regulatório em saúde, seus alcances e limites. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Disponível em: <http://tjmg.overseebrasil.com.br/course/view.php?id= 106>. Acesso em: 10/04/2015. UIP, David. "Não há recursos para atender todos'. São Paulo. 1998. Folha de São Paulo, 25/05/1998. Luciana Marins, Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian /ff29059841.htm >. Aceso em 27/02/2015. VECINA NETO, Gonzalo. Desafios e complexidades na atenção à saúde: Qualidade em assistência, considerando a limitação dos recursos. Responsabilidade Civil na Saúde Pública e Suplementar. Relação Estado/Hospital/Médico/beneficiário; gestão de serviços públicos de saúde e as políticas públicas ; Contratos de assistência à saúde x relação de consumo. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. 57 Disponível em: <http://tjmg.overseebrasil.com.br/course/view.php?id= 106>. Acesso em: 10/04/2015. WOLFF, Fernando Henrique. Medicina baseada em evidência. Bioética e Justiça. Equilíbrio entre o conhecimento técnico e as evidências científicas – Fontes do MBE – Papel da ANVISA - Ensaios e Estudos – Preponderância da MBE – A MBE sob a ótica do Ministério de Saúde – Eficácia e necessidade das Atualização das informações técnicas na prática – Consequências – Soluções. In: CURSO DE DIREITO À SAÚDE, 2015, Belo Horizonte. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Disponível em: <http://tjmg.overseebrasil. com.br/course/view.php?id=106>. Acesso em: 27/03/2015.
Download