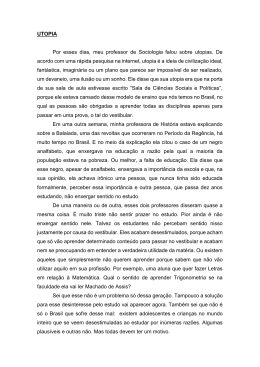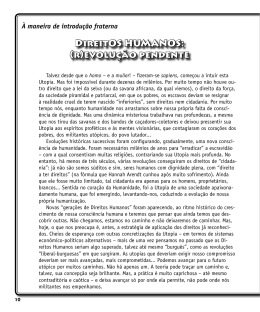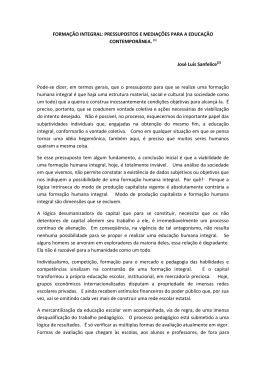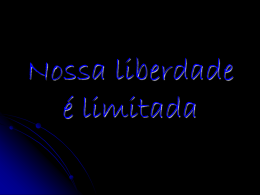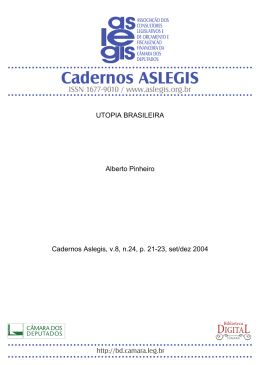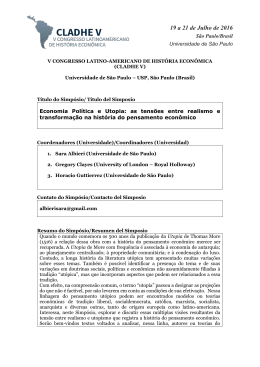DIREITO E UTOPIA Helena Maria Ramos de Mendonça1 “No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência.” (Walter Benjamin) Sistema, “dever‐ser”, bem comum, normas de conduta. A utopia remete a uma sociedade funcional, harmônica e justa2. Nos “velhos tempos”, como diriam os nostálgicos, o direito também foi assim. O direito foi uma utopia. Não é mais. Levando em conta a epígrafe de Benjamin, este texto procura compreender o que mudou no processo histórico que permitiu tal transformação. A percepção do direito ou a percepção da utopia? Considerando, inicialmente, “utopia” como um projeto político a ser efetivado, ou seja, diferente do conceito cunhado por Thomas More, na obra de mesmo nome, derivado de “ou‐ topos, o não‐lugar, lugar nenhum, nenhures” (COELHO, 1980), o lugar que se afasta do “real” 3; considerando a “justiça” como o “impulso utópico” do “direito”, na medida em que a primeira é a virtude do segundo e considerando, ainda, a necessidade da adoção de conceitos, mesmo que frágeis e discutíveis, faz‐se mister passar a algumas observações. Nas palavras do jusfilósofo Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1994, p. 22), o direito contemporâneo é visto “como um fenômeno decisório, um instrumento de poder e a ciência jurídica como uma tecnologia”. Ou seja, diante das solicitações do cotidiano, os conflitos exigem soluções. Qualquer uma, desde que previstas neste grande laboratório de retórica que é o ordenamento jurídico. Não importa se tais soluções são ou não são justas, o ideal do “dever‐ser” foi sacrificado em nome da sobrevivência da sociedade. Exemplifica Tércio (1994, p. 28): “a rescisão de um contrato de locação é permitida, amanhã passa a ser proibida, depois 1 Doutora em Teoria e Dogmática do Direito pelo Programa de Pós‐ Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco ‐ PPGD/UFPE. 2 Independente dos conceitos aplicados contemporaneamente, acredita‐se que tais critérios devem ter sido consultados pelos utopistas. É contraditório pensar em uma utopia que, em sua gênese, não se ocupe de tais requisitos. 3 Apesar da referência ao “não‐lugar”, é interessante observar que sempre houve uma tentativa de vincular o conceito utópico a algo concreto, real, onde o “Novo Mundo” aparece como abstração ideal: “A inscrição dessa descoberta real [“Novo Mundo”] é uma constante do imaginário utópico, preocupado em ancorar sua ficção a um possível e não mais apenas a uma nostalgia de um espaço e um tempo míticos definitivamente acabados. Desta forma, More apóia sua ficção no relato de um pretenso companheiro de Américo Vespúcio, Campanella imagina um diálogo com certo capitão genovês, antigo piloto de Colombo que teria descoberto a Cidade do Sol quando a caminho do Ceilão, enquanto Bacon reorganiza o mito platônico, identificando a Grande Atlântida (de onde saiu a Nova Atlântida) com a América, descoberta pelos grandes navegadores muito tempo depois do terrível cataclismo que a isolara do mundo.” (HUBNER, 2000, p. 925) volta a ser permitida, sendo tudo permanentemente reconhecido como direito, não incomodando a esse reconhecimento sua mutabilidade”. Tal instabilidade é motivada, muitas vezes, pelo que Pierre Bourdieu (2007, p. 235) chamou de “autoconsumo jurídico”, ou seja, diante da “vulgarização” de certos ramos do direito, os profissionais “(...) têm de aumentar em cientificidade para conservarem o monopólio da interpretação legítima e escaparem à desvalorização associada a uma disciplina que ocupa uma posição inferior no campo jurídico.” Teorias complexas são elaboradas (e reelaboradas) com o objetivo de garantir o acesso exclusivo dos profissionais do direito a sua área de atuação. No entanto, como já foi mencionado anteriormente, nem sempre foi assim, o direito já buscou a justiça, o lugar ideal e para compreender tal percurso – do utópico para o tópico – Ferraz Júnior se vale do instrumental teórico fornecido por Hannah Arendt. A filósofa alemã acima mencionada, em sua obra intitulada “A condição humana” (2004, pp. 15‐36) começa definindo a expressão “vita activa”, como “três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação”, onde “o labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano”; “o trabalho é a atividade que corresponde ao artificialismo da existência humana” e “a ação (...) corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo”. A antiguidade grega é o tempo da “ação” e a esfera pública (polis, civitas), seu espaço. Seu ator principal é o zoon logon ekhon, de Aristóteles, ou seja “um ser vivo dotado de fala”. De acordo com a interpretação de Tércio Sampaio (1994, p. 23), “a ação significava a dignificação do homem (...). O seu terreno era o do encontro dos homens livres que se governam. Daí a idéia de ação política, dominada pela palavra, pelo discurso, pela busca dos critérios do bem governar.” A ação, no entanto, compartilhava de uma característica do labor, como atividade privada, presa ao processo biológico: a fugacidade. A ação, por materializar‐se através da palavra, não possuía permanência no mundo. Sua estabilidade era atingida através “de uma espécie de virtude”, no caso do direito: “a virtude do justo, a justiça” (1994, p. 24). Ou seja, a norma jurídica para ser reconhecida como direito, deveria fundamentar‐se na “ação” e, portanto, ser justa. Diante deste requisito, o direito exercido através da tradição, sem normas escritas, transformou‐se, pela atividade do “trabalho”, em lex: o direito escrito. Simbolizado pela deusa dike, a lei transforma‐se em imagem da igualdade e da justiça: “A dike constitui‐se em plataforma da vida pública, perante a qual são considerados iguais grandes e pequenos” (JAEGER, 1995). Porém, não é apenas na virtude do justo que se revela o potencial utópico do direito na antiguidade, mas sobretudo no caráter educativo da Lei. Em sua obra “A República”, Platão afirma que “não vale a pena estabelecer preceitos para homens de bem, porque facilmente descobrirão a maior parte das leis que é preciso formular em tais assuntos” (2004, p. 425 a‐e). Ou seja, na utopia platônica, o direito estaria inscrito na alma humana. Todavia, Werner Jaeger (1995, p. 1296) chama a atenção para o fato da última obra do filósofo grego acima mencionado chamar‐se, justamente, “Leis” e afirma que o “Estado perfeito da República”, de acordo com Platão, é “um Estado feito só para deuses e filhos de deuses”. Ora, se a utopia de “A República” é “divina”, a utopia dos mortais deve concentrar‐se nas “Leis”, como única maneira de transformar o real, daí a preponderância da função educativa do legislador. Sobre isto afirma Jaeger (1995, p. 143): “(...) o legislador era considerado educador do seu povo, e é característico do pensamento grego que ele seja freqüentemente colocado ao lado do poeta, e as determinações da lei junto das máximas da sabedoria poética. Ambas as atividades são estreitamente afins” Esta imagem do legislador contém em si o impulso e o projeto utópico, a busca da realização de um Estado perfeito para os homens. Na era moderna, no entanto, a situação constitui‐se de maneira diferente: se na antiguidade grega, o direito de fato, ou melhor dizendo, a lei, pode ser vista como uma “utopia”, os projetos utópicos do Renascimento, retomam a perspectiva platônica de “A República” e expulsam o direito de seus projetos de Estados ideais, sob a justificativa de que “por ser harmoniosa, a cidade ideal quase não conhece dissonâncias, os conflitos serão, portanto, acidentes que o otimismo utópico só encara por esse ângulo e cuja multiplicação ele acredita evitar condenando de um modo global os juristas, depositando sua fé na preeminência da natureza humana.” (FORIERS apud PERELMAN, 1999) A imagem do legislador como educador e realizador perde espaço para uma abstração, chamada “natureza”. A utopia é batizada oficialmente como “não‐lugar” e o direito, tal qual o Primeiro Homem, é expulso do paraíso. Este conceito de utopia como algo que só existe na imaginação daqueles que a elaboram pode ser verificado através de conceitos dicionarizados como o de Abbagnano que sobre este termo afirma: “qualquer ideal político, social ou religioso de realização difícil ou impossível” (2000, p. 987). Distante do direito a utopia perde o seu modus operandi e passa a ser vista como “discussão filosófica ou como gênero literário, isto é, como divertimento culto” (COELHO, 1980) Por sua vez, o direito também é prejudicado por tal distanciamento, na mesma medida em que o conceito arendtiano de “trabalho” distancia‐se da idéia de “ação”, ou na afirmativa de Tércio Sampaio (1994, p. 24): na “correspondente redução progressiva do Jus à Lex, do direito à norma”. Ao invés da estabilidade da norma provir da ação política, da ação “dos homens livres que se governam” (ou da utopia, como impulso de realização de um Estado ideal), ela passa a legitimar‐se através da “relação impositiva de uma vontade sobre outra vontade” (FERRAZ JR.,1994, p. 24), ou seja, perde‐se o contato com a Lei como um “bem em si” e passa‐se a percebê‐la como uma espécie de “mal necessário”, uma vez que a liberdade, antes atingida através da atividade pública, política ou através da experiência da justiça, passa a ser um bem individual perturbado pela atividade jurídica, sob a justificativa de manutenção da ordem social. O direito, separado da utopia, aproxima‐se do Estado e distancia‐se do Homem. Finalmente, a contemporaneidade assiste ao que Adolfo Sánchez Vázques (2001, p. 368) chama de “A utopia do fim da utopia”, onde este “fim” seria impulsionado por dois fatores determinantes: “a extensão das ideologias – consumismo, hedonismo, egoísmo – (...). E por outro lado, o ceticismo, (...)”. Tais variáveis podem ser substituídas por um “confisco” pós‐ moderno da imaginação utópica. Sob a perspectiva do “nada adianta”, o Homem vem perdendo, conclusão após conclusão, aquela que é a característica essencial de sua humanidade: a capacidade do “dever‐ser”, de perceber o que é e de como poderia ser diferente se. Mas dizem que o mundo do “se” morreu e a vida é agora, como em uma propaganda de cigarros. A ciência jurídica também passa por um momento extremamente crítico. Como foi sinalizado no início deste texto, o direito contemporâneo é visto “como um fenômeno decisório, (...)” (FERRAZ JR. 1994), uma máquina de fabricar sentenças. Seguindo o raciocínio de Hannah Arendt, interpretado por Tércio Sampaio, tal constatação pode ser percebida através da gradual absorção da atividade do “homo faber”, ou seja, do “trabalho”, pela atividade do “homo laborans”, o “labor”4: a atividade privada, por excelência, em sua acepção mais original que é a “privação” da esfera pública, privação da política, privação da justiça5. 4 Mais uma vez, é oportuno registrar a pertinência da idéia de “autoconsumo jurídico” sugerida por Bourdieu. 5 Não é por acaso que o Séc. XX será testemunha da definitiva separação do direito e da justiça, que passa a fazer parte, unicamente, do objeto de estudo da moral. Segundo Jürgen Habermas (apud LEAL, 2006, p. 404), “as decisões políticas e práticas que afetam a coletividade, pela lógica tecnocrática, são agora transformadas em problemas técnicos, resolvidos por uma minoria de experts, que tem o know‐how necessário, o que agudiza a despolitização das massas. (...). A redução das decisões políticas a uma minoria (a nova elite dos tecnocratas) significa ao mesmo tempo um esvaziamento da atividade política cotidiana da cidadania em todas as instâncias da sociedade.” A palavra de ordem da contemporaneidade é “sobrevivência”; fala‐se em “matar um leão por dia”: uma adaptação da idéia bíblica do “a cada dia o seu mal”. Para tanto, utilizam‐se soluções precárias, temerárias, enxurradas de “medidas provisórias” respaldadas pelos requisitos muitíssimo significativos da “necessidade e da urgência”. “Se hoje deu certo, amanhã vê‐se o que fazer” e assim sucessivamente. Note‐se, no entanto, que Sánchez Vázquez fala em “utopia de fim da utopia”, o que indica que o próprio “fim da utopia” é uma “utopia”, na acepção corrente de algo irrealizável. É impossível anular a imaginação utópica sem anular o Homem e apesar das reiteradas tentativas e contra todas as expectativas parece que ele vem resistindo. Pode ser que a Lei não volte a ser uma representação da utopia, como a proposta efetiva de um Estado ideal, estável e justo, mas que seja possível ao menos imaginar que em algum ordenamento jurídico, em algum momento do futuro, esteja escrito, em um artigo primeiro: é permitido ter esperanças. É certo que vários são os questionamentos às conclusões acima elaboradas, principalmente no que diz respeito à postura esquemática adotada, no entanto tal formato foi necessário ao intuito objetivo da tentativa de resposta às questões inicialmente suscitadas. Sobre isto, é possível observar que as mudanças de perspectiva ocorreram concomitantemente nos conceitos de direito e de utopia, o que sugere um estreito paralelo entre as duas idéias ao longo do tempo, paralelo este que, apesar destas intuições iniciais, permanece uma inquietação a ser desenvolvida em um outro tempo. Utópico, talvez. Mas, por isto mesmo, possível. •Referências Bibliográficas ‐ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4ª ed. São Paulo: Marins Fontes, 2000. ‐ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. ‐BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. ‐BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 11ª Ed. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2007. ‐COELHO, Teixeira. O que é utopia. 1ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. ‐FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. ‐HUBNER, Patrick. Utopia e Mito. In: Dicionário de Mitos Literários. 3ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000. ‐JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. ‐LEAL, Rogério Gesta. Jürgen Habermas. In: Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Editora UNISINOS; Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. ‐PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. ‐PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2004 ‐VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Entre a realidade e a utopia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
Download