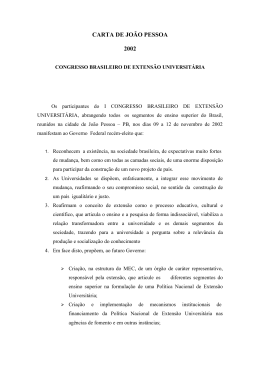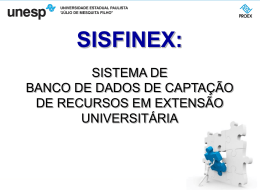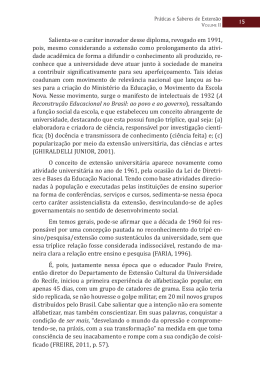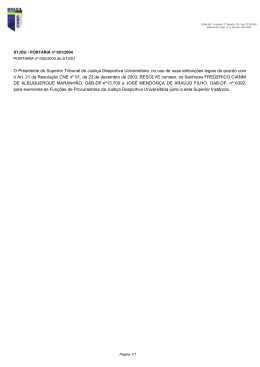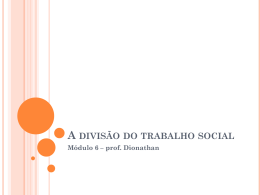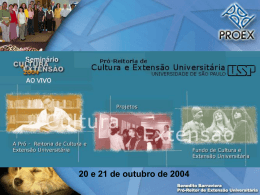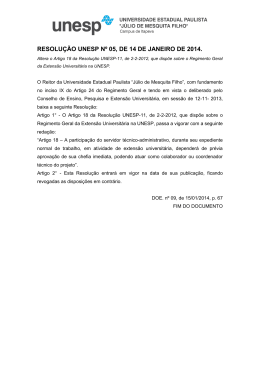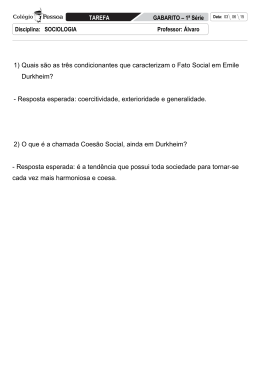A UNIVERSIDADE COMO ORGANIZAÇÃO: ESPAÇO DE PESQUISA E FORMAÇÃO EM CRISE Joceli Mota Correa da Rocha [email protected] Professoras Orientadoras: Judit Nordof e Silvinia Sturniolo RESUMO Este Artigo pretende contribuir para uma reflexão acerca do espaço institucional de pesquisa e de formação profissional docente. Tem como finalidade fazer uma abordagem dos conteúdos desenvolvidos no seminário Universidade como Organização. Faz-se então uma abordagem sobre o que é a universidade? Como funciona? Qual a sua finalidade? A partir daí, pretende-se fazer uma análise reflexiva dos teóricos estudados acerca da qualidade de ensino e da formação docente, que tipo de profissionais está saindo das universidades e a crise que assola os espaços universitários em questão. PALAVRA CHAVE: Universidade. Qualidade. Ensino. Crise. 1 INTRODUÇÃO O presente estudo tem como objetivo fazer uma análise a partir do sentido etimológico do que é a universidade, permeando sua função de formadora e o contexto da crise que invade este espaço em plena contemporaneidade. Numa abordagem inicial é bom destacar que a universidade é uma instituição social preparada para atender as necessidades sentidas pelo povo. Estas necessidades, por sua vez dão espaços para que estudiosos e pesquisadores aprofundem seu trabalho em busca de soluções que sejam relevantes à sociedade em geral. No desenvolvimento dos capítulos os estudos apontam para a emergência de políticas públicas, pois decorrem do contexto histórico de movimentos populares nas universidades latinas americanas, que já apontavam para isso desde 1916 com as manifestações de reforma universitária de Córdoba. Analisa-se, assim, no capítulo um uma breve introdução contextualizando do estudo da universidade, logo no capítulo dois trata do sentido etimológico da universidade seguindo para o 2 capítulo três onde se aborda as funções da universidade desde seu nascimento na Idade Média e, por último, no capítulo quatro traz uma reflexão sobre a crise que assola o ambiente das universidades da América Latina. 2 A UNIVERSIDADE NO SENTIDO ETIMOLÓGICO Universitas do latim significa corporação de mestres. Toda a Idade Média era formada por corporações, estas de sapateiros, de artesãos e outros. Uma universidade se faz a partir de sua organização formal caracterizada como instituição baseada em leis, regimentos e normativa. Perfazendo caminhos históricos, as instituições educacionais eram em grande parte lideradas pelos jesuítas. Foi um processo inicial que se encaminhou principalmente para a formação do homem burguês descurando a formação das classes populares. Seu fundador, Inácio de Loyola, era de família burguesa. Os jesuítas exerceram grandes influências na vida social e política (PILETTI, 1996, p. 65). A universidade é um espaço político, social de formação do conhecimento e atua no ramo da educação, sua função durante muito tempo foi considerada como uma instituição especializada em produção e transmissão de conhecimentos contrários ao espírito crítico, os quais privilegiavam os dogmas e a conservação da tradição. Com o passar do tempo tudo foi evoluindo e a universidade em si, dentro do processo de formação e pesquisa, também se reconfigurou sem perder sua essência de escola superior. Neste sentido etimologicamente falando, a universidade conforme Melhoramento Dicionário: Língua Portuguesa (2006) é um conjunto de faculdades ou escolas do curso superior; conjunto de disciplinas do curso superior e ainda, conjunto de corpo docente e discente dessas escolas superiores. Ainda sobre o significado da universidade, no Brasil a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei 9394/96, em seu artigo 52, conceitua a universidade da seguinte maneira: “As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros de profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano [...]” (BRASIL, 1996). 3 3. FUNÇÃO DA UNIVERSIDADE A LUZ DA IDADE MÉDIA É relevante ressaltar que a educação tem caráter informal nato do homem e somente do homem que aprende em todos os momentos de sua vida. Assim, não se deve caracterizar que um animal aprende porque ele é adestrado e condicionado. Já a Educação formal demanda de uma instituição organizada, com normas compartilhadas pela sociedade com regulamentos que regulam a vida da mesma. Seguindo este raciocínio, a educação formal faz parte da universidade de modo intrínseco, instituição organizada, com currículo, métodos, programa de ensino e regras. Pergunta-se então, qual é o papel da universidade? Que tipo de profissionais está sendo formado para o mercado de trabalho que se encontra cada vez mais exigente? Neste contexto é preciso analisar e perceber que questões como a gratuidade do ensino, pagamento de professores, formação profissional são debates contínuos no transcorrer histórico de sua evolução. A princípio, mais precisamente na Idade Média, o espaço em que nasceu a Universidade o ensino era conduzido em pequenos grupos nas cátedras através de discussões acerca do conhecimento, eram questionamentos sobre as verdades estabelecidas como únicas, o resultado disso era um grande desconforto que gerava nas autoridades, apesar disso vários estudiosos arriscaram suas vidas pela ciência, pois questionar saberes nesta época era demasiadamente perigoso, mas mesmo assim, correndo riscos, com o tempo essa demanda de jovens em busca de conhecimento foi aumentando. “Neste período qualquer coisa em que um cristão acreditasse que estivesse em contradição com o cristianismo era considerado uma heresia”. (MARCOS BAGNO, 2001, p.50) De acordo com o pensamento pedagógico medieval a educação do homem medieval ocorreu de acordo com os grandes acontecimentos da época, entre eles a pregação apostólica, no século I depois de Cristo. (GADOTTI, 1996, p.51). Tudo era feito em nome da transcendência e Deus justificava todos os questionamentos, assim os estudos compreendiam o trivium (gramática, dialética e retórica) e o quadrivium (aritmética, geometria, astronomia e música). Ainda conforme Gadotti (1996, p.55), a educação superior era ministrada nas escolas imperiais, onde eram preparados os funcionários imperiais. Fato relevante a ressaltar é que na 4 Idade Média se deu a criação das universidades de Paris, Bolonha, Salerno, Oxford, Heidelberg, Viena, eram centros que buscavam a universalidade do saber. Elas se constituíram na primeira organização liberal deste período. As discussões eram em torno da gratuidade do ensino e o pagamento dos professores. As vantagens que até então eram somente para o clero e a nobreza passa a ser disputada pela burguesia emergente. As universidades desenvolveram intimamente três métodos relacionados: as lições, repetições e as disputas. Ressalta o autor que elas representaram (e representam ainda hoje) uma grande força nas mãos das classes dirigentes. A Idade Média foi uma fase muito fecunda em lutas pela autonomia com greves e grandes debates livres. Constata-se que os saberes universitários aos pouco foram se tornando elitizado, guardado em Academias, submetido à censura da Igreja e burocratizado pelas cortes (GADOTTI, 1996, p. 56). Hoje as universidades latinas americana permanecem em grandes lutas, pela autonomia, melhores salários para docentes, formação de qualidade que agregue valor ao mercado de trabalho e ao próprio profissional. Segundo a UNESCO (1998), “a educação superior tem dado ampla prova de sua viabilidade no decorrer dos séculos e de sua habilidade para se transformar e induzir mudanças e progressos na sociedade”. Em síntese é preciso dar atenção à formação acadêmica, em que tipo de profissionais a universidade está lançando no mercado de trabalho. Faz-se necessário uma instituição comprometida com a sociedade, vinculando os saberes não somente nas técnicas de serviços, mas na formação do profissional sensíveis ao seu meio, que percebem as necessidades a sua volta e atuem a partir de suas potencialidades e habilidades adquiridas. Os acadêmicos estão saindo dos centros universitários sem saber ler, escrever, interpretar, sem compromisso com seu curso e com os resultados de sua formação. Lya Luft em revista impressa da VEJA ressalta sua indignação com relação à aprovação no Brasil do processo de alfabetização ser concluído no final do 3º ano da escola elementar e consequências no ensino superior: (...) nosso ensino superior, já tão carente e ruim, com algumas gloriosas exceções, piora ainda mais. Vejam-se os dados assustadores de reprovação, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, de candidatos saídos dos nossos cursos de direito. Os exames de 5 igual caráter para egressos de cursos de medicina ainda não apresentam resultado tão incrivelmente ruim, mas começam a nos deixar alertas, pois esses médicos vão lidar com o nosso corpo, a nossa vida. Estudantes de letras frequentemente nem sabem ortografia, e mais: não conseguem se expressar por escrito, não têm pensamento claro e seguro, não foram habituados, desde cedo, a argumentar, a pensar, a analisar, a discernir, a ler e a escrever. Agora, pelo que leio, parece que vão conseguir piorar ainda mais a situação, pois a meninada só precisa se alfabetizar no fim do 3º ano da escola elementar. Pergunto: o que estarão fazendo nos primeiros dois anos de escola? Brincando? Gazeteando? A escola vai fingir que está ensinando, preparando para a vida e a profissão? E os pais que se interessam o que podem esperar de tal ensino? (LYA LUFT, 2013) Para caracterizar-se como espaço de pesquisa e formação a universidade deve ser marcada pela expressão política e científica, com docentes que incentivem o pensamento crítico acerca do Estado e de seus representantes políticos, que incentivem o estudo e a pesquisa. Dentro desta ênfase é pertinente citar que "os estudos devem recair sobre fato que conheçamos" e "é preciso que esses fatos apresentem entre si homogeneidade suficiente para que possam ser classificados numa mesma categoria" (Durkheim, 1978, p. 58-59). Segundo Nietzsche apud Dias (2001, p. 38) o estilo “acroamático” de ensino, que privilegia a exposição oral do professor e a audição do aluno, é, justamente, o oposto do que Nietzsche entende que deva ser a educação na universidade. Ali, onde se deveria exigir do aluno um treinamento rigoroso, inventou-se a autonomia. Tal autonomia nada mais é do que a domesticação do aluno para torná-lo uma criatura dócil e submissa aos interesses do Estado e da burguesia. A função da educação no âmbito formal é de conscientizar o homem em seu tempo real, sem descartar o aprendido e também despertar para o novo, transformando-se em um novo ser, construindo e reconstruindo o meio. Esta transformação é vista por Durkheim também no âmbito educacional e assim ressalta: “A educação não se limita a desenvolver o organismo, no sentido indicado pela natureza, a tornar tangíveis os germes, ainda não revelados, à procura de oportunidade para isso. Ela cria, no homem, um ser novo”. (DURKHEIM, 1952, p.68) Uma causa aparente dessa deficiência na formação acadêmica se dá pelo descaso das autoridades competentes, da falta de interesse na formação do povo, pois uma vez cidadão politizado, conseguirá discernir no que é bom para a sociedade ou não. 6 Carneiro (1998, p. 125) ao descrever sobre as funções da universidade, referente ao que prevê a Lei de Diretrizes e Base Nacional do Brasil, cita que as funções essenciais da universidade são: “formar profissionais; oferecer educação em nível avançado; realizar estudos, pesquisas e investigações científicas, voltadas para o desenvolvimento; por fim, funciona como instituição social”. Conforme a análise de Carneiro fica claro que a função da universidade é de prestar serviços especializados à comunidade. 4. ESPAÇO DA UNIVERSIDADE EM CONTEXTO DA CRISE Falar das manifestações da crise nas universidades é remeter-se a mazelas determinantes dentro um sistema precário que traz dos ranços do passado as sequelas de sua própria história de origem. Foram muitas as manifestações em torno das crises nas universidades que vai de simples movimentos a lutas sangrentas que culminaram em conquistas, tais como: autonomia política, governo tripartite paritário (docentes, estudantes e ex-alunos), gratuidade do ensino superior, regime de concursos e periodicidade da cátedra, livre frequência às aulas, extensão e orientação social universitária, nacionalização das universidades provinciais, responsabilidade da universidade com relação à defesa da democracia. Dentro do contexto histórico é relevante ressaltar o movimento de reforma universitária de Córdoba de 1916, onde nasceu o discurso fundador do movimento estudantil e modelo latino americano de universidade. Este modelo é um espaço da sociedade e para a sociedade, onde as ações do público universitário reunido tem poder de mudanças. Ainda com ênfase à reforma universitária, Cano complementa, “A Reforma Universitária de Córdoba ocorre num momento de mobilização das camadas médias e populares [...] e trazia no seu bojo a tendência nacionalizante do ensino superior e a luta em favor do co-governo e da autonomia” (CANO, 1984. p.10-11). Já a Reforma de 1918 foi também produto de uma luta acadêmica de alunos argentinos, uma revolta estudantil que instalou um novo modelo de universidade que se espalhou pela américa Latina. É importante ainda ressaltar que deste movimento surgiu o termo, pesquisa de extensão como significado de ações benéficas para a sociedade. 7 Estes movimentos só começaram a tomar força no Brasil na década de 60 e Aranha é incisiva em destacar: É bom lembrar que o ano de1968 é marcado mundialmente pela revolta estudantil iniciada em maio, em Paris. Os estudantes da Faculdade de Filosofia da USP, na época situada à Rua Maria Antônia , no centro da cidade de São Paulo, entram em confronto com os da Universidade de Mackenzie, de tradição conservadora e berço do CCC ( Comando de Caça aos Comunistas). O conflito é violento e o prédio da USP, depredado e em seguida desativado. (ARANHA, 1996, p. 212) As lutas universitárias impulsionam para políticas públicas, pois são através dessas lutas que o acadêmico, o docente, enfim a sociedade se manifesta por seus direitos, por busca de melhorias no ambiente universitário de modo físico e intelectual de formação. Em síntese Fávero (1980, p.7) deixa um alerta sobre a compreensão dos significados de um reforma, onde não são suficientes as bases documentais e legislativas, pois, “A pesquisa histórica aplicada à educação só faz sentido quando capta o significado de certos eventos como parte de uma totalidade, de uma realidade concreta”. Há muito que se fazer com relação à realidade institucional, a qual este estudo aponta as manifestações da crise da universidade em escala internacional ao longo do século XX, com rebeliões estudantis, greves universitárias, literatura acadêmica e política reproduziram um discurso simbólico que se constitui, hoje um capital político na defesa ou na crítica à universidade. (TRINDADE, 2000, p.13) Percebe-se em grande escala que a universidade de hoje clama por mudanças nas estruturas de formação docente, onde o ciclo é vicioso e os resultados estão presentes na sala de aula da universidade e da escola. Isso porque o professor sai mal formado da universidade e formam péssimos alunos para a universidade. A consequência é uma sociedade inchada de pessoas com limitações na escrita e na leitura, formação a larga escala de verdadeiros analfabetos instrucionais. Os reflexos dessas mazelas estão presentes na sociedade, principalmente no mercado de trabalho que reivindica pessoas com capacidade de aprender, como enfatiza Torres (1995, p.120) “[...] a nova economia reclama por trabalhadores com grande capacidade de aprender a aprender, capazes de trabalhar em equipe não só de maneira disciplinada, mas criativa [...]”. 8 Importante complementar que estes reflexos são déficits da formação, tanto da educação básica, quanto da universidade. As escolas e universidades perderam a qualidade há muito tempo e deixam a desejar no que é sua principal função, a formação do cidadão. Certamente que diante das crises instaladas nas universidades é correto afirmar que advém do contexto social e político mundial. A propósito “nos anos 90, embora o ajuste estrutural permaneça entre os principais objetivos, a ênfase deslocou-se para a reforma do Estado, particularmente para a reforma administrativa”, sendo o principal objetivo “reconstruir o Estado – redefinir o Estado que está surgindo em um mundo globalizado” (SILVA JR.; SGUISSARDI, 2001, p.27). A privatização e a constituição do setor público não-estatal seriam os grandes instrumentos de execução dos serviços, que assim não demandariam o exercício do poder do Estado, mas apenas o seu subsídio. Como consequência imediata, obteve-se a diminuição dos investimentos públicos em saúde e cultura, bem como em educação, incluindo a educação superior e todo o campo de produção de ciência e tecnologia. Logo neste sentido, “a crise e a restruturação do Estado e da educação superior não são fenômenos exclusivos do Brasil, nem apenas de países do terceiro mundo ou da América Latina, mas uma realidade presente e comum à maioria dos países de todas as dimensões, graus de desenvolvimento e latitude”. (SOUZA SANTOS, 1996, p.187) Complementa Mancebo (2004) que “Na realidade, ao longo da década de 1990, assistiuse a um quadro de reformulação política e econômica que acirrou o ajuste das políticas sociais, entre elas as educacionais, às reformulações econômico-financeiras em curso”. Por fim, toda movimentação sugere mudança, porém é preciso considerar que não há modelos prontos para a educação superior, e que a pesar de todas as mazelas deveria ter espaço aberto para todos, educação de qualidade, professores bem formados e bem remunerados. Considerações Finais O papel da universidade é de fundamental relevância para os avanços de qualquer natureza, pois o mundo está em constantes modificações e cada vez mais competitivo o que força de certa maneira as nações a buscarem por modernizações. Sabe-se que sem autonomia a 9 universidade não se desenvolve, faz-se necessário a construção de sua identidade e de mais subsídios para que a qualidade de ensino seja de fato realidade no ensino superior. A universidade nada mais é que um espaço crítico, do conhecimento, onde o cidadão tem a oportunidade de conhecer, de construir e de fazer parte de um universo de pesquisa. Os resultados desta ênfase de estudos são as contribuições que saem da universidade para o desenvolvimento da sociedade e dos cidadãos que nela se instala. Em meio deste contexto as manifestações acabam por serem grandes aliadas para tomadas de decisões em prol de políticas públicas que discutam a qualidade de ensino, o reconhecimento e valorização da docência e a equidade, onde todos tenham oportunidades iguais de acesso e permanência e assim contribuir para a evolução de um mundo globalizado em constantes modificações, onde a universidade possa contribuir no processo de ensino e aprendizagem de modo significativo e relevante. Referências ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1996. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília, DF: Senado Federal, 2005. CANO, Daniel. La Educacion Superior en la Argentina. Buenos Aires: Flacso, Cresalc/Unesco, 1984. CARNEIRO, Moaci Alves. LDB Fácil: Leitura Crítica Compreensiva: Artigo a Artigo. Petrópolis, RJ: Vozes,1998. DIAS, Rosa. Cultura e Educação no Pensamento de Nietzsche. Disponível em: <http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp28art03.pdf.> Acesso em: 18 abr. 2013. DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 3. Ed. São Paulo: Melhoramentos, 1952. DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 11. Ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978. DECLARAÇÃO Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação-1998. Conferência Mundial sobre Educação Superior- UNESCO, Paris, 9 out. 1998. Disponível em: 10 <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%C3%A3o/declaração-mundialsobre-educação-superior-no-seculo-xxi-visao-e-acao.html> Acesso em: 15 mai. 2013. FÁVERO, M.L. Universidade e Poder- Análise Crítica, Fundamentos Históricos: 1930-1945. Rio de Janeiro: Achiamé, 1980. LUFT, Lya. A Formação de Um Povo. 14 abr. 2013. Disponível em:<http//veja.abril.com.br/blog/Ricardo-setti/politica-cia/luft-a-formacao-de-um-povo/> Acesso em: 22 abr. 2013. MANCEBO, Deise. Reforma Universitária: Reflexões Sobre a Privatização e a Mercantilização do Conhecimento, Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v25n88/a10v2588.pdf> Acesso em: 05 jun. 2013. MELHORAMENTOS Dicionário: Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2006. SILVA Jr., J.; SGUISSARDI, V. Novas Faces da Educação Superior no Brasil –Reforma do Estado e Mudanças na Produção. 2ª edição. São Paulo: Cortez, 2001. TORRES, C.A. Estado, Privatização e Política Educacional: elementos para uma crítica do neoliberalismo. In: GENTILI, P. (org.). Pedagogia da Exclusão – Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. WEBER, Marianne. Weber uma biografia. São Paulo: Casa Jorge Editorial, 2003. TRINDADE, Hélgio. Universidades em Ruínas na República dos Professores. 3. ed. Cipedes: Vozes, 2000. TRINDADE, Hélgio. O Discurso da Crise e a Reforma Universitária Necessária da Universidade Brasileira. Disponível em: <http:biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/mollis/trindade.pdf> Acesso em: 09 mai. 2013.
Download