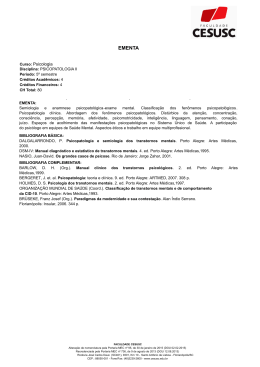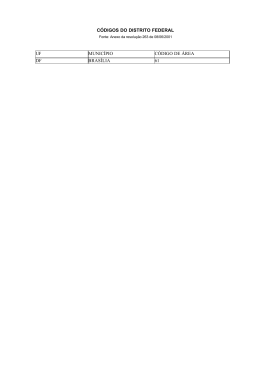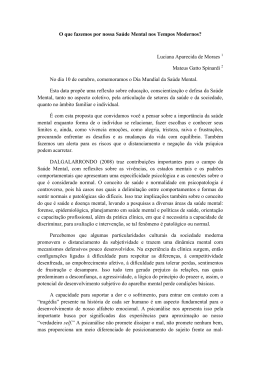PARA ALÉM DA PSICOPATOLOGIA DOS CÓDIGOS: UMA PERSPECTIVA POLÍTICA E CLÍNICA NO ENSINO[1] Resumo O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia metodológica no ensino em psicopatologia a partir de uma perspectiva política que, por sua vez, viabiliza pensar uma clínica da singularidade. Para tanto, parte-se da análise de dois movimentos de “abertura”. A “abertura dos muros” da Reforma Psiquiátrica brasileira e das mudanças – não homogêneas – das políticas de saúde mental desde as últimas décadas do século XX. Mas também, da produção de uma “abertura dos muros” conceituais neste mesmo período histórico, caracterizada pela consolidação e expansão do que podemos chamar de uma “psicopatologia dos códigos” (DSMs e CIDs) que contempla uma diversidade de condutas humanas nos critérios de inclusão nas categorias psicopatológicas e que atravessa os “muros” acadêmico-profissionais, produzindo uma perspectiva psicopatológica do sofrimento humano no universo cotidiano e legitimando um modo de regulação fundamentado por um controle contínuo e modular da subjetividade, sendo a mídia televisiva um locus privilegiado de observação e discussão desta temática (Silva et al, 2006; Ferreira, 2006). Com tal problematização no ensino da psicopatologia, é possível apontar para a necessidade de criação de modos de escuta que não aprisione o sofrimento psíquico nos modos de regulação intra e/ou extra-muros. 1. O contexto do trabalho: a problematização no ensino Ao assumir a docência da disciplina de psicopatologia em 2003, para o Curso de Psicologia, encontramos um ementário fundamentado nos manuais de classificação e de diagnóstico – os DSMs (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria) e os CIDs (Código Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde), tal como é comum às ementas desta disciplina. Desta forma, tínhamos que encontrar, também, uma estratégia para articular a tarefa de ensinar psicopatologia a partir de um parâmetro curricular restrito em termos de reflexão e extenso em volume, com uma excessiva abrangência classificatória, com o compromisso de assegurar o senso crítico na interlocução que seria estabelecida no contexto de ensino. Desta forma, como docente, optamos por mergulhar no universo (discursivo) classificatório para entender a sua lógica, sua política e sua tática. Apresentava e analisava os manuais de diagnóstico “por fora”, mas também, “por dentro”. Fizemos experimentações com textos introdutórios (Machado de Assis, 1979; Frayze-Pereira, 1994; Berlink, 1997), quando apresentávamos e discutíamos uma introdução às idéias foucaultianas sobre a historicidade das doenças mentais, os cuidados com um certo furor classificatório da psicopatologia na atualidade e o desafio de pensar o adoecimento psíquico a partir de sua multiplicidade que não a categorial e classificatória, como veríamos no curso. Depois de algumas experimentações, mapeamos uma série de problematizações que passaram a nortear esta parte introdutória e fundamental do curso, pois constituía a iniciação a uma estratégia de pensamento, mais do que somente a apresentação formal de um plano, metodologia e critérios de avaliação do curso. Além de mostrar a historicidade e a medicalização da loucura (Silva, Moura, 2000) como fenômeno da modernidade entre os séculos XVII e XX, na emergência da sociedade disciplinar, capitalista, industrial e “científica” - tal como trabalhada por Foucault (2000) - conseguíamos mostrar a historicidade do que passamos a chamar de “psicopatologia dos códigos”, destacando alguns de seus objetivos, princípios e domínios no final do século XX. Na parte seguinte do curso, depois deste momento introdutório, explicitava o modo como iríamos agrupar algumas categorias para que pudéssemos alinhavar algum sentido ao “esquadrinhamento do sujeito” que iríamos assistir. Mas, algo que surgia nas cenas discursivas em sala de aula produziram algumas das inquietações que foram disparadoras para o desenvolvimento das articulações presentes neste trabalho. Reiteradas inserções de referências a “personagens midiáticos” da psicopatologia (televisão, mídia impressa, cinema, literatura, etc.) surgiam em sala de aula. Algo nos fazia supor alguma relação entre a “psicopatologia dos códigos” estendida na rede social a partir da análise de sua relação com a mídia - em especial, a mídia televisa (Bucci, Kehl, 2004). . Algo nos fazia supor que a mídia televisiva podia ser tomada como um locus privilegiado de observação e discussão da extensão da perspectiva psicopatológica do sofrimento humano no universo cotidiano, configurando-se como um modo de regulação contínuo e modular da subjetividade. Tais suposições foram desenvolvidas a partir do trabalho em sala de aula e em pesquisa (Silva, Barros, Ferreira, Lima, 2006; Ferreira, 2006; Ferreira, 2006), como uma estratégia de leitura política da psicopatologia contemporânea, apontando seu afastamento da historicidade, temporalidade e singularidade necessários a uma leitura clínica (Roudinesco, 2005; Birman, 2001), tal como tentaremos mostrar a seguir. 2. A “psicopatologia dos códigos” em tempos de “abertura dos muros” Para entender a emergência e o expansionismo da “psicopatologia dos códigos”, partimos da análise de dois movimentos de “abertura” - apresentados separados, mas fazendo parte de um mesmo processo. O primeiro refere-se à “abertura dos muros” da Reforma Psiquiátrica brasileira e das mudanças – não homogêneas – das políticas de saúde mental desde as últimas décadas do século XX, em um contexto nacional de redemocratização das instituições governamentais e estruturação dos movimentos da sociedade civil organizada[2]. As mudanças da política de atendimento em saúde mental priorizavam, com diferentes ênfases: (1) a humanização do atendimento, tal como nas comunidades terapêuticas na Inglaterra; (2) a desospitalização da doença mental, fazendo emergir uma psiquiatria comunitária, com a racionalização e a hierarquização dos serviços assistenciais em rede disciplinar que vai mapear o território extra-manicomial e distribuir a rede de atendimento inscrita no tecido social, estendendo o modelo manicomial para os serviços extra-muros, tal como a psiquiatria de setor na França e a psiquiatria preventiva nos Estados Unidos[3]; e/ou questionar a própria hegemonia do parâmetro médico para compreensão do sofrimento e enlouquecimento humano, tal como a psiquiatria democrática de Basaglia (1985) na Itália, que contemplava o questionamento da relação tutelar da psiquiatria com o fenômeno da loucura e com o “louco” (paciente, cliente ou usuário do serviço), além da proposta de ruptura com a tutela asilar e a extinção do estabelecimento físico do manicômio. Neste movimento de “abertura”, propagava-se - e, em alguns momentos, instituía-se - a humanização e/ou o esvaziamento dos hospitais psiquiátricos pelo controle do índice de internações; ao mesmo tempo em que surgiam e aumentavam o número de unidades dos serviços substitutivos ao manicômio, estendidas na rede comunitária de atendimento. Tal como constava na Portaria 224/1992 do Ministério da Saúde: na rede hospitalar tínhamos o hospital especializado em psiquiatria, o serviço de urgência psiquiátrica, o leito ou unidade em hospital geral e o hospital-dia; na rede ambulatorial tínhamos os centros/núcleos de atenção psicossocial(CAPS/ NAPS), os ambulatórios, os centros de saúde e as unidades básicas. Passávamos a observar os efeitos da institucionalização e da estatização do “movimento de abertura” pelas políticas públicas de saúde mental - incorporado ao movimento sanitarista - e utilizado na normatização da população pelas técnicas da medicina na produção de dados estatísticos e epidemiológicos, controlando o trânsito dos indivíduos em níveis de normalização intra e extra-muros. Era justamente, neste momento, que falávamos sobre um outro movimento de “abertura” que, de certa forma, sustentava a “abertura dos muros” dos hospícios. Uma abertura conceitual que constituirá o dispositivo que dará legitimidade científica à “psiquiatrização comunitária” emergente para além dos muros do manicômio e inscritos na rede de atenção à saúde mental no território da cidade, produzindo uma perspectiva psicopatológica do sofrimento humano no universo cotidiano e legitimando um modo de regulação fundamentado por um controle contínuo e modular da subjetividade. Tendo em vista a apropriação do movimento de “abertura dos muros” pelas políticas públicas de saúde mental, a produção da necessidade de sistematização de estatísticas e de dados epidemiológicos que fundamentassem os programas de intervenção, bem como as diferenças de abordagens e modos de manifestação das alterações, doenças ou transtornos mentais, destacava-se a tentativa de alcançar uma uniformidade e universalidade como estratégia de possibilitar a comunicação profissional e institucional no âmbito nacional e internacional e “combater” a diversidade teórico-metodológica que caracterizava a área de estudo e de intervenção em psicopatologia. Para tanto, propôs-se (1) um enfoque descritivo e “ateórico” na sistematização de manifestações clínicas, substituindo a noção de doença pela noção de transtorno, considerando que a especificidade do adoecimento psíquico não possibilitava a determinação da etiologia, curso e terapêutica em relação as suas diversas manifestações; (2) a descrição de características essenciais e associadas, comentários (estatísticas) sobre idade, início, curso, comprometimento, complicações, fatores predisponentes, prevalência, sexo, padrão familiar, diagnóstico diferencial, registro da gravidade do transtorno (leve, moderado, grave) e sobre a remissão dos sintomas (parcial ou completa); (3) uma série de critérios diagnósticos de inclusão e exclusão, constando a relação de características essenciais que deveriam estar presentes para que um diagnóstico fosse feito (confiabilidade) e a presença de algumas categorias regulares, tais como o “transtorno associado a uma condição médica geral”, “induzido por substância” e “sem outra especificação”. Para contextualizar historicamente a “psicopatologia dos códigos”, começava por mostrar o óbvio: lembrava que se contamos atualmente com um DSM-IV e um CID-10, contamos - em outros períodos históricos - também com um DSM-I, II e III e um CID 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para, em seguida, oferecer alguns dados sobre os antecedentes históricos fornecidos nos capítulos de apresentação do DSM-IV-TR (2002) e do CID-10 (1993). Quanto às referências aos CIDs, apontava a multiplicação das classificações e como os cuidados primários em saúde passavam a ser tomados como objeto de codificação em um manual de patologias mentais – ou transtornos psíquicos – nas últimas décadas do século XX. Na década de 1940, tínhamos a inclusão das categorias de transtorno mental pela primeira vez no CID-6; na década de 1970, 30 categorias no CID-9; na década de 1990, 100 no CID-10! O que teria ocorrido? As pessoas estariam adoecendo mais ou o modo de compreensão e de classificação sobre o adoecimento psíquico teria mudado? Quanto ao percurso dos DSMs, não apontávamos somente a multiplicação das categorias diagnósticas e a ampliação da especificidade da psicopatologia, mas evidenciávamos o “aperfeiçoamento” no modo de diagnosticar em rede com o sistema multiaxial, introduzido na década de 1980, no DSM-III. Um diagnóstico “médico plural” que contemplava a descrição e registro de cinco eixos: psiquiátrico, psicológico, clínico geral,psicossocial e situacional[4]. Apesar da pluralidade que adjetivava o diagnóstico multiaxial, este continuava sendo um diagnóstico “médico”. Apontávamos que apesar da impressão de uma busca de compreensão do sujeito a partir de uma multiplicidade (psiquiátrica, psicológica, clínica geral, social e situacional), como se fosse a crítica a uma perspectiva reducionista em relação à doença; com uma análise mais atenta, era possível verificar que este sistema diagnóstico era a expressão da objetivação do sujeito nos códigos modulares a partir de uma perspectiva dita plural, porém, caracterizada pela hegemonia médica, mostrando a expansão do pensamento médico (psicopatológico) sobre o sofrimento e o comportamento humano. A partir daí fazíamos algumas amarrações. Apontávamos o fracasso do propósito de uniformidade e universalidade pela simples existência dos dois manuais (o CID e o DSM), semelhantes em seus princípios, mas com algumas diferenças em termos de categorização (Sonenreich, 2004). Discutíamos como a tentativa de descrição “ateórica” fracassava, mostrando-se como um dos enfoques possíveis dentre as abordagens teóricas existentes. Segundo Roudinesco (2005, p.87-90), a “concepção comportamental da condição humana” fundamentaria as estratégias de codificação nos DSMs e CIDs, tomadas como única referência “científica” em psicopatologia; bem como uma concepção organicista das neurociências fundamentaria uma perspectiva farmacológica, colocada a serviço dos “laboratórios farmacêuticos e da ditadura da perícia técnica”. Evidenciávamos, ainda, que no mesmo período histórico da “abertura dos muros” da Reforma Psiquiátrica, foi o momento em que os manuais (CIDs e DSMs) tornaram-se hegemônicos em termos de cientificidade, quando houve um aumento significativo do número de classificações, multiplicadas em ramificações diagnósticas, diversificadas pela sintomatologia, e pela inclusão de uma multiplicidade de condutas dentro do domínio de investigação e intervenção. A “psicopatologia dos códigos” não tratava mais da doença mental, mas dos transtornos com uma ampla gama de indeterminação, incluindo uma diversidade de condutas nos critérios para inscrição e registro nas categorias psicopatológicas que não estavam previstos nas definições de doença mental em períodos históricos anteriores; e, ainda, destacávamos a categoria regular de “sem outra especificação” em seu sistema de classificação que contemplava parte deste índice de indeterminação, regulando a extensão da delimitação do objeto e do domínio do conhecimento da psicopatologia e do exercício do profissional “psi” (psiquiatra, psicólogo e psicanalista). Algo nos dizia que a mesma modernidade dos séculos XVII ao XX, em que os saberes e práticas disciplinares (médico-psiquiátricas e psicológicas) sustentaram e construíram os “muros dos hospícios” - transformando a loucura em doença mental produziria o cenário em que assistiríamos o “aperfeiçoamento” e a milimetragem das estratégias de controle disciplinar de modo dispersivo, na segunda metade do século XX, no que Deleuze (1992) [5] sinalizou como a emergência da sociedade de controle. Mostrávamos uma certa normatização da medicalização como fenômeno contemporâneo, na emergência de novas regulações sob (e sobre) os imperativos do mercado, do consumo e das tecnologias de comunicação e de informação que constituíam os novos cenários sociais na atualidade. Mostrávamos, de certa forma, a participação da “psicopatologia dos códigos” na construção de novas estratégias de regulação social para além dos muros das instituições de seqüestro (como o hospício), mas também além dos “muros” das instituições disciplinares da rede de atendimento comunitária extra-muros (dos serviços substitutivos como os ambulatórios, centros de atenção psicossocial, centros de convivência, etc) ou acadêmico-profissionais (universidades, eventos, etc.). O indivíduo na sociedade disciplinar era investigado no exame, sua história era relatada por tópicos nos prontuários e incluía-se em uma de algumas categorias. Na sociedade de controle, o indivíduo é investigado, modulado e codificado dentre as múltiplas categorias nos eixos do diagnóstico multiaxial, contemplando um leque milimetrado de condições, tipos de conduta e de sofrimento psíquico já previstas nas alternativas a registrar. Se por um lado entende-se que tal estratégia avaliativa visava aproximar e facilitar a comunicação profissional e institucional no âmbito nacional e internacional, é justamente o que afastava esta psicopatologia (dos códigos) da clínica. A nova “fisionomia da loucura” impressa pela “abertura dos muros” e sustentada por uma aliança da “quimioterapia, do princípio do acolhimento coletivo e dos tratamentos psicodinâmicos” era sujeitada à “psicopatologia dos códigos” como um novo modo de regulação sustentado pelo imperativo da “perícia generalizada”, levando ao “desastre” no plano clínico e no ensino em psicopatologia (Roudinesco, 2005, p. 102). 3. A “psicopatologia dos códigos” na mídia (em sala de aula) Depois desta parte introdutória, no contexto do curso, trabalhava com a historicidade de cada um dos agrupamentos de categorias psicopatológicas, transitando entre a descrição da “psicopatologia dos códigos”, a discussão do contexto social e histórico do surgimento das diferentes categorias e a problematização da presença de características ou de alterações que eram tomadas como sintomas (patológicos) em certas circunstâncias e, em outras, era “socializado” (de modo intensivo e agudo ou cronificado e leve). Como já mencionado anteriormente, não parecia sem propósito a presença de referências constantes à mídia nas aulas de psicopatologia. Muitas vezes, personagens de novelas e filmes representavam “pacientes” e “profissionais psi”. Outras vezes, “pacientes” e “profissionais psi” viravam personagens nas entrevistas em jornais, programas de entrevista, de auditório, talkshow, etc. Ao observar a mídia de modo mais ou menos sistemático, encontrávamos uma ampla lista de categorizações dos manuais de classificação em psicopatologia, a partir do qual poderíamos abordar praticamente todo o programa de uma “psicopatologia.dos códigos”. Destacaremos, neste momento, algumas referências à psicopatologia para além dos muros (manicomias e da rede comunitária) e por dentro da tela, ilustrando este modo de regulação dispersivo em rede (televisiva). Personagens e cenas de novelas, filmes, telejornais e outros gêneros discursivos surgiam relacionados às psicoses: a esquizofrenia “curável” porque controlada de John Nash de “Mentes brilhantes” (2001), personagem da vida real que virou ficção; a homenagem à Nise da Silveira em reportagem no telejornal em que, além dos profissionais da comunicação, assistíamos entrevistas com um profissional “psi” e um usuário do serviço “vítima de esquizofrenia”, bem como ouvíamos referências a G. Jung, quando a psicose aparecia na tela ainda dentro dos muros (Silva, Barros, Ferreira, Lima, 2006). Mas, também, tínhamos a loucura estendida no cotidiano, com uma multiplicidade de sentidos: desde a adjetivação de situações de ruptura mais ou menos valorizadas socialmente, de um estado psíquico pontual (ou “transtorno psicótico breve”) até constituir-se em uma categoria psicopatológica (Ferreira, 2006). Quanto às “patologias da cultura”, destacamos Dr. Lecter de “Silêncio dos inocentes” que protagonizava as discussões em sala de aula na extensa série de personagens “psicopatas” da filmografia nacional e internacional (ou portadores do “transtorno de personalidade anti-social”). Mas, neste agrupamento, tínhamos também, Wionna Ryder, atriz norte-americana que protagonizou uma cena midiática em que era uma personagem na vida real, apontada como cleptomaníaca (ou portadora de um “transtorno do controle dos impulsos não classificados em outro local”). Quanto às neuroses remetemo-nos a própria presença dos profissionais “psi” na relação de reciprocidade que estabelecem com o surgimento de seu “objeto institucional”: temos um médico entre a histeria e a mediunidade de um personagem/paciente na novela das 18h (Alma Gêmea, TV Globo), um Freud “encarnando” na novela das 19h (Bang Bang, TV Globo) e um psicanalista na novela das 20h (América, TV Globo). Profissionais “psi” também são entrevistados em gêneros discursivos informativos, definem os transtornos e indicam terapêuticas (pânico, fobias, tocs, etc.). Quanto às compulsões, voltamos aos personagens midiáticos da psicopatologia no âmbito internacional: uma Princesa Diana bulímica, um Michael Jackson pedófilo (tal como apresentado na mídia) e um Maradona dependente de substâncias (Silva, Barros, Ferreira, Lima, 2006). Quanto aos transtornos de humor, em um mundo apresentado como excessivo, intensivo, acelerado – quase um quadro “maníaco” – encontramos a “depressão” descrevendo situações, estados e categorias (Silva, Barros, Ferreira, Lima, 2006) que – diferente da “loucura” será predominantemente desqualificada em termos sociais, sendo extensivamente patologizada. Este breve recorte de uma rede de cenas da mídia – que poderia exceder nos detalhes, tal como a “psicopatologia dos códigos” - articulados ao contexto de ensino, apesar de arriscar constituir uma reiteração do discurso da “psicopatologia dos códigos”, constituía uma afirmação questionada do esquadrinhamento psicopatológico na atualidade. Discutíamos, tal como apontava Birman (2001), como a loucura clássica das psicoses do “sujeito fora de si” teria sido absorvida pelo padrão de normalidade na atualidade, fundada em uma cultura performática e do excesso, tendo perdido seu lugar de centralidade no discurso psicopatológico na atualidade, quando verificávamos a socialização e a naturalização da “loucura do excesso” no cotidiano. Em contrapartida, surgia uma série de nosografias relativas a um outro tipo de produção de subjetividade: de um “sujeito dentro de si” com a interioridade (moderna) difusa na exterioridade que subverte as hierarquias entre o real e a realidade, sendo a “psicopatologia dos códigos” responsável por fornecer parâmetros normativos (científicos) que irão fundamentar e criar o domínio da intervenção pontual e farmacológica de diversas ordenações (des) funcionais, descrevendo e regulando o mal-estar, sem enfocar a questão da etiologia ou da cura, tal como na medicina clínica moderna (Birman, 2001, p.185). Dentre as novas nosografias, Birman (2001, p.190) afirma que as “perversões” passaram a ocupar um dos focos privilegiados do discurso psicopatológico na atualidade, quando vemos outros personagens protagonizarem as “patologias da cultura” (dos transtornos de personalidade aos transtornos do controle dos impulsos) - ao que poderíamos acrescentar a regularidade de como as compulsões (de modo primário ou secundário) surgiam em diversos “transtornos” (alimentar, sexual, substância, factício, obsessivo-compulsvo, transtorno de personalidade obsessivocompulsivo, controle dos impulsos e sem outra especificação como a compulsão à internet, consumo, sexo, etc.). Mas destacamos, também, a presença dos “profissionais psi” e a apropriação social do “discurso psi” (Silva, Barros, Ferreira, Lima, 2006; Ferreira, 2006) na produção de um imaginário social “psicopatológico”. A presença das cenas psicopatológicas na mídia representadas por “portadores de transtornos” e/ou “profissionais psi” mostrava a extensão do discurso psicopatológico e profissional estendido no cotidiano. Mas, em alguns momentos, a extensão se esgarçava e dispersava, sendo o discurso psi apropriado por personagem não psi, mas com os seus pressupostos da perspectiva avaliativa hegemônica, mostrando como o “discurso psi” extrapolava os muros acadêmico-profissionais, passando a constituir um modo de compreensão da subjetividade e das relações, tal como podíamos verificar em sala de aula. Considerações finais Não é difícil afirmar que se espera de um professor de psicopatologia a descrição das classificações diagnósticas. Os alunos estão cursando a disciplina do Curso de Psicologia que mais se aproxima do modelo médico de diagnosticar (dominar) uma realidade. Não podíamos negligenciar tal expectativa, mas também, não podíamos atendê-la. Ao modo dos analistas institucionais (Baremblit, 1998), analisamos a demanda e o seu encargo. Efetuávamos uma crítica realizada a partir não somente de uma exterioridade, mas também, tomada ao entendimento por dentro, pelas entranhas e artimanhas, buscando a difícil tarefa de cumprir a ementa curricular e inserir no curso uma perspectiva política e clinica em psicopatologia. A inscrição da mídia no contexto de ensino poderia parecer interessante, por um lado, no sentido de aproximar as discussões de aula ao “cotidiano”. Mas, por outro, dava a impressão de que não estávamos mais presos ao hospício para falar do adoecimento psíquico, mas estávamos presos à tela da televisão, à página dos jornais ou ao monitor dos computadores, quando parecia que saíamos dos “muros” e entrávamos na “tela” (ou na “página”) em sala de aula. Mostrávamos, então, como que uma mesma época em que foram produzidas liberações (dos muros), foram criadas novas sujeições e meios de regulação disciplinar em rede extra muros manicomiais, mas também extra-muros dos serviços substitutivos, pois as teconologias de comunicação e informação possibilitavam e exigiam novos modo de controle em circulação; e conseguíamos, de certa forma, problematizar uma perspectiva avaliativa de regulação entre normalidade e patologia estendida para o tecido social quando analisávamos o modo que a “psicopatologia dos códigos” surgia no contexto de ensino atravessada pela mídia. Não mais somente o controle do tempo e dos gestos em um determinado território, mas um tipo de controle do tempo e dos gestos em trânsito, em circulação, em movimento. Como efeito, percebíamos que alguns entendiam e participavam ativamente na construção das cenas de ensino, da proposta de montagem de um campo de problematizações sobre os entrelaçamentos de uma leitura política da “psicopatologia dos códigos” e uma clínica do adoecer psíquico na atualidade, destacando a importância da historicidade, da temporalidade e da singularidade na compreensão do fenômeno psicopatológico. Outros pareciam entender, mas mostravam, às vezes, a hegemonia de uma perspectiva avaliativa em suas falas. Era impossível evitar algumas perguntas e afirmações regulares desde o início ao final do curso: “fulano tem que ser doente, isto não é normal!”; “tal conduta é patológica?”. A resposta e o diálogo estabelecido tinha que contar com a prontidão e a insistência em problematizar a todo o momento a tutela da psicopatologia sobre a subjetividade e o adoecimento psíquico. Reiteradas vezes era preciso lembrar que não ser normal ou ser desviante não era igual a ser patológico. De acordo com a insistência no “furor classificatório” dos enunciadores, chegava até mesmo a afirmar, com certo distanciamento, que segundo os “manuais de classificação” tal conduta poderia ser considerada a partir de tal categoria. E prosseguia perguntando pelo sofrimento e singularidade psíquica que eram postos em cena. Tal como ensinou-nos Deleuze (1992): “Não se deve perguntar qual o regime mais duro, ou mais tolerável, pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e as sujeições. (...) Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas. (p.219-220). Enfim, na construção de uma metodologia de ensino em psicopatologia tentava produzir uma leitura política e clínica sobre a produção de subjetividade, constituindo um convite ao diálogo e ao desafio de criar modos de escuta que não aprisionassem o sofrimento psíquico nos modos de regulação dentro e fora dos muros, dentro e fora da tela e... dentro e fora dos códigos. Referências AMARANTE, P. (org.). Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995. ALBUQUERQUE, J.A.G. Metáforas da desordem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. BASAGLIA, F. A instituição negada. Rio de Janeiro: Graal, 1985. BUCCI, E.; KEHL, M.R. Videologias. São Paulo: Boitempo, 2004. COSTA, J.F. Saúde mental, produto da educação? In: ______. Violência e Psicanálise. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. ASSIS, Machado. O alienista. São Paulo: Ática, 1979. BAREMBLIT, G. Compêndio de Análise Institucional. Rio de Janeiro:Rosa dos Ventos,1998. BERLINK, Manoel T. O que é Psicopatologia Fundamental. Psicologia ciência e profissão. 1997, 17 (2), 13-20. BIRMAN, J. Mal estar na atualidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. CID-10. Classificação de transtornos mentais e do comportamento da CID-10. Porto Alegre, Artes Médicas, 1993. DELEUZE, G. "Post-scriptum sobre a sociedade de controle". In: ______. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. DSM-IV-TR. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 2000. FRAYZE-PEREIRA, J. O que é loucura? São Paulo: Brasiliense, 1994. KAPLAN, H.I.; SADOCK, B.J.; GREEB, J.A. Compêndio de psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. ROUDINESCO, E. O paciente, o terapeuta e o Estado. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. SILVA, P.R.M.; BARROS, C.; FERREIRA, J.; LIMA, M. Além dos muros e dentro da tela: o discurso psi, a mídia e o cotidiano. Revista Psicologia para a América Latina, n.5: 2006. SILVA, P.R.M.., MOURA, E. (2000). Sofrimento psíquico e medicalização. IV INIC, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP. SONENREICH, C. (2004). Notas sobre leituras psiquiátricas em 2002. In: FORBES, J. Projeto análise. Disponível na internet: http://www.jorgeforbes.com.br/br/contents.asp [17 ago.200 [1] Patrícia Regina da Matta Silva, Psicóloga e Professora do Curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende, RJ. Doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e Mestre em Teoria da Cultura e da Comunicação da Escola de Comunicação da UFRJ. E-mail: [email protected]. [2] Dentre as referências sobre a Reforma Psiquiátrica no Brasil, destacamos a leitura de Amarante (1995). [3] Cf. Albuquerque (1978) e Costa (1986). [4] Segundo consta no DSM-IV-TR (2002): (1) transtorno clínico com 17 classificações principais, 300 específicas e outras condições que podem ser um foco de atenção clínica; (2) transtorno de personalidade e perturbações específicas do desenvolvimento; (3) condição médica geral; (4) problemas psicossociais e ambientais; (5) avaliação global do funcionamento (AVG) quando é indicada a alternativa de avaliação a partir de uma escala de 10 faixas com pontuação de 0 a 100 (DSM-IV, 2002; Kaplan, p.305). [5] Considerando a heterogeneidade e a descontinuidade das transformações históricas, Deleuze (1992) discute a dissolução das sociedades disciplinares que deixavam de existir de modo hegemônico a partir da segunda metade do século XX - cuja emergência foi trabalhada por Foucault - anunciando o surgimento do que chamou de sociedades de controle.
Download