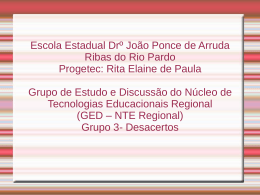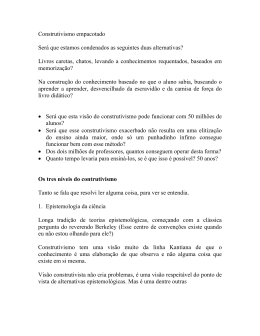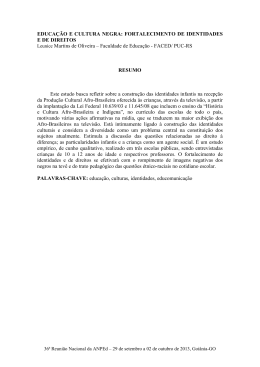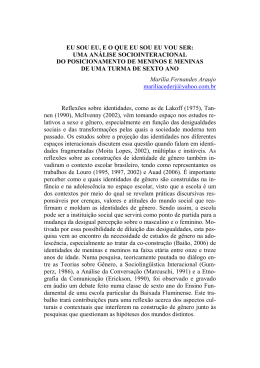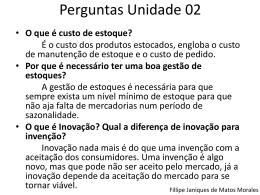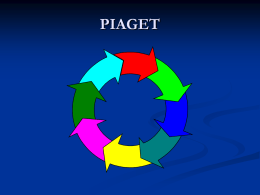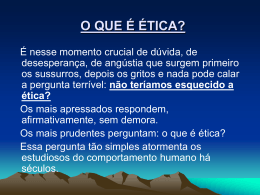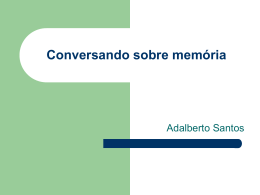EU COMO EU Lauro Cavalcanti e Felipe Scovino “É tão perigoso para um poeta mudar de idioma quanto para um fiel trocar de religião” Gertrude Stein d’après Caetano Veloso na contracapa de seu primeiro disco de exílio As obras de Eu Como Eu (1999) apontam para a diversidade e amplitude da arte produzida no país e para a forma como o conceito de “nacional” é gerado, identificado, percebido, mobilizado e anulado no circuito de arte. A potência dos trabalhos está no contexto em que foram produzidos, no modo de articular infinitos lugares e tempos e no apagamento de ideias rígidas sobre fronteiras nacionais. A identidade nacional não é um dado absoluto, mas representações em um jogo de espelhos que só se definem uma vez colocadas em oposição segmentar com as outras. Em outras palavras, vemonos em relação ao outro e ao modo como somos vistos. Octavio Paz, no discurso de aceitação do Prêmio Nobel em 1990, apontava a necessidade de resgate do tempo presente, do qual os intelectuais e artistas hispano-americanos pareciam haver sido ejetados, acostumando-se a procurar o contemporâneo, apenas, em Nova York, Paris ou Londres. A arte brasileira jamais esteve tão “internacionalizada”, participando de importantes mostras coletivas ou individuais. Não raro, contudo, por mais sofisticados e cosmopolitas que sejam, os artistas são enquadrados em certos clichês, como “pop periférico”, “conceitualismo político” ou “geometria sensível”. Muitas vezes o curador da instituição norte-americana ou europeia “fala” por ele como se o próprio não pudesse fazê-lo. É esquecido que o direito de narrar (sua própria história) – conceito criado por Homi Bhabba – deve ser legítimo. A Visão do Outro Vinte e dois anos separam o inacabado It’s All True (1942), de Orson Welles, e Soy Cuba (1964), de Mikhail Kalatozov, duas fracassadas iniciativas de interpretação dos trópicos por excelentes diretores de países “amigos”. No filme de Welles as cenas da explosão popular no Carnaval do Rio desagradaram a todos: os altos executivos de Hollywood lamentaram os dólares gastos para “ver selvagens pulando” e os dirigentes do Estado Novo viram frustrada sua ideia de uma representação idílica e sofisticada do país. No relato da Revolução Cubana, produzido por Kalatozov, os próprios cubanos não se reconheceram naquilo que chamaram de “visão eslava” da ilha, e na URSS a exibição da obra foi proibida, pois o intuito de denunciar o capitalismo decadente teve um efeito contrário: prevaleceu no público um forte fascínio pelas cenas com mulheres, jogos e bebidas nos tempos de Fulgêncio Batista. No início do século XX, a América Latina era compreendida pela política norte-americana como um território de irreversível atraso. Aos olhos puritanos dos norte-americanos, os espanhóis e os portugueses eram “irrecuperavelmente” falsos, mesquinhos, cruéis, além de perpetuar a lógica colonialista, “bem como estagnar na languidez dos trópicos.” Foi longo o percurso para a arte brasileira encontrar um sotaque e, finalmente, uma linguagem própria. Nas palavras de Mario Pedrosa: “No Brasil a primazia no plano artístico coube à arquitetura.” Até meados dos anos 1930, a arquitetura moderna parecia, apenas, uma nova importação, similar a tantas outras. Esse quadro foi radicalmente alterado a partir de 1936, através dos contatos da equipe brasileira com Le Corbusier e da releitura tropical de seus princípios para a construção da sede do Ministério da Educação e Saúde. Demonstrou-se que o estilo moderno poderia adquirir escala monumental e ser aplicado em regiões com temperaturas diversas do clima temperado europeu. A partir daí, aproveitando a fase relativamente próspera que o país atravessava, muitas construções de alta qualidade foram realizadas, firmando o Brasil como um importante centro de inovações arquitetônicas entre os anos 1940 e 1960. Nelson Rockefeller, à frente da política de boa vizinhança, mandou realizar uma pesquisa em várias cidades dos EUA e quatro países da América do Sul, dentre os quais o Brasil. O trabalho apontou que o mais forte empecilho ao êxito do congraçamento almejado era o preconceito recíproco existente entre as populações norte e sul-americanas. Para os americanos do norte, os latinos eram demasiadamente “emotivos, sentimentais e irresponsáveis”. Estes, por seu turno, consideravam os estadunidenses “frios, interesseiros e não confiáveis”. A pesquisa apontava, ainda, que o melhor modo de melhorar as representações e buscar aproximar os povos seria a via cultural. Em 1943, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) organizou a mostra e o livro Brazil Builds: Architecture New & Old 1652-1942. Havia um forte paradoxo: embora a arquitetura norte- americana fosse, ainda, bastante tradicional, o Departamento de Arquitetura do MoMA se firmara, mundialmente, como o principal fórum de debates e difusão de inovações arquitetônicas. O livro Brazil Builds foi distribuído nos principais centros mundiais de construção, evidenciando a sofisticada produção de um país cuja imagem esteve sempre associada ao folclore tropical. A partir dos anos 1950, o modernismo que o Brasil havia importado da Europa, com a ajuda da difusão que obteve nos EUA, viajou o Oceano Atlântico na direção inversa. Recuperando-se do impacto da guerra e entrando na fase de reconstrução das cidades mais atingidas, a segunda geração modernista europeia passou a ter o Brasil, em geral, e Oscar Niemeyer, em particular, como referência. Entre os anos de 1950 e 1960, fruto da acelerada industrialização, a bossa-nova e o construtivismo juntaram-se -se à arquitetura para configurar o que se esperava ser uma “nova” forma de Brasil, pretensamente livre de influências exóticas e dos bolsões de pobreza. As músicas de Antonio Carlos Jobim, as poesias de Vinicius de Morais e o canto de João Gilberto ensejam um novo tipo de música que, sem perder o balanço do samba, incorporou influências de Claude Debussy e o melhor do jazz norte-americano. Neste segmento de Caos e Efeito, Chacal trabalha com o som e a sombra gerados pelo movimento cíclico e interminável de uma canção de bossa-nova girando no toca-discos. Estão ali, lado a lado, o objeto real e a ilusão que projeta. O Desenho Industrial ampliou a visão de um país moderno e industrializado, que passa a ter uma correspondência real e imediata com a cultura de massas. A vontade de ordem e multiplicação abandona qualquer noção de lugar, ainda que estivesse intrinsecamente associada ao universo do construtivismo brasileiro. A obra gráfica de Alexandre Wollner, também excelente pintor, compõe uma ideia de Brasil que foge dos arquétipos ao mesmo tempo em que, sem abrir mão da invenção, explicita procedimentos que se converterão em qualidades de uma produção sem fronteiras, baseada nas “leis da estrutura”: alinhamento, ritmo, progressão, polaridade, regularidade e lógica interna de desenvolvimento e construção. A partir dos anos 1970, a apropriação da arquitetura, construtivismo e bossa-nova como novos modelos e símbolos do país no exterior foi tão repetidamente mal utilizada que, nessa perspectiva, os reduziu, como elementos de propaganda, aos grandes clichês sobre a nossa cultura. Outro Brasil Percebemos na produção das artes visuais contemporâneas um esvaziamento de sintomas de identidades nacionais e a afirmação de experiências que anulam o lugar de produção. O contexto da arte fora de um centro hegemônico coloca-se como possibilidade de reflexão sobre o tempo presente e evidencia uma relação de forças complexa e contemporânea. Não há folclore ou exotismo, justamente porque o que o espectador espera, pensa ou imagina do Brasil está muito longe das experiências evocadas por essas obras. Identidades e fronteiras passam por outros caminhos de (des)construção. Paulo Venancio Filho, referindo-se a trabalhos de Cildo Meireles e Tunga, escreve que “quem esperar a tematização do Brasil, a cor local, certamente não encontrará isso nos trabalhos”. O tema local não está em nenhuma imagem, justamente porque ele já se dissolveu no mundo. As identidades que compunham as paisagens sociais “‘lá fora’ e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as ‘necessidades’ objetivas da cultura estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais”. A própria ideia de identificação, por meio da qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisória, frágil e variável. (Des)Arquitetura As obras de João Loureiro e Lucia Koch trabalham na desconstrução de paradigmas da arquitetura moderna. O jogo de escalas nas fotos de Koch desassocia momentaneamente a função original daquela superfície (interiores de caixas de alimentos) e o que ela passa a representar. Essa série (Amostras de Arquitetura, 2009-2011) parece nos empurrar para uma zona difícil de ser localizada. O lugar e a imagem escolhidos por Koch não oferecem a mínima possibilidade de ser ocupados ou habitados, simplesmente pelo fato de que são lugares inventados. A luz não é adereço, mas personagem central nas narrativas dessa série. Como se a arquitetura quisesse assegurar a permanência do elemento “mais” transitório e pontual da natureza (a luz). João Loureiro faz aflorar a memória destruída em nome de um futuro duvidoso. Vila Normanda (2004) faz referência a uma vila – já demolida e que deu lugar a um prédio associado ao modernismo arquitetônico brasileiro – que existiu no Centro da cidade de São Paulo até meados dos anos 1970. A obra Vila Normanda questiona o lugar da arquitetura, a memória do lugar, a preservação e a modernidade. A escala é tal que o trabalho assume uma presença quase monumental, parecendo disputar o espaço com o público, bloqueando a visão daquilo que está do outro lado. Qualquer lugar A obra como a de Antonio Dias, em suas distintas estratégias, é comumente exibida em exposições internacionais cujo tema é arte e política. Entretanto, o termo “política” nessas ocasiões é colocado como uma ação de guerrilha, algo maniqueísta que não permite brechas para que sua obra seja percebida como um objeto mediador de experiências sobre o corpo e, acima de tudo, como território semântico atemporal e transnacional. Sua produção, como qualquer outra obra de arte, quer se desvencilhar de seu tempo e lugar histórico e permanecer como um legado de invenção e oferta de propagação de sensibilidades. Nas obras de Dias exibidas em Eu Como Eu, torna-se aparente que o sentimento de autoexílio do artista nos anos 1970 se alinha com o anúncio de uma desterritorialização e com o compromisso em deixar incompleta a sua biografia ou negar um lugar como produto de si ou morada. Não há imagem do artista nem de ninguém, mas espaço. São cartografias de um lugar que remete ao infinito, oferecendo-nos um território sem muros, propício à liberdade. A geometria sensível do Neoconcretismo, um dos marcos mais recorrentes de nossas artes visuais, foi apropriada e ultrapassada nas obras de Nelson Leirner e Lygia Pape. Eles adotaram o construtivismo como ideia, a ironia como circuito, o kitsch como matéria e a autodeglutição como prática. Em Construtivismo Rural (1999), Leirner realiza paródias de obras concretas, utilizando, dessa vez, não a tinta automotiva ou industrial, mas o couro de boi. Leirner consegue, ironicamente, alcançar a meta da arte construtiva, de estreitamento com a vida. Nas obras de Pape, o texto perverte e inquieta as associações entre linguagem e imagem; ele não é somente legenda, mas fundamentalmente significado e deboche. Não Pise na Grana (1996) transgride as relações tradicionais da linguagem e da imagem. A obra é uma instalação, formada por alfaces “cercadas” por tijolos. Nesse campo delimitado, uma placa é colocada sob as alfaces, com a frase que dá nome ao título. O texto voltou para a função natural – servindo de suporte para a imagem, nomeando-a, explicando-a, decompondo-a. Em Eu Como Eu, a imagem de dois frangos comendo um outro, assado, não nos faz esquecer nosso passado antropofágico, que propunha a deglutição do outro com o intuito de ganhar seus poderes. Na autodeglutição da mesma espécie, imagem e palavra jogam com a diferença entre a sua natureza linguística e as coisas que se pretende que refiram. Ambiguamente, Eu Como Eu pode, também, ser lida como expressão afirmativa de alguém parecido consigo mesmo. Abrindo novas instâncias para a linguagem construtiva, Tteia agrega a economia geométrica à luz como invenção de lugares. Tteia é contraditória em sua aparição, porque é uma construção relativamente espetaculosa que se utiliza de uma economia de elementos, partindo do cruzamento de planos e da exploração de engendrar espaço a partir do jogo entre linha, cor e vazio. Nas obras de André Komatsu, Matheus Rocha Pitta e Rafael Alonso, a aparição de um “qualquer lugar” é latente. Não há indícios de uma “brasilidade” ou de reconhecimento de um território, mas de uma linguagem universal que se dá pela precariedade de materiais ou pela própria aparição ao mundo. Suas experimentações estão mais próximas de um diálogo transnacional do que local. Na construção de distintas paisagens, esses artistas lançam mão de uma estética (irônica) que fica entre a gambiarra (Komatsu), o espanto e a falsidade (Alonso), e, por meio de uma inversão de escala, torna-se aparente um dado/entidade bem frequente na nossa economia (Pitta). Os artistas brasileiros são percebidos por alguns curadores do hemisfério norte como ligados à política ou ao exotismo, talvez por identificarem uma – curiosa – arte conceitual que conjuga invenção e brasilidade, entendidas por boa parte dos “gringos” como uma sensibilidade exuberante ou maliciosa. Nós como nós. Será?
Baixar