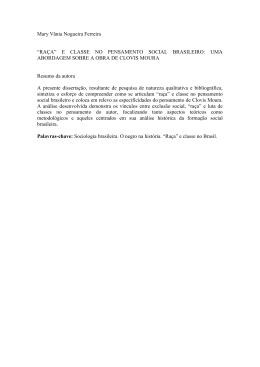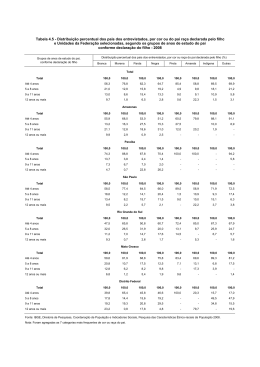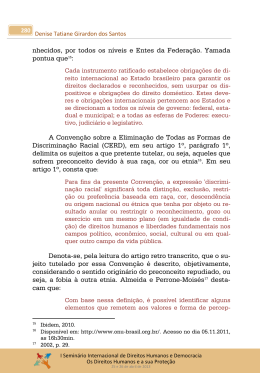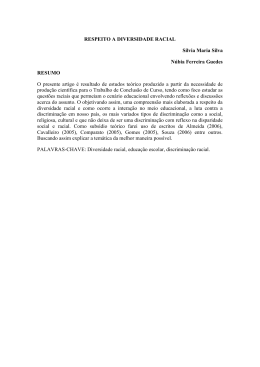LIVROS DA COR DA RAÇA Raça, ciência e sociedade, organizado por Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura. Rio de Janeiro: Fiocruz/CCBB, 1996, 252 pp. Lilia Moritz Schwarcz Escrever sobre uma coletânea de artigos é sempre uma armadilha: é preciso descobrir relações pouco esperadas entre os ensaios, ou então encontrar ligações pouco perceptíveis ao mais comum dos mortais. Neste caso, porém, a tarefa é menos árdua, mesmo porque são evidentes os pontos de contato que unem os capítulos. Raça, ciência e sociedade representa o resultado imediato de um seminário realizado no Rio de Janeiro entre 30 e 31 de maio de 1995, no Centro Cultural Banco do Brasil, que teve como objetivo retomar o polêmico conceito "raça", assim como repensar o não menos complexo tema das relações raciais no Brasil. Redigidos por antropólogos, sociólogos e cientistas políticos, os ensaios dialogam entre si, divididos em quatro momentos: a virada do século, décadas de 30 e 40, anos 40 a 60 e perspectivas contemporâneas. O resultado, longe de datado e passageiro, como acontece com boa parte das coletâneas desse tipo, é surpreendente: seguindo-se os diferentes artigos chega-se a um bom painel sobre a questão racial no Brasil, sobretudo a partir de meados do século XIX, e acerca da história do pensamento social no país, nesse mesmo contexto. Na verdade, Raça, ciência e sociedade recupera um tema sobre o qual, durante alguns anos, pairou uma espécie de maldição. Apesar de recorrente no dia-a-dia — nas expressões, piadas e impasses do cotidiano —, a questão racial esteve, nos anos 60, 70 e início dos 80, afastada do debate acadêmico. Talvez em função da premência econômica (que parecia dar conta das especificidades raciais), quem sabe engolido pelos impasses políticos, que impediam qualquer análise que destacasse a diferença, o fato é que o tema teve uma aceitação inversamente oposta à força de sua representação. Não é de hoje que o Brasil guarda em sua especificidade racial — e miscigenada — uma característica a ser exaltada como marca de uma identidade particular. Também não é recente a aceitação de que no Brasil símbolos étnicos transformam-se em ícones nacionais. Entretanto, a visibilidade social não dava lugar a uma produção que problematizasse alguns mitos fundamentais que envolviam, e envolvem, o tema. Com efeito, o mito da democracia racial e a fábula das três raças — esses dois pilares da identidade nacional —, apesar de condenados pela produção científica dos anos 50 e pela escola de sociologia paulista, que apontou para as profundas diferenças existentes na sociedade brasileira, permaneciam chamuscados, mas vivos, na falta de algo em seu lugar. É recente, portanto, o debate que, com novos dados e pesquisas, tem retomado o estudo das raças, tema fundador nas ciências sociais brasileiras. Nesse sentido, este livro não só representa o resultado de uma iniciativa em si louvável, como seus diferentes estudos apontam para novas linhas de pesquisa e problemáticas que aparecem em nossos dias. Mas nada como respeitar a ordem indicada. Os artigos se seguem privilegiando uma ordem cronológica que, de alguma maneira, facilita e orienta uma leitura ampla do tema. Comecemos pelo começo: a capa. É pena que os organizadores da coletânea não façam uso, em nenhum momento do livro, da força da imagem belamente reproduzida nesta edição. Claro está que JULHO DE 1997 189 LIVROS as ilustrações de capa são, muitas vezes, o último momento de uma longa produção, que nesse exemplo começou em 1995. Mas nesse caso a imagem fala tanto da obra que não há como deixar passar. Redenção de Can, de autoria de Modesto Brocos y Gómez, data de 1895 e foi utilizado como ilustração, pela primeira vez, por João Batista Lacerda em 1911. Nessa ocasião, Lacerda, diretor do Museu Nacional, participou como representante brasileiro do I Congresso Internacional das Raças, quando apresentou seu polêmico trabalho intitulado "Sur les métis". Franco defensor da teoria do branqueamento, Lacerda advogava, então, a tese de que o Brasil no espaço de cem anos — três gerações — seria branco. Não é à toa, portanto, que o quadro selecionado mostre um processo depurador (e quase milagroso) a partir das quatro figuras nele expostas: a avó (negra retinta) que olha em direção ao céu, o pai (branco), a mãe (uma mulata de traços e mãos mais finas) e por fim o filho — que ganha o centro da cena e é branco de cabelos lisos. Não é hora de discorrer sobre a teoria de Lacerda, mas de mostrar a atualidade da imagem e do tema. Se, como bem mostra Hasenbalg, no livro, em muitos aspectos nos aproximamos dos demais países latino-americanos, é particular ao Brasil a construção de dogmas bem-elaborados e persistentes em que a democracia racial e uma forma especial de "branquear e empretecer" continuam presentes, como formas de sociabilidade. Até hoje branqueiase não só de forma fenotípica, como é possível ficar mais branco em função de uma inserção econômica, ou mesmo social, especial. De formas diversas os ensaios falam, se não dessa, de outras saídas originais e revelam como, em épocas da tão falada globalização, o desafio é entender, sim, o que há de universal, mas sem perder o particular. A primeira série de artigos enfrenta dilemas desse tipo, no contexto de finais do século XIX. John Monteiro, em texto muito original, discorre sobre o local "das raças indígenas" no pensamento brasileiro, mostrando como os grupos selecionados como matriz para a identidade nacional, em função de seu processo de alianças e mestiçagens — os tupis —, permaneceram relegados a um passado remoto. Diferenciando os índios históricos dos atuais, o Império fez uso dos modelos raciais de análise gerando tensões entre uma política ora assimilacionista, ora repressiva. Não só nos cantos perdidos 190 NOVOS ESTUDOS N.° 48 dos sertões, como nas salas "civilizadas" das academias e institutos, permaneciam acaloradas as disputas entre os que advogavam a catequese e aqueles que promoviam a remoção e o extermínio dos indígenas. Nesse contexto, a aceitação das máximas raciais da época fez dos indígenas remanescentes uma raça ou "um conjunto de raças" em extinção. Símbolo romântico do Império, o "índio da ciência" estava prestes a desaparecer, com os augúrios da ciência determinista da época. É essa mesma ciência que aparece analisada nos três demais artigos que compõem a primeira parte do volume. Aí, porém, saímos do Segundo Reinado (rapidamente) e entramos no contexto polêmico da República e de sua política de saneamento e higienização. Nísia Trindade Lima e Gilberto Hochman discutem as principais formulações do movimento de saúde pública na Primeira República. Identificando a doença como o elemento distintivo da condição de ser brasileiro, a República apoiará amplos projetos higiênicos, dando-lhes autonomia e centralização. Segundo os autores, ao abrir mão da tese da degeneração do mestiço, as novas investidas apostavam na solução para as doenças endêmicas que assolavam o país. "O Brasil é um grande hospital", dizia Miguel Pereira, médico e professor de medicina do Rio de Janeiro, em 1916, dando início às campanhas de saneamento rural. Polêmico em seus métodos, o movimento higienista teve papel fundamental na legitimação do papel do Estado no campo da saúde pública e sobretudo na perspectiva de superação dos "males do país", até então entendidos como irremediáveis. Quase que uma — má — fortuna nacional. Giralda Seyferth retoma o mesmo contexto quando discute a política de colonização e de imigração e seu papel como "instrumento de civilização". Analisando as particularidades do projeto de atração de mão-de-obra estrangeira, Seyferth revela de que maneira se impediu uma "imigração espontânea", considerada um grande estorvo ao desenvolvimento do país. O conjunto das obras selecionadas pela autora revela as proibições à entrada de mão-de-obra negra e asiática e a seleção de trabalhadores europeus e brancos: "modelos de civilização". Sobretudo em função da rejeição ao modelo de imigração do Império — que criara guetos raciais —, a República, entre os anos 1890 e 1920, investiu em uma imigração "branca e superior", que ajudaria a formar um tipo brasileiro: LIVROS elemento da unidade nacional. Tratava-se, dessa maneira, de "construir" uma raça, privilegiando os imigrantes brancos que se assimilassem e colonizassem uma população considerada, pela ciência da época, inferior. É certo que já se fez muito a delação dos usos políticos da ciência, mas insistir, com casos particulares, é sempre uma boa provocação. Nesse momento, portanto, é evidente o diálogo entre ciência e prática, prática e ciência. O que fica claro é como em inícios do século não estávamos exclusivamente diante de uma questão de falta de mão-deobra. Na mesma medida em que era preciso atrair braços para a agricultura, parecia necessário selecionar a entrada, tendo em mente as teorias darwinistas sociais que insistiam sobre as consequências nefastas da "má miscigenação". É essa a única maneira de entender como em um momento de escassez de mão-de-obra os políticos brasileiros deram-se ao luxo de selecionar entre "bons" e "maus" imigrantes. É isso que revela o brilhante artigo de Jair de Souza Ramos, que analisa a figura do "imigrante indesejável" dentro das concepções sobre imigração da década de 20. Se era possível suspeitar sobre a influência das teorias de branqueamento nas práticas políticas da época, Ramos, com documentos insofismáveis, não dá mais o direito da dúvida. O autor mostra como houve uma espécie de "cálculo racial" na orientação da política imigratória brasileira, que visava a um caldeamento de raças e a um tipo cada vez mais branco. A propaganda de imigração brasileira atraiu, no entanto, não só seus "objetos privilegiados" — trabalhadores agrícolas da Europa central — como uma leva de "estrangeiros" não prevista, frente à qual uma resposta negativa do governo brasileiro não se fez esperar. Nessa categoria enquadraram-se um grupo de negros de Chicago, que se propôs a comprar terras no estado do Mato Grosso (e teve seu pedido negado em função de uma suposta "carência civilizatória" e de seu caráter mais insubordinado), e os imigrantes japoneses, considerados pouco "assimiláveis". Esses primeiros artigos, como um todo, mostram os limites do "paraíso racial brasileiro". As respostas são diferentes: os japoneses não se assimilam, os negros americanos são mais agressivos "que os nossos", ou, anos antes, os indígenas não combi- nam com a civilização. No entanto, já na primeira parte de Raça, ciência e sociedade vemos como, no Brasil, práticas discriminatórias afirmaram-se fora do corpo da lei, e em nome de uma "suposta" ameaça à unidade nacional. Mas chegamos aos anos 30 e 40, juntamente com os demais artigos da coletânea. O título da segunda parte do livro — "A reinvenção da raça" — não faz jus à originalidade dos artigos que a compõem. São os próprios ensaios que demonstram como a raça não é reinventada, já que seu movimento revela antes continuidades do que rupturas e esquecimentos. Tendo como objeto as "Conferências da alta cultura colonial de 1936", Omar Ribeiro Thomaz revela como, nos anos 1930, o império português procurou produzir um "saber colonial" — uma história única, uma cultura e um padrão de sociabilidade — que levaria a um imaginário nacional. Dilacerados pelo dilema "império ou província?", intelectuais portugueses buscavam no passado, na geografia, na botânica e em seus homens sinais de continuidade no tempo. Trabalhando com a instigante idéia de vocação imperial, Thomaz mostra como o evento volta-se para o império português dos séculos XV e XVI, a maior expressão dessa particularidade "missionária". Noções como "tolerância", "simpatia" e "plasticidade" transformam-se em atributos essenciais e definidores dos portugueses, empenhados na dura missão de expandir "a pátria e a fé". É assim que em contrapartida à pobreza da colônia aparece uma certa "riqueza de espírito", diante da incompreensão dos demais impérios. O gênio político do português estaria garantido em seu humanismo inato e em seus ideais superiores, que o levariam a fazer do império, por meio da assimilação, uma imensa nação. É em meio a essa perspectiva inovadora (ao menos em nossos debates) que Thomaz introduz a figura de Gilberto Freyre — com sua teoria do luso-tropicalismo — e mesmo o Brasil, que nesse cenário aparece como a criação mais bem-sucedida de Portugal. Como um modelo de aculturação de muitas mãos, o luso-tropicalismo implicaria africanizar, americanizar e orientalizar o colono, criando uma nação só para este imenso império antropofágico. É também a idéia de mestiçagem que alinhava o artigo de Lourdes Martinez-Echazábal. Partindo do que chama ser o "ideologema da mestiçagem" (?), a autora mostra como há uma construção semelhante JULHO DE 1997 191 LIVROS da identidade latino-americana, guardadas as diferentes variantes nacionais, regionais e de época. A noção de "nossa América mestiça" percorre a parte sul do continente e resiste, ressignificada nos anos 20, a partir do discurso culturalista, que não abole de todo a idéia de raça biológica. O que ocorre, segundo Echazábal, é antes uma "culturalização da raça e uma racialização da cultura", quando autores como Freyre e Jorge Amado retomam, em uma versão brasileira, temas elaborados por José Vasconcelos em A raça cósmica e por Nicolás Guillén em Cor cubana. Com as vantagens — e desvantagens — de uma análise comparativa que acaba por não se deter exatamente em um só autor, o artigo revela como ao conceito de mestiçagem acoplam-se outros com um certo espírito comum, matrizes possíveis para delinear uma especificidade latinoamericana. Localizado, também, nesta segunda parte do livro, que vai dos anos 30 aos 40, o artigo de Ricardo Ventura Santos escapa totalmente aos limites temporais que lhe são impostos pela divisão formal do livro. Tanto melhor, pois o artigo trata da trajetória do conceito "raça" no campo específico da antropologia física até anos recentes. Paralelamente ao processo vivido em outros campos da antropologia — em que há uma transição de raça a cultura —, no caso específico da antropologia física, "raça" é também um conceito em questão, mas que se aproxima gradativamente da noção de "população". Para comprovar a tese, Santos divide seu artigo em dois bons momentos. No primeiro analisa os "Estatutos sobre a raça" produzidos na década de 50 pela Unesco, em um contexto marcado pelos horrores do nazismo. Como se sabe, a Reunião pretendia expurgar o conceito biológico de raça e transformálo em mito social; um conceito secundário frente à riqueza das populações. Santos revela, de forma clara, como, em oposição aos modelos evolucionistas, toma força após a II Guerra Mundial uma certa biologia que defende o homem universal e igualitário. No entanto, são inesperadas as reações a essa "primeira declaração". Na verdade, os resultados da segunda Reunião retomam "raça" como um conceito biológico, apesar de permanecer seu caráter inconcluso. Na segunda parte do artigo é retomado o conceito "raça" em uma perspectiva mais contemporânea, à luz do neodarwinismo. Segundo Santos, as novas teorias sequer mencionam os traços morfo192 NOVOS ESTUDOS N.°48 lógicos externos (antigo cerne das classificações raciais); em vez disso, têm destacado que "raça" é um conceito probabilístico e não absoluto. A discussão proposta pelos geneticistas é longa, mas aponta para a persistência da "raça", apesar de atrelada a outros conceitos também definidores. É com grande curiosidade que os antropólogos culturais tentam entender esse debate de fronteira, buscando nele algumas certezas. Se o conceito biológico "raça" não está mesmo extinto, onde estariam as suas regularidades? Vemos, porém, que mesmo nessas áreas não existem positividades. Pena que a coletânea não inclua outros artigos que invistam nessa perspectiva biológica para que se possa avançar entre a ojeriza culturalista ao termo e o namoro discreto com a biologia. Esse é mais um tema que deixamos em aberto, pois chegamos, rapidamente, à terceira parte do livro, em que são abordados os estudos sobre relações raciais entre os anos 40 e 60. Nesse momento, Raça, ciência e sociedade revela uma nova face e transforma-se claramente em uma obra sobre o pensamento social brasileiro. A guinada é evidente para o leitor, assim como deve ter ficado claro durante o seminário. Deixamos, em parte, a história e o contexto, e em questão estão intelectuais e suas obras. Antonio Sergio Alfredo Guimarães analisa cor, classe e status nos estudos de Donald Pierson, Thales de Azevedo e Marvin Harris para refletir sobre duas teses: uma que vincula cor às discriminações de classe, outra que explica nossa especificidade pela permanência de uma hierarquia social e vincula o tema à questão do prestígio. Partindo da discussão sobre a particularidade do multirracialismo brasileiro e a novidade de seu sistema de classificação — que além dos traços fenotípicos introduz a posição social e econômica —, Guimarães mostra como essa definição dos anos 30 revela as bases de "uma democracia racial", em que a cor importaria menos que o desempenho. Entende-se, portanto, por que para Pierson as discriminações seriam não propriamente raciais, mas sociais e de classe (sem, é claro, reconhecer a existência do preconceito no país). Harris (tratado de forma breve no artigo) segue os modelos de época, em que cor aparece como um componente importante, mas não exclusivo. É Thales de Azevedo quem, segundo o autor, ao sobrepor na estrutura social duas hierarquias (uma de ordem econômica e outra de ordem LIVROS social, ligada ao status e ao prestígio) avança o diálogo, explicitando o significado do velho ditado: "Branco pobre é preto e preto rico é branco". Ligando o preconceito de cor aos legados da escravidão no Brasil, Azevedo terá suas idéias retomadas e desenvolvidas por Florestan Fernandes, assim como garantida a sua atualidade. Os impasses de um conceito impreciso e ambíguo como "prestígio" fazem com que até hoje as pessoas acreditem que possam "embranquecer" ou "empretecer" em função do maior ou menor desempenho nas áreas econômicas e sociais. Outro autor que "descobriu" o tema das relações raciais foi Roger Bastide, e é isso que nos mostra Maria Lúcia de Santana Braga. Usando a bela metáfora do paisagista, Braga mostra como o poeta, psicanalista, sociólogo e antropólogo procurou descrever um local muito diferente da França, seu país de origem. Inspirada pelo artigo que Bastide escreveu defendendo Machado de Assis (intitulado "Machado de Assis, paisagista"), a autora revela como desde o momento de sua chegada, em 1938, Bastide fascinou-se com a quantidade de interesses e objetos de pesquisa que encontrou. No primeiro momento, deu continuidade aos estudos de religião, já iniciados na França, analisando manifestações culturais afro-brasileiras. Mais tarde, já em 1943, estudou a poesia afro-brasileira, quando a psicanálise aparece como um procedimento metodológico significativo em sua obra. Em 1950, vincula-se ao projeto da Unesco e participa da pesquisa em que se analisou a situação racial, particularmente no município de São Paulo. Opondo-se à mística da democracia racial, os estudos de Bastide ajudaram a entender como no Brasil o preconceito não se apresenta de forma explícita, mas antes na ausência de um sistema de reciprocidades nas relações entre brancos e negros. O ensaio, além de elencar os objetos de análise de Bastide, analisa suas perspectivas metodológicas e o ambiente intelectual que marcou a chegada dos professores franceses que vieram integrar o corpo docente da Universidade de São Paulo, em 1934. Apaixonada por seu objeto de análise — Roger Bastide —, Braga faz deste ensaio uma declaração. O único cuidado é evitar que a identificação seja de tal monta que implique a ausência de crítica. Afinal, nenhum analista é desprovido de "qualquer preconceito", assim como sabemos que é impossível perceber "a essência da cultura brasileira", já que ela está sempre em constante movimento e não é singular. O desafio de uma história do pensamento é justamente manter o equilíbrio entre tomar a obra como tal e, ao mesmo tempo, dialogar com o contexto e os limites do ambiente intelectual. Parece-me ser esta a perspectiva desenvolvida por Marcos Chor Maio em seu artigo sobre a relevância do tema das relações raciais na obra de Guerreiro Ramos, autor bastante esquecido pelos estudos mais contemporâneos. O artigo desvenda as diferentes trajetórias da carreira e do pensamento de Guerreiro Ramos. Em questão estão a influência de uma sociologia americana (sobretudo a partir das análises de Donald Pierson), quando Guerreiro trabalha com conceitos como "assimilação" e "aculturação", ou mesmo seu engajamento político no Teatro Experimental do Negro (TEN). Data da virada de 40 para 50 o momento da entrada de Alberto Guerreiro Ramos no movimento negro, ao lado de Abdias Nascimento, quando assume a direção do Instituto Nacional do Negro e ajuda a organizar o Primeiro Congresso Negro Brasileiro, realizado em agosto de 1950. Nos anos 50, Ramos trabalha na Casa Civil do governo Getúlio Vargas e usa sua sociologia como instrumento de "construção nacional". Alterando suas perspectivas anteriores, Guerreiro mantém-se, porém, ligado à idéia de construção de uma cultura "autenticamente nacional", surgindo, segundo Maio, uma certa tensão no pensamento do autor. Ao passar da teoria à intervenção, Guerreiro lidou com os impasses de valorizar positivamente a identidade negra (em um país tão marcado pelo discurso da inferioridade) e, ao mesmo tempo, revelar o caminho para os negros rumo ao mundo da cidadania. Em função de sua posição na militância do movimento negro e de sua participação na burocracia do Estado, Guerreiro aparece nessa coletânea de ensaios como um autor que releu a sociedade brasileira a partir da tradição do "iberismo" (que privilegiou um ideal mais integracionista da sociedade brasileira), sem deixar de denunciar o "quietismo" que conceitos como "aculturação" e "assimilação" podem promover no ocultamento de temas fundamentais da sociedade brasileira. A terceira parte de Raça, ciência e sociedade termina com o artigo de Maria Arminda do Nascimento Arruda sobre a importância da questão racial na sociologia de Florestan Fernandes. Segundo Arruda, é na década de 50, a partir do projeto da Unesco, que o assunto ganha corpo na obra desse JULHO DE 1997 193 LIVROS autor, que durante anos estudou os impasses oriundos da escravidão na gênese e desenvolvimento da sociedade brasileira. Uma das questões centrais na obra de Fernandes foi justamente a indagação sobre as contradições que essa formação específica traria para a entrada do país na "modernidade" e sobretudo na nova ordem social marcada pela competição e pelo individualismo. A autora analisa as obras do autor que se detiveram sobre o tema e acompanha, passo a passo, as conclusões de Fernandes. Em particular fica evidente, a partir do ensaio, como o sociólogo realiza a desmontagem da crença em uma sociedade racialmente aberta, mediante a demonstração da total ausência de igualdade na estrutura social e racial. Atento à especificidade histórica e à profunda influência que a escravidão legou ao país, Fernandes rompe com a mística da democracia racial ao encontrar uma forma particular de discriminação. Como um preconceito retroativo, "um preconceito de ter preconceito", Fernandes mostraria as persistências do padrão de relações étnicas do passado, numa sociedade em que se construíram modelos hierárquicos rígidos e tendentes ao autoritarismo. O conjunto dessa terceira parte ilumina constantes no pensamento intelectual brasileiro, sobretudo quando se tratou de analisar as relações raciais no Brasil. Os conceitos alteraram-se — dos modelos da aculturação à crítica da democracia racial —, assim como os contextos políticos e intelectuais, que abriram novos impasses. No entanto, é instigante pensar como, apesar de oscilarem em suas ênfases, certas problemáticas permanecem prementes. Entre o destaque ao universal e às particularidades seja do iberismo, seja do processo acelerado de assimilação no país, são nítidos temas e enfoques recorrentes. Raça, no Brasil, sempre deu muito o que falar e é isso o que mostra a quarta parte de Raça, ciência e sociedade, ao lidar com perspectivas mais contemporâneas desse debate. Lívio Sansone enfrenta de maneira original os impasses que vêm se apresentando diante do fenômeno da globalização. Tendo à frente a noção de "habitus racial", Sansone mostra como no Brasil uma leitura particular das relações sociais faz com que, até hoje, o mito da democracia racial seja mais do que um mero disfarce maquiavélico, criado tãosomente para mascarar a realidade do racismo. Com efeito, nesse capítulo o autor procura enfrentar as 194 NOVOS ESTUDOS N.° 48 especificidades desse mito fundador das relações sociorraciais no Brasil. A mestiçagem surge, dessa maneira, não só como um fenômeno biológico, mas como um estilo de vida, uma forma particular de pensar que enreda um outro mito nacional — igualmente fundante — conhecido como o modelo da "cordialidade". Retornando ao clássico de Freyre — Casa-grande & senzala—, Sansone mostra como a atenção aos aspectos internacionais e ao processo de globalização não pode significar o fim da curiosidade sobre as especificidades das relações raciais no Brasil e seu processo particular de discriminação. No Brasil, conclui o autor, uma constante negociação em torno da cor mostra quão complexo é esse sistema classificatório que ainda opera com um modelo não-polar e é caracterizado pelo alto grau de miscigenação, uma tradição sincrética no campo da religião e da cultura popular, e por um continuum de cor que faz com que a "aparência" condicione posicionamentos e locais sociais. Joel Rufino retoma a questão da complexa classificação racial brasileira e a problematiza no âmbito dos movimentos negros. Coloca em questão a opção racialista feita pelas lideranças que se volta, novamente, para uma definição fenotípica. O artigo é muito breve, mas parece indicar que a saída não estaria no uso da bengala da biologia, e sim na somatória de uma série de atributos que fazem do negro, na opinião do autor, "uma configuração social". "O fenótipo (crioulo), a condição social (pobre), o patrimônio cultural (popular), a origem histórica (ascendência africana) e a identidade" dariam a essa definição um lugar político e contextual. O artigo de Rufino representa a oportuna e crítica fala das lideranças que de dentro do movimento percebem o beco sem saída que a resposta racialista teria imposto, reagindo a ela. Trata-se, dessa maneira, de mostrar não só a lógica dessas classificações, mas o caráter social dessas construções. Yvonne Maggie se debruça sobre a questão mostrando como a classificação não é uma essência, da mesma maneira que problematiza "o gradiente de cores" criado pela sociedade brasileira. A atualidade do seu artigo está justamente na delimitação da categoria "moreno" como um novo dado bom para pensar como, no Brasil, define-se cor não por oposição, mas por complementaridades. "Moreno" surge, na interpretação de Maggie, como uma chave para "falar em cor e raça sem falar de cor e raça". LIVROS O termo conteria cor e ausência de cor, a cultura e o lugar social. Na verdade, se "moreno" fala pouco da cor, diz mais da situação social daqueles que acabam de ascender. Como um escape para três domínios diferentes, o termo aglutina o branco, o preto e a cultura. Nada como uma definição no lugar certo. Se são muitas as características que unem países marcados por um processo acelerado de miscigenação em sua formação social, é sempre bom testar respostas próprias e que só funcionam em determinados lugares. Em um país onde cor está misturada a prestígio e posição social, o "moreno" surgiria como uma espécie de "intermediário cultural", bom para pensar a própria indistinção no terreno da classificação racial. O último artigo da coletânea faz, de certa maneira, coro aos demais. Carlos Hasenbalg, ao mesmo tempo que encontra pontos de contato entre as culturas latino-americanas (no ideal de branqueamento e na auto-imagem de tolerância racial), destaca algumas especificidades dignas de registro. A primeira delas refere-se ao caráter persistente e elaborado da democracia racial brasileira e à ênfase na miscigenação. A partir dessa constatação o autor não só analisa a existência de uma frequência maior de casamentos multirraciais no Brasil, como apresenta dados reveladores sobre as disparidades econômicas e sociais entre brancos, negros e mestiços. Mas o maior avanço do artigo não está em, mais uma vez, repisar o racismo internalizado existente no país, e sim em refletir sobre a existência de um mito racial que faz com que as pessoas não se iludam com relação ao racismo existente no Brasil (e até mesmo falem dele), mas o acomodem como uma espécie de "etiqueta local": uma regra implícita de convívio social. A consequência parece ser um tipo de movimento em que se rejeita o confronto racial em nome de uma harmonia social. A última série de artigos lida, portanto, com os impasses recentes de um processo acelerado de globalização, mas aponta para as leituras locais e a importância de tomar o tema a partir de seus próprios termos. Entre o particular e o universal, nada como preservar um equilíbrio, mesmo porque no terreno da cultura as respostas são sempre um diálogo entre os desafios externos e as releituras locais que fazem dialogar conjuntura e estrutura. Mas antes que esta resenha se transforme em um resumo preguiçoso, termino com o relato dos diferentes artigos. Digo e repito: a tarefa é difícil. É claro que se poderia indagar acerca da ausência de alguns teóricos ou sobre certos recortes cronológicos implícitos, que aparecem em detrimento de outros. Nesse sentido, talvez, as condicionantes da escravidão poderiam estar mais marcadas, assim como os primeiros modelos raciais de análise de meados do século XIX. Por outro lado, seria oportuno arriscar mais na tão propalada interdisciplinaridade. Outros artigos na área de biologia seriam úteis para que nós, cientistas humanos, enfrentássemos os impasses do conceito "raça", assim como estudos de demografia, que contribuiriam para aclarar especificidades nos padrões e comportamentos raciais brasileiros, para não falar das interpretações históricas. No entanto, diante da excelência da iniciativa é melhor debater com o que se tem do que só cobrar o que não se fez. Fiquemos com alguns temas comuns. Em primeiro lugar, um grande mérito da coletânea é revelar como é complexa a definição racial no país. A partir da leitura do conjunto dos ensaios percebe-se a fragilidade da definição fenotípica, mas ao mesmo tempo se verifica que ainda não há outra para ser colocada em seu lugar. No Brasil, cor combina com prestígio, com lugar social, e varia de lugar para lugar. O contexto, ou o local de onde se fala, a pessoa que pergunta e aquela que responde, enfim, uma série de elementos faz da cor um atributo de negociação — fácil de ser afirmado, difícil de ser aferido. Presente nas expressões do dia-a-dia e nas falas oficiais, nos locais de lazer e na propaganda da indústria de turismo, na discriminação violenta mas escondida do sistema judiciário e do mundo do trabalho, afinal, raça é mesmo um tema local. No entanto, paradoxalmente à sua exposição, uma forma particular, porque silenciosa, de discriminação se impõe, tal qual uma etiqueta local, como sugere Hasenbalg, ou como um habitus social, na interpretação de Sansone. O compromisso da agenda social, nesses termos, talvez seja menos o de desconstruir, outra vez, as falácias do mito da democracia racial (que é de fato um mito) do que o de refletir sobre sua eficácia e permanência, para além de seu descrédito teórico. "Levar a sério" o mito talvez implique evitar a noção de ideologia — de falsa ideologia — que se tem colado ao termo e perceber que sua recorrência não se deve ao acaso, mas ao "excesso de significaJULHO DE 1997 195 LIVROS ção". Como mostram alguns autores desta coletânea, mesmo desvendadas as falácias do discurso ele permanece oportuno. Apesar de destruídas as possíveis similitudes do iberismo e do traço lusotropical exaltado por Freyre, uma mestiçagem singular permanece distintiva, destacada como motivo de identidade. Talvez, no Brasil, para parafrasermos a castigada expressão de Marshal Sahlins, em Ilhas de história, o mito tenha virado história e a realidade não passe de uma metáfora. A oportunidade do mito vai além de sua realidade, o que faz com que, mesmo aceitando-se o preconceito, no Brasil a idéia de harmonia racial se imponha aos dados e à própria consciência da discriminação. É possível dizer que algumas coisas mudaram nos últimos tempos: não é mais tão fácil acionar o preconceito retroativo — tão bem descrito por Florestan Fernandes — e ter "preconceito de ter preconceito". Frente a tantos dados novos, que não se limitam às pesquisas acadêmicas e chegam à mídia, é difícil sustentar a igualdade de oportunidades e a inexistência de discriminação no trabalho, no lazer, na educação. Talvez hoje em dia seja mais correto e imediato criticar o "mito da democracia racial" do que enfrentar a sua persistência. O fato é que mudamos de patamar e não mudamos. Relendo pesquisas e matérias de jornal, o lugar-comum parece ser "delatar" o racismo (que de fato existe e deve ser delatado). No entanto, o ato parece se extinguir em si só. Com efeito, reconhecer o racismo não leva à sua caracterização nem, sobretudo, à análise de sua especificidade. Se a mestiçagem não é um "atributo" que nos é exclusivo e original, como diz Hasenbalg, é no Brasil que o mito da convivência racial harmoniosa ganhou uma sofisticação e uma penetração ímpares. É também no Brasil que a cor é sempre a somatória de muitos elementos: fenótipo (sim), prestígio social e econômico, cultura e local. Com efeito, como podemos concluir a partir de alguns artigos de Raça, ciência e sociedade, raça e cor no Brasil variam conforme o dia (pode-se estar mais ou menos bronzeado), lugar (na intimidade do lar ou em locais públicos) e posição de quem pergunta. Dessa maneira, o próprio discurso da globalização torna-se frágil quando está em questão entender as relações raciais em um país em que a convivência entre raças foi biológica e culturalmente extremada. Com efeito, o discurso da legalidade, 196 NOVOS ESTUDOS N.° 48 a tomada de consciência da discriminação, pode não ser sinônimo de alteração de comportamentos. Joga-se para o corpo da lei o mal-estar, e concepções arraigadas permanecem intocadas. Interessante nesse sentido é analisar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que tornou o racismo, no Brasil, crime inafiançável. Absolutamente didática, a lei é composta de vinte artigos que chegam a detalhes extremos no que se refere às formas de discriminação, como o direito de prender a quem impedir o acesso "a uso de transportes públicos como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô". No entanto, tanta minúcia é estranha numa lei que pouco se realiza. É essa mesma lei, que afirma ser o racismo crime inafiançável, que revela, logo em sua enunciação, como no Brasil, diante da falta de consenso com relação ao termo "raça", apela-se logo para seu parceiro "cor": "Art. 1º — Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes preconceituosos de raça ou de cor". Além disso, os artigos da lei começam com três verbos no infinitivo — "impedir", "recusar" e "negar" —, revelando que no Brasil o combate ao racismo se faz no sentido de "impedir" alguém de fazer algo, sem que se discuta a causa da discriminação. Mas se a lei é pouco precisa e efetiva em sua forma de aplicação (afinal, para que alguém seja preso é preciso que a polícia, juntamente com as testemunhas, tenham presenciado o ato), revela o estado da discussão. Só se pune o que tem probabilidade de ocorrer, o que mostra, ao menos, o reconhecimento primeiro da discriminação. Bem-intencionada, a legislação não dá conta, como dificilmente poderia dar, do lado internalizado do preconceito no Brasil. Como esse exemplo, outros surgem para mostrar como entre as saídas mais globais e as respostas locais seria bom ficarmos com as duas. Cair no jogo exclusivo da especificidade pode significar essencializar os termos e tentar encontrar uma espécie de modelo cristalizado nacional. Vincular tudo, no entanto, às fórmulas que vêm de fora significa esquecer que as culturas não apenas traduzem e copiam, como ressignificam. Raça, ciência e sociedade é, portanto, um ótimo começo. É possível entender "o estado da questão", acompanhar parte da história do pensamento nacional e ver como o tema da raça faz parte desse trajeto, refletir sobre os impasses que os novos tempos nos colocam. A coletânea também LIVROS provoca. Diante da novidade da afirmação do preconceito não é suficiente apenas delatá-lo. Quem sabe essas e outras novas pesquisas possam enfrentar, com novidade, essas formas de discriminação tão particulares que não se resumem à mera coleta dos termos locais. Na frase de Caetano Veloso, "quase brancos, quase pretos" (lembrada por Mag- gie), vemos os impasses desse "colorido local" que, talvez, não se resuma mais à tão cantada e mundialmente famosa "aquarela do Brasil". Lilia Moritz Schwarcz é professora do Dept° de Antropologia da FFLCH da USP. JULHO DE 1997 197
Download