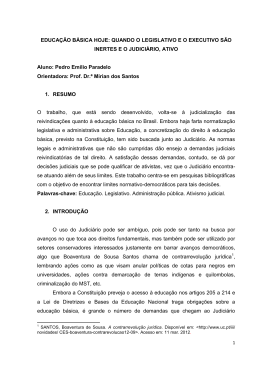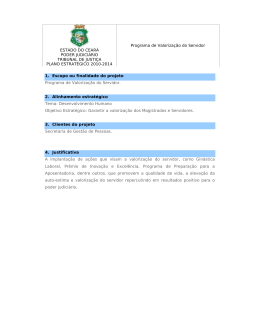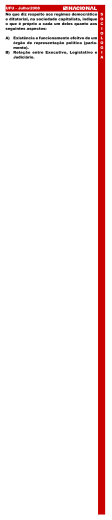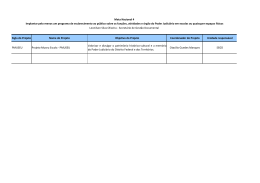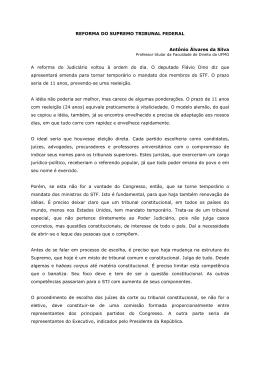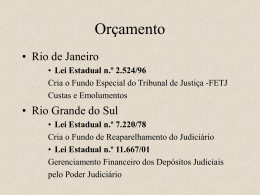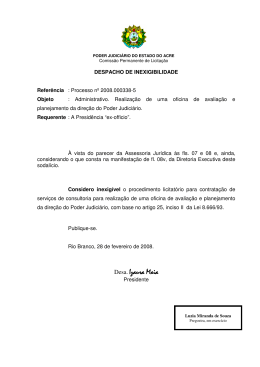O Supremo Tribunal Federal entre a judicialização e o ativismo Rachel Nigro1 Com a redemocratização do Brasil, cujo ponto culminante foi a promulgação da Constituição de 1988, ocorreu a transferência de poderes, na forma de competências, para juízes e tribunais. Desse modo, inúmeras matérias que antes eram deixadas para o processo político majoritário, ou seja, para a discussão política do parlamento através dos representantes eleitos pelo povo, passaram a ser judicializadas. De modo direto, podemos dizer que "constitucionalizar" significa transformar política em direito. Assim, uma questão que seja disciplinada em uma norma constitucional, transforma-se em pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de uma ação judicial. Freqüentemente é o próprio legislador que, deliberadamente ou não, deixa espaços para escolhas a serem realizadas em sede jurisdicional. Nesse novo cenário, quase qualquer questão política ou moralmente relevante pode chegar ao STF. A "judicialização da política", como tem sido chamado esse movimento, propugna pela aplicação direta da Constituição a situações expressamente contempladas em seu texto, independentemente de manifestação do legislador. O judiciário exerce tal poder através da declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios de ostensiva violação à Constituição. Com este deslocamento de poder próprio do constitucionalismo contemporâneo, o poder judiciário ganha força, sobretudo por ser responsável por fazer valer a Constituição e as leis, inclusive em confronto com os outros "poderes" e outros interesses. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal torna-se mais presente na vida das pessoas. Cada julgamento realizado pelo plenário do Supremo pode ser acompanhado pela “TV Justiça” ou pela internet, o que permite que um maior número de brasileiros acostume-se ao fato de que questões cruciais de natureza política, moral ou mesmo econômicas, são decididas por um tribunal, composto por onze pessoas, para as quais jamais votaram e que utilizam uma linguagem de difícil compreensão, sobretudo para quem não é versado em direito. 1 Doutor em Filosofia, Professora do Departamento de Direito da Puc‐Rio Dessa forma, uma vez que os juízes ganham maior poder com o processo de constitucionalização, uma questão vem à tona: em que medida esse novo papel do Judiciário promove ou afronta a democracia? Qual é o risco de se fundar um aristocrático governo de juízes? O termo "ativismo judicial" tem sido utilizada para expressar esse temor de uma "supremocracia", ou seja, de uma supremacia absoluta do órgão máximo do poder judiciário. Ao contrário da judicialização, o ativismo foge das amarras legais e propugna pela imposição de condutas ou de abstenções ao poder público, notadamente em matéria de políticas públicas; pela aplicação direta da Constituição a situações que não foram expressamente contempladas em seu texto; e pela declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos de violação da Constituição. Nesse sentido, o ativismo visa uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização de valores constitucionais, enquanto a judicialização decorre da própria legislação que impõe esses deveres ao judiciário. Por um lado, a atuação do Superior Tribunal Federal em casos emblemáticos promove uma maior visibilidade pública e contribui para a transparência, para o controle social e, em última análise, para a democracia. A ampliação do papel do direito e do judiciário pode ser vista como uma decorrência da retração do sistema representativo e de sua incapacidade de cumprir as promessas de justiça e igualdade, inerentes ao ideal democrático e incorporadas nas constituições contemporâneas. Por outro lado, essa ampliação do poder do STF desnuda as mazelas de nosso sistema político, atordoa a sociedade pelo efeito midiático e, em alguns casos, acaba por coagir a própria atividade estatal, colocando em xeque sua legitimidade. Assim, recorre-se ao judiciário como guardião último dos ideais democráticos gerando uma situação paradoxal: ao buscar suprir as lacunas deixadas pelo sistema representativo, o judiciário apenas contribui para a ampliação da própria crise de autoridade da democracia. Uma decisão recente que chamou a atenção da sociedade foi o reconhecimento, no dia 05 de março de 2011, da união homoafetiva como entidade familiar, como já comentado aqui no ERA. Este caso apresenta certas peculiaridades que nos permitem refletir sobre a distinção entre judicialização e ativismo e, nesse sentido, sobre a atuação da suprema corte brasileira. Tal questão chegou às portas do Supremo através de duas ações distintas que reuniram-se no mesmo julgamento: 1) uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin 4277) foi ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR) com pedido de interpretação conforme à Constituição Federal do artigo 1.723 do Código Civil; 2) uma ação de descumprimento de preceito fundamental (Adpf 132) foi ajuizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, alegando que, dada a omissão do legislativo federal sobre o assunto, o não reconhecimento da união homoafetiva estaria contrariando preceitos fundamentais como igualdade, liberdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, todos da Constituição Federal. O artigo constitucional que estava em disputa era o artigo 226, parágrafo 3º, que estabelece: "Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. Uma interpretação literal deste dispositivo parece não deixar nenhuma dúvida quanto ao fato de que o legislador constituinte originário restringiu a união estável equiparada ao casamento para o homem e a mulher. O artigo 1.723 do Código Civil de 2003 é quase uma cópia do parágrafo 3º do artigo 226 da CF. Mas como ressaltou o Ministro Ayres Brito, há uma diferença fundamental entre ambos porque a Constituição federal de 1988 nos fornece elementos para eliminar uma interpretação reducionista. Nesse sentido, tanto a Adin quanto a Adpf solicitam a interpretação do artigo 1.723 do Código Civil conforme a Constituição federal, no sentido de excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Ambos os pedidos sustentam que o não reconhecimento fere os princípios da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso III; da igualdade (artigo 5º, caput) da vedação de discriminação odiosa (artigo 3º, inciso V); da liberdade (artigo 5º, caput) e da proteção à segurança jurídica (artigo 5º, caput), todos da Constituição de 1988. Além da questão interpretativa, o principal argumento que precisava ser rebatido para reconhecer a união estável homoafetiva era exatamente o argumento do ativismo judicial, isto é, a acusação de que o STF estaria transbordando o seu limite de atuação e invandindo a competência do legislativo. Segundo o representante da CNBB, a Constituição estabelece limitação expressa, ao prever a união estável entre homem e mulher, e não entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, não se trataria de uma lacuna constitucional, não cabendo portanto ao judiciário, mas sim ao legislativo, alterar o correspondente dispositivo constitucional. Existem projetos de lei sobre o assunto "engavetados" no Congresso Nacional desde 1995, quando a então deputada Marta Suplicy, apresentou o projeto de Lei 1.151. Entre 1995, quando o Legislativo teve a sensibilidade para reconhecer a lacuna da lei, e 2011, quando o assunto chega ao Supremo, diversas ações judiciais já haviam sido propostas demandando o reconhecimento desse tipo de união. Conforme sustentou o Ministro Gilmar Mendes, havia um “limbo jurídico” sobre o assunto, resultado do silêncio do Congresso Nacional diante da matéria. Nesse sentido, reconhece que a competência originária para regular a matéria pertence ao poder legislativo. Porém, dada a inércia desse poder, considera dever da corte constitucional garantir a proteção da união homoafetiva, em respeito aos direitos fundamentais e aos direitos das minorias. Destacou a importância da atuação do Supremo em quadros semelhantes, quando de fato a omissão da corte representaria um “agravamento no quadro de desproteção de minorias ou pessoas que tenham seus direitos lesionados”. Entretanto, ressaltou que seu voto se limita a reconhecer a existência legal da união homoafetiva por aplicação analógica do texto constitucional, sem se pronunciar sobre outros desdobramentos. Segundo o Ministro: “Pretender regular isso é exacerbar demais nossa vocação de legisladores positivos". Usando este caso como paradigma, podemos perceber que a "invasão" de competência do Supremo parece justificar-se quando o que está em jogo é a ofensa a direitos fundamentais. Entretanto, tal critério ainda deixa enorme margem de incerteza, tendo em vista a disputa em torno do sentido e alcance dos chamados direitos fundamentais. Nesse sentido, parece que a difícil delimitação entre judicialização e ativismo nos deixa apenas uma certeza: o judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve atuar.
Baixar