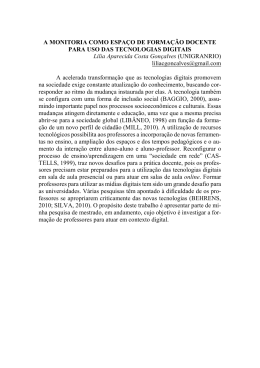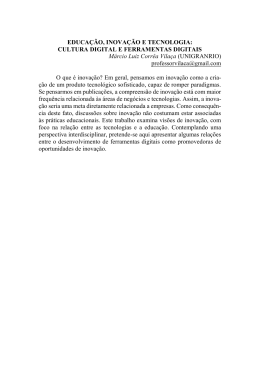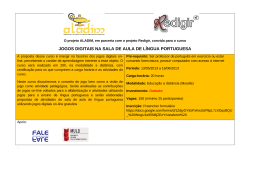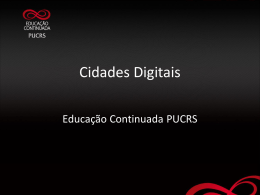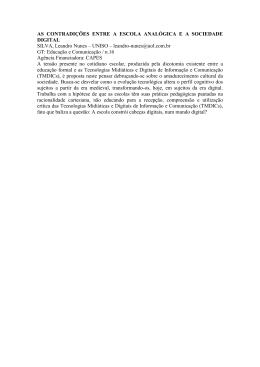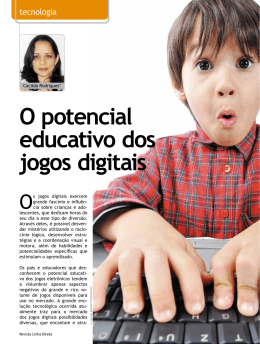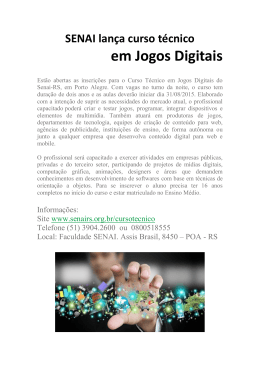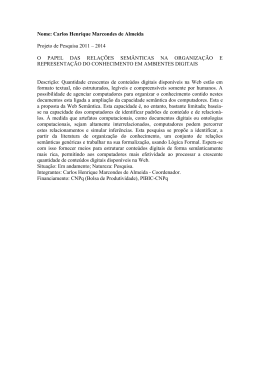UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI PRÓ - REITORIA DE ENSINO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CURSO DE PSICOLOGIA BIGUAÇU SUZANNE DE SOUZA MARTINS A TECNOLOGIA E O DESENVOLVIMENTO HUMANO: crianças e adolescentes entre a fantasia e a realidade no mundo dos jogos digitais BIGUAÇU 2011 1 SUZANNE DE SOUZA MARTINS A TECNOLOGIA E O DESENVOLVIMENTO HUMANO: crianças e adolescentes entre a fantasia e a realidade no mundo dos jogos digitais Monografia apresentada como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Psicologia na Universidade do Vale de Itajaí, curso de Psicologia. Orientado pela professora Ilma Borges. BIGUAÇU 2011 2 IDENTIFICAÇÃO ÁREA DE PESQUISA: Psicologia Educacional e Psicologia do Desenvolvimento Infantil TEMA: Trata-se de uma análise das possíveis influências de cunho psicológico decorrentes da cultura dos jogos digitais afetam a constituição da subjetividade infantil/adolescente. TÍTULO DE PROJETO: A TECNOLOGIA E O DESENVOLVIMENTO HUMANO: crianças e adolescentes entre a fantasia e a realidade no mundo dos jogos digitais ACADÊMICA Nome: Suzanne de Souza Martins. Código de Matrícula: 07.1.3544. Centro: Biguaçu. Curso: Psicologia. Semestre: 2011/1. ORIENTADORA Nome: Ilma Borges. Categoria Profissional: Professora. Titulação: Mestrado em Engenharia de Produção – Área de Concentração Inteligência Artificial. Curso: Psicologia. Centro: Biguaçu. 3 À minha família, que está comigo em todos os sentidos. Aos meus amigos, que também são a minha família. 4 Agradeço a Deus, que me possibilita viver cada dia de uma vez. À minha família, que me proporcionou a oportunidade de viver momentos inesquecíveis, ao longo da minha carreira acadêmica. Aos meus amigos e nossas infindáveis conversas! São vocês que tornam meus momentos mais do que especiais e carrego comigo um pouco de vocês sempre! Aos meus professores, que foram e serão sempre meus mestres. À Andrea, que esteve sempre a postos, fazendo de todo possível para ajudar. O que seria de nós sem você!? A Ilma, minha orientadora! Agradeço a todos os puxões de orelha e palavras de incentivo! Foram eles que possibilitaram a construção desse material. Aos meus futuros colegas. Espero ter contribuído de alguma forma com a realização desse trabalho! Enfim, aos que estiveram presentes sempre, me apoiando e mostrando que tudo é possível aquele que persiste. Vocês são a inspiração da minha caminhada! 5 “O virtual possui uma plena realidade, enquanto virtual.” Gilles Deleuze, Différence e répétition. 6 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO..................................................................................................8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 REFERENCIAL TEÓRICO...........................................................................12 A TECNOLOGIA E A CONTEMPORANEIDADE.........................................12 DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL................................................17 A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE....................................................20 OS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL......................23 A cultura dos jogos digitais..................................................................................25 3. METODOLOGIA.............................................................................................27 3.1 3.2 3.3 3.4 TIPO DE PESQUISA.........................................................................................27 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS.........28 ANÁLISE DE DADOS......................................................................................28 ÉTICA EM PESQUISA......................................................................................29 4. CORRELAÇÃO TEÓRICA............................................................................30 4.1 MOTIVOS PARA A UTLIZAÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS................................30 4.2 DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM.......................................................33 4.3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS E JOGOS DIGITAIS...........................................38 4.4 JOGO SIMBÓLICO..................................................................................................42 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................47 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 7 1. INTRODUÇÃO Atualmente, presenciamos e vivemos em uma rápida e constante evolução na área tecnológica. O contato com esta tecnologia é extremamente fácil, de modo que a população vive em um tempo informatizado. Esse contato é posto desde a mais tenra idade, estando presente na construção da subjetividade. A cultura do uso dos jogos digitais são exemplos disso. Eles têm sido notícia constante na mídia, nos mostrando o que eles têm causado na vida dos indivíduos. É comum assistirmos notícias referentes a crianças e adolescentes que tem representado na vida real, atitudes aceitas no mundo virtual, de modo que assim não há, por vezes, a separação entre a realidade e virtualidade. Jovens têm assassinado ou cometido algum delito por não possuírem essa capacidade de distinção. Assim, como relevância social, sabemos da importância do estudo desse tema, visto que o contato durante a construção subjetiva com os jogos digitais poderá refletir no comportamento relacional dos jogadores, nos possibilitando assim um estudo mais aprofundado do impacto causado pela exposição aos conteúdos existentes nos jogos digitais. Muitas vezes os jogos se tornam uma válvula de escape da realidade, pois o indivíduo se insere de maneira intensa em um universo paralelo, onde todas as atitudes e comportamentos são autorizados e não censurados (RAMOS, 2006, p. 4), de forma que algumas dessas atitudes são praticadas na realidade, sem que haja limites, nos fazendo questionar até que ponto esses jogos comprometem ou não, o comportamento do indivíduo utilizador dos jogos digitais. Por vezes, a exposição excessiva e contínua aos conteúdos apresentados por esses jogos dessensibilizam os jogadores, de modo que ao se depararem com atitudes dos jogos na realidade, isso lhes é algo familiar e aceito, pois já se tornou parte frequente de seu cotidiano (Strasburger, 1999 apud ALVES, 2004). Assim, a Psicologia, que entre outros objetivos, visa investigar a subjetividade, busca indagar sobre as questões aqui apresentadas, de modo que possa contribuir para os estudos já realizados referentes a essa temática. O principal propósito da pesquisa foi, conforme acima mencionado, inquirir sobre as consequências dos jogos digitais na constituição da subjetividade infantil/adolescente. Assim, esta também contribuiu pessoalmente no que tange a atuação profissional da acadêmica, pois lhe possibilitou um conhecimento avançado dentro da temática e, consequentemente, uma compreensão qualificada de um assunto 8 que está vinculado ao complexo e desafiante desenvolvimento intelectual, psíquico e emocional da criança/adolescente. A fim de problematizar o tema, convém aqui mencionar que vivemos em uma era tecnológica, onde a virtualidade impera, sendo que esta se renova e inova a cada instante. Devido à rapidez desse processo, percebemos que os recursos para leitura, escrita, acesso aos bancos e serviços em gerais, assim como contatos sociais presentes na atualidade são cada vez mais de cunho tecnológicos, de modo que sua evolução é célere, nos desatualizando quando não acompanhamos as modernizações ocorridas nesse processo veloz. Os jogos digitais fazem parte dessa modernidade. Cada vez mais eles estão desenvolvidos, sendo possível até mesmo que o indivíduo interaja com um mundo virtual, de modo que há uma necessidade constante de atualização no que se refere aos jogos disponíveis no mercado. Estes, de acordo com Ramos (2006), se tornaram presentes na vida cotidiana, sendo participantes na construção subjetiva do indivíduo, influenciando em maior ou menor grau sua construção intelectual, emocional e social. Sua presença constante, logo no início da vida da criança, substituindo os jogos tradicionais e exercendo grande fascínio nas crianças. Nesse mundo globalizado, onde as tecnologias da informação são constantes, supomos uma grande mudança no sentimento humano. Nesse sentido, rodeado por uma tecnologia que está em constantes mudanças, o homem pode sentir-se sozinho e disperso, pois, de acordo com Castells (1999), a estrutura das relações criadas hoje está em um relacionamento baseado em grande parte na virtualidade da comunicação. A facilidade que hoje se tem para manter uma conversa, sendo que esta já não é mais, necessariamente, com os interlocutores estando no mesmo local, tem provocado possíveis alterações nos sentimentos humanos, criando um ser humano em parte isolado, sendo que ele já não depende mais do contato físico. Não obstante, Lévy (1999) enfatiza a necessidade de entendimento quanto a condição do indivíduo a partir das relações que este estabelece com a sociedade presente, já que o mesmo não é mero produto do seu meio, mas parte dele, onde as informações adquiridas por meio desse ambiente fazem parte do modo como o ser humano atribui sentido ao mundo e à vida. No tocante ao desenvolvimento psíquico infantil, sabemos que, com a evolução constante, cada nova geração está inserida em uma realidade diferente daquela anterior. Assim, existem mecanismos distintos aos quais esses indivíduos são expostos durante 9 seu desenvolvimento. A grande gama de informação recebida pela criança/adolescente está relacionada ao momento que se vive no atual contexto tecnológico. Assim crianças/adolescentes estão, até certo ponto, inseridos nesse processo. Isso significa que os conteúdos (fluxo de informação) aos quais esses indivíduos são expostos permeiam e participam da construção da subjetividade infantil/adolescente. Assim, na realidade presente, permeada pelos jogos digitais, sabemos que, não via de regra, os conteúdos presentes nesses jogos poderão influenciar o desenvolvimento infantil/adolescente, fazendo parte da construção subjetiva desse indivíduo exposto a esses conteúdos. (VIGOTSKY; LURIA; LEONTIEV; 1988). Sabemos que desde o nascimento a existência do ser humano está na dependência de seu contexto social e cultural. Seu desenvolvimento, então, se dará num meio social e cultural, onde sua construção se dará a partir das relações que ele constituirá com os indivíduos já existentes, onde estes mediarão seu contato com a realidade. Assim, Pino (2005) afirma que numa época em que a tecnologia está inserida no cotidiano de boa parte da população, sabemos que consequentemente essa tecnologia fará parte do desenvolvimento infantil, visto que ainda imaturo quanto à realidade, sua percepção frente às informações não são críticas, de modo a absorverem, em boa parte dos casos, conteúdos indiscriminadamente. Essa relação que o indivíduo em fase de desenvolvimento estabelece com o outro proporcionará assim, de acordo com o autor citado acima, a constituição das funções superiores, pois esta relação foi externa antes de se tornar interna à cada indivíduo. O outro torna-se um intercessor do indivíduo com a realidade, sendo que este dá ao indivíduo o acesso a um mundo de significações dos objetos culturais, constituindo cada indivíduo, particularmente, devido aos conteúdos em que estes estão sendo expostos. Para Angel Pino (2005), o ser humano, ao nascer, é desprovido de cultura, sendo então necessária sua inserção nesse meio para que assim ele possa obter acesso à condição humana. Assim, entendemos que a inserção do ser humano desprovido da cultura num meio onde as relações e os aspectos culturais já estão estabelecidos proporciona ao indivíduo o contato com as significações humanas, propiciando então a este, a constituição como um ser cultural. Assim, tendo em vista o conteúdo anteriormente exposto, a pesquisa que aqui foi proposta teve como objetivo geral analisar quais as possíveis influências de cunho 10 psicológico decorrentes da cultura dos jogos digitais afetam a constituição da subjetividade infantil/adolescente. Sendo que para que esse objetivo fosse alcançado, delineou-se objetivos específicos, que foram identificar quais são os jogos digitais mais utilizados e seus fatores motivacionais por crianças/adolescentes, caracterizar as relações interpessoais em crianças e adolescentes que utilizam com frequência jogos digitais como parte de seu tempo recreativo, descrever a compreensão de crianças e adolescentes sobre fantasia e realidade existentes no conteúdo dos jogos digitais, compreender a influência dos conteúdos dos jogos digitais na construção afetivoemocional de crianças e adolescentes. Para tanto, esta pesquisa teve como metodologia norteadora a análise de materiais bibliográficos e também observações da autora a partir do convívio com sujeitos que estavam dentro das categorias de análise, crianças/adolescentes que têm contato com jogos digitais. 11 2. REFERENCIAL TEÓRICO 2.1 A TECNOLOGIA E A CONTEMPORANEIDADE “No futuro, os computadores podem pesar não mais que 1.5 toneladas”. Popular Mechanics, 1949. A pesquisa aqui apresentada tem como norteador a linha da Psicologia Histórico-cultural, sendo que ainda se fará uso de autores, como complemento, da Psicologia Social. A era virtual que vivemos afeta de diversas maneiras nossas vidas. A comunicação, que não é mais por cartas, é veloz, de maneira que podemos conversar em tempo real com alguém que está há vários quilômetros de distância. As informações já não estão mais só presentes em livros. É possível realizar uma pesquisa apenas usando materiais disponíveis em sites na internet. A economia também é afetada, de modo que alguns processos cotidianos, como por exemplo, os bancários podem ser realizados em casa, tendo assim o beneficio da comodidade. Desse modo, a virtualidade tão presente em nossas vidas também atinge nossas relações pessoais. A facilidade em se mandar uma email, mensagens de texto, recados em sites de relacionamentos, proporcionam, às vezes, mudanças dos costumes na vida das pessoas, pois seu cotidiano corrido torna-se um motivo para que essas migrem para o mundo com tantas facilidades tecnológicas (LÉVY, 1996). Nesse mundo virtual, de acordo com Castells (1999), não existe a necessidade de espera. Com a instantaneidade da comunicação, esta se torna fácil, proporcionando assim, um contato em tempo real. Esse contato perpassa a utilização do telefone, onde esse impunha um sentido de pressão nas pessoas envolvidas na comunicação, sendo elas obrigadas a trazerem outra informação no momento do diálogo, para que assim a comunicação estivesse estabelecida. Hoje, com a virtualização do processo de comunicação, estabelece-se um contato sem pressão, onde as informações podem ter alguns minutos de pausas, conquistando-se assim, uma maior flexibilidade no processo. O ciberespaço torna-se um lugar para se comunicar e compartilhar. Relações são estabelecidas proporcionando a constituição de novas experiências, propiciando 12 assim, uma nova concepção das relações. O modelo de relação, onde as pessoas se encontram para conversar, não é mais, obrigatoriamente, estabelecido. É possível comunicar-se com pessoas de outras localidades, sendo estas até de outros países, possibilitando o acesso rápido a culturas diferentes da que vivemos. É constituída então, conforme Lévy (1996) afirma, uma relação de troca, onde podemos partilhar e conosco é partilhado, conhecimentos diversos, onde as pessoas que estabelecem essa comunicação possuem interesses semelhantes, sendo essa virtualização da relação de profundo enriquecimento. Castells (1999), no entanto, fala da intemporalidade do conhecimento exposto, sendo ele uma constante. A mídia, não apenas a televisiva, expõe as notícias e informações a partir dos impulsos apresentados pelos consumidores. É comum então, assistirmos em diversos canais, matérias semelhantes, de modo que as informações divulgadas seguem o fluxo que a sociedade apresenta. Com isso, a organização das informações perde a sequência, se reportando a aquela estabelecida pelo contexto social. Assim, é capaz de alcançar o futuro e o passado a partir daquilo que é solicitado pela necessidade cultural estabelecida, sendo as informações apresentadas escolhidas a partir do momento presente. As novas tecnologias da informação e comunicação apresentam-se então como meios que possibilitam que o conteúdo transmitido e como este é transmitido sejam adaptados a uma época em que as noções de espaço-tempo estão passando por mudanças, como assegura Bianchetti (2001). Essas tecnologias são capazes de agregar num mesmo momento o som, as imagens, as informações e ainda lidar com o fator distância, de modo que são eficazes nesse momento de um novo dimensionamento espacial. Castells (1999) afirma que a tecnologia apresentada não determina a sociedade, nem a sociedade descreve o percurso que a tecnologia seguirá, quanto ao seu processo de transformação. A tecnologia, segundo ele, é a sociedade e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. Assim, é impossível entender esses dois aspectos de maneira separada, visto que um é parte constituinte do outro. No entanto, a habilidade ou inabilidade com que as sociedades são capazes de dominar a tecnologia traça seu destino. Não que isto determinará a evolução histórica, mas seu manuseio por meio dessas sociedades indica a capacidade de transformação destas, devido ao uso que se dá ao potencial tecnológico. 13 Cabe ressaltar aqui a importância que o Estado tem na relação sociedade e tecnologia. Isso se dá porque o Estado é que expressa e organiza as forças sociais dominantes no momento instituído. Assim, o período e o processo histórico em que se dá o avanço da tecnologia proporcionarão e definirão as características dessa e seus entrelaçamentos com as relações sociais. Sendo então, o modo que a sociedade lidará com a tecnologia em constante avanço, surge e se constitui a partir do que o Estado estabelece. As relações sociais que se institui nesse contexto estarão ligadas à concepção apresentada pelo Estado e pelas características sociais apresentadas. (CASTELLS, 1999). Bianchetti (2001) menciona que com a facilidade de se obter novas tecnologias, sabe-se que as barreiras que existiam entre a informática e as telecomunicações deixam de existir, proporcionando a plena realização de ambas. Assim, cria-se uma tecnologia acessível, onde toda a população pode ter contato. Isso populariza termos e expressões existentes na esfera tecnológica, demonstrando que essa nova configuração das tecnologias está aparecendo também no discurso das pessoas que a utilizam. Esses discursos tornam-se impregnados do contexto apresentados por essas tecnologias, sendo elas participantes do cotidiano das pessoas. Portanto, a tecnologia faz parte do sujeito e do modo com que este se relaciona com as pessoas e a sociedade. É parte constituinte do seu ser. Devido à mudança do modelo onde a mãe ficava em casa e o pai saía para trabalhar, muitas crianças e adolescentes têm sua constituição perpassada pela influência do que lhes é disponível. De acordo com Calvino (2009), não se pode afirmar que apenas o pai e a mãe são os mais constantes nesse processo de desenvolvimento nos dias de hoje. Atualmente, esses indivíduos apreendem mais coisas daquilo que lhes é exposto pela mídia, do que por aquilo que seus pais lhes transferem, pois esses pais vivem numa época em que ambos saem de casa para trabalhar, a fim de sustentar a casa. Assim, os filhos estão diante de diversas informações, não lhes sendo possível uma censura do que vêem e apreendem. Com referência a economia, por outro lado, a presença da tecnologia nas empresas instigou estas a procurarem novas estratégias de inserção no mercado de trabalho. Assim, a necessidade de combinar essas tecnologias aos equipamentos proporcionou uma maior produtividade e uma significativa redução de custos. Porém também repercutiu na vida dos trabalhadores. Bianchetti (2001) afirma que estes têm 14 que lidar com a transformação na forma e no conteúdo do trabalho, criando-se assim, uma necessidade de trabalhadores capazes de assumir todas as fases do processo de produção. A tecnologia então é abrangente de tal forma que modifica a estrutura que se tinha do trabalho, onde as pessoas necessitam de um maior envolvimento e desenvolvimento de suas habilidades para se manterem em um mundo que vive em constante transformação, onde este é exigente e restrito. Esse processo que os trabalhadores têm passado está sendo vivido, por muitas vezes, com dificuldades. Isto porque a necessidade de qualificações, que já é um fato, também está atrelada ao pouco tempo disponível para que isso aconteça. Assim, com a mudança, que é uma constante em nossas vidas, os trabalhadores vivem pressionados, pois a necessidade se faz presente de tal forma que aqueles que não são compatíveis com o desejado pela sociedade, podem ser excluídos do mercado. (BIANCHETTI, 2001). As tecnologias de hoje, são capazes de, como já foi falado, construir novas formas de socialização, de ação social e o mais importante: é proporcionadora de uma nova constituição da subjetividade. Calvino (2009) alega que elas trabalham em rede, isso porque cada uma delas articula tantas outras, de modo que fica difícil delinear com precisão seu limite ou seus possíveis impactos. Elas adentram o cotidiano das pessoas indiscriminadamente, de modo que quando se fala em uma sociedade contemporânea, fala-se em tecnologia. É uma constituinte da outra. Pino (2001) afirma que as informações que são apresentadas pelos recursos midiáticos, muitas vezes, não se tornam conhecimento, pois esta não é processada pelos indivíduos expostos a ela. Cria-se assim um acúmulo de informações diversas, onde o sujeito não discrimina o que vê, lê ou ouve. Isto acontece, conforme o autor citado acima, porque o individuo não interpreta essas informações adquiridas, para que assim haja uma significação da mesma. A informação é absorvida sem haver um processamento da mesma. Há, no entanto, benefícios que estas tecnologias podem proporcionar. Conforme Pino (2001) afirma, elas são capazes de auxiliar no processo de aprendizagem. Isso porque os recursos disponíveis são utilizados de forma a incentivar e motivar os indivíduos. Mas o indivíduo tem um papel importante nesse processo, pois aprender é uma atividade humana, que é entendida de maneiras diferentes por variadas teorias. Assim, deve-se assumir uma postura epistemológica no tocante ao aprender, 15 pois é ela que definirá o modelo que essa educação se apresentará. E além do mais, a aprendizagem será parte do desenvolvimento das crianças/adolescentes, tornando-se importante pensar sobre sua presença no processo de desenvolvimento e constitutivo do sujeito. 16 2.2 DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL “O conhecimento não provém, nem dos objetos, nem da criança, mas sim das interações entre as crianças e os objetos”. Jean Piaget, Educar a Criança. Vigotsky (Vigotsky, s/d apud Palangana,1994) defende o princípio de interação entre as condições sociais e a base biológica do comportamento humano. Ele observou que a partir das estruturas orgânicas elementares formam-se novas e mais complexas funções mentais, que depende das experiências sociais em que as crianças se encontram expostas. O desenvolvimento do pensamento e comportamento infantil passa a ser, aos poucos, orientados por sua interação com pessoas mais experientes. No livro A formação social da mente (1998), Vigotsky afirma que quando não conseguem resolver um problema específico, as crianças recorrem a um adulto descrevendo a este o fato que não foram capazes de colocar em ação. Assim, esse adulto torna-se alvo da sua fala social, onde a criança, ao descobrir que é incapaz de realizar algo, recorre a alguém com mais aptidão para isso. Zanella (2001) relata que nesse momento em que a criança pede auxílio a outrem com mais experiência para a resolução de algo indica “o desenvolvimento prospectivamente, o futuro da criança” (p.97). Nessa condição pela realização de algo não alcançável, a criança combina tentativas diretas para obter o fim desejado utilizando da linguagem emocional. Assim, às vezes a fala expressará os desejos da criança, outras vezes adquire o papel substituto para o ato real de atingir o objetivo. A criança então tentará utilizar da linguagem para resolver o problema, ou apelará ao outro que faça isso por ela, como afirma Zanella (2001). Com a fala já internalizada, a criança adquire outro comportamento. Vigotsky (1998) afirma Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova organização do próprio comportamento. A criação dessas formas caracteristicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e constitui a base do trabalho produtivo: a forma especificamente humana do uso de instrumentos. (pag. 33) Para autor então, a criança, a partir da fala, domina o ambiente que a cerca, sendo que posteriormente ela controlará seu comportamento. Ela passa a usar a fala em 17 prol de um caráter social, onde suas questões com o ambiente são dominadas, não mais utilizando de outro indivíduo. Assim, consequentemente essa criança tem mais domínio sobre si mesma e sobre suas ações. Zanella (2001) afirma referente a isso que quando a criança consegue resolver suas tarefas sozinha, esse “nível é indicativo de ciclos de desenvolvimento já completos, isto é, refere-se as funções psicológicas que a criança já construiu até determinado momento”(p.97). Vigotsky ressalta que quando a fala da criança é internalizada, esta passa a ter um controle maior sobre si mesma, confirmando o que foi citado acima: Ao invés de apelar para o adulto, as crianças passam a apelar a si mesmas, o qual tinha sido usado previamente em relação a outra pessoa, e quando elas organizam sua própria atividade de acordo com uma forma social de comportamento, conseguem, com sucesso, impor a si mesmas uma atitude social. (Vigotsky, 1998, p. 37) Ela adquire assim, por meio desse controle, uma função planejadora, onde a fala adquire uma função que determina e domina a ação. Segundo Vigotsky (s/d apud Palangana, 1994) a criança passa então a ter condições de efetuar operações complexas dentro de um universo temporal, não mais agindo no espaço compreendido por seu campo visual. No que se refere à constituição das funções complexas do pensamento, Vigotsky (s/d apud Palangana, 1994) afirma que essas acontecem devido à interação social. Essa interação tem como fator principal a linguagem, onde esta estabelece a comunicação entre os homens. A criança, para interagir com o mundo, dispõe e utiliza de instrumentos que mediam tal interação, que determinará seu sistema de atividade. A partir dessa linguagem, a criança estabelece relações e associações com os objetos que a cerca. Isso porque os adultos nomeiam esses objetos, de modo a auxiliar na construção de formas de conceber a realidade. Com os objetos que lhes são expostos a criança organiza sua percepção, sendo que posteriormente a mesma poderá discriminar entre o essencial e o irrelevante por si só, possibilitando que mais tarde, ao controlar o ambiente, esta possa também controlar seu próprio comportamento. (VIGOTSKY, s/d apud PALANGANA, 1994). Vigotsky afirma ainda que a linguagem tem um papel importante no desenvolvimento do pensamento da criança. Isso porque “ela sistematiza a experiência direta da criança e serve para orientar seu comportamento, propiciando-lhe condições de 18 ser tanto sujeito como objeto deste comportamento”. (VIGOTSKY,s/d apud PALANGANA, 1994, p. 92). No decorrer de seu desenvolvimento, a criança utiliza da linguagem para perceber os objetos que a cercam. Esta percebe os elementos de forma sequencial, sendo necessário um processamento individual de cada objeto. Vigotsky (s/d apud Palangana, 1994) continua seu pensamento acrescentando então que os elementos, separadamente, são rotulados e conectados a uma estrutura de sentença, sendo a fala essencialmente analítica. Essa percepção faz com que demos significado às coisas que nos rodeiam, sendo que esta função aparece precocemente no desenvolvimento infantil. O mundo passa a ser um lugar cheio de sentido e significados, como afirma Vigotsky (1998). A percepção consiste assim, em percepções categorizadas, ao invés de isoladas. Conforme Vigotsky (s/d apud Palangana, 1994) ainda que apesar do papel extremamente importante da linguagem no processo de formação psíquica do indivíduo, esta deve ser entendida como um meio que se generaliza e transmite conhecimento. No entanto o psiquismo humano não é constituído pelos significados verbais isoladamente. Essa apropriação de conhecimentos se dá em um contexto social e historicamente determinado, sendo sofredor de todas as influências próprias ao estágio de desenvolvimento da vida dos indivíduos na sociedade. Para Vigotsky, assim como os estágios do desenvolvimento sofrem influência do contexto social, estes também são fundamentais para a constituição subjetiva, sendo relevante destacar o modo como o desenvolvimento infantil proporciona e faz parte da constituição da subjetividade. 19 2.3 A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE “Estou pensando em algo muito mais impactante do que bombas. Estou pensando em computadores”. John Von Neuman. A subjetividade, entendida pela maneira de perceber, representar, de reagir afetivamente e agir no mundo, tem-se construído num mundo onde as mídias operam de maneira ávida e assídua, como afirma Novaes (2009). Quando os profissionais que buscam estudar a constituição da subjetividade pesquisam, sabemos que é impossível, nos dias de hoje, falar sobre a constituição subjetiva de um sujeito sem mencionar as possíveis influências que o meio midiático tem na vida destes. Essa presença constante da mídia durante a construção subjetiva do individuo molda e acomodam os interesses da sociedade na vida desses sujeitos, como afirma Calvino (2009). Isso porque os indivíduos passam muito tempo absortos em recursos midiáticos, de modo que seu socializador da subjetividade não é mais apenas a família, mas sim também a mídia. Para Vigotsky (1998, apud Conde, 2009) a subjetividade humana decorre de um contínuo processo de internalizações, que supõe uma série de transformações. Uma das operações que inicialmente representam uma atividade externa e que é reconstruída internamente é a associação dos signos com as suas significações, como as palavras, no processo de aquisição de linguagem, que todos nós já realizamos um dia. (pag. 76) Assim, sabemos que o sujeito dá significado, sentido, as coisas a que é exposto e as internaliza. Esses significados darão um sentido de valor, de maneira que o sujeito, quando internalizá-las, já terá dado uma definição às coisas com as quais convive. Esses sentidos então farão parte da constituição subjetiva do sujeito. O sujeito é entendido por um ser que se constitui a partir de suas relações interpessoais, e por isso, de acordo com Guareschi (2009), o outro é um ser singular, único. No entanto, sua subjetividade são suas muitas relações que estabeleceu, sendo que cada indivíduo faz um recorte das diversas experiências, da sua forma, transformando assim, esses recortes, em constituintes da sua subjetividade. Vigotsky (1996, apud Molon, 2000) afirmou que os fenômenos subjetivos não se constituem por si mesmos, nem afastados da dimensão espaço-temporal e de suas 20 causas. Isso significa que a subjetividade do indivíduo se constitui na sua relação com o outro. Essa relação com o outro, que é estabelecida pela linguagem, cria um comportamento social e forma a consciência do indivíduo, sendo este parte e produto do meio ao mesmo tempo. Para Rey (2001) as funções psíquicas são entendidas como processos permanentes de significação e sentidos. Isso porque o indivíduo é um ser que se constitui em um processo. Ele não está estagnado. Os conceitos e sentidos que dá a algo vive em constante revisão, de modo que suas funções psíquicas estão em constante transformação. Essa relação, entre sujeito e sociedade, é algo indivisível. Ambos aparecem na constituição da subjetividade individual e social. O ser humano é um ser relacional, co-autor da subjetividade social, sendo que seus comportamentos se pautam nos diferentes espaços sociais que frequenta. Isso promove o processo de aprender, pois nenhuma atividade humana resulta uma atividade isolada, de acordo com Rey (2001). Sua constituição individual, o que é, se constrói a partir do que vive e experiencia, sendo importante no seu processo de construção subjetiva. Essa construção citada acima, não é um processo organizado, pois de acordo com Rey (2001), o processo de desenvolvimento é extremamente complexo, sendo que os elementos apresentados se mostram de forma simultânea, onde eles são significados a partir da emocionalidade expressa pelo sujeito. Assim, é um procedimento não linear, que não pode ser reduzido a um padrão. De acordo com Molon (2003) a subjetividade é constituída a partir da atividade humana, onde esta é mediada socialmente e carregada de significados. Isso é, uma atividade que acontece no campo da intersubjetividade, sendo que as relações sociais estabelecidas fazem parte desse processo. Essas relações constituídas proporcionam o contato com intersubjetividades diversas, sendo elas participantes na construção dos sentidos que o sujeito dá às coisas com as quais se relaciona. Esse sujeito constituído por meio das relações estabelecidas expressa de forma constante sua subjetividade individual, onde esta se modifica e modifica o espaço em que atua. Rey (2003) afirma que isso deve-se porque a subjetividade é entendida como um sistema em constante desenvolvimento, onde as ações ocorridas dentro dos espaços sociais afetam sua constituição, além desses mesmos espaços serem afetados simultaneamente. 21 Molon (2003) também afirma que a constituição da subjetividade dá-se no mundo, sendo ele é físico, biológico e também, imaginário, simbólico e social. Isso porque as intersubjetividades estão presentes em todos os contextos, sendo que elas possibilitam ao sujeito um caráter de imprevisibilidade, pois não se é possível estabelecer uma relação e nem suas repercuções sem se estar nela. O indivíduo, na qualidade de sujeito, define maiores responsabilidades a partir dos diferentes espaços em que atua, criando novas fontes de significação e de experiências pessoais. Nessa criação, o sujeito rompe com os limites estabelecidos, criando novas opções dentro do seu convívio social, onde Rey (2003) afirma as opções produzidas pelo sujeito não são simplesmente opções cognitivas dentro do sistema mais imediato de contingências de sua ação pessoal, mas verdadeiros caminhos de sentido que influenciam a própria identidade de quem os assume e que geram novos espaços sociais que supõem novas relações e novos sistemas de ações e valores (pag. 234) Rey (2004) também cita que não se pode separar a subjetividade das necessidades que ela gera no curso de sua história. Isso porque é impossível existir um reflexo objetivo de alguma coisa que não dependa das necessidades que o sistema reflete. Assim, essas necessidades se refletem em sujeitos concretos e nos espaços sociais em que as pessoas se relacionam. Sabemos então que o campo em que se dá a constituição subjetiva refletirá no seu processo, sendo, como já foi mencionado, um constituinte e participante do outro. Assim, visto o que foi anteriormente citado, sabemos que o meio é um importante influenciador no processo de construção subjetiva do indivíduo. É importante então destacar os jogos digitais como um componente relevante no processo de desenvolvimento infanto-juvenil, devido a sua presença constante. 22 2.4 OS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL “(...) todo avanço está conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos”. Vigotsky, 1998. Sabemos da importância do brincar na vida de uma criança. Isso porque, conforme Viana (2005), o brincar faz parte da elaboração de sua personalidade, o constituindo um ser individual, pertencente a um grupo. É nesse processo que o indivíduo adquire suas particularidades, constituindo-se como um ser singular. Conforme Viana (2005), os jogos digitais e a internet fazem parte do cotidiano, não apenas das crianças, mas de muitos adultos. No entanto, a participação dos adultos se resume a regulamentação desses recursos, de modo a proibir ou não a utilização dos mesmos. Isso porque os adultos não participam do momento em que a criança brinca, a fim de observar e investigar aquilo a que as crianças estão sendo expostas. Sua atuação nesse sentido é de criar regras quanto a utilização desses jogos. Os jogos proporcionam também o auto-conhecimento, como afirma Froebel (1917, apud Arce, 2004). Isso porque o jogo seria um mediador nesse processo, pois é por meio dele que a criança se exterioriza e interioriza, tendo a possibilidade de se conhecer. É por meio desses jogos que a criança, ainda segundo o autor, revela sua visão de mundo e que se forma sua personalidade, sendo participante no tocante a caracterização da sua identidade. Froebel (1917, apud Arce, 2004) assegura também que o brincar, no período inicial da vida infantil, é de muita importância, visto que é por meio dele que a criança expressa seu mundo interior. Isso porque, segundo o autor, a criança tem a necessidade de simbolizar seu interior em objetos, mostrando seus sentimentos e significações através do brincar. Para Vigotsky (1984, apud Arce, 2004) a brincadeira é a atividade principal na infância, isso porque “cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança”, ou seja, no brinquedo a criança realiza ações que estão além do que sua idade lhe permite realizar, agindo no mundo que a rodeia tentando apreendê-lo. Neste ponto o papel da imaginação aparece como emancipatório: a criança utiliza-se da 23 imaginação na brincadeira como uma forma de realizar operações que lhe são impossíveis em razão de sua idade. (p. 20-21) Ainda para o mesmo autor citando Vigotsky (1984) A criança reproduz ao brincar uma situação real do mundo em que vive, extrapolando suas condições materiais reais com a ajuda do aspecto imaginativo. Para que a criança possa tornar real uma operação impossível de ser realizada na sua idade, ela utiliza-se de ações que possuem um caráter imaginário, o faz-de-conta entra em cena (Arce, 2004, p. 21) Assim, a brincadeira permite a criança realizar ações que não lhes são permitidas na realidade, refletindo no mundo real aquilo que se apresenta no seu interior. No livro A formação social da mente, Vigotsky (1998) afirma que as crianças podem imitar uma variedade de ações que estão além de sua capacidade. Isso porque, ao observar um adulto, a criança usa da imitação para reproduzir um comportamento, sendo que este pode não ser um comportamento tão expresso no cotidiano dessa criança. Nesse mesmo livro, o autor citado acima afirma No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a característica do estágio precedente de uma tendência para a satisfação imediata desses desejos, o comportamento da criança muda. Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo. (p. 122) Percebemos então, que este mundo criado, irreal, possibilita à criança o cumprimento e a satisfação de seus desejos. Isso porque os brinquedos e o brincar possibilitam à criança a realização de desejos imediatos que lhes são irrealizáveis no momento. Além disso, Vigotsky (1998) afirma que o brincar é o caminho que exige menos esforço da criança. Isso porque ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido a um sentido de prazer. No brincar a criança escolhe o que quer ser, quando e como quer ser. Ela tem poder sobre suas preferências nesse momento. Sabemos que no brincar tem-se um propósito. Isso quer dizer que cada jogo tem um objetivo a que se quer alcançar: chegar em primeiro lugar em uma corrida, ganhar ou perder em um jogo atlético, matar ou morrer em um jogo de combate. Esse propósito, conforme Vigotsky (1998) afirma, é que determinará o jogo e justificará a atividade e atitude afetiva que a criança terá com o brinquedo. 24 O brinquedo também proporciona mudanças das necessidades e consciência da criança. A criação de intenções, formação de planos da vida real, motivações volitiva etc., aparecem no brinquedo, proporcionando um maior desenvolvimento, como afirma Vigotsky (1998). Assim, o brincar pode ser considerado uma atividade condutora que contribui para determinar o desenvolvimento da criança. 2.4.1 A cultura dos jogos digitais Hoje, o que antes era brincadeira de casinha, com bonecas e carrinhos comprados nos mais diversos tipos de loja, deu lugar aos mais variados tipos de jogos digitais, onde estes se encontram muito presentes no cotidiano das pessoas. Esses jogos também são notícias na mídia televisiva, sendo eles os portadores de notas sobre o quanto os jogos digitais têm estado presente na vida das pessoas e o quanto eles podem ou não influenciar esses indivíduos, como afirma Viana (2005) “notamos como rapidamente a hipermídia, e em particular a Internet, toma conta do cotidiano das pessoas adultas e crianças”. (p. 2). A cultura presente na infância está regida por diferentes aspectos do que aqueles que antes eram presentes. Viana (2005) diz A cultura infantil, assim como todo o contexto social, está em constante transformação, principalmente no que diz respeito à inserção de produtos de suporte hipermidiático, em rede mundial como no caso da Internet, e sob os interesses e mecanismos da indústria cultural contemporânea. (p. 1) O meio social tem mudado constantemente, inquirindo ao sujeito a criação de novas formas de se adaptar ao novo, presente no cotidiano. É um contexto que se apresenta permeado por mudanças constantes, sendo que o indivíduo se constitui em meio a essa realidade que se apresenta. Viana (2005) afirma que o importante nesse convívio com os serviços disponíveis pelo mundo virtual é sabermos como nos apropriar daquilo que nos é exposto. Devemos então ter estudos mais aprofundados que permitam entender essa questão, de modo a propiciar a sociedade um maior conhecimento com referência às questões tecnológicas que tanto fazem parte da vida das pessoas. Essa participação tão evidente das tecnologias lúdicas na vida das pessoas tem sido consequência das transformações que ocorreram no círculo social, como afirma 25 Viana (2005) “notamos como as transformações urbanas, e de forma geral as sociais, contribuíram para que os jogos digitais e a Internet ocupassem lugar de destaque no cotidiano infantil, tornando-se produto de necessidade e consumo”. (p. 2) Esses jogos têm conteúdos dos mais diversos, sendo que às vezes este conteúdo não é tão presente na vida dos indivíduos, a não ser por meio dessas tecnologias. Viana (2005) cita que Notamos como os objetos da brincadeira digital, os sites e jogos digitais, trazem em seus conteúdos narrativos símbolos, metáforas e mitos caracterizados pela cultura atual, e que se prestam como elementos para o interesse da criança, de sua apropriação e re-significação. (p. 3) Esses conteúdos são aqueles mais presentes na atualidade. Por vezes são histórias já conhecidas pelos indivíduos, que foram transformadas de maneira que despertasse de um jeito mais direto, o interesse das crianças. Ou então, histórias imaginárias e fantasiosas, possibilitando ao jogador uma fuga da realidade. Viana (2005) escreve sobre o consumo dos jogos digitais, afirmando O consumo destes produtos é caracterizado por uma razoável autonomia das crianças em escolher e adquirir jogos em CD-Rom; em acessar os sites e escolher os jogos. O acesso a estes produtos digitais on-line se dá de forma ampla (lar, escola, clubes, Lan house etc). (p.3) Esse acesso fácil, rápido e algumas vezes, sem limites, faz com que o consumo aumente muito, pois não há a intervenção de alguém, sendo que por vezes esse outro se torna um repressor da utilização desses recursos. Esse interesse também cresce devido ao marketing e a publicidade que os meios fornecedores dos jogos digitais criam. Viana (2005) discorre que “em muitos sites, como no da Disney, faz-se uma grande e feroz publicidade de produtos em outros suportes como filmes, livros, gibis etc, constituindo-se uma rede articulada de canais para oferta e venda de seus produtos.” (p.4). Existe então, um grande investimento nessa área a fim de desprender o interesse dos jogadores quanto aos mais diversos jogos que estão disponíveis. 26 3. METODOLOGIA “A pesquisa é uma relação entre sujeitos promotora de desenvolvimento mediado por um outro”.Vygotsky 3.1 TIPO DE PESQUISA Minayo (2007) em seu livro Pesquisa Social, afirma que o universo da produção humana que compreende o mundo das relações, das representações e da intencionalidade, que é o objeto da pesquisa qualitativa, sendo assim dificilmente pode ser trazido em números e indicadores quantitativos. Desta forma de acordo com Richardson (1999) a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. No contexto da pesquisa qualitativa, o caráter exploratório da mesma é de suma importância, Gil (1991), neste sentido, ressalta o objetivo principal que consiste no aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições, sendo que seu planejamento é bastante flexível, possibilitando a consideração dos mais diferentes aspectos do fato estudado. Já Kerlinger (1980), afirma que a pesquisa exploratória tem como objetivo identificar a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere. Neste tipo de pesquisa pressupõe-se que o comportamento humano é compreendido no contexto social onde acontece. Nesta pesquisa articula-se pesquisa qualitativa, exploratória com viés na modalidade bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é uma fonte de informações, possibilitando assim uma maior gama de conhecimentos diversos possíveis, contribuindo para o acervo cultural em todas as formas (FACHIN, 2006, p. 119), a qual também possui embasamento como pesquisa qualitativa. Além disso, a pesquisa bibliográfica, segundo Cruz & Ribeiro (2004) pode “visar um levantamento dos trabalhos realizados anteriormente sobre o mesmo tema estudado no momento” (p.19), possibilitando assim ao pesquisador variados tipos de informações, de diversas fontes, em prol de melhores resultados investigativos. Dentro deste contexto referente à pesquisa bibliográfica, a presente pesquisa foi desenvolvida a partir de fontes bibliográficas, tendo como material exploratório: livros, 27 revistas, periódicos, sites especializados via internet, jornais e artigos científicos. (Gil, 2002), além de observações realizadas a partir do convívio da pesquisadora com sujeitos que estavam dentro das categorias de análise, crianças/adolescentes que têm contato com jogos digitais. Esta pesquisa pretendeu analisar quais as possíveis influências de cunho psicológico decorrentes da cultura dos jogos digitais afetam a constituição da subjetividade infantil/adolescente. Por intermédio das referências bibliográficas (livros, revistas, periódicos, sites especializados via internet, jornais e artigos científicos) pretendeu-se correlacionar informações, autores e diferentes perspectivas destes sobre a cultura dos jogos digitais e como esta participa do cotidiano de vida de crianças e adolescentes mediando assim suas visões de mundo, suas trocas afetivas, compreensão cognitiva e desenvolvimento ético e moral presentes no campo constitutivo da subjetividade. Após o levantamento das informações e escolha de autores, buscou-se elencar categorias de convergência que caracterizem a relação cultura dos jogos digitais e constituição da subjetividade infanto-juvenil. 3.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS Para a realização do presente trabalho, usou-se como fonte para coleta de dados: livros, entrevistas, relatórios, manuais, monografias, teses. (LAKASTOS et al, 1992). Essa variedade de fontes que foram pesquisadas possibilitou um entendimento mais amplo do assunto abordado, bem como o conhecimento de diferentes opiniões disponíveis. A partir dos dados encontrados por meio das fontes disponíveis, realizou-se uma correlação dos apontamentos dos autores encontrados com a temática proposta e reflexões criticas a partir do posicionamento teórico da acadêmica enquanto responsável pela pesquisa, estabelecendo assim, um paralelo entre as fontes bibliográficas e contextualizações pessoais. 28 3.3 ANÁLISE DOS DADOS Após a obtenção dos dados necessários para análise, foram realizadas considerações a partir dos referenciais teóricos encontrados, possibilitando um entendimento dos dados adquiridos. De acordo com Gil (1995), análise de conteúdo é a técnica que possibilita a compreensão dos objetivos dos estudos desenvolvidos, através de descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo. Na análise de conteúdo é importante organizar o material que será avaliado, depois aplicar as maneiras que foram escolhidas na fase anterior, e por último tentar acima de tudo descobrir o que apareceu de forma implícita durante o processo, já que se for avaliado somente o explícito, a pesquisa perde sua funcionalidade. Cabe ressaltar, então, que os dados encontrados durante o processo de coleta de dados foram agrupados por meio de categorias que expressaram de maneira sistematizada os assuntos e temas mais abordados pelos autores com referencia a influência dos jogos digitais na constituição subjetiva de crianças/adolescentes, demonstrando assim os conceitos mais explícitos nesse meio. 3.4 ÉTICA EM PESQUISA Convém aqui citar algumas questões referentes ao plágio, uma vez que se faz necessário estar atento quanto ao material utilizado em pesquisa e projeto. Assim, Silva (2008, p.357) afirma que: Essa é uma questão relevante, uma vez que a informação e os textos, nos tempos atuais, se encontram cada vez mais à mão, como um convite ao sujeito para mergulhar nos labirintos hipertextuais, para o exercício e a difusão da escrita ou para forjar como seu apenas um excerto, um parágrafo ou mesmo todo um texto, mediante cópia não autorizada. Silva (2008, p.358) cita ainda, referente ao plágio, que este trata-se de “apropriação de linguagem e de idéias do outro; caracterizando violação da propriedade intelectual.” Portanto, é preciso estar atento quanto ao material que utiliza-se ao longo do processo de pesquisa e análises, uma vez que um estudo está baseado, dentre outros aspectos, na qualidade e fidedignidade das referências utilizadas, assim como o 29 resultado final pode vir a ficar comprometido de acordo com o percurso realizado através do material utilizado na pesquisa. 30 4. CORRELAÇÃO TEÓRICA 4.1 MOTIVOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS A fim de organizar e responder aos objetivos da pesquisa utilizou-se a construção de categorias temáticas que expressassem os conteúdos encontrados por meio da pesquisa bibliográfica. Assim, a partir das discussões elaboradas pelos autores encontrados, sendo eles formadores de opiniões referentes ao tema abordado nesse trabalho, as categorias formadas foram as seguintes: Motivos para a utilização dos jogos digitais, Desenvolvimento e Aprendizagem, Relações interpessoais e jogos digitais, Jogo Simbólico. Assim, com relação a um objetivo proposto pelo seguinte trabalho, que se constitui, em parte, de identificar fatores motivacionais para a utilização dos jogos digitais por crianças/adolescentes, convém aqui mencionar, de acordo com Viana (2007), que os jogadores apreciam esses jogos e por consequência, os utilizam, devido ao fato destes jogos serem divertidos e proporcionarem momentos lúdicos e de prazer a eles. Isso, para a pesquisadora, é fato presente nas falas das crianças/adolescentes com os quais tem contato. Nessas falas, é perceptível o prazer com que esses jogadores falam dos jogos e dos momentos que passam utilizando-os, demonstrando assim, que esses momentos são de descontração e divertimento. Sala e Chalezquer (2009) mencionam que os meninos são mais motivados a utilizar os jogos digitais do que as meninas. Isso porque os meninos possuem mais os jogos do que elas, demonstrando a partir desse fato que eles possuem mais interesse em jogar. Além disso, os meninos são motivados a jogar devido ao fator competitivo que o jogo possui, sendo ele utilizado de modo profissional. Eles jogam mais, começam antes e mantêm altos níveis de jogo ao longo dos anos (Sala e Chalezquer, 2009). Isso evidencia que os meninos se dedicam mais ao jogo, sendo mantido seu interesse ao longo do tempo a fim de superar seus limites. A partir do convívio da acadêmica com crianças/adolescentes, esta percebe o citado acima observando que estes jogam com mais seriedade, a fim de se aperfeiçoar e de ultrapassar os limites que já conquistou. No entanto, as meninas, não mostram tanto interesse com referência aos jogos, pois em suas falas o jogo quase não aparece. 31 Referindo-se a companhia no jogo, os meninos mostram-se mais motivados a jogar individualmente, sendo assim, eles não jogam muito em grupo. Já as meninas, como cita Sala e Chalezquer (2009) preferem um jogo mais social, onde haja vários jogadores participantes ou mesmo, companhia. Há aqui, no entendimento da autora, um aspecto de companheirismo na relação das meninas. Elas se socializam a partir do jogo por não existir, não sendo isso regra, o quesito de competição entre elas. O interesse é agrupar o maior número de interessadas, a fim de estarem juntas, e não apenas pelo fato de jogarem juntas. Ainda citando os motivos que incitam o uso dos jogos digitais, cabe ressaltar que os meninos jogam devido à possibilidade, segundo Sala e Chalezquer (2009), de acessar uma realidade paralela onde podem fazer coisas que não são possíveis na vida cotidiana. Silva (2010) corrobora com esse dado quando afirma que através do jogo “se revelam a autonomia, criatividade, originalidade e a possibilidade de simular e experimentar situações perigosas e proibidas no nosso cotidiano”. Assim, é no ato de jogar que as crianças e os adolescentes se permitem realizar desejos, pois aquele momento é deles e eles são os autores do enredo que desejam seguir. É ali que eles podem fazer o que quiserem, sentindo-se livres para realizar seus desejos, fato mais valorizado pelos meninos. Respondendo a outro aspecto do mesmo objetivo, que era o de identificar quais são os jogos digitais mais utilizados, percebe-se que os meninos demonstram um maior interesse por essas tecnologias que estejam ligados a corrida, velocidade, esportes e estratégias. As meninas, no entanto, não se interessam por esses tipos de jogos, mas sim, preferem jogos em rede, os quais se baseiam em comunidades virtuais (SALA e CHALESQUER, 2009). A pesquisadora observa isso nas crianças/adolescentes com os quais se relaciona, onde os meninos citam suas preferências por jogos que envolvam corridas de carro e/ou motos, bem como de construção de algum tipo de estratégia, como caça a algum tesouro, ou a busca por um refém fugitivo. Eles preferem jogos que os instiguem e os desafiem, saindo do padrão fixo que um jogo possa ter e indo em busca de inovações, onde suas habilidades possam ser testadas. Já as meninas preferem jogos nos quais possam compartilhar suas conquistas com outras meninas. Elas mostram-se mais cúmplices umas das outras, buscando partilhar com suas parceiras o que conquistaram. 32 Viana (2007), referindo-se ao acesso aos jogos, cita que o consumo destes ocorre de forma articulada com os mecanismos capitalistas de publicidade, assim sendo, os jogos que estão mais populares no momento, serão também os mais utilizados. Convém ressaltar a percepção da pesquisadora, onde esta percebe a relação existente entre as propagandas midiáticas e os jogos mais utilizados devido ao fato dessas propagandas instigarem a criança/adolescente a comprar os jogos mais populares, para que assim ele não esteja desatualizado com relação a esses jogos e, consequentemente, não fique fora de um grupo já aproximado e formado por conta da identificação dos mesmos interesses em comum. Citando as restrições, o autor anteriormente mencionado destaca que algumas crianças possuem horários para o jogo, outras, no entanto, não. Isso demonstra, conforme o autor, que “o lúdico digital mantêm práticas sociais inerentes ao lúdico infantil: alguns pais proíbem, outros não”. Em vista disso, faz-se importante destacar que os fatores motivacionais para a utilização desses jogos diferem para os meninos e meninas. Essa diferença se demonstra a partir dos interesses divergentes que estes possuem. Assim, percebendo-se isso, é importante ressaltar que os jogos, mesmo que utilizados por motivos diferentes, possuem a capacidade de contribuição no que tange ao desenvolvimento e aprendizagem infantil/adolescente, sendo esse aspecto discutido a seguir. 33 4.2 DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM É cabível ressaltar que, com a finalidade de responder o objetivo referente à influência dos conteúdos dos jogos digitais na construção afetivo-emocional de crianças e adolescentes, o jogo é tido como parte importante no seu processo de desenvolvimento. Para Silva (2010), “isso possibilita o equilíbrio entre o mundo externo e interno, transformando assim, suas ansiedades em prazer”. Há também uma função de construção de conhecimento, onde Silva (2010) cita IDE (2005): As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar bem; sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também mais ativas mentalmente (IDE, 2005 apud SILVA, 2010, p. 96). Assim, o jogo não possui apenas um objetivo lúdico, mas também proporciona adquirir conhecimento e superar seus limites, possibilitando esforço e conquista ao seu usuário. A oportunidade de superar obstáculos e usar a inteligência advém do lado competitivo que essa tecnologia possui, incitando quem o usa a querer se superar e superar o outro também. Portanto, o jogo, desde cedo, coloca a criança/adolescente em contato com a competitividade, onde o mais sucedido e mais conhecido é o que melhor se apresenta. Papert (1994, apud Silva, 2010) corroborando com o citado acima, afirma que “agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas estruturam seu espaço e seu tempo, desenvolvendo noção de casualidade, chegando à representação e finalmente à lógica”. Sendo assim, o jogo perpassa a definição de objeto lúdico. Deste modo, percebe-se que os jogos digitais possuem e permitem uma aprendizagem, conforme cita Viana (2007). Mas apesar disso acontecer, a necessidade de “ter alguém com quem discutir a respeito torna a aprendizagem mais proveitosa” (s/p). Isso porque, para a autora da pesquisa, é de extrema importância que se faça necessário criar uma atitude crítica em relação aos conteúdos expostos pelos jogos digitais, utilizando-se assim de discussões posteriores a sua utilização, sendo ela dirigida por um indivíduo capaz de instigar esse pensamento crítico. Assim, os jogos, que por vezes são utilizados de forma indiscriminada, sem que aconteça uma seleção 34 dos que trarão algum benefício à aprendizagem dessas crianças/adolescentes, terão um olhar mais atento a fim de se questionar o assunto abordado por ele. Mas, ainda assim, as escolas e seu processo de educação necessitam incorporar os benefícios que estes jogos e a internet podem proporcionar a esse processo. Há uma carência no que se refere a isso, pois esses recursos podem ser utilizados, e por vezes isso não acontece, na escola, como prática coletiva de produção e transmissão de conhecimentos (Viana, 2007), inovando e melhorando o ensino escolar, somando para despertar o interesse dessas crianças e adolescentes que vivem cercados por um universo tecnológico. Viana (2007) menciona então que o professor deve procurar se qualificar mais profissionalmente, pois ele terá diversas funções: Como mediador, precisa pesquisar e conhecer sites e softwares, assim como observar as preferências das crianças, para poder inserir elementos da cultura delas nas ações pedagógicas. (...) Como motivador, o educador precisa estimular a reflexão e o questionamento entre os educandos, enxergando-os como sujeitos da pesquisa e da produção de conhecimentos. (...) Como orientador, o professor precisa propor objetivos que tornem as etapas da construção dos conhecimentos úteis aos alunos e à sociedade. (s/p) Na qualidade de pesquisadora, esta concorda com o citado acima, pois com todo o avanço que vivemos, o professor necessitará de um maior conhecimento, que não se limitará somente ao cumprimento de regulamentos no que tange ao processo de ensino. Ele deverá estar apto a lidar e entender o universo digital em que as crianças/adolescentes vivem hoje, a fim de poder utilizar esses meios como contribuinte para o desempenho de sua função, bem como para despertar e instigar o interesse dos alunos. Isso é reafirmado por Silva (2010) quando esta diz que há a necessidade da presença do professor para mediar o processo que decorre durante o jogo, observandose e avaliando-se o nível de desenvolvimento das crianças, diagnosticando assim, possíveis dificuldades; que corrobora com Viana (2011), quando este afirma que o educativo dos jogos depende da “mediação que a escola e o professor fazem em suas práticas pedagógicas” (s/p). Ele será assim, um profissional que deverá assumir vários papéis e por consequência, necessitará de um conhecimento mais amplo. Segundo Silva (2010), os jogos educativos já estão no mercado, sendo eles associados a uma função lúdica, e estão sendo utilizados por variadas instituições de ensino, principalmente nas salas de aula da Educação Infantil. Devido a sua 35 potencialidade, é um acesso viável, pois possibilita estimular a inter-relação da criança com as pessoas, tanto em situações sociais, quanto nas familiares. No entanto, utilizar os jogos como aliados em projetos pedagógicos pode ser motivo de resistência, pois, segundo Viana (2011), a “escolarização dos jogos tira deles o que é mais interessante e coloca no lugar o que de mais chato há na escola”(s/p). Assim, estes passam a ser vistos não mais como objeto que proporciona prazer, mais sim um contribuinte a mais na sua educação, deixando de possuir o aspecto da diversão. A partir disso, o que existe de mais instigante nos jogos, como os desafios, a emoção e a surpresa, é transformado em informações teóricas, que, segundo Viana (2011) mascara as tradicionais tarefas e exercícios que os alunos têm a realizar. Os jogos, que deveriam ser um aliado importante para a aprendizagem, são remanejados a fim de alcançar a exigência dos currículos pedagógicos, com o intuito de cumprir o planejamento. Tendo em vista do que foi apresentado aqui, é importante pensar, para a pesquisadora, sobre a inserção dos jogos no âmbito escolar, pois, sendo estes enquadrados em uma categoria apenas com objetivo educacional, o lúdico e o divertido é retirado dele, tornando-o uma ferramenta engessada em um modelo educacional, desmotivando os alunos a utilizarem esses jogos. Desse modo, cabe destacar a necessidade de se aliar o aspecto lúdico ao educacional, para que as crianças/adolescentes se sintam instigadas e motivadas a utilizar esses jogos. Alves (2008) afirma isso quando menciona em seu trabalho que Levar o jogo digital e/ou eletrônico para o cenário escolar não significa pensar nesses artefatos culturais para desenvolver os conceitos de matemática, outro para a aprendizagem da língua, outro para os processos cognitivos e finalmente um para o entretenimento. Afinal, não podemos “cansar as crianças”! Esta compreensão das tecnologias, das mídias digitais e suas representações é reducionista, contrária as perspectivas teóricas que discutem a presença desses elementos nos distintos ambientes de aprendizagem, principalmente os escolares. (p. 5). Assim, o mesmo autor ainda afirma que A intenção não é transformar as escolas em lan houses, até por que são espaços de aprendizagem diferenciados e com lógicas distintas, mas criar um espaço para os professores identificarem nos discursos interativos dos games, questões éticas, políticas, ideológicas, culturais, etc. que podem ser exploradas e discutidas com os discentes, ouvindo e compreendendo as relações que os jogadores, nossos alunos, estabelecem com estas mídias, 36 questionando, intervindo, mediando à construção de novos sentidos para as narrativas. Ou ainda, aprender com estes sujeitos novas formas de ver e compreender esses artefatos culturais (p.6). Os professores então devem se valer dos conteúdos apresentados nos jogos digitais, utilizando-os como contribuinte para as suas aulas, onde os alunos possam ser instigados e queiram estar nas salas de aula. Viana (2011) também menciona que os jogos digitais são micro mundos, isso porque “fornecem um mundo imaginário a ser explorado, no qual a criança pode aprender da forma mais divertida possível” (s/p). É um mundo emocionante e repleto de desafios, desenvolvendo assim, diversas habilidades naturais das crianças. Compreendese assim que esses micro mundos proporcionam ao jogador um contato diferente daquele que este está habituado a ter. É nesse momento que ele irá explorar o novo e conhecer assim, coisas e fatos que não estão presentes, muitas vezes, em seu contexto. Em contrapartida aos benefícios propiciados pelos jogos digitais, o professor deve estar atento para o conhecimento prévio que os alunos apresentam, a fim de que possa assim, conforme Silva (2010), “selecionar convenientemente as atividades a partir das informações colhidas anteriormente”, respeitando assim, o interesse manifestado pelas crianças e adolescentes e a fim de trabalhar sua espontaneidade e formular desafios de acordo com a capacidade apresentada por eles. Silva (2010) destaca ainda a dificuldade que os professores encontram para selecionar um bom jogo. Isso porque esses educadores estão em frente ao desafio de educar crianças e adolescentes que já possuem contato com os jogos digitais desde muito cedo. Assim, torna-se imprescindível que o jogo escolhido seja aplicado como recurso pedagógico desde a educação infantil, a fim de que as crianças/adolescentes tenham conhecimento de outro aspecto que perpasse o lúdico: o educacional. Além desse aspecto, Vygotsky (1984 apud Souza, 2009) conjectura sobre o possível lado negativo que o jogo possa ter, pois, por vezes, o lado lúdico é mais observado em detrimento de outros aspectos relevantes que possa existir. Assim, ele afirma que o brincar não poder ser considerado como algo que traz apenas prazer à criança. Como por exemplo, os jogos esportivos, que com muita frequência, são acompanhados do desprazer, quando o resultado não favorece a criança (ao perder uma partida de xadrez, uma corrida, jogos que podem ser ganhos ou perdidos). 37 Deste modo, percebe-se que o jogo possibilita o contato com diferentes realidades e essas realidades fazem parte da constituição desses indivíduos, não sendo isso uma regra. O jogo demonstra-se, então, como um fator a mais que pode ou não vir a causar algum efeito sobre seu utilizador e sua inclusão no meio escolar possibilita entendermos e percebermos a relação que se estabelece entre os jogos e os jogadores. Assim, o contexto da criança/adolescente deve ser inquirido e analisado, bem como sua relação com os jogos, para que haja um entendimento completo do indivíduo, percebendo o aspecto social implicado. 38 4.3 RELAÇÕES INTERPESSOAIS E JOGOS DIGITAIS Tendo como perspectiva analisar aspectos relativos ao objetivo que propunha caracterizar as relações interpessoais em crianças/adolescentes que utilizam com frequência jogos digitais como parte de seu tempo recreativo, convém destacar que a realidade social que a criança/adolescente está inserida pode influenciar suas atitudes, cabendo ressaltar que o jogo também pode influenciar os aspectos sociais da criança, sendo este o meio ou as pessoas que o permeiam. Assim, a pesquisa intitulada A geração interativa na Ibero-América: crianças e adolescentes diante das telas, publicada em 2009 e que possui como coordenadores Xavier Bringué Sala e Charo Sábada Chalezquer, da Universidade da Navarra – Espanha tem sua primeira parte concentrada nos dados coletados, entre 25.467 estudantes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela, durante os meses de outubro de 2007 e junho de 2008. A pesquisa aborda as respostas obtidas de jovens que vivem em torno das principais telas midiáticas, atendendo tanto a questões de uso e posse quanto de valoração. Ao longo da segunda parte, os autores de cada um dos países participantes no estudo dão um enfoque mais profundo às peculiaridades econômicas, educacionais e culturais de cada região, ajudando a contextualizar e, portanto, a entender melhor os desafios educacionais particulares que esta nova realidade apresenta. Por último, oferece conclusões globais com o objetivo de reunir as principais diretrizes desenvolvidas pelo estudo, para que sirvam de guia para trabalhos posteriores. Para Kishimoto (1993, p. 15, apud Vargas e Pavelacki, s/p), “os jogos tradicionais, enquanto manifestação espontânea da cultura popular, têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social”. O contato com os jogos, por vezes proporcionado por intermédio de outrem que também jogue, promove a convivência social, onde essa relação se estabelece devido ao interesse em comum que possuam sobre os jogos. Essa aproximação citada acontece, e assim os indivíduos compartilham sites, jogos e outras informações, contribuindo para seu processo de inclusão no grupo (Viana, 2007). Concordando com essa perspectiva, a acadêmica percebe que as crianças/adolescentes falam com frequência dos momentos que passam utilizando os jogos, com a finalidade de externalizar e compartilhar as conquistas obtidas por meio deles, num intuito de partilhar. 39 Para Sala e Chalezquer (2009) essa socialização também ocorre devido ao desejo que se expressa em jogar com mais pessoas. O contato com outros jogadores torna o jogar por lazer mais interessante, visto que é com este que ele irá compartilhar suas conquistas. Além do mais, o momento do jogo também possibilita a aproximação com os pais, que por muitas vezes jogam, tornando o brincar um momento familiar. Percebe-se novamente a caracterização das relações interpessoais e o aspecto psicológico apresentado nessa utilização, visto que as relações estabelecidas se dão em conta do momento do jogo ser mais prazeroso quando compartilhado com outros interessados. Jogar em grupo torna-se mais instigante e promove satisfação. Em contrapartida, os mesmos autores mencionados afirmam que, a partir dos dez anos de idade o jogo passa a ser um momento individual, onde os amigos e os pais já não são mais tão solicitados a participar. A criança e o adolescente passam a buscar a autonomia e seguem por jogar sozinhos, ou, às vezes, com indivíduos que apresentem o mesmo interesse. Para a pesquisadora, esse fato lhe é muito familiar visto que as crianças/adolescentes com as quais tem contato preferem e jogam sozinhas, sendo que quando jogam em grupo, este se dá com colegas da mesma idade, criando-se e aproximando-se indivíduos que possuam o mesmo interesse. No entanto, a brincadeira é cada vez mais entendida como “atividade que, além de promover o desenvolvimento global das crianças, incentiva a interação entre os pares, a resolução construtiva de conflitos, a formação de um cidadão crítico e reflexivo” (Branco, 2005; DeVries, 2003; DeVries & Zan, 1998; Tobin, Wu & Davidson, 1989; Vygotsky, 1984, 1987, apud Queiroz, Maciel e Branco, 2006 ). Assim, o jogo aproxima seus utilizadores, fazendo com que as relações fiquem mais estreitas, além de propiciar a construção de um cidadão mais autônomo. Percebendo a importância do aspecto social que o jogo possui, faz-se relevante citar Oliveira e Souza (2008 apud Souza, 2009), onde estes falam da importância do jogo nesse processo de socialização: A importância da ludicidade para as crianças de qualquer cultura se dá pelo fato de que a infância é o momento em que se inaugura o processo de socialização na vida do indivíduo, devendo permanecer este processo ao longo de toda a sua vida. Mas é no primeiro momento, na infância, que a socialização aparece em seu furor. E esta socialização infantil se utiliza especialmente do ludismo para garantir a sua efetivação. (OLIVEIRA E SOUZA, 2008, p. 1) 40 Sala e Chalezquer (2009) mencionam que o jogo, quando compartilhado com outros, torna-se mais divertido, possibilitando também que o jogador faça novas amizades. Além disso, jogar com os amigos é muito mais frequente e promove um momento de prazer lúdico, onde o brincar é algo compartilhado entre eles. A acadêmica reflete sobre esse pensamento e concorda com ele a partir do seu entendimento teórico, visto que as crianças/adolescentes que jogam demonstram sentir prazer naquele momento, sendo que existe também uma aproximação por meio do jogo, onde este permite que as amizades sejam reforçadas. Refletindo sobre o contexto do indivíduo que joga, Silva (2010) menciona que não se pode inquirir uma relação de causa-efeito na utilização dos jogos digitais. Isso porque Begoña Gro (s/d apud Silva, 2010) afirma: Contudo, esta visão causa-efeito (seja negativa ou positiva) não pode provarse, pois os comportamentos humanos são muito mais complexos e a assimilação de um determinado filme, noticia ou videojogo, depende não só de características próprias de cada pessoa, mas sim, também, do contexto social em que se produz. (s/p). Em vista disso, não se pode dizer que um comportamento é decorrente apenas da utilização dos jogos digitais, pois o contexto em que o individuo está inserido também é parte responsável no aparecimento e na constituição de comportamentos específicos. Para a pesquisadora esse fato é muito importante, pois é comum vermos na televisão ou outro tipo de recurso midiático, como revistas, jornais, rádios, que a presença de alguns comportamentos na vida das crianças/adolescentes se dá devido ao contato com os jogos digitais, que muitas vezes possuem conteúdos violentos, entre outros. No entanto, como ressalta Silva (2010), a criança/adolescente não deve ser vista apenas como um jogador. Seu contexto deve ser observado como um todo, pois suas atitudes e comportamentos são decorrentes de uma realidade que existe e que ele vive. Para ele, aquilo é real, e é a partir desse contexto que ele pode se configurar e se constituir. O jogo proporciona então a essas crianças/adolescentes um momento divertido, possibilitando também a interação com outros indivíduos da sua mesma faixa etária. Esse prazer surge da oportunidade de fazer e conhecer novos amigos, que compartilhem 41 os mesmo interesses. Além do mais, o jogo também propicia o contato com realidades distintas, sendo possível a vivência de aspectos diferenciados das que se vivem. 42 4.4 JOGO SIMBÓLICO Compreender a influência dos conteúdos dos jogos digitais na construção afetivo-emocional de crianças e adolescentes foi um dos objetivos desta pesquisa, e referente a isto, é importante então mencionar as possíveis vivências simbólicas proporcionadas pela utilização dos jogos digitais. Percebe-se isso quando “ao destruir o monstro, a criança se sente vitoriosa, projetando-se como personagem deste desafio, superando seus limites e destruindo todo o mal” (s/p); “a criança vê-se como uma das personagens da narrativa” (s/p). É no plano da fantasia e da imaginação que a criança e o adolescente se sentem capazes de realizar as coisas que desejam fazer na vida real, sendo eles participantes e determinantes do seu futuro, podendo assim verbalizar suas vontades, mas que, por vezes, não se sentem instigados o suficiente a fazer no seu cotidiano (VIANA, 2007). Dias e Neto (2006) confirmam o citado acima mencionando que “nesta nova esfera de possibilidades, os jogadores criam e destroem mundos, realizam desejos impossíveis e constroem narrativas no plano virtual” (s/p). O jogo é então um facilitador para a realização de novas possibilidades, sendo ele um inovador nas atitudes, contribuindo para que elas sejam realizadas. A autora desta pesquisa corrobora e frisa tal fato por acreditar que este é um dado muito importante com referência ao jogar. Isso porque é comum ouvir nas falas dos utilizadores dos jogos digitais, a possibilidade de superação e de autonomia que o jogo proporciona. É naquele momento, onde não há regras, nem um indivíduo que tenha o papel de fiscalizar, que a criança/adolescente implica-se no jogo de maneira a ser aquilo que deseja, onde suas atitudes, opiniões, comportamentos, são todos aceitos, independentes que quais sejam eles. Concordando e refletindo sobre essa perspectiva, Dias e Neto (2006) alegam que Estas experiências do brincar encontram na “realidade virtual” um vasto suporte tecnológico, um ambiente facilitador que sustenta e abriga o imaginário que engendra devires e a elaboração de novas cartografias existenciais. Nesta nova esfera de possibilidades, os jogadores criam e destroem mundos, realizam desejos impossíveis e constroem narrativas no plano virtual. (p. 3). Assim como Murray (1999 apud Alves, 2008) 43 aponta o sujeito como interator, que ao jogar tem a possibilidade de criar caminhos e cenários inexistentes, utilizando os conteúdos que permeiam o seu imaginário para construir narrativas que não estão pré-definidas, imergindo em um universo de histórias. (p. 3). O momento do jogo então proporciona autonomia, tendo o jogador poder sobre sua própria história. Isso porque, segundo Viana (2007), eles se “apropriam do jogo, tornando-se senhoras do enredo” (s/p). É nesse momento que elas tomam suas próprias decisões, criando suas próprias regras e assim, delimitando o que desejam que aconteça naquela situação. Para Abt (1974, apud Vargas e Pavelacki, s/p), é através do jogo as crianças brincam representando vários papéis, repetindo-os e inovando-os, exercitando sua criatividade. Quando elas cansam dessas variações, modificam e dificultam a maneira de jogar, tornando-o mais interessante, fazendo com que elas tomem decisões a respeito do jogo. Assim, o jogar possibilita que seus utilizadores inovem, saindo de um padrão conhecido, que se caracteriza por fases demarcadas nos jogos e exercitando novas formas de criatividade, onde o jogo se torna sempre surpreendente, promovendo assim o desenvolvimento do indivíduo. É importante mencionarmos que o conteúdo de um jogo digital, ou eletrônico é definido a partir do que a empresa que irá produzir esse jogo achar por bem escolher. Diferentemente do que acontece com o jogar tradicional, onde as crianças produziam algo a partir de si própria, sendo elas as definidoras dos conteúdos que apareceriam no momento da brincadeira. Dias e Neto (2006) afirmam isso dizendo No ato de brincar, seja ele com bonecas de pano ou jogos eletrônicos de última geração, crianças e adolescentes manipulam imagens e símbolos culturais. Todo esse conteúdo simbólico se constitui por características sociais, políticas, religiosas, econômicas e culturais de uma determinada sociedade. Porém, os jogos eletrônicos são produzidos em uma determinada indústria de entretenimento, que possui normas, regras e lógicas próprias, orientadas pelas diretrizes do mercado, fazendo da determinante econômica uma forte influência na produção simbólica de seus games. (p. 7). Assim como corrobora Medeiros e Severiano (2008) Há determinações subjacentes que direcionam o conteúdo para determinados fins. Se aceitarmos isto como uma realidade “natural”, “imediata”, simplesmente nos adaptamos sem nenhum questionamento. (p. 124). 44 Podemos refletir então que os conteúdos aos quais as crianças/adolescentes são expostas advêm de uma indústria que prioriza os interesses do mercado, levando em conta o lucro a se obter de acordo com o produto que será oferecido, não levando em conta a individualidade social que se apresenta, e as necessidades que cada um possa ter. Dando continuidade aos conteúdos encontrados, e com o intuito de responder um dos objetivos da pesquisa, que era descrever a compreensão de crianças e adolescentes sobre fantasia e realidade existentes no conteúdo dos jogos digitais, é relevante citar Medeiros e Severiano (2008), que ressaltam que com a imersão de crianças/adolescentes no jogo, estes podem não saber separar a realidade virtual da qual participam, em decorrência daquela em que estão inseridos, sendo que assim eles podem reproduzir no meio algo que não lhes é permitido. Referimo-nos ao perigo de se produzir, neste contexto, uma subjetividade alienada das condições reais de sua existência, em especial, no que concerne à compreensão, por parte de usuários do jogo, dos reais limites de seus poderes no cotidiano; ou seja, o de se querer reproduzir o jogo na vida. (p. 121). E continuam mais a frente afirmando Numa primeira análise, percebemos claramente o perigo de o adolescente acreditar nos simulacros, acabando por torná-los reais. Numa escala maior, existiria ainda a possibilidade dele perceber o real como uma extensão do mundo virtual. Quando o virtual se torna referência, pode-se cair no risco de, ao retornar ao mundo real, querer-se aplicar a ele os mesmos procedimentos e métodos, a mesma falta de preocupação e isenção de responsabilidades permitida no mundo virtual, principalmente devido ao sentimento de poder irrestrito por este conferido. (p. 123). Portanto, a “brincadeira é, assim, a realização das tendências que não podem ser imediatamente satisfeitas” (QUEIROZ, MACIEL e BRANCO, 2006, p.4). É o momento que a criança/adolescente encontra para realizar suas vontades, que por vezes não podem ser atendidas no contexto que está inserida, seja por uma regra que lhes foi estabelecida, ou por impossibilidade decorrendo da falta de recursos. Kishimoto (1998, p. 140, apud Souza, 2009) também corrobora com essa ideia quando afirma “o jogo é visto como forma do sujeito violar os padrões da espécie”. É o utilizando que ele pode quebrar regras e se permitir fazer suas vontades. 45 Meira (2003 apud Souza, 2009) afirma, referindo-se sobre a distinção entre realidade e fantasia, que Os brinquedos interativos da atualidade apresentam esta duplicidade. Pergunto ao menino, a seguir: ''Mas então, não tem faz de conta em vídeo game?'' Ao que ele responde: ''Eu faço de conta que sou o personagem do jogo, escolho um, e passo a ser ele. Aí tem faz de conta. (p.21) Quando o jogador se projeta no jogo, tornando-se parte do enredo e incorporando um dos personagens que ali existe, ele se constitui como parte da fantasia que se apresenta. É aí que se estabelece a fantasia. Mas, no entanto, quando ele deixa de ser aquele personagem, ele volta para sua realidade. Aquela a qual pertence, A que vivencia. Siaulys (2005 apud Queiroz, Maciel e Branco, 2006) afirma que com a brincadeira a criança pode “vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma, apreender a realidade, tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo” (p.1). Assim, o brincar que é tão presente, principalmente na infância dos indivíduos, é um recurso capaz de promover o desenvolvimento de características pessoais, bem como relacionais, e outras, indo além do aspecto lúdico e divertido que é conhecido do jogo. Tendo em vista o exposto, o jogo permite que o indivíduo que o joga possa desenvolver características pessoais, além de exercitar seu potencial criativo, visto que ele irá lidar com uma realidade diferente daquele em que está inserido. É importante destacar também, que, com esse desenvolvimento de características pessoais, percebemos que o jogo ultrapassa o sentido de lúdico. Assim, ele não se reduz somente a um objeto que proporciona prazer. Ele vai além, propiciando aos seus utilizadores ou aqueles que o usam como recurso auxiliador, promover aprendizagens diversas, sendo elas agregadas ao prazer que o jogo produz. O jogar e o aprender se tornam aliadas, sendo elas vividas de maneira que satisfaça ambos os aspectos. Além do mais, por vezes, o jogo possibilita também a quebra de regras, promovendo o cumprimento de vontades. Ele se torna um meio para que seus desejos sejam satisfeitos. Esses desejos, às vezes, é apenas a vontade de ser um personagem super-herói, ou um grande vilão, capaz de realizar coisas diversas, mas que, no entanto, 46 não se pode realizar no contexto que vive. Ali então, no universo que o jogo apresenta, o sujeito realiza o que deseja, concretizando seus sonhos e fantasias. 47 CONSIDERAÇÕES FINAIS A partir da pesquisa aqui realizada, pode-se perceber que, de fato, os jogos digitais, e não somente eles, são uma constante no processo de desenvolvimento infantil/adolescente. Os jogos tornam-se meios, mesmo que involuntariamente, capazes de influenciar, por vezes, os indivíduos que os utilizam. No entanto, essa influência não se limita a um padrão que o jogador copia da virtualidade e a reproduz no seu contexto. Ela se refere a conteúdos implícitos presentes nesses jogos, onde acontece de os próprios jogadores não perceberem. Assim, acredito que os jogos como um todo merecem uma atenção mais específica. Isso porque como eles estão tão presentes no cotidiano de nossos conhecidos e se tornaram tão comuns que, às vezes, não olhamos para o seu conteúdo de forma critica, o utilizando indiscriminadamente. A Psicologia então pode se valer de seus instrumentos teóricos e metodológicos a fim de estudar mais profundamente esse aspecto, visto que o uso desses recursos lúdicos é extremamente corriqueiro. Além disso, convém citar também a importância e necessidade de agregar os jogos no âmbito educacional. Isso porque acredito que os jogos podem ser um forte aliado a fim de despertar o interesse dos alunos frente ao seu processo de educação. No entanto, esses jogos devem ser utilizados de forma a instigar o aluno, não sendo ele mais uma ferramenta de ensino. Ele deve ser um inovador. É importante destacar também que a partir dessa pesquisa, que proporcionou o contato com diferentes autores e consequentemente com diferentes pensamentos, a autora teve modificado um pensamento, que já havia estabelecido antes mesmo da realização do projeto. Esse pensamento se resumia no fato que ela acreditava que os jogos eram ditadores de comportamentos. Eles influenciavam diretamente as ações de seus jogadores. No entanto, com a leitura de diversos artigos, entre outros, a acadêmica percebeu que o indivíduo não pode ser recortado a apenas uma coisa. Ele não pode ser visto apenas como um jogador. Seu contexto social deve ser analisado, para que assim possa haver uma leitura completa e dinâmica de seu funcionamento. Além disso, para a pesquisadora acima, o conteúdo dos jogos digitais, em sua maioria, eram violentos, o que, a seu ver, favorecia o estabelecimento de comportamentos agressivos, onde esses jogos não tinham a oportunidade de ser utilizado como um auxiliador em um processo de aprendizagem. No entanto, o que se 48 percebeu a partir de leituras foi que existem outros jogos que podem ser usados como auxiliador em um processo educacional, sendo eles passiveis de utilização. Por fim, acredito que a Psicologia, bem como outras áreas, deve ter como um dos seus campos de atuação a pesquisa. Isso porque esta é uma área por vezes esquecida e desvalorizada. As pessoas esquecem que a pesquisa proporciona um maior conhecimento de um tema específico, possibilitando posteriormente uma intervenção e atuação, a fim de resguardar e priorizar o bem estar social e individual. 49 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVES, Lynn. Relações entre os jogos digitais e aprendizagem: delineando percursos. Educação, formação & tecnologias. Vol. 1 [2]. Novembro de 2008. Aceso em 28 de maio de 2011. Disponível em http://eft.educom.pt/index.php/eft/article/viewFile/58/38. ARCE, Alessandra. O jogo e o desenvolvimento infantil na teoria da atividade e no pensamento educacional de Friedrich Froebel. Campinas – SP, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v24n62/20089.pdf. Acesso: 10 de outubro de 2010. BIANCHETTI, Lucídio. Da chave de fenda ao laptop: tecnologia digital e novas qualificações: desafios à educação. Petrópolis/Florianópolis: Ed. Vozes e Ed. Da UFSC, 2001. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. CALVINO, Manuel. Mesa de abertura Congresso Mídia e psicologia: produção de subjetividade e coletividade. in:. Conselho Federal de Psicologia. Mídia e psicologia: produção de subjetividade e coletividade. 2.ed. / Conselho Federal de Psicologia. – Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009. CERVO, A.L.; BERRIAN P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron Books, 1996. CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 1995. CONDE, Diva Lúcia Gautério. A produção dos sujeitos: a tensão entre cidadania e alienação. in:. Conselho Federal de Psicologia. Mídia e psicologia: produção de subjetividade e coletividade. 2.ed. / Conselho Federal de Psicologia. – Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009. Conselho Federal de Psicologia, Mídia e psicologia: produção de subjetividade e coletividade. 2.ed. / Conselho Federal de Psicologia. – Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009. CRUZ & RIBEIRO, Carla e Uirá. Metodologia Científica: teoria e prática. 2ª edição. Rio de Janeiro: Axcel Books. DIAS, Romualdo; NETO, Vitor Janei. Jogos eletrônicos e políticas de subjetivação. 2006. Acesso em 28 de maio de 2011. Disponível em http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario2/trabalhos/vitorjanei_romuladodias.p df. FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2006. 50 GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. _____. Método e Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1995. GUARESCHI, Pedrinho. A produção dos sujeitos: a tensão entre cidadania e alienação. in:. Conselho Federal de Psicologia. Mídia e psicologia: produção de subjetividade e coletividade. 2.ed. / Conselho Federal de Psicologia. – Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009. KERLINGER, F. N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento conceitual. São Paulo: EPU, 1980. LAKATOS, Eva Maria; ANDRADE Marina. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 1992. LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. _____. O que é o virtual. São Paulo: Ed. 34, 1996. LUDKE, Menga e ANDRÉ, E. D. A. Marli. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. MEDEIROS, Márcia Duarte; SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira. Jogos eletrônicos e produção de subjetividade: reflexões sobre as realidades virtuais. Diversa. Ano I – no. 2. Pp. 117-129. Jul./Dez. 2008. Acesso em 29 de maio de 2011. Disponível em http://www.ufpi.br/subsiteFiles/parnaiba/arquivos/files/rded2ano1_artigo07_Marcia_Medeiros.PDF. MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.), DESLANDES, Suely Ferreira & GOMES Romeu. Pesquisa social. Teoria método e criatividade. 25° ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. MOLON, Susana Inês. Cultura – a dimensão psicológica e a mudança histórica e cultural. III Conferência de Pesquisa Sócio-Cultural. Campinas - SP, 2000. Disponível em: http://www.chasqueweb.ufrgs.br/~slomp/vygotsky/ufsc-vygotsky.htm. Acesso: 7 de outubro de 2010. _____. Constituição do sujeito, subjetividade e sofrimento ético-político. Florianópolis, UFSC – 2003. Disponível em: http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/576-of9st2.pdf. Acesso: 10 de outubro de 2010. NOVAES, José. Seminário Nacional Mídia e Psicologia: produção de subjetividade e coletividade. in:. Conselho Federal de Psicologia. Mídia e psicologia: produção de subjetividade e coletividade. 2.ed. / Conselho Federal de Psicologia. – Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009. 51 PALANGANA, Isilda Campaner. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky: a relevância do social. Ano - 1994. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/34136557/Desenvolvimento-e-Aprendizagem-em-Piaget-eVygotsky-ISILDA-CAMPANER-PALANGANA. Acesso em 10 de outubro de 2010. PINO, Angel. Técnica e semiótica na era da informática. Workshop do Projeto Sapiens. FE – Unicamp, 2001. QUEIROZ, Norma Lucia Neris de; MACIEL, Diva Albuquerque; BRANCO, Angela Uchôa. Brincadeira e desenvolvimento infantil: um olhar sociocultural construtivista. Paidéia, 2006, 16(34), 169-17 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/paideia/v16n34/v16n34a05.pdf. Acesso em 21 de junho de 2011. RAMOS, Daniela Karine. Jogos eletrônicos e a construção do juízo moral, das regras e dos valores sociais. Universidade Federal de Santa Catarina. 2006. Disponível em: http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/seminario2/trabalhos/danielaramos.pdf. Acesso: 12 de junho de 2010. REY, Fernando Luis González. A pesquisa e o tema da subjetividade em educação. GT Psicologia da Educação, 2001. Disponível em: www.google.com.br. Acesso: 10 de outubro de 2010. _____. Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico-cultural. São Paulo: Thomson, 2003. _____. O social na psicologia e a psicologia social: a emergência do sujeito. Petrópolis: Editora Vozes, 2004. RICHARDSON, Roberto e colaboradores. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. SALA, Xavier Bringué; CHALEZQUER, Charo Sábada. A geração interativa na Ibero-América: crianças e adolescentes diante das telas. Publicada em 2009. Acesso em 26 de abril de 2011. Disponível em http://www.lapic.webutil.com.br/eca/links/LivroGGII_Port.pdf. SILVA, Susany Garcia da. Jogos educativos digitais como instrumento metodológico na educação infantil. Publicado em 05/09/2010. Acesso em 25 de abril de 2011. Disponível em http://www.psicopedagogiabrasil.com.br/artigos_susany_jogoseducativos.htm. SOUZA, Amanda Aparecida Santos de. O brincar e sua import6ancia frente a teoria de Vygotsky e sua contribuição para a educação infantil. Universidade Estadual de Londrina, 2009. Acesso em 21 de junho de 2011. Disponível em http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/AMANDA%20APARECIDA%20SANTOS%20 DE%20SOUZA.pdf. 52 VARGAS, Sandra Rejane Silva; PAVELACKI, Luiz Fernandes. A importância dos jogos no desenvolvimento educacional da criança. ULBRA/Guaíba – RS. Acesso em 20 de junho de 2011. Disponível em http://guaiba.ulbra.tche.br/pesquisa/2005/artigos/psicologia/12.pdf. VIANA, Claudemir Edson. O lúdico e a aprendizagem na cibercultura: jogos digitais e Internet no cotidiano infantil. LAPIC – Laboratório de Pesquisas sobre Infância, Imaginário e Comunicação (ECA/USP);FAMEC – Faculdade de Educação e Cultura Montessori. 2005. Disponível em: http://www.portcom.intercom.org.br/novosite/pdfs/69889948440058341650723118572 488370997. Acesso: 03 de outubro de 2010. _____. Jogos digitais e internet no cotidiano infantil. Publicado em 30/07/2007. Acesso em 26 de abril de 2011. Disponível em http://www.educarede.org.br/educa/index.cfm?pg=internet_e_cia.informatica_principal &id_inf_escola=622. _____. Aprender é divertido: games e escola. Publicado em 30/07/2011. Acesso em 25 de abril de 2011. Disponivel em http://www.educarede.org.br/educa/index.cfm?pg=revista_educarede.especiais&id_espe cial=583. VIGOTSKY, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone: Editora da Universidade de São Paulo, 1988. _____. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. ZANELLA, Andréa Vieira. Vygotski: Contexto, contribuições à psicologia e o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Editora Univali, 2001. 53
Download