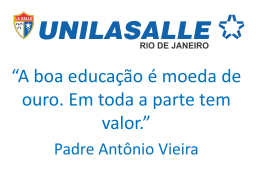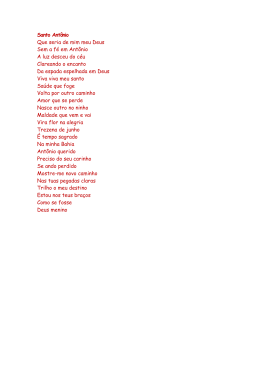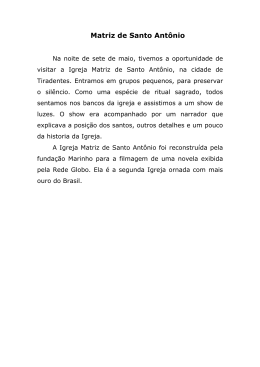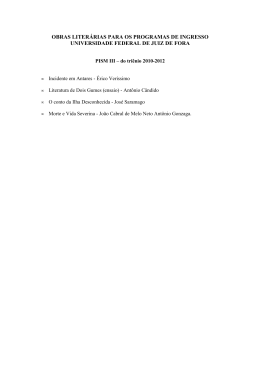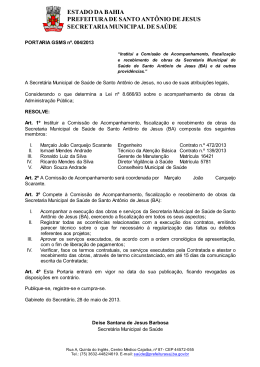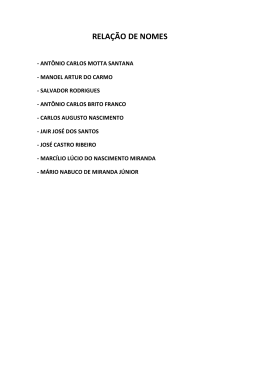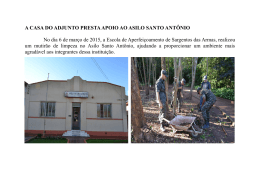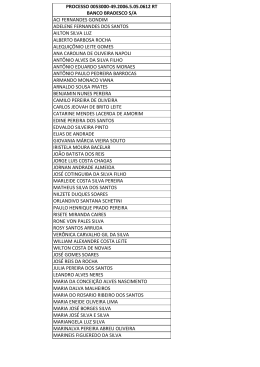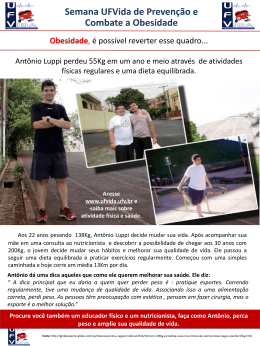UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DEPARTAMENTO DE DIREITO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NAYARA DE SOUZA RODRIGUES A ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Natal/RN 2014 NAYARA DE SOUZA RODRIGUES A ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Trabalho de Conclusão de Curso orientado pelo Professor Fabrício Germano Alves, a ser apresentado à Banca Examinadora do Departamento de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito. Natal/RN 2014 Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA Rodrigues, Nayara de Souza. A ilegalidade da interrupção do serviço público essencial sob o prisma do código de defesa do consumidor/ Nayara de Souza Rodrigues. - Natal, RN, 2014. 56f. Orientador: Profº. M. Sc. Fabrício Germano Alves. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de Direito. 1. Defesa do consumidor - Monografia. 2. Serviço público - Monografia. 3. Princípio da continuidade - Monografia. I. Alves, Fabrício Germano. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. RN/BS/CCSA CDU 366.5 Dedico esta obra ao único Deus vivo, sem o qual nada disso seria possível. À minha família, motivo de maior felicidade. A Vítor, pela compreensão e incentivo. AGRADECIMENTOS Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de viver e pela conquista de ingressar no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Segundo, aos meus familiares, por todo amor dedicado a mim. À minha mãe, por ser símbolo de luta e perseverança. Aos meus irmãos, pelo companheirismo. Agradeço, ainda, aos professores da UFRN, grandes mestres cujos exemplos fizeram parte das escolhas dos caminhos a seguir. Agradeço, por fim, ao Professor MSc. Fabrício Germano Alves, pela parceria iniciada desde a monitoria e por todo o esforço e assistência empreendidos nesse trabalho. Quem me dera ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto Como o mais importante Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente... Índios – Legião Urbana RESUMO Serviço público constitui a atividade assumida pelo Estado ou por seus delegados, que exerçam o oferecimento de utilidade ou comodidade destinada à satisfação da coletividade. Esse serviço passa a ser essencial no momento em que em se torna urgente e inadiável a sua utilização. Segundo a Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) todos os serviços essenciais devem ser contínuos. No entanto, com a edição da Lei Federal nº 8.987/1995 instituiu-se a possibilidade de interrupção da prestação dos serviços públicos, mesmo sendo considerados essenciais, na hipótese de inadimplemento do usuário, desde que este seja avisado previamente. Em face disso, surge um conflito entre as duas referidas disposições normativas, que divide não somente a doutrina, mas também a jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, que ora apresentam entendimento no sentido da ilegalidade da interrupção, tomando como principal fundamento o Código de Defesa do Consumidor, ora seguindo as disposições normativas contidas na Lei Federal nº 8.987/1995, decidem pela legalidade da interrupção. Perante tal conflito, o presente trabalho se propõe a analisar as referidas legislações, juntamente com os posicionamentos expostos na doutrina e na jurisprudência a fim de se demonstrar que a ilegalidade da interrupção do serviço público essencial é a vertente que melhor se adéqua ao ordenamento jurídico brasileiro. Palavras-chave: Serviço público. Princípio da continuidade. Lei de Greve. Cobrança abusiva. Consumidor. ABSTRACT Public service is the activity assumed by the State or its agents, engaged in offering utility or amenity designed to meet the community . This service has become essential in the moment that becomes urgent and pressing its use . According to a Federal Law No. 8.078/1990 ( Consumer Defense Code ) all essential services should be continuous . However , with the edition of the Federal Law No. 8.987/1995 that established the possibility of interruption of the provision of public services , even being considered essential in the event of default by the user, since he is forewarned . Given this , a conflict between two legal provisions , which divides not only the doctrine but also the jurisprudence including the higher courts , sometimes they have understanding towards illegality of interruption, taking as the main foundation the Consumer Defense Code, and sometimes following the rules and regulations contained in the Federal Law 8.987/1995, deciding the legality of the interruption . Faced with this conflict , this paper aims to examine these laws , along with the positions stated in the doctrine and jurisprudence in order to demonstrate that the illegality of the interruption of essential public service is the part that better suit the Brazilian legal system . Keywords: Public service. Principle of continuity. Strike Law. Abusive collection. Consumer. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO.....................................................................................................10 2 SURGIMENTO E CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL..................................................................................12 3 CAMPO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR22 3.1 CONCEITO DE CONSUMIDOR..........................................................................22 3.2 CONCEITO DE FORNECEDOR..........................................................................27 3.3 CONCEITO DE PRODUTOS E SERVIÇOS........................................................28 3.4 CARÁTER PRINCIPIOLÓGICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR............................................................................................................29 4 CONSUMO DE SERVIÇOS PÚBLICOS...............................................................31 4.1 A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS................................................................................................31 4.2 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS..................................................................................................................35 4.3 A PREVISÃO LEGAL DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL....................................................................................................................40 5 FUNDAMENTOS DA IMPOSSIBILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL...........................................................................42 6 CONCLUSÃO.............................................................................................................52 REFERÊNCIAS.............................................................................................................54 10 1 INTRODUÇÃO A participação do Poder Público em muitos setores do fornecimento de produtos e serviços é imprescindível, levando-se em consideração a necessidade da sociedade e a consecução da cidadania e dignidade da pessoa humana, fundamentos da República Federativa do Brasil, estampados, respectivamente no artigo 1º, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988. Não é possível conceber, por exemplo, a realização de algumas atividades diárias sem a prestação de energia elétrica, sem o tratamento de água, sem o transporte coletivo. Alguns desses serviços estão, inclusive, ligados a própria existência digna do ser humano, de forma que a sua ausência pode acarretar danos na órbita patrimonial e moral dos indivíduos. A Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) determina em seu artigo 22, caput que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, devem manter a continuidade dos serviços públicos essenciais. Em razão disso conclui-se que os serviços que se enquadrarem na categoria de essenciais não devem ser interrompidos. Em sentido contrário, a Lei Federal nº 8.987/95, que veio regulamentar a concessão e permissão da prestação do serviço público, em obediência ao disposto no artigo 175 da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, §3º, II, dispôs que o regime regulamentado na mesma possibilita a interrupção do fornecimento do serviço, independentemente de ser essencial ou não, na hipótese de inadimplência do consumidor, tendo em vista o interesse da coletividade, exigindo-se, para isso, tão somente aviso prévio. Segundo o disposto no referido dispositivo legal, a interrupção do serviço não se caracteriza como descontinuidade da prestação do mesmo. Em vista da contrariedade existente entre os citados dispositivos legais surgiu uma discussão, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial a respeito da possibilidade jurídica da interrupção no fornecimento do serviço público essencial, prestado por empresas concessionárias ou permissionárias. Afinal, o serviço público essencial pode ser interrompido? O principal objetivo deste trabalho consiste em estudar as principais nuances que permeiam a referida discussão, por meio de uma análise da própria legislação referente ao tema, juntamente com a doutrina e algumas decisões proferidas por 11 Tribunais, com o fim de demonstrar que a interrupção do serviço público essencial é ilegal, posto que afronta o microssistema consumerista. Para isso, se abordará, primeiramente, o contexto histórico e social de surgimento, no Brasil e no mundo, de um sistema regulamentador das relações de consumo, para se entender o porquê da necessidade de se existir um microssistema de proteção à parte mais vulnerável dessa relação jurídica – o consumidor. Feito isso, conceitua-se a relação de consumo bem como os personagens que fazem parte da mesma a fim de para delimitar o campo de atuação do Código de Defesa do Consumidor e demonstrar como a utilização do serviço público configura uma relação jurídica de consumo, o que enseja a possibilidade de aplicação de toda a normatização protetiva do consumidor. Em seguida, serão analisadas as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor que são relacionadas ao consumo de serviços públicos e como a prestação do serviço se insere nesta seara. Neste momento, será discutida a questão da obrigatoriedade de continuidade dos serviços públicos essenciais que foi instituída pelo diploma consumerista. Logo após, tratar-se-á da possibilidade de interrupção na prestação dos serviços públicos instituída pela Lei Federal nº 8.987/1995, analisando os principais critérios e fundamentos utilizados para a referida consagração. Por último, após se vislumbrar o confronto entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de concessão e permissão de serviço público, serão abordados alguns posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais que sustentam tanto a possibilidade de interrupção na prestação do serviço público essencial quanto a sua impossibilidade. E feito isso, se demonstrará que a vertente mais adequada ao microssistema consumerista e a Constituição Federal é a da impossibilidade da interrupção do serviço público essencial. 12 2 SURGIMENTO E CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL Os pressupostos formadores da legislação de consumo necessitam ser apontados para se entender adequadamente porque o Código de Defesa do Consumidor traz um regramento de alta proteção ao consumidor na sociedade capitalista contemporânea. Durante muito tempo, o consumidor foi identificado com outros nomes, como contratante, cliente, comprador, ou seja, denominações neutras que indicavam uma visão individualista de seus direitos, raramente se visualizando o aspectos dos interesses metaindividuais existentes em um grupo de pessoas com os mesmos problemas e dificuldades1. A Revolução Industrial aumentou demasiadamente a produtividade do homem, graças ao desenvolvimento tecnológico, em que a produção passou a ser de massa, acompanhando o crescimento da demanda motivada pela explosão demográfica. Além disso, houve mudanças no processo de distribuição dos produtos, pois a distribuição passou a ser feita em cadeia, de modo que houve cisão2 entre a produção e a comercialização3. O período pós Revolução Industrial teve como característica o crescimento populacional nas metrópoles, o que gerava, consequentemente, um aumento de demanda e aumento de oferta de produtos e serviços, criando-se uma verdadeira sociedade de massa, caracterizada pela produção em série e pelo alto consumo. Pensouse então em formular-se um modelo capaz de entregar, para o maior número de pessoas, mais produtos e mais serviços. Surge então a produção homogeneizada, em série, que culminou na diminuição profunda dos custos e no aumento da oferta, indo atingir a mais larga camada de pessoas. Tal modelo de produção teve incremento na Primeira Guerra Mundial, mas somente se solidificou e cresceu em nível extraordinário a partir da Segunda Guerra Mundial com o surgimento da tecnologia de ponta, do fortalecimento da informática, da melhoria das telecomunicações etc. Na segundo metade do século XX esse sistema 1 MARQUES, Cláudia Lima. Introdução ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor, 3. ed.São Paulo: Revista dos tribunais, 2010. p.29. 2 Antes, era o próprio fabricante quem se encarregava da distribuição dos seus produtos, tendo, assim, total domínio do processo produtivo, pois sabia o que fabricava, o que vendia e a quem vendia. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 2. 3 Ibid., p. 2. 13 passa a avançar sobre o mundo, de tal modo que permitiu a criação de uma sociedade de massa, pautado pelas inúmeras transações comerciais e trocas de informação4. Uma característica desse modelo é o fato de na produção existir um planejamento unilateral pelo fabricante, o qual vinha acompanhado de um modelo contratual. Este era planejado da mesma forma que a produção, de modo que o modelo de todos os contratos seguia o mesmo padrão, justamente pela inviabilidade de se criar um contrato diferente para cada produto vendido – eram os chamados contrato de adesão5. O surgimento de contratos coletivos de adesão, em meio a falta de uma disciplina jurídica eficiente e moderna, fez emergir práticas abusivas de toda ordem, resultando em insuportáveis desigualdades econômicas e jurídicas entre o fornecedor e o consumidor. Os remédios contratuais clássicos não evoluíram e se revelaram ineficazes na defesa efetiva do consumidor. O Direito Privado, marcado pela autonomia da vontade, pelo pacta sunt servanda e responsabilidade fundada na culpa, veio, cedo ou tarde, a sucumbir6. O movimento consumerista apareceu ao mesmo tempo em que o sindicalista, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, em que se reivindicavam melhores condições de trabalho e melhoria da qualidade de vida, em plena sintonia com o binômio “poder aquisitivo/aquisição de mais e melhores bens e serviços”7. Nos Estados Unidos, a proteção ao consumidor havia começado em 1890 com a Lei Shermann8, que é a Lei antitruste americana. Em uma sociedade que se construía sob o capitalismo de massa, surgiu a proteção ao consumidor um século antes do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. No entanto, ainda que houvesse uma Lei que visasse à proteção ao consumidor, a consciência social e cultural de defesa da parte mais fraca na relação de consumo só ganhou fôlego a partir de 1960, especialmente com o surgimento de associações9 dos consumidores10. 4 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Curso de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.41. Ibid., p. 42. 6 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 3. 7 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 31. 8 Formulada por John Shermann, a Lei Shermann foi um ato de regulação que visava garantir a concorrência entre as empresas nos Estados Unidos. 9 Em Nova York, por exemplo, Josephine Lowell criou a New York Consumers League, uma associação de consumidores que tinha por objetivo lutar por melhores condições no local de trabalho, bem como contra a exploração do trabalho feminino nas fábricas ou no comércio. Tal associação elaborava listas contendo o nome dos produtores que respeitavam os direitos dos trabalhadores, visando que os 5 14 Além disso, um discurso de John F. Kennedy em 196211 é considerado como o início da reflexão jurídica mais profunda quanto aos direitos do consumidor, pois nele o presidente enumerou os seus direitos12 e os colocou como um desafio para o mercado. Do seu surgimento nos Estados Unidos, a ideia conquistou facilmente a Europa e demais países capitalistas consolidados na época13. No Brasil, contudo, demorou a surgir legislativamente14. O homem do século XX vivia em função de um modelo novo de associativismo, qual seja, a sociedade de consumo caracterizada por um número crescente de produtos e serviços, pelo domínio do crédito e marketing, bem como pelas dificuldades de acesso a justiça, aspectos esses que marcaram o nascimento e desenvolvimento do Direito das Relações de Consumo como disciplina autônoma15. Por sua vez, a ONU em 1985, estabeleceu, através da Resolução 39/248, diretrizes para essa legislação ao estabelecer que se trata de um direito humano de nova geração, um direito social e econômico, um direito de igualdade material do mais fraco, do cidadão civil nas suas relações privadas, frente aos profissionais, empresários, empresas, que nessa posição são considerados em posição de poder. consumidores preferissem escolher produtos oferecidos por eles. Era uma forma de influenciar a conduta das fábricas e empresas pelo poder de compra dos consumidores. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 4.). 10 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 40. 11 Em seu discurso, Kennedy considerou que todos somos consumidores em algum momento de nossas vidas, tendo esse papel social, sendo o maior grupo econômico na economia. Mas é o único grupo importante da economia não eficazmente organizado e cujos posicionamentos quase nunca são ouvidos. 12 Kenedy enumerou os direitos básicos do consumidor em direito à saúde, à segurança, à informação, à escolha e a serem ouvidos. Direito a saúde consistia na proteção do consumidor contra a venda de produtos que colocassem em risco a saúde ou a vida. Direito de ser informado seria a proteção contra informação e publicidade enganosa, fraudulenta, ou capaz de induzir ao erro e garantia do recebimento de todas as informações indispensáveis a uma escolha esclarecida. O direito de escolher seria em assegurar ao consumidor o acesso a variedade de produtos, quando possível, e quando não fosse possível a competição, fosse assegurado preços justos. O direito de ser ouvido consistiria na garantia de os interesses dos consumidores serem levados em consideração na formulação de políticas governamentais (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 56). 13 Isso porque o direito do consumidor é direito social típico das sociedades capitalistas industrializadas, onde os riscos do progresso devem ser compensados por uma legislação tutelar, protetiva e subjetivamente especial (MARQUES, Cláudia Lima. Introdução ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe . Manual de direito do consumidor, 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010, p. 30). 14 MARQUES, Cláudia Lima. Introdução ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe . Manual de direito do consumidor, 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010, p. 29. 15 GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio H. de Vasconcelos. Introdução. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 6. 15 No Brasil, a defesa do consumidor começou a ser discutida de maneira tímida, nos primórdios dos anos 70, com a criação de associações civis e entidades governamentais voltadas para tal fim16. Não obstante isso, o consumidor brasileiro só veio a despertar sobre seus direitos na segunda metade da década de 80. Observa-se que a Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, trouxe diversos direitos e garantias fundamentais, entre os quais se encontra a defesa do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, CF)17. Por sua vez, o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que o Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, deveria elaborar um Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor só surgiu em 11 de setembro de 1990, instituído pela Lei Federal nº 8.078, sendo assim, durante praticamente um século aplicava-se às relações de consumo simplesmente os princípios e regras contidas no Código Civil de 1916. Tal fato acabou influindo na maneira como se enxerga as relações de consumo, o que gera dificuldades para interpretar e compreender um texto que é bastante claro, curto e que regula especificamente as relações que envolvem os consumidores e os fornecedores18. Dessa forma, até o advento do Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de massa, conhecidos como contrato de adesão aplicava-se o Código Civil, regido pelo pacta sunt servanda, o que resultou em problemas sérios para a compreensão do novel Diploma que protege o consumidor na relação consumerista. O problema residia no fato de que nos contratos civis as partes decidem em igualdade de condições, acordando as cláusulas que viriam a reger o contrato pactuado entre eles, devendo o contrato representar a vontade subjetiva das partes contratantes, que estavam presentes quando de sua formulação. E uma vez as partes acordando livremente sobre suas vontades subjetivas, os pactos deveriam ser cumpridos. 16 Como a CONDECOM, conselho de defesa do consumidor, criado em 1974, no RJ e a criação do Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, que previa como órgãos centrais O Conselho Estadual de Proteção ao Consumidor e o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, criados pelo Decreto nº7.890. 17 A inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental (art. 5, XXXII) na Constituição Federal de 1988 significa uma garantia constitucional deste ramo do direito privado, um direito objetivo de defesa do consumidor. É a chamada “força normativa” da Constituição, que vincula o Estado e os intérpretes da lei, que devem aplicar este direito de proteção dos consumidores. (MARQUES, Cláudia Lima. Introdução ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010, p. 33). 18 . NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 40. 16 No entanto, esse princípio não se adéqua às relações jurídicas de consumo. Justamente porque na maioria dos casos o consumidor não decide nem negocia sobre as cláusulas contratuais que vai assinar. O que acontece são as assinaturas em massa de contratos de adesão no ato de compra de bens ou solicitação de serviços. É isso que o Código de Defesa do Consumidor pretende controlar, e é sobre esse ponto de vista que ele deve ser interpretado, pois o mesmo surgiu para defender o consumidor, colocandoo em patamar de igualdade jurídico material com o fornecedor. O mercado de consumo, por si só, não apresenta mecanismos eficientes para superar a vulnerabilidade do consumidor, nem mesmo para mitigá-la. Dessa forma, é imprescindível a intervenção do Estado nas esferas do Legislativo, por meio da formulação de normas jurídicas de consumo, do Executivo por meio do implemento das Leis e do Judiciário que age dirimindo conflitos decorrentes dos esforços de formulação e de implementação19. O Código de Defesa do Consumidor, em vigor desde 11 de março de 2011, representou uma enorme conquista na sociedade brasileira. São poucas as sociedades – principalmente entre os denominados países em desenvolvimento – que têm o privilégio de dispor de uma Lei avançada como a que instituiu o microssistema consumerista brasileiro. O referido Código coloca o consumidor não apenas como a parte contratante em trocas individuais, mas também como parte de um grupo econômico, abarcando para isso, a natureza coletiva e difusa da relação de consumo. Apesar de atrasado em relação ao tempo determinado para a sua elaboração, o Código de Defesa do Consumidor acabou tendo resultados positivos, porque os autores do anteprojeto trouxeram o que havia de mais moderna na proteção do consumidor, de modo que atualmente, essa Lei brasileira já inspirou a Lei de proteção ao consumidor de outros países, como Argentina, Paraguai e Uruguai20 A Constituição Federal do Brasil de 1988 trouxe o arcabouço necessário para que fosse construído no ordenamento jurídico brasileiro, um microssistema de proteção às relações de consumo, optando o legislador constituinte por incluir a proteção ao consumidor no elenco dos direitos fundamentais21 do artigo 5º22, tornando dever do 19 GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio H. de Vasconcelos. Introdução. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 7. 20 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 41. 21 Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, contidos em dispositivos constitucionais e que por isso encerram caráter normativo supremo dentro do 17 Estado a sua efetivação23, presumindo-se a posição de vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, conforme artigo 4, I da Lei nº 8.078/90.24 A Lei Federal nº. 8.078/90 é Código por determinação constitucional, conforme artigo 48 da ADCT25. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é Lei principiológica, entendida essa como aquela que ingressa no sistema jurídico, atingindo toda relação jurídica que possa ser caracterizada como de consumo, ainda que esteja regrada por outra disposição normativa infraconstitucional, de modo que, naquilo que com elas colidirem, perdem eficácia por tornarem-se nulos de pleno direito26. O caráter principiológico específico do Código de Defesa do Consumidor é apenas e tão somente um momento de concretização dos princípios e das garantias outorgados pela Constituição Federal como cláusula pétrea27, não podendo, pois, ser alterados. E mais, à frente de todos está o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, como princípio a imantar todos os demais e as normas constitucionais e infraconstitucionais, apresentando-se a estes como limite intransponível28. A rigor, como a figura do consumidor, em larga medida, se equipara a do cidadão, todos os princípios e normas constitucionais aplicáveis aos cidadãos são Estado, e tem como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. (DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2.ed.São Paulo: Revista dos tribunais, 2009.p.46-47). 22 Os direito fundamentais, são, de modo geral, considerados concretizações das exigências do princípio da dignidade da pessoa humana. (SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.p.109). 23 A locução direitos fundamentais é reservada aos direitos relacionados com posições ocupadas pelas pessoas, inscritos em textos normativos de cada Estado, sendo, portanto, direitos que vigem numa ordem jurídica concreta, garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são assegurados na medida em que cada Estado os consagra (BRANCO, Paulo G. Gonet. Teoria Geral dos direitos fundamentais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo G. Gonet. Curso de direito constitucional. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.167.). 24 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda A. P. Serrano. Código de defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 2. 25 Assim dispõe o artigo 48 da ADCT: “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor” 26 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 111. 27 Assim dispõe o artigo 60 §4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; II - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. Assim, a Constituição Federal de 1988 trouxe vedações de natureza material na formulação de emendas constitucionais, tendo vedado proposta de emenda que venha a abolir ou diminua o alcance das normas que disponham sobre os direitos e garantias individuais. Já entendeu a doutrina majoritária que o rol de direitos estampados no artigo 5º da CF de 1988 constituem-se direitos e garantias individuais, não podendo ter seu alcance reduzido nem mitigado, constituindo-se, portanto, cláusulas pétreas. 28 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.111. 18 também extensíveis ao consumidor pessoa física. Assim, os princípios fundamentais instituídos no artigo 5º, no que forem compatíveis com a figura do consumidor na relação de consumo, são aplicáveis como comando normativo constitucional.29 A elaboração do Código de Defesa do Consumidor encontra, portanto, sua fonte inspiradora diretamente no corpo da Constituição Federal. De fato, o legislador constituinte, além de, ao cuidar dos Direitos e Garantias Fundamentais, estabelecer em seu artigo 5º, inciso XXXII que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, ainda entendeu por bem, em seu artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinar que o Congresso Nacional elabore o Código de Defesa do Consumidor dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição30. O próprio enunciado do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor demonstra que a sua promulgação se deve a mandamento constitucional expresso31. Tal preocupação é também encontrada no artigo 170 da Constituição Federal que cuida da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e desde que observados, dentre outros princípios, a defesa do consumidor32. Ainda em nível constitucional, o direito do consumidor aparece também no artigo 175, inciso II Constituição Federal, ao estabelecer que incube ao Poder Público, na forma da Lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, através de licitação, a prestação de serviços públicos. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada em meio aos ideais de redemocratização do Brasil, e é nesse contexto que é criado o Código de Defesa do Consumidor,33 destacando-se preocupação do constituinte para com os direitos 29 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.111.p.50. 30 GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio H. de Vasconcelos. Introdução. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 8. 31 Assim dispõe o artigo 1º da Lei Federal nº 8.078/90: Art. 1°: O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 32 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 22. 33 O direito privado recebe atualmente uma influência direta da Constituição, da nova ordem pública por ela imposta, e muitas relações particulares que antes eram deixadas a livre vontade dos contratantes, obtém uma importância nova ao ponto de receber forte controle estatal, que denota o domínio das linhas de ordem pública constitucional sobre as relações privadas (MARQUES, Cláudia Lima. Introdução ao direito do consumidor. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe . Manual de direito do consumidor, 3.ed.São Paulo: Revista dos tribunais, 2010. p.36). 19 metaindividuais, bem como com os direitos individuais pertencentes à seara consumerista34. A ratio essendi desse diploma legal, é, portanto, oferecer instrumentos capazes de propiciar a isonomia, uma vez detectada a posição de inferioridade ocupada pelo consumidor na relação de consumo, de modo que deve o Estado lançar mão de um meio apto a oferecer ao polo vulnerável mecanismos para sua proteção dirigidos às partes em questão, e aos operadores do direito”.35. O ranço ainda presente no ultraliberalismo é que faz com que alguns ainda resistam aos novos preceitos constitucionais, que não apenas fazem da defesa do consumidor um direito individual e social, porquanto elencado dentre os preceitos do artigo 5º da Constituição da República, e, portanto, oponível ao próprio Estado, da mesma forma que os tradicionais direitos individuais, como também do consumidor, o destinatário final de tudo quanto é produzido36. Remeta-se aos princípios gerais da atividade econômica, estampado no art. 170 da Constituição Federal37, em que é revelado que a livre iniciativa é uma garantia constitucional, mas que a própria Constituição Federal coloca limite nesse direito. Sendo assim, conclui-se que o mercado de consumo não pertence a quem o explora; do contrário, ele é da sociedade e em função dela é que é permitida a sua exploração. Em decorrência disso, o explorador tem diversas responsabilidades a saldar no ato exploratório. E, ainda, o seu lucro é uma decorrência lógica e natural da exploração permitida, não podendo ser ilimitado, pois encontrará resistência e terá de ser refreado toda vez que puder causar dano ao mercado e à sociedade38. 34 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda A. P. Serrano. Código de defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1. 35 Ibid., p. 5. 36 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais . In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 53. 37 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 38 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 101. 20 Além disso, vê-se que a defesa do consumidor é um princípio que deve ser seguido pelo Estado e pela sociedade para atingir a finalidade de existência digna e justiça social. Ainda, extrai-se da leitura do artigo 170 da Constituição Federal, que o Brasil adotou o modelo de economia capitalista de produção, já que a livre iniciativa é um princípio basilar da economia de mercado. No entanto, o legislador constituinte deixou claro no artigo 170, inciso V, que o Estado deverá fazer a defesa do consumidor contra os possíveis abusos do fornecimento de consumo39. Ao se estipular como princípios a livre concorrência no artigo 1, inciso IV e a defesa do consumidor, em seu artigo 5º, inciso XXXII, o legislador constituinte está informando que nenhuma exploração poderá atingir os direitos outorgados aos consumidores, trazidos não só pela Constituição Federal como também pelas normas infraconstitucionais. Ainda, o artigo 37, caput, da Constituição Federal estabelece que a administração pública direta e indireta, dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Essa redação foi alterada pela Emenda Constitucional n.19 de 4 de junho de 1998, que incluiu o termo “eficiência” no texto normativo. Daí retira-se que quanto aos serviços públicos, a Constituição Federal determinou que eles fossem eficientes. Mas o artigo 17540, inciso IV da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o Poder Público, seja diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, tem a obrigação de manter serviço público adequado. Assim, observa-se, que não deve haver tão somente adequação, mas o serviço tem ainda que ser eficiente, cumprindo sua finalidade de modo concreto. Deve, portanto, funcionar bem. Por fim, consigne-se que, para interpretar adequadamente o CDC, necessário se faz entender que as relações jurídicas decorrentes da relação de consumo são atreladas ao sistema de produção massificado, o qual impõe que se deva privilegiar o coletivo e o difuso, bem como que se leve em consideração que as relações jurídicas são fixadas de 39 DENSA, Roberta. Direito do Consumidor.8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Série leituras jurídicas – provas e concursos). p. 3. 40 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a obrigação de manter serviço adequado. 21 forma unilateral uma das partes - fornecedor -, vinculando de uma só vez milhares de consumidores, o que demonstra claro rompimento com o direito privado”41. 41 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.114. 22 3 CAMPO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Para que haja a efetiva proteção ao consumidor, necessário se faz determinar com exatidão se aquele caso se trata de uma relação de consumo e deve, portanto, ser tutelado pelo microssistema consumerista. No caso do Código de Defesa do Consumidor, esse exercício consiste em definir quem são os sujeitos da relação contratual ou extracontratual, posto que o diferencial nesse Código é o seu campo de aplicação subjetivo (consumidor e fornecedor), pois ele se aplica a todas as relações jurídicas entre essas duas partes. A Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC) incidi sobre toda relação jurídica que puder ser caracterizada como de consumo, devendo, para tanto, existir em um dos polos, o consumidor, e no outro, o fornecedor, e estes estejam transacionando produtos ou serviços, sem a finalidade de revenda ou repasse. 3.1 CONCEITO DE CONSUMIDOR A caracterização do consumidor é feita pelo próprio Código em seu artigo 2º, ao dispor que: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No entanto, essa conceituação não é livre de diferentes interpretações, especialmente em relação ao termo “destinatário final”, escolhido pelo legislador. Assim, são três os elementos que compõem o conceito de consumidor direto ou stricto sensu: o conceito subjetivo, que se refere a quem pode assumir o papel de consumidor, que seriam as pessoas físicas ou jurídicas; o objetivo, que seriam os produtos ou serviços adquiridos ou utilizados; e o teleológico, que diz respeito à finalidade perseguida com a aquisição42 do produto ou serviço. Esse elemento é o caracterizador do que vem a ser a expressão “destinatário final”43. Em relação a essa expressão trazida pelo Código, há três teorias que buscam explicar como a aquisição ou utilização de um produto ou serviço, pode de fato 42 Há, ainda, que se consignar que consumidor não é apenas aquele que se dirige ao fornecedor visando a inversão da posse do bem, como também o que utiliza o bem adquirido. O conceito trazido está intimamente ligado à realidade econômica ocupada pelo consumidor (NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda Alves Pinto Serrano de. Código de Defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 13. 43 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado e jurisprudência. 6 ed. Niterói: Impetus, 2010.p.15. 23 caracterizar uma pessoa como consumidora. São elas: teoria maximalista, teoria finalista, e teoria finalista atenuada. Com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, a primeira corrente aplicada era a maximalista, também conhecida como objetiva. Nessa corrente havia uma interpretação extensiva da expressão “destinatário final”, bastando, para ser considerado consumidor, um ato de consumo, ou seja, que se retirasse um objeto do mercado, seja pela aquisição de um produto ou pela contratação de um serviço, necessitando tão somente da destinação final fática, sendo irrelevante se o ato de consumo teria relação ou não com o uso profissional do seu objeto. No entanto, esse entendimento colidia com a finalidade protetiva do microssistema consumerista, uma vez que ele visa proteger a parte vulnerável nas relações de consumo, e se o mesmo fosse utilizado para proteger até mesmo as partes que não possuem essa vulnerabilidade, acabaria por não proteger ninguém44. O risco da ampliação excessiva da aplicação do Código é esvaziar os mecanismos protetivos do mesmo. Ainda, a referida ampliação é indevida, tanto do ponto de vista da técnica de interpretação formal do texto legal quanto na perspectiva de uma hermenêutica preocupada com os fins e efetividade da maior proteção ao consumidor45. A teoria finalista, também chamada de subjetiva, por seu turno, interpreta de maneira mais restritiva a expressão “destinatário final” contida no artigo 2º, caput do Código, determinando que só merece a tutela do Código aquele que é vulnerável, devendo abranger apenas a pessoa não profissional, ou seja, aquela que retira o bem do mercado e coloca fim na cadeia de produção. Deve, portanto, para ser considerado consumidor, além de destinatário final fático, também o destinatário final econômico. Assim, não deverá ser considerado consumidor aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, transformando-o ou oferecendo-o diretamente ao mercado de consumo46. No entanto, a utilização estrita dessa teoria praticamente inviabiliza o reconhecimento da pessoa jurídica como consumidora, o que demonstra total 44 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.p. 60. 45 SUNDFELD, Carlos Arl (Coord.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 244 46 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.p. 61. 24 incompatibilidade com o disposto no Código, que diz claramente que consumidor também pode ser pessoa jurídica47. Por fim, a teoria finalista sofreu certo abrandamento, na medida em que se admite a aplicação das normas do Código de Defesa Do Consumidor, a determinados consumidores profissionais, desde que se demonstre, no caso, a destinação final fática na aquisição de produtos e/ou serviços bem como alguma espécie de vulnerabilidade48, seja ela técnica, jurídica, econômica ou informacional, para que se possa caracterizar uma relação jurídica de consumo. Sendo assim, uma vez comprovada a vulnerabilidade do adquirente ou utilizador do produto ou serviço, não obstante seja ele um profissional, passa-se a considerá-lo consumidor49. Esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência atual50, e o que mais se ajusta ao verdadeiro objetivo do Código de Defesa do Consumidor, tendo dado origem à chamada teoria finalista atenuada ou mitigada51. Assim, determinadas pessoas jurídicas, ainda que desenvolvam atividade econômica voltada para a produção, podem perfeitamente atuar como consumidoras, desde que adquiram bem ou serviço que não se destine a sua atividade produtiva, ou seja, quando forem destinatárias finais do bem52. O verbo adquirir deve ser interpretado na sua função mais ampla, sendo que a ele sucede uma condição expressa de utilização do bem adquirido. Ou seja, não basta que se adquira o produto ou o serviço, é necessário também que tal aquisição tenha como objetivo a utilização final do produto. Pode-se inferir que toda relação de consumo envolve sempre duas partes bem definidas, qual seja o adquirente de um produto ou serviço, e o fornecedor ou vendedor do mesmo; tal relação destina-se à satisfação de uma necessidade do consumidor. O consumidor, não dispondo, por si só, de controle sobre a produção de bens de consumo 47 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado e jurisprudência. 6 ed. Niterói: Impetus, 2010, p. 16 48 Para se extrair a real conceituação legal do consumidor, tem-se que adentrar na chamada concatenação microssistêmica oferecida pela lei, de modo que, ao falar em consumidor, impossível dissociar-se da idéia principiológica de vulnerabilidade. O Código oferece um todo do qual não se permite extrair idéias soltas, sem liame lógico algum. (NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda Alves Pinto Serrano de. Código de Defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.15.) 49 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 62. 50 Resp 951.785/RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJ 15/02/2011. DJe 18/02/2011. 51 Resp 476428 SC 2002/0145624-5. Relator (a): Ministra Nancy Andrighi. 3º Truma. Julgamento: 19/04/2005. DJ 09.05.2005. 52 GOMES, Marcelo Kokke. Responsabilidade civil: dano e defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 123-124. 25 ou prestação de serviços que lhe são destinados, arrisca-se a submeter-se ao poder e as condições impostas pelos produtores daqueles mesmos bens e serviços53. A norma define, dessa forma, que consumidor é tanto aquele que adquire o produto e o serviço e utiliza como aquele que, não o tendo adquirido, o utilize. Dessa monta, conclui-se, desde logo, que quem adquire produto não sendo destinatário final, mas sim com intenção de intermediar o ciclo de produção não será considerado consumidor. Observa-se, que o conceito de consumidor adotado pelo Código, foi de caráter econômico, pois se levou em consideração tão somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou contrata serviços, como destinatário final, subentendendose que com tal ação estará atendendo uma necessidade própria e não o desenvolvimento de outra atividade negocial.54 Além disso, O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado está ligado à sua hipossuficiência técnica; ele não participa do ciclo de produção e, portanto, não tem acesso aos meios de produção, não podendo controlar a forma como é feita o produto e realizado os serviços. E é nesse sentido que precisa de proteção55. A pessoa jurídica também pode ser consumidora, desde que seja destinatária final, ou que adquira produtos que possam ser bens de produção e ao mesmo tempo, bens de consumo. Essa explanação é demonstrada pela interpretação do artigo 2º, caput cumulada com o artigo 51, inciso I56 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, diferentemente do que ocorre em relação ao consumidor pessoa física, o Código mitiga o dever de indenizar na relação entre o fornecedor com o consumidor pessoa jurídica, fundamentando-se no fato da possibilidade da aquisição de produto e serviço de 53 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições Gerais In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.31. 54 FILOMENO, José Geraldo Brito.. Disposições Gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.27. 55 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.102. 56 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis. 26 consumo por pessoa jurídica para fins de produção, o que descaracterizaria a necessidade de proteção do Código57. Embora haja na doutrina58 entendimento no sentido de que as pessoas jurídicas quando ocuparem posição de consumidoras sejam equiparadas aos consumidores vulneráveis, de modo que só serão assim consideradas se não obtiverem fins lucrativos, o Código de Defesa do Consumidor acertou no ponto de colocar as pessoas jurídicas como possíveis ocupantes do elo mais fraco de uma relação jurídica de consumo, visto que podem ser vulneráveis em relação a determinado produto utilizado com o fim de atender necessidade própria. Há que se consignar, ainda, que embora o próprio Código de Defesa do Consumidor traga a pessoa jurídica como possível consumidora de produtos e serviços, há doutrina entendimento no sentido de que essa disposição destoa do objetivo principal do microssistema consumerista, que é a de dar proteção a um lado da relação jurídica que ocupa uma posição vulnerável. No entanto, esse entendimento não merece prosperar. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor não utiliza da vulnerabilidade somente econômica. A vulnerabilidade pode ser técnica e informacional, e é perfeitamente possível que uma empresa adquira um produto do qual não tenha nenhum conhecimento sobre o seu funcionamento. É o caso, ex vi, de uma indústria de cana de açúcar que compra uma impressora para uso no próprio estabelecimento, sem que o produto participe do ciclo de produção. É notório que há vulnerabilidade da indústria em relação àquele produto. Assim, não pode ser considerada consumidora a empresa que adquire máquinas para a fabricação de seus produtos ou mesmo uma copiadora para seu escritório e que venha a apresentar algum vício. Isso porque referidos bens certamente entram na cadeia produtiva e nada têm a ver com o conceito de destinação final59. 57 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.126. 58 Seria mais racional considerar as pessoas jurídicas que não possuem fins lucrativos como possíveis consumidoras de uma relação de consumo, porque a conceituação é indissociável do aspecto da mencionada fragilidade. Ainda, a destinação final de produtos e serviços sem fim negocial encerra o conceito fundamental de consumerismo. (FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.32). 59 FILOMENO, José Geraldo Brito.Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.35. 27 A legislação consumerista é ainda aplicável a terceiros que, embora não tenham adquirido produtos ou serviços como destinatários finais, podem ser equiparados aos consumidores, para efeitos de tutela legal, por força do disposto no artigo 2º, parágrafo único, bem como nos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor. Tais dispositivos funcionam como normas de extensão, na medida em que estendem o campo de incidência do referido Código. São aqueles expostos aos efeitos que decorrem das atividades dos fornecedores, podendo ser por elas atingidos ou prejudicados60. Por fim, há que se consignar que o Estado não pode assumir papel de consumidor, não há desvantagem alguma em relação ao fornecedor, posto que além de utilizar-se de procedimento licitatório específico para aquisição de bens ou serviços, em que ele mesmo estabelece as condições da contratação, por outro lado goza da prerrogativa de recorrer a cláusulas exorbitantes, que lhe propiciam ampla disposição sobre o conteúdo dos contratos firmados. Há, ainda, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que deve reger todos os contratos privados assumidos pela Administração Pública, não havendo que se falar, pois, em vulnerabilidade61. 3.2 CONCEITO DE FORNECEDOR Dispõe o artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, criação, montagem, importação, transformação, exportação, distribuição construção ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Assim, fornecedor é toda pessoa física, ou seja, qualquer um que, a título singular, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços, e jurídica, da mesma forma, mas em associação mercantil ou civil e de forma habitual62. Dessa forma, são considerados fornecedores todos aqueles que propiciem a oferta de produtos e serviços no mercado de 60 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 69. 61 CAPUCHO, Fábio Jun. O poder público e as relações de consumo. São Paulo: In RDC 41. p. 114115. 62 Se um particular anuncia, por exemplo, em jornais seu veículo para vendê-lo e vier a fazê-lo, o contrato firmado não será regido pelo Código de defesa do Consumidor, pois não há o requisito da habitualidade. Seria regido, outrossim, pelo Código Civil. (GUIMARÃES, Paulo J. Scartezzini. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e insegurança. São Paulo: Revista dos tribunais, 2004.9.97). 28 consumo, sendo irrelevante a distinção que se deve fazer entre as várias espécies de fornecedor nos casos de responsabilização por danos causados aos consumidores63. Nota-se, da leitura do dispositivo mencionado, que o legislador apresentou um conceito amplo ao trazer um rol exemplificativo de condutas que podem ser desenvolvidas por uma pessoa para que ela possa ser considerada fornecedor em uma relação jurídica de consumo. No entanto, a simples venda de ativos sem caráter de atividade regular não transforma a relação jurídica em relação de consumo, visto que se exige habitualidade e profissionalismo para tanto64. Dessa forma, pode-se afirmar que a concessionária ou permissionária de serviço público que presta serviço público pode ser facilmente inserida no conceito de fornecedor instituído pelo Código, uma vez que constitui pessoa jurídica que comercializa o referido serviço no mercado de consumo com habitualidade e profissionalismo, desde que o pagamento pelo referido serviço seja feito pelo seu usuário, mediante tarifa65. Ainda, vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor, para a configuração do fornecedor, não exige a atuação no mercado com o objetivo de lucro, bastando que a atividade seja remunerada, sem que haja importância a destinação de tal remuneração. 3.3 CONCEITO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Assim define o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, §1°: “Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”66. Para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, produto é qualquer objeto de interesse em dada relação de consumo, e destinado a satisfazer uma 63 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.43. 64 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.132. 65 O Poder Público só é fornecedor quando preta um serviço pago mediante a cobrança de tarifa, como luz, água e telefone. Os demais serviços públicos mantidos com a cobrança de impostos não são relação de consumo, posto que não há consumidor, e sim contribuinte. (OLIVEIRA, José Carlos de. Código de Defesa do Consumidor: doutrina, jurisprudência e legislação complementar. 3. ed.São Paulo: Lemos & Cruz, 2002, p. 16.) 66 O termo utilizado pelo legislador – produto – indica a intenção do legislador de tornar a lei mais compreensível aos destinatários, e por isso, produto é utilizado em seu sentido econômico e universal, ou seja, aquilo que resulta do processo de produção ou fabricação (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.p.75). 29 necessidade do adquirente, como destinatário final67. Assim, determinado bem só poderá ser considerado como um produto para o Direito das Relações de Consumo, se for colocado no mercado de consumo pelo fornecedor para atender às necessidades do destinatário final, que é o consumidor68. Em relação ao serviço, o Código de Defesa do Consumidor o define em seu 3º, 69 §2º , o qual considera como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, desde que não seja decorrente de relação de natureza laboral. Assim, verifica-se que tais atividades podem ser de natureza material, financeira70 ou intelectual, prestadas mediante remuneração direta ou indireta, por entidades públicas ou privadas71. 3.4 CARÁTER PRINCIPIOLÓGICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O Código de Defesa do Consumidor criou um verdadeiro microssistema jurídico, posto que emana da interpretação da Lei consumerista uma sistemática própria de princípios, ideais e regras que não se confundem, mas sim se destacam das demais searas do Direito. Daí conclui-se que o Direito das Relações de Consumo não constitui desdobramentos dos subsistemas do Direito Público ou do Direito Privado, mas possui parâmetros e princípios específicos, distintos dos que orientam tais províncias do Direito72. O próprio artigo 1º do referido Código estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor ali estabelecidas são de ordem pública e interesse social, em obediência ao disposto no artigo 5, inciso XXXII, e artigo 170, inciso V, ambos da Constituição Federal e do artigo 48 de suas disposições transitórias. Consideram-se normas de ordem pública aquelas que não podem ser alcançadas pela atividade de disposição dos interessados por haver interesse público 67 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.48. 68 SANTANA, Hector Valverde. Dano moral no direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.p.82. 69 Assim define o artigo 3º § 2° do Código de Defesa do Consumidor: “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 70 Dispõe, ainda, a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 71 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.p.77. 72 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda Alves Pinto Serrano de. Código de Defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 8. 30 direto e imediato em seu cumprimento ou em sua observância. Há interesse primário estatal na sua aplicação e observância. A consequência jurídica desse tratamento sucede na total impossibilidade de afastamento das regras aplicáveis à espécie, de modo que qualquer cláusula tendente a distanciar o consumidor da guarida oferecida pela Lei será tida por não escrita73. No que tange ao “interesse social” o Código visa resgatar a coletividade de consumidores da marginalização não somente em face do poder econômico, como também dotá-la de instrumentos que venham a garantir o acesso à Justiça, tanto de forma individual quanto coletiva. Isso se justifica porque a comunidade de consumidores é sabiamente frágil em face do outro personagem da relação de consumo (fornecedor), devendo o Código consumerista estabelecer o necessário equilíbrio das forças, muitas vezes tratando desigualmente os dois polos da relação de consumo, uma vez que são claramente desiguais74. Assim, nas relações de consumo, a autonomia da vontade é mitigada, justamente por ser uma relação regida por normas de ordem pública, devendo as partes integrantes da referida relação, obedecer às regras e aos princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, por serem normais de caráter cogente, tais regras podem, em tese, ser aplicadas de ofício pelo magistrado, legitimando ainda o Ministério Público e as Associações de Defesa do Consumidor a requerer em juízo o fiel cumprimento dos direitos dos consumidores75. 73 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda Alves Pinto Serrano de. Código de Defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 9 74 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.27. 75 DENSA, Roberta. Direito do consumidor. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Série leitura jurídicas – provas e concursos). p. 6. 31 4 CONSUMO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 4.1 A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS Considera-se serviço público toda atividade assumida pelo Estado ou por seus delegados, seja por meio de concessionárias ou permissionárias, que assumam o oferecimento de utilidade ou comodidade destinada à satisfação da coletividade, e consagrada por prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – instituído em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo76. Dessa forma, serviço público constitui a atividade cuja realização é regulada, assegurada e controlada pelo Estado, por meio de órgãos da Administração Direta, pela via de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista etc, ou pela delegação a particulares via concessões ou permissões, em face de sua essencialidade ao desenvolvimento da sociedade, exigindo-se, com isso, uma supremacia na sua disciplina77. Em muitos setores do fornecimento de produtos e serviços torna-se imprescindível a participação do Poder Público, e especialmente na prestação de serviços, há que se exigir dele a mesma garantia de qualidade, segurança, desempenho, que se exige da iniciativa privada.78 Assim, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os serviços também podem ser públicos, estabelecendo que os órgãos públicos, seja atuando por si mesmos ou por meio de empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, estão obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, em relação aos essenciais, contínuos. Dessa forma, a pessoa jurídica pública também pode ocupar a posição de fornecedor, desde que ofereça atividade ao mercado de consumo79. 76 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.p.659. 77 SOUTO, Marcos Juruena Vilella. Direito administrativo das concessões. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.p.9. 78 Na década de 90 houve um certo esgotamento do modelo interventor do Estado, no momento em que se percebeu a incapacidade Poder Público em prestar serviços públicos eficientes. Intensificou-se, com isso, a contratação com a iniciativa privada, por via da delegação de serviços públicos ao particular, através do sistema de permissões e concessões. (SOUTO, Felipe de Brito Lima. In: BRITO, Maria Zenaide Brasilino Leite et al (Org.). Reflexões críticas de direito do consumidor.: Estudos em homenagem ao professor Fernando Vasconcelos. João Pessoa: Ideia, 2013. p.73 ). 79 Além disso, o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor trás a pessoa jurídica pública como possível fornecedora numa relação jurídica de consumo, ao dispor: “Artigo 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 32 Ainda, o Código de Defesa do Consumidor trata de serviço público em outros dispositivos, como no artigo 4º, inciso VII80, ao dispor que a racionalização e melhoria dos serviços públicos são instituídas como princípios da Política Nacional das Relações de Consumo; e no artigo 6º, inciso X81, ao consagrar como um dos direitos básicos do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Assim, em razão da existência dos mencionados dispositivos no Código, que regulam expressamente a prestação de serviços públicos, é notório que este tipo de atividade está inserido no microssistema consumerista, e por isso, os usuários de tais serviços devem ser protegidos como consumidores, por meio da aplicação do Código de Defesa do Consumidor82. O Poder Público, como produtor de bens ou prestador de serviços, remunerados por tarifas ou “preço público”, se sujeitará igualmente às normas estatuídas pelo Código de Defesa do Consumidor, em todos os sentidos e aspectos versados pelos seus dispositivos83. Assim, verifica-se que toda e qualquer empresa pública ou privada que mediante contratação com a Administração Pública (incluindo-se as autarquias, fundações e sociedades de economia mista) forneça um serviço público vai estar submetida ao conjunto de princípios e regras do microssistema consumerista.84 Para melhor entendimento de qual usuário de serviço público pode ser considerado consumidor, deve-se distinguir a relação jurídica de consumo da existente entre contribuinte e fisco, uma vez que ambas tratam da relação entre o particular com a desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. 80 Assim dispõe o artigo 4º da Lei nº 8.078/90: “art. 4 A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 81 O artigo 6º assim estabelece : art. 6º: “São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 82 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Serviços públicos e Direito do Consumidor: possibilidades e limites da aplicação do CDC. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 179. 83 FILOMENO, José Geraldo Brito. Da política nacional de relações de consumo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al.Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p..153 84 Além disso, após a Constituição Federal de 1988, foi firmada a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de energia elétrica em face da regra constitucional do artigo 37, §6, especialmente nos casos em que a concessionária é constituída sob a forma de empresa pública ou de sociedade de economia mista. (CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do estado. 2.ed. São Paulo: Malheiros,1995. p.153.) 33 Administração Pública, ainda que por meio das suas concessionárias ou permissionárias. A distinção implica na determinação da incidência das normas de consumo ao caso concreto, levando-se em consideração a natureza protetiva do microssistema consumerista e todas as normas que incidirão sobre a atividade das empresas que prestarem o serviço considerado como objeto dessa relação. Caso seja de natureza tributária, a relação jurídica do particular com o Estado será regida pela Constituição Federal, juntamente com as normais infraconstitucionais de natureza tributária, mais especificamente a Lei Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). A própria Constituição Federal deu tratamento e reconheceu como categorias distintas “usuário” e “consumidor”85. Contribuinte não se confunde com consumidor, posto que no primeiro caso o que subsiste é uma relação de natureza tributária, inserida a prestação de serviços públicos, de forma genérica e universalmente considerada, na atividade precípua do Estado, ou seja, a persecução do bem comum86. A 2º Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Paraná já manifestou entendimento no sentido de que consumidor e contribuinte são figuras que não se confundem. A distinção foi discutida em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Paraná que visava anular o aumento abusivo do IPTU praticado por município daquela unidade federativa. O Tribunal acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público arguida pela Fazenda Pública Municipal, a qual se fundamentava na alegação de que aquele órgão estaria autorizado a defender os interesses dos consumidores, mas não dos contribuintes. No julgamento, o mencionado Tribunal entendeu que consumidor e contribuinte são expressões que possuem conteúdo distinto, não tendo o parquet permissão para atuar na defesa dos interesses desses últimos87. O preço pago pelo consumidor na prestação de serviços públicos não pode ser confundido com prestação pecuniária compulsória, pois somente haverá relação de consumo se houver manifestação de vontade do consumidor em adquirir o serviço 85 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Breve apresentação do novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 246. 86 FILOMENO, José Geraldo Brito. Disposições gerais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.49. 87 AC 53.11-5, rel. Juíza Irlan Arco-Verde, j.11-11-1992,v.u.,RT,691/170. 34 prestado pelo Estado ou seus concessionários.88 Além disso, os impostos têm como característica sua desvinculação de qualquer atividade estatal específica em benefício do contribuinte. Assim, o Estado não pode ser coagido à realização de serviços públicos como contraprestação ao pagamento de impostos89. Existem serviços que são prestados pelo Poder Público a grupamentos indeterminados, sem possibilidade de identificação dos destinatários, como serviço de segurança pública. Esses são chamados de serviços públicos próprios ou uti universi e são financiados por impostos. Por outro lado, existem os serviços que são oferecidos a destinatários específicos, cujos usuários são determináveis e individualizados, permitindo-se a aferição do quantum utilizado por cada um (v.g., o serviço de tratamento de água). São os chamados serviços públicos impróprios ou uti singuli90 Assim, ainda que exista posicionamento em sentido diverso91, somente estarão sujeitos à normatização consumerista os serviços públicos que se inserem na categoria uti singuli, posto que para ser considerado como objeto de uma relação de consumo, o serviço deve ser prestado de maneira que haja uma contraprestação específica, na qual o valor pago pelo usuário seja correspondente ao serviço utilizado. Em outras palavras, pode-se dizer que o valor da remuneração paga pelo usuário deve ser divisível e mensurável de maneira individual, o que é uma característica própria dos serviços uti singuli. Por isso, somente os usuários dessa categoria de serviços públicos poderão ser considerados consumidores e se utilizarem de toda a normatização protetiva dessa categoria92. Além disso, os serviços uti universi não oferecem possibilidade de escolha por parte do usuário no sentido de receber ou não o serviço, uma vez que essa espécie de serviço é prestado e remunerado de maneira indistinta por toda a coletividade. Tais 88 O STF editou a Súmula 545 que determina que os preços de serviços públicos e as taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e tem sua cobrança condicionada a prévia autorização orçamentária, em relação a lei que as instituiu. 89 DENSA, Roberta. Direito do Consumidor.8.ed.São Paulo: Atlas, 2012. (Série leituras jurídicas – provas e concursos).p.17 90 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.p.78 91 É descabida a distinção entre serviços uti singulo e uti universi, para fins de definição da incidência do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos, posto que o próprio Código não fez tal distinção, devendo ser incluídas no conceito de serviço também as prestações realizadas pelo Poder Público no caso dos serviços uti universi. (ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação publicitária. Natal:Espaço internacional do livro, 2013.p.68.) 92 BESSA, Leonardo Roscoe. Vício do produto e do serviço. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe . Manual de direito do consumidor, 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010, p. 204. 35 serviços não serão pagos mediante tarifa ou preço público, mas sim por outra espécie de pagamento.93 Os serviços públicos uti universi são regulados pela normatização tributária94, pois é esta a natureza da relação que se desenvolve na sua prestação. Nestes casos, em decorrência de disposição legal, o pagamento é realizado compulsoriamente95, ou seja, independentemente da vontade do usuário, uma vez que o pagamento da taxa é obrigatório. Isso claramente contraria a sistemática da relação jurídica de consumo, em virtude da liberdade de contratação do serviço que deve ser conferida ao consumidor. 96 O consumidor possui, portanto, direito subjetivo público a uma adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, cabendo ao estado a sua melhoria e racionalização. 4.2 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS Observa-se que a Lei mandamental – Lei nº 8.078/90 – estabelece expressamente que os serviços públicos devem ser adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (artigo 22). Quanto à eficiência, a própria Constituição Federal, com a alteração feita pela Emenda Constitucional 19/1998, trouxe estampada no artigo 37, caput que a administração pública, em sentido amplo, deve obedecer, entre outros princípios, ao 93 O direito das relações de consumo é ramo jurídico de proteção daquele que realiza vínculos de natureza negocial com o fornecedor de produtos e serviços. Por tal motivo, os serviços públicos são objeto das relações de consumo enquanto prestados a partir de um vínculo negocial entre consumidores-usuários e prestadores, públicos ou privados desses serviços, o que revela a necessidade de delimitar o campo de aplicação do direito do consumidor aos serviços uti singuli remunerados por tarifas.(AZEVEDO, Fernando Costa de. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial por inadimplemento do consumidor-usuário. São Paulo. In: RDC 62/118-119). 94 O artigo 3º do Código Tributário Nacional assim dispõe: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 95 Assim dispõe a Súmula 545 do Supremo Tribunal Federal: “Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e tem sua cobrança condicionada a prévia autorização orçamentária, em relação a lei que as instituiu”. 96 A Ministra Eliana Calmon, em acórdão que se tornou paradigma no Superior Tribunal de Justiça, entendeu que os serviços uti universi são remunerados por espécie tributária específica, a taxa, cujo pagamento decorre da lei e é obrigatório, tendo como fim remunerar um serviço público divisível e específico, colocado a disposição do contribuinte, estabelecendo-se, assim, uma relação jurídica tributária entre o contribuinte e o Poder Público, regulamentada pelas regras de Direito Administrativo. Em contrapartida, o serviço uti singuli, prestados pelo Estado via delegação, são remunerados por tarifas ou preços públicos, regulamentada pelo Direito Privado, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, posto que se identifica os usuários como consumidores. A tarifa é, assim, remuneração facultativa, oriunda de relação contratual, podendo o particular interromper o contrato quando assim desejar. (RECURSO ESPECIAL Nº 463.331 - RO (2002/0110093-5). Ministra Eliana Calmon Data do Julgamento.: 6 de maio de 2004. DJ: 23/08/2004). 36 Princípio da Eficiência. Esse princípio denota que a administração pública deve concretizar uma atividade administrativa (o que envolve o serviço público) de maneira à extração máxima possível de efeitos positivo ao administrado. Tal princípio exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da coletividade97. O serviço não deve apenas estar à disposição das pessoas; ele deve ser concretamente eficiente, assumindo e cumprido a sua finalidade de maneira real. O serviço deve, portanto, funcionar. Disso se tira que o Princípio da Eficiência é gênero do qual adequação, segurança e continuidade são espécies, uma vez que para um serviço ser considerado eficiente ele deve ser adequado e seguro. Da mesma forma, para ser assegurada a sua eficácia, o serviço deve também ser contínuo98. Qualidade não se resume à adequação do produto ou serviço às normas que regem sua fabricação ou prestação, mas também à satisfação de seus destinatários, que possuem o direito público subjetivo de exigir o seu efetivo cumprimento, com presteza, qualidade, adequação etc99. Há que se consignar que estabelecer quais serviços são considerados essenciais não é tarefa das mais simples, Os serviços de fornecimento de energia elétrica, água comunicação telefônica, coleta de esgoto ou de lixo domiciliar, por exemplo, passam por uma gradação de essencialidade, que se exacerba justamente quando estão em causa os serviços públicos difusos relativos à saúde segurança, e educação pelo que se pode afirmar que todos os serviços prestados pelo Poder Público são essenciais100. Assim, em sentido amplo pode-se dizer que todo serviço público, justamente por ser público, é também essencial. No entanto, o legislador estipulou que só os serviços públicos essenciais é que devem ser contínuos; assim é que se observou que a disposição normativa permitiu uma interpretação no sentido de que alguns serviços não 97 O serviço público só é eficiente se for adequado, como por exemplo, a coleta de lixo seletiva, se for seguro, como o transporte de passageiros em veículos controlados, inspecionados, com todos os itens checados e, ainda, se for contínuo , como a energia elétrica sem cessação de fornecimento. (NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 150.) 98 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 150. 99 FILOMENO, José Geraldo Brito. Da política nacional de relações de consumo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.97. 100 DENARI, Zelmo.Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.215. 37 são essenciais. Para isso, deve ser levada em consideração a urgência de sua utilização: a necessidade concreta, efetiva e impreterível de sua prestação.101 Segundo o artigo 175 da Constituição Federal, o Poder Público tem o dever de prestar determinados serviços, seja pela própria administração ou por entes delegados, para satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, sendo denominados serviços públicos. Dispõe ainda esse artigo que incube ao legislador infraconstitucional a disciplina do regime de concessão e permissão dos serviços públicos, determinando, a obrigação da manutenção do serviço de forma adequada102. A Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 disciplinou tal regime. Consoante afirmado anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor determinou em seu artigo 22, caput que os serviços públicos devem ser adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Consagrou-se, então, no ordenamento brasileiro o princípio da continuidade do serviço público essencial, de modo que haveria a impossibilidade de interrupção dos serviços considerados essenciais e o direito dos consumidores a que os mesmos não sejam suspensos ou interrompidos unilateralmente pelos fornecedores. 103 Apesar do dispositivo em comento ter trazido de maneira expressa o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, ele não definiu quais serviços seriam assim considerados. Não obstante isso observa-se que o legislador, ao possibilitar a classificação de alguns serviços públicos como essenciais, levou em consideração as necessidades que se não forem atendidas colocam em perigo iminente a sobrevivência, saúde e segurança da população. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 9, §1º104, determinou que Lei infraconstitucional viesse a regulamentar o direito de greve, também estabelecendo 101 A definição do essencial vincula-se à idéia de indispensabilidade, de necessidade imperiosa e inafastável. Ainda, há estágios da essencialidade, aproximando alguns serviços de seu apogeu, outros, afastando-se deles. (NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda A. P. Serrano. Código de defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.113.) 103 O princípio da continuidade deve ser observado na prestação dos serviços públicos concedidos, sendo imposto não somente pelas normas de proteção do consumidor como também pelas regras de direito administrativo. Tal descumprimento do dever de continuidade gera sanções administrativas, bem como o dever de reparar os danos causados, incidindo responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. (PFEIFFER, Roberto A. Castellanos. Serviços públicos concedidos e proteção do consumidor. São Paulo. In: RDC 36/175.).. 104 Art. 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. §1º – A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 38 sobre quais atividades seriam essenciais, dispondo sobre as necessidades inadiáveis da comunidade. Assim, a Lei Federal nº 7.783, de 28 de junho de 1989 – Lei de Greve – em seu artigo 10, inciso I105, trouxe o rol de quais serviços são considerados essenciais, entre outros, o tratamento e abastecimento de água; a produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, a compensação bancária etc. Essa Lei foi confeccionada para disciplinar o direito de greve, garantindo durante o exercício concreto desse direito, a prestação de serviços inadiáveis à comunidade. Dessa forma, pode-se afirmar que os serviços listados no artigo 10, inciso I da Lei Federal nº 7.783/1989, por se tratar de serviços essenciais, devem, segundo o artigo 22, caput do Código de Defesa do Consumidor, ser contínuos106, não podendo, portanto, ser interrompidos. Deve-se saber o que é serviço público essencial que está à disposição do consumidor, porque, conforme comentando, somente quando este assume a condição de consumidor, é que se tem uma relação jurídica de consumo, e portanto, sujeito à Lei Federal nº 8.078/90. A Lei Federal nº 8.987 de 1995 disciplinou o regime de concessão e permissão de serviços públicos a mando da própria Constituição Federal em seu artigo 175, que determinou a criação de Lei para regulamentar a obrigação da manutenção do serviço público de forma adequada. Dessa forma, em seu artigo 6º, tal Lei dispôs que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários e que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Dessa forma, observa-se que há ampla determinação para que os serviços públicos sejam eficientes, adequados, seguros e contínuos. 105 Art. 10. São considerados serviços ou atividades essenciais: I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II – assistência médica e hospitalar; III – distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; IV – funerários; V – transporte coletivo; VI – captação e tratamento de esgoto e lixo; VII – telecomunicações; VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; IX – processamento de dados ligados a serviços essenciais; X – controle de tráfego aéreo; XI – compensação bancária. 106 No caso concreto poderá haver uma concorrência de normas jurídicas aplicáveis, que deverá ser resolvido a partir do diálogo dessas várias fontes normativas que devem ser habilmente harmonizadas pelo aplicador do direito, como peças e subsistemas no interior do sistema jurídico. (AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: RT, 2010. p.127). 39 Sendo assim, verifica-se que nenhum dos serviços estampados no artigo 10 da Lei Federal nº 7.783/89 poderia ser interrompido, posto que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor é claro neste sentido e não abre exceções. Os serviços essenciais devem ser contínuos, garantia essa que decorre do próprio texto constitucional, pois não se pode garantir a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), a segurança e a vida (artigo 5º), ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225), e o direito a saúde (artigo 6º), se os serviços essenciais forem interrompidos. Nos serviços públicos, a necessidade é de sua própria natureza, que é essencial. De um lado o comando constitucional determina sua prestação (artigo 175); do outro lado, o usuário não tem a possibilidade de escolher a negociação, na medida em que é obrigado a usufruir do serviço público, tanto mais em se tratando do serviço essencial. Dessa forma, não são o preço e seu pagamento que determinam a prestação do serviço público, mas a Lei. 107 Existem serviços públicos fornecidos independentemente do pagamento, como o da coleta de lixo, que será realizado ainda que o cidadão não pague. Pelo motivo de que isso é essencial e fundamental para a manutenção de um meio ambiente saudável, ele também é contínuo. 108 Com isso, não se pretende excluir o direito de crédito relativo ao fornecimento do serviço por aquele que o presta. Ele deve receber seus créditos, mas a cobrança destes deve se submeter às regras instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que a cobrança não pode ser abusiva (art. 42109 cumulado com art. 71110). Além disso, pode ser considerada uma ameaça ilegal de cobrança a do corte do serviço essencial, ainda mais quando tenha como intuito forçar o consumidor inadimplente ao pagamento111. Ademais, o débito de consumo decorre de uma relação limitada às pessoas do fornecedor e do consumidor, de modo que qualquer cobrança há de ser dirigida contra a 107 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 159. 108 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 160. 109 Artigo 42: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. 110 O artigo 71 está contido no Título II – Das infrações penais, e assim estabelece: “Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer: Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 111 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 160. 40 pessoa deste, não podendo envolver terceiros, nem mesmo os familiares do consumidor. Daí que são inadmissíveis as práticas de cobrança que direta ou indiretamente afetem pessoas outras que não o próprio consumidor.112 4.3 A PREVISÃO LEGAL DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL A Constituição Federal, conforme exposto, em seu artigo 175 determinou incumbir ao Poder Público, na forma da Lei, diretamente ou sob regime de concessão113 e permissão114, a prestação de serviços públicos. No parágrafo único do mesmo artigo, estabeleceu que tal legislação disporia sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, rescisão e fiscalização da concessão e permissão, e ainda sobre os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter o serviço adequado, o qual foi feito por meio da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Essa Lei instituiu em seu artigo 6º, §3º115, a possibilidade de interrupção do serviço público, em situações de emergência, por motivo de ordem técnica ou de segurança das instalações ou após aviso prévio, quando houver inadimplemento do usuário. O entendimento dos tribunais, até então, era no sentido não poderia haver interrupção da prestação do serviço mesmo diante da falta de pagamento do usuário, posto que as atividades estariam orientadas pelo princípio da continuidade, devendo o 112 Benjamin, Antônio Herman V. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.p.228-229. 113 Concessões são contratos de natureza tipicamente administrativa, através do qual a poder concedente – administração pública – transfere a um particular a realização e exploração de uma obra ou serviço público, por sua conta em risco, sendo este remunerado através da cobrança de uma tarifa sobre o usuário do serviço, sendo tal valor fixado pelo concedente de acordo com a proposta que venceu a prévia licitação (SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das concessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.10). 114 Permissão é ato administrativo unilateral, discricionário e precário da administração , que, na qualidade de concedente, emite manifestação unilateral de vontade, visando a realização de negócio jurídico público, sendo esse remunerado ou não, no interesse do particular, desde que não se contrarie o interesse público, tendo, tal entendimento, como adeptos, Hely Lopes Meirelles, José Cretella Júnior, Carlos Pinto Coelho Motta etc. (SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das concessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 30). 115 Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 41 concedente do serviço valer-se dos meios judiciais adequados à cobrança de seus créditos, entendimento esse reforçado pelo advento da Lei Federal nº 8.078/90, mais especificamente em seu artigo 22116. Com a Lei Federal nº 8.987/95, estabeleceu-se que o princípio da continuidade do serviço público essencial não mais seria violado pela interrupção por falta de pagamento (artigo 6º §3º), desde que respeitado o interesse da coletividade, o que permite uma ponderação de valores entre a estabilidade do serviço (o qual é remunerado mediando a contraprestação paga pelo usuário-consumidor) e o cumprimento dos valores da coletividade, como a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da Constituição Federal), a saúde (artigo 6º, caput) e a segurança (artigo 5º, caput)117. Ainda, a Lei Federal nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), traz, em seu artigo 17, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento. Segundo tal artigo, quando se tratar de consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo (v.g., os hospitais), a suspensão deverá ser comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou estadual. Notase com isso, que mesmo o fato de o consumidor exercer uma atividade que constitui serviço essencial não obsta, segundo a Lei Federal nº 9.427/96, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento. 116 Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA QUE DETERMINA A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERESSE DA COLETIVIDADE. ATENDIMENTOAOS PRINCÍPIOSDA ESSENCIALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚB LICO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE DEVE PROCEDER COM OUTROS MEIOS PARA A COBRANÇA DO DÉBITO INADIMPLENTE. DÉBITOS ANTIGOS E CONSOLIDADOS. PRECEDENTE DESTA CORTE E DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação cível nº131038 RN 2010.013103-8, 3º Câmara Cível, Rel. Amaury Moura Sobrinho, data de julgamento: 28/07/2011, data de publicação: 28/07/2011, TJ/RN. 117 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das concessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.16. 42 5 FUNDAMENTOS DA IMPOSSIBILIDADE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DA INTERRUPÇÃO DO De um lado o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a importância da dignidade da pessoa humana (art. 4º), direitos básicos ou fundamentais (art. 6º), não submissão do consumidor a qualquer tipo de constrangimento na cobrança de débitos (art. 42) e principalmente, que os serviços essenciais devem ser contínuos (art. 22, caput). Por outro lado, o artigo 6º, §3º da Lei Federal nº 8.987/95 estabelece que não se caracteriza como descontínuo o serviço público se sua interrupção ocorrer por inadimplemento do usuário, após aviso prévio, considerando o interesse da coletividade. Neste caso, verifica-se a existência de um conflito entre Leis de mesmo nível hierárquico, e com isso, surge a seguinte indagação: é possível a interrupção da prestação do serviço público essencial nas referidas condições?118 Como visto, o serviço público é bem indisponível, sendo prestado pelo Estado e seus agentes por força de Lei. Tais agentes não podem dispor desses serviços, pois são obrigados a prestá-lo para atingir o interesse público irrenunciável. Assim, ainda que remunerado mediante tarifa, esse há de cercar-se de características especiais, já que nesta seara não há que se falar em negociação ou decisão entre as partes que contratam, tampouco há disponibilidade do objeto do negócio, pois pela essencialidade do serviço, o consumidor é prisioneiro da compra119. Nesses serviços, a necessidade é de sua própria natureza, que é essencial. De um lado o comando constitucional determina sua prestação (artigo 175); do outro lado, o usuário não tem a possibilidade de escolher a negociação, na medida em que é obrigado a usufruir do serviço público, tanto mais em se tratando de atividade essencial. Dessa forma, não são o preço e seu pagamento que determinam a prestação do serviço público, mas a Lei120. Dessa forma, o serviço público, assumido pelas concessionárias ou permissionárias é remunerado mediante uma contraprestação pecuniária que possibilite a eficiência do mesmo. No entanto, quando a supressão do serviço público puder causar prejuízo à digna sobrevivência dos administrados, de modo que cause danos, a atividade 118 BESSA, Leonardo Roscoe. Vício do produto e do serviço. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor, 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010, p. 207. 119 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.159. 120 Ibid., p.159. 43 econômica deverá suportar as medidas necessárias à manutenção daqueles princípios (dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso III, meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225 etc.) informadores da ordem constitucional. Assim, tais serviços taxados pelo artigo 10 da Lei Federal nº 7.783/1989 devem ser, segundo o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, contínuos. Ainda assim, a Lei Federal nº 8.987 prevê a possibilidade de interrupção do serviço público em situações de emergência por motivo de ordem técnica ou de segurança das instalações. Percebe-se, com isso, que o referido dispositivo legal permite que a prestação do serviço seja descontinuada por problemas de ordem técnica e segurança das instalações que em princípio não deveriam ocorrer. Tais situações implicam em uma interrupção de serviço público essencial, que contraria a continuidade estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 22, caput). Sendo assim, qualquer dano, material ou moral, causado pela interrupção dá direito à indenização, uma vez que a responsabilidade do prestador do serviço é objetiva, conforme artigo 37, §6º da Constituição Federal, bem como pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a mera constatação da descontinuidade de que trata o artigo 6º, §3º da Lei Federal nº 8.987/95 não tem condão de elidir a responsabilidade instituída no Código121. Nota-se ainda, que o artigo 6º, §3º da Lei 8.987/95 encontra-se em desconformidade com o artigo 175, inciso IV da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público a manutenção de serviço público adequado. Primeiro porque ele constata que certas situações podem ocorrer, como problemas por razões de ordem técnica e segurança das instalações que acarretem a interrupção irregular do serviço público. Neste caso pode haver um confronto entre dois direitos: o direito de crédito que tem o fornecedor e o direito do consumidor à continuidade da prestação do serviço essencial. Poder-se-ia afirmar que o Poder Público não pode ser compelido a prestar serviço público ininterrupto se não for feito o pagamento da tarifa. Em contrapartida, um bem maior como a vida, a saúde e a dignidade não pode ser sacrificado em função do direito de crédito. A legislação consumerista deve obediência aos vários princípios constitucionais que dirigem suas determinações, entre os quais se encontra o da intangibilidade da dignidade da pessoa humana (artigo 1º , III), da garantia da segurança (artigo 5º, caput) e à vida sadia e de qualidade (artigo 225), em função da garantia do 121 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p.154. 44 meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225) e do qual decorre o direito necessário à saúde (artigo 6º). Não é possível garantir tudo isso se os serviços públicos essenciais urgentes não forem contínuos122. Embora haja entendimento no sentido de que a gratuidade não se presume e as concessionárias de serviço público não podem ser obrigadas a prestarem serviços contínuos se o usuário deixar de cumprir com a prestação relativa ao pagamento123, esse entendimento não merece ser acolhido posto que ao colocar um serviço público essencial no mercado de consumo, as concessionárias e permissionárias estão obrigadas a obedecer às leis consumeristas que impedem a descontinuidade do serviço essencial e mais do que isso, a todos os princípios constitucionais que norteiam a administração pública. Ademais, compete salientar que o legislador utilizou-se, no artigo 6º, § 3o, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95, do termo “considerado o interesse da sociedade”. Assim, a interrupção no fornecimento de um serviço público essencial em nome do interesse da coletividade somente se verifica no caso de fraude praticada pelo consumidor-usuário do serviço124. Além do princípio da continuidade do serviço público essencial, que impede a interrupção do serviço assim considerado, há outros dispositivos que proíbem essa descontinuidade, como as disposições contidas nos artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor125. Esses artigos determinam que a cobrança de dívidas não pode expor o consumidor ao ridículo, ser realizada com abusividade, nem feita utilizando-se de coação. Assim, a simples cobrança mediante ameaça de interrupção da prestação do serviço essencial deve ser considerada ilegal e abusiva. As normas que proíbem a cobrança abusiva são corolário da garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade, vida privada, imagem e honra (artigo 5º, 122 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.156 123 DENARI, Zelmo.Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p.215. 124 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.155. 125 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer: Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 45 inciso X da Constituição Federal), os quais constituem direitos inerentes à personalidade. Dessa forma, as normas que regulam tais cobranças devem estar em consonância com tais princípios constitucionais, sob pena de expressa violação à Constituição Federal126. Expor a ridículo quer dizer envergonhar, colocar o consumidor perante terceiros em situação de humilhação. Pressupõe que o fato seja presenciado ou chegue ao conhecimento de terceiros. Em certas circunstâncias, basta a possibilidade ou perigo de que tal ocorra. Qualquer ato associado à cobrança pode servir para violar o comando do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à proibição de não usar de condutas abusivas para cobrar o consumidor. Mesmo o simples design do envelope utilizado pelo cobrador é capaz de se transformar em uma forma indireta de levar o consumidor ao vexame127. Deste modo, o corte efetivo de algum serviço público essencial, com o intuito de forçar o consumidor inadimplente ao pagamento da dívida, implica em uma concreta violação aos artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, as dívidas contraídas em uma relação de consumo, embora constituam direito de crédito do fornecedor, encontram no Código de Defesa do Consumidor, limitações legais quanto à forma de cobrança (v.g., o artigo 42, CDC). Essa Lei não determina simplesmente que o fornecedor abra mão do seu direito regular de cobrar créditos devidos, mas que não utilize qualquer meio de cobrança que cause constrangimento ao consumidor inadimplente128. O Código de Defesa do Consumidor não se opõe à cobrança do que é legítimo; sua objeção se destina a impedir os excessos cometidos no afã do recebimento daquilo que se é credor.129 O credor, visando receber o crédito sem necessitar adentrar o 126 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 152. 127 BENJAMIN, Antônio H. de Vasconcelos. Da cobrança de dívidas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 391. 128 AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: RT, 2010, p. 187. 129 O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor nao traz disciplina específica com relação às consequencias jurídicas advindas da não observância dos limites traçados para o exercício do direito de cobrança de dívidas. Contudo, a inobservância de tal preceito faz incidir o artigo 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor que determina a indenização dos danos patrimoniais e morais sofridos pelo consumidor inadimplente. (CORRÊA, Luís F. Nigro; CORRÊA, Osíris Leite. Código de Defesa do Consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.p.163.) 46 processo judicial, posto ser esse moroso e de alto custo, faz uso de táticas extrajudiciais de cobrança. Os abusos surgem exatamente nessa fase extrajudicial130. É considerada, portanto, uma cobrança abusiva o fornecedor de um serviço interromper a sua prestação, principalmente porque tal interrupção é feita com viés de forçar o consumidor ao pagamento da dívida, o que constitui uma ofensa direta contra a dignidade da pessoa humana131. É notório que a interrupção de um serviço caracterizado por sua essencialidade traz riscos à saúde humana. Com isso, não se propõe aqui que o inadimplemento não deva acarretar qualquer consequência para o devedor. O não pagamento ou atraso gera incidência de encargos próprios, como multa, juros de mora e correção monetária. O que não pode haver em hipótese alguma é contrariedade a um mínimo existencial132. Ademais, poder-se-ia afirmar que a Lei Federal nº 8.987/95, por ser Lei específica em relação à Lei Federal nº 8.078/90, no conflito de normas, deveria ser aplicada, seguindo a regra de que a lei especial derroga a lei geral. No entanto, pelo fato de o Código de Defesa do Consumidor ser uma Lei principiológica, todas as disposições normativas que tratam das relações de consumo devem obedecer aos princípios ali previstos, sob pena de serem consideradas nulas. Assim, nessa hipótese de haver Lei mais nova e de caráter especial, (critério cronológico e da especialidade), como é a Lei Federal nº 8.987/95 em relação à Lei Federal nº 8.078/90, somente deverá ser aplicada a disposição normativa mais recente e específica, se houver harmonia com os princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que este representa verdadeiro padrão comportamental para esse tipo de relação133. Como visto, o modelo de Lei principiológica é suscetível de atingir toda relação jurídica caracterizada como de consumo, ainda que essa estivesse também 130 BENJAMIN, Antônio H. de Vasconcelos. Da cobrança de dívidas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 386. 131 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 160. 132 BESSA, Leonardo Roscoe. Vício do produto e do serviço. In:: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor, 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010, p. 208. 133 AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: RT, 2010, p. 125. 47 regrada por outra norma jurídica infraconstitucional, de modo que, naquilo que colidirem, esta se torna nula de pleno direito134. Assim, não poderia a Lei Federal nº 8.987/95 ter mitigado o princípio da continuidade do serviço público essencial em detrimento do consumidor, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor não é apenas Lei geral, mas sim Lei principiológica, constituída por força direta e expressa da Constituição Federal (artigo 48 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias). Se fosse para permitir que os serviços pudessem ser interrompidos, o legislador não teria utilizado a expressão “contínuos”, poderia ter dito apenas que os serviços deveriam de ser seguros. Além disso, há milhares de cidadãos isentos de pagamentos de tributos e taxas sem que isso implique a descontinuidade dos serviços ou qualquer problema para a administração do Estado135. Ainda, é aceitável que seja fornecido ao cidadão um serviço público gratuito, pois em última instância é essa a função do Estado, que deve distribuir serviços de qualidade e gratuitos a partir dos tributos que arrecada. Além disso, se o tributo é cobrado de acordo com a capacidade tributária, não há qualquer inconveniente em que aquele que não pode pagar pelo serviço público o receba gratuitamente, como já ocorre no entendimento hospitalar, na segurança, na educação etc136. Observe-se, v.g., um caso de um pai de família, que possui uma esposa e três filhos e sustenta a casa mediante um salário mínimo137. Por motivos alheios a sua vontade, o dito pai de família é demitido de onde trabalhava e passa a perceber seguro desemprego. Com isso, a renda da família diminui, e seu filho mais novo contrai uma doença, o que exige compra de medicamentos. Ao final do mês, o pai vê-se impossibilitado de pagar a conta de energia elétrica, uma vez que o seu pagamento acarretaria a falta de suprimentos alimentícios em casa. Frente a isso, ele não efetua o pagamento e tem sua energia cortada pela concessionária cedente. 134 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.111. 135 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 156. 136 Ibid., p. 156. 137 A Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso IV estabelece que o salário mínimo, fixado em lei, será capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, lazer, transporte, higiene e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Observa-se que o salário mínimo não obedece aos ditames constitucionais, visto a impossibilidade de suprir todas as necessidades elencadas pela lei, pelo seu atual valor. 48 Será que há Justiça nisso? Será que o Direito permite isso? Pode-se afirmar que estão sendo assegurados o princípio da dignidade da pessoa humana, da vida sadia e de qualidade e do meio ambiente ecologicamente equilibrado? A resposta para tais indagações só pode ser negativa. Não pode haver interesse da coletividade que permita injustiças como essa. Não obstante isso, ainda há que se pensar que a ausência desse serviço culminaria, por exemplo, no estrago de alimentos, posto que deixariam de ser refrigerados e influenciaria na saúde física e mental dos que tiveram seu serviço essencial interrompido, o que acarretaria gastos posteriores para o Estado em atendimento hospitalar. Assim, em uma análise da possível economia do sistema de administração da Justiça Distributiva, se torna mais dispendioso para o Estado ter de amparar a família que adoeceu em decorrência da interrupção de fornecimento de serviço essencial do que fornecê-lo gratuitamente138. A Lei Federal nº 8.987/95 poderá ser considerada inconstitucional por admitir o corte por mera inadimplência. Além disso, o termo utilizado pelo legislador no artigo 6º, §3º, inciso II da mesma trata do inadimplemento do usuário considerando o “interesse da coletividade”, e o interesse da coletividade que seja capaz de permitir a interrupção do serviço essencial só pode ser a fraude praticada pelo usuário. Assim, o único corte que seria admitido é o que ocorresse após ordem judicial, uma vez demonstrado no feito que o consumidor inadimplente, mesmo tendo condições financeiras para pagar, não o fez. Existem serviços públicos fornecidos independentemente do pagamento, como o da coleta de lixo, que será realizado ainda que o cidadão não pague. Pelo motivo de que isso é essencial e fundamental para a manutenção de um meio ambiente saudável, ele também é contínuo139. Embora se vislumbre a existência de uma antinomia entre o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor com o artigo 6º, §3 da Lei Federal nº 8.987/95, a rigor, a aplicação do Direito não deve ocorrer exclusivamente com o uso de uma única disposição normativa, mas sim a partir da incidência feixes de normas que incidem 138 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 158. 139 NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 160. 49 sobre os casos da vida concreta, havendo um inteligente e harmonioso diálogo de fontes140 normativas141. O diálogo das fontes, a partir do enfoque constitucional, apresenta solução: a partir da interpretação constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana confere relevância à continuidade do serviço ou à possibilidade de corte, quando nao houver ofensa direta ou indireta à dignidade da pessoa humana.142 Se o usuário do serviço for pessoa jurídica de Direito Público, a interrupção do fornecimento é inadmissível, pois está em causa o interesse público, podendo, por isso mesmo, invocar o postulado da continuidade dos serviços que presta à população em geral143. Na jurisprudência do STJ, há dois posicionamentos acerca da matéria: o primeiro no sentido de que o corte é possível, embasado na Lei de concessão e permissão de serviços públicos (Lei Federal nº 8.987/95), fundamentando-se no fato de que ao se impossibilitar o corte por falta de pagamento, poder-se-á aumentar o número de inadimplentes. O outro entendimento se baseia nos artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, que consubstancia normas gerais aplicáveis a todas as relações de consumo. Ademais disto, tem-se que se trata de serviços essenciais, sem os quais haveria risco à saúde pública e individual144. Nesse debate o Superior Tribunal de Justiça (STJ), inicialmente enfocando-se nos artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendeu pela ilegalidade do corte do serviço em face do inadimplemento do consumidor145. Em um primeiro 140 O termo “diálogo das fontes” foi utilizado pela primeira vez por Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia, significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas não iguais. Lecionava Jayme que em face do atual pluralismo pós - moderno de um direito com várias fontes legislativas, ressurge a necessidade de coordenação entre as leis no mesmo ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo. (MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo das fontes. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor, 3. ed.São Paulo: Revista dos tribunais, 2010, p. 108.). 141 AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: RT, 2010, p. 126. 142 BESSA, Leonardo Roscoe. Aplicação do Código de defesa do consumidor. Brasília: Brasília Jurídica, 2007.p.150. 143 DENARI, Zelmo.Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 216. 144 FILOMENO, José Geraldo Brito. Da política Nacional de relações de consumo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 101. 145 REsp 201.111/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 26.3.2007; RESP nº 223.778/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 07.12.99; REsp 122.812/ES- 1ª T - Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU 26.3.2001, p. 369. 50 momento, as decisões do STJ concluíam pela impossibilidade da suspensão ou interrupção do serviço essencial, fundamentando-se principalmente nos citados dispositivos do Código, afastando-se com isso, as disposições da Lei Federal nº 8.987/95, que permitem a interrupção em face de inadimplência do consumidor. Contudo, em momento posterior, o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça passou a determinar a licitude da concessionária interromper o fornecimento do serviço público essencial a partir do momento em que, após aviso prévio, o consumidor do serviço permanece inadimplente em relação a sua dívida146. Em seguida, acentuando o foco na Lei Federal nº 8.987/95, o STJ manteve o posicionamento que permite a interrupção da prestação do serviço público, mesmo este sendo considerado essencial, ao entender que o princípio da continuidade do serviço público assegurado pelo artigo 22, caput do Código de Defesa do Consumidor deve ser sopesado, ante a exegese do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95, desde que haja aviso prévio147. Em um julgado, decidiu também o Superior Tribunal de Justiça que os serviços públicos essenciais, remunerados por tarifa, prestados por concessionárias do serviço, podem sofrer interrupção quando há inadimplência, como previsto no artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95. Segundo o referido Tribunal, a continuidade do serviço, sem o efetivo pagamento, quebraria o princípio da igualdade das partes e ocasionaria o enriquecimento sem causa148. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenda atualmente a julgar possibilitando a interrupção do serviço público pelas hipóteses elencadas no artigo 6º, §3 da Lei nº 8.987/95, razão não assiste a ele. É que o princípio da dignidade da pessoa humana deve sobrepor-se a todos os outros, especialmente quando a situação leva em consideração tão somente bens materiais e poder econômico. Não se pode conceber, no atual estágio da solidariedade humana, que pessoas deixem de receber serviços tão úteis e essenciais para sua vida, porque as mesmas não detêm recursos ou não vem a adimplir com o pagamento por diversos outros motivos. 146 ADMINISTRATIVO - ENERGIA ELÉTRICA - CORTE -FALTA DE PAGAMENTO - É lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (L. 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II). REsp 363943/MG. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ 10/12/2003. Publicação DJ 01/03/2004. 147 Agravo regimental 962.237-RS, j.11.03.2008, rel. Min. Castro Meira, DJ 27.03.2008. 148 REsp 525500 AL 2003/0048286-1 – AL, Min. Eliana Calmon. 16/12/2003. DJ 10/05/2004 p. 235. RSTJ v. 184. p. 183. 51 Um serviço que é essencial não deixará de sê-lo simplesmente porque uma pessoa não efetuou o pagamento. Continua a existir ali um ser humano e várias necessidades inerentes a ele. Continua a necessitar de água, de energia, de tratamento de esgoto etc. E não conceder esses serviços sob o argumento de não se efetuar uma contraprestação para obtê-los chega a ser um retrocesso. Assim é que o Código de Defesa do Consumidor vem garantir que o serviço que é essencial chegue a todos os consumidores, que ao abrir uma torneira para satisfazer a sede, uma pessoa consiga realizá-lo, que ao abrir a geladeira, seus alimentos estejam conservados, e que nem tudo “gire” em torno de bens materiais. E assim deve ser garantido pelo Estado, como forma de mais alto grau de satisfação de interesse da coletividade e pelos aplicadores do Direito, como uma simples concretização da Justiça. 52 6 CONCLUSÃO O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos serviços públicos oferecidos diretamente pelo Estado, por suas empresas concessionárias ou permissionárias, ou por outra forma de empreendimento, conforme disposição expressa do artigo 22, caput da referida Lei. A relação entre quem é usuário de serviço público e o seu concedente pode ser, portanto, de consumo, estando regulamentada pelo Código e devendo seguir todas as diretrizes e princípios do microssistema consumerista. Dessa forma, o serviço público deve seguir todas as qualidades expressas no artigo 22, caput do Código de Defesa do Consumidor, sendo elas a adequação, eficiência, segurança, e continuidade, no caso de serviços essenciais. De tal forma, se forem oferecidos serviços públicos em desconformidade com as referidas características, haverá direta violação ao mencionado dispositivo do Código, devendo incidir, portanto, responsabilidade objetiva da empresa concedente na reparação dos danos, caso estes venham a ser constatados. A Lei de concessão e permissão de serviços públicos (Lei Federal nº 8.987/95) trouxe em seu 6º, §3º, inciso II uma disposição no sentido de que não constitui interrupção do serviço público o corte motivado pela inadimplência do consumidor, considerando o interesse da coletividade. Essa Lei não observou, portanto, os princípios trazidos pelo CDC e representa uma afronta ao direito do consumidor de não ver o serviço público essencial oferecido de maneira contínua. Além disso, a Lei de concessão e permissão de serviços públicos representa uma violação expressa aos artigos 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, que vão de encontro a realização de cobranças abusivas ao consumidor, pois a suspensão ou interrupção do fornecimento do serviço público essencial constitui uma forma de cobrança abusiva, pois retira do consumidor um serviço do qual ele necessita no intuito de forçá-lo ao pagamento da dívida. O fato é que a doutrina e jurisprudência têm divergido a respeito da ilegalidade da interrupção do serviço público caracterizado pela essencialidade. A jurisprudência partiu de uma posição em que decretava a abusividade da medida, tendo utilizado como principal base jurídica o CDC, juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida sadia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e passou 53 a decidir pela possibilidade do corte no fornecimento do serviço com fundamento no 6º, §3º, inciso II da Lei Federal nº 8.987/1995. Todavia, tal interrupção é ilegal, tendo em vista à interpretação de ambas as Leis sob a luz da Constituição Federal, que assegura a dignidade da pessoa humana, a saúde, a vida sadia e o ambiente ecologicamente equilibrado, e principalmente o artigo 22, caput do Código de Defesa do Consumidor, que consagrou o princípio da continuidade do serviço público essencial, juntamente com o artigo 42, que proíbe certas espécies de conduta abusiva na cobrança de dívidas aos consumidores. Assim, embora haja entendimento no sentido de que é legal a interrupção do serviço público ainda que esse seja essencial, na existência de inadimplência do consumidor, tal entendimento não deve prosperar. As leis infraconstitucionais devem ser criadas e interpretadas à luz da Constituição Federal, de modo que uma vez descumprindo os preceitos ali albergados, sejam eles explícitos ou implícitos, devem ser consideradas inconstitucionais. A Lei Federal nº 8.987/95 não deve ser interpretada isoladamente, mas dentro do ordenamento jurídico a que pertence. E tal ordenamento jurídico, tem como ápice a Constituição Federal, que determina que o Estado promova, na forma da Lei, a defesa do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII). A Lei Federal nº 8.078/90, por sua vez, estabelece que os serviços públicos essenciais devam ser contínuos, não abrindo brechas nem exceções para qualquer legislação posterior venha mitigar o princípio da continuidade do serviço público essencial. 54 REFERÊNCIAS ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação publicitária. Natal: Espaço internacional do livro, 2013 AMARAL, Luiz Otávio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: RT, 2010. ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Serviços públicos e Direito do Consumidor: possibilidades e limites da aplicação do CDC. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. AZEVEDO, Fernando Costa de. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial por inadimplemento do consumidor-usuário. São Paulo. In: RDC 62/118-119. BENJAMIN, Antonio H.V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. BESSA, Leonardo Roscoe. Aplicação do Código de defesa do consumidor. Brasília: Brasília Jurídica, 2007. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Súmula 297. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num=%27297%27>. Acesso de 15 de Fevereiro de 2014. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula 545. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=545.NUME.%2 0NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas>. Acesso em 03 de Fevereiro de 2014. ______. Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. ______. Lei Federal nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. ______. Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. ______. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. ______. Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do estado. 2.ed. São Paulo: Malheiros,1995. p.153. 55 CAPUCHO, Fábio Jun. O poder público e as relações de consumo. São Paulo: In RDC 41. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011. CORRÊA, Luís F. Nigro; CORRÊA, Osíris Leite. Código de Defesa do Consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.p.163 DENSA, Roberta. Direito do Consumidor. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2.ed.São Paulo: Revista dos tribunais, 2009. GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado e jurisprudência. 6. ed. Niterói: Impetus, 2010. GOMES, Marcelo Kokke. Responsabilidade civil: dano e defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos; FINK, Daniel Roberto et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. GUIMARÃES, Paulo J. Scartezzini. Vícios do produto e do serviço por qualidade, quantidade e insegurança. São Paulo: Revista dos tribunais, 2004.9.97 Benjamin, Antônio Herman V. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.p.228-229. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. OLIVEIRA, José Carlos de. Código de Defesa do Consumidor: doutrina, jurisprudência e legislação complementar. 3. ed.São Paulo: Lemos & Cruz, 2002. PFEIFFER, Roberto A. Castellanos. Serviços públicos concedidos e proteção do consumidor. São Paulo. In: RDC 36/175. RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Código de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. SANTANA, Hector Valverde. Dano moral no direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. SOUTO, Felipe de Brito Lima. In: BRITO, Maria Zenaide Brasilino Leite et al (Org.). Reflexões críticas de direito do consumidor: Estudos em homenagem ao professor Fernando Vasconcelos. João Pessoa: Ideia, 2013. 56 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Breve apresentação do novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro. In: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. SOUTO, Marcos Juruena Vilella. Direito administrativo das concessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. SUNDFELD, Carlos Arl (Coord.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda Alves Pinto Serrano de. Código de Defesa do consumidor interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 57
Download