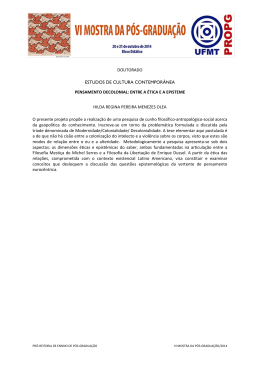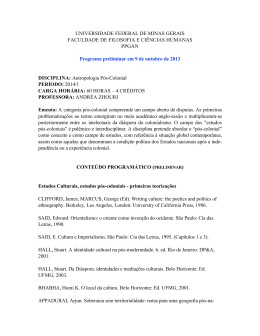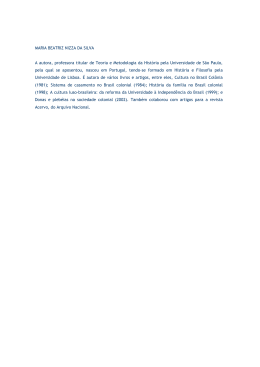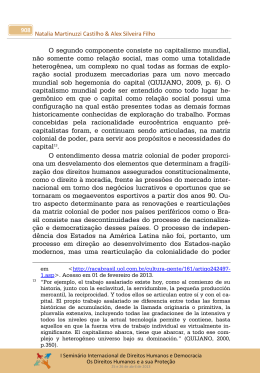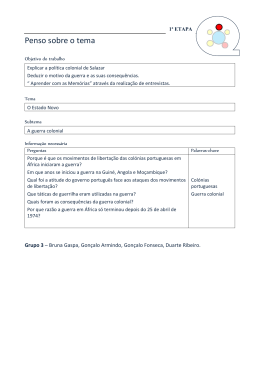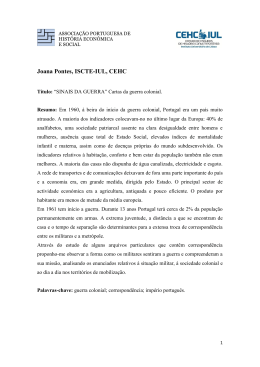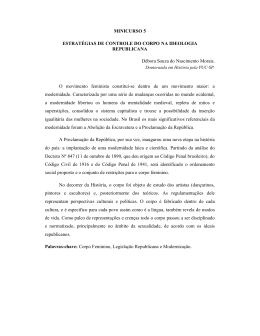Mesa Temática 11 FEMINISMO NEGRO E TRANSMODERNIDADE DESDE UMA PERSPECTIVA DESCOLONIAL: Movimento de Mulheres Negras e a construção de uma perspectiva feminista negra no Brasil dos anos 1980. Vivian Souza Alves da Silva – [email protected] – PPCIS/UERJ e LEMTO/UFF1 1. Introdução: Interessados em investigar os efeitos de longa duração iniciados pela conformação de um sistema-mundo capitalista moderno/colonial a partir do processo de instauração da América, autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo e Enrique Dussel, filiados à perspectiva epistêmica descolonial, identificam a classificação social da população mundial na ideia de “raça” como um dos eixos fundamentais do novo padrão de poder que inicia sua formação há cinco séculos e que, defendem, continua em atuação até os dias de hoje. A este padrão de poder denominou-se colonialidade do poder (Quijano, 1992). A colonialidade do poder não logrou, sabemos, ser recebida passivamente pelos povos que, racializados, foram agregados no lado subalternado da diferença colonial: estratégias de resistência frente a esse padrão de relações hierárquicas e desiguais “surgiram na fundação mesma da modernidade/colonialidade como sua contrapartida” (Mignolo, 2007: 27). Ao serem desprezadas e invalidadas, as culturas subalternas puderam prosseguir seu trabalho de subversão em silêncio, na obscuridade (Dussel, 2005: 17). No período posterior a 1945, observa-se, sobretudo nas regiões do sistemamundo onde o pensamento fronteiriço irrompe a partir da ferida colonial, a eclosão de múltiplos projetos políticos construídos desde o lado subjugado da diferença colonial. Estes oferecem respostas aos desafios lançados pela Modernidade eurocentrada que se estruturam não a partir do imaginário cultural colonizado e das estreitas possibilidades que oferece a racionalidade moderna eurocentrada, mas, antes, das experiências culturais próprias dos grupos e culturas subalternizados. 1 A autora autoriza a publicação deste artigo em qualquer formato que o Comitê Acadêmico do II Congresso de Estudos Pós-coloniais e da III Jornadas de Feminismo Pós-colonial definam. 1 Este artigo tem por objetivo, a partir deste panorama, trazer à luz o processo de construção do ideário político do Movimento de Mulheres Negras (MMN) no Brasil, compreendendo-o como um entre os tantos questionamentos de ordem epistêmicopolítica que emergem a partir da pluralização e do amadurecimento das lutas sociais visibilizadas e fortalecidas a partir da metade do século passado. Apresentarei a reflexão que me leva a crer que este movimento se funda a partir de um “pensamento fronteiriço”, o que o insere, em alguma medida, naquilo que Enrique Dussel chama de transmodernidade. Trarei para o texto algumas reflexões das principais intelectuais ativistas envolvidas no projeto de construção do MMN entre os anos 1980 e meados da década seguinte, como Lélia Gonzales, Sueli Carneiro e Luiza Bairros, apoiando-me sobre estas para produzir uma leitura que aproxima a perspectiva epistêmica descolonial da perspectiva feminista negra que ora começava a ganhar vida. Se bem que este movimento não tenha teorizado e se pensado a partir de categorias como colonialidade do poder ou diferença colonial, seu discurso explicita a noção de que o pensamento e a prática que desenvolvem derivam da experienciação das permanências, em termos de estrutura de pensamento e práticas sociais, do colonialismo escravista que vigeu no Brasil por mais de três séculos. Assumo, portanto, a existência de múltiplas semelhanças em termos de repertório discursivo e horizontes interpretativos entre este projeto político e a perspectiva descolonial latino-americana encabeçada por Anibal Quijano, Enrique Dussel e Walter Mignolo. Devido às limitações de espaço opto por, neste artigo, dividir minha reflexão em três partes. Iniciarei com uma breve apresentação da perspectiva epistêmica descolonial, destacando as principais conceituações que formam a base deste “paradigma outro” (Escobar, 2003). Em seguida, tratarei especialmente dos temas da transmodernidade e do pensamento fronteiriço, duas conceituações-chave do projeto descolonial latinoamericano. Trarei para esta reflexão, na terceira parte, um panorama acerca da emergência do feminismo no Brasil dos anos 1960/1970 e da contraproposta apresentada pelas mulheres negras, já indicando, nesse tópico, a possibilidade de leitura do Movimento de Mulheres Negras brasileiro a partir das categorias descoloniais, em especial aquelas destacadas na segunda etapa deste artigo. 2. Perspectiva epistêmica descolonial: 2 A perspectiva epistêmica que se organiza em torno de ideia de modernidade/colonialidade pensa criticamente as permanências coloniais no mundo atual tomando como horizonte histórico o processo de expansão territorial e comercial dos países ibéricos iniciado no final de século XV. Neste momento, alguns grandes projetos e estruturas políticas começam a se consubstanciar, entre os quais a América, o capitalismo e a modernidade, levando Aníbal Quijano (1991) a afirmar, metaforicamente, que todos “nasceram no mesmo dia”. Isto significa dizer, entre outras coisas, que a Modernidade se funda sobre uma materialidade específica tornada possível a partir da expansão territorial ibérica para a região (então instituída como) americana (Castro-Gómes, 2005). Esta “materialidade”, para tornar-se disponível aos colonizadores europeus, valeu-se da “articulação de diversas relações de exploração e de trabalho – escravidão, servidão, reciprocidade, assalariamento, pequena produção mercantil – em torno do capital e de seu mercado” (Quijano, 1992: 757). O novo padrão de poder mundial que se forma então, uma “estrutura de poder cujos elementos cruciais foram, sobretudo em sua combinação, uma novidade histórica” (Quijano, ibid), caracteriza-se, inicialmente, exatamente por esta articulação. A colonialidade do poder (id., ibid.) seria marcada, ainda, por um processo de produção de novas identidades históricas – “índio”, “negro”, “branco” e “mestiço” – impostas “como as categorias básicas das relações de dominação e como fundamento de uma cultura de racismo e etnicismo” (id., ibid.). Nesse processo, todos os povos subjugados foram destituídos de suas próprias e singulares identidades históricas (guaranis, maias, aimarás, iorubas e tantas outras), e agrupados em torno das novas identidades de origem colonial. A colonialidade seria o “lado escuro da Modernidade” (Mignolo, 2007c), a face oculta de exploração, subjugação e expropriação dos povos, territórios e recursos nãoeuropeus necessária ao desenvolvimento da Modernidade europeia. Formada a partir de 1492, a colonialidade se estendeu ao longo desses cinco séculos, rearticulando-se e adaptando-se aos novos tempos e desafios históricos, até chegar viva aos dias de hoje, mesmo após a quase completa erradicação das administrações coloniais no mundo pósSegunda Guerra Mundial. O colonialismo global iniciado no final do século XV e perpetuado durantes os séculos XVI, XVIII e XIX deu lugar ao que o sociólogo portorriquenho Ramón Grosfoguel (2012) chama de colonialidade global. O autor entende que “as hierarquias coloniais globais entre ocidentais e não ocidentais que temos denominado de colonialidade do poder, construídas por 450 anos de colonialismo, continuam intactas apesar das administrações coloniais terem sido 3 erradicadas” (Grosfoguel, ibid.: 347). As relações sociais extremamente desiguais – “tanto relações entre Estados como relações entre classes e grupos sociais no interior do mesmo Estado” (Santos e Meneses, 2010: 18) – geradas pelos projetos coloniais europeus e, mais tarde, pela hegemonia norte-americana no cenário internacional, continuaram e continuam atuando, de maneira reconfigurada: “o colonialismo continuou sobre a forma da colonialidade de poder, [do ser] e de saber” (id., ibid.). A invenção colonial da ideia de “raça”, conforme já adiantado, seria uma das características fundamentais e fundantes da colonialidade enquanto padrão de poder alicerçado sobre uma lógica hierarquizante. A novidade da categoria “raça” não residia apenas na possibilidade de codificação das diferenças fenotípicas entre as populações originárias da América e os invasores ibéricos. Estas, aliás, se bem que fossem reais, não evidenciavam por si só a existência de desigualdades nos níveis de desenvolvimento biológico e, consequentemente, intelectual, entre uns e outros. O caráter inédito da ideia de “raça”, e o que a torna uma construção mental especialmente útil para a dominação colonial, deve-se ao fato de que esta consolida não apenas as diferenças físicas visíveis entre conquistadores e conquistados numa escala hierárquica, mas, mais importante, institui supostas desigualdades nos níveis de desenvolvimento biológico e mental entre estes, criando, assim, uma escala supostamente natural (no sentido de inata, e não produto de uma construção social) que ia do mais primitivo, o “bestial”, ao mais desenvolvido, o europeu. Un rasgo característico de este tipo de clasificación social consiste en que la relación entre sujetos no es horizontal sino vertical. Esto es, algunas identidades denotan superioridad sobre otras. Y tal grado de superioridad se justifica en relación con los grados de humanidad atribuidos a las identidades en cuestión. En términos generales, entre más clara sea la piel de uno, más cerca se estará de representar el ideal de una humanidad completa (Maldonado-Torres, 2007: 132). Outras formas fundamentais de diferenciação hierárquica, que se ligam à divisão racial e a fortalecem – entre elas, as categorizações de classe, de gênero e de sexualidade – estariam em funcionamento dando forma àquilo que Walter Mignolo (2007) chama de matriz colonial de poder. Nesse sentido, racismo, sexismo, preconceito social e homofobia não seriam passíveis de serem tratados em separado, dado que pertencem a uma mesma estrutura de poder. Todas essas, incluindo o 4 eurocentrismo, seriam “ideologias que nascem dos privilégios do novo poder colonial capitalista, masculinizado, branqueado e heterossexualizado” (Grosfoguel, 2012: 343). A instituição da classificação da população mundial na ideia de raça não logrou apenas construir a superioridade étnica de uns homens sobre outros e de umas formas de conhecimento sobre outras, mas foi capaz, principalmente, de estruturar a transformação da diferença cultural em valores e hierarquias (Mignolo, 2013). A diferença colonial é o termo cunhado por Walter Mignolo (2003) exatamente para visibilizar o “lado escuro” da Modernidade: encarados como “bárbaros”, “primitivos” e naturalmente inferiores, pensava-se necessário “civilizar”, isto é, impor sobre esta parcela “medíocre” e “atrasada” da população mundial os modos de pensamento e organização social tipicamente europeus – esses sim “avançados” e “iluminados”. A racionalidade do projeto colonial e de seu padrão de poder específico, a colonialidade, ferem os povos colonizados em sua dignidade não somente por despojar-lhes de suas próprias e singulares identidades históricas, mas sobretudo por destituí-los de seu lugar na história da produção cultural da humanidade: pensados enquanto raças inferiores, estes seriam capazes de produzir somente culturas inferiores (Quijano, 2005: 116). Nesse sentido, um dos grandes trunfos da colonialidade do poder não é a simples inferiorização e negação da alteridade, mas, antes, a “[naturalização do] imaginário cultural europeu como forma única de relacionamento com a natureza, com o mundo social e com a própria subjetividade” (Castro-Gómez, 2005: 59). Entre os povos que são alvos dos intentos catequizadores, civilizadores, e desenvolvimentistas do projeto moderno/colonial emerge aquilo que Mignolo (2003) chama ferida colonial, ou seja, o “sentimento de inferioridade imposto aos seres humanos que não se encaixam no modelo predeterminado pelos relatos euroamericanos” (Mignolo, 2007b: 17). No decorrer do processo de classificação racial, a cada uma das novas identidades históricas (“raças”) construídas sob a premissa da superioridade europeia foram associados lugares e papeis sociais correspondentes. Isto dá origem ao que Quijano (2005) entende como sendo a segunda característica fundamental da colonialidade do poder – a existência de uma sistemática divisão racial do trabalho – forjada exatamente sobre a já mencionada articulação, típica do projeto colonial nas Américas, entre as diversas formas de relações de exploração e de trabalho em torno do capital e de seu mercado. Uma vez entendidas como raças inferiores, as populações sob domínio colonial europeu foram associadas às relações não-salariais de trabalho, desenvolvendose, dessa maneira, “entre os europeus ou brancos a específica percepção de que o 5 trabalho pago era privilégio dos brancos. A inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos do pagamento de salário” (Quijano, ibid.: 110). A atual divisão internacional do trabalho, bem como o fato de que as populações historicamente compreendidas como inferiores ocupam hoje, em geral, postos de trabalho de menor renda e prestígio, não podem ser entendidos “sem recorrer-se à classificação social racista da população do mundo. Em outras palavras, separadamente da colonialidade do poder capitalista mundial” (id., ibid.). A colonialidade do poder não limitou seu projeto de dominação, por fim, ao controle do “novo” território americano, e de seus recursos e populações, pela via militar e pelo uso da força. A formação de toda uma estrutura de pensamento que, ao mesmo tempo, justificou e possibilitou os projetos coloniais europeus dos séculos XVI, XVIII e XIX, bem como o atual projeto imperial norte-americano, foi capaz de colonizar não somente territórios, mas igualmente saberes e subjetividades. Se a colonialidade do saber responde à questão da colonização epistêmica/dos saberes, “o surgimento do conceito de ‘colonialidade do ser’ responde, pois, à necessidade de esclarecer a pergunta sobre os efeitos da colonialidade na experiência vivida, e não apenas na mente dos sujeitos subalternos” (Maldonado-Torres, ibid.: 130). É necessário destacar, finalmente, que a diferença colonial é, ainda hoje, uma construção viva: La [colonialidad] se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. En un sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente (Maldonado-Torres, 2007: 131). Esta, além de reificar o antigo racismo e etnicismo forjados durante a Primeira Modernidade, constrói igualmente, e de forma bastante poderosa, seus novos “bárbaros”, portadores de identidades culturais “atrasadas” e “primitivas” que, não raro, precisam ser “libertados” e “conduzidos à democracia” – ainda que a violência seja o principal veículo de promoção dessa “libertação” rumo ao “progresso”. A perspectiva descolonial julga que a sustentação de um projeto de tamanha envergadura requer a ação conjunta das estruturas da colonialidade do poder, do ser e do saber – ainda que, é preciso ter em foco, a manutenção de tal projeto esteja sendo a cada dia mais posta em xeque. 3. Pensamento de fronteira e transmodernidade 6 A despeito do sistemático processo de repressão e silenciamento das culturas dos povos racializados e subalternizados pela lógica da colonialidade, sabemos que “as ideias não se matam: sobrevivem nos corpos, pois são parte da vida” (Mignolo, 2007b: 35). A memória coletiva reprimida dos grupos dominados sobrevive através de sua transmissão em níveis mais profundos, em canais subterrâneos, e tem potencial para eclodir em momentos de reconfiguração do status quo político e social (Pollak, 1989). Se é possível falar da eclosão, no pós-1945, de projeto políticos críticos à lógica da colonialidade construídos desde o lado subjugado da diferença colonial, isto se dá devido ao fato de que “o mundo pós 2ª Guerra Mundial vê instaurar- se [...] o que Giovanni Arrighi chamara de ‘caos sistêmico’” (Porto-Gonçalves, 2002: 237). Este caracteriza-se precisamente por ser uma situação de reconfiguração conjuntural, isto é, do despertar de “poderosas tendências contraditórias” (Arrighi apud Porto-Gonçalves, ibid.) que abrem espaço para o questionamento das hegemonias até então vigentes e para o emergir de atores políticos que vinham sendo mantidos nos bastidores. Essas novas configurações emergentes não estão necessariamente imbuídas, é preciso admitir, de um ideal libertário que visa à correção das assimetrias de poder construídas externa e internamente por séculos de imposições/reproduções coloniais/imperiais. Não obstante, o que se observa é o deslocamento dos sujeitos subalternos do silêncio e da obscuridade para as arenas cotidianas do embate político. Apesar da violência – real e simbólica – do processo anteriormente descrito de marginalização, apagamento, e depreciação das culturas construídas enquanto inferiores pela colonialidade; podemos observar que estas culturas outras não puderam ser mortas, mas, aliás, estão “antes vivas, e na atualidade em pleno processo de renascimento, buscando (e também inevitavelmente equivocando) caminhos novos para seu desenvolvimento próximo futuro” (Dussel, 2005: 17). Quando algumas destas recusamse à assimilação, abrem, inevitavelmente, caminhos “rumo à rebelião e aos modos de pensar distinto” (Mignolo, 2007b: 86). É preciso admitir, dessa forma, que a prática epistêmica descolonial é muitíssimo anterior ao debate no interior da Academia sobre o giro epistêmico descolonial. Os nomes de Túpac Amaru, Zumbi dos Palmares, Toussant Louverture e Ottobah Cugoano são apenas alguns exemplos de ação contrária à hegemonia eurocêntrica, bem como de reflexão crítica em torno das possibilidades de construção de um projeto de resistência frente a esta. Em todos esses casos, os personagens citados guardavam uma alteridade com relação à Modernidade europeia, já que conviviam cotidianamente com sua face 7 oculta, a colonialidade. À exemplo destes, os atuais movimentos contestatórios oriundos de grupos articulados em torno de identidades cujo valor cultural foi sistematicamente negado e depreciado e/ou que se supunham fazerem parte do passado, hoje em pleno processo de emergência, não são e não podem ser portadores de “identidades substantivas incontaminadas e eternas” (Dussel, ibid.). Se tratam, antes, de identidades entendidas enquanto processos em construção, desenvolvendo-se em paralelo com a Modernidade, mas sempre como sua exterioridade. Dessa maneira, hoje, esses projetos políticos assumem os desafios surgidos desde a Modernidade – no qual estão inseridos como um “afuera relativo” (e a contradição nos termos é proposital) –, mas procuram oferecer respostas a estes que partam não do lugar do imaginário colonizado e restrito das possibilidades que oferece a racionalidade moderna eurocentrada, mas, antes, que tomem como ponto de partida e referência o lugar de suas próprias experiências culturais, distintas das europeias e norte-americanas e, por isso mesmo, com capacidade de oferecer soluções que são igualmente distintas. A transmodernidade, um projeto utópico proposto por Enrique Dussel para a transcendência da modernidade em sua versão eurocêntrica, se apresenta como uma “estratégia de subversão político-cultural desenvolvida do lado subalterno da diferença colonial” (Grosfoguel, 2012: 341): Ao contrário do projeto de Habermas, em que o objetivo é concretizar o incompleto e inacabado projeto da modernidade, a transmodernidade de Dussel visa concretizar o inacabado e incompleto projeto novecentista da descolonização. Em vez de uma única modernidade, centrada na Europa e imposta ao resto do mundo como um desenho global, Dussel propõe que se enfrente a modernidade eurocentrada através de uma multiplicidade de respostas críticas descoloniais que partam das culturas e lugares epistêmicos subalternos de povos colonizados de todo o mundo. Na interpretação que Walter Mignolo faz de Dussel, a transmodernidade seria equivalente à “diversalidade enquanto projeto universal”, que é o resultado do “pensamento crítico de fronteira” enquanto intervenção epistêmica dos diversos subalternos (Grosfoguel, 2010: 481-482). O pensamento de fronteira a que Grosfoguel faz referência emerge precisamente da diferença colonial, ou seja, do diferencial de poder existente no contexto moderno/colonial, que obrigou – na vã esperança de que, ao fazê-lo, pudesse exterminar toda a diversidade epistêmica – as populações colonizadas a adotarem a gramática da modernidade eurocentrada. O que ocorreu, mais bem, foi o surgimento de uma consciência mestiça – não no sentido sincrético2 – portadora de um pensamento que se 2 “Visto desde um olhar eurocêntrico, isto é, a partir do lado dominante, hegemônico da diferença/relação do poder colonial, estes processos culturais são concebidos como “sincréticos”, pois se assume que há 8 emarcava numa zona cinza entre a epistemologia própria de um contexto cultural determinado, vitimado pela colonização; e a epistemologia hegemônica eurocêntrica. O pensamento crítico de fronteira é a resposta epistêmica do subalterno ao projeto eurocêntrico da modernidade. Ao invés de rejeitarem a modernidade para se recolherem num absolutismo fundamentalista, as epistemologias de fronteira subsumem/redefinem a retórica emancipatória da modernidade a partir das cosmologias e epistemologias do subalterno, localizadas no lado oprimido e explorado da diferença colonial, rumo a uma luta de libertação descolonial em prol de um mundo capaz de superar a modernidade eurocentrada. Aquilo que o pensamento de fronteira produz é uma redefinição/subsunção da cidadania e da democracia, dos direitos humanos, da humanidade e das relações econômicas para lá das definições impostas pela modernidade europeia. O pensamento de fronteira não é um fundamentalismo antimoderno. É uma resposta transmoderna descolonial do subalterno perante a modernidade eurocêntrica (Grosfoguel, ibid: 480-481). O fato de a modernidade europeia ter afetado e imprimido sobre todas as culturas do mundo o seu selo hierarquizante e etnocêntrico não significa “que não existam alternativas ao eurocentrismo e ao ocidentalismo” (Grosfoguel, 2012: 351). As epistemologias e pensamentos fronteiriços e a transmodernidade são projetos que se apresentam diante da necessidade real de responder desde a alteridade aos desafios surgidos a partir da Modernidade, atuando, para tanto, numa relação de “cumplicidade subversiva com o sistema” (Castro-Gómez e Grosfoguel, 2007: 20). Ambas as estratégias assumem o que Dussel (ibid.: 17) chama de “momentos positivos da Modernidade” – estes, entendidos a partir de critérios distintos, a depender de quem avalia –, e propõem a superação da lógica da colonialidade – que rege, de maneira assimétrica, as relações interculturais e interepistêmicas. Tomando-as como ponto de partida, poderemos repensar para além dos limites estreitos que a epistemologia moderna eurocentrada nos impõe questões como a democracia, os direitos humanos, a cidadania e – o que me interessa em particular – o feminismo. 4. Movimento de Mulheres Negras brasileiro: aproximações possíveis entre as perspectivas descolonial e feminista negra uma horizontalidade nas relações culturais ali estabelecidas. No entanto, [...] quando olhamos a partir da perspectiva subalterna da diferença/relação de poder colonial, o híbrido e mestiço representam estratégias políticas, culturais e sociais dos sujeitos subalternos que, desde posições de poder subordinadas, quer dizer, a partir de uma verticalidade nas relações interculturais, inserem epistemologias, cosmologias e estratégias políticas alternativas ao eurocentrismo como resistência às relações de poder existentes. Chamar estas estratégias de “sincretismo” é um ato de violência simbólica que reduz estes processos ao mito de uma integração horizontal e, portanto, igualitária, dos elementos culturais em questão” (Grosfoguel, 2012: 340-341). 9 Em uma busca um tanto quanto inocente, orientada com fins didáticos, por traçar uma genealogia do feminismo, acabei me deparando com um grave problema, que diz respeito exatamente à questão da depreciação e do apagamento das experiências culturais localizadas numa exterioridade em relação à Modernidade – assunto de que as seções anteriores deste artigo vinham tratando. Seria possível para mim, depois de todo o caminho crítico percorrido nesta reflexão, reafirmar a origem eurocêntrica do feminismo, creditando seu florescimento a personagens como Mary Wollstonecraft e Olympe de Gauges? Entendendo este, como o faço, enquanto uma ideologia política que questiona o papel subalterno e a exploração da mulher na sociedade, me parece mais correto assumir genealogias múltiplas e difusas para o feminismo. Se bem que enquanto projeto político e movimento social estruturado este esteja, de fato, mais próximo de uma origem europeia/norte-americana, ainda não fui convencida de que mulheres anônimas em várias partes do mundo, pertencentes a distintos contextos sociais e culturais, furtaram-se em absoluto de teorizar sobre (mesmo que não no sentido acadêmico) e de se armar de diferentes maneiras contra as formas de opressão que a elas se impunham. Minha leitura – que não me é exclusiva, mas, antes, inspirada na visão de algumas feministas cujo pensamento em grande parte me orienta, como Lélia Gonzales, bell hooks e Ochy Curiel – não pode ignorar que a consciência da opressão e da exploração desenvolvida por mulheres colonizadas (pela colonialidade com ou sem colonialismo) se traduziu em atos de resistência, como a [...] recusa da escrava em repor a mão de obra, seja pelo reconhecimento do valor da sua prole como mercadoria, seja por não desejar dar o seio, o alimento ao filho do senhor, ou ainda para que seu filho não sofresse o cativeiro. [Estas] são algumas das leituras possíveis do aborto e infanticídio como formas de resistência. Existem outras, como a recusa da escrava em ter filhos mulatos, fruto da violência sexual, ou também em ver aumentada com a maternidade, os seus inúmeros trabalhos e já pesados encargos (Morr, 1989: 94, grifo meu). Ignorar tais fatos significaria defender uma posição em que apenas as estratégias de luta típicas do feminismo ocidental/hegemônico são consideradas válidas. Sustentar uma leitura que desloca o feminismo para fora do centro hegemônico supõe ampliar e redefinir o leque de significados contido no próprio termo, negando seu caráter intrinsecamente liberal-individualista e explicitando sua utilidade e validade em contextos que extrapolam a experiência de mulheres euro-norte-americanas. Conforme afirma bell hooks (apud Azerêdo, 1994: 212) “(q)ualquer movimento para resistir à 10 cooptação da luta feminista deve começar por introduzir uma diferente perspectiva feminista – uma nova teoria – que não seja informada pela ideologia do individualismo liberal”. Esse processo, que entendo como uma luta política pelo significado do feminismo, envolve necessariamente a denúncia do eurocentrismo contido na teorização e na prática feminista originada no centro do sistema capitalista, e reproduzida, muitas vezes, por mulheres em situação de privilégio social e racial em outras partes do mundo. Conforme a crítica de Chandra Mohanty (1984) nos relembra, as práticas feministas existem no interior de relações de poder – relações que podem ser redefinidas ou mesmo implicitamente apoiadas por estas práticas. É nesse sentido que muitas mulheres organizadas em torno de identidades historicamente subalternas colocam na mesa de diálogo feminista a necessidade de se compreender “gênero” como apenas mais “uma das formas que relações de opressão assumem numa sociedade capitalista, racista e colonialista” (Azerêdo, ibid: 207, grifo meu). Lélia Gonzalez, uma das principais intelectuais ativistas do Movimento de Mulheres Negras brasileiro (MMN), questionando-se sobre o esquecimento aparente da questão racial por parte do feminismo brinda-nos com uma reflexão bastante esclarecedora: “a resposta, em nosso juízo, está no que alguns cientistas sociais caracterizam como racismo por omissão e cujas raízes, nós dizemos, se encontram em uma visão de mundo eurocêntrica e neocolonialista da realidade” (Gonzalez, 1988). O feminismo brasileiro, emergindo num cenário de intenso processo de modernização capitalista, por um lado, e de forte repressão à organização social, por outro, viu abrir-se, com a declaração da Década da Mulher pela ONU (1975-1985), uma margem de manobra para sua articulação que a maioria dos grupos sociais da época não possuía. Tributária de um contexto de polarização política entre projetos esquerdistas e conservadores, a primeira década do feminismo no Brasil foi marcada por uma leitura com forte ênfase no conceito de classes. À esta altura, toda uma tradição sociológica em torno da existência de uma “democracia racial” no país já havia sido consolidada, ainda que algumas vozes dissonantes começassem a ganhar espaço. O “mito da democracia racial”, como era entendido pelos movimentos negros da época, provocou nas Ciências Sociais do país uma enorme dificuldade em tratar da questão da opressão racial e das heranças do colonialismo escravista, dificuldade que foi reproduzida também no interior do feminismo em seus primeiros momentos, levando certos grupos de mulheres negras a observarem que “na leitura dos textos e na prática feminista” o que geralmente se 11 constatavam eram “referências formais que denotam uma espécie de esquecimento da questão racial” (Gonzalez, 1988). Nesse sentido, quando organizações de mulheres negras começam a se articular a partir do interior dos movimentos negros, no fim dos anos 1970, estas não o fazem sob uma autodenominação feminista: há, aliás, um afastamento proposital do termo, à época visto com muita desconfiança por homens e mulheres negros. Sueli Carneiro, a respeito do Encontro de Mulheres Negras de São Paulo ocorrido em 1984, apresenta algumas razões que nos levam a compreender este afastamento: “a discussão do encontro apontou as dificuldades de relacionamento entre o movimento feminista e as mulheres negras, marcado por ressentimentos históricos e desigualdades latentes. Entre outros motivos, porque, mesmo oprimida, a mulher branca vem se beneficiando da desqualificação profissional, moral e estética das mulheres negras e não-brancas em geral. Seja porque é parceira do homem branco dominador, seja porque encarna o ideal feminino, seja porque possui a chamada “boa aparência” que, nesta sociedade, é sinônimo de brancura” (Carneiro, 1984: 13). Se, por um lado, as mulheres negras encontravam-se às margens do movimento feminista; por outro, a presença de um ideário machista entre os homens que se encontravam à frente dos movimentos negros à época, aliada à ideia de que outras questões deveriam se manter subordinadas à questão racial, entendida como prioritária, levou a “várias investidas de algumas lideranças masculinas negras para tutelar o Movimento de Mulheres Negras através de mecanismos de controle que vão desde as tentativas de enquadramento ideológico do [Movimento], passando por várias formas de desqualificação da importância política do mesmo” (Carneiro, 1993: 15). Sem espaço de protagonismo nos movimentos feministas e negros, as mulheres negras organizadas se deram conta da necessidade da criação de seus próprios espaços de discussão e luta política. Sua autonomização em relação aos movimentos negros e feministas não depôs estes, contudo, de sua posição enquanto principais interlocutores do MMN: vêm sendo construído um movimento específico, cuja originalidade reside no fato dele surgir determinado pela ação política de dois outros movimentos sociais, o Movimento Negro e o Movimento Feminista, e buscar redefinir a ação política destes dois movimentos em função da especificidade que o inspira: o ser negra. Assim, o Movimento de Mulheres Negras nasce 12 marcado pela contradição que advém da necessidade de demarcar uma identidade política em relação a esses dois movimentos sociais de cujas temáticas e propostas gerais também partilha e que, em última instância, determinam a sua existência e ambiguidades. Estas condições impõem a discussão sobre os fatores que justificam a necessidade de organização política das mulheres negras, a partir de suas especificidades, e ainda investigar no que estas especificidades consistem. (Carneiro, 1993: 14, grifo meu). Dado este contexto, o MMN, a exemplo do movimento feminista, enxerga as hierarquias de gênero; mas, em realidade, acaba por enxergar para muito além destas, caminhando em direção a uma compreensão de que “raça, gênero, classe social, orientação sexual reconfiguram-se mutuamente formando [...] um mosaico que só pode ser entendido em sua multidimensionalidade” (Bairros, 1995: 461). Esta ideia de mosaico, me parece, está fundamentalmente ligada à proposição descolonial que afirma a existência de uma matriz de poder colonial. É por esse motivo que “um feminismo negro, construído no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas – como são as sociedades latino-americanas – tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas sociedades” (Carneiro, 2003). O frontal embate contra o silenciamento sobre a opressão racial e contra a ideia da existência de uma democracia racial no Brasil – empreendido não só pelo MMN em relação ao feminismo hegemônico, mas igualmente pelos movimentos negros mistos de maneira mais ampla – pode ser entendido como uma “estratégia de visibilização e rearticulação da diferença colonial” (Walsh, 2007: 57). Esse tipo de posicionamento “não transcende simplesmente a diferença colonial, mas a visibiliza e rearticula em novas políticas da subjetividade” (id. ibid.), na medida em que, organizados enquanto grupo político, e valendo-se da categoria colonial, negras e negros decidem escancarar a ferida colonial e ressignificar os sentidos atribuídos à sua “raça”: SOMOS NEGRAS - e o que nos diferencia das demais mulheres não é só a cor da pele, mas a IDENTIDADE CULTURAL. E é para resgatar esta identidade de MULHER NEGRA, que precisamos nos organizar a parte sim. Aprofundar as questões específicas, perceber onde, como e quando somos oprimidas e partindo deste específico participarmos mais fortalecidas da luta geral (Nzinga Informativo, 1988: 2). 13 Os anos 1990 expuseram uma mudança de postura por parte do MMN quanto à sua própria autodenominação, levando algumas mulheres pertencentes aos seus quadros a falarem em “feminismo negro” já em meados da década para referirem-se ao movimento a que pertenciam (Lemos, 1997). Ainda é preciso, no entanto, um estudo mais profundo para que possamos compreender, no caso brasileiro, de que maneira se deu a passagem da identidade coletiva do Movimento de Mulheres Negras para a do Feminismo Negro. Independente do que se virá a concluir sobre esta questão, tal mudança de postura parece indicar um aceite dos “momentos positivos da Modernidade”, no estilo dusseliano; isto é: aceitando como válidos os aportes oferecidos pelo feminismo em sua versão hegemônica, mas ampliando e redefinindo a partir de suas próprias experiências culturais e cosmologias as possibilidades contidas no termo, engajando-se, assim, na luta pelo significado político da ideia de “feminismo”. Como intelectuais críticas localizadas na fronteira entre a cultura própria do povo negro e mestiço, e a cultura branca dominante, as mulheres negras envolvidas na construção do MMN parecem manejar a escolha “dos instrumentos modernos que serão úteis para a reconstrução crítica da sua própria tradição” (Dussel, 2005). Posicionandose enquanto feministas, essas mulheres afastam-se de um fundamentalismo antimoderno, que credita à modernidade eurocentrada a invenção de uma ideologia de combate à exploração e subjugação das mulheres; ao passo que inserem suas próprias perspectivas, interpretações e experiências no projeto feminista, enchendo-lhe de um significado que em muito exacerba os alcances reais e pretendidos do feminismo eurocentrado. Nesse sentido, entendo que a construção de uma perspectiva feminista negra no Brasil, emergindo de um pensamento crítico de fronteira, em muitos sentidos se aproxima da transmodernidade, enquanto projeto que visa a descolonizar as relações entre a modernidade eurocentrada e sua alteridade, proposta por Dussel. 5. Referências bibliográficas AZERÊDO, Sandra (1994). “Teorizando sobre gênero e relações raciais”. Revista Estudos Feministas, UFRJ, n. especial, Rio de Janeiro. BAIRROS, Luiza (1995). “Nossos feminismos revisitados”. Revista Estudos Feministas, UFRJ, vol. 3, n 2, Rio de Janeiro. CARNEIRO, Sandra (1984). “Encontro de Mulheres Negras de São Paulo”. Jornal Mulherio, ano IV, n. 18, set/out. 14 _________________ (1993). “A Organização Nacional das Mulheres Negras e as Perspectivas Políticas”. Cadernos Geledés, n 4, primavera. _________________ (2003). “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero” em Ashoka Empreendedores Sociais e Takano Cidadania (org.). Racismos Contemporâneos. Takano, Rio de Janeiro. CASTRO-GÓMEZ, Santiago (2005). La postcolonialidad explicada a los niños. Editorial Universidad del Cauca, Popayán. CASTRO-GÓMEZ, Santiago e GROSFOGUEL, Ramón (2007). “Prólogo: Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico”, em Santiago Castro-Gómez e Ramón Grosfoguel (orgs.) El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores, Bogotá. DUSSEL, Enrique (2005). “Transmodernidad e Interculturalidad (interpretaciones desde la Filosofía de la Liberación)”, disponível em: http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf ESCOBAR, Arturo (2003). Mundos y conocimientos de otro modo: el programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano. Tabula Rasa, n. 1, Bogotá. GONZALES, Lélia (1988). “Por un Feminismo Afrolatinoamericano”. Ediciones de las Mujeres, Isis Internacional & MUDAR - Mujeres por un Desarrollo Alternativo, núm. 9, Santiago. GROSFOGUEL, Ramón (2010). “Para descolonizar os estudos em economia política e os estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global”, em Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (orgs.) Epistemologias do Sul. Cortez Editora, São Paulo. _____________________ (2012). “Descolonizar as esquerdas ocidentalizadas: para além das esquerdas eurocêntricas rumo a uma esquerda transmoderna descolonial”. Revista Contemporânea, Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UERJ, v. 2, n. 2, Rio de Janeiro. LEMOS, Rosália de Oliveira (1997). “Feminismo Negro em Construção: a organização do movimento de mulheres negras no Rio de Janeiro”. Dissertação de Mestrado. Instituto de Psicologia da UFRJ, Rio de Janeiro. MALDONADO-TORRES, Nelson (2007). “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto”, em Santiago Castro-Gómez e Ramón Grosfoguel (orgs.) El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores, Bogotá. MIGNOLO, Walter (2003). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Akal, Madrid. ________________ (2007). “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto”, em Santiago Castro-Gómez e Ramón Grosfoguel (orgs.) El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores, Bogotá. 15 ________________ (2007b). La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial. Gedisa, Barcelona. ________________ (2013). “Decolonialidade como caminho para a cooperação”. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, nº 431, ano XIII, pp. 21-25. MOHANTY, Chandra Talpade (1984). “Under Westerns Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses”. Boundary 2, Durham, v. 12, n. 3, p. 333-358. MORR, Maria Lucia de Barros (1989). “Ser mãe: a escrava em face do aborto e do infanticídio”. Revista de História, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, n. 120, São Paulo. NZINGA INFORMATIVO (1988). “Editorial”. Ano III, n. 4, julho/agosto. POLLAK, Michael (1989). “Memória, esquecimento e silêncio”. Revista Estudos Históricos, CPDOC/FGV, v. 2, n. 3, Rio de Janeiro. PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter (2002). “Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades”, em Ana Esther Ceceña e Emir Sader (comps.) La guerra infinita: Hegemonía y terror mundial. CLACSO, Buenos Aires. QUIJANO, Aníbal (1991). “La modernidad, el capital y América Latina nacen el mismo día”, entrevista concedida a Nora Velarde. ILLA, Revista del Centro de Educación y Cultura, n. 10, Lima. _______________ (1992). “‘Raza’, ‘etnia’ y ‘nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas”, em Aníbal Quijano Cuestiones y horizontes: de la dependencia históricoestructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. CLACSO, Buenos Aires. ______________ (2005). “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina” em Edgardo Lander (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. CLACSO, Buenos Aires. SANTOS, Boaventura de Souza e MENESES, Maria Paula (2010). “Introdução”, em Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (orgs.) Epistemologias do Sul. Cortez Editora, São Paulo. WALSH, Catherine (2007). “Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial”, em Santiago Castro-Gómez e Ramón Grosfoguel (orgs.) El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores, Bogotá. 16
Baixar