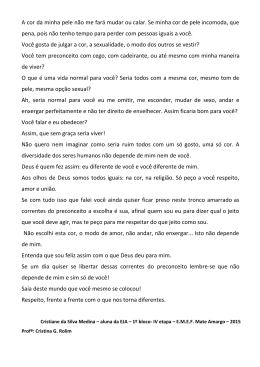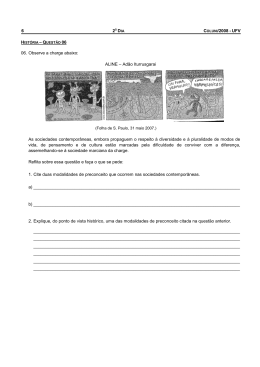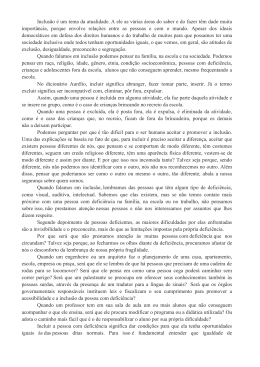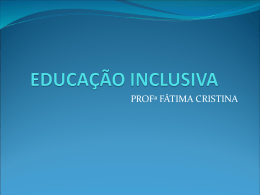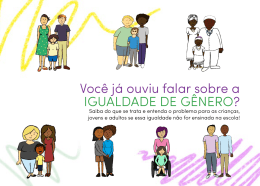O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado1 A análise dos sentidos que se constituem para a palavra preconceito no acontecimento de sua enunciação (Guimarães, 2002) em textos que compõem a escritura da sociologia brasileira do início do século XX permite compreendermos como os intelectuais, representantes do lugar das Ciências Sociais, representavam a formação social do Brasil em tal período. Desse modo, nosso objetivo neste trabalho é compreender como a palavra preconceito designa a forma como Oliveira Viana, intelectual cujas obras tiveram grande impacto no pensamento social brasileiro na primeira metade do século XX, representa a formação social do Brasil num momento em que havia um forte movimento nacionalista. 1 Doutoranda em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem/IEL – Unicamp, sob orientação do Prof. Dr. Eduardo Guimarães. Em 2008-2009, participou do programa de doutorado sanduíche com bolsa da Capes/Cofecub. Integrante do Grupo de Pesquisa DiCiT/Labeurb - Unicamp. Apoio: Capes e Capes/Cofecub. O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado Para tanto, tomamos a palavra preconceito, no acontecimento de enunciação, como uma palavra que funciona como palavra política, isto é, considerando que seus sentidos estão relacionados à “qualidade do tempo”. Esta é considerada como sendo a conjuntura na qual as obras analisadas foram escritas. Trata-se de pensar, então, a relação dos sentidos de palavras do vocabulário político de um período, considerando que tais sentidos simbolizam “as manobras, as relações de forças que definem o momento histórico e que é preciso levar em conta quando se quer agir” (Zancarini, 2008, p. 9). Portanto, observaremos como a linguagem, através do lugar das Ciências Sociais, organiza os sentidos para tal palavra ao mesmo tempo em que o recorte semântico determina-se pela conjuntura de transformação do Brasil, um momento em que há a preocupação do Estado, da elite no poder, dos intelectuais, com as mudanças sociais, econômicas e políticas. Observamos que a palavra preconceito, na obra A evolução do povo brasileiro, de Oliveira Viana, é significada, num primeiro momento, pela oposição erro (conhecimento popular) / acerto (conhecimento científico). Depois, ocorre uma ruptura dessa oposição e a palavra adquire outro sentido, o de ser uma “ação compressiva” ao simbolizar as relações sociais no Brasil na primeira metade do século XX. Enunciação e Filologia Política A análise da designação de uma palavra leva-nos a reconhecer sua pluralidade de sentidos. Assim, não consideramos que o sentido já esteja pronto, acabado, e que haja um único possível, mas que o sentido ou os sentidos se constituem no acontecimento de linguagem, isto é, na Enunciação, pela relação com a história, o político, o social, de maneira a simbolizar o real. Em relação à história, consideramos que há uma memória, um já-dito, uma historicidade que significa no presente desse acontecimento e que faz significar o que está sendo dito. 195 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado Presente e passado são recortados pelo acontecimento projetando um futuro, isto é, as interpretações possíveis que podem decorrer do acontecimento. Este passado de enunciações recortado no acontecimento é chamado de memorável. Desse modo, a partir do que já foi dito na relação com a especificidade do presente da enunciação é que são produzidos outros sentidos, mas não qualquer sentido. O passado de enunciações não se enquadra em uma sequência linear e cronológica de acontecimentos, mas é determinado pelo presente da enunciação que recorta o memorável de acordo com o que está sendo dito, isto é, o acontecimento é que organiza seu próprio tempo. Guimarães considera, então, a enunciação como sendo acontecimento de linguagem. Desse modo, para o autor, o acontecimento em que se fala é, do meu ponto de vista, espaço de temporalização. Nessa medida, o passado do acontecimento é uma rememoração de enunciações por ele recortada, fragmentos do passado por ele representados como o seu passado (GUIMARÃES, 2002, p. 15). O acontecimento de linguagem é um acontecimento político. Ele se dá nos espaços de enunciação que são espaços políticos, marcados por uma disputa de línguas e falantes em seus lugares de dizer. O político é compreendido como a contradição pela afirmação de pertencimento e de igualdade dos que são considerados desiguais: [...] é a afirmação da igualdade, do pertencimento do povo ao povo, em conflito com a divisão do real, para redividi-lo, para refazê-lo incessantemente em nome do pertencimento do todos no todos (Ibid., p. 17). Essa divisão incessante do real afeta materialmente a linguagem, e desse modo há uma divisão dos sentidos que, no funcionamento da língua, se dá numa hierarquia determinada pela relação com o real. Os sujeitos, ao se constituírem enquanto tais pela língua, são afetados por essas divisões dependendo da posiçãosujeito na qual enunciam, apesar de que ao falarem se representam enquanto enunciadores como origem de seu dizer. 196 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado O espaço de enunciação é assim definido como espaços de funcionamento de línguas, que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por uma disputa incessante. São espaços habitados por falantes, ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer. São espaços constituídos pela equivocidade própria do acontecimento: da deontologia que organiza e distribui papéis, e do conflito, indissociado dessa deontologia, que redivide o sensível, os papéis sociais (Ibid., p. 9). Considerando essas noções teóricas que fundamentam nossa análise, nosso objetivo é refletirmos sobre as designações da palavra preconceito que foram se constituindo através da forma como a produção de conhecimento nas Ciências Sociais foi organizando os sentidos para nossa sociedade. Com isso, tomando o que a palavra preconceito significa, buscamos compreender algo das relações sociais brasileiras pelo modo como esta é interpretada no âmbito da ciência. Na conjuntura específica brasileira da primeira metade do século XX, compreender o que preconceito significa permite, então, observarmos as interpretações que foram se constituindo para as relações sociais que fazem parte, até hoje, de nossa memória do dizer. Assim, consideramos a palavra preconceito como uma palavra política, cujos sentidos dizem algo das relações sociais, das disputas, dos conflitos que dividem o sensível e afetam materialmente a linguagem pela divisão dos sentidos. Considerando a relação da linguagem com o político, trazemos a posição de Zancarini (2002; 2008) que realiza o estudo de palavras consideradas como “palavras políticas”, no interior da Filologia Política. Para esse autor, a escritura de “atores políticos” de um determinado período expressa as disputas pelo poder ao se buscar compreender as situações políticas. Zancarini analisa certas palavras ou conceitos políticos na escritura de grandes pensadores, como Francesco Guicciardini, Maquiavel, Savonarola, entre outros, no final do século XV e início do século XVI, quando o poder dos Médicis foi interrompido e uma nova forma de governo passou a figurar em Florença, a República do Grande Conselho. 197 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado Ils ont des questions nouvelles à résoudre, les modeles interprétatifs qu’ils avaient à leur disposition sont remis en question par les nouvelles façons de faire la guerre [...] par cette transformation du temps même de la guerre qui en découle (FOURNEL; ZANCARINI, 2002, p. 07). Período marcado por muitas disputas políticas, os pensadores da época buscavam explicar, dar soluções para os acontecimentos em livros, cartas, entre outros. É essa escritura que vai expressar o que acontecia no período e que J. C. Zancarini, assim como Jean-Luis Fournel, Romain Descrendre, entre outros pesquisadores na área da Filologia Política, vão estudar de forma a analisar o que palavras e expressões passam a significar nessas obras. Zancarini (2008) observa nesses textos que os autores em questão, ao fazerem suas análises sobre a situação política em que vivem, levam em consideração a “qualità de’ tempi” ou a “condizione de’ tempi” ao escreverem. Assim, para Zancarini (Ibid.), através da escritura realizada em um certo período histórico, é possível compreender de uma maneira específica as disputas, as guerras pelo poder, principalmente quando é preciso explicar uma situação inusitada, como foi o caso da república do Grande Conselho, uma forma de governo inédita que surgiu em Florença no final do século XV. Para ele, [...] a abordagem crítica dos textos e a reflexão sobre o sentido das palavras utilizadas na linguagem têm um valor eminentemente político, qualquer que seja o período histórico visado (ZANCARINI, 2008, p. 11). A partir dessas considerações, passamos então às designações da palavra preconceito. Para tanto, observamos no funcionamento textual dois procedimentos através dos quais se dá a textualidade: a reescritura e a articulação. A reescritura vai ser o procedimento pelo qual a enunciação de um texto rediz insistentemente o que já foi dito fazendo interpretar uma forma como diferente de si. Este procedimento atribui (predica) algo ao reecriturado (GUIMARÃES, 2007, p. 84). 198 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado E o procedimento de articulação “diz respeito às relações próprias das contigüidades locais. De como o funcionamento de certas formas afetam outras que elas não redizem” (Ibid., p. 88). É através desses procedimentos textuais que chegamos ao domínio semântico de determinação de uma palavra, isto é, aos sentidos que se constroem para ela no texto, pela relação com a história de enunciações que é rememorada no acontecimento. Com isso, temos então o que uma palavra designa. A designação é o que se poderia chamar de significação de um nome, mas não enquanto algo abstrato. Seria a significação enquanto uma relação lingüística (simbólica) remetida ao real, exposta ao real, ou seja, tomada na história (GUIMARÃES, 2002, p. 09). Constituímos então um corpus em torno do acontecimento da palavra preconceito. Para este artigo, selecionamos dois recortes do conjunto de recortes retirados da obra A evolução do povo brasileiro de 19232, de Oliveira Viana. Este autor foi selecionado pela sua importância no quadro do pensamento social no Brasil, juntamente com outros autores, na primeira metade do século XX. Francisco José de Oliveira Viana (1883-1951)3 atuou em muitas áreas. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais em 1906 pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, foi professor, sociólogo, etnólogo e historiador. Publicou vários livros dedicados ao estudo da formação da sociedade brasileira que tiveram grande repercussão e que fizeram dele um intelectual respeitado. Dentre os diversos cargos exercidos por Oliveira Viana, está a consultoria jurídica do Ministério do Trabalho, por meio do que colaborou na organização da legislação trabalhista que serviu de base para a atual legislação. Ainda, ingressou no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e na Academia Brasileira de Letras, tendo sido também membro da Comissão especial de revisão da Constituição. Em 1940, tornou-se Ministro do Tribunal de Contas da Justiça. 2 Consideramos a data de 1923 como sendo o ano de publicação do livro de acordo com a bibliografia do autor, já que a edição utilizada para a análise não apresenta data de publicação. 3 Fonte: http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/ biografias/oliveiraviana.htm. Acesso em: 04.jun.09. 199 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado A obra A evolução do povo brasileiro serviu de prefácio a um recenseamento demográfico e econômico realizado em 1920, organizado pelo Ministério da Agricultura e publicado no ano do centenário da independência do Brasil, durante o mandato do presidente Epitácio Pessoa. Esta obra se configurou, então, como um conhecimento autorizado e legitimado pelo Estado sobre a nossa sociedade, conhecimento este produzido a partir de teorias evolucionistas. No texto, Viana realiza uma análise da formação social brasileira, preocupado em realizar um estudo “objetivo” para um “programa nacional”, utilizando para tanto teorias sobre a evolução das raças. A evolução atingiria seu grau mais elevado, nessa perspectiva, com o branqueamento da sociedade brasileira, tendo em vista critérios “biológicos” para descrever a formação de uma “raça brasileira” ainda em evolução. Africanos, índios e seus descendentes são estigmatizados como inferiores. Análise Observemos o primeiro recorte, logo na Introdução do livro, em que a palavra preconceito aparece: Recorte 1 Nenhum erro maior do que o daquelles que, partindo de uma suposta identidade entre nós e os outros grandes povos civilisados (porque temos a mesma civilisação), julgamse dispensados de estudar o nosso grupo nacional nas suas peculiaridades. Essa abstenção encerra um erro imenso, comparável ao erro do médico, que partindo do facto de que todos os homens têm a mesma physiologia, se julgasse dispensado de pesquizar, para a formulação do seu diagnóstico e a determinação da therapeutica aconselhavel, as particularidades idiosyncrasicas de cada doente. Faria, neste caso, não obra sincera e honesta da sciencia e, muito menos, obra technica de medico, mas apenas obra grosseira ou leviana, de charlatão, á semelhança dos nossos boticarios de aldeia tão deliciosamente interessantes no desembaraço com que applicam, a olho e pelas apparencias, conhecidas formulas feitas, pilhadas ao Chernviz. Já mostrei, aliás, no meu ensaio sobre idealismo na evolução política, como tem sido funesto para nós esse preconceito da absoluta semelhança entre nós e os outros povos civilisados e como esse preconceito, com que justificamos a imitação systemâtica das instituições européas nos tem valido, há cerca de cem annos, decepções dolorosas e fracassos desconcertantes. Nunca será demais insistir na urgencia da reacção contra esse preconceito secular: na necessidade de estudarmos o nosso povo em todos os seus aspectos; no immenso valor pratico destes estudos. Somente elles nos poderão fornecer os dados concretos de um programma nacional de reformas políticas e sociaies, sobre cujo exito poderemos contar com segurança (VIANA, 1923, p. 28-30). 200 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado A palavra preconceito é reescrita em substituição, primeiro, por erro maior; depois; por erro imenso. A comparação entre o erro imenso e o erro do médico opõe honesta ciência à obra grosseira, leviana, charlatã dos boticários de aldeia, ou seja, preconceito designa, nesse caso, erro imenso, erro maior e conhecimento popular, sendo este determinado pelo charlatanismo (já que a expressão boticários de aldeia remete ao que é popular e está determinada por charlatão). Nesta designação, preconceito opõe-se à “ciência” determinada por honestidade, sinceridade e técnica, o que é feito com imparcialidade, exatidão, objetividade. Mais abaixo, temos uma expressão em que preconceito é determinado por absoluta semelhança entre nós (habitantes do Brasil) e os outros povos civilizados. Nós, os brasileiros, não teríamos a mesma civilização que os outros povos civilizados. Afirmar isso seria erro, seria basear-se em conhecimento popular. Em seguida, essa palavra é determinada como sendo uma justificativa para a imitação das instituições europeias. E, por fim, preconceito é reescrito por expansão por preconceito secular, contra o qual, segundo o autor, seria preciso reagir. Isso só poderia ser feito com o estudo do “nosso povo”, estudo esse que deve ser feito com rigor científico a fim de promover dados concretos para a elaboração de um “programa nacional de reformas políticas e sociais”. Temos, assim, o primeiro domínio semântico de determinação (DSD), para a palavra preconceito, neste acontecimento: (o símbolo ┤ em qualquer direção significa “determina”, o traço maior ___ significa oposição, e o traçado descontínuo significa sinonímia ------) secular ┴ Erro maior --- erro imenso┤preconceito├conhecimento popular├ charlatanismo ┬ Justificativa _____________________________________________ Obra técnica ┤Ciência ├sinceridade ---honestidade Observamos que a designação resultante deste domínio semântico significa preconceito como erro, como um conhecimento popular que funciona como 201 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado justificativa e que é secular. Ainda nesse domínio, preconceito tem como parte de seus sentidos a oposição ao conhecimento científico. Passemos agora para um outro recorte: Recorte 2 Esses objectivos, que são a causa intima da incomparável aptidão ascencional das sociedades aryanas, deixam indifferentes os homens da raça negra, organicamente incapazes de se elevarem, quando transportados para um meio civilisado, acima das aspirações limitadas da sua civilisação originária. O poder ascensional dos negros em nosso povo e em nossa história, si é, pois, muito reduzido, apesar da sua formidável maioria, não o é apenas pela pequena capacidade eugenistica da raça, não o é apenas pela accção compressiva dos preconceitos sociais, mas principalmente pela insensibilidade do homem negro a essas solicitações superiores que constituem as forças dominantes da mentalidade do homem branco (VIANA, 1923, p. 135). O preconceito é reescrito por expansão em preconceitos sociais e pela expressão definidora ação compressiva, que descreve o efeito que o preconceito social teria na sociedade em relação aos “homens de raça negra”. O domínio semântico de determinação ficaria da seguinte forma: Ação compressiva ┤Preconceito ├ sociais Comparando com o recorte anterior (Recorte 1), observamos que neste acontecimento da palavra ocorre uma ruptura de sentidos em que o autor está descrevendo o lugar social do negro e justificando o seu “reduzido poder ascensional”. Há, assim, uma divisão dos sentidos da palavra no texto de Viana. Os sentidos de preconceito expandem-se, não se limitando a uma oposição dicotômica erro (conhecimento popular) / acerto (conhecimento científico) do primeiro recorte. A palavra passa a significar também ação compressiva determinada pelo adjetivo sociais. Trata-se de uma divisão de sentidos que simboliza outras posições-sujeito, enunciando ora de uma posição-sujeito epistemológica enquanto homem da ciência, ora determinado pelo discurso evolucionista. Viana enuncia como se o estudo sobre o “nosso povo” feito por ele estivesse livre do “preconceito” (designando como erro e conhecimento popular), por estar 202 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado fundamentado no conhecimento científico. Está no lugar de dizer de enunciador universal, no qual o que se diz é tido como uma verdade incontestável, objetiva, imparcial, acima ou fora da história, perspectiva que é geralmente adotada no discurso da ciência. Além disso, fala do lugar social de sociólogo autorizado, portanto, fala em nome da ciência. Viana está também interpelado pelo discurso nacionalista, preocupado em fornecer dados concretos para a elaboração de um “programa nacional”, bem como em mostrar a distinção entre a civilização brasileira e a portuguesa. Essa posiçãosujeito nacionalista é sustentada pelo discurso do evolucionismo. Tal discursividade impede que o preconceito seja determinado por um outro sentido, o da exclusão. De acordo com Viana, três seriam os motivos que reduziriam o poder ascensional dos negros: 1) a pequena capacidade eugenística da raça; 2) a ação compressiva dos preconceitos sociais; e 3), mas principalmente a insensibilidade do homem negro às solicitações superiores que constituem as forças dominantes da mentalidade do homem branco. Este último argumento, articulado aos outros dois pela conjunção mas e pelo advérbio ‘principalmente’, colocam o argumento da “inferioridade” dos negros como o principal impedimento para sua ascensão social numa escala hierárquica entre os três argumentos. Predomina assim o argumento da “superioridade” biológica dos brancos em relação aos negros que, por isso, devem ser dominados pelos primeiros. Este sentido é possível no interior do discurso evolucionista no qual Viana se inscreve, já que nele o preconceito não é determinado pelo sentido da inferioridade racial. A dominação, a escravidão e a impossibilidade de ascensão social dos negros são atribuídas à sua “inferioridade racial”, excluindo-os, assim, da sociedade. Desse modo, é possível a afirmação de o preconceito racial considerar o “homem negro inferior ao branco”, sem que isso seja significado como preconceito, ao mesmo tempo em que é reconhecido o preconceito social como uma ação que comprime o “homem de raça negra”, contradição possível porque a inferioridade racial não faz parte, nesta obra, do domínio semântico de preconceito. O preconceito social significa uma ação compressiva, um dos fatores de impedimento do negro à ascensão social, sendo a suposta “inferioridade racial” a 203 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009 O preconceito na produção do conhecimento sobre a sociedade brasileira na obra de Oliveira Viana Carolina de Paula Machado principal causa deste impedimento. E isso se dá numa obra que serviu de prefácio ao texto do resultado do censo da população brasileira de 1920, feito pelo governo de Epitácio Pessoa, época em que se buscava construir e consolidar a nacionalidade. Assim, através do que preconceito significa e do que ele não significa - o sentido de inferioridade racial não ser significado como preconceito racial -, temos a divisão dos sentidos que simboliza a divisão social em inferiores e superiores e a exclusão dos negros da sociedade. Essas designações da palavra preconceito parecem se encaixar bem em um “projeto político e social” para o Brasil, mantendo-se a ordem social vigente da elite que ocupa o lugar dos colonizadores portugueses. Isso acontece excluindo-se aqueles que foram incluídos pela abolição da escravidão que lhes dera a liberdade através do argumento de “inferioridade racial" que não é significado como preconceito. Viana naturaliza as dificuldades enfrentadas pelos negros atribuindo as suas “características biológicas” à culpa de sua exclusão, uma vez que o sentido da inferioridade racial não é parte do sentido de preconceito que é “social”, retirando a responsabilidade da sociedade na exclusão. Referências GUIMARÃES, E. Semântica do acontecimento. Campinas: Pontes, 2002. ______. Domínio Semântico. In: MOLICA, M. C.; GUIMARÃES, E. (Orgs.). A palavra: forma e sentido. Campinas: Pontes/RG, 2007, 77-96. DESCENDRE, R.; FOURNEL J. L.; ZANCARINI, J. C. Estudos sobre a língua política: filologia e política na Florença do século XVI. Cáceres: Editora da Unemat; Campinas: RG; Lyon: ANR-Triangle, 2008. FOURNEL, J. L. ; ZANCARINI, J. C. La politique de l’experience: salvonarole, guicciardini et le republicanisme florentin. Edizioni Dell´Orso, 2002. VIANA, O. Evolução do povo brasileiro. São Paulo: Monteiro Lobato, [s/d]. 204 Tecnologias de linguagem e produção do conhecimento Coleção HiperS@beres | www.ufsm.br/hipersaberes | Santa Maria | Volume II | Dezembro 2009
Download