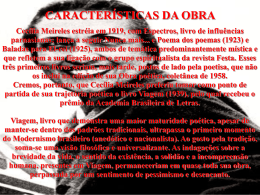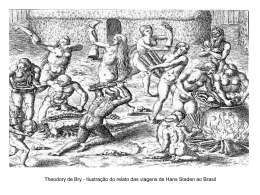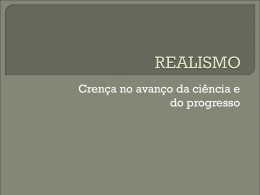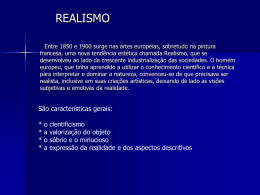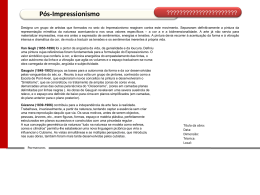programa claraboia Tive a oportunidade de participar como curador visitante do Programa Clarabóia do Largo das Artes e, naquele momento, achei que a validade da minha presença se estabelecia pelo exercício de escuta junto aos artistas e através disto, deste encontro e deste afeto, tentar fundar linhas de fuga, nichos conceituais, nós plástico-textuais que estruturam o tecido estriado da cons-trução poética de cada trabalho. Obviamente tal proposta precisou eliminar a todo o tempo, o desejo recôndito e a cobiça vã que eventualmente, invade algumas propostas curatoriais: a de enclausurar o trabalho dentro de um repertório estreito que talvez surgiria como um norte redentor para a compreensão de tais práticas. Se a contemporaneidade é em certo sentido, um conjunto imbricado e hipertextual de referências, naquele caso, a contribuição só poderia ser justa se aproveitasse tal deambulação para provocar um exercício de explosão e precipitação de sentidos, além de erigir a teoria como uma terceira margem que, apesar de eximir-se da possibilidade de oferecimento de segurança, terminaria por elencar algumas questões e alguns trabalhos icônicos que talvez servissem como um doce parceria. ****** O trabalho de JULIA HARTUNG é legítimo inclusive na escolha conscientemente tímida de sua potência. A jovem artista, ao perceber a entropia do seu corpo e o desgaste inevitável da matéria física que lhe compõe, resolve escolher um significante bastante preciso para, a partir disso, produzir suas peças. Os restos, os vestígios, a memória dos fios de cabelo abandonados durante o banho e a vida servem como força motriz para a lembrança poética e política da desconstrução de uma certa subjetividade que nasce no século XX e ainda ganha força neste século XXI. O gesto de recolher tais elementos, tais traços, tais gráficos humanos perdidos em sua banalidade cotidiana, evidencia de maneira antagônica o método obtuso de dispersão da atenção que nos norteia. Paradoxalmente, ao perceber a perda inevitável de sua matéria, o trabalho termina por endossar a relação de aderência e de distanciamento entre o eu e seus pequenos ornamentos em sua inevitável pulsão de morte. O fio do cabelo mergulha na resina e numa forma mimética assumidamente representacional, redescobre a sua força enquanto relíquia enclausurada em pseudo-cristais e também em alguns desenhos. É como se a mesma, talvez sem clara certeza, tentasse num exercício desesperado, reter aquilo que lhe escapa. A matéria e o tempo. ****** O trabalho de DEVANEY CLARO é um ótimo exemplo de como a pintura ainda pode e merece ser reprocessada. Invadindo com muita potência toda a herança do espaço pictórico e sabendo visivelmente todas as revoluções que o atravessaram, o artista pensa e produz um objeto pintura que extravasa seus limites e decide apaixonar-se pelo espaço, pelo entorno e pela paisagem que o envolve. Entendendo a tela da história como uma tessitura, Devaney opta por pensar microscopicamente nos fios que a compõe. E mais ainda, sabendo que a tela sempre foi, é e será um recorte determinado, um campo de tensões estrito, busca com vigor e rara beleza, a expansão de seus limites até o infinito íntimo da poesia matérica da linha e da cor. A pintura expandida percebe-se como uma odisseia e termina nos perguntando em que medida ainda seria possível revisitar a herança dos anos 1960 e 1970; onde a questão do outro, do sítio, da metalinguagem e da naturalidade dos meios objetuais parecem ser questões relevantes. Entendendo com preciosa sagacidade o minimalismo, o pós-minimalismo, a Op Art e a arte conceitual, Devaney Claro nos propõe um jogo, um duelo infinito de composição (musical?) entre o objeto e o sujeito, numa fricção sensibilíssima entre a potência feminina da forma e a poética masculina da presença encravadas na história do olho da humanidade (e vice-versa; sem gênero algum). Alexandre Sá (maio 2015)
Baixar