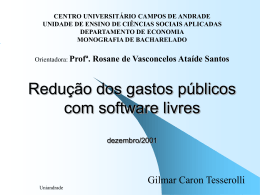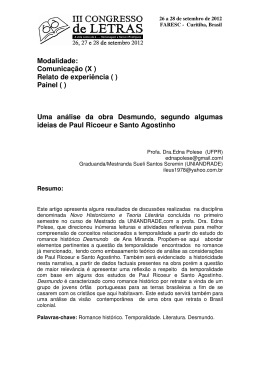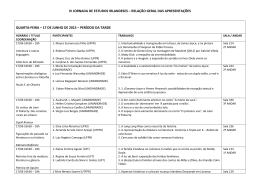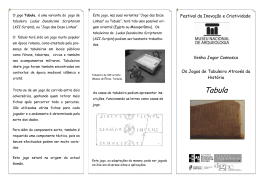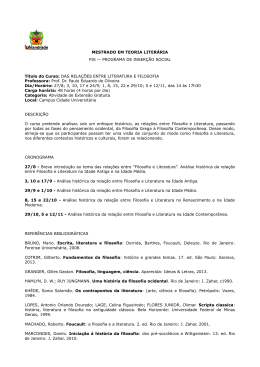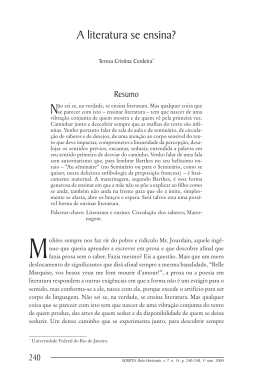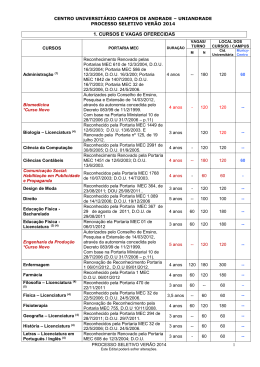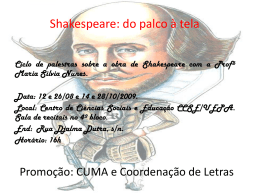Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 1 2 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 SCRIPTA UNIANDRADE NÚMERO 6 ANO 2008 ISSN 1679-5520 Publicação Anual da Pós-Graduação em Letras UNIANDRADE Reitor: Prof. José Campos de Andrade Vice-Reitora: Prof. Maria Campos de Andrade Pró-Reitora Financeira: Prof. Lázara Campos de Andrade Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: Prof. M.Sc. José Campos de Andrade Filho Pró-Reitora de Planejamento: Prof. Alice Campos de Andrade Lima Pró-Reitora de Graduação: Prof. M.Sc. Mari Elen Campos de Andrade Pró-Reitor Administrativo: Prof. M.Sc. Anderson José Campos de Andrade Editor: Brunilda T. Reichmann Editor-Adjunto: Anna Stegh Camati CONSELHO EDITORIAL Anna Stegh Camati, Brunilda T. Reichmann, Sigrid Renaux., Mail Marques de Azevedo, Naira de Almeida Nascimento, Benedito Costa Neto CONSELHO CONSULTIVO Prof. Dr. Maria Sílvia Betti (USP), Prof. Dr. Anelise Corseuil (UFSC), Prof. Dr. Carlos Dahglian (UNESP), Prof. Dr. Laura Izarra (USP), Prof. Dr. Clarissa Menezes Jordão (UFPR), Prof. Dr. Munira Mutran (USP), Prof. Dr. Miguel Sanches Neto (UEPG), Prof. Dr. Thaïs Flores Nogueira Diniz (UFMG), Prof. Dr. Beatriz Kopschitz Xavier (USP), Prof. Dr. Graham Huggan (Leeds University), Prof. Dr. Solange Ribeiro de Oliveira (UFMG), Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University), Prof. Dr. Aimara da Cunha Resende (UFMG), Prof. Dr. Célia Arns de Miranda (UFPR), Prof. Dr. Simone Regina Dias (UNIVALI), Prof. Dr. Claus Clüver (Indiana University). Projeto gráfico, capa e diagramação eletrônica: Brunilda T. Reichmann Revisão: Anna S. Camati, Mail Marques de Azevedo, Sigrid Renaux Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 3 Scripta Uniandrade / Brunilda T. Reichmann / Anna Stegh Camati – n. 6 - . – Curitiba: UNIANDRADE, 2008. Publicação anual ISSN 1679-5520 1. Lingüística, Letras e Artes – Periódicos I. Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE – Programa de Pós-Graduação em Letras 4 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 HOMENAGEM Esta edição da revista Scripta Uniandrade é dedicada à professora, poeta e crítica literária Sigrid Renaux por sua contribuição intelectual e cultural no campo das Letras e das Artes. Parabéns, querida amiga e colega! Você é e continuará sendo uma inspiração. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 5 AZUIS* Sigrid Renaux poesia pura energia azul emergindo do mar 6 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 arabescos na infinda coreografia das nuvens delineiam-se imagens inimagináveis no azul de um instante atrás Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 7 agora nuvem estrela flor ela repousa à sombra de dois cedros entre os lilases e a relva escura de um jardim distante e o sol reluz no bronze de suas letras 8 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 o jardim de minha mãe azuis seus olhos repousam nas rosas da trepadeira sobre o portão enfileirados os rabos de galo se erguem num canto em outro uma chuva de ouro paira na grama iluminando-a suavemente e os cedros ainda vicejam ao longo do muro envolto em sombras guardando-os azuis Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 9 por um instante retorna a hora da glória e esplendor na relva e na flor das pétalas de um poema 10 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 leitores cegos não deciframos os signos nos livros nem ouvimos insensíveis por quem os sinos dobram calados não pronunciamos as palavras reveladoras do nosso mais profundo ser Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 11 atravessando uma chuva de ouro um raio de sol se transforma em flor 12 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 corpo preso entre caninos implacáveis uma pomba abarcando o mundo no olhar aguarda serena seu final Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 13 arcando-se rayonnantes ao sol as espigas louras da palmeira lançam flores sobre a grama salpicando-a de estrelas 14 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Jiménez caminhei em teu jardim com sua árvore verde e o seu poço branco inspirando teu azul e os pássaros ficarão cantando *RENAUX, Sigrid . Azuis. Curitiba: Ed. do Autor, 2006. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 15 16 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 SUMÁRIO Apresentação 19 DOSSIÊ TEMÁTICO: POLÍTICAS DA SUBJETIVIDADE Investigando a construção da identidade feminina em autobiografias de origem indígena: Halfbreed, de Maria Campbell, e Storyteller, de Leslie Marmon Silko 23 Peonia Viana Guedes Jacob’s Room / Jacob’s gloom: Virginia Woolf e suas metáforas para uma crítica social 39 Soraya Ferreira Alves A literatura e o ser mulher: o universo feminino de Marina Colassanti 53 Verônica Daniel Kobs et alii Sujeitos e cultura: pluralização e auto-referencialidade em Teolinda Gersão, Lobo Antunes e Inês Pedrosa 71 Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira Relational poetics: reflections on O. Paz, E. Glissant 87 and Wole Soyinla Eliana Lourenço de Lima Reis Operações estéticas e políticas em Márcio Souza A busca da verdade e a reconstituição da memória em romances de Jonathan Safran Foer Hibridismo e mímica no conto “Monsieur Caloche” de Jessie Couvreur 107 André Soares Vieira 123 Mail Marques de Azevedo 139 Cristiane Busato Smith Uma abelha, duas aparições – um caso de representação em Mishima e Murakami 155 Benedito Costa Neto Filho Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 17 Sombras e fantasmas da grande guerra sob o olhar de Augusto Roa Bastos 173 Naira de Almeida Nascimento Vida e morte: tangência pelas palavras 187 Raquel Illescas Bueno P. K. Page: percepção poética e consciência cultural em “Brazilian Fazenda” 201 Sigrid Renaux Regionalismo e globalização – da aparente oposição à complementaridade 223 Verônica Daniel Kobs Cinema shakesqueer: a representação do amor que ousa dizer o nome do bardo 241 Anna Stegh Camati Shakespeare e a lei ateniense: aspectos políticos nas origens modernas do sujeito contemporâneo em Sonho de uma Noite de Verão Otelo e o engajamento político-cultural do Folias D’Arte Um autor em busca de si mesmo, em busca de seu país: Rasto atrás, de Jorge de Andrade Macro e micro poderes em duas peças de Plínio Marcos Anexo: Estética da recepção / Estética do efeito 259 Erick Ramalho 285 Célia Arns de Miranda 301 Lílian Fleury Dória 321 Roberto Ferreira da Rocha 331 Brunilda T. Reichmann Julián Bargueño Dossiês temáticos das próximas edições 347 Normas da revista 349 18 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 APRESENTAÇÃO A sexta edição da revista Scripta Uniandrade, dossiê temático Políticas da Subjetividade, apresenta artigos que problematizam questões relevantes como a construção do sujeito, a noção da identidade, problemas de gênero, as relações entre colonizador e colonizado, apropriações culturais, os limites da criação artística em confronto com fontes documentais, o embate gerado entre micro e macro poderes, dentre outras. O artigo de abertura da revista, escrito por Peonia Viana Guedes, flagra a condição da mulher indígena como sujeito multiplamente oprimido e colonizado em narrativas autobiográficas. A autora levanta questionamentos a respeito dos pressupostos universalistas adotados pela crítica feminista, responsáveis pela desestabilização da definição tradicional da autobiografia como gênero literário, refletindo sobre a necessidade de enfocarmos textos de natureza autobiográfica como produtos de sujeitos posicionados em discursos históricos e sociais específicos. No segundo artigo, Soraya Ferreira Alves, resgata e problematiza questões que caracterizam a sociedade moderna do início do século XX (guerra, feminismo, individualismo, etc), temas que permeiam grande parte da obra, tanto ficcional como ensaística, de Virginia Woolf. Mostra como essa crítica é realizada pela escritora inglesa de maneira velada, utilizando-se de metáforas. A autora do artigo demonstra que, partir do romance Jacob´s Room (1922), a subjetividade da escritura woolfiana enlaça o social e promove um efeito de perplexidade no leitor ao relacionar eventos brutais com a banalidade da vida cotidiana, fazendo, assim, com que o problema seja sentido. Verônica Daniel Kobs et alii analisam os contos “A moça tecelã”, “Entre a espada e a rosa”, “Quando já não era necessário” e “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, de Marina Colasanti, que têm como temática o universo feminino. Os textos de Colasanti são comparados com os contos de outras autoras como: Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector, com o propósito de analisar os papéis da mulher, a busca da identidade e a independência da mulher no século XXI. Além disso, são resgatadas algumas características dos textos de Marina Colasanti, muito similares às presentes nos contos de fada, a partir da associação entre “A moça tecelã” e “Rumpelstilzchen”, dos Irmãos Grimm. No ensaio seguinte, Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira argumenta que para ler o sujeito na cultura moderna partimos de uma reflexão da subjetividade como constructo, buscando compreender a relação entre subjetividade, modernidade e procedimentos narrativos adotados no romance português pós-74. Neste artigo, Maria Lúcia discute obras de Teolinda Gersão (Os Guarda-chuvas cintilantes, 1984), Lobo Antunes (Ordem natural das coisas, 1992), Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 19 e Inês Pedrosa (Fazes-me falta, 2002). Eliana de Lourenço de Lima Reis, autora do quinto artigo, reflete sobre teorias que focalizam as relações entre as culturas consideradas centrais e periféricas a partir do pensamento do mexicano Octavio Paz, do caribenho Edouard Glissant e do africano Wole Soyinka, levando, também, em consideração as perspectivas do brasileiro Silviano Santiago. Ela parte de uma visão histórica das relações entre as culturas desde o modernismo para, em seguida, discutir a tendência em direção a uma visão menos nacionalista, mais transnacional e relacional das apropriações culturais, bem como da noção de identidade. O artigo de André Soares Vieira objetiva mapear algumas das categorias problematizadas no romance Operação silêncio, de Márcio Souza, especialmente no que diz respeito à hibridação dos gêneros em um processo que remete à montagem literária. O autor reitera que, ao fragmentar a narrativa, justapondo elementos oriundos de gêneros discursivos diversos (ensaio, crítica cultural, romance e roteiro cinematográfico), o texto de Souza apresenta-se como um mosaico de linguagens imbricadas que responde ao contexto social e político de sua época. Mail Marques de Azevedo, em seu artigo sobre Tudo se ilumina (o bestseller internacional do jovem escritor americano Jonathan Safran Foer), e Extremely Loud and Incredibly Close (o segundo romance do autor), demonstra como o leitor é conduzido a um mergulho na memória ancestral dos protagonistas: diferentes estágios cronológicos são atravessados que atingem, no primeiro romance, um recuo de 200 anos no tempo. A temática da busca pela verdade, comum aos dois romances, é o foco deste artigo, que estabelece paralelos entre duas diferentes realizações do tema, do ponto de vista de um jovem autor de origem judaica. O texto de Cristiane Busato Smith aborda a fase de construção da literatura australiana por meio da análise do conto “Monsieur Caloche”, de Jessie Couvreur. Discute as estratégias narrativas empregadas no conto que articulam um ambiente de tensões importantes na dinâmica dialética da “identidade cultural australiana”. Segundo a autora, Couvrer não apenas busca retratar uma Austrália mais “autêntica” ao tratar de temas que revelam o ethos australiano, mas vai mais longe ao apropriar-se da matriz moral dos contos de natal de Dickens. Deste modo, “Monsieur Caloche” é inserido dentro de um universo híbrido que relativiza a complexa relação entre o colonizador e o colonizado. Partindo da representação para mostrar como os autores abordados trabalham a questão do amor, Benedito Costa Neto Filho apresenta uma comparação entre os textos Mar inquieto, de Yukio Mishima, e Minha querida sputnik, de Haruki Murakami. O autor argumenta que os dois romancistas discutem um lugar-comum: o Japão como sendo um país entre que se situa entre a tradição e a modernidade. Ambos, igualmente, escolhem um triângulo amoroso para investigar os meandros dos discursos sobre o amor. O 20 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 artigo de Naira de Almeida Nascimento discute o estatuto da representação a partir de duas narrativas de Augusto Roa Bastos, incluídas em O livro da Guerra Grande (2002), composto por textos de quatro autores sul-americanos que apresentam como tema a Guerra do Paraguai (1865-1870). Segundo a autora, as narrativas, no lastro de Jorge Luis Borges. questionam o poder da representação artística e os limites da criação através do confronto com fontes documentais, como é o caso das Cartas dos campos de batalha do Paraguai (1870), de Richard Burton, ou ainda no diálogo da literatura com a pintura, tal como ocorre na ficcionalização de Cándido López. No último artigo desta série que discute uma obra ficcional, Raquel Illescas Bueno objetiva iluminar, por meio de uma análise do conto “Sem tangência”, publicado inicialmente em 1965 e incluído na obra póstuma Ave, palavra, de Guimarães Rosa, as concepções do autor acerca do binômio “surpresa” e “inevitabilidade”. A autora investiga, também, as circunstâncias biográficas da morte do autor e elabora observações sobre a tematização da morte por Rosa. Sigrid Renaux, autora homenageada nesta edição da Scripta Uniandrade, investiga em seu artigo “P. K. Page: percepção poética e consciência cultural em “Brazilian Fazenda”, o efeito que o ambiente específico de uma fazenda brasileira causou no imaginário da poeta canadense, como revelado no poema “Brazilian Fazenda”. Ao descrever a paisagem que a cercava a partir de uma perspectiva singular, a autora demonstra que Page não apenas acentua a precisão imagística de sua percepção visual, como também põe em destaque sua sensibilidade poética, ao transformar os aspectos referenciais da fazenda em intensa experiência poética e cultural. Em um artigo dedicado à política da adaptação, Verônica Daniel Kobs tem como objetivo analisar como Cidade de Deus (2002), filme de Fernando Meirelles baseado no livro de Paulo Lins, e O auto da compadecida (2000), de Guel Arraes, adaptação da peça de Ariano Suassuna, seguiram tendências totalmente diferentes, a partir da fusão metrópole/interior, em Central do Brasil (1998), de Walter Salles. Anna Stegh Camati, que também se debruça sobre o fenômeno da adaptação fílmica, elabora a idéia de como o filme homônimo da peça de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, de 1984, opera mudanças de enfoque, ambientação, atmosfera, enredo, caracterização das personagens e políticas sexuais, de acordo com as exigências das perspectivas ideológicas selecionadas por Lindsay Kemp e Celestino Coronado. Erick Ramalho, no artigo seguinte, também trabalha a peça de Shakespeare, sob um aspecto relevante para a sociedade contemporânea, apresentando uma leitura política da peça Sonho de Uma Noite de Verão a partir dos elementos literários e dramáticos da mesma. O autor demonstra que a trama da peça legitima características do absolutismo monárquico trazido à cena no papel de Teseu (representação cênica da figura Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 21 régia), conflagrado entre o sistema político herdado da Idade Média e a manifestação, no início da modernidade, da volição do sujeito. Para tanto, o autor centra-se na análise da lei que Shakespeare denomina ateniense e nos desdobramentos que ela traz aos eventos da peça. Com o olhar voltado para outra peça de Shakespeare, Célia Arns de Miranda, ao analisar o espetáculo Otelo, realizado pelo Grupo Folias D’Arte em 2003, apresenta uma reflexão sobre o binômio texto/contexto. Acrescenta que o encenador Marco A. Rodrigues promove, por meio da inserção das músicas New York, New York e The End, que desempenham as funções de enquadramento épico e de comentário crítico da ação, uma interrogação sobre o nosso tempo. O artigo assinado por Lílian Fleuri Dória, apresenta uma análise da peça Rasto atrás, do dramaturgo Jorge Andrade, e reflete sobre a busca da memória como material da sua escrita. As relações entre forma e estrutura cênica são investigadas, discutindo a estética expressionista, a multiplicidade de espaços, a simultaneidade dos tempos, a metalinguagem e, em alguns momentos, a anulação do tempo. E, no último artigo, Roberto Ferreira da Rocha destaca a relação entre macro e micro poderes na contemporaneidade. Segundo o autor, no Brasil, a partir dos anos 60, quando o país viveu sob a tutela de um regime autoritário que impôs forte censura ao teatro, os dramaturgos desenvolveram formas de abordar a opressão a partir da ótica do indivíduo. Dentre eles, talvez tenha sido Plínio Marcos o autor que tenha criado a obra mais radical. São examinadas as temáticas centrais de duas peças de Plínio Marcos – Quando as máquinas param e A dança final – principalmente o modo como os conflitos de gênero e identidade, vividos pelos dois casais protagonistas, refletem a opressão gerada pelo macro-poder. Finalizando esta edição da Scripta Uniandrade, como anexo, temos a tradução, de Brunilda T. Reichmann e Julián Bargueño, do texto Estética da Recepção / Estética do efeito, de Wilfred L. Guerin et alii, publicado em A Handbook of Critical Approaches to Literature. New York: Oxford UP, 1992, p. 331-44. Essa tradução objetiva tornar o texto de Guerin mais acessível ao público-leitor, considerando-se que a revista Scripta Uniandrade é também editada em versão eletrônica. Do conjunto de artigos incluídos nesta revista se evidencia um amplo panorama de estudos que, apesar de apresentar olhares heterogêneos sobre uma diversidade de gêneros, mídias, linguagens e abordagens, enfocam convergências em relação a um eixo comum. Os diversos textos estabelecem um frutífero diálogo em torno das diferentes políticas da subjetividade que resultam da fluidez e multiplicidade de valores do nosso tempo. As editoras 22 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 INVESTIGANDO A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA EM AUTOBIOGRAFIAS DE ORIGEM INDÍGENA: HALFBREED, DE MARIA CAMPBELL, E STORYTELLER, DE LESLIE MARMON SILKO Peonia Viana Guedes [email protected] RESUMO: A partir de 1980, estudos pós-coloniais enfatizaram a condição da mulher como sujeito multiplamente oprimido e colonizado. Teóricas e críticas feministas começaram a investigar representações do sujeito feminino pós-colonial em narrativas autobiográficas. O questionamento de pressupostos universalistas feito pela crítica feminista desestabilizou a definição tradicional da autobiografia como gênero literário e enfatizou a necessidade de enfocarmos textos de natureza autobiográfica como produto de sujeitos posicionados em discursos históricos e sociais específicos. Autobiografias contemporâneas de autoras indígenas mostram como a construção da identidade feminina é feita e como, muitas vezes, essas narrativas desafiam as representações dominantes de história, poder e conhecimento. ABSTRACT: From the late 1980s on, post-colonial studies stressed the condition of the female subject as a multiply oppressed and colonized being. Feminist theoreticians and critics began to investigate representations of the post-colonial female subject in autobiographical narratives. The feminist questioning of universalistic presuppositions destabilized the traditional definition of autobiography as a literary genre and highlighted the need for the approach to autobiographical narratives as products of subjects positioned in specific historical and social discourses. Contemporary autobiographies by indigenous female authors show how female identity is built and how these narratives often challenge dominant representations of history, power and knowledge. PALAVRAS-CHAVE: Narrativas autobiográficas. Sujeito feminino pós-colonial. Questões identitárias. KEY WORDS: Autobiographical narratives. Female post-colonial subject. Identity issues. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 23 A autobiografia é uma narrativa pessoal, um recontar único dos eventos, não tanto como eles aconteceram, mas como nós os lembramos ou inventamos. Hooks, 1998, p. 430 Questões identitárias são centrais nos estudos pós-modernos, póscoloniais e feministas. Todos esses estudos questionam a antiga noção rígida e essencialista de identidade, estendendo-a, como argumenta Eduardo Coutinho em Fronteiras Imaginadas: Cultura Nacional / Teoria Internacional, como “algo móvel, plural, e em constante processo de reconfiguração (COUTINHO, 2001, p. 7). Stuart Hall, em A identidade cultural na pósmodernidade, discute em profundidade como o sujeito e a identidade são conceitualizados no pensamento pós-moderno, apontando para como, através de importantes descentramentos, “o sujeito do Iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno” (HALL, 2003, p. 46). Em Post-Colonial Studies: The Key Concepts, Bill Ashcroft et al. afirmam que, em relação à situação pós-colonial, “as questões relativas ao sujeito e à subjetividade afetam diretamente a percepção, por parte dos povos colonizados, de sua identidade e capacidade para resistir às condições de sua dominação e submissão” (ASHCROFT et al., 2002, p. 219). Chamando atenção para o essencialismo das construções binárias e estáticas a respeito do sujeito e da subjetividade, Anne McClintock argumenta, em Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality, que: “Raça, gênero e classe não são esferas distintas da nossa experiência, totalmente isoladas umas das outras; tampouco podem ser encaixadas retrospectivamente como peças de Lego. Pelo contrário, elas vêm a existir através das relações que estabelecem entre si – ainda que de forma contraditória e conflituosa” (McCLINTOCK, 1995, p. 5). Quanto à questão da identidade cultural, teóricos e críticos parecem concordar com a necessidade de respeito às diferentes manifestações culturais e do reconhecimento das diferenças entre culturas para que se evite definições culturais prescritivas e universalizantes. Cabe ressaltar que Homi Bhabha, 24 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 em The Location of Culture, insiste no uso do termo “diferença cultural” em oposição à “diversidade cultural” – termo usado por alguns teóricos e críticos pós-coloniais – por considerar que o termo “diversidade cultural’ sugere apenas “sistemas distintos e separados de comportamento, atitude e valores” (BHABHA, 1994, p. 20). Embora se referindo especificamente à identidade cultural dos povos do Caribe, o argumento de Stuart Hall em “Cultural Identity and Diaspora” é particularmente abrangente quando diz, “Não podemos falar por muito tempo, com exatidão, sobre uma experiência, uma identidade, sem reconhecer seu outro lado, as rupturas e descontinuidades que constituem a singularidade do Caribe”. Apontando a natureza dessa identidade cultural, Hall afirma que ela é uma questão tanto de “tornar-se” quanto de “ser”. Hall argumenta que ela pertence tanto ao futuro quanto ao passado, que não é algo que já exista e que possa transcender lugar, tempo, história ou cultura. Afirma Hall que “As identidades culturais vêm de algum lugar, elas têm histórias. Mas, como tudo que é histórico, elas passam por constantes transformações. Longe de estarem eternamente fixadas num passado essencializado, elas estão sujeitas ao jogo da história, da cultura e do poder (HALL, 1994, p. 394). Embora as primeiras narrativas autobiográficas conhecidas no Ocidente datem do século IV, somente no século XVIII o gênero autobiográfico foi reconhecido como gênero literário distinto. O modelo mais antigo e conhecido de autobiografia é a narrativa de busca por uma vida plena de graça espiritual, relato feito por Santo Agostinho em suas Confissões (395 AD). As Confissões influenciaram o modelo de narrativa autobiográfica que predominou no Ocidente por muitos séculos e que, influenciado pelo senso de individualidade que marcou o Renascimento e a Reforma, secularizou-se e passou a relatar as mais diversas experiências de vida (ANDERSON, 2004, p. 18-22). Veracidade é um dos assuntos mais discutidos em relação ao gênero autobiográfico. Georges Gusdorf argumenta que a verdade e a falsidade são estabelecidas pelo simples senso comum, que a autobiografia é inquestionavelmente um documento sobre uma vida, e o que historiador tem todo o direito de checar seus depoimentos e verificar sua veracidade. Por outro lado, Gusdorf também diz que a autobiografia é, além de um documento, uma obra de arte, e porque o autor está consciente disso, a Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 25 autobiografia é “cheia de erros, omissões e mentiras” (GUSDORF, 1980, p. 43). Ele justifica esse paradoxo afirmando que a “experiência é matéria prima para toda criação, que é uma elaboração dos elementos emprestados da realidade vivida” (p. 45). Acrescentando à questão da verdade na autobiografia, Tess Cosslett et al. afirma que a autobiografia está ligada a um resgate de um passado, e depende de um conjunto de memórias pessoais e coletivas que são parciais, mutáveis e conflitantes. De acordo com Cosslet et al., a autobiografia é definida, em última instância, pelo que é lembrado e o que é esquecido. As autoras afirmam ainda que “o direito de estabelecer validade, autenticidade ou verdade nunca é somente do narrador” (COSSLETT et al, 2000, p. 4-5). Barret Mandel vai além nesta discussão afirmando que a autobiografia é um gênero literário derivado da experiência de vida; como tal, ela “compartilha a experiência como uma forma de revelar a realidade”. Mandel diz ainda que tanto autobiógrafos quanto romancistas querem que tomemos as suas palavras como verdade, e complementa dizendo que “a verdade é o objetivo de toda escrita séria”, mas que existe um acordo antigo de que a ficção pode revelar a verdade (MADEL, 1980, p. 55). No século XX, o questionamento de pressupostos universalistas feito pela crítica feminista desestabilizou a definição tradicional da autobiografia como gênero literário e enfatizou a necessidade de enfocarmos textos de natureza autobiográfica como produto de sujeitos posicionados em discursos históricos e sociais específicos. Na segunda metade do século XX, várias escritoras, pertencentes a diversas culturas e expressando-se em diferentes línguas, publicaram autobiografias, memórias e diários que contestam qualquer noção essencializada da mulher, teorizam a dinâmica da construção cultural de gênero, raça, etnia, classe, opção sexual, e que, também, personalizam o político. Em Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives, Sidonie Smith e Julia Watson listam e definem cinqüenta e dois tipos de práticas autobiográficas. Como afirmam as autoras, ao escreverem suas histórias de vida as narradoras dessas variadas formas autobiográficas conferem diferentes significados aos acontecimentos, comportamentos, e processos psicológicos que são histórica e culturalmente marcados por elementos vivenciados pelo sujeito autobiográfico tais como tempo, lugar, 26 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 sistema de valores, e posição social (SMITH & WATSON, 2001, p. 183). No final dos anos 80, os estudos pós-coloniais enfatizaram a condição da mulher como um sujeito multiplamente oprimido e colonizado. Teóricas e críticas feministas começaram, então, a investigar as representações do sujeito feminino pós-colonial em narrativas autobiográficas. Barbara Harlow, Sidonie Smith, Julia Watson, Françoise Lionnet e Ronnie Scharfman são algumas das autoras que mapearam a produção autobiográfica feminina pós-colonial, exploraram a relação entre subjetividade feminina e práticas autobiográficas, e mostraram como as mulheres, excluídas do “discurso oficial”, usaram o gênero autobiográfico para se constituírem e se representarem como sujeitos. Teóricas e críticas ainda mais contemporâneas como Susanna Egan e Tess Cosslett mostram como o sujeito feminino autobiográfico negocia diferentes discursos identitários – muitas vezes contraditórios e confusos – e solapa a própria ideologia do modelo autobiográfico tradicional que tende a impor normas de identidade e sexualidade ao sujeito autobiográfico. Teóricas e críticas de narrativas autobiográficas femininas insistem que narrativas autobiográficas femininas devem ser lidas levando em conta um paradigma historicamente construído e que considere as imbricações de gênero, raça, etnicidade, classe social e opção sexual. Escritoras de autobiografias pós-coloniais contemporâneas têm explorado histórias multiculturais que geram noções alternativas de subjetividade, e sujeitos híbridos como a “nova mestiça” de Gloria Anzaldúa em Borderlands/La Frontera, um sujeito que habita dois lugares, que se expressa em duas línguas, e que vive duas culturas (ANZALDÚA, 1987). Práticas autobiográficas contemporâneas de origem étnica freqüentemente adotam formas híbridas para expressar sujeitos híbridos. Autobiografias pós-coloniais contemporâneas muitas vezes combinam formas literárias e artísticas variadas: poesia, ensaio, mito, lenda, fotografia, canção, sonho ou visões. Fragmentadas, porém articuladas, essas múltiplas formas desafiam a noção tradicional de uma linha narrativa unificada e linear, rompem com a noção de um sujeito autobiográfico estável e coerente, cuja vida se desenrolaria em progressiva cronologia. Em “New Ethnicities”, Stuart Hall discute etnicidade, um importante componente da formação de identidade. Defendendo uma visão mais nova e ampla de etnicidade e da política de representação, Hall diz que Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 27 é preciso reconhecer que “todos nós falamos de um lugar particular, de uma história particular, de uma experiência particular, de uma cultura particular”. Hall acrescenta que “Nós todos somos, nesse sentido, etnicamente situados e nossas identidades étnicas são cruciais para o entendimento subjetivo de quem nós somos” (HALL, 1997, p. 227). Enfatizando que o processo de desenvolvimento de uma identidade étnica não se dá de forma simples e direta, Anne Goldman, em “Cooking, Culture, and Colonialism”, argumenta que esse processo é desenvolvido tanto a nível consciente como subconsciente. Goldman afirma, também, que em grande parte das autobiografias de origem étnica as autoras deixam claro que a herança cultural que receberam está profundamente ligada à palavra e ao trabalho de suas avós e mães, que transmitiram mitos, lendas e práticas culturais importantes para a busca de identidade e auto-afirmação (GOLDMAN, 1992, p. 190-91). Nesse artigo investigo questões de gênero e etnia representadas em dois textos de caráter autobiográfico: Halfbreed (1973), da canadense de origem indígena Maria Campbell, e Storyteller (1984), da norte-americana de origem indígena Leslie Marmon Silko. Os dois textos relatam experiências de vida de suas autoras/narradoras/protagonistas usando variações do gênero autobiográfico. A importância das práticas autobiográficas por autoras de origem indígena fica clara na afirmação de Paula Gunn Allen acerca da invisibilidade da mulher indígena: “se na visão pública e privada dos americanos os indígenas, como grupo, são invisíveis, então as mulheres indígenas são não existentes” (ALLEN, 1989, p. 9). Sarah E. Turner argumenta que o projeto autobiográfico indígena “é único no sentido em que ele é uma reação contra uma tentativa politicamente sancionada de exterminação e de negação de cultura, língua e crenças” (TURNER, 1997, p. 109). O estudo de autobiografias de autoras indígenas deve levar em consideração que a tradição tribal, em suas várias formas, está ancorada em uma profunda e contextualizada relação com a vida da comunidade indígena e que a busca e a afirmação de identidade e valores tribais sempre envolve uma ação política. O entrelaçamento do pessoal, do social e do político caracteriza as autobiografias de Campbell e de Silko, como também de grande parte das autobiografias produzidas por escritoras de origem indígena. Para essas autoras, o uso do pronome “nós”, subentendido ou explícito, é uma 28 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 constante, quer a narrativa seja feita na 1ª pessoa do singular ou na 3ª do plural. O “nós” do discurso autobiográfico invoca uma comunidade indígena e enfatiza a subjetividade relacional que teóricos e críticos consideram como importante norma cultural (DiNOVA, 2005, p. 60-61). Como apontam vários críticos, o uso de história e mito em práticas autobiográficas produzidas por escritoras de origem indígena estende os limites da vida individual apontando para a importância das redes históricas e mitológicas no processo de formação identitária. Por tudo isso, fica claro que a leitura e a crítica de autobiografias de origem indígena exigem uma ampliação das definições eurocêntricas do gênero autobiográfico Em Halfbreed, Maria Campbell escreve uma autobiografia que mostra a influência da tradição oral no texto escrito. Embora narrada em primeira pessoa, a autobiografia de Campbell não exclui a voz da comunidade, e se dirige a um público bem mais amplo que os membros das tribos indígenas. Na introdução a Halfbreed, Campbell diz: “Escrevo isso para todos vocês, para lhes dizer o que significa ser uma mestiça em nosso país. Eu quero lhes contar sobre as alegrias e tristezas, sobre a pobreza esmagadora, sobre as frustrações e os sonhos” (CAMPBELL, 1973, p. 8). Descendente de índios Cree, de franceses, ingleses, escoceses e irlandeses, Maria Campbell nasceu na província canadense de Saskatchewan em 1940. A autobiografia de Campbell é considerada por críticos e escritores canadenses a obra que deu, pela primeira vez, voz às mulheres indígenas, uma obra que, também, enfatizou a importância de um orgulho étnico para a construção de um futuro digno para os povos indígenas. Uma metáfora recorrente em Halfbreed é a do “cobertor”. Ainda jovem, Campbell ouve de sua bisavó que “quando o governo lhe dá algo, em retorno, ele toma de você seu orgulho, sua dignidade, todas as coisas da sua alma. Quando já levou tudo, o governo lhe dá um cobertor para cobrir sua vergonha”. Anos mais tarde, afastada da família e envolvida com drogas e prostituição, Campbell reconhece, “Eu entendia a questão do cobertor agora – Eu também usava um” (p. 136). Halfbreed nos oferece uma visão alternativa da história canadense, vista pelos olhos de uma de suas minorias oprimidas. Jodi Lundgren afirma que “Campbell usa o gênero autobiográfico para subverter a narrativa-mestra da história imperialista” e que Halfbreed “demonstra, com eloqüência, o impacto da colonização e do racismo sobre o povo indígena” (LUNDGREN, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 29 1995, p. 72). Em sua autobiografia, Campbell opta por usar o termo pejorativo “halfbreed” ou “mestiço” para designar seu povo ao invés de optar pelo mais politicamente correto “Métis”. Sua opção põe em evidência os preconceitos não só da população branca como também os preconceitos dos índios de sangue puro, descendentes diretos das “First Nations Tribes”, em relação aos grupos indígenas de várias origens étnicas. Campbell começa sua autobiografia relatando acontecimentos importantes na história de sua gente, ocorridos no século XIX. O foco desses acontecimentos é a luta dos mestiços pela posse de terras que habitavam há muitos anos. Ignorados pelos tratados assinados entre o governo de Ottawa e algumas tribos indígenas, os mestiços se organizaram sob a liderança de homens como Louis Riel e Gabriel Dumont. Em 1884, após cerca de 15 anos de conflito, 150 mestiços liderados por Riel e Dumont foram derrotados por 8000 soldados na Batalha de Batoche. A partir do segundo capítulo de Halfbreed, Campbell narra a vida de sua família e dos outros mestiços, empobrecidos, vivendo às margens da sociedade, e literalmente habitando as faixas de terras governamentais às margens das estradas canadenses. Conhecidos como “The Road Allowance People”, os mestiços sobrevivem de biscates, da caça e da pesca em terras ocupadas por homens brancos. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, Campbell narra uma infância rica em brincadeiras e cercada do afeto da família. Sua imaginação é alimentada por duas tradições distintas: pelo lado da mãe, as histórias dos livros de autores canônicos ingleses; pelo lado do pai, a cultura Cree – com suas lendas, rituais e personagens mágicos – transmitida por sua bisavó, Cheechum. A narrativa de Campbell expõe a discriminação sentida por sua família e seu povo e a humilhação a que são submetidos. Rodeados por imigrantes alemães e suecos, eles são tratados com desconfiança e desprezo: “Eles não nos entendiam, só balançavam a cabeça e agradeciam a Deus por serem diferentes” (p. 28). Em suas compras na cidade próxima, os mestiços são vistos e tratados como ladrões nas ruas e lojas. Quando vão às reservas indígenas, também são menosprezados: “Nós éramos sempre os parentes pobres, as awp-peetow-koosons (meias-pessoas). Eles riam e zombavam de nós. Eles tinham terra e segurança, nós não tínhamos nada” (p. 26). Católicos, os mestiços são também discriminados na igreja e explorados por padres inescrupulosos. 30 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Mas, apesar de tudo, as lembranças da infância são felizes para Campbell, ‘Eu cresci com algumas pessoas realmente engraçadas, maravilhosas e fantásticas e elas são tão reais para mim hoje como eram então” (p. 25). Pouco a pouco o mundo de Campbell, começa a desmoronar. A pobreza, o alcoolismo, a falta de esperança em um futuro melhor afeta os membros da família e da comunidade. O pai de Campbell torna-se violento quando bêbado, espancando a mulher, gritando com toda a família. Campbell e seus seis irmãos e irmãs sobrevivem vendendo peles de animais que apanham em armadilhas. Sua avó paterna morre de câncer e, em seguida, a mãe morre de parto. Maria Campbell assume, aos doze anos, o cuidado da casa, da família e do bebê recém-nascido. Com o pai procurando trabalho em outras regiões, e com a partida de Cheechum, Campbell e seus irmãos se sentem inteiramente desprotegidos. Aos 14 anos, Campbell começa a trabalhar como doméstica em várias casas e enfrenta o preconceito das patroas: “Ela não gostava de índios... e dizia às visitas que nós éramos boas só para trabalhar e trepar”; “Algumas pessoas ficavam de olho em mim caso eu tentasse roubar algo; outras tinham medo que eu pudesse desencaminhar seus maridos e filhos” (p. 94). Nesse período Campbell começa a viver suas primeiras experiências amorosas e data desta época uma experiência traumática que não é relatada em Halfbreed por motivos editoriais, mas que é descrita em The Book of Jessica, uma obra posterior: o estupro de Maria Campbell aos 13 anos por um soldado da Polícia Montada Canadense (CAMPBELL, 1989). Após um ano de constantes ameaças dos serviços de assistência social de separar a família, Campbell decide casar-se. Essa decisão é descrita friamente na autobiografia e o texto deixa claro que Campbell estava fazendo uma escolha que beneficiaria sua família: “Eu encontrei meu homem algumas semanas mais tarde... Eu podia ver por suas roupas caras e carro novo que ele podia sustentar nós todos... Ele era originalmente de Saskatchewan mas morava em Vancouver”. Explicitando ainda mais sua motivação, Campbell declara: “Eu me casei em 27 de outubro de 1955. Eu tinha um marido e podia sustentar meus irmãos. Eu tinha 15 anos” (p. 104). Casada com Darrel, um homem branco que não tem sobrenome no texto, Campbell sofre rejeição de membros de sua família e da família de seu marido. Logo após o casamento, Darrel começa a beber, perde o emprego Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 31 e espanca Campbell. Um dia, já grávida, em uma briga com Darrel, Campbell rola escada abaixo e é internada, tendo um bebê prematuro. A vida em casa torna-se um inferno e a assistência social intervém, colocando os irmãos de Maria Campbell em lares adotivos (p. 107). Darrel decide mudar-se para Vancouver e lá Campbell vive todo o horror da deterioração urbana, do racismo, da falta de dinheiro, e da solidão. Darrel a abandona e, em desespero, ela toma a decisão de ligar para uma conhecida, sabendo que esse telefonema ela estaria entrando no mundo da prostituição e das drogas. O uso de drogas torna o mundo mais suportável para Campbell, “elas me ajudavam a dormir, me faziam feliz e, acima de tudo, me faziam esquecer sobre o ontem e o amanhã” (p. 118). Envolvendo-se cada vez mais no mundo das drogas e da prostituição, Campbell passa a usar heroína, contrai dívidas, transporta drogas para um traficante e se afunda cada vez mais no submundo de Vancouver. Depois de várias tentativas de largar as drogas e o álcool, de relações fracassadas, de uma tentativa de suicídio, de ter mais dois filhos, e de se mudar para outras cidades em busca de emprego, Maria Campbell encontra sua possibilidade de recuperação. Nas sessões dos AA de um Centro Indígena que ela começa a freqüentar, Campbell encontra outras pessoas como ela e os reconhece: “Eu entendia essas pessoas e elas me entendiam. Foi aqui que eu encontrei pela primeira vez aqueles que iriam ter um importante papel no movimento indígena em Alberta” (p. 143). Na militância do Movimento Indígena, Campbell encontrou seu rumo e sua identidade. Ativista desde 1965, Campbell foi capaz de largar as drogas e o álcool, resgatar seus filhos de lares adotivos, reunir a família com seu pai, irmãos e sua centenária bisavó Cheechum. Maria Campbell publicou sua autobiografia em 1973, um testemunho de sua luta como mulher e como mestiça para encontrar sua identidade. Na militância e na literatura Campbell encontrou sua voz e seu lugar e suas palavras finais em Halfbreed mostram a dureza do caminho trilhado e a satisfação de ter chegado, de finalmente pertencer. A metáfora do cobertor, aparentemente quente e protetor, mas, na verdade, restritivo e opressivo, torna a aparecer: “Os anos de busca, solidão e dor terminaram para mim. ... Eu tenho irmãos e irmãs por todo o país. Eu não preciso mais de um cobertor para sobreviver” (p. 157). 32 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Para escritoras de origem indígena, a comunidade é um lugar, um povo, uma história, tudo isso interligado por uma complexa rede de narrativas. Como declara Leslie Marmon Silko, autora norte-americana de origem Laguna Pueblo, mexicana e alemã, “tudo o que sei é Laguna. O lugar de onde venho é tudo que sou como escritora e ser humano” (SILKO, 1996, p. 69). Leslie Marmon Silko, nascida em Albuquerque, Novo México, em 1948, foi criada em uma comunidade conhecida pela riqueza de sua tradição cultural e, como afirma Robert Nelson, “por uma tradição oral que preserva as complexas estratégias de resistência e assimilação que permitiram ao povo Laguna sobreviver e se ajustar às pressões externas” (NELSON, 2005, p. 245). Storyteller (1984), a inovadora e subversiva autobiografia de Leslie Marmon Silko, é construída de fragmentos de histórias – antigas e recentes, pessoais e tribais – de contos, poemas, trechos de cartas, anedotas e fotografias de família. Todas essas diferentes formas narrativas são interconectadas em uma simulação da tradição oral em forma escrita. Storyteller é um livro de histórias bem como um livro sobre contar histórias, um texto auto-reflexivo que, como afirma Linda J. Krumholz, examina o papel cíclico das histórias no recontar e no gerar significados para indivíduos, comunidades e nações (KRUMHOLZ, 1994, p. 89). Em Storyteller, Silko conta sua própria história, a história de sua família e a história do povo Laguna Pueblo, posicionandose no papel matrilinear da contadora de histórias e desafiando as representações tradicionais dos indígenas norte-americanos. Silko inicia Storyteller com histórias que estabelecem um paralelo com as histórias da cultura dominante sobre indígenas como figuras trágicas, últimos sobreviventes de uma cultura moribunda. Usando humor e ironia como estratégias de subversão, Silko expõe os estereótipos presentes nas representações feitas dos indígenas americanos e celebra a criatividade e vitalidade da cultura indígena. Alguns críticos, como Bernard A. Hirsch e Linda Danielson, argumentam que há alguns núcleos temáticos em Storyteller (HIRSCH, 1988; DANIELSON, 1988). Poderíamos dizer que o primeiro núcleo de Storyteller é formado por histórias que têm como tema a sobrevivência, a luta dos indígenas para resistir às forças que desestabilizam suas famílias e tradições. As histórias desse grupo, que inclui as conhecidas “Storyteller” e “Lullaby”, são marcadas por uma sensação de deslocamento, desenraização e perda. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 33 Como aponta Linda Krumholz, em muitas histórias desse primeiro grupo contos, lendas e canções indígenas são uma fonte de consolo para os personagens, oprimidos e acuados por estruturas de poder da sociedade e culturas dominantes (KRUMHOLZ, 1994, p. 97). O segundo núcleo é marcado pelas muitas histórias sobre um personagem lendário da cultura Laguna Pueblo, a Mulher Amarela ou Kochininako, que se apresenta sob múltiplos aspectos e revela a força da sexualidade feminina. Em “Yellow Woman”, a personagem/narradora contemporânea imagina se sua experiência de ser seqüestrada não a aproxima da lendária Mulher Amarela, também afastada do marido e dos filhos por um seqüestrador. Nesse grupo de histórias, Silko explora os papéis femininos na sociedade Laguna Pueblo e mostra como a tradição indígena valoriza a mulher como transmissora dos valores culturais, colocando as mulheres com posturas dinâmicas e libertadoras. Os dois núcleos seguintes têm como temas a seca e a chuva, e as histórias desses grupos exploram os problemas causados pela seca – muitas vezes associada a um uso abusivo do poder – e os benefícios trazidos pela chuva – associada à criatividade, à harmonia e ao crescimento. No núcleo seguinte, Silko conta inúmeras histórias sobre familiares já falecidos. O tema das histórias é o mundo dos espíritos, sua presença entre nós e nossa relação com eles. Silko mostra como os rituais indígenas apontam para a natureza cíclica dos processos de vida e morte, quando homenageiam os antepassados falecidos e os animais mortos, trazendo assim o passado de volta à vida e mantendo viva a tradição indígena. No último núcleo, Silko conta histórias do Coiote, tradicional enganador e sobrevivente das narrativas indígenas, personagem associado aos processos de criação e transformação. Figura altamente subversiva, o Coiote – que nas histórias indígenas é responsável pela subversão das normas e das relações de poder – é associado ao contador de histórias. Como diz explicitamente Silko em uma entrevista: “Eu acredito mais em subversão do que em confronto direto” (SILKO, 1990, p. 147-48). Ao chegar às páginas finais de Storyteller, podemos ver o quanto Silko, como contadora de histórias, usando a palavra, se assemelha ao Coiote, a medida em que todas as narrativas, entrelaçando histórias, poemas, fotografias e outras formas de representação, e estabelecendo um movimento cíclico e pleno de humor, desafiam as representações dominantes de história, poder e conhecimento. 34 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Halfbreed e Storyteller são exemplos das possibilidades e diversidades do gênero autobiográfico produzido por escritoras étnicas contemporâneas. Histórias diferentes, modos de narrar diferentes, obras que nos mostram a importância da narrativa na formação da identidade pessoal e cultural de indivíduos e comunidades. REFERÊNCIAS ALLEN, Paula Gunn. The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions. Boston: Beacon, 1986. ANDERSON, Linda. Autobiography. London: Routledge, 2004. ANZALDÚA, Gloria. Borderlands/La Frontera. San Francisco: Aunt Lute, 1987. ASHCROFT, Bill, et al, eds. Post-Colonial Studies: The Key Concepts. London: Routledge, 2002. BHABHA, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994. CAMPBELL, Maria. Halfbreed. Lincoln: U of Nebraska P, 1973. CAMPBELL, Maria & Linda Griffiths. The Book of Jessica: A Theatrical Transformation. Toronto: Coach House, 1989. COSSLETT, Tess, et al. Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods. London: Routledge, 2000, p. 1-21. COUTINHO, Eduardo, org. Fronteiras imaginadas: Cultura nacional / Teoria Internacional. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2001. DANIELSON, Linda. Storyteller: Grandmother´s Spider Web. Journal of the Southeast 30 (3), 1988. p. 325-55. DiNOVA, Joanne R. Spiraling Webs of Relation: Movements Toward an Indigenist Criticism. London: Routledge, 2005. p. 49-185. GOLDMAN, Anne. Cooking, Culture, and Colonialism. In: De/Colonizing the Subject: The Politics of Gender in Women´s Autobiography. Eds. Sidonie Smith and Julia Watson. Minneapolis: U of Minnesota P, 1992. p. 190-98. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 35 GUSDORF, Georges. Conditions and Limits of Autobiography. In: Ed. James Olney. Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton UP, 1980, p. 28-48. HALL, Stuart. New Ethnicities. In: The Postcolonial Studies Reader. Eds. Bill Ashcroft et al. London: Routledge, 1997. p. 223-27. ________. Cultural Identity and Diaspora. In: Post-Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader. Eds. Patrick Williams, and Laura Chrisman. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1994. p. 392-410. ________. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. HIRSCH, Bernard A. ‘The Telling Which Continues’: Oral Tradition and the Written Word in Leslie Marmon Silko´s Storyteller”. American Indian Quarterly 12 (10), 1988. p. 1-26. HOOKS, Bell. Writing Autobiography. In: Reading Autobiography: a guide for interpreting life narratives. Eds. Sidonie Smith & Julia Watson. Minneapolis: U of Minnesota P, 2001, p. 428-32. KRUMHOLZ, Linda J. ‘To Understand This World Differently’: Reading and Subversion in Leslie Marmon Silko´s Storyteller”. Ariel 25 (1), 1994. p. 89-113. LUNDGREN, Jodi. ‘Being a Halfbreed’: Discourses of Race and Cultural Syncreticity in the Works of Three Métis Women Writers”. Canadian Literature 44, 1995. p. 62-77. McCLINTOCK, Anne. Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. London: Routledge, 1995. MADEL, Barrett J. Full of Life Now. In: Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Ed. James Olney. Princeton: Princeton UP, 1980, p. 49-72. NELSON, Robert M. “Leslie Marmon Silko: Storyteller”. In: The Cambridge Companion to Native American Literature. Ed. Joy Porter. Cambridge: CUP, 2005. p. 245-56. SILKO, Leslie Marmon. Storyteller. New York: Seaver Books, 1981. _______. Interview. In: Winged Words: American Indian Writers Speak. Ed. Laura Coltelli. Lincoln: Nebraska UP, 1990. p. 135-53. 36 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 _______. Yellow Woman and a Beauty of the Spirit: Essays on North American Life Today. New York: Simon and Schuster, 1996. SMITH, Sidonie & Julia Watson, eds. Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis: U of Minnesota P, 2001. TURNER, Sarah E. ‘Spider Woman´s Granddaughter’: Autobiographical Writings by Native American Women”. Melus 22 (4), 1997. p. 109-32. Artigo recebido em 01.03.2008. Artigo aceito em 21.09.2008. Peonia Viana Guedes Pós-Doutora pela UFMG. Professora Titular da Universidade do Rio de Janeiro – UERJ. Coordenadora de linha de pesquisa do CNPq. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 37 38 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 JACOB´S ROOM / JACOB´S GLOOM: VIRGINIA WOOLF E SUAS METÁFORAS PARA UMA CRÍTICA SOCIAL Soraya Ferreira Alves [email protected] RESUMO: A crítica a temas que caracterizam a sociedade moderna do início do século XX (guerra, feminismo, individualismo etc) permeia grande parte da obra tanto ficcional como ensaística de Virginia Woolf. Essa crítica, porém, não é realizada de forma direta, por meio de discursos argumentativos, mas de maneira velada, utilizando-se de metáforas. A partir do romance Jacob´s Room (1922), pretendese demonstrar como a subjetividade da escritura woolfiana enlaça o social e promove um efeito de perplexidade ao relacionar eventos brutais com a banalidade da vida cotidiana e assim, mais do que revelar o problema, faz com que ele seja sentido. ABSTRACT: Criticism to themes that characterize the modern society of the beginning of the twentieth century can be seen in great part of Virginia Woolf´s essayistic and fictional work. Such criticism, however, is not explicit, of an argumentative kind, but veiled, carried out by means of metaphors. Taking the novel Jacob´s Room as an example of such practice, this article aims at showing how the subjectivity of the woolfian scripture creates an effect of perplexity by relating brutal events to the banality of everyday life and, instead of revealing the problem, makes it to be sensed. PALAVRAS-CHAVE: Análise literária. Metáfora. Subjetividade. Crítica social. KEY WORDS: Literary analysis. Metaphor. Subjectivity. Social critics. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 39 Jacob´s room (1922) pode ser considerado o romance inaugural de um conjunto de obras nas quais Virginia Woolf desenvolve sua escritura experimental. Ela revela, em seu diário, que a partir de um exercício anterior, que foram os contos de “Monday or Tuesday” (1919), encontra uma nova forma para sua narrativa: [I’m] happier today than I was yesterday having this afternoon arrived at some idea of a new form for a novel. Suppose one thing should open out of another – as in An Unwritten Novel – only not for 10 pages but 200 or so – doesn’t that give the looseness & lightness I want: doesn’t that get closer & yet keep form & speed, & enclose the human heart – Am I sufficiently mistress of my dialogue to net it there? For I figure that the approach will be entirely different this time: no scaffolding; scarcely a brick to be seen; all crepuscular, but the heart, the passion, humour, everything as bright as fire in the mist. (...) conceive mark on the wall, K[ew]. G[ardens]. & unwritten novel taking hands & dancing in unity. (WOOLF, 1992b, p.13-14) Nesse romance, Woolf ainda não vai desenvolver o recurso narrativo do fluxo de consciência1, que se tornará uma marca de sua escritura, mas, com um recurso idealizado por ela, assim como explica no trecho acima, onde as coisas parecem sair umas de dentro das outras, irá criar um ritmo semelhante ao da memória. Um exemplo bastante claro está no capítulo VIII, onde, após considerações sobre a inconstância da vida, há uma pergunta: “What are you going to meet if you turn this corner?”. Então, uma série de possíveis acontecimentos é descrita como se desenrolando em conseqüência de outros; porém, com conexões um tanto absurdas, bastante arbitrárias e inusitadas, como o próprio processo da mente de ligar idéias muitas vezes distantes da situação do momento, mas que, sem sabermos a razão, vêm à tona em nosso pensamento. ‘Holborn straight ahead of you’, says the policeman. Ah, but where are you going if instead of brushing past the old man with the white beard, the silver medal, and the cheap violin, you let him go on with his story, which ends in an invitation to step somewhere, to his room, presumably, off Queen’s Square, and there he shows you a collection of birds’ eggs 40 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 and a letter from the Prince of Whales’ secretary, and this (skipping the intermediate stages) brings you one winter’s day to the Essex coast, where the little boat makes off to the ship, and the ship sails and you behold on the skyline the Azores; and the flamingos rise; and there you sit on the verge of the marsh drinking rum-punch, an outcast from civilization, for you have committed a crime, are infected with yellow fever as likely as not, and – fill in the sketch as you like. (WOOLF, 1992, p. 82) A história de Jacob Flanders não tem uma trama complexa. Conta a vida de um rapaz desde a infância até a juventude, quando morre lutando na Primeira Guerra Mundial. Sua história se compõe de situações quotidianas típicas de um jovem de classe média em ascensão na escala social, primeiramente vivida em uma cidade litorânea e depois em Oxford e Londres. Jacob é o “um qualquer”, ou seja, concentra marcas comuns compartilhadas por outros indivíduos, geradas por uma subjetividade alicerçada em uma cadeia de conexões que constroem suas crenças e valores e inclui educação, família, meio ambiente, arte, etc. Woolf começa a intensificar sua crítica à sociedade de sua época ao fazer com que seu “herói” experimente a crua realidade urbana observando cenas e situações nas ruas, mas como quem vive em um doloroso exílio. Pessoas entram e saem da história e não temos informações sobre elas: de onde vêem ou qual o seu destino. A maioria tem passagem momentânea na vida de Jacob: sabemos seu nome, sobrenome, mas nada sobre suas vidas. Estão onde Jacob está, influenciam o ambiente que ele está vivendo naquele exato momento, mas depois desaparecem da narrativa da mesma forma que entraram. Parecem fantasmas, fantoches2, figuras etéreas aparecendo e desaparecendo no meio da cidade, mas sem mistério, sem surpresas, apenas pessoas comuns que estão envolvidas no seu cotidiano, como que participando, junto com ele, de seu destino cruel, como se estivessem sendo levadas rumo a um abismo, que saberemos ser a guerra. No exemplo a seguir, Jacob está em um ônibus e de repente surge um menino, com nome e sobrenome, que nunca havia aparecido antes, e em poucas linhas desaparece para sempre da narrativa: The October sunlight rested upon all these men and women sitting immobile; and little Johnnie Sturgeon took the chance to swing down Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 41 the staircase, carrying his large mysterious parcel, and so dodging a zigzag course between the wheels he reached the pavement, started to whistle a tune and soon was out of sight – forever. (WOOLF, 1992, p. 254) Como explica Stuart Hall (2002, p. 32), uma visão mais perturbadora do sujeito começa a surgir nos movimentos estéticos associados ao Modernismo, que fazem emergir a figura do “indivíduo isolado, exilado, alienado, colocado contra o pano-de-fundo da multidão ou da metrópole anônima e impessoal”. Jacob seria, então, a representação do homem moderno que anda pelas ruas das grandes cidades como alguém anônimo, absorvido pela multidão. Há um recurso da narrativa woolfiana que, pode-se dizer, iconizaria esse isolamento, ou a incomunicabilidade característica de suas personagens, que seria o discurso paratático como organização frásica dominante. Além de provocar uma quebra na narrativa, o discurso paratático impede a construção de um argumento, uma vez que as orações não são secundárias ou subordinadas. A radicalização da forma, que Woolf começa a desenvolver, permite uma radicalização do sentido, ou seja, ela passa por um ponto de mutação da escritura que vinha operando anteriormente para uma nova experimentação formal, que se abre para a possibilidade de novos significados. Pode-se, então, pensar que a crise da narrativa que se instaura na prosa woolfiana dá-se à medida que o signo narrativo, marcadamente referencial, se afasta dessa referencialidade e se volta para a linguagem, provocando um repensamento sobre a sua natureza. O enredo tradicional, ou seja, aquele que conta uma estória linearmente, tende a pulverizar-se e rarefazer-se em função da estruturação escritural formal. Se a narrativa convencional for encarada como um texto de ficção que se desenvolve como um argumento lógico, que visa a um fim, a narrativa woolfiana, por sua vez, seria entendida como um processo de experimentação que abala a noção de causa e efeito. Ela aponta para tudo, no passado e no futuro, mas se recusa a ir além ou aquém desse apontamento. Não há um futuro a se planejar, não há uma regra que leve ao desencadeamento das ações. Igualmente, o passado só emerge fragmentariamente, num puzzle de peças faltantes, onde uma cena jamais se completa. 42 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 A opção pela parataxe, feita por Viginia Woolf, põe em xeque os valores do discurso lógico/hipotático e assim sua crítica insere-se em sua escritura de forma icônica, pois usando um discurso analógico para falar de um assunto lógico – uma crítica se faz com base em argumentos conclusivos – insere uma crítica profunda nos avessos do discurso lógico. A simplicidade das ações e as preocupações das pessoas contrastam com a complexidade da estrutura da obra, como um reflexo da complexa e dura realidade social. Ao se falar em crítica, porém, percebe-se que a crítica exercida por Woolf não se dá de forma direta, mas velada, ou seja, através da criação de situações que enredam os indivíduos, como visto acima, ou de metáforas. Assim, sua crítica é caracterizada mais pela camuflagem do objeto da crítica do que pela menção direta à sua problemática. Uma das questões muito abordada por Woolf é a Guerra e suas conseqüências. Em sua introdução a Night and Day (1992), Julia Briggs tece alguns comentários sobre as opiniões de Woolf sobre a Primeira Guerra e seu modo indireto de abordar a questão: Many illusions had been lost by 1917, when the Great War was in its third year and scarcely nearer any resolution. Virginia Woolf, a pacifist, was sickened by it and by the patriotic sentiment and the ‘violent and filthy passions it aroused. Woolf could never bring herself to write of the war directly, and even in her third novel, Jacob’s Room (1922), whose subject is Jacob’s life thrown away in the war, we see only his empty room, and hear the undertones of his surname, Flanders 3. War remains a distant but unignorable presence, like the sound of the guns from the front, ‘strange volumes of sound’ that could be heard rolling over Sussex Downs during the summer of 1916. Woolf described their sound in an article for The Times, and the way in which the war was contributing to local superstition, but sheered away from the thing itself. (p. xi-ii) Em Jacob’s Room, vemos que a situação de guerra é ignorada. No final do romance, há dois exemplos contundentes: no primeiro deles, Betty Flanders, mãe de Jacob, é acordada no meio da noite por fortes estrondos, mas prefere pensar que não proviriam dos campos de batalha: “The guns?” said Betty Flanders, half asleep, getting out of bed and going to the window (...). Not at this distance, “ she thought. “It is the sea.” Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 43 Again, far away, she heard the dull sound, as if nocturnal women were beating great carpets. (...) [There were] her sons fighting for the country. But were the chickens safe? Was that someone moving downstairs? (...) No. The nocturnal women were beating carpets. Her hens shifted slightly on their perches’. (WOOLF, 1992, p. 154) Mesmo depois da morte de Jacob, uma das vítimas da guerra, na última cena do romance, enquanto faz a limpeza do quarto do filho, sua mãe diz: “Such confusion everywhere!” exclaimed Betty Flanders, bursting open the bedroom door. Bonamy turned away from the window. “What am I to do with these, Mr. Bonamy?” She held out a pair of Jacob’s old shoes.” (WOOLF, 1992, p. 155) Sua preocupação com algo tão simples e exterior ao verdadeiro problema provoca um choque maior do que se a morte de Jacob fosse meramente narrada. Com esse recurso, a desolação de Betty Flanders provoca um vácuo de sentimentos e pensamentos, causando um efeito de perplexidade, pois o inominável é suprimido e substituído por uma cena que, metaforicamente, o representa, pois o horror da mãe pela perda do filho é vivenciado, mas não é falado. Quando se fala de uma tragédia vivida por dois namorados, separados pela morte do rapaz na guerra, a história é narrada por uma senhora amiga: Both were beautiful, both were inanimate. The oval tea-table invariably separated them, and the plate of biscuits was all he ever gave her. He bowed; she inclined her head. They danced. They danced divinely. They sat in the alcove; never a word was said. Her pillow was wet with tears. (...) Male beauty in association with female beauty breeds in the onlooker a sense of fear. Often have I seen them – Helen and Jimmy – and likened them to ships adrift, and feared for my own little craft. (...) And now Jimmy feeds crows in Flandres and Helen visits hospitals. (WOOLF, 1992, p. 82-3) 44 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 A tarefa de Jimmy, de alimentar corvos em Flandres, refere-se ao seu destino cruel, onde o alimento é seu próprio corpo, morto nos campos de Flandres, na França, enquanto sua noiva agora vaga à sua procura. Já o sobrenome de Jacob, Flanders, aponta para o seu fim, como observam Mark Hussey (1996, p. 88) e Julia Briggs (1992, p. xii). Entremeados a esse tema, há muitos comentários e descrições dos costumes da época, que promovem o confronto entre um assunto sério e triste, como a guerra, e a banalidade da vida cotidiana, que parece ser o que realmente importa. Um exemplo está no início do capítulo VII, no qual fazse a descrição de alguns itens que estão na moda naquele momento, além de eventos costumeiros, como, por exemplo, flores de papel que se abrem ao contato com a água, usadas em jantares para enfeitar a lavanda; cartões de visita que serviam para todo tipo de mensagens; meias elásticas; pudins decorados; enquanto moças enchem seus diários com trivialidades e tocam sempre uma mesma sonata ao piano. Após o comenário sobre tais costumes, o dia de Clara Durant, irmã de Timmy, amigo de Jacob, é então detalhado: Clara Durant procured the stockings, played the sonata, filled the vases, fetched the pudding, left the cards, and when the great invention of paper flowers was discovered, was one of those who most marvelled at their brief lives. (WOOLF, 1992, p. 70) Aqui se vê, Claramente, uma crítica também à futilidade dos costumes e modismos da época: as preocupações mais imediatas de uma jovem não se referem à situação que o país atravessa. O papel da mulher e os preconceitos em uma sociedade patriarcal, machista, também são foco da crítica velada de Woolf. Os assuntos femininos, em sua maioria, são privados de importância intelectual, inseridos na bolha da supremacia masculina: Whatever or not she was a virgin seems a matter of no importance whatever. Unless, indeed, it is the only thing of any importance at all. Jacob observed Florinda. In her face there seemed to him something horribly brainless – as she sat staring. (WOOLF, 1992, p. 66-8) Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 45 Ao se despedir de Laurette, uma jovem prostituta, Jacob está satisfeito por ter encontrado, além de sexo, uma conversa inteligente, mas... “Altogether a most reasonable conversation; a most respectful room; an intelligent girl. In short, something was wrong (WOOLF, 1992, p. 90). Na biblioteca do British Museum, Julia Hedge, uma aluna feminista, ao perceber que em torno da abóboda estão escritos apenas nomes de grandes escritores homens, comenta com raiva: “Oh damn, (...) why didn’t they leave room for an Eliot or a Brönte?” Ao que se segue o comentário do narrador: “Unfortunate Julia! Wetting her pen in bitterness, and leaving her shoelaces untied.” (WOOLF, 1992, p. 91-2). A metáfora dos cadarços desamarrados e da caneta sendo molhada na amargura refere-se ao seu desleixo, pois uma mulher estudiosa perderia sua feminilidade, ficaria amarga e relaxada. A discriminação educacional também é abordada em Jacob’s Room. “What are the boys doing in their rooms?”, pergunta o narrador, referindose aos estudantes de Cambridge. Apertados, os dormitórios das moças, numericamente minoritárias, não propiciam igual conforto ou... liberdade. A pergunta, em tom sarcástico, põe em questão a capacidade de estudo e concentração dos rapazes, que em grande parte do tempo, na verdade, não estariam em seus quartos; além de referir-se, também, à homossexualidade, pondo em xeque a perfeição de uma instituição predominantemente masculina. Como é possível observar, Woolf também usa um recurso muito característico da modernidade para estender sua crítica, ou seja, o questionamento do presente por meio de citações de outras obras, antigas ou contemporâneas, que fragmentam o discurso e colocam em choque épocas e linguagens4. Segundo Whitworth: The attitudes of modernist writers to the present shaped their attitudes to the past. Social order and psychic integration were usually located in some pre-lapsarian era: for T.S. Eliot, the era of the metaphysical poets, before the ‘dissociation of sensibility’; for Yeats, the era of Byzantium; for Pound, early in his career, that of the provençal troubadours. The order of the past often manifested itself in the form of myth. Many modernist writers adopted what Eliot christened ‘‘the mythic method’’ as a means ‘of controlling, of ordering, of giving a shape and significance to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary 46 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 history’ (Eliot, Prose, p.177). Yeats employed his personal myths of gyres and cyclical history; Eliot employed the fertility myths in The Waste Land. (WHITWORTH, 2002, p. 155-6) Joyce, em Ulysses, transforma a Odisséia de Homero em um dia vivido por Leopold Bloom, um anti-herói que percorre as ruas de Dublin. À medida que o dia passa e Bloom atravessa diferentes situações, podemos perceber as alusões aos grandes feitos do herói Ulisses, que se transformam, com Joyce, em feitos rotineiros. As sereias que Ulisses e seus homens enfrentam em sua jornada para casa, por exemplo, se transformam em garçonetes de um bar. Além disso, a linguagem notadamente elaborada que Joyce usa para narrar tais banalidades, misturada ao uso da linguagem vulgar das personagens, também enfatiza o confronto entre discursos e épocas. Assim como Leopold Bloom, Jacob também é um anti-herói moderno, imerso na banalidade do mundo. A jornada de um dia pela cidade dublinense do primeiro e a de uma juventude inteira pela efêmera sociedade inglesa, do segundo, em nada se comparam aos grandes feitos de heróis do passado como Ulisses e ainda mostram, pela sua falta de perspectiva, o peso dos tempos modernos. Ezra Pound encarna, nas Personae (escrito de 1908 a 1920), autores e personagens do passado, traduzindo-os em uma linguagem moderna. São pessoas que “falam” através de Pound. The Waste Land, o mais famoso poema de T.S. Eliot, é inteiramente fragmentado e marcado por citações de trechos de obras ou alusões a grandes autores do passado, como Safo, Ovídio, Dante, Shakespeare, Webster, Milton, dentre outros. Também citações da Bíblia e dos Upanishads são misturadas a cantigas populares e cenas do dia-a-dia de Londres. Shakespeare se mistura a diálogos corriqueiros, como o de duas amigas falando sobre a vida alheia. Poesia e prosa vão se alternar nesse longo poema; o que, além de manter o ritmo constante, também dá a idéia do ritmo frenético e dissonante da cidade de Londres, sua “Unreal City”. Na obra de Virginia Woolf, também podem ser observadas muitas referências aos gregos antigos, a Shakespeare, aos clássicos do séc. XVIII, aos poetas românticos. Jacob é fascinado pelos gregos, cita-os, em diversos momentos, fala deles pelas ruas e, em uma conversa com seu colega Timmy Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 47 Durrant, onde fazem considerações sobre a literatura mundial, o primeiro cita Sófocles e o segundo, Ésquilo. No entusiasmo de sua juventude, pensam na civilização grega dominando e influenciando qualquer outra: A strange thing – when you come to think of it – this love of Greek, flourishing in such obscurity, distorted, discouraged, yet leaping out, all of a sudden, especially on leaving crowded rooms, or after a surfeit of print, or when the moon floats among the waves of the hills, or in hollow, sallow, fruitless London days, like a specific; a clean blade; always a miracle. Jacob knew no more Greek than served him to stumble through a play. Of ancient history he new nothing. However, as he tramped into London it seemed to him that they were making flagstones ring on the road to the Acropolis, and that if Socrates saw them coming he would bestir himself and say ‘my fine fellows’, for the whole sentiment of Athens was entirely after his heart; free, venturesome, high-spirited... (WOOLF, 1992, p. 64) A civilização grega e seu espírito livre e elevado fazem um contraste melancólico com os dias vazios e infrutíferos de Oxford e Londres, e até mesmo com Jacob que, além de não levar a fundo seus estudos, também se sente preso e só: He went back to his rooms, and being the only man who walked at that moment back to his rooms, his footsteps rang out, his figure loomed large. Back from the Chapel, back from the Hall, back from the library, came the sound of his footsteps, as if the old stone echoed with magistral authority: ‘The young man – the young man – the young man – back to his rooms’. (WOOLF, 1992, p. 37) Jacob’s room, seu quarto, seu lugar tanto físico como metafísico, passa a “Jacob’s gloom” (p. 40), referindo-se exatamente à sua melancolia e à incapacidade de conhecer-lhe os motivos, pois, como o próprio Timmy pensa, Jacob não fala, Jacob cala. Jacob, admirado por todos, também passa entre eles como um fantasma que atravessa cidades, lugares, ruas, ambientes, sem pertencer a nenhum deles: “Wherever I seat, I die in exile”, diz, numa metáfora, ao observar os diversos lugares de um teatro, dividido em ambientes 48 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 e classes; e sem fugir de seu destino de morte – no final, não retorna mais a seu quarto. Esse modo de crítica velada, como observada aqui, não passa, porém, impune pela crítica em geral. Como explica Toril Moi (1999, p. 6), em relação mais especificamente às críticas feitas ao seu “pseudo-feminiso”, a idéia principal é de que Woolf não representaria o ideal feminista por não criar novos modelos e imagens verossímeis de mulheres fortes, com as quais as leitoras poderiam se identificar, além de envolver suas personagens em uma “névoa de percepções subjetivas”. Moi explica, justificando a escritura woolfiana, “In her own textual paractice, Woolf exposes the way in which language refuses to be printed down to an underlying essential meaning” (WOOLF, p. 9) e que, complementando esse pensamento, “It´s only through the examination of the detailed strategies of the text on all its levels that we will be able to uncover some of the conflicting, contradictory elements that contribute to make it…” (WOOLF, p. 10). Observa-se que o feminismo de Woolf está ligado a questões sociais, político-ideológicas e ao pacifismo. Em um artigo de 1929, intitulado “Women and Fiction”, Woolf estabelece um princípio de diferença entre a escritura feminina e a masculina, baseado em seus diferentes valores: It is probable, however, that both in life and in art the values of a woman are not the values of a man. Thus, when a woman comes to write a novel, she will find that she is perpetually wishing to alter the established values – to make serious what appears insignificant to a man, and trivial what is to him important. (WOOLF, 1966-7, p. 144) Percebe-se, assim, que a subjetividade da escritura de Virginia Woolf enlaça o social e conclui-se que, se a escritura feminina opera uma inversão de valores, a cultura, marcadamente dominada pelos valores masculinos, a julgará falível, banal e sentimental. No entanto, é exatamente com essa consciência notável que Woolf preenche sua ficção com um feminismo que não é simplesmente discursivo ou doutrinário, mas que impregna cada pensamento, gesto ou ato das personagens, além da estrutura de suas narrativas. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 49 Notas 1 O termo fluxo de consciência foi cunhado por William James em seuPrinciples of Psychology (1890) onde afirma, a respeito da consciência, que esta teria um fluxo contínuo ao estabelecer relações entre eventos presentes e passados, em um movimento ininterrupto de sentimentos e impressões vivenciadas pelo indivíduo. Tal conceito influenciou vários autores da modernidade, gerando uma técnica narrativa na qual se apresenta a seqüência de pensamentos de um personagem, em atividade sempre contínua e associativa, marcada por influências externas e internas, permitindo que se capture o movimento da consciência; assim, a história é contada através da mente e das impressões das personagens. 2 Em 26 de julho de 22, Woolf escreve em seu diário: “On Sunday L. read through Jacob’s Room. He thinks it my best work. But his first remark was that it was amazingly well written. We argued about it. He calls it a work of genius; he thinks it unlikely any other novel; he says that the people are ghosts; he says it is very strange: I have no philosophy of life he says; my people are puppets, moved hither & thither by fate. He doesn’t agree that fate works in this way (Woolf, 1992b, p. 186). 3 Duas sangrentas batalhas foram travadas em Ypres, Flandres, em 1915. Estima-se em mais de 100.000 o número de mortos e feridos. (cf. Herwig, Helger H, 1997) O poeta Rupert Brook, amigo de V.W., morreu naquele mesmo ano, na expedição brtitânica a Dardanelós. (cf. Columbia Encyclopedia, 5º ed., 1993.) 4 Essas citações também poderiam ser chamadas de “ícones temporais”, dentro do palimpsesto pensamental que confronta e alinha diferentes tempos e idéias. REFERÊNCIAS BRIGGS, Julia (1992). Introduction. In Night and Day by Virginia Woolf. London: Penguin. HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. HUSSEY, Mark. Virginia Woolf A-Z. New York & Oxford: Oxford University Press, 1996. MOI, Toril. Sexual Textual Politics – Feminist Literary Theory. London & New York: Routledge, 1999. 50 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 WHITWORTH, Michael. Einstein’s Wake: Relativity, Metaphor, and Modernist Literature. Oxford: Oxford University Press, 2002. WOOLF, Virginia. Jacob’s Room. London: Penguin Books, 1992. ________. Women and Fiction. In: Collected Essays II. Leonard Woolf editor. London: Chatto & Windus, 1966-7. (p.141-48) ________.The Diary of Virginia Woolf. v. 2. Edited by Anne Oliver Bell. London: Penguin Books, 1992b. Artigo recebido em 21.04.2008. Artigo aceito em 14.09.2008. Soraya Ferreira Alves Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Professora da Universidade Estadual do Ceará – UECE, junto ao Departamento de Letras a ao Mestrado Acadêmico em Lingüística Aplicada. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 51 52 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 A LITERATURA E O SER MULHER: O UNIVERSO FEMININO DE MARINA COLASSANTI Verônica Daniel Kobs Elizangela Francisca da Luz Andrade Juciane Gasparin da Costa Castro Roseli Teresinha Locatelli Persona [email protected] RESUMO. Neste artigo, serão analisados os contos “A moça tecelã”, “Entre a espada e a rosa”, “Quando já não era necessário” e “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, de Marina Colasanti, que têm como temática o universo feminino. Os textos de Colasanti serão comparados com os contos de outras autoras, como: Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector, com o propósito de analisar os papéis da mulher, a busca da identidade e sua independência no século XXI. Além disso, serão enfatizadas algumas características dos textos de Marina Colasanti muito similares às presentes nos contos de fada, a partir da associação entre “A moça tecelã” e “Rumpelstilzchen”, dos Irmãos Grimm. ABSTRACT. This article will analyze the short stories “A moça tecelã”, “Entre a espada e a rosa”, “Quando já não era necessário” e “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, by Marina Colasanti who develops as her main theme the feminine universe. Colasanti’s texts will be compared, in this paper, with works of other women authors: Lygia Fagundes Telles and Clarice Lispector, in order to analyze questions about roles played by women, the search of female identity and independence in the 19 th century. Besides that, some characteristics of Marina Colasanti’s texts very similar to those found in fairytale will be emphasized, starting from the association of “A moça tecelã” to “Rumpelstilzchen”, by the Grimm Brothers. PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Feminino. Feminismo. Contos de fada. Masculino. KEY WORDS: Gender. Feminine. Feminism. Fairytale. Masculine. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 53 Introdução O presente artigo pretende reunir escritoras que se detêm sobre o universo feminino, com destaque para Marina Colasanti, que será o principal foco de nossas pesquisas. Analisaremos seus contos relacionando-os com a situação da mulher no século XXI. A luta das mulheres, desde o século passado, até os dias de hoje, teve um avanço gradativo, mas ainda há muito o que mudar. Portanto, a mulher do século XXI, como a de todas as épocas, está constantemente em busca de sua identidade. A escritora Marina Colasanti enfatiza o universo feminino, como percebemos em seu conto “A moça tecelã”, que pode ser comparado, por exemplo, ao clássico conto “Rumpelstilzchen”, dos Grimm, pois ambos procuram mostrar o desejo de a mulher conquistar a sua liberdade, ou seja, ir em busca de seus sonhos. Os contos de Marina Colasanti que retratam o universo feminino funcionam como um alerta às mulheres, fazendo com que elas pensem sobre o seu papel na sociedade. Na esteira de Virginia Woolf e Simone de Beauvoir, Colasanti faz parte de um grupo que tentou mudar a concepção das mulheres em geral, no qual também se destacam os nomes de Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector, que, através de suas histórias e personagens, refletem a situação da mulher, na tentativa de trazer à tona um debate sobre os gêneros e seu aspecto relacional. Dessa forma, ao compararmos as obras de Marina Colasanti, Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector, percebemos que, apesar de a reflexão sobre o universo feminino constituir um ponto em comum, de modo a enfatizar a constante busca da mulher por mudança, a abordagem do tema é feita de modo absolutamente distinto, nos três casos, pelo estilo e pelas características que são próprios de cada autora. Colasanti utiliza-se de textos parecidos com o modelo de contos de fada para analisar e criticar o universo real através do maravilhoso e da magia, debatendo, assim, questões atuais relacionadas ao feminino. A partir desse recurso, a autora usa simbologia em seus contos, principalmente em “Entre a espada e a rosa” e “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, a fim de mostrar que a mulher deixou de ser um ser submisso ao homem e que está em busca de sua identidade. 54 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Enfim, os contos estudados focalizam a mulher, mas não de modo feminista, consolidando, um discurso político-ideológico. De modo sutil e indireto, os textos relacionam-se a preceitos que orientaram o movimento feminista, porque permitem uma identificação “natural” entre o leitor (e, neste caso, leitoras, fundamentalmente) e a história, sem uma conclamação explícita, permeada pelos clichês do discurso das ativistas. Em suma, as autoras expõem algumas situações que, a princípio, apenas tentam representar o papel da mulher na sociedade. A discussão dessa representação não é prioridade das autoras, mas é inerente à recepção do tipo de texto escrito por elas, ainda mais considerando a base patriarcal de nossa sociedade. Papéis da mulher no século XXI As mulheres, com o passar dos anos, vêm conquistando o seu espaço na sociedade, objetivando a igualdade nos direitos e se tornando cada vez mais fortes e independentes. No século passado, com a geração feminista, foram quebradas várias regras, pois as mulheres, mostrando que são capazes de lutar pelos seus ideais, desafiaram o sistema e fizeram mudanças importantes. Porém, os velhos preconceitos ainda permanecem. O movimento feminista conseguiu, sim, minar a base da sociedade patriarcal, promovendo a revisão de conceitos, na reivindicação pela igualdade dos gêneros, mas não conseguiu destruí-la ou alterá-la por completo. No giro de poucas décadas, a mulher veio competir com o homem em todas as suas atividades. Essa alteração substancial no papel da mulher representou uma queda no que se refere à estrutura familiar, mesmo quando ela não abre mão de sua concomitante missão de mãe ou de esposa. A Família, que a Constituição continua considerando a base da sociedade, já não é a mesma, visto como o seu centro referencial sofreu uma inflexão violenta, alterado que ficou o pólo condicionador por excelência de seu equilíbrio, dependente da perene dedicação materna. Diga-se o que se quiser a respeito, o que se deu foi uma diminuição no amor como vivência e convivência. (citado em ALMEIDA, 2005, p. 1) Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 55 Como percebemos, no trecho citado acima, o articulista, Miguel Reale, acaba jogando sobre as mulheres toda a responsabilidade sobre a manutenção da família, como se os homens não fizessem parte dessa estrutura e fossem incapazes de transmitir valores ou criar os filhos. Ao longo da História, a mulher sempre foi vista como um ser submisso ao homem. Foi o feminismo que trouxe várias mudanças no mercado de trabalho, no comportamento sexual e também nas relações pessoais. Assim sendo, as mulheres conquistaram o direito de votar, de freqüentar uma universidade, de trabalhar. Em suma, de ter os mesmos direitos dos homens. Nesse período do feminismo, a mulher queria ser igualada ao homem, mas, atualmente, procura, ainda, sua identidade, ou seja, deseja não ser a sombra do homem, mas ela mesma, perante a sociedade. Assim afirma a jornalista americana, Maureen Dowd, em entrevista à revista Veja: “No começo as mulheres desejavam igualdade, mas a geração pós-feminismo está buscando uma identidade [...], ela luta hoje para se refazer, encontrar um novo papel na sociedade, expressando desejos de mulher e mãe [...]” (citado em MENAI, 2006, p. 2). Silvia Pimentel, do Comitê pela Eliminação da Discriminação contra Mulher (CEDAM), das Nações Unidas, e professora de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, afirma que o feminismo trouxe algumas idéias erradas, como o desejo de reproduzir o modelo másculo, como se todas estivessem dispostas a isso. Atualmente, percebe-se que foi um equívoco as mulheres quererem ser iguais aos homens. Antigamente, a mulher era mostrada, sobretudo por escritores masculinos, como um ser subordinado ao homem. A partir da ação de algumas escritoras, aquela concepção anterior de machismo sofreu severa mudança. Susana Funck fala dessa revolução da mulher como escritora e das diferenças entre o feminino e o masculino na literatura: “A constatação aparentemente simples de que a experiência da mulher enquanto leitora e escritora é diferente da experiência masculina levou a uma verdadeira revolução intelectual, marcada pela quebra de paradigmas e pela descoberta de um novo horizonte de expectativas [...]” (FUNCK, 1994, p. 18). Virginia Woolf, escritora inglesa que escreveu vários textos sobre a mulher, faz questionamentos sobre as dificuldades que as escritoras enfrentaram, numa época em que a literatura 56 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 era totalmente masculina. Como vemos, em seu livro Um teto todo seu, a autora mostra as diferenças e as dificuldades encontradas pelas mulheres que são escritoras, o quanto elas lutaram para ter um espaço próprio, seu “teto”, ou seja, o espaço que lhes garantia a liberdade para escrever. A feminista americana Betty Friedam, no livro A mística feminina, de 1963, declarou que muitos talentos femininos eram perdidos, por estarem confinados aos limites do lar. Na década de 70, Simone de Beauvoir integrouse ao “novo feminismo” e, hoje, ela é ponto de referência para as mulheres, devido a sua filosofia encorajadora. Segundo a escritora, o casamento é um empecilho para a evolução das mulheres e é preciso romper socialmente essa dependência, porém, é fato que as mulheres desejam se casar e constituir uma família: “O casamento é o destino tradicionalmente oferecido às mulheres pela sociedade. Também é verdade que a maioria delas é casada, ou já foi, ou planeja ser, ou sofre por não ser [...].” (citado em PINHEIRO & MAXIMILIANO, 2006, p. 48). Para Beauvoir, os homens têm necessidade, para se valorizar, de ver a mulher como um ser inferior e a mulher está tão acostumada a se acreditar inferior que é rara aquela que luta pelos seus direitos. Tentando inverter esse quadro, Marina Colasanti, em um de seus contos, “A moça tecelã”, cria uma personagem feminina forte e determinada. O texto mostra, metaforicamente, a questão da liberdade, de como uma pessoa pode refazer a sua vida, ampliando sua visão e alcançando novas perspectivas. Sendo assim, tudo o que parece hoje muito natural foi tabu no passado, mas foi derrubado por pioneiras que gravaram seus nomes na História. Por isso, a mulher do século XXI goza de mais liberdade e independência, perante uma sociedade patriarcal. Sobretudo, ela não deixou de ser mulher e mãe, e continua, constantemente, buscando consolidar, cada vez mais, a sua independência, sempre em busca de mudança. “A moça tecelã”, “Rumpelstilzchen” e “Quando já não era mais necessário” Algumas produções de Marina Colasanti e dos Irmãos Grimm são, de fato, muito semelhantes entre si. Tanto “A moça tecelã” como “Rumpelstilzchen” têm estruturas similares e narram sobre “tecer a vida”, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 57 mesmo que em ocasiões diferentes. A mulher, personagem principal, em ambos os contos, é representada por moças que tecem e vivem envolvidas nas tramas do tear. As personagens mulheres, nesses contos, não possuem nomes. Elas passam, fio a fio, a tecer, em busca da felicidade, mesmo que em aspectos diversificados, ou seja, uma tece com a finalidade de construir uma família e a outra tece fios de ouro para alimentar uma mentira e também para não acabar sendo morta pelo rei. Em ambos os textos, apresentam-se chaves interpretativas, revelando leituras agradáveis e ressaltando que as personagens dos contos são responsáveis pelos seus sonhos e pelas realizações deles, ou seja, ambas as realizações são representadas, ou metaforizadas, pela máquina ou arte de tecer. Em “A moça tecelã”, a mulher, com o intuito de construir uma família, acaba por se tornar prisioneira do seu próprio sonho. Assim, num despertar, “destece” seus sonhos, objetivos e suas conquistas, expressando desejo de liberdade, para refazer sua vida e iniciar novos sonhos, “novas linhas e cores”, tomando outros rumos e enxergando novas perspectivas de vida. No conto “Rumpelstilzchen”, a filha do moleiro é inserida como a moça que tece fios de ouro, o que, na realidade, não passa de uma mentira inventada pelo pai, para alcançar seu principal objetivo: ver a filha bem sucedida, casada com o rei da cidade. Só que, para sobreviver e manter essa mentira, a moça passa a fazer acordos com um certo homenzinho, que, automaticamente, passa a dar poder a ela e a fazê-la tecer fios de ouro para o rei, o qual, por sua vez, passa a tomar posse e a aproveitar-se do poder que a moça tinha. Nessas duas histórias, as mulheres são enfocadas como seres enclausurados, em busca de completude e, no entanto, acabam por depararse com a dominação e os caprichos do marido, como comprovam os trechos transcritos a seguir: “Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido” (COLASANTI, 1982, p. 12); “Tens que fiar isso durante esta noite, se conseguires, serás minha esposa” (GRIMM, 2007, p. 1). Essas citações também evidenciam o quanto o homem, em ambos os contos, quer se beneficiar com o valor da mulher, ou seja, a mulher é, para eles, um objeto valioso, o que encontra respaldo na concepção de Susana Funck: A experiência literária baseava-se no duvidoso conceito de universalidade. Assim, a viagem do desconhecido – a aventura “por mares nunca dantes 58 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 navegados” – tornava-se metáfora da investigação humana do mistério, do cosmos; e o ingresso no mundo adulto era quase sempre marcado por um feito heróico, como a caçada a um animal selvagem ou o resgate de um objeto valioso. (E muitas vezes este objeto era uma mulher.) (FUNCK, 1994, p. 17) O ponto mais surpreendente dos contos é que as mulheres são vistas como seres passivos, mas acabam rompendo as atribuições que lhe são dadas pela sociedade patriarcal, pois são seres capazes de transformar a realidade à sua volta, fazendo o homem desejar tê-las, nem que seja para usá-las como um simples objeto. Eles necessitam delas para que sejam felizes, através de seus valores e “mágicas”. O diferencial do texto “A moça tecelã”, no entanto, é o fato de a personagem principal romper com os padrões exercidos culturalmente, ao revelar a relação conjugal sendo desfeita e optando por uma realização através da liberdade de ser, mesmo que tenha que ser solitária, novamente. É como diz Maximiliano Torres, estudioso da desconstrução do estereótipo feminino nos contos dos Grimm e de Colasanti: “A mulher não quer mais ser o espelho do homem, nem mesmo o seu avesso ou contrário; quer encontrar a sua própria marca, seus valores e direitos, suas satisfações e desígnios próprios, sua feminilidade, sua identidade; aquilo que a faz ser único, numa mudança de consciência e de atitude” (TORRES, 2007, p. 3). Nos textos dos Grimm e de Colasanti, as idéias inseridas são fomentadas por metáforas, imagens e símbolos, trazendo à tona detalhes ocultos que formam a vida feminina, enaltecendo o “outro lado” da mulher. Leoné Astride Barzotto, no texto Intervenção da memória de Marina Colasanti, explica que, em cada fase da história, país ou sociedade diferentemente organizada, há um certo clamor da mulher, enaltecido pela escritura de autoria feminina. Para Barzotto, a mulher luta de igual para igual ao lado do homem, para alcançar as mesmas condições, e tem os mesmos temores, as mesmas aspirações, fraquezas e forças: A história da humanidade é uma história de dores e conquistas proposta de tal forma que a mulher luta duplamente; ao lado do homem para alcançar as condições que nos levaram a um processo civilizador e, contra o homem, para provar que ambos são constituídos dos mesmos temores, aspirações, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 59 fraquezas e forças; características humanas que em algumas épocas foram negadas a mulher e ainda o são em determinadas culturas. (BARZOTTO, 2007, p. 3) O conto, em geral, desafia o leitor a descobrir algumas verdades, que se revelam durante a jornada do texto. Porém, esses contos estudados vão além, com suas significações e simbologias, fazendo desabrochar o eu feminino e caracterizando ou personificando a mulher como um grande ser, capaz de buscar sua identidade e alcançar o auto-conhecimento. Como diz Torres: “É a busca de uma reconciliação entre o real e a fantasia, o prazer e o trabalho, a sensibilidade e a razão, estigmatizados como antagônicos e heterogêneos pelo mundo moderno mecanizado, pela sociedade repressiva” (TORRES, 2007, p. 10). Diferente dos contos citados acima, o conto “Quando já não era mais necessário”, de Marina Colasanti, passa, de forma direta, a mesma idéia da mulher como objeto do homem e vista, até, com certa repulsa na relação conjugal. Assim, a personagem, sem nome, cansa de ser rejeitada e resolve, mesmo contra sua vontade, sair de seu lar, abandonando toda a sua vida, que um dia fora construída a partir de seus desejos e sonhos. Logo após tocar na maçaneta da porta, para ir embora, ela acaba se transformando numa estátua de sal. Então, o marido, pela primeira vez, joga-se aos seus pés e começa a lambê-la, ou seja, foi preciso chegar ao extremo para o homem valorizar a mulher e reconhecer a sua importância. Segundo a psicóloga Kelen Pizol, no artigo “O que as mulheres valorizam no homem?”, as mulheres procuram segurança, fidelidade e companheirismo: “O homem tem que ser carinhoso e presente sexualmente” (PIZOL, 2007, p. 1). Para ela, o casamento deixou de ser um negócio, pois ele nem sempre é para a vida toda. Portanto, a mulher tem que se garantir, de acordo com a profissional. A mulher tem que ter autonomia e estar pronta para pôr um ponto final na relação, se não estiver satisfeita, assim como no conto citado acima. Nesse conto, a mulher é vista como um “nada”. Desde o início, a personagem queria ser amada, desejada e tocada, porém, o marido a ignorava, a ponto de rejeitá-la e tornar fria a relação sexual entre eles. A mulher não tem autonomia, simplesmente se entrega ao marido, sem se questionar sobre 60 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 o que realmente quer sentir. De acordo com essa breve descrição da personagem, pode-se relacionar seu comportamento ao que analisa Vivian Volkner Esteves, no estudo Freud e sua obra: reflexões acerca do feminino. A autora menciona que o estudo freudiano Totem e tabu (1913) apresenta a mulher como ser não desejante, submisso, sem subjetividade ou autonomia. Em cima dessas idéias de Freud, Vivian V. Esteves aponta: “A fêmea apresentase resumida a um objeto, objeto de desejo. Objeto porque é desejada, mas não deseja, porque é submissa a um macho forte fisicamente, pensando como capaz de inibir algo que é natural dos animais, o impulso para o sexo” (ESTEVES, 2007, p. 1). No caso desse conto de Colasanti, há uma tentativa de focalizar algumas atitudes do homem em relação à mulher, bem como a reação da mulher ao tratamento que recebe e à função que deve desempenhar, segundo as regras da sociedade patriarcal, na relação conjugal. No texto, o homem é visto como o ser que pratica a soberania, com total falta de reconhecimento pelo valor da mulher. A crítica a esse modelo e a essa atribuição de papéis aos gêneros masculino e feminino vem na decisão da personagem, radical, de abandonar aquela vida. Como recado, a revisão das funções impostas à mulher, o que condiciona nova postura em relação à sociedade: a mulher tem que impor seus desejos e procurar uma saída para a sua felicidade. Influência dos contos de fada Para Marina Colasanti, não há uma pauta orientando os temas relacionados à fantasia e aos contos de fada. Esses escritos têm o intuito de que o leitor não perceba, na obra, de maneira consciente, a verdadeira essência do texto. Os significados, implícitos, devem ir se somando, como se o término do conto garantisse uma sensação de completude, como se tivesse sido lido um romance, ou uma história inteira e imensa. Para a autora, principalmente o adulto tem que encontrar as suas próprias chaves, abrir uma fronteira na imaginação, ao ler sobre fadas, unicórnios, ninfas, etc. Colasanti diz que, quando escreve uma história nos moldes de contos de fada, tem que fazer exercícios e preparar-se, fazendo determinadas leituras, porque, para escrever contos de fada, segundo ela, não pode ter interferência da razão, tem que haver introspecção, concentração e “mergulho na atmosfera”. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 61 Nos textos dos Grimm ou nos de Charles Perrault, a mulher é retratada de forma passiva, à espera de um príncipe que a acorde. Colasanti, por sua vez, contrapõe a essa uma nova mulher, dinâmica, ativa, que quer ter escolha, que não está à espera de um príncipe e não aceita imposição paterna. Nos contos de Colasanti, “Entre a espada e a rosa” e “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, há exemplos claros dessa inversão de “A bela adormecida”, história que a autora utiliza em suas obras e que, através das simbologias e de uma linguagem singular, desmistifica, opondo-se ao mito de que a mulher deve ser sempre passiva e submissa. Em “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, a heroína é o centro e, em um primeiro momento, ela é protegida pelo pai, através da criação do labirinto, mas a personagem quer saber o porquê da proteção e questiona sempre o pai. Ela não se rende às proibições paternas e sabe qual é o seu momento de casar: “Este ano, meu pai, sem falta, vou me casar” (COLASANTI, 1982, p. 41). No entanto, a mulher, nesse conto, não está destinada a casar, nem irá submeter-se ao primeiro homem que chegar. A princesa exercerá uma autonomia na escolha, imporá condições: “Caso com aquele que souber me alcançar — grita a moça do labirinto” (COLASANTI, 1982, p. 42). E assim passam o primeiro, o segundo e o terceiro príncipe para conquistar a moça, mas nenhum deles é propício a ela. Então, sucessivamente, mês a mês, vários pretendentes tentam, em vão, alcançar e conquistar a moça do labirinto do vento. Apenas o décimo segundo príncipe é aceito, porque, em vez de inseguro, ele mostra-se corajoso e determinado, conquistando, finalmente, a moça, o que estabelece uma nova ordem, atrelando a liberdade de escolha ao gênero feminino, já que há muito tempo a moça estava à espera de alguém especial e que lhe agradasse. Tanto nesse conto, quanto em “Entre a espada e a rosa”, também de Colasanti, a mulher é inserida com o propósito de fazer sua própria escolha e buscar sua identidade. Nele, a personagem, uma princesa, também não queria casar-se com o primeiro príncipe que o pai lhe ofereceu, pois tinha sentimentos, idéias de escolha e exigia saber com qual pretendente iria se casar e se realmente esse lhe agradaria. Para o pai, não importava o valor da personalidade do pretendente, mas sim a riqueza e o poder: “Se era velho e feio, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, às 62 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 ovelhas que poria nos pastos e às moedas que despeja na nos cofres?” (COLASANTI, 1992, p. 11). Certa noite, a princesa implorou à sua mente e ao seu corpo para que lhe ajudassem a achar uma solução para escapar à decisão do pai. No dia seguinte, como resposta, uma barba havia crescido na sua face e, desesperada, procurou pelo pai, dizendo que não poderia casar-se mais com o escolhido. Então, o pai, enfurecido com a barba no rosto da moça, ordenalhe a abandonar o palácio e ela, sozinha, passa a caminhar por aldeias à procura da sobrevivência, ou melhor, da sua identidade. Assim, luta para conseguir se impor, no novo meio em que se encontra, e busca força e coragem para vencer as adversidades: “Não seria homem, nem mulher. Seria um guerreiro” (COLASANTI, 1992, p. 12). Essa personagem pode ser relacionada ao mito do Hermafrodito, que representa a fusão dos dois sexos, sem possuir, portanto, um sexo definido. Ela torna-se um novo ser, de natureza dupla, sem que possa dizer que é uma mulher ou um homem. Assim, um guerreiro valente se tornou, superando-se e vencendo muitas batalhas, até que, certo dia, se apaixona por um príncipe e implora novamente a sua mente, para que, assim, fizesse sua barba desaparecer por completo, para que pudesse se casar com o tão sonhado homem. No dia seguinte, a solução veio: havia desaparecido a sua barba e, por sua escolha, acaba se casando com o seu pretendente. Aparentemente, torna-se uma mulher normal, mas há, nela, idéias de imposição e resistência, o que a faz segura e determinada. Em ambos os contos citados nesta parte, a mulher procura por seu poder de escolha e decisão. Maximiliano Torres observa que Colasanti expõe uma voz feminina calada por vários anos de repressão, sugerindo a manifestação do desejo de individualização e ascensão. Para ele, investigar contos de fada tradicionais ou modernos nos possibilita mergulhar nessa reconciliação, numa época em que a mulher ainda está no desabrochar de suas potencialidades. No universo da literatura, Colasanti envereda por caminhos inusitados, passa por castelos, reis, príncipes, princesas, cisnes, unicórnios, fadas e feiticeiros, levantando questões como o amor e a morte, o poder e a justiça, a solidão e a amizade. Através, sobretudo, das jovens ninfas, princesas e tecelãs, a autora dá extrema relevância ao universo feminino, discutindo a condição da mulher e, por extensão, a condição humana. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 63 A linguagem dos contos “Entre a espada e a rosa” e “Doze reis e a moça no labirinto do vento” é poética e simbólica, com significados ocultos que precisam ser desvendados pelo leitor: “A própria obra de Marina Colasanti envereda pela linha do maravilhoso e parte do modelo de contos de fada, aproximando-se da corrente do realismo fantástico, ao provocar o estranhamento e a sensação de que estamos penetrando num universo onírico, em que as fronteiras entre o real e o irreal se desvaneceram” (JARDI, 2007, p. 8). O feminino nos textos de Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector Como Marina Colasanti, também Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector retratam o universo feminino. Lygia Fagundes Telles cria suas personagens femininas com uma certa incomunicabilidade ou incompreensão, o que acaba intensificando o drama em seus contos. Aborda, sobretudo, o universo feminino e suas diversas facetas, com percepções e desejos próprios da mulher. As personagens parecem denunciar a densidade da vida e são portadoras de uma psicologia distinta e autônoma. Podemos constatar isso, na obra As meninas, que é considerada pelos estudiosos um dos melhores romances da autora. O enredo traz três estudantes universitárias, cada uma com um ponto de vista. Essa diferença, além de garantir a singularidade das personagens, confere certa “totalidade” ao romance. Lygia fundiu as falas, ações e lembranças do meio interior das personagens, reveladas, através da linguagem, desmascarando a psique das meninas. A autora, ao apresentar o feminino, nessa obra, inovou, destacando os múltiplos pontos de vista: — Lorena, será que você podia me dar um pouco de atenção? — Fala, Lia de Melo Schultz, fala. Com movimento brusco, Lia puxou as grossas meias brancas até os joelhos. A sacola de couro resvalou para o chão, mas ela se concentrava nas meias, atenta como se aspirasse vê-las escorregar, em seguida apanhou a sacola. — Será que amanhã sua mãe podia me emprestar o carro? Depois do jantar. Digamos às nove, entende. Lorena debruçou-se na janela. Sorriu. — Suas meias estão caindo. (TELLES, 1998, p. 13) 64 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 O trecho acima demonstra o confronto entre temperamentos distintos, expressos através das falas e atitudes de ambas as personagens. Enquanto Lia é extremamente carente de atenção e preocupada com detalhes, Lorena, representando o avesso disso, evidencia total displicência e desatenção, chegando mesmo a zombar da outra. Para a crítica em geral, a autora consegue fundir força e fragilidade em suas personagens, contribuindo de modo decisivo à formação de um perfil de mulher mais atuante política e culturalmente. “Todas as meninas se emanciparam: Lorena, Lia, Lygia e eu — que em 73 tinha cerca de 10 anos. Trinta anos passaram. Trinta anos metaforizados por Balzac na figura da mulher. Trinta anos que significaram o encontro da maturidade, da identidade, da definição e da sedução insinuante, neste caso, em nosso olhar, pela mulher e pela narrativa brasileiras” (CAMPOS, 2007, p. 12). Já Clarice Lispector trabalha com o psicológico, a introspecção e o filosófico. O objetivo é atingir os campos mais profundos da mente das personagens, para assim sondar os complexos mecanismos da psicologia. Suas personagens femininas são angustiadas, melancólicas, sentem-se presas à vida rotineira, desejam liberdade, refletem sobre sua existência e, através da epifania, buscam despertar para uma nova identidade. Elas são flagradas no momento em que, a partir do cotidiano banal, acabam alcançando o lado inusitado e misterioso da vida, como, por exemplo, no conto “Amor”, em que Ana, que toma consciência de sua vida, após a visão de um cego mascando chiclete, descobre sua real condição, de completa insatisfação, mas, diante do novo, que indica uma possibilidade de mudança, opta pela continuidade, mesmo sabendo que suas expectativas nunca serão, com a vida que leva, totalmente alcançadas. Clarice Lispector rompe com a tradição, ao propiciar a reflexão sobre o gênero feminino a partir de uma perspectiva feminina. Porém, suas personagens acabam, na maioria das vezes, interrompendo o processo de transformação, o que revela tentativa de refletir a realidade, já que a imposição de deveres à mulher às vezes a impede de tomar decisões “radicais”. Em vista de Clarice e Lygia, Marina Colasanti privilegia uma linguagem mais poética e simbólica, a qual permite que suas personagens sejam rodeadas por um mundo mágico, de faz-de-conta. Os ecos dos contos de fada vão soando em busca de discutir a condição da mulher, suscitando Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 65 reflexões a partir da associação entre o real e o irreal. Dessa forma, o conto de Colasanti vale-se do maravilhoso para debater questões atuais. Aquela noite, deitado no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. [...]. Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou-me como seria bom estar sozinha de novo. [...]. A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura acordou, e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o seu peito aprumado, o emplumado do chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando-a de vagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. (COLASANTI, 1982, p. 11) Com base nas autoras aqui citadas, percebe-se a abrangência do tema feminino, obtida, principalmente, pela diferença de estilos. De modos diferentes, elas recusam a unilateralidade. Na crônica Penélope, um símbolo de fidelidade, de Gabriel Chalita, retrata-se a mesma mulher do mito, que espera seu amor por muitos anos, estabelecendo a submissão e a fidelidade da mulher ao esposo. “—Tua mulher continua fiel; lamenta e chora sua ausência dia e noite” (2007, p. 9). As escritoras em questão não recusam os valores que Penélope representa, mas os fazem dividir espaço com a quebra de tabus, com posturas que vão de encontro ao sistema patriarcal, em conformidade com a concepção e o exemplo de Simone de Beauvoir, apontada por Gabriel Chalita, em outro texto, como uma espécie de ícone, norteador de um novo comportamento a ser almejado e seguido pelas mulheres: [...] Simone iniciava-se orgulhosamente na pratica de mostrar-se forte ao lado do companheiro, não submissa a ele durante a suas aparições públicas. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir eram mentes unidas que moravam 66 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 em casas separadas. [...] Sartre propôs-lhe casamento em certo momento, mas ela não via motivos pra institucionalizar aquela forte e eterna relação. Eram transparentes em sua relação e isso os unia. [...] Nunca viveram juntos. Simone morava num estúdio, e o apartamento de Sartre ficava perto dali. Freqüentavam os restaurantes do bairro e, já na velhice, eram vistos como um casal normal de velhinhos repartindo a refeição matinal e os jornais diários. (2007, p. 9 e 10) No entanto, ao passo que algumas mulheres optam pela libertação, a exemplo das personagens de Marina Colasanti, outras, envolvidas e manipuladas por um certo ranço da sociedade patriarcal em que foram criadas, recuam, como muitas personagens de Clarice Lispector, decidindo pela manutenção dos papéis que lhe foram dados, desde o início dos tempos, em vez de optarem pela transformação. Considerações finais O presente trabalho teve como temática o universo feminino, trabalhado enfaticamente por Marina Colasanti, através do resgate de modelos clássicos, como o mito e os contos de fada. Unindo realidade e fantasia, para tentar a desmistificação da mulher na sociedade, seus textos pretendem refletir a problemática das mulheres em geral, que se vêem em conflito. A escolha imposta a elas gira em torno da perpetuação do estereótipo do gênero feminino e da mudança, mesmo que de modo sutil. Diante disso, é bastante significativo o uso dos contos de fada como base para seus contos, já que tais textos trabalham com a idealização. Ao desconstruir os contos de fada, é como se a autora desconstruísse também o modelo patriarcal e suas respectivas atribuições de papéis aos gêneros masculino e feminino. Em vez de seguirem o script, as personagens de Marina Colasanti despertam para a liberdade de escolha, em busca da felicidade. Na realidade, a mulher, hoje, seguindo o exemplo das personagens dos textos literários, também busca constantemente a liberdade, dentro de uma sociedade ainda delineada de modo machista. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 67 Além de Colasanti, percebemos que Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector se preocupam em delinear mulheres a procura de uma nova identidade, sensação, consciência e determinação. Assim, amplia-se a questão da liberdade, perante uma sociedade preconceituosa. Para tanto, é preciso inserir o tema feminino, na literatura, como forma de envolver a mulher em uma reflexão mais profunda e complexa, em que ela possa se reconhecer e avançar fronteiras. Portanto, com relação ao feminino nas obras analisadas, concluiuse que a mulher passou do “espaço doméstico” para a revolução e construção de uma nova identidade, que tenta desmascarar estereótipos que associam a mulher apenas à beleza externa, passividade, delicadeza e submissão. As autoras que discutem o feminino têm o propósito de quebrar tabus, já que a imagem e a “função” da mulher vão muito além disso e devem ser analisadas sempre em relação ao masculino, nunca isoladamente, razão pela qual o casamento ou a vida conjugal sempre envolve e condiciona as ações e os pensamentos das personagens femininas, nos textos analisados neste artigo. REFERÊNCIAS ALMEIDA, L. M. O lugar da mulher é.... Disponível em: http:// observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos. Acesso: 11 mai. 2007. BARZOTTO, L. A intervenção da memória nas crônicas de Marina Colasanti. Disponível em: http://www.uel.com.br/cch/pos/letras/terrarocha. Acesso: 10 abr. 2007. CAMPOS, A. J. M. Todas as meninas se emanciparam. Disponível em: http:/ /www.crmariocovas.sp.gov.br/ntc_l.php?t=013x. Acesso: 16 jul. 2007. CHALITA, G. Mulheres que mudaram o mundo. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. COLASANTI, M. Entre a espada e a rosa. Rio de Janeiro: Salamandra,1992. ________. Doze reis e a moça no labirinto do vento. São Paulo: Círculo do livro S.A, 1982. 68 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 ESTEVES, V. V. Reflexões acerca do feminismo. Disponível em: w w w. c i e n t i f i c o. f r b. b r / . . . / f r e u d % 2 0 e % s u a % 2 0 O b r a % 2 0 % 2 0 Reflexões%20Acerca%20do%20Feminino.pdf-. Acesso: 10 abr. 2007. FUNCK, S. B.(org.). Trocando idéias sobre a mulher e a literatura. Florianópolis: Pós-graduação em inglês, UFSC, 1994. GRIMM, W. & GRIMM, J. “Rumpelstilzchen”. Disponível em: http:// members.fortunecity.com/gafanhota/rumpelstiltskin.htm. Acesso: 01 abr. 2007. JARDI, M. F. O conto juvenil brasileiro: características e tendências. Disponível em: http://www.fapa.tche.br/cienciaselebras/pdf/revista34/ art19.pdf. Acesso 12 abr. 2007. MENAI, T. A volta da mulherzinha. Disponível em: http://veja.abril.com.br/ especiais/mulher 2006p_02.html. Acesso: 16 abr. 2007. PINHEIRO, D. & MAXIMILIANO, A. O feminismo na crise dos 40. Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais/mulher_2006p_048.html. Acesso: 16 abr. 2007. PIZOL, K. O que as mulheres valorizam no homem? Disponível em: http:/ /www.casadamaite.com/index.php?option=com_content&task= view&id=7066&Itemid=29. Acesso em: 12 abr. 2007. TELLES, L. F. As meninas. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. TORRES, M. A desconstrução do feminino em Grimm e Marina Colasanti. Disponível em: sitemason.vanderbilt.edu/files/gM2yPK/Torres%20 Maximiliano.pdf-. Acesso: 24 abr. 2007. Artigo recebido em 14.12.2007. Artigo aceito em 03.05.2008. Verônica Daniel Kobs Doutoranda em Estudos Literários pela UFPR. Mestre em Literatura Brasileira pela UFPR. Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira da UNIANDRADE. Elizangela Francisca da Luz Andrade, Juciane Gasparin da Costa Castro, Roseli Teresinha Locatelli Persona – Alunas participantes do Programa Institucional de Iniciação Científica da UNIANDRADE. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 69 70 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 SUJEITOS E CULTURA: PLURALIZAÇÃO E AUTOREFERENCIALIDADE EM TEOLINDA GERSÃO, LOBO ANTUNES E INÊS PEDROSA Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira [email protected] RESUMO: Para ler o sujeito na cultura moderna partimos de uma reflexão da subjetividade como constructo, buscando compreender a relação entre subjetividade, modernidade e procedimentos narrativos adotados no romance português pós-74. Em Teolinda Gersão (Os guarda-chuvas cintilantes, 1984), escrever o sujeito é desinventar o diário, abri-lo a outros eus e a outras micro narrativas, discutindo a escrita; em Lobo Antunes (Ordem natural das coisas, 1992), é assumir a solidão de cada um pela representação do fosso existente entre os sujeitos, expresso na pluralização de eus narrativos não-comunicantes; por fim, em Inês Pedrosa (Fazes-me falta, 2002), escrever é potencializar a incomunicabilidade pela representação da morte como chance única para a encenação do diálogo não realizado em vida. ABSTRACT: In order to read the Subject in modern culture, we depart from a consideration of subjectivity as a construct, in order to understand the relation amongst subjectivity, modernity and the narrative procedures adopted in the Portuguese novel after 1974. In Teolinda Gersão (Os guarda-chuvas cintilantes, 1984), to write the Subject is to reinvent the memoir, to open it up to other selves and to other micronarratives, debating the writing process itself; in Lobo Antunes (Ordem natural das coisas, 1992), it is to take on everybody’s solitude through the representation of the gap existing between subjects, expressed in the pluralization of the noncommunicative narrative selves; lastly, in Inês Pedrosa (Fazes-me falta, 2002), to write is to potentialize the impossibility of communication by representing death as the unique chance for the staging of the dialogue which never took place in life. PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade. Modernidade. Procedimentos narrativos. KEY WORDS: Subjectivity. Modernity. Narrative procedures. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 71 No bojo de uma cultura que valorizava os sentimentos como expressão autêntica do indivíduo, coube a Nietzsche desmitificá-los como constructos que decorrem de idéias que se forjam ao longo da História. Já na primeira metade do século XIX, Tocqueville apontava para o início da psicologização da sociedade norte-americana ao mesmo tempo em que se processava a naturalização do individualismo burguês. Comprovando o caráter construído da subjetividade, o psiquiatra Franz Fanon mostrou que os sentimentos e os sintomas dos seus clientes, sobretudo a impotência, eram conseqüência de sua condição de colonizados na Argélia ocupada pelos franceses. Sabemos que a subjetividade surgiu como objeto de estudo a partir da desaparição das civilizações antigas e do advento do cristianismo com o deslocamento do foco do mundo para o sujeito, cujo paradigma foram As confissões de Santo Agostinho. Este processo de auto-interpelação alcançou brilho nos Ensaios de Montaigne no século XVI e daí para frente proliferou na modernidade emergente sob diferentes formas e gêneros, com destaque para as memórias, os diários e as cartas. O culto da subjetividade e do individualismo ganhou força inusitada no século XIX, no momento em que a vida privada hipertrofiou-se levando os indivíduos a se afastarem progressivamente da res publica. Relacionando individualismo e vida familiar, Tocqueville percebe em sua época que cada pessoa, mergulhada em si mesma, comporta-se como se fora estranha ao destino de todas as demais. Seus filhos e amigos constituem para ela a totalidade da espécie humana. (...) E se, nestas condições, um certo sentido de família ainda permanecer em sua mente, já não lhe resta sentido de sociedade. (SENNETT, 1988, p. 7) Desde o Romantismo, a verdade interior se torna o objetivo de todos, na seqüência do pensamento de Rousseau, como um ideal a ser naturalmente perseguido e alcançável. No entanto, ataques contra a subjetividade-como-verdade foram desferidos por Lionel Trilling ao estudar textos literários, mostrando que “quanto mais a subjetividade se torna um fim em si mesma, menos expressiva ela poderá ser” (Apud SENNETT,1988, p. 47), o que corrobora 72 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 a sua condição de constructo. Nesta mesma linha surgiram críticas contra a suposta verdade das relações sentimentais (privadas) em contraste à chamada artificialidade das relações impessoais (públicas) por parte de Habermas e Plessner, ambos da segunda geração da Escola de Frankfurt. Apoiados nas noções de Marx sobre a “privatização” na ideologia burguesa, eles registraram a tendência compensatória do capitalismo moderno para que as pessoas investissem “no âmbito familiar e na educação dos filhos os sentimentos que não poderiam investir em seu trabalho” (SENNETT, 1988, p. 49), acentuando-se, desta forma, a cisão entre os dois mundos. O objetivo era o cultivo de uma impessoalidade conveniente segundo o bom funcionamento das regras competitivas do mercado. Na seqüência dos estudos da Escola dos Annales, Sennett fez o contraste entre a nossa sociedade e a do século XVIII e XIX, mostrando que conceitos como família, personalidade, sentimento, sinceridade e amor são expressões e “realidades” produzidas em estreita relação com formas de organização econômica que ordenaram os espaços público e privado. Contrariando a idéia de que a família nuclear era um lugar puro onde as pessoas podiam expressar suas personalidades, ele analisa livros de educação infantil do século XIX em que a preocupação era evitar expressões espontâneas, criar regras para estabilizar aparências, regularizar comportamentos e fixar os papéis de esposo(a) e de pai (mãe) dentro do lar, provando que não há “uma diferença entre a expressão apropriada às relações públicas e a expressão adequada às relações íntimas” (SENNETT, 1988, p. 18), o que, em última análise, põe à mostra o caráter não-natural da subjetividade. No entanto, estas reflexões não podem ser tomadas de forma radical, pois, se por um lado somos o resultado das relações que nos envolvem no plano particular ou público de nossas vidas, por outro, temos a liberdade para refazer a própria subjetividade em consonância com os interesses pessoais ou sociais da cultura. Acreditando que a subjetividade é maleável, podemos aquilatar, em alguma medida, o quanto somos vítimas do meio e o quanto a ele podemos reagir. Deste modo, desmascarando a barreira entre subjetividades puras e subjetividades artificiais, respectivamente privadas e públicas, e condenando as tiranias da intimidade que vigoram nas sociedades atuais, o pensamento de Sennett se associa ao de Canclini quanto à Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 73 preocupação de resgatar a participação do sujeito nos rumos da sociedade. O primeiro defende uma espécie de revitalização do espírito do jogo – aceitação de regras e convenções – como prática da cidadania, desfetichizando o intimismo e a cultura narcisista da atualidade; o segundo sugere a implementação de negociações interculturais no espaço público, des-demonizando a globalização vista como um perigo para a dissolução do sujeito. Para entender o embate surdo e invisível entre sujeito e sociedade, é de bom alvitre hoje e sempre ouvir o que diz a arte da ficção, cujas metáforas se aplicam “ao que não cabe em conceitos unívocos, ao que vivemos e está em tensão com o que poderíamos viver, entre o estruturado e o desestruturador” (CANCLINI, 2003, p. 53). Assim o fez Maria Luiza Ritzel Remédios ao dedicar-se à análise do romance português contemporâneo, descobrindo a dupla ruptura acontecida em simultâneo na narrativa, na família e no regime político. Efetivamente, a partir dos anos 70, houve a substituição do narrador demiúrgico do romance, espécie de alter ego do autor e do intelectual que ali se representava como dono da verdade, pela pluralização e auto-referencialidade que problematizaram a voz narrativa num intenso jogo metalingüístico. Os paradigmas destes dois processos estão representados pelas obras Bolor de Augusto Abelaira e O delfim de José Cardoso Pires que, de certo modo, retomaram, no século XX, as contradições românticas tematizadas por Garrett em Viagens na minha terra. Como um prólogo de grandes transformações no âmbito da ficção portuguesa, estes dois romances publicados em 1968 fazem emergir a figura de um ou mais sujeitos narradores que funcionam como pólo de alteridade tensa com o leitor, na interação possível entre duas subjetividades num mundo ainda sob censura. Até então o universo do romance era constituído pela narrativa da família nuclear e pelas relações intersubjetivas estabelecidas na sociedade burguesa, que foram criticamente retratadas segundo as diferentes epistemes realista e neo-realista sob a autoridade de uma voz narrativa central. A mudança neste padrão diegético coincide, em Portugal, com o fim do regime patriarcal salazarista em que a queda do Pai, fora e dentro de casa, fez explodir fronteiras estéticas, inaugurando um processo experimental na ficção. 74 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Apoiada nestas reflexões que fazem um diálogo entre literatura e sociedade, entre identidade pessoal e social, interessa-me compreender três romances, distantes 10 anos um do outro, como metáforas da transformação cultural ocorrida em Portugal após a queda do regime em 1974, cujas conseqüências atingem o âmago da consciência do sujeito sobre si e sobre os outros, num mundo já transformado pelo 25 de Abril e sob acelerada mudança pela máquina da globalização. Pretendo abordá-los em seqüência como cenas diferenciadas que apontam para novas posições quanto às relações entre estrutura romanesca, subjetividade e cultura. Sob os guarda-chuvas da escrita A primeira cena envolve os romances da década de 80 que celebram a derrubada de valores em nome de uma utopia revivida por ocasião da Revolução dos Cravos. Sob a ação dos ventos dos novos tempos, a ficção portuguesa se preocupa em rever a História, o país, a identidade nacional, o gênero, a família nuclear, a conjugalidade, enfim, buscar no passado ou nas gavetas fechadas uma verdade esquecida ou sufocada. É o caso do livro Os guarda-chuvas cintilantes (1984) de Teolinda Gersão que ilustra o chamado boom que se instalou na narrativa. À semelhança dos textos de Clarice Lispector, no romance de Teolinda Gersão temos um ambiente familiar esfumaçado a vibrar por detrás da narradora, que é soberana a despeito dos laços que a prendem ao mundo doméstico. Sua autonomia se exerce na prática da escrita de um Diário (informação presente na folha de rosto, abaixo do título da obra) onde ela busca e encontra a liberdade, tal como praticava a desvairada Mariana Alcoforado em suas cartas no século XVII. No entanto, não se trata da mesma subjetividade nem da mesma forma de auto-expressão, pois, sem qualquer preocupação com a delimitação de um eu identificado, estabilizado e unívoco, a narradora perpetra a adulteração da cronologia e a desconstrução da função do gênero neste subgênero menor consentido às damas, fazendo da escrita, não um depositário de lamentações, mas uma alternativa para a função pública ainda não plenamente concedida à mulher. Ela não se preocupa em registrar seus dias como forma de conceder substância a si mesma, mas antes se ocupa em reunir impressões sobre a vida em geral e sobre outros indivíduos, inclusive um animal, além de abrigar Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 75 micronarrativas de outros sujeitos enunciadores. Embora não se trate de uma mulher ressentida, feminista ou resolvida, a figura e o percurso da narradora contrasta com o destino de outras mulheres de sua geração, condenadas ora ao trabalho doméstico rotineiro, ora aos desvios do adultério. Sem fazer proselitismo de uma identidade centrada na condição feminina, a personagem critica a sociedade e busca escapar aos estereótipos, consciente dos riscos de que “não coincidir com os espelhos é o maior dos crimes” (GERSÃO, 1984, p. 30). Estamos, pois, diante de uma subjetividade que não invoca uma essência identitária, mas também não cede aos paradigmas vigentes para sua condição de mulher, cidadã e secretamente intelectual. Ligada ainda ao aconchego de uma família tradicional, unida e estável, esta mulher sem nome teme o mundo que lhe é próximo, materializado nas imagens midiáticas que não deixam espaço “para inventar alguma coisa” (GERSÃO, 1984, p. 58). Sua família corre perigo diante do aparelho de TV, como diz Pip (seu marido?): “(...) descubro aterrado que não sei onde me deixei, onde está meu corpo, porque as imagens enchem tudo (...) então avanço contra elas de martelo em punho (...) as imagens desligam subitamente (...) minúsculo rectângulo de luz recuando para dentro do nada desaparecendo na noite conosco dentro” (GERSÃO, 1984, p. 61). O pavor apocalíptico da era globalizada decorre da anulação das possibilidades de criação que assusta este homem, embora, paradoxalmente, seja ele o autor das insinuações desqualificadoras do diário da mulher como forma inferior de escrita, expressando um residual marialvismo (machismo a portuguesa) que não esconde uma secreta inveja, ele que “secretamente gostaria de ser poeta” (GERSÃO, 1984, p. 24). Na passagem acima o romance põe em pauta as contradições que atravessam os seres na modernidade tardia: a diluição da subjetividade, a criatividade ameaçada, o questionamento de gênero. Resistindo à mediocridade dos destinos reservados à mulher, a pequena escrita quotidiana da personagem procura, singelamente, “(...) deixar um risco no tempo, um traço na areia, para provar que [está] (...) viva” (GERSÃO, 1984, p. 23). O exercício de sua subjetividade não se centra no próprio eu pessoal, mas amplia-se no desejo de contar histórias, em busca de palavras “como redes em que ela tentava prender o universo (...)” (GERSÃO, 1984, p. 89), cujo sentido ficava sempre por refazer, restando pelo menos “(...) algures, um coração batendo e ligando todas as coisas (...)” 76 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 (GERSÃO, 1984, p. 90). Trata-se de uma personagem que ingressa num processo de reflexidade, preocupada em forjar uma nova auto-identidade. Na intensa relação com o texto, percebe-se o perfil de uma mulher consciente da sua possibilidade de realização pela escrita, mas que, por ora, precisa dedicar-se a outras tarefas práticas no quotidiano doméstico que com a escrita disputam a primazia, pois tem “ (...) sempre as mãos ocupadas com outras coisas, panos de cozinha, lençóis, livros, legumes (...) uma infindável multidão de coisas” (GERSÃO, 1984, p. 83) que se intrometem entre a mão, a caneta e o papel. Ainda que desestimulada pelos afazeres da vida familiar, a narradora se alimenta das “possibilidades de uma língua” (GERSÃO, 1984, p. 120), convicta de que a “(...) História começa onde começa a escrita (a história começa onde começa a escrita)” (GERSÃO, 1984, p. 12). Para ela, escrever o sujeito é desinventar o diário, abri-lo a outros eus e a outras micronarrativas, numa ênfase da auto-referencialidade dialogante que oblitera o referente e faz ressaltar o texto, ao mesmo tempo em que dessacraliza a pretensa intimidade do gênero praticado. Ratificando o caráter exemplar desta obra, diz Maria Alzira Seixo que no romance desde a década de 70, “adquire um peso teórico-prático impressionante a noção de escrita (encarados enquanto urdiduras de escrita) se considerarmos a maior parte das obras que então vêm a lume” (SEIXO, 1986, p. 50). Assistimos ao percurso de uma subjetividade que se produz na escrita, localizada no intervalo entre duas épocas e dois paradigmas em vias de se trocarem. Também ao fazer a variação de pontos de vista entre primeira e terceira pessoa, o texto produz o distanciamento capaz de corroer o caráter intimista e autocentrado do “diário” como escrita feminina, tornando-o permeável aos problemas da vida pública que atingem a família, as mulheres e os intelectuais, despojando-se, portanto, de sua condição de prática exclusiva da vida privada. Seria esta reflexão sobre a escrita um sintoma da impotência da autoria feminina que nos anos 80 não havia ainda superado as dificuldades da emancipação da geração nascida sob a ditadura? Ou, ao contrário, em vez de sintoma, seria uma estratégia de proteção, uma tentativa de escapar à normatização ainda em vigor naquela altura? Sem a pretensão de responder conclusivamente a tais questões, sabemos que a escrita pode ser um espaço de liberdade, mas também de fuga. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 77 Imersa na experiência da escrita, a mulher teme olhar para “a folha de papel como armadilha em que a vida cai” (GERSÃO, 1984, p. 89), tornando-se o diário uma fuga do lugar onde acontecem as coisas e, portanto, uma outra forma de alienação do sujeito. Surge aqui a preocupação de abandonar a auto-referencialidade que se pode configurar como uma prática capaz de abrigar irresponsabilidades frente ao social. Ao final do livro esta questão retorna – mas não se resolve – num ambíguo diálogo da “autora” do diário com um cão falante cujo perfil não se ajusta ao dos animais das fábulas clássicas que conversavam entre iguais. Aqui, numa relação a princípio assimétrica entre seres, este animal representa um Outro, uma espécie de “terceiro” no sentido derridiano do termo, com o qual a protagonista discute sobre o ato de escrever. No enunciado do estranho cão, coloca-se o problema de a literatura consistir num viver no círculo mágico dos guarda-chuvas cintilantes, como um “maldito escapismo que os intelectuais têm sempre na manga” (GERSÃO, 1984, p. 131), protegidos dos males do mundo, indiferentes à fome e ao trabalho infantil. Nesta direção e por meio de um processo alegórico em que a voz feminina se transforma em cão, ocorre uma denúncia ao individualismo do escritor e, ato contínuo, o cão e a mulher se associam e passam a ladrar alegremente, proclamando: “Rebentemos o círculo mágico! (...) simbolicamente rasgando com dentes um guarda-chuva que estoura, silva, rodopia, e finalmente se abate sobre si mesmo, como um balão desfeito” (GERSÃO, 1984, p. 132). As coisas na sua ordem natural No teatro de embates entre sujeito e cultura, a segunda cena gira em torno do arrefecimento da utopia, do desencanto com a pátria e da amargura da impotência, metaforizados em A ordem natural das coisas (1992), de Lobo Antunes, romance da disforia e da indiferença frente à globalização que arruína a paisagem humana. No corpo narrativo desta obra estão enfileirados cinco Livros que obedecem a uma escatologia diegética em direção à morte, cada um subdividido em capítulos numerados escritos por sujeitos narradores diferentes, alternando-se segundo uma estruturação romanesca de monólogos que promete, mas não atualiza o diálogo. Não há a figura do narrador demiúrgico que poderia amarrar as enunciações, o que evidencia a abdicação, 78 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 por parte do autor, de um centro ordenador de sentidos a orientar os depoimentos. A princípio a subjetividade deste suposto ordenador é inapreensível, já que ela se multiplica nas diferentes enunciações, não se identificando com nenhuma delas. No Livro primeiro, (“Doces odores, doces mortos”), figuram os relatos de um homem de meia-idade e de um ex-policial da PIDE que o vigia, a pedido de um suposto escritor a quem se dirige às vezes: “(...) aqui o temos, amigo escritor (...) com a noite de Lisboa crescendo à sua volta (...)” (ANTUNES, 1996, p. 67). No Livro segundo (“Os Argonautas”), os monólogos são produzidos por Domingos, ex-mineiro em Moçambique, sogro do homem de meia idade do livro anterior, e por sua irmã, Orquídia, que relata as loucuras e delírios do irmão e do pai, fazendo a ponte entre Portugal e a colônia, mas também entre a realidade e a fantasia. No Livro terceiro (“A viagem à China”) figuram os monólogos de Jorge, um preso político, e seu irmão Fernando. O Livro quarto (“A vida contigo”) abriga os depoimentos de Iolanda, a rapariga diabética de 18 anos, esposa intocada do solitário homem de meia idade do Livro primeiro, alternados com relatos de Alfredo, seu amigo/namorado de Liceu. No Livro quinto e último (“A representação alucinatória do desejo”) estão as rememorações de Julieta, irmã doente de Jorge e Fernando, filha bastarda abandonada pela família, alternadas com a enunciação de Maria Antónia, 70 anos, vítima de um câncer incurável, que se declara a autora absoluta de todos os relatos anteriores: “(...) e comigo morrerão as personagens deste livro a que se chamará romance (...)” (ANTUNES, 1996, p. 259). Assim como nos filmes Crash – No limite (Paul Haggis, 2004) e Babel ( Alejandro González Iñárritu, 2007), as histórias são independentes e apenas se tocam por força de uma sutil e casual ligação entre as personagens que estão imersos no caos da segregação e da falta de comunicação que marcam a sociedade altamente moderna e civilizada. A solidão percute em todos as enunciações e mais dolorosamente no texto da mulher-escritora que, ao despedir-se da vida, é obrigada a aceitar amargamente a demolição da família, a divisão dos bens, a ruína da casa deflagrada em 1974. Estas expressões de subjetividade estão intimamente entrelaçadas com o quadro da vida social e política de Portugal, em especial Lisboa depois da Revolução de Abril, em que os desencantos com os rumos do país se cruzam com as tristezas íntimas dos diferentes sujeitos da Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 79 enunciação. Assim como as evidências da vida pública se relacionam a uma degradação inexorável, as personagens fazem parte de uma rede familiar esgarçada que se corrói lentamente. No fim anunciado pelo cancro e na cidade em mudanças, “(...) levantando a nossa volta um presente sem passado (...)” (ANTUNES, 1996, p. 260), estampa-se a decadência de tudo, ironicamente vista como “a ordem natural das coisas”, título da obra mais de uma vez glosado no romance (p. 242, 259). Não seria esta comunicação frustrada de sujeitos solitários a metáfora de um Portugal despojado de utopias, sob o desencanto da era da globalização em plena década de 90, data da produção do romance? Encarando seu próprio desaparecimento, a mulher fala da morte simbólica da cidade, sentindo o bairro que “(...) se transformou em terra de exílio na nossa própria terra (...)”. Ao se dirigir freneticamente às mulheres sobreviventes de sua família – filha, mãe e irmã – seu desejo é “(...) escrever este livro que alguém terminará (...)” (ANTUNES, 1996, p. 257), para preservar aquilo que os novos tempos estão a destruir (ANTUNES, 1996, p. 260), como se a escrita fosse a última utopia de uma vida em extinção. Todas as personagens parecem estar em busca de uma comunicação, invocando interlocutores que jamais respondem. Valendo-nos de conceitos de Guiddens, aqui se trata da “segregação de experiências”, ao contrário do romance de Gersão em que a questão reflexiva básica era a “auto-identidade”. As personagens de Lobo Antunes não se interrogam sobre o próprio eu, mas antes destilam amarguras com o esfacelamento das relações que deixaram de ser sólidas. Suas falas são monólogos dramáticos dirigidos a alguém, cartas sem resposta que, não obstante, chegam ao receptor-leitor, a quem cabe fazer as conexões e atribuir os sentidos entre elas. Efetivamente percebemos no conjunto da leitura a inter-relação entre os depoimentos que, a princípio, pareciam aleatórios. As personagens pertencem a uma rede de relações tecida entre parentes, vizinhos e conhecidos que compartilham uma mesma realidade sócio-política por força de serem contemporâneos e compatriotas. No entanto não conseguem comunicar-se entre si. Tal como os riscos e traços indecifráveis deixados pelo avô suicida de alguém “(...) que eram gritos (...)”, os monólogos são gritos solitários e impotentes, à exceção do relato da mulher em estado terminal que protesta contra a homogeneização da paisagem e o apagamento da história. 80 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Na sua igualmente solitária condição, é um desafio para o leitor alcançar o sentido que possa unir os diferentes relatos, já que geralmente corremos atrás da “mensagem” ou da “moral da história” que estaria cifrada sob as palavras das personagens e, sobretudo, dos narradores a quem interpretamos como alter-egos dos autores. Mas o romance não fornece saídas fáceis. Se no Livro primeiro vislumbramos a figura de um “escritor” enunciado como o destinatário do narrador – o ex-policial da PIDE –, no Livro quinto a função do “escritor” passa para a mulher que aceita a morte sem lamúrias, “(...) uma mulher de silêncio que não aprecia as efusões nem as lágrimas” (ANTUNES, 1996, p. 242) e que fala pouco porque as palavras se lhe afiguram vãs, mas que, “morando no silêncio” (ANTUNES, 1996, p. 242), resiste bravamente à ruína através da escrita do livro que estamos a ler. O leitor experimenta nova perplexidade quando ela informa que alguém terminará o livro por ela. Quem é afinal esta mulher? Tem ela relação com aquele primeiro “escritor” citado que se tornará o finalizador da obra? Na verdade falta-nos a certeza sobre a localização do eu da enunciação primária do romance, ao mesmo tempo em que nos interrogamos se haveria uma relação lógica entre estas três figuras representadas como autorais. Seriam elas superposições de uma mesma consciência tríplice, uma santíssima trindade a reger os procedimentos nos bastidores da narração? Seria a confissão enviesada do caráter múltiplo e compartilhado do eu na composição da obra de arte, a natureza compósita da subjetividade autoral? Um sujeito semivivo inicia o romance e uma mulher quase-morta o fecha ao tempo em que se afivela à figura do “escritor” que, por sua vez, encomendara as investigações sobre o primeiro sujeito. Há um ciclo que se fecha, embora não fiquem claras as identidades destes sujeitos que dizem ou parecem assinar a escrita. Mas não há dúvidas de que o trio alcança uma posição diferente das demais personagens que estão assujeitadas em identidades fixas, vítimas das contingências. Ao contrário delas, estes supostos narradores trazem à cena “a ordem natural das coisas”, que pode ser lida como um desfile dramático de sofrimentos individuais no corpo de uma cidade-país em decomposição, ou como um protesto intelectual de uma tríplice consciência irônica que escapa, graças à escrita, da ordem natural das coisas. O desfile das demais personagens lembra as “(...)multidões de pessoas (...) agora preocupadas, mais ou menos, apenas com as histórias de Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 81 sua próprias vidas e com suas emoções particulares” (SENNETT, 1988, p.17). A representação auto-referencial e plural dos narradores/“autores” aponta para as possibilidades oferecidas pela escrita como via de desassujeitamento dos sujeitos na contemporaneidade A falta que me fazes Por fim, esgotada a fase depressiva causada pela dissolução dos laços afetivos e pelo desencanto político diante das mudanças operadas pela globalização, ilustramos a terceira cena com o romance Fazes-me falta (2002) de Inês Pedrosa no qual duas subjetividades estabelecem, página a página, uma tentativa de comunicação de afetos neste mundo tão saturado de formas de comunicação, como diz a autora em entrevista a Revista Entrelivros (PEDROSA, citado em ARAÚJO, 2007, p. 15 e 16). Não se trata mais de sujeitos expressando formas de ser em relatos isolados, ou pela escrita consciente, nem de questionamentos sobre a auto-identidade. Encena-se um processo intersubjetivo, imaginado sob a forma de um “diálogo” espectral entre duas personagens separadas pela morte. Aqui a solidão não tem o tom desalentado do romance de Antunes, nem a ironia do diário de Gersão, mas, diferentemente, revela a dor da perda que é fruto de uma afetividade intensa, agora não mais camuflada como fora em vida: “É esse amor que agora me falta – o sujo, quotidiano amor dos momentos maus, das frases adversas, das ausências” (PEDROSA, 2002, p. 61), diz a voz feminina que também amargamente reconhece que “(...) todo o saber chega demasiado tarde” (PEDROSA, 2002, p. 58). Embora estejamos diante da trágica impossibilidade comunicativa criada pela morte, há neste romance de Pedrosa uma sublimação da dor que, ao final, permite o encontro das duas vozes numa cena onírica ou alegórica em que “o pai” volta ao passado e “(...) de repente corre em sonho de vôo”( PEDROSA, 2002, p. 221) e salva “a filha” adolescente de um atropelamento fatal, a sua “Sininho”, como lhe chamava. Esta dor da falta procede de uma relação familiar obliquamente confessada pela autora, como esclareceremos adiante. A alternância entre as duas enunciações revela uma forte e rica amizade que sobreviveu à própria morte, ficando o leitor no vértice deste triângulo comunicacional para o qual é convocado desde a primeira página, 82 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 chamado a dar sentido a esta estranha “correspondência” entre os “missivistas”. Apesar de pungentes, tais “cartas” – que não são cartas, mas breves narrativas / capítulos – não são relatos ao léu, não são retratos de vidas perdidas, tal como sentimos no romance de Antunes, mas individualidades que se comprometeram uma com a outra, além do compromisso maior que têm/tiveram com a realidade social. A voz feminina não se pergunta quem é, tal como faz uma heroína de diário verdadeiro ou distorcido, nem vive qualquer tipo de segregação, como as personagens solitárias de Lobo Antunes. Apesar de ter ultrapassado os umbrais da morte e ter deixado órfão o seu amigo, a mulher que “faz falta” é uma competente jornalista, professora de história e deputada, que tem presença atuante na sociedade. Segundo a terminologia de Guiddens, ela teria ultrapassado uma “política emancipatória” e alcançado a “política-vida” ao tomar decisões que derivam da sua liberdade de escolha, encarnando a idéia de que o “pessoal é político” (GUIDENS, 2002, p. 200 e passim). O romance deixa de lado opressões culturais e repressões familiares em favor do tratamento das relações de livre escolha entre pessoas que, não por acaso, podem ser pai e filha, já que a autora dedica o livro à memória do seu próprio pai, numa referência paratextual confirmada pela coincidência das idades entre a protagonista e a escritora. Não se trata mais de denunciar o padrão patriarcal que fez do homem/pai o sujeito detentor da palavra, e da mulher/filha o ser predestinado ao silêncio. Ao usar duas fontes tipográficas diferentes, a narrativa alterna as duas vozes em primeira pessoa, ora em feminino, ora em masculino, ensejando uma fruição mono ou estereofônica. Se optamos pela leitura linear da primeira à última página, encontramos paulatinamente as respostas de uma personagem no enunciado da outra. Na condição de grande interlocutor do romance, o leitor atualiza a potência das duas enunciações que encenam, cada uma a seu modo, a tragédia da comunicação imperfeita – mas possível - entre duas subjetividades que se produzem exatamente na intersubjetividade. Estamos diante de um solilóquio a dois, numa rota oposta à tradição do romance burguês em que a existência se aliena em destino. Assim como no romance de Lobo Antunes, não temos aqui o narrador de terceira pessoa a atribuir sentido ao atos vividos pelas personagens, já que a relação intersubjetiva se dá pelo desnudamento de Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 83 cada um em seu próprio relato, misto de carta e diário em que nada é escondido. Na destinação imaginária que entre si fazem, a sinceridade é favorecida pela situação limite em que se encontram, a saber, o velório no qual o falecimento da amiga é lamentado pelo amigo sobrevivente. Ambos, a morta e o vivo, deploram as identidades artificiais que circulam à volta do ataúde, criaturas feitas de sorrisos de encomenda e de corpos produzidos segundo a moda, expressões da sociedade do espetáculo que então começa a invadir a cultura portuguesa: gente a tagarelar sobre os “grandes valores da vida” sob a luz fúnebre das velas do enterro como se fossem as luzes da celebridade das media. Inconformada com o narcisismo, a indiferença e a omissão frente ao abandono e à morte impune de crianças pelo mundo afora, a heroína protesta contra os valores de uma sociedade que só se preocupa em manter um “mundo ideal” onde todos se conformam “(...) ao estabelecido, fazendo o mínimo ruído possível” (PEDROSA, 2002, p. 122). Apesar de ter optado por construir uma vida pautada pela liberdade de escolhas, a vida acaba por trair a personagem ao fazê-la vítima de uma gravidez tubária que a leva desta vida, revelando-se, por fim, ao leitor, que nem tudo é passível de controle e que a morte muitas vezes se esconde por detrás do acaso. Ao contrário do que disse a escritora na entrevista citada, ainda há para a mulher destinos biológicos inescapáveis. O livro se conclui com um vigoroso “Obrigada!”, elemento paratextual destacado em negrito, dirigido às pessoas que ajudaram a autora na composição da obra, fechando, portanto, a obra com uma inequívoca imagem de reconhecimento ao Outro. Isto duplica uma fala do protagonista masculino quando afirma que gostaria que chegasse aos ouvidos da amiga “o obrigada que [ele] não soube sussurrar-lhe ao ouvido” (PEDROSA, 2002, p. 29) já que, com ela, entre outros benefícios, aprendeu a conhecer e respeitar grandes mulheres, como Frida Kahlo e Josefa de Óbidos, exemplos de destinos femininos não-masoquistas que o fizeram rever o seu machismo português congênito. Como um longo poema costurado em ponto e contraponto, a narrativa é salpicada pelo refrão “Fazes-me falta” que reverbera não só a saudade mas o reconhecimento do Outro como fundamental no estabelecimento do Eu. No lugar da negatividade e do vazio que vigoram nas gerações domesticadas, centradas em mentes e corpos narcisistas da 84 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 modernidade tardia, a obra celebra a amizade pela qual se dá a “(...) circulação conjunta de um corpo e de uma alma em torno do despojado sedimento da sua verdade” (PEDROSA, 2002, p. 218). Estes dois seres, quando unidos, são “(...) cintilantes e perigosos como um par de amantes” (PEDROSA, 2002, p. 87) e poderiam efetivamente transformar a sociedade caso se tornassem aliados em vida. Nos romances estudados identificamos três momentos e formalizações estéticas diferentes que correspondem a concepções distintas de subjetividade e de intersubjetividade. Em Teolinda Gersão o sujeito se debruça sobre si e sobre o texto, num contraponto com o mundo que está de certo modo à distância. Podemos dizer que ainda vigora uma “política emancipatória” na constituição dos sujeitos, preocupados com a autoidentidade e com a libertação das amarras tradicionais que sufocam o eu, embora nem o mundo público, nem a família sejam renegados completamente. Em Lobo Antunes os eus enfileirados estão solitariamente desconectados e o quadro final é desolador e depressivo quanto às formas de relação no mundo familiar e na vida pública. Parecem sujeitos desadaptados num cenário em mudança, entre uma cultura tradicional e uma sociedade em vias de globalização. Em Inês Pedrosa, além da recuperação de uma relação horizontal entre masculino e feminino, não há cisão entre a subjetividade privada e pública. De uma concepção de família ainda preservada no primeiro, passouse para a sua dissolução completa no segundo e para sua transformação no terceiro. As três obras põem em causa o processo auto-referencial da escritura, no sentido das estratégias discursivas e da problematização do sujeito narrador, além de depositar na figura do leitor o papel da consciência que estabelecerá as relações e os sentidos das ações e das personagens representadas. De toda forma, ao trabalharem com o imaginário pela prática de procedimentos estéticos renovadores, como a auto-referencialidade (nas duas primeiras) ou a pluralização do eu narrativo (nas três), estes textos são “produtores de conhecimento na medida em que tentam captar aquilo que se torna fugidio na desordem global” (CANCLINI, 2003, p. 53). Como afirmou Inês Pedrosa, “o discurso vai muito à frente da prática. Por isso é Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 85 que existir dentro das palavras é habitar um futuro radioso” (PEDROSA citado em ARAÚJO, 2007, p. 17). REFERÊNCIAS ANTUNES, António Lobo. A ordem natural das coisas. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. ARAÚJO, Luciana. Inês Pedrosa: “Sem desejo não há nada”. Entrelivros, São Paulo, Ano 2, n. 24, p. 14-19, abr. 2007. CANCLINI, Nestor G. A globalização imaginada. Trad. Sérgio Molina. São Paulo: Iluminuras, 2003. GERSÃO, Teolinda. Os guarda-chuvas cintilantes. Lisboa: O Jornal, 1984. GUIDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. PEDROSA, Inês. Fazes-me falta. 9. ed. Lisboa: Dom Quixote, 2002. REMÉDIOS, Maria Luiza Ritzel. O romance português contemporâneo. Santa Maria: Edições UFSM, 1986. SEIXO, Maria Alzira. A palavra do romance: ensaios de genologia e análise. Lisboa: Livros Horizonte, 1986. SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Trad. Lygia Araújo Watanabe, São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Artigo recebido em 14.05.2008. Artigo aceito em 15.08.2008. Maria Lúcia Wiltshire de Oliveira Pós-Doutora pela Universidade de Campinas. Professora da Universidede Federal Fluminense. 86 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 RELATIONAL POETICS: REFLECTIONS ON O. PAZ, E. GLISSANT AND WOLE SOYINKA Eliana Lourenço de Lima Reis [email protected] ABSTRACT: This essay reflects upon theories that discuss the relations among the so-called central and peripheric cultures, based on the writings of Octavio Paz (Mexico), Edouard Glissant (Martinique) and Wole Soyinka (Nigeria), as well as of Silviano Santiago (Brazil). It starts from a historical perspective of the relations among cultures since Modernism and then discusses the growing tendency towards a less nationalistic and more transnational and relational approach to cultural appropriations, as well as to the concept of identity. RESUMO: Este texto busca refletir sobre teorias que focalizam as relações entre as culturas consideradas centrais e periféricas a partir do pensamento do mexicano Octavio Paz, do caribenho Edouard Glissant e do africano Wole Soyinka, tomando também em consideração as idéias do brasileiro Silviano Santiago. Parte-se de uma visão histórica das relações entre as culturas desde o modernismo para, em seguida, discutir a tendência em direção a uma visão menos nacionalista, mais transnacional e relacional das apropriações culturais, bem como da noção de identidade. KEY WORDS: Hybridity. Relational Poetics. Octavio Paz. Edouard Glissant. Wole Soyinka. PALAVRAS-CHAVE: Hibridismo. Poética da relação. Octavio Paz. Edouard Glissant. Wole Soyinka. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 87 One gain for me as I change: I learn a way of looking at the world that is more accurate, complex, multi-layered, multi-dimensioned, more truthful: to see the world of overlapping circles. Minnie Bruce Pratt The current configuration of the world system and the consciousness of the hybridity characterizing all cultures alike have brought about new approaches both to the issue of identity and to the relationships among the different cultural traditions. In other words, “Third World” and postcolonial subjects are not forced to choose between two opposing attitudes — between acting either as native or as “mimic men”, or else, between playing the role of the rebellious other or emulating the hegemonic cultures. In contrast with the simplification inherent in the opposition between “margins” and “centers”, “Third World” cultures are gradually coming to be seen as complex and sophisticated, able to receive “First World” cultural imports critically, to filter and mediate them before turning these imports into hybrid cultural artifacts. Therefore, instead of an oppositional poetics, writers have proposed and put into practice artistic projects based on the circulation of ideas as well as “travelling theories” (SAID, 1983, p. 226-47). In the terms of the Caribbean poet Edouard Glissant, now it is time for a “relational poetics” (GLISSANT, 1997). Glissant relies on the consciousness that cultures and civilizations live in permanent contact with each other and on the possibility of communication despite uneven power relations. The task of the writer would then be to “experience in his sensibility and in his need of expression everything that is going on in this field of world relations” so that these experiences may be “expressed through him and through the values of his own culture” (BADER, 1984, p. 84). The emphasis lies on positionality and on the refusal to admit cultural positions (major/minor literatures, the margin/ the center) as final or static. Writing, then, takes place in the liminal space of culture, in the continual movement between cultures and traditions; it is “a poetics of travel”, based on continual nomadism (KAPLAN, 1990, p. 361). In Latin America the Mexican poet Octavio Paz was one of the first critics to counter the nationalistic approach to literature characterizing the sixties and seventies. Despite his thorough critique of Eurocentrism, Paz 88 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 argues both for the creation of a Latin American identity and for the acknowledgement of Latin America as part of a supranational cultural world. Therefore, his locus of enunciation, as well as that of other artists and intellectuals in “Third World” countries, is a liminal or in-between site, an entrelugar, as the Brazilian writer and critic Silviano Santiago puts it. For Santiago, this is the space chosen by “a new society, that of mestizos, whose main characteristic is the realization that the notion of unity has undergone a complete reversal of position, and got contaminated by favoring a subtle and complex mixture between the European element and the indigenous element” (SANTIAGO, 1979, p. 17). The process of decolonization that followed the Second World War gave visibility to similar societies of mestizos, composed of the inhabitants of the former European colonies in Africa, Asia and the Caribbean, whose appropriation of the European languages and cultures by means of the colonial educational systems had turned them into hybrid cultural subjects. Although the Western gaze has tended to preserve the image of the excolonials as Europe’s others, in fact the “natives” now share the Western culture (for better or worse) and expect to assert their right to act as Europe’s interlocutors. As their Latin American counterparts, postcolonial intellectuals and writers also speak from a liminal space, and often attempt to negotiate a bridge between cultures. This similar stance towards intercultural exchanges as well as the problems faced by most “Third World” countries contribute to the emergence of critical discourses that can be read comparatively. Therefore, despite the differences between Latin America and postcolonial countries in Africa, the theories of Octavio Paz and Silviano Santiago can be related to those of the Nigerian writer Wole Soyinka, as all of them aim at the reciprocal illumination not only of their critical stances but also of their parallel struggle to come to terms with hegemonic cultures. “Literatures come into existence as a response to historical realities and, frequently, as a response against these realities”, Octavio Paz argues in “Literatura de fundación” (“Foundation Literature”). In Latin America, literature arises as “a response of Americans’ real reality to the utopian reality of America”, or else, as a rejection of the cultural representation of America as a product of the European imagination. Latin Americans must, then, refuse the view of the continent as “a projectile aimed at the future”, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 89 invent an identity of their own, and reinvent their past by means of a literature which distinguishes itself from that of Europe (1976b, p. 127). However, this process does not entail the refusal of the Western tradition, since Paz’s quest for a self-constituted identity relies on the view of the American historical roots as manifold, thus encompassing not only the indigenous cultures but also the European heritage. Yet, for most Latin American writers and intellectuals the native cultures constitute a reality to be rediscovered, since they are seldom part of their everyday experience. As a consequence, the search for the “real” America is usually marked by a sense of rootlessness, which becomes especially evident during modernism. The modernist poets were, for Paz, the first to be seriously committed to the creation of an autonomous literature in Latin America. However, “they do not turn their eyes to their homeland; instead, they turn their eyes to Paris”. According to Paz, The first Latin American writers who were conscious of themselves and of their own historical singularity made up a generation of exiles. (...) The experience of these poets and writers confirms the fact that, in order to return home, one must first risk leaving it. (...) Our rootlessness made it possible for us to recover our portion of reality. Distance was the condition for discovery. (PAZ, 1976b, p. 128-9) Distance and dislocation — in geographical as well as in cultural terms — mediated the modernists’ search for their homelands and their imaginative recreation of America. It was from Europe that these writers viewed America, defining it by means of what turned out to be escapist literature: the European gaze was still at work in the reinvention of America either as nature or as the site of vanished pre-Colombian civilizations — in both cases, mirages of America. A second stage soon followed: the experience of rootlessness inspired the rediscovery of traditions which had been disregarded before — the native and African civilizations — and their incorporation in the contemporary arts. Nevertheless, the discourse of the modernists reveals the traces of their cultural in-betweeness. According to Paz, “when Rubén Dario writes Cantos de Vida y Esperanza, what we have is not an American writer who 90 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 discovers the modern spirit, but a modern spirit who discovers the American reality” (p. 129). This modern spirit is characterized by the cosmopolitanism of the avant-garde movements: the dislocation to Paris enables the Latin American writers to “merge into the universal mainstream” (p. 128) in preparation, as it were, to reinvent America. In Brazil this process resulted in the new value ascribed to the native “primitive” cultures and arts, brought to the fore by the artistic trends of the beginning of the century in Europe, eventually giving rise to Oswald de Andrade’s “technologized barbarian”. “To see with free eyes”, advises Oswald de Andrade in his “Manifesto da poesia Pau-Brasil” (p. 330). However, the caraiba gaze is ineluctably mediated by the European utopia and the current idealization of “primitive” peoples. A similar process occurred in the visit to Minas Gerais organized by a group of modernist writers (among them Mário de Andrade, Oswald de Andrade and Tarsila do Amaral), who had as a guest the Swiss poet Blaise Cendras — an event whose significance Silviano Santiago discusses in “A permanência do discurso da tradição no modernismo” (“The Permanence of the Discourse of Tradition in Modernism”). These artists leave on a journey in search of the Brazilian colonial past; however, they act as “modern spirits” who discover the baroque heritage of Ouro Preto and other historic sites. Theirs is a cosmopolitan gaze in contact with a culture that looks only partly familiar, for it is viewed mainly as something new and original; actually, the Brazilian modernists react as partial outsiders. One of the consequences of this encounter with the roots of the country turns out to be Tarsila do Amaral’s decision to return to Paris in order to learn restoration techniques. Thus, Europe no longer represents only the place to get in touch with the latest artistic trends; for some artists Europe becomes the source of a knowledge that can be used in favour of the arts produced in Latin America (SANTIAGO, 1989, p. 104-6). “The route to Palenque or Buenos Aires always passed through Paris. (...) Distance was the condition of discovery”, as Octavio Paz observes (PAZ, 1976a, 129). Likewise, the route leading to the reinvention of Latin America must include Europe. This process is enacted by Octavio Paz’s text itself: “Literatura de fundación” was written in Paris in 1961 as a prologue to a special issue of Lettres Nouvelles, focusing on Latin American literature Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 91 — a fact that calls our attention, as the place and date are recorded at the end of the essay. In other words, Paz’s seminal discussion of Latin American literature also resulted from an act of dislocation in which distance offered an opportunity to recreate his homeland. Therefore, his locus of enunciation is neither Europe nor Latin America, but in-between, an entrelugar. Octavio Paz’s cultural location lies at the roots of his artistic project. In “Literatura de fundación”, Paz addresses a European audience that is being introduced to the then emerging Latin American literature. Although he argues for a distinction between writing in Spanish in Europe and in America, Paz does not associate the question of identity with the nationstate, for literature was supposed to disregard any geographical or political frontiers. According to Paz, “nationalism is not only a moral aberration, but also an aesthetic fallacy. (...) Of course artistic movements are born in this or that country; yet, if they happen to be fertile, it will not take them long to go beyond boundaries and to take roots in other lands” (p. 126). Literature, then, is made up of “rotating signs”, which often come together to form “constellations of signs”. These ideas are discussed in “Invención, subdesarrollo, modernidad” (“Invention, Underdevelopment, Modernity”), which presents not only Octavio Paz’s approach to the contemporary world but also a theory of relations among cultures and literatures: The end of modernity is, therefore, the end of nationalism and of the “world’s art centers” (...). All of us speak simultaneously the same tongue, as it were, or at least the same language. (...) The distinct times and spaces now get together in a here-and-now that is everywhere and that happens anytime. To the diachronic view of art a synchronic view is superposed. (...) The works of the nascent time will not be ruled by the idea of linear succession but by the idea of combination: conjunction, dispersion, and assembly of languages, spaces and times. Celebration and contemplation. The art of conjugation. (p. 136-7) Two key notions deserve special attention: the concept of “simultaneism” and the view of art as ars combinatoria, issues that Paz introduced in “Literatura de fundación”. He argues that America was created as the land of the future, so that the colonists were supposed to forget their 92 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 past on their way to the future. As a consequence, the present was disregarded. Paz reacts to this view by refusing the linear concept of time, which should be replaced by the ideas of “simultaneism” and “nowness” (agoridad), encompassing both time and space. Therefore, instead of History, he believes that we are faced with a multiplicity of simultaneous histories: “At five o’clock p.m. in Delhi it is five a.m. in Mexico and midnight in London” (p. 136). The world is then made of “overlapping territories, intertwined histories”, as Edward Said puts it (1994, p. 3). Octavio Paz proposes a re-examination of the concept of history and, according to Silviano Santiago, “invites us to conceive a history in which the ways of progress are plural”. Moreover, Paz invites us to restore the value of the present, viewed as the conjunction of the three dimensions of time. This results in what Silviano Santiago calls a “poetics of the here and now” (1989, p. 99), which rejects the break from the past, the aesthetic of the “make-it-new” and the utopian view of the future. The key word is combination, which opens up the way for the “art of conjugation”, or else, the attempt to conciliate the several temporalities (colonial, modern, postmodern) and spaces (regional, national, international). This attitude reflects an element that Paz considers to be one of the key characteristics of Latin-American literature: its cosmopolitanism. In “Poesia latinoamericana?” (“Latin American Poetry?”) Paz discusses the “curiosity” and “cosmopolitanism” of Latin American writers, which are supposed to indicate an open-minded approach to the literary other. According to him, the first haikai ever published in Spanish was written by a Mexican in 1917; moreover, Jorge Luís Borges’ Babelic library, “a private cosmopolis”, is located neither in London nor in Paris, but right in Buenos Aires (p. 147). Actually, this cosmopolitanism characterizes Paz’s texts themselves: Signos em Rotação (Rotating Signs), an anthology of his essays published in Brazil, analyses themes ranging from Spanish, Latin American, French, Portuguese and North American literatures to Japanese poetry and surrealist cinema. “Literatures are wider than frontiers”, he argues; likewise, artistic styles tend to ignore frontiers in their process of dissemination. As a consequence, the notions of origin and identity should be seen as relative concepts, whereas the circulation of signs is given a central role. Octavio Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 93 Paz’s approach to translation emphasizes its power in the communication among cultures. In his opinion, translation constitutes a “civilizing” activity, as it “presents us with an image of the other and thus makes us realize that we are not the world and that man means actually men” (p. 151). Octavio Paz’s aesthetic project relies on an attempt to reconcile the need to create a Latin American identity to the recognition of Latin America as part of a wider cultural world. Since he works both as a critic and as a poet, Paz’s essays provide an insider’s view of the development of Latin American writing and of its struggle to create an autonomous identity. Wole Soyinka’s essays on African literature perform a similar role, as his main object of interest has been the review of the literary scene in postcolonial Africa. Being basically a creative writer, Soyinka views the development of contemporary African writing from within, as it were — a perspective he shares with Paz. Also as his Latin American counterpart, Soyinka discusses the different approaches that the issue of identity has received in Africa and argues for a notion of Africanness that not only eschews essentialist definitions but also takes intercultural exchanges into consideration. Although the historical periods focused by the two authors are quite different, the object of analysis remains the same: the aftermath of colonialism and the creation of a new self-image and literature. As in Latin America, the “first step” towards self-assertion in Africa would be “to tear down the walls, to wake up what lay dormant, to clean out consciences from their specters” (PAZ, 1976b, p. 128). During this process of liberation from, a foundation counterliterature emerged, inspired by movements such as Negritude and Pan-Africanism, generally based on the binary opposition between the black and the white races as well as on the radical rejection of European civilization. This often resulted in the idealization of the black race and of a Golden Age which supposedly preceded the European colonization. Although the writing produced from this perspective was frequently marred by its binarisms, it succeeded in its function of operating a “semantic detoxification” (MUNANGA, 1986, p. 45) of the negative characteristics attributed to the colonized peoples, especially the black. As in Latin America, postcolonial literatures often came into existence as escapist literature: the reinvention of Africa or the West Indies as nature 94 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 or as the ruins of ancient civilizations. Also as in America, “escape literature was soon turned into exploration and return literature”, as novelists and poets started writing “not about but from their condition” (PAZ, 1976b, p. 129). This reversal of perspectives resulted from a new consciousness: postcolonial writers had to accept their cultural hybridity and to attempt to reach a balance — even if precarious — between their indigenous cultures and the cosmopolitan tradition to which they had access either by means of the imperial educational systems or by the experience of dislocation, diaspora or exile. These cultural subjects turned out to be what Michael Ondaatje defines as “amphibians”: “international bastards — born in one place and choosing to live elsewhere. Fighting to get back to or get away from our homelands all our lives” (Qtd. in IYER, 1993, p. 46). These are the “translated men” to which Salman Rushdie refers, who offer “stereoscopic vision (...) in place of whole sight” (RUSHDIE, 1996, p. 900). Frequently characterized by “their hyphenated status”, usually inhabiting (at least) “two half-homes”, postcolonial writers address audiences that turn out to be as hybrid as they are (IYER, 1993, p. 46-48). The earlier phases of postcolonial literatures relied on a binary view of the world: “us” versus “them”, the “center” versus the “margins”, a “Western” identity versus a “non-Western” identity, the West versus the other. This attitude resulted in the creation of an oppositional consciousness leading to the assertion of a radical difference and to the idea that the margins/ the other should defiantly “write back to the centre” (RUSHDIE, 1982). Actually, the antagonistic relationship to the dominant culture on the part of the nascent literatures was expected not only by the newly-established nations but also (and especially) by the former empires. Both European and nonEuropean audiences considered it “obvious” that “new literatures in new nations should be anticolonial and nationalist” (APPIAH, 1992, p. 149). Thus, when postcolonial literatures reinvent the “Third World” as other, in fact they are responding to the needs and interests of the “First World”. When the “margins” want to stress their marginal state by speaking as others and by resorting mainly to nativism, they usually claim a new poetics of the exotic, once more confirming the European image — Chinweizu’s Towards the decolonization of the African literature constitutes one of the best examples of this aesthetic project. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 95 Wole Soyinka’s essays of the sixties and early seventies provide an uncompromising critique of the excesses of nativism, especially what he calls the “anthropological novel” and the “narcissism” involved in the “indifferent self-acceptance” of an idealized view of the African past (1988, p. 7-14). Although Soyinka’s aesthetic project is mainly based on his native tradition, his approach to cultural practices aims at building a bridge between cultures. Thus, a “poetics of travel” can be observed in many of his writings, especially in his re-elaboration of African cosmology, developed in his essays “Morality and Aesthetics in the Ritual Archetype” and “The Fourth Stage” (1976, p. 1-36, p. 140-60). Born in Nigeria into a Yoruba family, Soyinka received his formal education in schools supported by the British Empire as well as in England. His constant dislocations have given him the opportunity to get in touch with different cultures and artistic traditions. Actually, Soyinka’s writings are affiliated with both his native tradition and the cosmopolitan culture; he is a cultural hybrid, whose locus of enunciation is the liminal space, the crossroads between different spaces and temporalities. This cultural location is in fact enacted in his discussion of the African worldview, based on the function and characteristics of the orisa Ogun, god of the road, of war and of creativity, in permanent movement between the worlds making up the Yoruba cosmology. According to the Yoruba mythology, the gods once lived on earth with men; however, either sin or default provoked an estrangement and the gods withdrew to their own world. The long isolation from the world of the living created an impassable barrier, a thick undergrowth of matter and non-matter. The only deity who could destroy this barrier was Ogun: by using the first instrument, which he had forged from iron ore, Ogun was able to clear up “the primordial jungle” and to cross the abyss, soon followed by the other gods. This heroic feat led the other deities to invite Ogun to rule over them, but he refused. While inspecting the world with the other gods, Ogun helped the town of Ire to fight an enemy; he was again offered the crown, which he declined, and retired to the mountains to live by himself, hunting and farming. Although Ogun showed himself to the inhabitants of Ire in his leather war-kit smeared in blood, they still insisted that he should be their leader. Ogun finally consented and was crowned king. But one day, during a battle, the trickster Esu left a gourd of palm wine for Ogun, who 96 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 drank all of it. The god then became more and more violent, and killed not only his enemies but also his friends. As a form of punishment, Ogun must undertake his original voyage annually, thus ensuring permanent communication between the gods and men (SOYINKA, 1976, p. 27-30). The notion of cyclic time, present in Ogun’s periodic journeys, is reflected by his emblem, the self-devouring snake. Both the god and his symbol stand for the eternal condemnation to the doom of repetition, the continual cycle of creation and destruction as well as the recurrence of the human patterns of behavior (p. 54). Ogun’s emblem as well the emphasis on eternal recurrence are charged with a certain sense of inescapable fatality inherent in the idea of a circle: the snake bites its own tail and the whole cycle starts once more. Although Soyinka argues that this does not mean the return of the same, but the return with a difference, in fact he feels that, to be more akin to his aesthetic and theoretical purposes, he needs to develop the metaphor into something similar, yet freer. This is why he chooses a Western equivalent to Ogun’s snake as an image of the Yoruba thought system as well as of his own: the Möbius Strip. Usually represented by the Greek sign for infinite (∞), the Möbius Strip becomes Wole Soyinka’s personal reinterpretation of the myth of Ogun and of a holistic view of the universe. Since the Strip indicates a sequence with neither beginning nor end, hence with no fixed center, it turns out to be a perfect metaphor of decenterment and of non-hierarchical relationships. Being an image of unity in diversity, the Möbius Strip stands for what Soyinka calls the African “consciousness of cosmic entanglement” (p. 26). In this case, it constitutes a keen insight into the interdependence of the three realms of existence in the Yoruba cosmology as well as a view of this world as a web of relationships. In these lines of his long poem “Idanre” (SOYINKA, 1967, p. 83), Soyinka describes the Möbius Strip: multiform Evolution of the self-devouring snake to spatials New in symbol, banked loop of the “Möbius Strip” And interlock of re-creative rings, one surface Yet full of angles, uni-plane, yet sensuous with Complexities of mind and motion. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 97 The intricacy of the image seems to have led Soyinka to define the Möbius Strip in a note to the poem. According to him, the Strip is a “mathemagical ring, infinite in self-recreation into independent but linked rings and therefore the freest conceivable (to me) symbol of human or divine relationships”. And Soyinka adds: A symbol of optimism (...) as it gives the illusion of a “kink” in the circle and a possible centrifugal escape from the eternal cycle of karmas that has become the evil history of man. Only an illusion but a poetic one, for the Möbius strip is a very simple figure of aesthetic and scientific truths and contradictions. In this sense, it is the symbol of Ogun in particular, an evolution from the tail-devouring snake which he sometimes hangs around his neck and symbolizes the doom of repetition. (p. 87-88n) Instead of the idea of inescapable repetition suggested by the selfdevouring snake, its Western counterpart has a much larger scope, since it gives relevance to movement, the possibility of change and the free intercourse between independent yet linked phenomena and beings. In African traditional societies time is a bi-dimensional phenomenon, composed of a long past, a present, and virtually no future. The Western linear time concept, graphically represented by an arrow and characterized by an indefinite past, the present, and an infinite future, is totally unfamiliar to the African thought system, which practically ignores the future: since future events have not happened yet, they are not supposed to constitute time. Accordding to African culture, events which are sure to occur and those integrating the inevitable natural rhythms make up potential, but not real time; moreover, it is the present that is a value in itself. Contrary to the Western conception, in traditional societies time is not seen as change and succession, but as a continuous flow of a permanent present encompassing all times. According to Soyinka’s view of Yoruba cosmology, there are three realms of existence, the world of the living, of the dead and of the yet unborn, which are not considered separate entities, since the Yoruba thought system “denies periodicity to the existences of the dead, the living and the unborn” (1976, p. 10). The gods are seen as “a product of the conscious creativity of man” (SOYINKA, 1976, p. 2): “The 98 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 deities exist in the same relation with humanity as these multiple worlds and are an expression of its cyclic nature”. Likewise, the expression “the child is father of the man” is not only an image of development, but “a proverb of human continuity which is not uni-directional”. Thus, not only are the three areas of existence equally old and important, but also they coexist. This affects the Yoruba social principles: the multiple existences are perceived as so absolutely intertwined that an elderly man may refer to a child as “Baba” (elder, or father) if the circumstances of his actual life look retrospective (p. 11). The close relationship uniting the three worlds as well as their coexistence prevents the creation of any notion of center. Contrary to the antiterrestrialism characterizing both Buddhism and Judaeo-Christianity, the three realms are not seen as separate entities. In fact, the African holistic view of the universe is based on the idea of cosmic totality. Man is supposed to derive his essence from the Great Ancestor, the source of life, and to compound with this essence the totality of a universal consciousness which includes all things. Life and death are but one indistinguishable continuum: man partakes of the divine essence, therefore he has a certain spirituality and creative power as well as the possibility of withdrawing into the spirit world in order to function as a force for good over the living. The dead, the living and the unborn make up the eternal cyclic order; blood, the most meaningful force for the living, unites them to the dead, so that no family ever diminishes: the ancestors, turned into minor deities, are bound by blood with their descendants and act as their guides and protectors. In other words, a communion, an active line of communication is kept open between the living and the dead: the ceremony of libation (invocation) brings the dead, the living and the unborn together and ritually renews the bonds uniting all beings (AWOONOR, 1975, p. 49-51). This philosophical construct depends on a ritual view of time, as rituals create an interval when the past is momentarily negated, suspended or annulled and the future has not yet begun. It is this suspension of time that makes it possible to bring together the past and the future in a long present. As Octavio Paz puts it: Time stops being succession and becomes again what it used to be and what it is originally: a present where past and future are, at last, reconciled. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 99 [...] The festival [fiesta] (...) reproduces an event: it splits the chronometrical time in two so that, during the span of some brief incommensurate hours, the eternal present is restored. (1976a, p. 46 e189) In Yoruba cosmology, it is up to Ogun to open up the roads of the universe and to establish a continuous mediation between the three levels of existence by bridging the “abyss” separating one world from the other. Then, the “gulf of transition” becomes Ogun’s pathway, a sign of communication, interdependence and complementariness, which Soyinka translates into the Möbius Strip. Instead of the idea of repetition that cannot be escaped, suggested by Ogun’s snake, the Möbius Strip throws attention onto movement, the possibility of change, and the relationship among independent, yet interconnected, phenomena and beings. This makes the Strip an adequate metaphor not only for the contemporary cultural subject but also for Wole Soyinka’s approach to literature and tradition. The Möbius Strip may be seen as a metaphor for the contemporary concept of self — actually Jacques Lacan has used this image to refer to the symbolic order, which leads man to an endless process of substitution of signs. Determined by the unconscious — as Lacan puts it — or lost within language — according to Foucault and Derrida — man is no more considered the center of the universe. The self is also the other, therefore identity and subjectivity can no longer be related to unity and coherence. Instead, identity and subjectivity have come to be seen only as a matrix of subject positions that can be inconsistent or even contradictory. In fact, the subject is in a permanent process of construction and change due to the vast number of positions from which it perceives itself and its relations with reality. Identity, then, can only exist in theoretical terms, for it is something to be permanently redone or reconstructed. Like the Möbius Strip, the subject slips from one subject position to another in a centerless continuum; moreover, the two sides of the Strip show themselves like the speaking I and the conscious I: there is no way to tell the right side from the reverse side of the Strip, as there is no way to distinguish clearly between the two parts of the self. Likewise, the cultural subject runs along the loops of the Strip, presenting itself either as self or as other. As Paz observes, “Like the Möbius Strip, there is neither outside nor inside; alterity is not out there, but in here: alterity is nothing but ourselves” 100 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 (PAZ, 1976a, p. 239). As a consequence, the other will certainly emerge as a constitutive element of identity, for identity depends on intersubjective relationships, or else, on a process of “trans-subjectivity”. In personal terms, we can no longer view the subject as individual (in-divisus, etymologically); likewise, if identity necessarily includes alterity, it is impossible to conceive of a national / ethnic / racial identity as unity, but as unity despite diversity. This will entail the acknowledgment of the hybrid aspect of both peoples and cultures. As Homi Bhabha points out in “DissemiNation”, the concept of identity we should have in view now is what he calls the “performative” notion, which must take into consideration the ambivalence of the nation as a discursive strategy. What Bhabha suggests is a “liminal” form of space and time, “the ‘double and split’ time of national representation”, which speaks from the margins, “in-between” through the “gap” or “emptiness” of the signifier that punctuates language difference. The result is a double-writing or dissemi-nation, a space internally marked by cultural difference, the heterogeneous histories in conflict with each other and tense cultural places (BHABHA, 1990, p. 295-9). The end of colonialism contributed to intensify the tendency towards the dislocation and dissemination of peoples and cultures. In Culture and Imperialism, the Palestinian-American critic Edward Said draws attention to the fact that the European expansionist project initiated an irreversible process of globalization, which brought to the fore the interdependence between the histories of the empires and of the colonies, between the European and the non-European, the “centers” and the “peripheries”. According to Said, “partly because of empire, all cultures are involved in one another; none is single and pure, all are hybrid, heterogeneous, extraordinarily differentiated, and unmonolithic” (1994, p. xxv). This configuration of the world system prevents the creation of cultural identities based on essences, as identities exist as “contrapuntal ensembles”: identities can only exist by means of oppositions. The Greeks could only view themselves as Greek when set in opposition to the barbarians; likewise, Europeans can only define themselves in opposition to Africans, Asians, Latin Americans, and others. Furthermore, all these identities are based on equally hybrid cultures, all of them resulting from mutual borrowings, appropriations, common experiences, in short, from Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 101 interdependence (SAID, 1994, p. 217). The consequence is the existence of a multipolarity founded on reciprocal influences and the dissemination of knowledge, “the interdependence of various histories on one another, and the necessary interaction of contemporary societies with one another” (p. 38). Since contemporary nations are ethnically and culturally hybrid, the artists living in these same nations can not help being like them. The culturally hybrid writer must open himself up to the multiple cultural worlds he is faced with; in this sense, the writer works from a double perspective, at the same time ethnic/national and inter-national. Actually, his voice comes at the same time from his center and from the cultural margins, as well as from the several times articulating in the present time. His narrative position is among subjects, cultures and nations/groups. If one must now face a transnational or inter-national culture, literature and culture can only be seen as a “net of relationships”, where signs circulate both temporally and spatially, as if in the loops of the Möbius Strip. The consequence are, first, a creative dialogue between the present and the past — in fact, past, present and future are no longer considered values in themselves — and, second, the acknowledgment that there is no longer a privileged space (either a city or a country) to be regarded as the center. The liminal location of culture, in-between spaces and times, makes it necessary for the writer to speak from “the space of transition”. This is why Soyinka has chosen Ogun not only as the paradigmatic African deity and role model, but also as the patron of the African writer. Like Ogun, Soyinka presents himself as the subject who moves along the Möebius Strip, showing several perceptions of the world and multiple faces — at the same time Yoruba, African and cosmopolitan (literally, citizen of the world). Like Ogun in the liminal space, “the gulf of transition”, Soyinka commutes between different traditions and temporalities, in an attempt to build a bridge joining multiple universes. Also like Ogun, Wole Soyinka’s location is the passage, a liminal or transitional form of space and time, the mediation between several cultural worlds. This turns him into a “border intellectual”, someone able to act as a shuttle between social and cultural locations (JANMOHAMED, 1992, p. 114). Actually, the term “border intellectual” can be used to define not only Soyinka but also the other writers whose “relational poetics” we have discussed: Octavio Paz, Silviano Santiago and 102 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Edouard Glissant. All of them share the view of literature as a vast system of cultural exchanges. This attitude contributes to the relative value attributed to notions such as origin, originality and property as well as to the emphasis given to the exchange of knowledge and to communication — though not necessarily to an idealist concept of dialogism. The type of communication proposed by these “relational poetics” cannot be associated with an irenic approach to communication, but, instead, with an agonistic view, based on the idea that the word is not always cooperative and that communication must take place despite distance and dislocation. Thus, communication may exist even when faced with absence and the lack of reciprocity: If we no longer think of the relationships between cultures and their adherents as perfectly contiguous, totally synchronous, wholly correspondent, and if we think of cultures as permeable and, on the whole, defensive bondaries between polities, a more promising situation appears. (...) Cultures may then be represented as zones of control or of abandonment, of recollection and of forgetting, of force or of dependence, of exclusiveness or of sharing, all taking place in the global history that is our element. Exile, immigration, and the crossing of boundaries are experiences that can therefore provide us with new narrative forms or, in John Berger’s phrase, with other ways of telling. (SAID, 1989, p. 225) WORKS CITED ANDRADE, Oswald. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Vanguarda européia e modernismo brasileiro. Ed. Gilberto Mendonça Teles. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 326-31. APPIAH, K. Anthony. In my Father’s House. Africa in the philosophy of culture. New York, Oxford: Oxford University Press, 1992. AWOONOR, Kofi. The Breast of the Earth. Garden City: Anchor Press; New York: Doubleday, 1975. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 103 BADER, Wolfgang. Poétique antillaise, poétique de la relation: Interview avec Edouard Glissant. Komparatistische Hefte, University of Bayreuth, n. 9/10, 83-100, 1984. BHABHA, Homi. DissemiNation. In _____ (Ed). Nation and Narration. London, New York: Routledge, 1990. p. 291-322. CHINWEIZU, with Owuchekwa Jemie and Ihechukwu Madubuike. Toward the Decolonization of African literature. London: KPI, 1985. GLISSANT, Edouard. Poetics of Relation. Trans. Betsy Wing. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. IYER, Pico. The Empire Writes Back. Time, 46-51, Feb. 8, 1993. JANMOHAMED, Abdul R. “Worldliness-without-world, Homelessness-as-home: Toward a Definition of the Specular Border Intellectual”. In: Michael Sprinker (Ed.). Edward Said: A Critical Reader. Oxford-U.K., Cambridge, USA: Blackwell, 1992. p. 96-120. KAPLAN, Caren. Deterritorializations: The rewriting of Home and Exile in Western Feminist Discourse”. In: Abdul R. JanMohamed and David Lloyd (Eds.). The Nature and Context of Minority Discourse. Oxford: Oxford University Press, 1990. p. 357368. MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. São Paulo: Ática, 1986. PAZ, Octavio. O labirinto da solidão e post-scriptum. Transl. Eliane Zagury. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976a. ________. Signos em rotação. Transl. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Perspectiva, 1976b. RUSHDIE, Salman. “The Empire Writes Back with a Vengeance”. The Time, p.8. 3 July 1982. ________. From Imaginary Homelands. In: J. Thieme (Ed.). The Arnold Anthology of post-colonial literatures in English. London; New York: Arnold, 1996. p. 899-902. SAID, Edward. Travelling theories. The World, the Text, the Critic. Cambridge: Harvard University Press, 1983. p. 226-47. ________. Representing the Colonized: Anthropology’s Interlocutors”. Critical Inquiry. n.15, 205-225. Winter 1989. ________. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1994. 104 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 SANTIAGO, Silviano. O entrelugar do discurso latino-americano. Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural. São Paulo: Perspectiva, Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1979. p. 11-28. ________. A permanência do discurso da tradição no modernismo. Nas malhas da letra. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 94-123. SOYINKA, Wole. Idanre and Other Poems. London: Methuen, 1967. ________. Myth, Literature and the African World. London: Cambridge University Press, 1976. ________. Art, Dialogue and Outrage: Essays on Literature and Culture. Ibadan: New Horn Press, 1988. Artigo recebido em 03.03.2008. Artigo aceito em 14.06.2008. Eliana Lourenço de Lima Reis Pós-doutora em Literatura Comparada pela Universidade de Duke, EUA. Doutora em Letras – Estudos Literários, Literatura Comparada pela UFMG. Professora Associada de Literaturas em Língua Inglesa na Faculdade de Letras, UFMG. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 105 106 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 OPERAÇÕES ESTÉTICAS E POLÍTICAS EM MÁRCIO SOUZA André Soares Vieira [email protected] RESUMO: Este trabalho objetiva mapear algumas das categorias problematizadas no romance Operação Silêncio, de Márcio Souza, especialmente no que respeita à hibridação dos gêneros em um processo que remete à montagem literária. Ao fragmentar a narrativa, justapondo elementos oriundos de gêneros discursivos diversos (ensaio, crítica cultural, romance e roteiro cinematográfico), o texto de Souza apresenta-se como um mosaico de linguagens imbricadas que responde ao contexto social e político de sua época. ABSTRACT: This article aims to analyze some of the categories highlighted in Márcio Souza’s novel Operação Silêncio, especially in what it respects to the collage/assembly technique in a process of literary montage. When breaking up the narrative, juxtaposing deriving elements of different discursive orders (essay, cultural criticism, novel and cinematographic script), the text by Souza is presented as a mosaic of multiple languages that answers to the social and historical context of its time. PALAVRAS-CHAVE: Montagem literária. Gêneros. Hibridação. Operação silêncio. KEY WORDS: Literary montage. Genres. Hybridism. Operação silêncio. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 107 Quando uma geração é impedida de experimentar seus caminhos, quando é impedida de fazer um filme, de escrever um livro, se põe a falar da realização do filme e do escrever o livro, e tornase uma geração tagarela. Márcio Souza Boa parte da ficção brasileira produzida a partir do golpe militar de 1964 caracteriza-se pelo uso de técnicas de montagem e de desmontagem do texto literário e está associada a uma forma de contestação do status quo. Percebe-se que o uso das técnicas de montagem normalmente esteve ligado à fragmentação e ao jogo propiciado pela dispersão dos elementos da narrativa no intuito de se romper com a ordem linear do discurso. Neste trabalho, analisaremos o modo como um romance do escritor brasileiro Márcio Souza, Operação Silêncio, de 1979, opera com tais categorias ao problematizar de forma complexa as relações entre o cinema e a literatura como possibilidade de resposta a um momento de exceção social e política. Procedimento técnico desenvolvido como etapa essencial de produção cinematográfica, a montagem diz respeito, grosso modo, à organização dos planos de um filme em termos de ordem e de duração. Enquanto recurso capaz de traduzir a fragmentação/justaposição de gêneros distintos no seio da narrativa moderna e contemporânea, a montagem foi paulatinamente assimilada, desenvolvida e desconstruída por escritores que nela vislumbraram a possibilidade de uma escritura híbrida. Nesse sentido, a técnica da montagem aproximar-se-ia da colagem como procedimento de composição intertextual, favorecendo uma escritura de caráter híbrido ao incorporar fragmentos de várias instâncias discursivas, de contextos literários e não-literários. O caráter móvel da montagem permitiu a diversos autores um uso especializado da mesma, desde a fase inicial do cinema, seja por intermédio da justaposição de elementos díspares ou pela fragmentação espaço-temporal do romance. Para Serguei Eisenstein, o cinema é a montagem. Nessa perspectiva, a linguagem do cinema se aproxima dos novos experimentos com a linguagem literária já em voga nas duas primeiras décadas do século XX. Conforme sublinhou Haroldo de Campos (s/d), a montagem eisensteiniana seria vista como uma sucessão de imagens fragmentárias ordenadas, de cuja seqüência ou colisão surgiria uma nova imagem maior do que as imagens separadas ou diferente delas. Para as vanguardas históricas do início do século XX, a 108 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 montagem caracterizou-se como forma de articular signos, sentenças e seqüências na fragmentação e na simultaneidade, justapondo e relacionando elementos heterogêneos sem ligação direta entre eles. Na literatura, o uso de formas da montagem vem revelar um processo operador de fragmentos que se apóia no corte e faz fluir múltiplas direções significantes (em James Joyce, por exemplo). De certo modo, remete ao padrão de montagem de Eisenstein.1 A utilização de princípios da montagem cinematográfica na narrativa brasileira tem em Oswald de Andrade um de seus precursores. Ao optar por uma escrita telegráfica cuja articulação entre os elementos compositivos se dá por meio de pausas e não por conexão, Oswald rompe com a antiga retórica, concebendo uma sintaxe despojada, fragmentada e telegráfica, acentuada pela técnica do corte. Nesse sentido, Márcio Souza pode ser considerado um dos maiores herdeiros da estética fragmentária de Oswald de Andrade, caracterizada pela descontinuidade cênica e pela busca do simultaneísmo das ações. Já em seu primeiro romance, Galvez, Imperador do Acre, de 1976, Souza faz uso de uma linguagem telegráfica calcada em pequenos quadros que remetem a cenas ou tomadas de um filme. O caráter fragmentário do romance se aproxima, com efeito, das técnicas oswaldianas, e muitos críticos já apontaram as similitudes entre Galvez e Serafim PonteGrande e Memórias Sentimentais de João Miramar. No entanto, é com Operação Silêncio, de 1979, que Márcio Souza leva ao paroxismo suas preocupações formais. Se a região amazônica serve de palco para Galvez, Imperador do Acre e Mad Maria, agora é a vez da cidade de São Paulo no ano de 1968, quando o autor era estudante da antiga Faculdade de Filosofia da USP. A complexidade do romance advém de sua fragmentação espaço-temporal, cujo único fio condutor é a figura de seu protagonista, o cineasta Paulo Conti. Operação Silêncio focaliza o cinema em sua relação com a política. O Cinema Novo é o centro das atenções de Conti. Em suas discussões, o cineasta “se indaga sobre a criação de filmes que criticam o capitalismo, em meio a modos de produção capitalistas. Ele critica o Cinema Novo, por ter se apoiado na exploração da mais valia” (JOHNSON, 2005, p. 128-129). O romance discute ainda a relação entre a arte, sobretudo o cinema, e a revolução, o papel social do escritor e do cineasta no auge do regime militar e a necessidade de diminuir a distância entre o artista e sua época. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 109 A fim de discutir todos esses elementos da cultura nacional, Operação Silêncio se apresenta como uma obra híbrida, misto de romance, ensaio, crítica cultural e roteiro cinematográfico. A dedicatória do romance exemplifica com bom humor a relação com o cinema: “À Ida, em 24 fotogramas por segundo”. A multiplicidade de discursos e gêneros justapostos de maneira fragmentária se traduz por cortes no tempo e no espaço diegéticos, alternando diálogos entre o protagonista e as demais personagens com trechos do roteiro de um filme histórico escrito por Conti: os dois planos narrativos se imbricam sem qualquer divisão. A obra também evidencia as reflexões do protagonista, espécie de duplo do autor enquanto crítico da cultura nacional, focalizando de forma ensaística o papel e a responsabilidade dos meios da indústria cultural, em particular o cinema, sua utilização política, a figura emblemática de Glauber Rocha. O romance divide-se em duas partes: O sobrevivente Paulo Conti e O rio de sangue. Ao longo da primeira parte, apresentam-se múltiplos fragmentos, alguns ocupando apenas uma linha e contendo anotações breves precedidas por subtítulos que enfocam frases da China maoísta da era da Revolução Cultural: “O Inimigo é Induzido a Cometer Erros: Beirando os trinta anos, estávamos muito longe de aceitar uma confissão de impotência”(SOUZA, 1985, p. 14). Percorrendo as ruas de São Paulo, a caminho do apartamento de Melusine, a “Embaixatriz”, produtora de seu próximo filme, Conti relembra as conversas com amigos, sobretudo com PPP, crítico de cinema engajado na luta armada contra a ditadura. Em um estilo extremamente cinematográfico, a narrativa se faz pela alternância dos planos ficcionais, entre a crítica ensaística, as reflexões acerca da literatura, do cinema, do teatro e do tropicalismo e os eventos diegéticos. Nossa Tarefa Presente É Organizar o Aparato do Estado Popular Chinês: O impacto da criatividade oswaldiana não podia se confundir com indignação; Caetano Veloso trazia a guitarra elétrica para a cena e estilhaçava; os concretistas na base teórica do tropicalismo; os baianos na paulicéia mostrando o jogo e destruindo mitos (SOUZA, 1985, p. 99). 110 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 O processo de montagem se apresenta de maneira caótica, intercalando e unindo elementos de espaço e tempo distintos como em uma colagem de cenas. Trata-se aqui do uso da montagem paralela, recurso característico da linguagem do cinema, responsável pela espacialização do tempo e pela temporalização do espaço na sintaxe fílmica. Os diálogos entre a Embaixatriz e o general Braylly são intercalados às conversas de Conti com seus companheiros, separados temporal e espacialmente: – Braylly, sempre tão conservado! – disse a Embaixatriz retirando a mão que acabava de ser beijada pelo general [...] – O pessoal todo fodido, Paulo – diz Abelardo, os óculos sujos de poeira. – Não dava para fazer outra coisa, depois da derrota era mais sensato reconhecer as causas. [...] – E você? – diz o General Braylly. – A mais bela Embaixatriz em BadenBaden. Ainda conserva a mesma pele de romã, os mesmos tornozelos felinos. – Paulo está lendo um livro de Cony – disse Patrícia como se tivesse fazendo uma denúncia. – Pele romã, tornozelos felinos? – disse a Embaixatriz. – Deixa de bobagens, Braylly. – É Pessach: a travessia, conhece? – Abelardo não conhecia e pegou o livro olhando para Patrícia que está deitada na cama irritada [...] – Eu estou falando a verdade, querida – disse o General Braylly. (SOUZA, 1985, p. 138) Se a primeira parte do romance aponta claramente para uma linguagem fragmentada em sua estruturação sincopada e facetada em planos díspares, montados e desmontados em uma seqüência não-linear, a segunda parte mostra uma estrutura ainda mais complexa. O estilhaçamento da narrativa que em O sobrevivente Paulo Conti corta, interpenetra e desdobra a sintaxe literária na sucessão dos fragmentos dá lugar a uma escritura em bloco, compacta em sua apresentação. No entanto, estamos longe do estilo linear de construção narrativa, pois logo se percebe o largo uso que faz o autor de longas seqüências sem pontuação ou marcação de parágrafos, intercaladas por diálogos e diferentes termos da técnica cinematográfica (travelling, off, plano americano, contra-campo, contre-plongé, câmera lenta, etc.) quando da inserção do roteiro concebido por Paulo Conti. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 111 Plano de conjunto das icamiabas que atravessam uma viela. Um soldado espanhol, embriagado, agarra uma das guerreiras. Lutam. A outra abre a garganta do soldado com sua adaga. Plano de conjunto das duas icamiabas na porta do Corincancha, entram. Sérgio: a organização de você era um grupelho, companheiro. Paulo: olha aqui, amigo, esta não é a hora para esse tipo de discussão. Interior do Corincancha, noite. Primeiro plano de uma das icamiabas [...] Plano geral das duas icamiabas que entram na sala de grandes celebrações [...] Rodolfo está caído no chão e agoniza. Um policial da equipe de captura do DOI-CODI abaixa-se para ver Rodolfo de perto [...] Plano de conjunto das icamiabas que se aproximam de uma parede em ruínas, onde havia um nicho com imagens sagradas. Travelling lento em direção ao nicho quase demolido [...] Rodolfo recebeu uma rajada de metralhadora que quase o cortou pelo meio. (SOUZA, 1985, p. 152) O filme de Conti, chamado Rio de Sangue, trataria do massacre dos Incas pelos espanhóis. Tornam-se evidentes os paralelos entre a violência perpetrada ao povo inca pelos conquistadores e a violência imposta pela ditadura militar à população brasileira. Rio de Sangue igualmente constitui o título da segunda parte de Operação Silêncio. Aqui o imbricamento das partes opera de forma direta, sem marcações ou qualquer outra forma de divisão. O início da segunda parte apresenta-se como a continuação direta da última frase da primeira, quando Conti finalmente chega ao apartamento da Embaixatriz e lá encontra Maria, sua empregada e protegida: de um só fôlego porque ao chegar encontrou a porta aberta por onde foi entrando e viu ela de costas sem nada perceber do que estava acontecendo enquanto ele se aproximava com os passos abafados pelo ruído do aspirador de pó até que finalmente ele chegou perto abraçando-a pelas costas apertando-a de uma maneira que se poderia chamar de lúbrica enquanto cheirava-lhe o pescoço suado e furtivamente acariciava-lhe os seios por tantas vezes quanto lhe veio à cabeça acariciar já que em 1536 Manco Capac Imperador dos Incas tentara libertar seu povo dos invasores espanhóis e foi violentamente reprimido pelas hordas de Francisco Pizarro e foi obrigado a capitular não se sabendo ao certo o que aconteceu a este libertador porque mito e realidade se confundem na História do Peru e 112 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 este filme é um filme mítico e real dedicado à memória de todos os incas. (SOUZA, 1985, p. 111) Ao serem enxertadas passagens do roteiro cinematográfico no texto do romance, o leitor é colocado entre a história da conquista do Peru e a história de Paulo Conti em seus dramas frente ao poder institucional, as dificuldades que enfrenta para realizar seu filme e a violência da repressão política instaurada no Brasil. O caráter disjuntivo da obra de Souza vem refletir a situação dividida do protagonista-cineasta em um país igualmente dividido, do artista hesitante entre a ação política e a luta através da arte. A fragmentação do texto, justapondo diferentes discursos por intermédio da colagem de elementos oriundos da crítica, do ensaio, do romance e do filme, tende a criar um espaço antiilusionista ao serem realçadas as descontinuidades e disjunções tão caras à estética eisenteiniana de montagem. Trata-se, com efeito, de uma escritura híbrida, descontínua e não-linear caracterizada pelo simultaneísmo das ações que envolve pessoas diferentes em tempos e espaços também distintos e apontando para uma forma lúdica de montagem e desmontagem do texto literário. Em Operação Silêncio, percebe-se a atualização de elementos da montagem cinematográfica através da inserção do cinema na técnica narrativa e na própria ficção, o que vem comprovar o espaço privilegiado que o gênero romance pode ocupar no âmbito dos experimentos com a linguagem. Segundo Mikhail Bakhtin (1993), o romance admite introduzir em sua composição gêneros diversos, literários ou extraliterários, mantendo-se normalmente conservadas sua elasticidade estrutural, sua autonomia, bem como sua originalidade lingüística e estilística. Nesse sentido, alguns gêneros especiais chegam a determinar a estrutura do conjunto, criando variantes particulares do gênero romanesco: a confissão, o relato de viagens, a biografia, as cartas, entre outros. Todos eles podem não apenas ser introduzidos no romance enquanto elemento estrutural básico, mas também determinar a forma do romance como um todo. É o caso do romance-confissão, do romance-diário, do romance epistolar, etc. A essas categorias apontadas por Bakhtin, poderíamos acrescentar os cine-romances de Alain Robbe-Grillet e de Marguerite Duras, bem como o romance-teatro de Sérgio Sant’Anna (A Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 113 Tragédia Brasileira) e o romance-ensaio-roteiro de Márcio Souza, Operação Silêncio. Para Janet Paterson (2001), o entrecruzamento genérico deu lugar a uma multiplicidade de representações textuais, abrindo novos campos de criação literária, sendo a intertextualidade uma de suas numerosas práticas. Se, por um lado, tal mistura de discursos e de gêneros atinge seu ponto culminante e criativo ao longo das três ultimas décadas do século XX, a prática de hibridação literária não é um fenômeno recente, encontrando seus antecedentes em escritores como Defoe, Laclos, Sterne, entre vários outros. Tampouco são novos os discursos críticos e teóricos acerca do problema, como o demonstram os trabalhos de Bakhtin sobre a interação dos gêneros no romance. Para o teórico russo, os gêneros intercalados representam uma das formas mais importantes de introdução e organização do plurilingüismo no romance (BAKHTIN, 1993, p. 127). Assim, uma vez que a prosa romanesca é estranha à idéia de uma linguagem única, indiscutível e sem reservas, a consciência da prosa deve orquestrar suas próprias intenções semânticas. “É apenas numa das muitas linguagens do plurilingüismo que essa consciência se sente comprimida, um único timbre lingüístico não lhe basta” (BAKHTIN, 1993, p. 127). O emprego de gêneros enquadrados, como o diário, o relato de viagens, a correspondência ou a biografia permitiu, portanto, a elasticidade do romance, ampliando os horizontes literário e lingüístico e ajudando a literatura na conquista de novos mundos de concepções verbais, mundos esses já percebidos e parcialmente conquistados em esferas extraliterárias da vida lingüística. A hibridação não é, portanto, um fenômeno recente. No entanto, tal prática assumiu novos contornos a partir da introdução do conceito de montagem cinematográfica, no início do século XX, quando da redefinição de procedimentos de inserção de formas que fracionam a estrutura linear do discurso. Além disso, conforme Paterson (2001), a fragmentação dos gêneros, representada nos híbridos romanescos, estaria diretamente ligada à poética pós-moderna enquanto reivindicação da multiplicidade e da heterogeneidade próprias ao pós-modernismo. Note-se ainda que as práticas híbridas perpassam os mais diversos domínios artísticos, como as artes visuais, a arquitetura, o cinema, bem como os campos epistemológicos: 114 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Ce qui rend cette pratique particulièrement significative de nos jours, ce qui sollicite notre attention à son égard, ce qui nous convie à en examiner les formes et le sens, c’est la vitalité et le foissonement de l’hybride dans la fiction contemporaine. Tout se passe comme si le mélange des genres avait produit, depuis à peu près les années soixante, une nouvelle effervescence créatrice dans de nombreux pays. On ne peut guère parler de genre marginal, tant l’hybride s’est imposé à une échelle internationale. (PATERSON, 2001, p. 83)2 Em Operação Silêncio, o emprego de procedimentos advindos da montagem e desmontagem do discurso, bem como a hibridação dos gêneros representam uma prática transgressiva que produz uma ruptura com relação às normas do romance em sua forma tradicional. Com efeito, ao pensarmos em uma concepção de gênero literário normativo, o texto de Márcio Souza renuncia aos princípios de homogeneidade, de unidade totalizante e de códigos do conceito de gênero. Entretanto, ao fragmentar a narrativa, montando e desmontando o discurso e inserindo a crítica cultural e a linguagem cinematográfica do roteiro no âmbito da própria diegese, Márcio Souza corrobora a tese bakhtiniana do híbrido como mecanismo capaz de ajudar a literatura na conquista de novos mundos de concepção verbal. No caso especifico de Operação Silêncio, trata-se da conquista de um mundo que represente de maneira original e criativa o ambiente social e político de uma geração. Nesse sentido, entre dissolução do literário e sua renovação, haveria não uma oposição, mas «un point de rencontre selon lequel l’éclatement des genres constituerait à la fois la désintégration d’une conception normative du roman et l’avènement d’une autre forme d’écriture » (PATERSON, 2001, p. 87).3 Longe de “dissolver o literário”, ou de ilustrar a tese de declínio do romance, tornado ininteligível ou incoerente, textos como o de Márcio Souza apontam, através de suas estruturas heterogêneas e pela resistência em diferenciar o literário do não-literário ou do extraliterário, para a vontade de renovação dos procedimentos romanescos. O híbrido apresenta-se, assim, como uma forma especial de experimentação que investe o texto de sentido ao invés de esvaziá-lo. Em Operação Silêncio, o caráter fragmentário da obra, a relativa autonomia dos “capítulos” da primeira parte e o emprego de práticas de montagem que justapõem, cortam e recortam fragmentos são decisivos para a compreensão do significado do texto bem como de sua temática política. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 115 Conforme percebeu Randal Johnson (2005, p. 131), “Operação Silêncio coloca a situação do cinema brasileiro num contexto histórico mais amplo, discutindo o papel e a responsabilidade de intelectuais frente à realidade do subdesenvolvimento”. Nessa perspectiva de análise, para Johnson (2005), o romance de Márcio Souza problematiza o debate sobre as complexas relações entre literatura, cinema e política durante o período da ditadura, dissecando de forma aguda as perplexidades e dilemas de toda uma geração que viveu a ambiência opressora do regime militar brasileiro. A rapidez com que ocorrem os acontecimentos estéticos, políticos e sociais da época, marcada pela contracultura e pelos movimentos de protesto ao regime militar, contamina o discurso do narrador que não se permite ordená-los de forma linear. A sintaxe tradicional é abandonada em prol da velocidade e da fragmentação desordenada numa espécie de jorro contínuo de perplexidades políticas e existenciais do protagonista. Ao retratar uma era conturbada da história brasileira, na qual os direitos elementares do indivíduo são violentamente cerceados, o autor apresenta sua visão dos acontecimentos na perspectiva de um personagemcineasta dividido quanto ao modo de luta contra o sistema. As contradições são percebidas nos atos do próprio Conti, ao tentar conseguir patrocínio para seu filme junto à Embaixatriz e ao General Braylly, representantes de uma elite que colabora com o regime. Apresenta, dessa forma, o esfacelamento das consciências individuais por um regime opressor e a dificuldade de optar por uma ação efetiva. Os dilemas de Paulo Conti ilustram aquilo que Silviano Santiago aponta em seu ensaio sobre repressão e censura na década de setenta. Para Santiago (1982), em termos quantitativos, a produção cultural brasileira sob a censura não chega a ser afetada em função da própria natureza da obra de arte e do processo criador que tendem a se reinventar, alimentando-se de tudo em condições adversas. Do ponto de vista econômico, no entanto, o artista tende a sofrer ao ver suprimida sua principal fonte de renda, sobretudo em se tratando de artes mais caras como o teatro e o cinema. “Esse cerceamento econômico pode levar o artista a se aviltar, política e economicamente, ao aceitar cargos ou posições que normalmente não aceitaria, ao endossar conchavos econômicos que, em circunstâncias normais, rejeitaria” (SANTIAGO, 1982, p. 49). 116 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 A fragmentação formal constitui uma das constantes da ficção brasileira dos anos setenta, na tentativa de dificultar a apreensão do sentido e a expressar esteticamente a segmentação do contexto. Operação Silêncio surge, no entanto, em 1979, em plena abertura política, e se junta a uma série de obras literárias, cinematográficas e teatrais que tentam retratar o período da ditadura militar. É o momento em que explodem as memórias e os testemunhos de participantes da luta armada à ditadura. No mesmo ano, Fernando Gabeira publica O que é isso, companheiro?; em 1980, surge Os carbonários, de Alfredo Sirkis. Em 1981, Leon Hirszman lança Eles não usam black-tie, filme baseado na peça homônima de Gianfrancesco Guarnieri. Pra frente Brasil, de Roberto Farias, é lançado em 82. No entanto, Operação Silêncio afasta-se das obras citadas ao criticar as ações muitas vezes equivocadas da esquerda para a luta contra o sistema. Questiona a validade da luta armada e das perdas humanas em seu nome e, de forma niilista, mas não conformista, apresenta as contradições e angústias de toda uma época, calcada em modelos culturais igualmente equivocados (o Cinema Novo, por exemplo). O escopo dessas contradições vem coroar a necessidade de novas estratégias formais para a produção literária do final dos anos setenta e início dos oitenta. O texto de Souza se inscreve, portanto, nessa categoria de obras que “desconstroem” uma leitura heróica da história através de uma escritura caótica, fragmentária e multidiscursiva. Segundo Tânia Pellegrini, O que a crítica comumente tem interpretado como negativo nos romances do período que se utilizam das técnicas de reportagem jornalística e dos meios da indústria cultural [...], dando a tais recursos o caráter de subtração ao “intocável” gênero romanesco, na verdade são acréscimos que reformulam a forma-romance, pois a pureza simbólica da linguagem não dá mais conta de narrar um mundo que se tornou inenarrável; não são perdas, são adventos, ao mesmo tempo origem e explicação das transformações pelas quais passa a narrativa. Tais transformações devem ser repensadas em função dos fatos técnicos da situação da época, que exigia formas de expressão adequadas às novas energias literárias. (PELLEGRINI, 1996, p. 178) Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 117 Trata-se, portanto, de um período extremamente rico e inovador da cultura brasileira, refletindo sobre as incertezas quanto ao papel do artista e do intelectual no novo cenário democrático que lentamente se configura. “Ser intelectual neste país é ser aquele que esquece, que vai largando pelo caminho a sua carga, aliviando as costas, como se o ato de ser intelectual não passasse de um meio de transporte” (SOUZA, 1985, p. 84). Paulo Conti representa esse intelectual, hesitante, angustiado e contraditório, protótipo do artista de esquerda no Brasil do final dos anos setenta. O discurso genericamente híbrido e fragmentário da narrativa de Márcio Souza sugere a impossibilidade de se apresentar uma visão totalizante da época retratada. Trata-se, com efeito, de um período marcado pela ausência de lógica, harmonia e organicidade, o que se reflete na forma dispersa do texto, nas experimentações com a linguagem e na relativização das fronteiras entre os gêneros, sobretudo o cinema e o ensaio crítico: Há quem tenha visto a obra como um “genial romance autobiográfico”. Embora possa incluir elementos sobre a vida do autor, limitar Operação Silêncio a esse aspecto é extremamente reducionista e ignora a sua caracterização híbrida, uma combinação de roman à clef, ensaio, crítica e roteiro cinematográfico. (JOHNSON, 2005, p. 123) Em se tratando da inserção do gênero ensaio e da crítica cultural no texto de Márcio Souza, cumpre ressaltar a importância das páginas dedicadas a Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e Oswald de Andrade, vistos como representantes de um modelo ideal de pensadores da cultura. São também significativos os comentários acerca do cinema, sobretudo a crítica ao Cinema Novo, inicialmente visto como movimento de resistência política e portavoz do discurso cultural, para finalmente se transformar em cinema comercial: “Então era isso: o cinema dito político de ontem e o cinema perplexo e individualista de hoje eram frutos da mesma semente: ambos reacionários e anêmicos” (SOUZA, 1985, p. 33). A mescla de gêneros em Operação Silêncio evidencia a técnica de composição do romance em sua absorção de outras ordens discursivas. Ao mesmo tempo suscita o questionamento do papel do intelectual e do artista em um contexto conturbado da história brasileira em sua crítica às regras e 118 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 normas do fazer literário. Já a fragmentação e justaposição de elementos separados espacial e temporalmente em termos diegéticos também indicam a impossibilidade em se narrar de modo direto e linear os acontecimentos aludidos, a violência do sistema, a imposição de um regime totalitário e a consciência equivocada da esquerda. Por sua vez, o cinema está presente no texto de Márcio Souza tanto na técnica narrativa quanto na diegese, ao ser introduzido um protagonistacineasta que conta a história de um filme, seu fazer em processo por meio do roteiro, e as reflexões sobre a cultura cinematográfica no Brasil dos anos de chumbo. Discute-se, assim, a realização material de um filme, enxertandose seu roteiro no texto principal, entrecruzando-se as duas narrativas e promovendo o debate acerca das condições de produção do artista diante das dificuldades frente à censura e aos problemas econômicos. Tais motivações e procedimentos estéticos não podem ser dissociados do momento vivido por toda uma geração de escritores, na qual se inclui Márcio Souza, momento esse responsável pelas condições de produção de recepção do texto literário. Para Fábio Lucas (1985), a ficção brasileira pós64 pode ser dividida em duas tendências recorrentes. Por um lado, temos a análise da violência nas relações humanas (em Ivan Ângelo, Moacyr Scliar, Rubem Fonseca, entre outros) e, por outro, a opção pelo drama existencial de uma personagem intelectualizada, representando assim o choque entre os fatores sociais e políticos externos e a sensibilidade do escritor. É nesse aspecto que Operação Silêncio se inscreve. De um modo geral, no entanto, O registro da opressão ideológica pós-64 refletiu-se na ênfase de determinados recursos retóricos e estilísticos. O interesse documental, por exemplo, aperfeiçoou a técnica da montagem, operando o sincretismo entre o realismo descritivo, de cunho mimético, e a tendência ao desmembramento do discurso, com a fragmentação textual e temática. (LUCAS, 1985, p. 102) Durante o período em que o regime militar se impõe pela força no Brasil, muitos escritores, subitamente paralisados pelas interdições e violências impostas à sociedade como um todo, optam por uma saída entre cínica e criativa ao tangenciarem o problema. Segundo Fábio Lucas (1985), a migração Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 119 da linguagem para a metalinguagem, enfatizando o texto que se auto-refere, é característico da última fase da produção literária pós-64, na qual se insere o texto de Márcio Souza. Se não é possível fazer um filme ou escrever um livro, resta falar sobre a realização de um filme e do ato de escrever um livro, constituindo-se, assim, uma espécie de “geração tagarela” a que se refere o autor. Ao incorporar ordens discursivas diversas no âmbito mesmo da narrativa, Márcio Souza justifica seu processo estético calcado no drama existencial de sua geração à deriva em um sistema repressor do pensamento e da ação política. Nesse sentido, os recursos estilísticos tomados de empréstimo, sobretudo, ao cinema, através da montagem paralela, da fragmentação narrativa e da hibridação dos gêneros, contribuem para a criação de um espaço que possibilite o questionamento do papel do intelectual em um sistema de exceção. O romance de Márcio Souza, por sua recusa em distinguir o literário do extraliterário, por seu desejo em renovar práticas de composição narrativa, apresenta-se como espaço possível de experimentação estética. Ao contrário do que afirmam alguns críticos, o processo de hibridação, conforme sublinhou Paterson (2001), não mais perturba nossos hábitos de leitura e de percepção, mas se inscreve naturalmente em nossos sistemas cognitivos e epistemológicos. Coerente em sua própria incoerência, ao misturar gêneros e discursos diversos, montando e desmontando a narrativa, o texto de Márcio Souza demonstra a capacidade do romance de se renovar constantemente, respondendo, de forma original, às condições adversas de produção artística em um contexto totalitário. Se incoerências existem, advindas dos sistemas de fragmentação, montagem e hibridação genérica, estamos diante de uma escritura incoerentemente significante em sua essência de obra de arte. Notas 1 Segundo Haroldo de Campos (s/d), Eisenstein, depois de um encontro com James Joyce, ficou entusiasmado com a idéia de filmar Ulysses, que lhe parecia feito sob medida para a aplicação de sua teoria da montagem. 2 “O que torna essa prática particularmente significativa em nossos dias, chamando nossa atenção e nos convidando a examinar suas formas e sentidos, é a vitalidade do híbrido na ficção contemporânea. É como se a mistura de gêneros produzisse, desde os anos sessenta, aproximadamente, uma nova efervescência criadora em 120 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 diversos países. Não podemos mais falar em gêneros marginais, tamanha a imposição do híbrido em uma escala internacional”(tradução minha). 3 “Um ponto de encontro segundo o qual a fragmentação dos gêneros constituiria ao mesmo tempo a desintegração de uma concepção normativa do romance e o advento de outra forma de escritura” (tradução minha). REFERÊNCIAS BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad: Aurora F. Bernadini. São Paulo: Editora Unesp; Hucitec, 1993. CAMPOS, Haroldo de. Miramar na mira. In: ANDRADE, Oswald de. Memórias sentimentais de João Miramar. São Paulo: Globo, s/d. JOHNSON, Randal. Operação cinema. Cadernos de literatura brasileira: Márcio Souza. Rio de Janeiro, n. 19, p. 118-133, 2005. LUCAS, Fábio. Vanguarda, história e ideologia da literatura. Sao Paulo: Ícone, 1985. PATERSON, Janet. Le paradoxe du postmodernisme: l’éclatement des genres et le ralliement du sens. In : DION, Robert et alii (direc.) Enjeux des genres dans les écritures contemporaines. Québec : Nota bene, 2001. p. 81-101. PELLEGRINI, Tânia. Gavetas vazias: ficção e política nos anos 70. São Carlos: Edufscar; Mercado de Letras, 1996. SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. São Paulo: Paz e Terra, 1982. SOUZA, Márcio. Operação silêncio. São Paulo: Marco Zero, 1985. Artigo recebido em 20.02.2008. Artigo aceito em 21.05.2008. André Soares Vieira Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor adjunto do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 121 122 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 A BUSCA DA VERDADE E A RECONSTITUIÇÃO DA MEMÓRIA EM ROMANCES DE JONATHAN SAFRAN FOER Mail Marques de Azevedo [email protected] RESUMO: Em Tudo se ilumina, o bestseller internacional do jovem escritor americano Jonathan Safran Foer, bem como em seu segundo romance, Extremely Loud and Incredibly Close, o leitor é conduzido a um mergulho na memória ancestral dos protagonistas, atravessando diferentes estágios cronológicos que atingem, no primeiro romance, um recuo de 200 anos no tempo. A temática da busca pela verdade, comum aos dois romances, é o foco deste artigo, que estabelece paralelos entre duas diferentes realizações do tema, do ponto de vista de um jovem autor de origem judaica. A partir de um esquema adaptado da estrutura básica da busca mitológica do herói, na visão de Joseph Campbell e Vladimir Propp, este trabalho analisa o emprego pelo autor de diferentes recursos narrativos - o mito, a fantasia, a paródia e a comicidade – a fim de (re)criar a memória familiar de suas personagens. ABSTRACT: In Everything is Illuminated, young Jonathan Safran Foer’s international bestseller, as in his second novel Extremely Loud and Incredibly Close, the reader is taken into his protagonists’ ancestral memory through different chronological stages that go as far back as 200 years. This paper establishes parallels between these two different realizations of the search-for-the truth theme in contemporary American literature, from the standpoint of a young author of Jewish origin. Starting from an adaptation of the basic scheme of the mythological hero’s quest as seen by Joseph Campbell, and Vladimir Propp, this work analyzes Foer’s use of different narrative resources – myth, fantasy, parody and comicity - to (re)create his characters’ familial memory. PALAVRAS-CHAVE: Jonathan Safran Foer. Jornada mítica. Memória ancestral KEY-WORDS: Jonathan Safran Foer. The mythical journey. Ancestral memory. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 123 Acolhido pela crítica como revelação de um talento literário original, o romance de estréia de Jonathan Safran Foer, jovem escritor judeu-americano, Tudo se ilumina _ Everything Is Illuminated (2002) _, tornou-se um best-seller internacional. A um tempo cômico e profundamente comovente, o romance aborda os perigos de confrontar um passado doloroso e a sua redenção pelo riso, mesmo nas situações mais traumáticas. Dos campos da Ucrânia, onde o protagonista do romance, o escritor homônimo Jonathan Safran Foer, busca a mulher que teria salvado seu avô dos nazistas, _ a legendária Augustine _, bem como seu shtetl natal, uma aldeia desaparecida do mapa, o segundo romance de Foer, Extremely Loud and Incredibly Close (2005b), conduz o leitor a um cenário de destruição recente, as torres gêmeas do World Trade Center. O protagonista e principal narrador do romance, um menino de nove anos, tenta desesperadamente reconstituir os últimos momentos do pai, vitimado pelo ataque terrorista, e para isso lança-se em uma busca aparentemente estéril pelo mundo variegado de Nova Iorque. Ambos os romances têm como eixo o périplo do narradorprotagonista na reconstituição de um passado mais ou menos recente – o ataque de 11 de setembro de 2001, e a destruição do shtetl de Trachimbrod, que a narrativa situa em 18 de março de 1942, respectivamente. Este trabalho focaliza tal eixo comum, a temática da busca da verdade de acontecimentos relativamente próximos, desencadeada em ambas as narrativas pelo sentimento de perda, o que implica, como corolário, a reconstituição da memória ancestral, em níveis temporais mais remotos. Jonathan Safran Foer cresceu em uma família extremamente unida que mantém suas tradições judaicas sem ortodoxia religiosa. É neste ambiente de sólida união familiar que ouve a história da mulher que teria salvado a vida de seu avô materno, falecido logo depois de sua chegada à América, e que vem a inspirar a temática central de Tudo se ilumina: um jovem escritor chamado Jonathan Safran Foer que viaja à Ucrânia em busca de um shtetl (vilarejo) desaparecido e da heroína salvadora. O fato de que Foer efetivamente viajou para a Ucrânia, há alguns anos, para pesquisar a vida do avô, e a presença de um personagem homônimo tornam complexo o status literário de uma narrativa que escancara suas amarras ao factual, ao mesmo tempo em que recorre à fantasia e à comédia. 124 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Na questão da memória, como observa Didl, um dos personagens caricatos do romance, o importante não é o quê lembrar, mas o ato de lembrar. Ademais, de acordo com o Livro de Antecedentes, que registra as minúcias do dia-a-dia do shtetl fictício, os judeus têm seis sentidos tato, paladar, visão, olfato, audição... memória. O que conta é escrever... escrever... escrever... É a memória de acontecimentos passados – de 1791 a 1998, em gradação do realismo cruel à mais absurda das fantasias, sempre temperada com o humor bizarro do estilo –, que vai “iluminar” a narrativa da busca do protagonista pelo shtetl de Trachimbrod e por suas raízes familiares. Como membro de um grupo que cultiva as mesmas tradições, o jovem autor Joanthan Safran Foer partilha das memórias do trauma atávico que acompanha a diáspora do povo judeu, através dos séculos. No nível mais restrito da família, as memórias de um avô – situado a meio caminho entre as gerações - fazem parte daquelas histórias familiares que a gente sempre soube, sem saber como descobriu. A esse respeito, é apropriado lembrar o caráter coletivo da memória na conceituação de Maurice Halbwachs. As lembranças não dependem de testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, da presença material dos indivíduos, porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. Assim, nossas impressões de lugares que vemos pela primeira vez vêm carregadas da associação mental que fazemos ao nos situar em pensamento em um ou outro grupo social com que tivemos contato, em diferentes circunstâncias, cujos membros estavam familiarizados com aquele determinado local ou acontecimento (HALBWACHS, 2006, p. 30-31). Do mesmo modo, a memória de abalos sofridos por um grupo nacional, mesmo que não sejam percebidos diretamente pelos indivíduos mais jovens, estes estavam certamente em contato com membros mais velhos do grupo, abertos a muitas influências: “em parte, eles eram o que eram porque viviam em tal época, tal país, em tais circunstâncias políticas e nacionais (HALBWACHS, 2006, p. 77). Como membros de um grupo, partilham sua memória histórica. No resgate da memória ancestral, indispensável para a percepção de sua própria identidade, é crucial para os protagonistas – tanto nas elucubrações bizarras de Tudo se ilumina, como nas soluções imaginativas para os problemas humanos, propostas pelo herói de Extremamente alto e incrivelmente próximo –, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 125 estabelecer contato mesmo que metafórico com o avô, que é o indivíduo mais próximo ao presente que se procura explicar, e ao passado a ser desvendado. O esquema temporal das duas narrativas abrange, assim, três níveis: 1) a busca propriamente dita, que representaria o presente da ação; 2) uma incursão a um passado relativamente recente; 3) a volta às raízes dos ancestrais do herói, num período que recua até 200 anos no tempo, no caso de Tudo se Ilumina. Para efetivar esses recuos, Foer se utiliza de narradores secundários, de cartas, diários e outros textos, que reconstituem experiências ligadas à situação presente. Na reconstituição da memória imaginária de seus ancestrais, Foer emprega amplamente a fantasia, que assume proporções paródicas no nascimento de Brod, “a mãe da mãe da mãe da minha tataravó”, “um bebê ainda coberto de muco, rosado como a polpa de uma ameixa” (2005b, p. 22), que emerge do rio do mesmo nome, qual Moisés feminino, para trazer amor, mas também conflito, dissensão e controvérsia. A fantasia atinge as raias do grotesco e adquire contornos de farsa na história do casamento de Brod, quando o marido Kolker sobrevive a um acidente com uma serra circular encravada no crânio. Já em Extremely Loud and Incredibly Close (Extremamente Alto e Incrivelmente Próximo), o emprego da fantasia resulta, principalmente, da imaginação fértil do protagonista Oskar Schell, capaz de elaborar invenções as mais esdrúxulas, que ele considera “extremamente” úteis, advérbio recorrente na narrativa. Tal é o caso de “arranha-céus” subterrâneos a serem construídos debaixo dos arranha-céus dos vivos, para enterrar o número crescente de mortos no mundo. Ou então um arranha-céu que se movesse a um toque de botão. Assim, se você estivesse no 95o andar e um avião atingisse um andar abaixo de você, o prédio levaria você em segurança até o solo e todos se salvariam. A narrativa de Oskar se entrelaça com os relatos do avô, Thomas Schell, cujas cartas reconstituem o panorama físico e emocional de Dresden, às vésperas do destruidor ataque aliado com bombas incendiárias, em 1945, e estabelece o nível temporal mais remoto da trama. 126 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Tanto as fantasias tecnológicas de Oskar Schell como as criações bizarras do personagem-autor Jonathan Safran Foer respondem à necessidade essencial do ser humano de encontrar respostas às perguntas últimas da existência, ou de interpretar os fenômenos do mundo natural, que dá origem à narrativa mítica. As características de uma busca primeva estão presentes nos dois textos em foco, que podem ser proficuamente analisados de uma perspectiva arquetípica. A ação de ambos os romances, concentrada no herói/ heróis e sua busca, corresponde em muitos aspectos à jornada exemplar do herói mitológico, que percorre o mundo e enfrenta obstáculos em busca de uma recompensa final: a reposta a suas questões. Trata-se do processo básico de separação, iniciação, retorno, que constitui o núcleo do monomito, designação que Joseph Campbell toma emprestada a James Joyce, para analisar a saga do herói mitológico, em sua obra seminal O herói de mil faces1 (1973, p.30). Campbell lista uma série de situações que ocorrem na jornada de busca, que podem ser reduzidas, com algum detalhamento adicional, às três fases do processo básico: 1. Uma situação inicial de desequilíbrio impele o herói à aventura. 2. O herói é testado no caminho das provas (enfrentamento do monstro, descida ao mundo das trevas); ajuda sobrenatural. 3. Conquista da suprema benesse e retorno. Existem semelhanças entre as fases da jornada, segundo o esquema de Campbell e as trinta e uma funções em que Vladimir Propp agrupa os traços constitutivos do conto popular europeu, em seu conhecido estudo Morphology of the Folktale. Segundo Todorov, cada uma das funções de Propp corresponde a uma ação isolada, vista na perspectiva de sua utilidade para o conjunto do conto, como parte do encadeamento cronológico e às vezes causal de unidades descontínuas da narrativa (TODOROV, 1980, p. 63). Na medida do necessário, este estudo faz referência também às funções de Propp para detalhar os itens de maior importância da busca do herói: tempo e espaço da busca; as características do herói; fases da jornada mítica. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 127 SITUAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO O herói recebe o chamado à aventura Segundo o esquema de Propp, o desequilíbrio da situação inicial é causado pela ausência de um dos membros da família. De fato, é a necessidade de conhecer as circunstâncias da morte do pai que impele Oskar à busca. Profundamente traumatizado, o menino se auto-inflige ferimentos toda vez que situações, mesmo corriqueiras, lhe parecem críticas. Em Tudo se ilumina, Jonathan Safran Foer, o personagem-autor assume, em nome do avô que não conhecera, a missão de recompensar Augustine. É assessorado em sua busca pelo intérprete ucraniano, Alex Perchov, o narrador da moldura realista do romance, que compreende a jornada pelas aldeias da Ucrânia. Sua situação familiar é conflituosa: um pai exigente e agressivo, “um homem temível, que sempre obtém o que deseja”, um avô que se diz cego, após a morte da mulher, e o sentimento de responsabilidade pelo irmão mais novo, Pequeno Igor, que Alex vem “lecionando a ser um cidadão do mundo” (FOER, 2005b, p. 10-11).2 Em termos de diálogo e compreensão, o pai está ausente. Afastandose de um relacionamento problemático com o pai, Alex se torna ele também um viajante que percorre o mundo. Motivados a deixar o lar, os heróis partem em sua jornada, em busca de uma verdade essencial. A resposta ao chamado à aventura está intimamente relacionada às características dos personagens de narrativas mitológicas, que detêm a capacidade de se apresentar sob formas diferentes, de se fracionar em uma multiplicidade de “eus”. O perfil de Oskar Schell, o herói de 9 anos, apresenta as discrepâncias e incertezas de uma criança, apesar de sua privilegiada inteligência e capacidade de introspecção. Seu cartão de apresentação revela suas múltiplas identidades: OSKAR SCHELL INVENTOR, DESENHISTA DE JÓIAS, FABRICANTE DE JÓIAS, ENTOMÓLOGO AMADOR, FRANCÓFILO, ORIGAMISTA, PACIFISTA, PERCUSSIONISTA, ASTRÔNOMO AMADOR, CONSULTOR DE INFORMÁTICA, ARQUEÓLOGO AMADOR, COLECIONADOR DE: moedas raras, borboletas que morreram de morte natural, cactos em miniatura, memorabilia dos Beatles, pedras semipreciosas, e outras coisas. 128 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Veste apenas roupas brancas – regra que não muda nem mesmo para usar uma preciosa camiseta colorida, presente de Ringo Star – e sacode um pandeiro em suas andanças pelo bairro. Finge-se de doente, para faltar à escola e iniciar sua busca, e as razões que apresenta para a mãe refletem suas múltiplas preocupações existenciais. Coisas que o deixam triste: “a carne e os laticínios em nossa geladeira”, acidentes de carro, como o sol um dia vai explodir, pesadelos, ser impopular na escola; belas canções que me deixam triste por não serem verdadeiras - nada que é bonito pode ser verdadeiro; como não haverá mais seres humanos dentro de cinqüenta anos, etc. “Você é pessimista ou otimista?” costuma perguntar a todos. Que ele mesmo é pessimista se revela em suas invenções, sempre ligadas a morte e doença, a exemplo de ambulâncias extremamente compridas, ligando locais de acidentes diretamente aos hospitais. Tenta inventar invenções otimistas, “mas as pessimistas eram extremamente ruidosas” (FOER, 2005a, p. 235). Na peça da escola, uma versão de Hamlet, faz o papel de Yorick, o crânio – obviamente, não tem nenhuma fala para decorar –, o que lhe inspira mais uma conclusão fúnebre: Há mais pessoas vivas hoje do que mortos desde o início dos tempos, de modo que não haveria crânios suficientes se todos os habitantes da terra resolvessem representar a cena do cemitério, em Hamlet. O processo de afastamento é desencadeado pela descoberta de uma chave misteriosa, em um pequeno envelope, no guarda-roupa do pai. A que revelação esta chave conduziria? Racionaliza que a palavra Black, escrita no verso do envelope, indica um sobrenome e parte em sua jornada, apesar do cálculo desanimador de que existem 162.000.000 de fechaduras a pesquisar em Nova Iorque e mais de quinhentas pessoas com sobrenome Black na lista telefônica. No caso dos heróis-narradores de Tudo se ilumina, a fração de identidade se torna mais evidente. Pode-se dizer que Alex Perchov, o intérprete e narrador ucraniano funciona como alter ego de Jonathan Safran Foer, a quem se refere como “o herói” judeu, ao colaborar na escritura do livro em que o personagem-escritor reconstitui a memória de seus ancestrais. “Sou eu não você que nasceu para ser escritor”, afirma a Jonathan. O sonho de satisfazer uma necessidade interior, para Alex, paradoxalmente toma caminho inverso ao de Jonathan: seu objetivo maior é buscar a realização material na Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 129 América. A fotografia da bela e misteriosa Augustine é o elemento concreto que desencadeia a busca, a chave para o mistério do avô Safran em terras da Ucrânia. O AFASTAMENTO O caminho das provas, ajuda sobrenatural Para Campbell, a unidade nuclear do monomito apresenta “Um herói (que) se aventura em uma região de fenômenos sobrenaturais, para muito além dos limites do mundo cotidiano; encontra forças fabulosas e obtém uma vitória decisiva: o herói retorna dessa aventura com o poder de dispensar benesses a seus semelhantes” (1973, p. 30). Este mundo sobrenatural tem características específicas de tempo e de espaço, que fogem à cronologia rígida e aos espaços geográficos definidos do mundo factual. No caminho das provas nos romances, traços de ambos os mundos se confundem, numa contaminação da realidade pelo sonho. Os primeiros obstáculos que o herói-menino deve enfrentar são seus temores irracionais. Imaginar as circunstâncias da morte do Pai causa-lhe pesadelos constantes. Sem saber por quê, tem pavor de tomar banho de chuveiro e, por motivos óbvios, não entra em elevadores. Embora seja convencido a tomar o elevador para ir ao terraço do Empire State Building, desce os quase 2000 degraus a pé. Muitas coisas lhe causam pânico: pontes pênseis, germes, aeroplanos, foguetes, gente com jeito de árabe no metrô (embora não seja racista), gente com jeito de árabe em qualquer lugar público, andaimes, grades de esgoto e do metrô, mochilas sem dono, sapatos, gente de bigode, fumaça, nós, prédios altos, turbantes. Parece-lhe estar perdido no meio de um imenso oceano negro ou no espaço sideral, incrivelmente longe de tudo (FOER, 2005a, p. 36). Caminha durante 3 horas e 41 minutos para atingir o primeiro Black da sua lista alfabética, – o transporte público lhe causa pânico –, sacudindo o pandeiro o tempo todo, para se lembrar de que, embora estivesse em lugares estranhos, ainda era ele mesmo (FOER, 2005a, p. 88). No caminho das provas, à semelhança do herói mitológico, Oskar recebe ajuda do homem sábio, um ente com poderes extraordinários, representado na narrativa por A R Black, paradoxalmente seu vizinho no 130 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 prédio, de onde não saía há mais de 24 anos. Nascido com o século XX, em 1o de janeiro de 1900, A R Black, ex-jornalista e correspondente de guerra em 112 países, é um repositório do conhecimento da história e da política de seu tempo. Além de introduzir o jovem iniciando nos segredos do mundo, Black preenche outros constituintes da esfera de ação do ajudante, propostas por Propp: a) transferência espacial do herói – Black consegue convencer Oskar a tomar o metrô, o ferryboat para Long Island e até mesmo o elevador para subir ao topo do Empire State, no decorrer da busca; b) proteção do herói contra possíveis inimigos; c) liquidação da falta de sorte ou ausência: a ajuda de A R Black é essencial para a solução do mistério da chave, servindo de intérprete e mediador. Na ânsia de encontrar respostas para aquilo que, na realidade, tem medo de saber, a maneira como o pai teria morrido, Oskar percorre o caminho do herói do mito, subindo simbolicamente aos céus e descendo às entranhas da terra. Do observatório do Empire State Building, agarrado à mão de A. R Black, ou arrastando-se de joelhos até um dos binóculos do mirante, Oskar vê uma réplica em miniatura da cidade. Extremamente solitário e afastado de tudo sente medo – há tantas maneiras diferentes de morrer –, mas também segurança, por se saber rodeado de tantas pessoas. Vê todas as fechaduras que tentara abrir e as 161. 999. 831 que faltavam. Parece-lhe ver o pai, em uma das janelas que consegue divisar de seu posto de observação. Sente que precisa encontrar a fechadura em que a misteriosa chave se encaixaria, para provar seu amor pelo pai (FOER, 2005a, p. 251). O caminho das provas assume contornos de paródia em Tudo se ilumina: à semelhança de um D. Quixote moderno, o “herói” judeu percorre o mundo, em companhia de seu fiel escudeiro, em um carro “tão merda” que não passa de sessenta quilômetros por hora. Completam o grupo o avô – também chamado Alex – que “tem dentes dourados, e cultiva amplos pêlos no rosto.” A comicidade de situação tem origem principalmente na aversão do “herói” americano por cães e na atração que a cadela-guia do avô motorista, que se diz cego, sente por ele, “sexualmente estimulada” pelo cheiro de sua água-de-colônia. Vegetariano, tem de se alimentar apenas de batatas, recusando as salsichas do cardápio ucraniano costumeiro. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 131 Cerceado pelo problema da língua, as intervenções do “herói” judeu limitam-se às tentativas de identificar a velha fotografia. Na seqüência da jornada, os próprios nomes que Alex atribui aos capítulos indicam uma gradual mudança no tom da narrativa: “A busca muito rígida”; “Começando a amar”; “O que vimos quando vimos Trachimbrod ou começando a amar”; “Uma abertura para a iluminação”, e, finalmente, “Iluminação”. A pergunta que ocorre a Alex, desde o início da jornada: “O que o avô fizera durante a guerra?” levanta dúvidas e sugere possibilidades perturbadoras que terminam por se concretizar. Assim, a busca por Augustine, a “busca muito rígida”, passa a constituir missão de avô e neto que, de meros coadjuvantes histriônicos, se transformam, respectivamente, em protagonista e narrador-tradutor da trama que revela o destino dos habitantes de Trachimbrod. “Eu sou Trachimbrod”, declara a estranha mulher que encontram em uma casa minúscula em meio à desolação dos campos. Seria ela Augustine? Sua identidade permanece dúbia, mas não é dúbio seu testemunho da destruição do shtetl pelos nazistas, apoiado na memória concreta dos habitantes de Trachimbrod, de que sua casa é um repositório vivo: caixas e mais caixas de objetos que recolhera, fotografias, etc. Embora não seja a tão procurada Augustine, é a única sobrevivente de Trachimbrod, capaz, portanto, de identificar na fotografia a moça e o avô do herói, Safran. Na função de ajudante, conduz os protagonistas ao local de Trachimbrod, onde existe apenas uma peça de pedra, colocada no meio do campo, com dizeres em russo, ucraniano, hebraico, polonês, iídiche, inglês e alemão, em memória dos 1.204 habitantes de Trachimbrod, mortos pelas mãos do fascismo alemão, em 18 de março de 1942. Fornece, assim, a ajuda que havia sido negada de modo estranho e mesmo agressivo, por todos as pessoas a quem pedem informações, que se calam ao ouvir o nome do shtetl. As palavras da mulher misteriosa narram a destruição total da aldeia. Resta aos agentes da busca colocar em palavras a história do shtetl, numa narrativa que parecem escrever a quatro mãos: o desenvolvimento do romance é objeto das cartas de Alex a Jonathan, depois que este regressa a seu país. À semelhança de Oskar, o narrador judeu de Tudo se ilumina dá largas à imaginação para reconstituir a história da avó remota, Brod, e do avô, Safran. Para isso percorre simbolicamente, no livro que escreve, o caminho 132 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 do herói: mergulha no rio, para narrar o episódio do resgate do bebê coberto de muco que dá origem à narrativa e à sua linhagem familiar, e sobe aos céus, ao tornar a minúscula Trachimbrod visível do espaço. A presença mágica de Brod, objeto de paixão de todos os habitantes do shtetl, deflagra uma orgia de amor que produz energia “suficiente para eletrificar os céus polacoucranianos”, permitindo que a minúscula vila de Trachimbrod possa ser vista do espaço, pelos astronautas. A fantasia corre solta na descrição do brilho que não pode ser confundido com luz. “É uma radiância coital que leva gerações a se derramar pela escuridão”: Em cerca de um século e meio – depois que os amantes que fabricavam o brilho estiverem deitados permanentemente de costas – as metrópoles serão vistas do espaço. Elas brilharão durante o ano todo. As cidades menores também serão vistas, mas com grande dificuldade. Os shtetls serão virtualmente impossíveis de detectar. Cada um dos casais será invisível. Mas no Dia-de-Trachim, o grande festival que reúne todos os anos os habitantes da aldeia, a minúscula vila de Trachimbrod pode ser vista do espaço, em virtude da geração de altíssima “voltagem copulativa”: “Nós estamos aqui, dirá o brilho de 1804 daqui a um século e meio. Nós estamos aqui e estamos vivos” (FOER, 2005b, p. 132). Reconciliação com o pai No caminho das crenças primitivas, o iniciando deve enfrentar a figura assustadora do pai, aquele que detém o poder de punir e disciplinar, quer nas relações sociais, quer religiosas (CAMPBELL, 1983, p. 130). Com certas adaptações, esta fase da saga aparece nos dois romances. Oskar, depois do seu caminho de provações, consegue chegar ao âmago de sua culpa: não tivera coragem de atender à última chamada do celular do pai, antes do desmoronamento das torres gêmeas. A busca pela revelação do mistério da chave o leva a William Black, outro filho que lamenta a falta de comunicação com o pai já falecido. É para ele que Oskar consegue confessar o seu segredo. Mesmo assim, não atinge a paz. Para isso, deve descer às entranhas da terra, para desenterrar o caixão do pai, o que faz Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 133 acompanhado de um segundo ajudante mágico, a quem se refere apenas como “o inquilino”, homem misterioso, incapaz de se comunicar a não ser por escrito, e que a avó lhe apresenta como seu pensionista. A aparente confiança da avó, a quem Oskar dedica profundo carinho, o predispõe favoravelmente em relação ao inquilino. Este acompanha o menino na tarefa de abrir o caixão que servira ao funeral simbólico, e enchêlo com objetos que tivessem algum significado. O “inquilino” carrega duas malas, cujo conteúdo se revela, quando Oskar abria a tampa do ataúde: Três horas mais tarde, quando desci no buraco, espanei a terra, e abri a tampa, o inquilino abriu as malas. Estavam cheias de papéis. Perguntei-lhe o que eram. Ele escreveu, “Perdi um filho.” “Sério?” Ele me mostrou a palma da mão esquerda. “Como foi que ele morreu? “”Eu o perdi antes que ele morresse.””Como? “”Eu fui embora.””Por que?” Ele escreveu, “Eu estava com medo.” “Medo de quê?” “Medo de perdê-lo.” “Você tinha medo que ele morresse?” “Eu tinha medo que ele vivesse.””Por que?” “A vida é mais assustadora do que a morte.” (FOER, 2005a, p. 322) Neste ponto, Oskar é incapaz de fazer a conexão entre as cartas e os envelopes que observara na penteadeira da avó. Só mais tarde percebe tratarse do avô, cujo retorno é tão silencioso quanto fora sua partida, quarenta anos antes. “É a solução simples para um problema impossível”: enfrentar a verdade, porque o Pai amava a verdade. “Que verdade?” “Que ele está morto”. O caixão está vazio, como Oskar sabia. Mas agora ele aceita a verdade, conquistada pelo sofrimento. O confronto com o Pai se realiza na moldura “realista” de Tudo se ilumina, que se abre com o capítulo intitulado “Abertura para o encerramento de uma jornada muito rígida”, em que se apresenta Alexander Perchov, o narrador em primeira pessoa do périplo dos personagens ucranianos, que acompanham o “herói” em sua busca por Augustine. Fecha-se com uma carta de janeiro de 1998, em que o avô se despede da vida e relata a Jonathan sua renúncia ao filho, expulso de casa por Alex, e sua opção pelos netos, o próprio Alex e o caçula Iggy: “Tudo é por Sasha e por Iggy, Jonathan. Você entende? Eu daria tudo para que eles vivessem sem violência. Paz. É só o que eu quero para eles” (FOER, 2005b, p. 364). 134 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Assim, há uma inversão na relação pai-filho: Alex expulsa o pai, que é incapaz de conquistas espirituais, reconcilia-se com o avô e assume o papel de mentor da família. CONQUISTA DA SUPREMA BENESSE De posse do tesouro material ou espiritual almejado, o herói deve retornar para partilhá-lo com os seus. O personagem-autor, Jonathan Safran Foer, retorna a seu país. Não encontrara Augustine, mas sua busca não fracassou, pois sua capacidade criadora lhe permite construir a memória que não conseguiu desvendar. Lembrando as palavras de um dos personagens menores da trama, o importante não é o quê lembrar, mas o ato de lembrar em si. O romance que o herói escreve vai “iluminar” suas raízes ancestrais e a “verdade” da história do avô Safran. Alex Perchov, o terceiro do nome, em seu papel de intérprete e dispensador da verdade, deve decidir o que revelar. Nem mesmo seu linguajar desajeitado esconde a profundidade de seus sentimentos: O que eu informaria ao herói (...)? O que informaria a Vovô? Durante quanto tempo poderia fracassar até nos rendermos? Sentia que todo o peso estava sobre mim. Tal como naquelas ocasiões com Papai, é limitado o número de vezes que você pode pronunciar “Não dói” antes que a coisa comece a doer até mais do que a própria dor. Você fica iluminado com a sensação de sentir dor, o que é pior, estou certo, do que a dor existente. Não-verdades pendiam diante de mim como frutos. Qual eu colheria para o herói? Qual eu colheria para Vovô? Qual para mim mesmo? Qual para Pequeno Igor? (FOER, 2005b, p. 163) A revelação do papel do avô, que apontara o amigo judeu aos nazistas para salvar a própria família, atribui novos parâmetros à questão da culpa. Assim, pede a Jonathan que os faça bons, no livro que escreve. A estrutura familiar sofre um processo de inversão total: Alex expulsa o pai, que é incapaz de compreender que “a coisa dói mais que a própria dor” e procura proteger o avô do sentimento de culpa: “É isso que você nunca consegue entender. Apresento não-verdades a fim de proteger você. É também por isso que eu tento tão inflexivelmente ser uma pessoa engraçada. Tudo para proteger você. Eu existo caso você precise ser protegido (FOER, 2005b, p. 305-306). Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 135 Com a morte do avô, assume a responsabilidade pelo irmão mais novo e renuncia a seus sonhos de partir para a América. Para Oskar, o confronto com a verdade permite-lhe amar incondicionalmente a mãe, que sempre acompanhara em segredo o seu caminho de provações do menino. Entretanto, o seu lado de inventor predomina até o final. O romance termina com sua nova versão para a destruição das torres gêmeas, em que um corpo que cai do edifício (seria seu Pai?) faria o caminho contrário, para cima, até entrar novamente pela janela, e o avião se afastaria do prédio para regressar a Boston, voando para trás. Também de costas o Pai sairia do prédio, da estação do metrô e entraria em casa, para ler o jornal da direita para a esquerda. Estariam todos salvos. CONCLUSÃO Os romances não se limitam a apresentar um desfecho para a história da busca empreendida pelos heróis, mas tornam claro o poder redentor da escrita, na criação de “verdades” consoladoras. Esta é a suprema benesse que os heróis trazem para o mundo do cotidiano, completando a estrutura circular da saga mítica. A arte da ficção permite confrontar traumas de um passado extremamente doloroso, promovendo a regeneração de sentimentos e das relações entre seres humanos. “Ao escrever nós recebemos segundas chances”, diz Alex a Jonathan. “Sou eu não você que nasceu para ser escritor”. “Fazer graça”, afirma ainda, “é a única coisa certa a fazer”, o que encontra eco no argumento de Jonathan: – “Eu pensava que o humor era o único modo de apreciar o quanto o mundo é maravilhoso e terrível, de celebrar como a vida é grande. (...) Mas agora acho o contrário. O humor é um meio de se retrair desse mundo maravilhoso e terrível” (FOER, 2005a, p. 216). Afinal, citando novamente o Livro de Antecedentes dos habitantes de Trachimbrod: O que conta é escrever. . .escrever... escrever... A voz de Alex novamente sintetiza o problema do escritor, entre as restrições da realidade e o poder da imaginação: “Inventei coisas que achei que apaziguariam você. Tenho certeza de que você me avisará quando eu viajar para longe demais”. Outro ponto em comum: tudo o que se escreve, - as cartas não enviadas de Thomas Schell, os relatos da jornada, a reconstituição 136 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 de memórias _, tem como tônica o amor. Trata-se de uma conclusão resultante não apenas das viagens pelo mundo exterior, mas de uma jornada às raízes da percepção do espiritual e do transcendente. Referindo-se à jornada interior do ser humano, Joseph Campbell diz a respeito dos mitos, o que se aplica também à arte: Uma coisa que se revela nos mitos é que, no fundo do abismo, desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio surge a luz. (1990, p. 39) Notas 1 CAMPBELL, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press, 1973. As citações da obra referem-se às páginas do original inglês, apresentadas no texto em tradução livre de minha autoria. 2 FOER, J.S. Extremely Loud and Incredibly Close. London: Hamish Hamilton, 2005b. As citações da obra referem-se às páginas da edição inglesa, apresentadas no texto em tradução livre de minha autoria. REFERÊNCIAS CAMPBELL, J. The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press, 1973. __________. O poder do mito. Trad. de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Associação Palas Athena, 1990. FOER, Jonathan Safran. Everything Is Illuminated. New York: Perennial, 2003. _______ . Tudo se ilumina. Trad. Paulo Reis e Sérgio Moraes Rego. Rio de Janeiro: Rocco, 2005a _______ . Extremely Loud and Incredibly Close. London: Hamish Hamilton, 2005b. HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 137 PROPP, V. Morphology of the Folk Tale. 2. ed. Austin: University of Texas Press, 1979. TODOROV, T. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980. Artigo recebido em 20.05.2008. Artigo aceito em 01.09.2008. Mail Marques de Azevedo Doutora em Estudos Lnguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo – USP. Professora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Professora da Universidade Federal do Paraná – UFPR (aposentada). 138 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 HIBRIDISMO E MÍMICA NO CONTO “MONSIEUR CALOCHE”, DE JESSIE COUVREUR Cristiane Busato Smith [email protected] RESUMO: Este artigo aborda a fase de construção da literatura australiana por meio da análise do conto “Monsieur Caloche” de Jessie Couvreur. Discutemse as estratégias narrativas empregadas no conto que articulam um ambiente de tensões importantes na dinâmica dialética da “identidade cultural australiana”. Couvrer não apenas busca retratar uma Austrália mais “autêntica” ao tratar de temas que revelam o ethos australiano; a autora vai mais longe e apropria-se da matriz moral dos contos de natal de Dickens. Deste modo, “Monsieur Caloche” é inserido dentro de um universo híbrido que relativiza a complexa relação entre o colonizador e o colonizado. O conto de Couvrer torna-se exemplo de um texto sensível a este cenário. “Monsieur Caloche” contra-escreve a realidade conflituosa da colonização inglesa na Austrália. ABSTRACT: This article addresses the construction of Australian literature through the analysis of the short-story “Monsieur Caloche”, by Jessie Couvrer. It investigates the narrative strategies used in the text to dramatize tensions and space, reflecting the conflicting formation of “Australian cultural identity”. Couvrer not only seeks to portray a more “authentic” Australia in dealing with themes and motifs that reveal the Australian ethos, but also goes a step further, appropriating the moral matrix of Dickens’s Christmas stories. By so doing, the author inserts “Monsieur Caloche” in a hybrid universe which brings to light the complex relation between the colonizer and the colonized. Couvrer’s short-story becomes a paradigmatic example of a text that writes back to the English colonization in Australia. PALAVRAS CHAVE: A literatura de Jessie Couvrer. Pós-colonialismo. Estudos Culturais. KEY-WORDS: Jessie Couvrer. Post-colonial Studies. Cultural Studies. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 139 Who am I when I am transported? Alan Lawson O conto “Monsieur Caloche” foi escrito por Jessie Couvreur (184897) e publicado em 1890. A autora, nascida em Londres, é mais conhecida como Tasma por ter morado muito tempo na Tasmânia. Considerada uma das mais importantes escritoras e jornalistas australianas do século XIX, sua obra (romances e contos) trata da situação colonial e da difícil posição da mulher na Austrália do século XIX. Tasma é mais valorizada no século XX a partir dos anos 70, por meio do resgate feito pela teoria feminista na Austrália. No estilo de muitos escritores australianos, Tasma, em suas freqüentes viagens a Europa, publica a sua obra fora da Austrália para ganhar visibilidade. A época1 da publicação de “Monsieur Caloche” testemunha uma série de conflitos entre empregadores e empregados e o surgimento de vários sindicatos que reivindicam melhores condições de trabalho e salários mais justos para os australianos. Após cem anos de exploração da mão de obra barata, após muitos terem feito fortunas através da aquisição de grandes fazendas a preços irrisórios, o sonho que a Austrália seria um edênico novo mundo para o imigrante não se sustenta mais. Trata-se de uma época de grande crise financeira, caracterizada pela falência de diversos bancos, escassez de grandes áreas de terras anteriormente adquiridas com facilidade, greves e desemprego que atinge 30% da população. Entre as greves mais importantes, estão a marítima e a dos tosquiadores de carneiros de Queensland. Apesar das inúmeras tentativas de represálias às greves por parte do governo australiano e dos chamados wool kings (reis da lã), algumas até sanguinárias, os trabalhadores juntam forças e fundam o Partido Trabalhista Australiano. A partir daí acontece a “reconstrução” nacional, e novas leis entram em vigor para que o trabalhador ganhe um lugar mais justo na sociedade australiana. É neste ambiente conflituoso que os artistas e escritores australianos procuram encontrar uma voz “genuinamente” australiana, distintas dos modelos culturais da Inglaterra. Os escritores buscam retratar uma Austrália mais autêntica, com uma linguagem mais informal que incorpora termos 140 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 regionais assim como temas que revelam o ethos australiano, quais sejam: a vida no sertão – chamado bush2 – e os trabalhadores itinerantes como peões e tosquiadores de carneiros; o tema do confinamento e a questão da identidade. De acordo com Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin em The Empire Writes Back (1989), os textos do primeiro momento tentavam dar conta do novo mundo, descrevendo com esmero e detalhe um país com uma paisagem, flora, fauna e nativos exóticos. Os escritores desta primeira fase, inevitavelmente privilegiavam o “centro”: “enfatizando a ‘pátria’ sobre o ‘nativo’, a metrópole sobre a província ou o colonial [...]” (1989, p. 4-6). Passada a fase inicial, estamos na segunda geração de escritores que tenta dar conta desta nova fase da colonização, quando uma diversidade de vozes emerge na literatura. Como observa Geoffrey Dutton em Snow on the Saltbush (1984): A neve anglo-saxã que continuava caindo no sertão australiano havia derretido há tempos. Para os primeiros escritores imigrantes, o exílio fornecia o seu próprio assunto; com a emergência da segunda geração de escritores, que se sentia em casa em duas culturas e traduzia uma realidade na outra, a experiência de imigrante poderia ser a condição – não apenas a causa visível – de sua resposta criativa à vida. (citado em WILDE, 1994, p. 397)3 Portanto, há na época uma clara tendência em prol de uma linguagem autenticamente australiana, ainda que dentro de um contexto literário onde a tradição inglesa ocupe um lugar canônico e inquestionável. Escritores como Tasma, pertencentes a uma cultura marginal e periférica, ameaçam e questionam esta tradição, realizando contra-narrativas que, nas palavras de Homi Bhabha: “continuamente evocam e rasuram suas fronteiras totalizadoras [entre império e a colônia] e (...) perturbam aquelas manobras ideológicas através das quais ‘comunidades imaginadas’ recebem identidades essencialistas” (1998, p. 211). “Monsieur Caloche” pertence claramente a esse segundo momento literário, quando a fase inicial da colonização já havia passado e a literatura celebratória de paisagens e seres exóticos já ficara para trás. Este conto reage Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 141 exatamente contra a situação colonial. Minha hipótese é que o conto seja um híbrido literário, no sentido proposto por Homi Bhabha. Em outras palavras, Tasma se apropria de uma forma consagrada – os contos de natal, entre os quais o paradigmático “Um conto de Natal” de Charles Dickens – e transpõe a fórmula para o universo australiano. Porém, ao utilizar personagens “outros” e um cenário “outro”, diferente da Londres de Dickens, Tasma acaba por, intencionalmente ou não, abordar a especificidade da situação colonial australiana. Assim, “Monsieur Caloche” pode ser entendido como um discurso híbrido que dramatiza a presença das formas literárias do império e da colônia, mas já de maneira diversa, como discutirei a seguir. Partindo, portanto, da perspectiva pós-colonialista, este ensaio se debruça sobre o tema da identidade australiana. Enfocarei, primordialmente, a condição de imigrante em um país colonizado há pouco mais de dois séculos. Pretendo mostrar como Tasma aborda a experiência colonial desde o início do conto, através da descrição antagônica dos personagens principais, da diferença de códigos lingüísticos, da mudança de ambiente cênico, do significado das palavras bog e pig sticker e, mais significativamente, através da idéia do travestimento e do crime cometido por Matthew Bogg contra Monsieur Caloche. Este crime dramatiza a tensão do império inglês opressor vis-a-vis o estrangeiro/a que tenta fazer da Austrália sua nova terra. Uma das várias maneiras com as quais Tasma introduz a posição inferiorizada do recém chegado Monsieur Caloche perante o futuro patrão Sr Bogg é via um exacerbamento da tensão da espera da entrevista. Esta tensão é evidenciada através dos olhos dos funcionários que antecipam a terrível experiência que espreitava o jovem francês: vítimas da crueldade cotidiana do Senhor Bogg, cuja presença todos evitam, os funcionários simpatizam com o “frágil” Monsieur Caloche. A tensão da espera também é personificada pelo vento, o qual, naquele dia escaldante, soprava loucamente, “desarrumando todos os planos metódicos do dia”, “alvoroçando os chapéus e os temperamentos das pessoas (...)” e “se mostrando um grande fanfarrão no caráter de um exaltado imigrante, no seu papel original do frígido [vento] Boréas da antiguidade” (p. 39, minha ênfase)4. Em outras palavras, o vento funciona no texto como um “outro” vento, um vento imigrante, procedente da antiguidade grega, um vento que alvoroça não apenas os chapéus, mas também o temperamento das pessoas. Tasma recorre, portanto, à natureza 142 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 para ilustrar o conflito da chegada do imigrante europeu ao novo mundo, empregando antíteses como: desarrumado x metódico; exaltado x frígido; e o imigrante x o antigo. A tensão do texto surge também na caracterização antagônica do Sr. Bogg e de Monsieur Coloche. Monsieur Caloche é descrito, já nas primeiras linhas, como “não-inglês” (un-English, p. 33)” e “não-colonial” (uncolonial, p. 33), caracterizado não apenas por sua aparência física – seu rosto é todo marcado com os sinais deixados pela varíola, “a doença diabólica” (the diabolical disease, p. 33) – mas também pela sua maneira de ser, evidenciada em descrições tais como: “suscetibilidades não masculinas” (unmanly susceptibilities, p. 33), “algo misterioso” (something mysterious, p. 34), “transpirando” (perspiring p. 34) e “triste” (sad, p. 41). Enfim, Caloche aparece como um jovem estrangeiro, que por ter sido tão desfigurado pelas marcas da varíola, cria em torno de si um ar de mistério e inspira pena nos funcionários, que se identificam com sua fragilidade por terem sido vítimas do Sr. Bogg. Do outro lado da sala de espera, num escritório mobiliado por móveis da melhor madeira, está “Sir Bogg”, “Sir” sendo o título adquirido por Matthew Bogg, um self-made man (p. 34), típico aventureiro inglês que, apesar de chegar à Austrália matando e sangrando porcos e limpando o deque do navio Sarah Jane, aprendeu na nova terra a explorar a situação colonial para fazer fortuna. Bogg adquiriu terras por preços irrisórios e depois as vendeu lucrando “três mil por cento por cada penny investido”: Ora, Bogg, agora Sir Matthew Bogg, da empresa Bogg & Cia., era um selfmade man, no sentido de que o dinheiro faz o homem e que, se ele havia feito dinheiro, o dinheiro poderia, com toda possibilidade, fazê-lo. Pois ele fez dinheiro despejando-o na caixa registradora nos bons tempos quando todos os comerciantes vitorianos eram como Midas e viam seus espíritos e farinhas transformarem-se em ouro com seus toques; fez dinheiro embolsando algo como três mil por cento de cada centavo investido na terra miserável recebida pelo governo [...] Sua sorte e sua visão, estavam no mesmo nível que sua diligência e, ao cabo de todo o seu trabalho de escravo e sagacidade, sua recompensa, aos sessenta anos de idade, foi um bom fígado, uma barriga, uma renda beirando a cem mil libras e o título de Sir Matthew Bogg. (p. 36, minha ênfase)5 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 143 Homens como Bogg mapearam a geografia australiana no século XIX com seu dinheiro, pois, se o dinheiro faz o homem, ele faz também o mapa. No caso da Austrália, o dinheiro logo redefiniu os contornos do espaço e modificou a paisagem, uma vez que foi ele que permitiu a construção de horríveis edifícios azuis, responsáveis pela estéril e lúgubre aparência de Melbourne, chamada de “a cidade do luto” (city of mourning, p. 36). Em outras palavras, Matthew Bogg é um oportunista que possuía um tino aguçado para negócios. Em seu projeto capitalista, projeto este que é explicitamente o da posse de seres humanos e terras, as pessoas se reduzem a meros objetos de exploração. A fortuna, o título e as terras de Bogg permitem que agora ele se dedique ao luxo de um perverso hobby: humilhar os seus funcionários que dependem dele para o ganha-pão. Seu deleite é fazer tremer vítimas impotentes e aterrorizadas, cada vez que lhes lança um olhar de desprezo. As descrições de Caloche e Bogg os caracterizam como opostos: “decididamente [...] de espécies diferentes. Um era um mastim robusto com características de lobo e o outro era um delicado galgo italiano, suave, tímido, tiritando com sensibilidade” (p. 39, minha ênfase)6. Seres de espécies diferentes, Matthew Bogg e Monsieur Caloche incorporam perfeitamente as dicotomias de “colonizador” e “colonizado”; “oppressor” e “oprimido”. Sir Bogg é o próprio “sangrador de porcos” (pigsticker) aguardando a sua próxima vítima para sangrá-la, e Monsieur Caloche, com a sua fragilidade e estrangeiridade, estava totalmente a mercê do seu predador. A descrição dos personagens realiza as diferenças entre eles e marca a inexorabilidade do conflito que emerge dessa diferença. O contraste entre os dois personagens se manifesta ainda na escolha de seus nomes. O substantivo bog, em inglês, significa lodo, e o verbo to bog significa atolar ou afundar no lodo, remetendo, numa primeira análise, ao “lodo”, à “sujeira” pela qual Sir Bogg conquista fortuna e título. Caloche, em contrapartida, sonoramente lembra callous no sentido de calejado, caloso, aqui entendido simbolica e literalmente por conta das marcas cutâneas deixadas pela varíola. Ao contemplarmos estas possibilidades semânticas, conseguimos antever o triste destino do “calejado” Monsieur Caloche, que afundará metaforica e literalmente, no “lodo” do Sr Bogg. Além da diferença na aparência física, no temperamento, e na oposição semântica dos nomes Bogg e Caloche, o contraste entre os dois 144 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 personagens está também expresso na linguagem que adotam. Caloche, como dito anteriormente, é francês e fala mal a língua inglesa. Ele emprega, por exemplo, frases afrancesadas como “I’m going to do my possible” (Je vais faire mon possible), quando o apropriado seria “I’m going to do my best” ou “I’m going to do what I can”, em inglês. Em relação ao francês, é de supor que, como indica seu currículo, segundo o qual ele seria um Homme des Lettres, que Caloche tenha recebido educação formal. Por seu lado, Bogg, que se intitula Sir, ironicamente não fala a linguagem das classes altas da metrópole inglesa; ao contrário, sua linguagem constitui um claro exemplo do cockney falado pelos primeiros colonizadores. Esses colonizadores, como narra a história, eram, com efeito, os prisioneiros despejados na Terra Australis Incognita a fim de minimizar o problema da superpopulação das prisões na Inglaterra7. Portanto, a diferença dos códigos lingüísticos de Bogg e Caloche funciona para tornar o abismo ainda maior entre eles. Assim, por meio da linguagem, a oposição entre o colonizador e capitalista Bogg e o imigrante estrangeiro e pobre Caloche é ironicamente desconstruída. Ambos são, na verdade, imigrantes. Muito embora Bogg recuse conceber-se como estrangeiro e rotule Caloche como o Outro, o que vem de fora, o subordinado, os dois, na realidade, compartilham uma origem similar: ambos são imigrantes em um país colonizado por imigrantes. O que os distingue não é a origem, mas tão somente o fato de um – Bogg – ocupar uma posição de poder. Contudo, Matthew Bogg parece ter esquecido as suas origens, pois, para ele, Monsieur Caloche não é mais do que um “aventureiro estrangeiro” (foreign adventurer, p. 41) – cuja situação, vale repetir, ele próprio havia vivido e, ironicamente, esquecido. Para Bogg, Caloche é um aventureiro que traz consigo o estigma de não compartilhar a “nossa língua” (our language, p. 41)”; ele fala a língua do outro. Por isso, Bogg adverte severamente o acuado francês: “Eu não quero nenhum do seu parle-vous no meu escritório” (I don’t want any of your parley-vooing in my office, p. 41) – ou seja, a língua do outro não era bem-vinda. Esta situação faz-nos lembrar do início da colonização australiana quando o Império Inglês insistentemente fez tudo ao seu alcance para destruir a população autóctone, contribuindo, desta forma, para destruir as próprias culturas e línguas das diversas tribos aborígines. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 145 Outro exemplo lingüístico que ilustra adequadamente a questão da “nossa” língua versus a língua do “outro” é evidenciado pelo substantivo trap: Matthew Bogg, querendo livrar-se rapidamente do francês, envia-o para uma de suas fazendas, dizendo: “Vá então juntar os seus trapos! Eu dou-lhe um emprego no interior! (Go and get your traps together, I say! I’ll find you a job up-country!, p. 42, minha ênfase)” e Monsieur Caloche, tentando entender o inglês do Sr. Bogg, lembra que trap significa: “um instrumento que serve para capturar animais” (an instrument for snaring animals, p. 42). Na realidade, Matthew Bogg estava se referindo pejorativamente aos pertences, aos trapos de Monsieur Caloche. Esta confusão de significados por meio da duplicidade das palavras exemplifica o conflito lingüístico de Bogg e Caloche: há a clara sugestão que Monsieur Caloche cairá na armadilha / trap do senhor Bogg (bogg/lodo), o que de fato ocorrerá no final do conto. Se Tasma problematiza a tensão colonial através dos seus personagens principais – Sir Matthew Bogg como opressor, representando o colonizador e o Império Britânico e Monsieur Caloche como oprimido, colonizado – da mesma maneira o espaço cênico e seu movimento evolutivo da metrópole para o sertão australiano (the bush) projeta o desenrolar do conto e a involução negativa dos acontecimentos. O acuado francês chega numa das fazendas de Matthew Bogg e, a despeito de ser bem diferente dos tosquiadores e peões, acaba por se beneficiar da liberdade e isolamento que o local lhe proporciona. Contratado como cavaleiro (boundary rider), não havia cavalo que ele não conseguisse montar. Os peões achavam que ele tinha algo de sobrenatural, pois até os cavalos mais arredios tornavam-se mansos nas rédeas do habilidoso francês. E todos o achavam estranho, pois: (...) com o cair da noite, ele geralmente desaparecia. Um de seus trabalhos era o de separar a lã e ele tinha mania de limpar a graxa das mãos na menor oportunidade que se apresentava. Outra peculiaridade era a sua aversão a sangue. Por uma estranha coincidência, ele nunca era encontrado em nenhum lugar aonde algum animal tivesse sendo abatido. (...) Da mesma forma, ele nunca foi persuadido a aprender boxe, o passatempo favorito das manhãs de domingo e das noites de verão dos peões. Quando algum nariz era golpeado, parecia que doía em si próprio. (p. 43, minha ênfase)8 146 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Se, por um lado Monsieur Caloche era considerado um tanto quanto bizarro, por outro, os empregados apreciavam o seu jeito delicado. Seu poder de “encantamento” com os cavalos estendia-se para com os seus colegas: Quase valia a pena torcer um membro ou cortar um dedo para que os dedos destros de Monsieur Caloche fizessem o curativo. Seu horror a sangue nunca interferia quando havia um ferimento a ser tratado. Suas mãos suaves trabalhavam o ferimento com ternura e delicadeza, de forma que a vítima sentia-se aliviada e quase curada pelo contato. O mesmo acontecia com a sua manipulação das coisas. Havia um refinamento na maneira pela qual ele organizava um ambiente rústico que o fazia parecer diferente. (p. 44)9 Difícil precisar, entretanto, se Monsieur Caloche sentia-se feliz no campo. O narrador, nesta parte do conto, observa-o com um distanciamento que talvez revele o isolamento e a liberdade desejados por Monsieur Caloche e preserva o mistério do personagem, fundamental, como veremos adiante para a resolução do conflito. Muito embora a mudança do espaço ficcional – de Melbourne para o campo (the bush) – enfatize a beleza e a liberdade transitória que Caloche usufrui naquele local, esse mesmo campo será, paradoxalmente, o cenário de sua morte. Num dado dia, Matthew Bogg chega para fiscalizar a sua fazenda que está acometida por um período de seca. Surpreende os empregados no meio de um dia monótono, que, contaminados pela preguiça causada pelo calor do meio dia, largam-se, momentaneamente, ao prazer de não fazer nada. Sir Matthew Bogg revolta-se com a tranqüilidade e apatia dos empregados, que, a seu ver, mesmo naquela hora, deveriam estar trabalhando exaustivamente e decide achar um “bode expiatório para a seca” (a scapegoat for dry weather, p. 45) para extravasar a sua irritabilidade. Que vítima melhor que o frágil estrangeiro, homme des lettres, Monsieur Caloche? Bogg, no entanto, não o encontra de início e pede ao administrador que o leve até ele. Notando o humor irascível de seu chefe, o administrador, apesar de nunca ter se manifestado em favor de qualquer empregado, neste momento fala em defesa de Caloche – “esse rapaz é um bom trabalhador senhor!” (he’s a good working chap, that, sir!, p. 46). Instigado pelo perverso desejo de vitimálo, Bogg insiste em encontrar Caloche e, junto com o administrador, vai ao Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 147 seu encalço. Depara-se com Caloche galopando um dos cavalos de sua posse e decide, então, ensinar-lhe uma lição por arruinar as pernas do seu cavalo: “Você vai galopar no inferno! Vou te ensinar o que dá estragar as ‘perna’ do meu cavalo” (You can gallop to hell! I’ll teach you to ruin my ‘orses’ legs!”, p. 47). Ao falar isso, Bogg dá uma chicotada violenta em Caloche, cujo rosto se desfigura em medo. Caloche foge, chorando desesperadamente, em direção da floresta – the wild bush (p. 47) – onde é mais tarde encontrado morto. Bogg retorna a casa, porém, perseguido pela imagem de pavor da face transfigurada do francês, resolve voltar à floresta com o administrador. Quando eles finalmente localizam o corpo de Caloche, o administrador confirma sua morte e, ao desabotoar a camisa, para o horror de Bogg, eles se deparam com: “uma moça com um seio de mármore, revelando sua brancura fria em pleno dia, ante o seu olhar ardente. Desnuda, sem nenhum protesto dos olhos semi-abertos, indiferente, atrás do véu translúcido que os vitrificava. Um seio virgem, sem sequer uma mancha, a não ser por uma marca roxa que desenhava uma linha escura colo abaixo” (p. 50-51)10. Bogg será perseguido por essa imagem porque nela está o reconhecimento de que a causa da morte de Henriette Caloche não tinha sido a exposição ao “faminto sol australiano” (p. 50), como havia sido aventado, e sim “a sua própria mão sanguinária” (p. 51). Desde o momento de revelação, Matthew Bogg sente-se contaminado pela palidez mortuária de Henriette Caloche pelo resto de sua vida a ponto de se tornar um “homem mudado” (p. 52), desistindo de seu hobby cruel. Após sua morte, Bogg deixa a maior parte de sua fortuna para a construção de uma ala para tratamento de varíola em um hospital francês, chamada de Ala Henriette. Aqui encontramos, portanto, duas claras influências da literatura canônica vitoriana: a varíola como ameaça de desfiguramento – principalmente com relação ao sexo feminino – e a cena de regeneração. Em uma época em que a beleza feminina era um dos poucos passaportes para o casamento, este sim uma das únicas possibilidades abertas para as mulheres, a varíola era um fantasma que habitava o imaginário feminino. Em Bleak House, por exemplo, a protagonista Esther contrai a doença e apenas sua natureza submissa permite que ela não se revolte e aceite o seu destino. Portanto, vemos que Tasma se apropria deste que é um tropo freqüente na literatura canônica inglesa. 148 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Em relação à regeneração do vilão, novamente Tasma se volta para Dickens. Segundo a tradição dos contos de natal, os malvados se regeneram através de alguma lição importante. Em “Um conto de Natal” de Charles Dickens, o avaro Scrooge é levado por espíritos de natais passados a uma viagem ao seu passado no intuito de que ele reconheça a sua perversidade e crueldade principalmente com relação aos seus empregados. No final do conto vemos um Scrooge totalmente regenerado, comemorando o natal com bondade e generosidade. A conversão de Bogg é feita nestes moldes. Cabe enfatizar, no entanto, que a mudança drástica no comportamento de Bogg é artificial e é narrada de um ponto de vista irônico. Como adverte o narrador, que tenta justificar a súbita conversão moral relacionando-a aos famosos contos de natal ingleses, “[r]eceio que seja apenas em histórias natalinas que, em deferência a uma época tão festiva, tudo tende a dar certo no final: a natureza das pessoas é revolucionada em uma noite e vilões mesquinhos tornam-se Serafins caridosos” (p. 51-2)11. À parte a repentina transformação de Bogg e a moldura moral do conto, típica das narrativas do século XIX, “Monsieur Caloche” certamente problematiza importantes questões políticas de sua época: o lugar do imigrante, o poder do colonizador e também, por intermédio do final do conto, a posição da mulher em uma sociedade onde a luta contra o espaço físico torna os homens mais aptos para o sucesso. A revelação de que Monsieur Caloche era uma mulher, complexifica duplamente o problema da alteridade. Caloche não era somente o “outro” o “colonizado”, o “oprimido”, mas o “outro” feminino, sem voz e sem lugar. A prática do travestimento, de acordo com Judith Walkowitz, não era recurso estranho no século XIX e exercia “uma influência ainda mais acentuada sobre a imaginação feminina: vestir-se de homem e fazer-se ao mar ou alistarse no exército era a fantasia de adolescente mais freqüente nos diários femininos ao longo de todo o século” (1991, p. 431). O travestimento traduz bem a sensação de inferioridade de uma mulher que busca na Austrália uma nova vida, construindo-se como homem, já que sabia que como mulher não teria chance alguma. Com um rosto deformado pela varíola, Henriette Caloche renega o seu sexo, sua condição de mulher e esconde-se por trás de uma nova identidade que lhe traria trabalho e um reinício. É principalmente através Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 149 dos silêncios da narrativa e da imagem indelével da sua morte, imagem esta que Matthew Bogg não consegue esquecer, que a voz sufocada desta jovem se faz ouvir. Em certo sentido, tanto Bogg quanto Henriette se forjam como “self-made men”: um é o imigrante que assume a “identidade” de “Sir” e consegue sucesso financeiro à custa do trabalho alheio. O outro é a mulher desfigurada que se faz passar por homem e apenas no sentido literal é um self-made man, isto é, se torna um homem, mas sem que isso implique em abraçar a ideologia capitalista do sucesso a qualquer custo. É nesta relação reflexiva que o conto “Monsieur Caloche”, constrói estas duas visões do self-made man: o capitalismo colonial e a performance da masculinidade, metáforas adequadas para o enfoque deste estudo. A questão da mudança de identidade pode ser compreendida quando pensamos na beleza feminina como único valor de troca das mulheres no século XIX. Tendo perdido essa beleza, Henriette teve que procurar outra estratégia para sobreviver em um mundo onde há poucos caminhos abertos para as mulheres fora do casamento. A idéia do travestimento também recebe relevo quando a lemos através do estudo de Homi Bhabha sobre a mímica e a ambivalência nos discursos coloniais. Bhabha argumenta que apesar destes discursos representarem o Outro dentro da ‘norma’ do discurso ocidental é exatamente dentro desta representação que, paradoxalmente, encontra-se o Outro, um estrangeiro a estas normas. Esta estratégia enfatiza a ambivalência como elemento central ao discurso colonialista e Bhabha conclui que esta ambivalência é inerente ao que ele denomina de “mímica colonial”: (...) a mímica colonial é o desejo de um Outro reformado, reconhecível, como sujeito de uma diferença que é quase a mesma, mas não é exatamente. O que vale dizer que o discurso da mímica é construído em torno de uma ambivalência; para ser eficaz, a mímica deve produzir continuamente seu deslizamento, seu excesso, sua diferença. (...) A mímica é, assim, o signo de uma articulação dupla, uma estratégia complexa de reforma, regulação e disciplina que se “apropria” do Outro ao visualizar o poder. A mímica é também o signo do inapropriado, porém uma diferença ou recalcitrância que ordena a função estratégica dominante do poder colonial intensifica a vigilância e coloca uma ameaça imanente tanto para os saberes “normalizados” quanto para os saberes disciplinares. (2007, p. 130) 150 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 É por meio dessas tensões da estratégia retórica de hibridismos, deformação, disfarce e inversão dos elementos narrativos, que podemos afirmar que “Monsieur Caloche” problematiza a diferença entre a literatura da metrópole e da margem. “Monsieur Caloche” como literatura ultrapassa a fórmula do conto de natal inglês. Ao problematizar as questões coloniais australianas e abordar o peculiar espaço vital do país, bem como o de seus habitantes, o conto de Tasma se torna um híbrido narrativo. É neste “entrelugar”, no sentido da mímica colonial explicitada por Homi Bhabha, que “Monsieur Caloche” articula as diferenças e identidades culturais inerentes à formação da nação australiana. É dentro deste ambiente traduzido, emoldurado por uma estrutura transgressora e travestida, que o conto de Tasma é desenvolvido; pois, como o conto narra, Sr. Bogg fica simbolicamente contaminado pela varíola de Henriette: ele fica “marcado” com as cicatrizes da vergonha de seu crime. Desta forma, Tasma articula duas idéias ao mesmo tempo: a primeira é a de que, a despeito da súbita regeneração do colonizador Bogg, a marca de seu crime – a colonização do corpo de Henriette – “deve queimar em sua testa para sempre” (p. 51). A outra idéia é a da contranarrativa que, ao se apropriar criticamente da estrutura do conto de natal inglês, assinala, ao mesmo tempo, o seu distanciamento. A ironia pela qual Tasma descreve o final não deixa sombra de dúvidas: homens como Sir Bogg não se transformam em Serafins de um momento para o outro. Concluindo, ao travestir a matriz moral do conto de natal inglês dentro de um universo outro, Tasma, intencionalmente ou não, nos fala de um crime outro através do crime cometido por Bogg. A colonização, o crime da exploração e devastação de terras, culturas e pessoas, tal qual a imagem de Henriette Caloche morta que persegue Bogg até o fim de seus dias, marca a história australiana, como as feridas na face de Henriette. Vítima da colonização de Sir Bogg, Henriette Caloche se torna maior do que a própria personagem – ela se torna uma estatueta de mármore, símbolo da virgem branca. De acordo com esta perspectiva, o corpo puro e intocado de Henriette passa a simbolizar a própria terra australiana virgem, antes da presença destruidora do colonizador branco. A cena do crime de Caloche é enquadrada pelo caráter transgressor do texto. A disseminação no conto de referências propositais ou não, como a varíola e o crime de Caloche, permite entrever um fato extratextual que a Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 151 eles remete: a varíola trazida pelo colonizador e o crime colonial. Essa perspectiva de leitura, passível de ser também descortinada através da citação shakespeariana que é encontrada no bolso de Henriette – “A beleza uma vez maculada, é para sempre perdida!” (So beauty blemished once for ever’s lost!, p. 51) – mostra que não há como recuperar a beleza de Henriette ou da terra nativa. Se, por um lado, o enredo de “Monsieur Caloche” tem um desfecho triste que espelha a recente e cruel história de exploração da terra e de pessoas, por outro, a estratégia narrativa de hibridismo e mímica utilizada por Tasma implica em e aponta que a literatura australiana já se encontrava em pleno processo de questionamento e redefinição. Notas 1 Sobre o período de 1889-1913, chamado de Reconstrução Nacional (National Reconstruction), ver MCINTYRE, Stuart A Concise History of Australia, p. 122-154; WILDE, William et alli, The Oxford Companion to Australian Literature, p. 579-580. 2 Bush é o termo que designa a terra selvagem e inóspita do interior australiano, não cultivada; floresta ou deserto. Parte importante da ‘identidade australiana’, o folclore e a literatura incorporam a imagem do bush. Escritores como Henry Lawson e Joseph Furfy exploram o tema e descrevem a luta de fazendeiros que tentam cultivar um solo difícil numa terra inóspita. 3 “The Anglo Saxon snow that kept falling on the Australian saltbush has long since melted. For early immigrant writers exile had provided its own subject matter; with the emergence of second generation writers, at home in two cultures and practised at translating one reality into another, the immigrant experience coud be a condition – not simply a visible cause – of their imaginative response to life”. Esta e todas as outras traduções do artigo são de minha responsabilidade. 4 “...upsetting all orderly arrangements for the day (...) “...bringing havoc with people’s hats and tempers”, “ proving itself as great a blusterer in its character of a peppery emigrant in its original role of the chilly Boreas of antiquity” 5 “For Bogg, now Sir Matthew Bogg, of Bogg and Company, was a self-made man, in the sense that money makes the man, and that he had made the money before it could by any possibility make him. Made it by dropping it into his till in those good old times when all Victorian storekeepers were so many Midases, who saw their spirits and flour turn into gold under their 152 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 handling, made it by pocketing something like three thousand per cent upon every penny invested in divers blocks of scrubby soil […] His luck, his foresight, were only on a par with his industry, and the end of all his slaving and sagacity was to give him at sixty years of age a liver, a paunch, an income bordering on a hundred thousand pounds, and the title of Sir Matthew Bogg” 6 “Decidedly ... of a different order of species. One was a heavy mastiff of lupine tendencies - the other a delicate Italian greyhound, silky, timorous quivering with sensibility.” 7 Em 1770 o capitão inglês James Cook aporta em Botany Bay, baía próxima a Sidney, e toma posse da terra no nome da coroa britânica. Em 1778, chega à Austrália a primeira frota britânica composta de 11 navios na clara intenção de consumar a posse da terra. Esta primeira frota leva em torno de 1.000 prisioneiros, além de provisões alimentícias para dois anos. Sobre a história da colonização australiana, ver MCINTYRE, Stuart. A History of Australia. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 17-121. 8 “…with the setting of the darkness he regularly disappeared. [...] He was given odd jobs of wool-sorting to do, and was found to have a mania for washing the grease off his hands whenever there was an instant respite. Another peculiarity was his aversion to blood. By some strange coincidence, he could never be found whenever there was any slaughtering on hand. [...] Equally he could never be induced to learn how to box – a favourite Sunday morning and summer evening pastime among the men. It seemed almost to hurt him when damage was done to one of the assembled noses.” 9 “It was almost worth while spraining a joint or chopping at a finger to be bandaged by Monsieur Caloche’s deft’s fingers. His horror of blood never stood in his way when there was a wound to be doctored. His supple hands [...] had a tenderness and a delicacy in their way of going to work that made the sufferer feel soothed and half-healed by their contact. It was the same with his manipulation of things. There was a refinement in his disposition of the rough surroundings that made them look different after he had been among them.” 10 “a girl with a breast of marble, bared in its cold whiteness to the open daylight, and to his ardent gaze. Bared, without any protest from the half-closed eyes, unconcerned behind the filmy veil which glazed them. A virgin breast, spotless in hue, save for a narrow purple streak, marking it in a dark line from the collar-bone downwards.” 11 “It is only in Christmas stories, I am afraid, where, in deference to so rollicking a season, everything is bound to come right in the end, that people’s natures are revolutionized in a night, and from narrow-minded villains they become open-hearted seraphs of charity.” Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 153 REFERÊNCIAS ASHCROFT, Bill, GRIFFITHS, Gareth and TIFFIN, Helen. The empire writes back. Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. New York: Routledge, 1989. BABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998 KENT, Hillary (ed.) The Australian Oxford dictionary. Melbourne: Oxford University Press, 1998. GOLDSWORTHY, Kerry (ed.) Australian Women’s Stories. Melbourne: Oxford University Press, 1999. MCINTYRE, Stuart A Concise History of Australia. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 WALKOWITZ, Judith R. “Sexualidades perigosas”. In: DUBYS, Georges e PERROT, Michelle. História das mulheres. O século XIX. Porto: Edições Afrontamento, 1991. Artigo recebido em 17.04.2008. Artigo aceito em 14.06.2008. Cristiane Busato Smith Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná. Professora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. 154 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 UMA ABELHA, DUAS APARIÇÕES – UM CASO DE REPRESENTAÇÃO EM MISHIMA E MURAKAMI Benedito Costa Neto Filho [email protected] RESUMO: Este artigo trata da comparação entre os textos Mar inquieto, de Yukio Mishima, e Minha querida sputnik, de Haruki Murakami. Parte da representação para mostrar como os dois autores trabalham a questão do amor. Ambos discutem o seguinte lugarcomum sobre o Japão: um país entre a tradição e a modernidade. Ambos, igualmente, escolhem um triângulo amoroso para investigar os meandros dos discursos sobre o amor. ABSTRACT: This paper compares the novels Mar inquieto, by Yukio Mishima, and Minha querida sputnik, by Haruki Murakami. It deals with the authors’ concepts of love as worked in the texts. Both authors discuss the following common-place notion about Japan: a countr y between tradition and modernity. Both authors equally choose a love triangle to investigate the meanderings of the discourses about love. PALAVRAS-CHAVE: Literatura comparada. Romances japoneses. Discurso sobre o amor. KEY WORDS: Comparative Literature. Japanese novels. Discourses about love. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 155 Quem tem acesso ao acervo do Ohara Museum of Art pode se deparar com a tela Scarlet Rug, com data de 1932. Como o museu foi fundado com ênfase em arte moderna, a tela faz parte de um conjunto impressionante de Monets, Pissaros, Cézannes. Nada mais natural do que pensar que Scarlet Rug seja um Gauguin, pois o museu conta, por exemplo, com Te nave nave fenua, deste pintor francês, que retrata uma mulher do Pacífico, provavelmente numa das passagens de Gauguin pelo Taiti. O que se vê na tela de 1932: duas mulheres orientais a se deliciar ao sol, lânguidas, a um só tempo sensuais e contemplativas. Poucos traços definem suas feições, há pinceladas fortes, grossas, e o fundo em cores chapadas não deixa dúvidas – trata-se de um Gauguin. Mas algo incomoda: a data da pintura, 1932. Gauguin morrera trinta anos antes. A tela também não faz parte do acervo de pinturas européias e sequer tem exposição permanente, como Degas ou Poussin. O especialista, claro, sabe tratar-se de uma pintura com influência de Gauguin, mas o leigo precisa fazer a leitura: “Scarlet Rug, oil on canvas, Mitsutani Kunishiro, 1932”. Mitsutani estudou na França, como tantos outros artistas japoneses. Suas primeiras telas são composições de estudante, com traços ora do impressionismo, ora do expressionismo, mas seguiu “caminho próprio” e, em 1932, dois anos antes de sua morte, homenageou Gauguin. Curiosamente, o jovem Gauguin, meio século antes, deixara-se levar por um certo modo de retratar, típico da pintura e da gravura japonesas, maravilhado com suas possibilidades. É de se pensar que o caminho contrário tenha sido seguido. Evidentemente, o exemplo aqui poderia ser de um brasileiro, como Victor Meirelles ou Pedro Américo, pois ambos estudaram na Europa e deixaramse influenciar pela pintura européia. Em A primeira missa no Brasil, por exemplo, o conjunto dos padres celebrantes pode ser visto de forma quase idêntica na pintura de um francês, Horace Vernet, que retratou outra primeira missa, a de Kabilie. Porém, no caso dos brasileiros, não se viu o caminho contrário; afora isso, o exemplo de Misutani está dentro do contexto deste artigo. Podemos imaginar que Mitsutani não tentava ser Gauguin, assim como Gauguin não tentou ser Hokusai ou Sharaku. Jamais um seria o outro por uma onipresente ordem lógica das coisas, e não é necessário esmiuçar as diferenças das pinceladas de ambos para se afirmar isso. Por mais que Gauguin amasse o Oriente e a Oceania, foi distante da Europa que encontrou a morte, após um terrível aprisionamento. Mitsutani, por seu turno, assim como tantos 156 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 outros artistas, voltou ao Japão, sem poder viver na Europa, porém sem o reconhecimento que Gauguin alcançou. Entretanto, podemos falar em influência, em cópia, ou mais sutilmente em homenagem, pois isso é muito nítido na pintura de ambos. Misutani permitiu-se influenciar por Gauguin, assim como Gauguin houvera permitido influenciar-se pela arte japonesa, notadamente a gravura. Algo semelhante ocorre na literatura e não são poucos os exemplos. Yukio Mishima e Haruki Murakami seguiram caminho semelhante ao de Gauguin e de Misutani e é tal discussão que agora nos interessa. Para possibilitar um discurso coeso, foram escolhidas obras recentemente publicadas no Brasil, vertidas para a língua portuguesa. Após a premiação de Kenzaburo Oe, com o Nobel, em 1998, muitos textos da literatura japonesa ganharam publicação ou reedição. Sabe-se o quão complexo é discutir obras produzidas em outra língua, principalmente quando de trata de uma língua distante, porém não se pode negar a existência das publicações e a possibilidade de investigação, mesmo que no interior de um território muito estreito. Deve ser lembrada, a todo tempo, a humildade com que devemos estudar cometas. Foram escolhidos trechos de Mar inquieto, de Yokio Mishima, e de Minha querida Sputnik, de Haruki Murakami. Para facilitar a leitura, optou-se por uma descrição geral do painel onde estão inseridas as duas escrituras. Neve ao pé do Fuji Mar inquieto é um livro estranho, se comparado a Confissões de uma máscara e a Cores proibidas. Quem conheceu o Mishima das duas primeiras obras deve ter sentido o impacto da terceira e podemos dizer que o caminho inverso também proporcionou – e ainda proporciona – surpresa. Em Confissões, temos a devassa do meio homossexual de Tókio. A homossexualidade até então era tema tabu na literatura japonesa, embora haja indícios (bem difíceis de serem localizados, em verdade, mas apontados por historiadores como Spencer, em sua obra Homossexualismo, uma história, ou exegetas como Marguerite Yourcenar, que no fim da vida se dedicou ao estudo do japonês e da obra de Mishima) de que a condição homossexual era vista com menos preconceito do que no Ocidente. Ao menos, era vista sob outro prisma, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 157 como outra problemática, pois a concepção de “homossexualidade” é ocidental e comum ao discurso cientificista do século XIX. Como não desejamos questionar tal situação neste texto, partimos de uma constatação: nos textos clássicos da literatura japonesa o tema é raríssimo, exceto no caso de relatos de moças com disfarces masculinos, talvez inspirados no texto chinês Mu-lan, o que, de qualquer forma, não é caso de homossexualismo. Na Europa do mesmo período, obras que devassavam o meio homossexual eram comuns. André Gide, Marguerite Yourcenar, Thomas Mann, entre outros, já tinham traçado o caminho, principalmente em primeiras obras que eram como libelos, uma espécie invertida de autos- de-fé. Uma obra extremamente famosa de Gide, Córidon, não apenas fazia levantamento do universo homossexual masculino como encontrava na natureza, nas artes e no mito respaldo para provar o quanto o homossexualismo era natural, na esteira do discurso científico do século XIX, usando, inclusive, as mesmas ferramentas da condenação para uma absolvição. O texto de Gide é de 1911, com reedição em 1920. O autor francês, porém, enaltecia a relação que chamava de urânica. Mesmo ao mostrar o quanto ela podia trazer sofrimento, Gide era extremamente sutil, como no caso de O imoralista. Anos depois, produziria uma obra em que o homossexualismo propiciava felicidade, mesmo que transgredisse outro tabu, o da família, embora necessitasse prescindir da liberdade, caso de Os moedeiros falsos. Yourcenar, por sua vez, mergulharia no universo homossexual masculino em diversas obras, sendo sua primeira Alexis, ou o tratado do vão combate, que era uma resposta a um Tratado do vão desejo, da juventude de Gide. Nas obras de Yourcenar, o sofrimento homossexual não era intrínseco à sua condição maldita ou (re)negada e sim por sua condição de amor, simplesmente. Embora Yourcenar houvesse lido O banquete e tivesse como horizonte a divisão entre amor urânico e pandêmico (tão discutida por Gide), o amor homossexual era “natural”. Obras posteriores deixariam isso bem claro, como O golpe de misericórdia e Memórias de Adriano. O amor causa sofrimento quando distante, o que era mais uma visão sagrada do amor do que propriamente uma discussão sobre seu universo escuro, seus porões tétricos. (Sobre essa condição sagrada do amor, vale a pena conferir a discussão feita por Joseph Campbell em seu famoso livro de entrevistas O poder do mito.) Mas nem tudo eram rosas na literatura européia. Muitas décadas foram necessárias para uma 158 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 visão “natural” do amor urânico proposta por Gide e obras de escritores consagrados mostravam o amor homossexual (em diversas formas, pandêmico, urânico) como um problema. Isso ocorre, por exemplo, em Thomas Mann, como no caso de Morte em Veneza (e em sutis lembranças de amores infantis na Montanha mágica, em Félix Krull). Paralelamente, o caso real da vida de Oscar Wilde era forte o bastante para estar presente – podemos supor – na consciência de quem produzia literatura na primeira metade do século XX. Outros escritores, mais tarde, descreveriam o universo homossexual como submundo, deportado do universo sofisticado de Gide, Yourcenar, Mann ou Forster. James Baldwin submeteria seu Giovanni a um universo underground, com trágicas conseqüências para suas personagens, assim como o livro de estréia de Gore Vidal, A cidade e o pilar, destinaria a seu protagonista algo extremamente infeliz. Mas talvez nenhum outro escritor mostrasse o universo homossexual de modo mais dramático que Jean Genet: sujo, torpe, ignóbil. Em nenhum dos autores citados, o homossexualismo tinha sido construído sob o viés de uma específica condição física, de esperma seco e de excrementos. Houvera pedofilia, mortes, suicídios, tristeza, amargura, mas pela primeira vez travestismo, roubo, e a condição do amor homossexual como mais física que espiritual ou de condição de alma. Descarta-se, aqui, a comparação com Sade, por merecer ela um texto a parte, com investigação mais profunda. Jean-Paul Sartre, todavia, tentou provar que o universo genetiano era o da “decadência como triunfo” (SARTRE, 2002, p. 46). De fato, se analisamos a personagem Querelle de Brest, constatamos um pundonor que o lugar-comum imputa aos príncipes. Confissões é um passeio por esse universo de encontros intensos. Os biógrafos de Mishima procuram encontrar em suas obras diálogos com Gide ou Mann e, embora tal exercício exegético seja comumente de difícil defesa, não podemos negar o quanto o escritor japonês era fascinado pela literatura européia, principalmente quando entrou em contado com a obra de Bataille. Com muita liberdade, poderíamos encará-lo, sim, como um livro de iniciação, como os demais citados, grande parte com situações autobiográficas, mais ainda com um passeio à Dante pelo universo homossexual, o que o aproximaria mais de Gore Vidal (que não sabemos se Mishima leu) do que de Gide ou até mesmo Genet, que, a esse sim, sabemos, admirava. Em Confissões, há o susto da descoberta de um universo absolutamente novo, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 159 repleto de maravilhas e de horrores, como num sonho, recurso bastante comum em autores tão diversos como o Schnitzler de Breve romance do sonho ou Kafka. Situação similar ocorre em Cores proibidas. Nesse extenso romance, Mishima descreve as torpezas do meio acadêmico e das relações sexuais e afetivas em geral, as quais são mostradas sempre como incertas, duvidosas, interesseiras. Por isso Mar inquieto é tão estranho. Há uma ilha, isolada do mundo cheio de maravilhas e horrores, dois personagens heterossexuais e puros, perfeitos um para o outro. O amor de ambos é cristalino e apenas realizável se recíproco, como em tantas outras narrativas de amor, abarcadas pelo discurso acadêmico como literárias ou míticas, religiosas ou da tradição oral. Tal pureza é intrínseca ao protagonista, Shinji, um Genji moderno. O herói, embora seja retratado como raro exemplar da beleza masculina, está muito mais para a formosura típica dos heróis mitológicos do que para a descrição física dos personagens homossexuais dos autores citados. Mishima assim o descreve: “é alto e magnificamente constituído, e o único detalhe físico que condiz com sua idade são as feições, que ainda conservam certo ar infantil” (MISHIMA, 2002, p. 14). Entretanto, há uma condenação: “mas tal limpidez é apenas uma dádiva do mar àqueles que fazem dele seu local de trabalho” (MISHIMA, 2002, p. 14). A heroína, embora não receba tantos elogios quanto à sua formosura, bem poderia ser uma princesa das narrativas zen ou uma das muitas mulheres fortes encontradas em narrativas antigas. Em suma, ambos são merecedores do amor do outro. Também têm caráter, são incapazes de más ações, são filhos diletos e, se não são ricos, fazem parte de uma elite. O rapaz é o mais belo e o mais respeitável pescador da ilha; a moça é filha do maior mercador do local. O rapaz é decidido, além do mais, e a menina consegue mostrar à mãe dele o quanto pode ser corajosa e capaz ao conseguir mergulhar profundamente, atrás de algas, atividade comum das mulheres da ilha. Vejamos um trecho da obra: Ao ver que Hatsue depositava os baldes à beira da fonte, Yasuo pensou em dar um salto e surgir diante dela, mas hesitou. Resolveu então conterse até que a moça acabasse de encher de água os vasilhames. Armou o bote de modo a poder pular-lhe em cima a qualquer momento e, com o braço esquerdo erguido e apoiado a um galho, imobilizou-se. E assim, 160 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 feito estátua de pedra, observou as mãos grandes da moça, avermelhadas de frio, encherem os baldes de água em ruidosos gorgolejos, e imaginou com intenso prazer o resto daquele corpo saudável e fresco. Àquela altura, no pulso do rapaz apoiado na árvore, o relógio – de que tanto se orgulhava – continuava a emitir seu brilho fosforescente, bem como o tênue mas pontual tique-taque, a marcar a passagem dos segundos. E foi esse barulho que, segundo pareceu chamou a atenção e assustou as abelhas adormecidas no interior de uma colméia em formação no galho. Uma delas pousou sobre o relógio com certo temor. Logo descobriu que o estranho besouro de luz pálida e zumbido preciso protegia-se sob uma couraça vítrea escorregadia, e viu-se frustrada em seu intento. Decidiu então transferir o alvo do ferrão para a pele do pulso do rapaz, e ali picou com força e gosto. Yasuo soltou um berro e Hatsue voltou-se para ele com expressão severa. A garota não era do tipo que grita de susto. [...] Yasuo procurava desesperadamente impedir. Se Hatsue lhe fugisse antes de consumar o ato, ela com certeza correria a contar tudo ao pai. Mas, se ele conseguisse o que queria, a moça talvez não se queixasse a ninguém. O rapaz adorava ler, em revistas baratas que comprava na cidade grande, as confissões de mulheres que haviam sido “subjugadas”. Era maravilhoso infligir aos outros agonias inconfessáveis. Com muito custo, Yasuo conseguiu imobilizar sua presa a um canto da fonte. Um dos baldes tombou e a água correu sobre o tapete de musgo. No rosto da garota, as narinas fremiam e o branco dos olhos arregalados brilhava à luz que vinha do poste. Metade de seus cabelos tinha-se molhado. Repentinamente, os lábios da moça se franziram e Yasuo sentiu um cusparada atingir-lhe o queixo. A reação atiçou o desejo do rapaz, que, sentido o peito arquejante da moça sob o seu, aproximou o rosto do dela. Neste exato momento, Yasuo soltou um grito e deu um salto. A abelha o havia picado de novo na nuca. (MISHIMA, 2002, p. 81- 82) Pesa sobre Mishima a acusação de que seria ocidentalizado demais. Também é lugar comum imaginar o escritor como um desvairado, descrito como aquele que está entre o Japão moderno e o antigo. Tal imagem, presente em biografias e no famoso texto de Marguerite Yourcenar (YOURCENAR, 2000, p. 11), é comum em outras redes discursivas. Yourcenar, por exemplo, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 161 gostava dessa oposição entre Ocidente e Oriente e a utilizou para descrever uma escultura ou a própria vida do imperador Adriano, um de seus mais famosos trabalhos. Lembramos também que o próprio Japão, nos livros de história escolares, nos filmes atuais e nas conversas de bar, é descrito como um país entre a tradição e o futurismo. No mesmo país convivem a alta tecnologia e o povo aino... De fato, pode parecer estranha, exótica, fantasmagórica ou simplesmente bela a convivência entre o antigo e o novo, mas a história do Japão mostra que isso faz parte de sua cultura e de sua formação. Mesmo durante o suposto “fechamento” de suas portas para o mundo, o país conseguiu elaborar técnicas próprias de fabricação de pontes, de prédios, estradas e diques que permaneceram em pé durante fortes terremotos, típicos da região do globo onde se encontra o país. Afora isso, já no século XIX, o Japão contava com uma das melhores frotas comerciais e de guerra do mundo, que venceu os poderosíssimos russos, em 1904, na famosa batalha de Tsushima. Se Mishima, como seu país, estava entre o passado e o futuro, talvez fosse hora de se voltar um pouco para sua tradição. Nota-se na vida de Mishima essa preocupação, ora paramentado como São Sebastião, na melhor tradição genetiana, ora paramentado como um samurai, embora não se afirme aqui que vivesse uma dualidade. A tradição japonesa tinha como exemplo máximo da escrita literária duas obras da passagem do século X para o XI: A narrativa de Gengi e O livro de cabeceira1. Ao mesmo tempo, as narrativas do budismo japonês, influenciadas pelas narrativas indianas, persas, chinesas, faziam parte de uma tradição oral muito difícil de abarcar. O texto de Mishima faria, então, uma ponte entre duas modalidades de escrita, de representação do mundo, porém o discurso de Mishima é absolutamente novo, diferente até mesmo dos mais modernos escritores que a tradição acadêmica elencou como grandes, entre eles Junichiro Tanizaki, Yonossuke Akutagawa e Yasunari Kawabata. De qualquer forma, se o texto de Mishima dialoga com os clássicos japoneses, convém fazer algumas considerações. É comum definir-se o texto de Sei Shonagon como algo entre o ingênuo e o elegante. As listas imensas, a preocupação com o vestuário e a quase obsessão pelos elementos naturais pode levar a esta definição, mas, ao pensar assim, não se mergulha na condição sociocultural da famosa escritora japonesa: uma mulher da corte, educada a escrever sobre a beleza que a 162 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 envolvia. Acostumados a ler os textos literários como os define a tradição ocidental, procuramos neles uma lógica definida por uma rede de discursos razoavelmente recente. O texto de Shonagon, para nós, está entre a narrativa de costumes, a memória pura e simples, o diário e ainda a investigação histórica. Porém, o conceito de “costume”, de “memória” e principalmente de “histórico” é criação do pensamento ocidental e Shonagon não teve contato com culturas ocidentais e, acreditamos, com sua rede de discursos. Seu universo era o do Japão, da China e da Coréia. Comparando-se o texto de Shonagon com o de um europeu da baixa Idade Média, temos uma idéia dessa diferença. A preocupação de Dino Campagni, por exemplo, era que seu texto trouxesse a verdade sobre os acontecimentos terríveis, segundo ele, que haviam assolado a Toscana. Ele, memorialista ou historiador, utilizou os ancestrais mecanismos textuais e discursivos dos historiadores europeus desde Herótodo: ter vivido os acontecimentos para poder narrá-los, para que a verdade viesse à tona. Campagni ainda se preocupou em estabelecer um território físico (descreve o quanto a Toscana é distante de Roma ou próxima a Milão) e um temporal, com o reinado de tal monarca e ainda o respectivo anno domini. A preocupação de Shonagon é absolutamente distinta. Não há a localização num tempo histórico, dado pela datação astronômica ou pela datação feita a partir de algum reinado em particular, exatamente como ocorre nas narrativas de sua tradição. A concepção histórica de Campagni é, obviamente, outra. No caso de Mishima, temos um diálogo com a tradição, mas Mishima não tenta copiar Shonagon ou Murasaki. Digamos que a forma enunciativa de seu discurso é muito semelhante ao das duas mulheres da Idade Média (aqui vale nossa medida histórica das coisas), no que se refere à preocupação com roupas e com a Natureza, muito em particular, mas os universos diferem imensamente. Se o universo de Sei Shonagon não tem a preocupação histórica que os textos ocidentais da época (e ainda os modernos), descreve a corte como um território mítico. De fato, muitas cortes o eram, representação do céu ou da morada dos deuses, mas esse campo discursivo é outro, complexo e, nesse momento, impenetrável. Mar inquieto é um romance de (ou sobre o) amor, como outros tantos textos conhecidos: Laila e Majnun, o texto da tradição persa, Eros e Psique, da tradição grega ou mesmo Romeo e Julieta, cujo relato foi um resgate da tradição Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 163 medieval por Shakespeare. Mas não é a narrativa ingênua que aparenta ser, principalmente se o comparamos com outro texto sobre o Oriente e sobre o amor, caso da famosa narrativa história de Pearl Buck sobre a última imperatriz da China. Ao mesmo tempo, como em outras tantas histórias de amor, descreve um triângulo amoroso (Hatsue, Shinji e Yasuo, com ainda um complicador, Chyoko, que ama Shinji.). Mas há diferenças bastante interessantes entre Mar inquieto e demais narrativas de amor. De fato, no texto de Mishima, o amor é incondicional e os amantes são valorosos a ponto de não haver no mundo outro que correspondesse àquele amor puro e irrestrito, mas num escritor que havia descrito os subterrâneos de Tóquio, entre a “decadência como triunfo”, que seria uma idéia sartreana, e “o amor como sacramento”, que seria um discurso comum a Wilde 2, há uma estranheza incômoda em algum lugar. Primeiramente, Mishima não copia as narrativas de amor tradicionais (como as citadas) e não copia as narrativas modernas (como a de Pearl Buck). Ao mesmo tempo, sabemos, há uma espécie de vilão na figura de Yasuo, mas ele não chega a atrapalhar de vez a relação amorosa dos protagonistas, como se poderia esperar de um romance romântico, por exemplo, ou de uma narrativa popular. Uma leitura atenta mostra ainda que existe um Japão que acena de muito perto para a população da ilha: é o Japão do mundo moderno do pós-guerra, cujos gritos estão abafados pela presença do exército americano, mas cujo empenho em crescer é muito forte. Perceba-se também que as abelhas são despertadas por um relógio demasiadamente moderno para um ilhéu dos anos 50. De fato, na narrativa, os demais ilhéus, ao pegarem uma barca, vão para outro mundo, como é o caso da estudante que ama Shinji, Chyoko, também ela quase aliegínena, cuja fraqueza talvez tenha sido a de deixar-se influenciar por outro mundo, que coexiste ainda pacificamente. É de se supor que tal situação pacífica não perdure, mesmo que haja amores puros e corpos naturalmente belos nas entranhas da ilha, vivendo idílicas relações amorosas, eróticas ou filiais. É possível que haja uma corrupção vinda da cidade grande, mesmo que os deuses ainda possam manifestar-se para os bons ou para os fiéis. Na ilha, prevalece a prática de um xintoísmo antigo, ainda não maculado pela presença veneranda do budismo, mesmo que no texto de Mishima se observem influências de narrativas da tradição zen. Hatsue é devota, assim como Shinji. A crença de ambos tem resposta na natureza: a) com a ação 164 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 dos ventos que trazem respostas para suas dores, b) e principalmente com a atuação da abelha, que livra Hatsue da desonra. Ao mesmo tempo, a aparição miraculosa da abelha não deixa de ter laços com outra tradição dos textos japoneses, um certo humor, com matiz estranho para os padrões ocidentais, mas radicalmente presente em filmes e desenhos de animação japoneses. Poderíamos dizer que a narrativa de Mishima ocorre num espaço ahistórico (ou a-temporal), como o de Shonagon, ou ainda mítico, como é o caso das narrativas zen, mas não é o que ocorre. Ou Mishima tinha a intenção de criar tensão opondo dois universos, o mítico/antigo/a-histórico com o moderno ou foi sutilmente irônico, simplesmente. A favor da segunda hipótese está a comparação com suas duas obras anteriores, já citadas. Outras obras mais recentes − dentre tantas − trazem para o mundo contemporâneo situações míticas de narrativas antigas: pensemos no caso de Naguib Mahfuz e de Salman Rushdie, como exemplos. Isso não faz de Mishima um precursor de tal recurso, mas o posicionaria num rol de escritores cuja ironia em polemizar o discurso mitológico, mítico ou religioso, é notória. A abelha, provocada pelo relógio, que acaba por salvar Hatsue, se não é de nosso gosto humorístico (por ser absurda, ridícula ou inocente em demasia), é o tom central da narrativa de Mishima. Entre o ingênuo e o elegante Em Murakami, a presença do estranho em relação ao real, difere terrivelmente. Vejamos um trecho de seu romance: São dois mundos diferentes, percebi. Esse é o elemento comum aqui. Documento 1: Relaciona-se ao sonho que Sumire teve. Ela está subindo uma longa escada para ir ao encontro da mãe morta. Mas, no momento em que chega, sua mãe está retornando para o outro lado. E Sumire não consegue detê-la. E ela é deixada no topo de uma torre, cercada de objetos de um mundo diferente. Sumire teve vários sonhos semelhantes. Documento 2: Esse refere-se às experiências estranhas que Miu teve há quatorze anos. Ela ficou presa, durante uma noite inteira, na roda-gigante de um parque de diversões em uma pequena cidade suíça e, ao olhar com Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 165 o binóculo para seu próprio quarto, viu um segundo eu lá. Um doppelgänger. E essa experiência destruiu Miu como pessoa – ou, pelo menos, tornou palpável essa destruição. Como Miu colocou, ela foi dividida em duas, com um espelho entre os dois eus. Sumire tinha convencido Miu a contar a história e a transcrever na melhor forma de que foi capaz. Este lado – o outro lado. Esse era o fio comum. O movimento de um lado para o outro. Sumire deve ter sido motivada por isso, e o bastante para passar tanto tempo o transcrevendo. Usando suas próprias palavras, escrever tudo isso a ajudava a pensar. O garçom veio limpar os restos de minha torrada, e eu pedi mais um copo de limonada. Com muito gelo, eu disse. Quando ele trouxe o refresco, bebi um gole e usei o copo, de novo, para refrescar a testa.”E se Miu não me aceitar, o que vai ser?” Sumire tinha escrito. Pensarei nisso quando for a hora. Sangue deve ser derramado. Afiarei minha faca, deixá-la pronta para cortar a garganta de um cachorro em algum lugar.” O que ela estava tentando transmitir? Estaria insinuando que poderia se matar? Eu não podia aceitar isso. Suas palavras não exalavam o cheiro acre da morte. O que eu sentia era mais a vontade de seguir adiante, de lutar por um recomeço. Cachorros e sangue são apenas metáforas, como eu tinha lhe explicado naquele banco do parque Inogashira. Eles extraem seu significado das forças mágicas vitais. A história sobre os portões chineses era uma metáfora de como uma história captura essa mágica. Pronta para cortar a garganta de um cachorro em algum lugar. Em algum lugar. Meus pensamentos chocaram-se contra uma parede sólida. Um impasse total. Aonde Sumire poderia ter ido? Há algum lugar, nesta ilha, a que ela precisava ir? (MURAKAMI, 2003, 185 – 186) O caso de doppelgänger (a aparição de uma mesma pessoa em dois lugares) não é da tradição japonesa, embora haja nos relatos do Japão um sem número de aparições de fantasmas e seres “de um outro mundo”. Temos em Murakami mais uma história de amor e ambém um triângulo, entre o professor sem nome, Sumire e Miu. Nos textos de apresentação da obra de Murakami, também há uma espada que pende sobre a cabeça do escritor: ele é descrito como um autor 166 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 pop, como se o adjetivo classificasse sua obra como um todo e desse conta de sua complexidade. O caso de amor de Murakami, se não chega a ser novidade no universo literário, é curioso. Sumire ama Miu, mas não tem certeza disso, e essa é a primeira estranheza. O professor sem nome ama Sumire, mas não é correspondido. Miu, por sua vez, tem relação estreita com ambos, mas se diz incapaz de amar. Transitam tais personagens num território de esterilidade: não têm família, não sabem como tratar o amor, não são correspondidos, estão perdidos no universo da modernidade (ou da pós-modernidade), em que é possível atravessar o mundo em apenas um dia, mas é impossível entender situações muito simples, como o desejo do outro de fumar um cigarro. É um universo repleto de informações e de grifes famosas, de vinhos caros e de quartos de hotel, porém o brilho das marcas famosas é ofuscado pela melancolia e os quartos de hotel são vazios e tristes. Murakami também estende seu enredo até o terreno das narrativas policiais. Repentinamente, o leitor se vê enredado com um relato de desaparecimento e precisa encontrar respostas por vezes indigestas, como é o caso do relato de doppelgänger e ainda como o próprio desaparecimento de Sumire. Se nos interessasse a acusação de ocidentalização contra Mishima, poderíamos acusar Murakami também disso. Sabemos que é fácil derrubar tal discurso, bastando fazer a pergunta: o que é ocidental? Mas Murakami mereceria mais a fatídica condenação, pois dialoga abertamente com escritores do Ocidente. Porém, qualquer estudioso atual de Literatura sabe que diálogos desse tipo já eram presentes nas obras de Mishima, Akutagawa ou Tanizaki e que os escritores (nomes não muito adequado para eles) do medievo japonês dialogavam abertamente com textos da tradição chinesa principalmente, sendo exemplo disso os próprios textos memorialistas de Murasaki e Shonagon. Ocorre que o Japão de Murakami é um país da pós-modernidade, não no sentido corrente desse “pós” e sim com uma sociedade para muito além da modernidade. Após o milagre de sua economia na segunda metade do século XX e após o crescimento recorde ocorrido nos anos oitenta do século anterior, o Japão vive um período de estagnação, os habitantes do Japão são outros, enfim, e vivemos um mundo diferente do de Mishima. No caso de Murakami, enquanto a Europa nos anos 1980 se debruçava sobre as descobertas do mundo yuppie, o escritor japonês já mostrava o marasmo que o consumo Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 167 desenfreado e o mundo perverso do excesso traziam consigo: numa cena de Caçando carneiros, os estudantes de uma universidade assistem pela TV notícias da morte de Yukio Mishima (que ocorreu em 1970), mudos, sem sequer desejarem saber do que se trata. A morte do escritor, que cometeu seppuku, o suicídio ritual, foi um trauma nacional e repercutiu pelo mundo todo, mas em seu próprio país, os jovens nada queriam saber do ritual ou de suas conseqüências. Costuma-se dizer que o Brasil é um país de contrastes violentos, mas o Japão poderia carregar consigo este lugar-comum de modo igualmente eficaz. Sumire aprendeu literatura ocidental (em detrimento, talvez, da oriental), mas sua vida não melhorou após Baudelaire e Rimbaud, leituras obrigatórias em sua faculdade. Cidadã de um país conhecido pela riqueza, ela é pobre e vive mal. O trabalho que Miu lhe oferece é alternativa para que possa sustentar-se. Miu é rica porque conseguiu as benesses possíveis do universo capitalista e um casamento por conveniência, que lhe trouxe dividendos. Mas a literatura de Sumire e o dinheiro de Miu de nada valem se não sabem para onde ir, pois seu universo é um labirinto, cujas saídas reconhecem, mas para as quais não encontram escolha. O trecho escolhido nos mostra o momento em que o professor faz um pequeno dossiê do emaranhado de situações que tem à frente. Está num país estranho, a Grécia, cuja língua não domina, quente, à beira do Mediterrâneo, e com pouco tempo para descobrir o paradeiro de Sumire. Ele tenta reconstruir os passos de Sumire por documentos escritos e por gravações e ainda tem em mente os diálogos que teve com Miu. Tenta desesperadamente desatar um nó górdio ou ainda desesperadamente atar pontos de várias linhas aparentemente distantes o bastante para jamais se encontrarem. Rudimentarmente, faz análise psicanalítica dos sonhos de Sumire e tenta desvendar como o suposto caso de doppelgänger teria a ver com sonhos e metáforas. No início da narrativa, o professor tentara explicitar a Sumire a diferença entre símbolo e signo, em vão, para ambos. E nesse momento reside a grandeza de Murakami: perceber que entre as mais fortes redes discursivas do século XX não há respostas. Em Mishima, é forçoso dizer que há respostas, o que não diminui o interesse de sua obra, evidentemente. Num outro texto, da década de 1960, Mishima retomou a história dos homens que trabalham no mar. Dessa vez, descreveu parte da 168 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 vida de Ryuji, que, ao abandonar o mar, encontrou o ódio de um enteado. A descrição de tal ódio e a investigação de Mishima sobre as relações familiares são devastadoras em O marinheiro que perdeu as graças do mar. Se Mar inquieto provoca espanto em relação às obras anteriores, em comparação com as posteriores parece absolutamente deslocada, o que faz aumentar o interesse por ela. Se Mishima ironizava o encontro entre o Ocidente e o Oriente, entre mundo moderno e mundo antigo, Murakami segue o mesmo caminho, levando-o ao extremo. Não apenas desloca fisicamente suas personagens das ilhas japonesas, como os posiciona frente a frente com uma realidade estranha, que muitas vezes beira o absurdo. Se o conhecimento ocidental não resolve a vida dos próprios ocidentais, não é o conhecimento ocidental que resolverá os dilemas dos japoneses. Não há, também, intervenção divina que possa trazer, para o professor, Sumire de volta, assim como nenhum discurso científico, religioso ou político revelará a complexidade de Miu. Murakami faz parte de outro grupo de escritores, como Kazuo Ishiguro, cuja primeira obra é a única do escritor a tratar do Japão em particular, do Japão pós-guerra, como antes dele fizeram escritores do quilate de Masuji Ibuse. Em Um artista do mundo flutuante, Ishiguro discute o dilema de um pintor acusado de compactuar com o regime de ultra-direita japonês. Após a publicação de tal trabalho, Ishiguro, que escreve em inglês, passou a se preocupar com seu novo país, a Inglaterra. De qualquer forma, Murakami participa, sem querer, de um grupo de desterrados cosmopolitas. São autores que geralmente ou abandonam seu país ou adotam língua estrangeira, caso de Michael Ondaatje e Jhumpa Lahiri. A lista é grande e vale um texto novo. Ocorre que Murakami é desafiador como Mishima, que evidencia em cada texto primeiramente a experimentação e depois a ironia à burocracia de cada lugar-comum a ele imposto. Murakami, em particular, pode não lançar mão da elegância da tradição da literatura japonesa, mas de ingênuo seu discurso tem muito pouco, pois ele se serve das formas enunciativas pré-concebidas de outros discursos para, a partir deles, estabelecer um discurso da dúvida. Ambas as obras escondem em suas fímbrias os elementos-chave para uma possível descoberta de suas maiores preocupações: numa narrativa amorosa aparentemente ingênua, Mishima insere uma abelha despertada por um relógio, enquanto Murakami lança mão de um caso de doppelgänger ou de Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 169 uma discussão saussureana para mostrar os meandros do discurso amoroso. Tais manifestações discursivas fazem destes dois autores dois grandes representantes dos dilemas modernos e autores que aguardam, ainda, investigações de fôlego. Notas 1 Para este trabalho, foram tomadas como base as seguintes edições: MURASAKI, Shikibu. The tale of Genji. Trad. para o inglês de Edward G. Seindensticker. New York: Vintage Classics Edition, 1990 e SHONAGON, Sei. The pillow book. Trad. para o inglês de Ivan Morris. Londres, Oxford University, 1967. 2 Nas palavras de Oscar Wilde, cujo destino já foi citado: “o amor é um sacramento que deveria ser recebido de joelhos, com as palavras Domine, non sunt digno, nos lábios e no coração”. Cf. WILDE, Oscar. De profundis. Trad. de Júlia Tettamanzy e Maria Ângela Saldanha Vieira REFERÊNCIAS CAMPBELL, Joseph. O poder do mito. São Paulo: Palas Athena, 1996. COMPAGNI, Dino. The Chronicle of Dino Campagni. Trad. para o inglês de Else C. M. Benecke. Londres: Aldine House, 1906. MISHIMA, Yukio. Confissões de uma máscara. Versão e apresentação de António Mega Ferreira. 3° ed. Lisboa: Assírio e Alvim, 1995. ________. Cores proibidas. Trad. de Jefferson José Teixeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. ________. Mar inquieto. Trad. de Leiko Gotoda. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. ________. O marinheiro que perdeu as graças do mar. Trad. de Waltencir Dutra. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 170 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 MORRIS, Ivan. The Pillow Book of Sei Shonagon – A Companion Volume. Londres: Oxford University Press, 1967. MURAKAMI, Haruki. Minha querida sputnik. Trad. de Ana Luiza Dantas Borges. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. ________. Caçando carneiros. Trad. de Leiko Gotoda. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. MURASAKI, Shikibu. Diary and Poetic Memoirs. Trad. para o inglês de Richard Bowring. New Jersey: Princepton University Press, 1982. ________. The Tale of Genji. Trad. para o inglês de Edward G. Seindensticker. New York: Vintage Classics Edition, 1990. PLATÃO. O banquete – diálogos. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: Edufpa, 2001. SARTRE, Jean-Paul. Saint Genet – ator e mártir. Trad. de Lucy Magalhães. Petrópolis: Vozes, 2002. SHONAGON, Sei. The Pillow Book. Trad. para o inglês de Ivan Morris. Londres: Oxford University, 1967. SPENCER, Colin. Homossexualismo, uma história. Rio de Janeiro: Record, 1999. WILDE, Oscar. De profundis. Trad. de Júlia Tettamanzy e Maria Ângela Saldanha Vieira de Aguiar. Porto Alegre: L & PM, 1998. YOURCENAR, Marguerite. La vision du vide. Saint-Armand: Gallimard, 2000. Artigo recebido em 02.04.2008. Artigo aceito em 19.07.2008. Benedito Costa Neto Filho Doutor em Letras pela Universidade Federal do Paraná. Professor do Curso de Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 171 172 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 SOMBRAS E FANTASMAS DA GRANDE GUERRA SOB O OLHAR DE AUGUSTO ROA BASTOS Naira de Almeida Nascimento [email protected] RESUMO: O trabalho discute o estatuto da representação a partir de duas narrativas de Augusto Roa Bastos, incluídas em O livro da Guerra Grande (2002), composto por textos de quatro autores sul-americanos e que apresentam como tema a Guerra do Paraguai (1865-1870). As narrativas, no lastro de Jorge Luis Borges, questionam o poder da representação artística e os limites da criação através do confronto com fontes documentais, como é o caso das Cartas dos campos de batalha do Paraguai (1870), de Richard Burton, ou ainda no diálogo da literatura com a pintura, tal como ocorre na ficcionalização de Cándido López. Objeto de discussão desde Platão e Aristóteles, o estatuto ficcional vem conquistando um lugar central na reflexão contemporânea. ABSTRACT: This article discusses the concept of representation by way of two narratives by Augusto Roa Bastos, included in O livro da Guerra Grande (2002), which is composed of texts by four South American authors which present the Paraguayan War (1865-1870) as their theme. These two narratives, following Jorge Luis Borges’ style, question the power of artistic representation and the limits of creation through the confrontation of documental sources, as is the case of Cartas dos campos de batalha do Paraguai (1870), by Richard Burton; this questioning is further extended to the dialogue betweeen literature and painting, as seen in Cándido López’s fiction. The concept of fiction, which has become an object of argument since Plato and Aristotle, has been conquering a central place in contemporary thought. PALAVRAS-CHAVE: Ficção contemporânea. Augusto Roa Bastos. Guerra do Paraguai. Ficção histórica. Metalinguagem. KEY WORDS: Contemporary fiction. Augusto Roa Bastos. Paraguayan War. Historical fiction. Metalanguage. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 173 A Grande Guerra ou Guerra do Paraguai (1865-1870) opôs paraguaios a brasileiros, argentinos e uruguaios em pleno século XIX na mais célebre guerra sul-americana. Sua relevância na sócio-política e na economia desses países, em especial o Paraguai, que dela saiu completamente arrasado, mas também o Brasil pela configuração política brasileira, com a derrocada do Segundo Império, e social, através da formação de uma classe militar e do tensionamento do elemento negro numa sociedade escravista, já justificam a revisão do fato historiográfico. Além desses fatores, a integração proporcionada pelo Mercosul coloca em evidência nos últimos anos os laços entre os países do cone sul e reabilita a reflexão sobre o acontecimento que até os nossos dias sustenta traumas antigos e disputas apaixonadas. É sobretudo por meio desse viés que a literatura vai interagir. A ficção contemporânea vem demonstrando seu interesse pelo tema ao colocar em jogo projetos bem variados de formas representacionais. Um deles é oferecido pela leitura do conjunto intricado de textos que compõem O livro da Guerra Grande (2002). Contando com a participação de autores oriundos dos países envolvidos na guerra, a reunião prima pelo diálogo ficcional entre perspectivas originalmente antagônicas. Augusto Roa Bastos, pelo Paraguai, assina duas narrativas bem diferentes entre si, Em frente à frente argentina e Em frente à frente paraguaia. Alejandro Maciel, argentino, é o autor de Fundação, apogeu e ocaso do Quilombo do Gran Chaco, enquanto Omar Prego Gadea, do Uruguai, responde pelo texto Os papéis do general Rocha Dellpiane. Por último, o brasileiro Eric Nepomuceno, autor de Um barão não mente, envelhece. Enquanto o título original em espanhol, Los conjurados del Quilombo do Gran Chaco, privilegia o argumento definido como central pelos seus integrantes, a tradução brasileira opta pelo destaque da guerra em si, fixando a forma denominativa que induz a uma perspectiva de leitura sobre o evento. Vale lembrar que a leitura revisionista procurou ressaltar a denominação de “Grande Guerra”, em lugar de Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, como forma de reivindicar a perspectiva guarani. Outro dado não menos importante talvez explique a tradução. A palavra “quilombo” em espanhol comporta outras conotações mais próximas, como “desordem”, “escândalo”, “prostíbulo”. Todos os textos estão entrelaçados à idéia da construção de uma 174 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 sociedade alternativa aos modelos impostos pela guerra e que congregava civis e militares provenientes daqueles países. A sugestão do tema parece pertencer a Richard Burton, no livro Cartas dos campos de batalha do Paraguai (1870). Publicado na Inglaterra após ter servido como diplomata do governo britânico no Brasil, o livro assemelha-se a um diário de viagem. As cartas de Burton são dirigidas a um misterioso “caro Z...”, interpretado normalmente pela crítica como a rainha da Inglaterra. Dentre as inúmeras descrições da viagem que empreendeu entre o Rio de Janeiro e Assunção, oferecendo uma descrição minuciosa pelo trajeto, como Montevidéu, Buenos Aires, Paissandu, Rosário, Corrientes e Humaitá, Burton faz uma pequena referência a um possível quilombo: “...diz-se até que existe no Gran Chaco um enorme quilombo, ou colônia de desajustados, onde brasileiros, argentinos, uruguaios e fugitivos paraguaios convivem em amizade mútua e em inimizade com o restante do mundo” (BURTON, 1997, p. 365). E é o próprio autor das Cartas..., Richard Burton, que se converte num dos principais personagens na trama rocambolesca da coletânea. Produto ficcional que nada fica a dever a seu fascinante currículo: Ele explorou as nascentes do Nilo; foi um dos primeiros ocidentais a penetrar na proibida Meca; passou por faquir na Índia; foi expulso de Oxford por se envolver em duelos; era fluente em 29 línguas e dialetos, traduziu As mil e uma noites do árabe, o Kama Sutra do sânscrito, Os Lusíadas de Camões; estudou esoterismo, cabala, alquimia, teosofia, espiritualismo, catolicismo, islamismo; criou a expressão “percepção extra-sensorial”; como agente secreto disfarçado de diplomata foi peça importante na disputa entre o Reino Unido e a Rússia pela Ásia, no século XIX. Esses foram apenas alguns dos feitos de sir Richard Francis Burton, que serviu no Brasil de 1865 a 1868. Cônsul britânico em Santos, morou em São Paulo, visitou o Rio de Janeiro, viajou pelas províncias de Minas Gerais em busca de ouro e diamantes, desceu o rio São Francisco até a cachoeira de Paulo Afonso e percorreu o teatro de operações da Guerra do Paraguai, enviando informes de primeira mão à Inglaterra. (MUGGIATI, 2005, p. 76-79) Considerando a extensão limitada do artigo, optamos pelo enfoque aos dois textos de Augusto Roa Bastos. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 175 Em frente à frente paraguaia: fantasmas revisitados Invertendo a ordem original do livro, que antecede esse texto por Em frente à frente argentina, pretendemos com a seguinte lógica atentar para um outro possível ponto de partida para o volume. O texto intitulado como Em frente à frente paraguaia compõe um romance do autor falecido em 2005. Tratase de El fiscal, de 1993. Como o texto mais antigo do conjunto, não nos parece improvável que ele tenha ressurgido quando o tema da reunião entre seus autores se revelou como o da Guerra do Paraguai. Vislumbramos, quem sabe, nesta atitude também uma homenagem de seus pares ao veterano escritor. Estabelecemos este ponto de partida também devido à impressão de pouca familiaridade do texto com os moldes ficcionais. A feição mais próxima a ele é a do ensaio. De fato, uma nota de pé de página esclarece o leitor sobre sua composição a partir de fragmentos retirados do romance de 1993 (ROA BASTOS, 2002, p. 55). O seu ritmo, às vezes, parece obedecer apenas à associação livre de imagens. Pode-se até mesmo concluir que, muito mais do que na diegese, o acento recai quase exclusivamente na impressão causada neste suspeito narrador pelas estranhas personagens desta guerra e as fortes imagens relacionadas a ela: Burton, Lynch, Solano López, o balão observador, Cándido López e o Padre Fidel Maíz. Do mesmo modo que a patética cena da condecoração de López aos cerca de trinta oficiais praticamente no leito de morte de Cerro-Corá o perturba: “Algum cronista esquecido menciona este fato mínimo, incrível, verdadeiramente fantástico, das condecorações aos trinta fantasmas em meio ao terrível fragor da hecatombe. Todo ato extremo está feito de símbolos. O homem busca o absoluto na cúspide da glória ou no monturo da miséria mais extrema” (ROA BASTOS, 2002, p. 95). É também esta a peça do “romance a oito mãos” (ROA BASTOS, 2002, p. 10), conforme sentencia Alejandro Maciel, que mais se detém no autor das Cartas dos campos... Roa Bastos não se mostra indiferente aos dotes literários de Richard Burton nem a sua aura romântica. No entanto, constrói um texto que a princípio os coloca à parte. Evoca, assim, a singular neutralidade do observador e a sua imparcialidade na análise da disputa na Região do Prata: “...Cartas dos campos de batalha do Paraguai, muito inferior aos 176 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 outros [livros do autor] em qualidade literária e magia criativa, mas superior a todos eles como crônica do holocausto de um povo.” (ROA BASTOS, 2002, p. 56). Ressalta, diferentemente do que se previa, a sobriedade e a diplomacia de Burton. Na ficção de Roa Bastos, Burton servia como intermediário de D. Pedro II para acordar a paz com Solano López, o presidente paraguaio à época, tarefa em que não logrou êxito. Transcreve numerosos trechos das Cartas... de Burton, denunciando, principalmente, o trágico fardo imposto à pequena nação paraguaia. Solano López impressiona a este Burton de Roa Bastos não só pelos seus excessos mas também por suas atitudes de gentleman. Este discurso que se desenha, por onde a leitura revisionista é anunciada, na acusação do interesse comercial britânico ao insuflar o Brasil contra o pequeno mas potente país americano, vai sendo minado pela confissão do narrador. Já logo de início, ele levanta a dúvida sobre o testemunho de Burton: Em alguns momentos não se sabe se sir Richard está relatando o que realmente viu ou se está traduzindo em palavras, necessariamente mais pobres que as imagens, e como que ligeiramente deformadas, as visões delirantes de Cándido López, o pintor da tragédia. Burton viu e admirou esses quadros que iam saindo “do natural”, mas também de uma visão de além-túmulo; chegou a ver Cándido López ser pintado, sentado entre os mortos, no final de uma batalha. “Parecia um surdo-mudo ou um sonâmbulo completamente fora do mundo real”, escreve em uma de suas cartas (a décima terceira), totalmente dedicada ao pintor. (ROA BASTOS, 2002, p. 58) E é no capítulo das transcrições que se iniciam as agruras do leitor. As transcrições e citações às cartas de Burton normalmente remetem, como no exemplo acima, à sua numeração no volume original. Contudo, tal indicação não confere com os capítulos da edição de Cartas... A princípio, o leitor dirige sua dúvida para as diferentes edições ou, quem sabe, para algum problema na tradução. Até concluir que se trata de dois livros distintos. Onde andará este segundo livro citado pelo narrador de Roa Bastos? É com o desdobrar dos acontecimentos, que intuímos a estratégia do texto, a de tentar adentrar no universo resgatado por Burton, através da sua tradução das Mil e uma noites. Lembremo-nos que o “livro das Arábias” Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 177 também enfrenta uma disparidade de versões, sendo algumas de suas mais famosas noites produto de intercalações ao longo do tempo. O dado biográfico de Burton e o texto ficcional de Roa Bastos, aparentemente ensaístico, ou vice-versa, passam a se confundir. O desenvolvimento volta-se para o arremedo de uma Xerazade às avessas, diante de um leitor ainda crédulo do discurso perpetrado pelo narrador. Desviando o trajeto de sua viagem daquele descrito na versão original, Burton dirige-se ao acampamento paraguaio, que, também pelo nomadismo da experiência, aproxima-se dos cenários desérticos do Oriente dos contos evocados. Lá, o autor inglês trava contato com o casal López, desfruta da sua hospitalidade e se torna amigo e admirador de Mme. Lynch, esposa do ditador. Como se tratasse de matéria onírica, o fantasma de Burton se interpõe entre Solano López e a esposa. Assim, a imagem de Lynch vai seduzindo também o leitor: Burton dedica um longo parágrafo ao toucado, às jóias, às maneiras refinadas de anfitriã de Madame Lynch nas tertúlias do acampamento, que faziam esquecer a guerra e transportavam na imaginação a cena, que se passava na selva selvagem, ao ambiente cortesão de Paris. Destaca ironicamente o constraste entre a grande dama da corte durante a noite e sua postura de amazona durante o dia, suas ordens na veludosa voz de contralto, idêntica à maravilha de seu corpo, seus briosos galopes na faxina bélica, envolta em seu uniforme da marechala, cor de folha seca, chapéu bicorne de cetim preto, altas botas envernizadas de granadeiro e sua sombrinha com cabo de ouro, engastado de fina pedraria, que empunhava ao sol e à sombra. Cavalgando, levava-a pendurada em seu cinturão como um espadim de ouro embainhado em alvo cetim. (ROA BASTOS, 2002, p. 66) A descrição de Solano já é bem menos generosa. Atacado por terríveis dores de dente, ele aparece enfaixado por um lenço vermelho a prender-lhe a mandíbula, “do qual flui um fio de baba manchado de tabaco” (ROA BASTOS, 2002, p. 67). Prevendo já os recursos narrativos lançados, o narrador ironicamente ajuiza: “A prosa de Richard Francis Burton esquecia, às vezes, o tom descritivo e jovial dos viajantes ingleses e se inflamava de um arrebatamento trágico de segunda mão.” (ROA BASTOS, 2002, p. 63). 178 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Tendo sido acusado como um pervertido pelas traduções do Kama Sutra, Ananga Rana, O jardim perfumado, além das Mil e uma noites, em plena época vitoriana, a narrativa aproveita para reforçar o caráter femeeiro de Burton e até criar um ambiente passional: “...autor de quase uma centena de livros, a metade dos quais sua mulher, lady Isabel, destruiu e queimou com sanha implacável” (ROA BASTOS, 2002, p. 56). Ao final de um exuberante jantar, “a noite das noites” , La Lynch pede que Burton conte algumas histórias das Mil e uma noites, enquanto o marido, “vencido pelo sono, começou a roncar, sacudido de tanto em tanto por tremores palúdicos” (ROA BASTOS, 2002, p. 70). A narrativa esbanja sensualidade: Inventei outros relatos mais intencionados e picantes em uma delicada gradação. Sentia que ia penetrando em terreno minado, mas não podia nem queria voltar atrás. Não podia esquecer aquela manhã em que, passeando pelo acampamento, surpreendi Madame Elisa saindo nua do banho, assistida por suas criadas, na improvisada tenda de asseio levantada entre copudas árvores. Eu estava vivendo interiormente a aventura de outra história que não pertencia ao Livro das Noites; uma aventura na qual o risco da sedução era seu maior incentivo. (ROA BASTOS, 2002, p. 71) Ciente de que toda a tradução constitui também uma versão, o narrador delega a Burton a responsabilidade autoral, “o autor das Noites” (ROA BASTOS, 2002, p. 68). A história contada embriaga até mesmo o seu narradorautor: “Parei um instante, embargado pela originalidade do imprevisto achado narrativo (a narradora [Xerazade] transformada em personagem de um conto desconhecido para ela, de uma história que não está no Livro)” (ROA BASTOS, 2002, p. 72). Em vez do rigor e da neutralidade do observador europeu, apregoadas no início, o narrador admite: “Burton era um hábil manipulador do subterfúgio narrativo. Tinha a arte da insinuação capciosa na maneira de dizer que diz pela maneira. Seria razoável, entretanto, não se fiar excessivamente das parolagens do cônsul” (ROA BASTOS, 2002, p. 73). Diante da possibilidade de passar de um fantasma entre Solano e Elisa, modificando os rumos da História, o Burton de Roa Bastos não logra seus intentos com a primeira dama, diferentemente da espectral Xerazade. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 179 No entanto, a investida deixa seus frutos. Enquanto Burton narrava as histórias, os serviçais usufruíam secretamente da audição. O narrador questiona sobre ter sido esse o principal feito de Burton em relação ao Paraguai: “servir de ponte pela qual as histórias das Noites do Oriente passaram para o imaginário coletivo paraguaio, por meio das criadas da marechala” (ROA BASTOS, 2002, p. 74). Histórias que sofrem modificações nas futuras narrações. Nada mais natural para Burton que acredita num “único mito de origem que se bifurca e que atravessa, em constante mutação e proliferação de narrativas, as culturas de todos os povos e de todos os tempos” (ROA BASTOS, 2002, p. 74). Do fascínio de Burton por Lynch, a narrativa desloca-se para a imagem do balão dirigível brasileiro e de sua captura pelas forças paraguaias. Descrevea como uma das últimas conquistas paraguaias. A ela associa-se Cándido López que pintou uma tela sobre o tema. O artista argentino torna-se ao lado de Burton outra testemunha histórica: “Há um testemunho irrefutável desta façanha, que não é uma invenção do obnubilado sir Francis” (ROA BASTOS, 2002, p. 77). O epílogo trágico da guerra, a que a captura do balão marca o início, caminha paralela à degeneração sofrida ficcionalmente pelo pintor. Além da perda do braço direito, episódio retratado por sua biografia, Cándido López torna-se a imagem do sacrifício humano. Perde também o braço esquerdo, “que já começava a ser destro” (ROA BASTOS, 2002, p. 79), por um estilhaço de obus. Logo a seguir, é a vez das pernas. À maneira de um Quasímodo, ainda assim insiste na sua arte: “Aprende a pintar com o pincel preso entre os dentes” (ROA BASTOS, 2002, p. 79). O seu drama é identificado ao povo paraguaio: “Cándido López pintou em quadros memoráveis a tragédia da guerra, mas seu próprio corpo era o comentário mais terrível dela” (ROA BASTOS, 2002, p. 78). A agonia paraguaia faz-se pretexto para o enfoque dos últimos dias do império de Solano López. O clima é fantasmagórico: López condecora com insígnias de latão seus últimos oficiais; o Padre Fidel Maíz sugere ao presidente, a exemplo de Júlio César, a inclusão de mais um dia no calendário de fevereiro; o conde pianista que executa, a mando de López, as mazurcas e polonesas em plena selva, como meio de incentivar o fiapo da tropa paraguaia. Por fim, prepara-se o confronto sob as cores de um exótico misticismo: “No acampamento brasileiro ferve ruidosa a macumba invocando 180 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Exu. Oficia de ´sacerdote´ o cabo, jogador de capoeira e cavaleiro de circo, o mulato Chico Diabo, a quem o Grande Xangô, Exu e outras divindades afro-brasileiras untam com os óleos selvagens do Grande Poder” (ROA BASTOS, 2002, p. 86). As representações finais da guerra, apesar de não destoarem do consagrado pela historiografia, são captadas por um filtro que distorce a imagem, a exemplo do onírico, na forma de um pesadelo. As sugestões ficcionais são atribuídas mais uma vez a Burton: “É preciso voltar ao livro do tradutor das Mil e uma noites para conhecer um pouco mais alguns dos estranhos personagens da Guerra Grande” (ROA BASTOS, 2002, p. 88). Um deles é a polêmica figura do Padre Fidel Maíz, que conclamou a Prostituição Patriótica durante a guerra: “Em sua degradação, em seus crimes, em seu pecados, é o anti-herói mais puro e virtuoso do Paraguai” (ROA BASTOS, 2002, p. 92). Novamente Cándido López torna-se objeto das reflexões do narrador. Mediante as diferenças que marcam a sua pintura em duas fases distintas, o narrador aventura a hipótese do duplo: “Toda realidade simbólica pode desdobrar-se em múltiplas e diferentes configurações. Algumas delas são as lendas que são capazes de gerar. A propósito de Cándido López, pintor e guerreiro da Tríplice Aliança da Argentina, Brasil e Uruguai, existe em meu país uma versão legendária de outro pintor chamado também Cándido López” (ROA BASTOS, 2002, p. 94-95). Havia, assim, um pintor argentino dedicado a representar a guerra do Paraguai e outro cuja vocação era testemunhar a destruição do país vencido. O tema do duplo em López ilumina a estranheza causada pelos livros diferentes de Burton. Um marcado pelas qualidades da crônica histórica. O outro, “pela delirante fantasia criativa, muito superior à simples tradução do Livros das Noites” (ROA BASTOS, 2002, p. 88). Curiosamente, Roa Bastos oferece um texto que evidencia claramente várias estratégias ficcionais utilizadas em larga escala por Jorge Luis Borges, comentador de Burton e admirador do trabalho de Cándido López, tais como o tom ensaístico na ficção, o tema do duplo e do livro único, a indefinição e amálgama entre as matérias históricas e as apócrifas e o maravilhoso muitas vezes associado ao longínquo, como o Oriente. Além disso, vigora continuamente aquele jogo entre o fictício e o factual. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 181 A princípio, constrói-se uma idéia de verossimilhança que é ironicamente rompida. Mas, para desespero do leitor, o que aparenta ser mais fictício é o que pode ser comprovado, como a caracterização de Burton e a carbonização de seus escritos pela esposa (RICE, 1991, p. 488-492). O que leva à conclusão de que tudo que aparenta ser fictício possa ser também factual. Daí o teatro de sombras montado por Roa Bastos, em que estranhas personagens resolvem-se entre a lenda e a história, pouco importando se elas são apenas objeto de representação ou uma instância autoral, como no caso de Burton e Cándido López, responsáveis também por outras representações. Percebe-se, deste modo, como o Livro Único evocado pelo narrador (ROA BASTOS, 2002, p. 56) reúne escritores tão díspares como Plínio, Joyce e Borges, todos marcados pela irremediável incorporação do biográfico como impressão ficcional. Em frente à frente argentina: um diálogo entre a literatura e a pintura Enquanto o texto anterior privilegia o poder de sedução advindo de antigas representações, sobretudo aquele experimentado por Xerazade por meio da narrativa, o conto inicial do volume volta-se com mais atenção para o estatuto da representação através de um único diálogo entre Bartolomeu Mitre, então presidente da Argentina e primeiro comandante dos países aliados contra o Paraguai, e o seu ajudante, o oficial do exército argentino e pintor Cándido López. A escolha de Mitre como personagem não incide apenas na sua atuação política, mas também como criador de representações. Neste caso, privilegiase o seu trabalho de tradução da Divina Comédia, em meio à guerra. Cándido López conclui: “Nós dois misturamos tinta, trememos um pouco e depois recriamos o mundo do nosso jeito e segundo nossos reais caprichos” (ROA BASTOS, 2002, p. 17). Obcecados com a fidelidade ao modelo (DINIZ, 1997, p. 21), Mitre e López no conto de Roa Bastos dividem-se entre dois pontos de vista distintos sobre a representação artística. Enquanto López crê numa arte sujeita à verossimilhança externa, Mitre mostra-se mais cético: “Você por acaso pensa que essas imagens são fiéis à matança? A memória do momento é a mais enganosa. Nunca estamos no tempo presente, salvo na memória 182 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 que se torna copiosa...” (ROA BASTOS, 2002, p. 23). É Mitre quem dedica ao outro os atributos de neo-realista ou pré-rafaelita (ROA BASTOS, 2002, p. 18). Vale-se ainda do reforço de seu nome, “candoroso Cándido”, para ironizar aquela postura. Já Mitre revela a consciência de que a arte pode ser usada pelo poder: “A arte é a arma para corrigir a realidade.” (ROA BASTOS, 2002, p. 16). Sua perspectiva coaduna melhor com a de uma leitura ufanista da guerra, que se propõe a convencer o leitor/espectador sobre as suas razões: “É preciso inventar a glória, mestre. Se nossas tropas recuaram, faça com que avancem em sua pintura” (ROA BASTOS, 2002, p. 16). É contra esta utilização da arte que se insurge Cándido, considerando-a espúria: “Você pintou o fuzilamento do brigadier Aranda? Não, dom Mitre. Como quer que eu retrate essa farsa? O pelotão fuzilou um boneco de estopa. Imagine, não seria decente reproduzir uma reprodução sem origem, uma pantomima bastarda, dom. Note que essa comédia de justiçamento transforma a justiça em um truque” (ROA BASTOS, 2002, p. 18). Constrói-se deste modo uma oposição entre representações artísticas que também rivaliza sobre os modos de ler a Guerra do Paraguai. Mitre aproxima-se da leitura oficial, enquanto López, da revisionista. A fala do pintor expressa a denúncia de uma guerra que massacra um povo enquanto uns poucos dela se beneficiam. Atribui insistentemente a Mitre, como comandante das forças aliadas, a autoria daqueles crimes, apelando ao juízo final: “Não esqueça que firmou o Tratado e que a tinta da morte não se apaga como os fogos de minhas telas” (ROA BASTOS, 2002, p. 49). Entretanto, a esperança figurada pelo poder da transfiguração pela arte, presente no primeiro texto, já não tem lugar aqui: “Para que viver se não podemos retificar nenhum retalho de justiça em um mundo manifestamente iníquo e arbitrário?” (ROA BASTOS, 2002, p. 49). A posição de Mitre mostra-se um pouco mais complexa. Utiliza como argumento para a guerra a tese expansionista de Solano López: “O marechal estava se aliando com os uruguaios por um lado e com Urquiza por outro, mestre. Queria usar uma pinça para me asfixiar” (ROA BASTOS, 2002, p. 52). Por outro lado, pressente que os dividendos da guerra não lhe serão favoráveis: “Esta guerra me queima os calcanhares, mas não posso recuar” (ROA BASTOS, 2002, p. 27). Divide-se entre o político, comandante dos Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 183 exércitos aliados, e o intelectual, tradutor de Dante. Os boletins oficiais constituem sua dor de cabeça: “A História se faz com datas... Mas faltam dados para o boletim, esta parte será um parto. Quando escrevo sobre o passado, existem apenas as palavras rabiscadas do escrito, que vão ficando sobre o papel como o suor de minha alma” (ROA BASTOS, 2002, p. 29). É ainda Mitre quem desmascara o pretenso realismo de López, traçando uma leitura sobre o estilo do pintor e seus “soldadinhos de chumbo”: Formigas indo e vindo pela areia da praia. É assim que se imprime uma guerra? Seria melhor ter usado o daguerreótipo, que não suaviza nenhuma sevícia. Não, meu lugar-tenente. Ficando em seu lugar você está fora, longe, retratando as nugas de uma crueldade que ainda não entendeu inteiramente. Se fosse fiel, sua infidelidade estaria à frente, fazendo-o fantasiar cores e formas que nem você nem eu nunca vimos. Ou você pensa que a guerra é essa fileira de soldados uniformizados como brinquedos mirando o céu azul? (ROA BASTOS, 2002, p. 24) Insinua-se ao longo da narrativa uma outra metáfora. A que delega o espaço celeste a Cándido López, ao passo que o Inferno torna-se objeto de Mitre. Neste ponto, a intertextualidade acentua a idéia já trabalhada de representação. A geografia pantanosa e de grandes rios vai marcando o espaço que liga a Guerra do Paraguai ao Inferno, de Dante: “Quem pode se salvar no inferno do Gran Chaco?” (ROA BASTOS, 2002, p. 19). Mitre reclama novamente do realismo de López, recuperando agora o cenário para as cores sombrias do Hades e relativizando o conceito de representação: “Estou documentando a verdade! Por que você não pintou aquelas brenhas espinhentas que quase me esfolaram vivo? Já se esqueceu de todo o restolhal que atravessou nosso caminho? Este rio cheio de bocas não poderia vomitar mais aguadas e aguaçais, nessa imundície de cólera e varíola, febre e diarréia” (ROA BASTOS, 2002, p. 30). Como Dante e Virgílio, Cándido e Mitre refazem o caminho dos círculos do Inferno. Enquanto isso, as Fúrias do texto clássico dialogam com as amazonas do espaço americano. Mas, desta vez, é Cándido quem denuncia a máscara que a dramatização esconde: “Não sei pintar a dor, desenho apenas o que vejo em seu rosto e nunca vi dor alguma, nem nos piores momentos, general” (ROA BASTOS, 2002, p. 30). 184 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Se o universo literário recebe o reforço da Divina Comédia, para o espaço de pintura é convocado a figura de Diego Velázquez, referência quando se trata de pensar os universos envolvidos nas representações. Ainda assim Mitre alerta seu ajudante sobre os perigos da autofagia: “Cuidado para não acabar engolindo sua manufatura” (ROA BASTOS, 2002, p. 29). O que Roa Bastos coloca mais uma vez em jogo é a velha discussão sobre a teoria nominalista: “Dante fundou o Inferno, mestre. Só a poesia podia edificar do nada...” (ROA BASTOS, 2002, p. 25). Teoria tão antiga, mas ainda hoje pouco resolvida, como nos lembra Gustavo Bernardo: A situação atual da nossa civilização, conseqüentemente de boa parte de nosso pensamento, é a de niilismo incipiente, fruto da combinação paradoxal de uma valorização desmedida do intelecto com o desespero em relação à capacidade do mesmo intelecto: podemos ou não podemos mais ter contato com a realidade? A realidade é acessível, é nossa morada e referência, ou tornou-se inacessível, como dizem, ou pregam, Lacan, Baudrillard e tantos outros? É como se, quanto mais pensássemos, não mais víssemos o quanto ainda tínhamos de pensar, como queria Sócrates, mas sim para quão pouco serve tanto pensamento, tanto blá-blá-blá, enfim. (BERNARDO, 2000) Passado e presente na América Latina A partir da segunda metade da década do século passado, o realismo maravilhoso cumpriu a função, dentre outras, de indagar a história latinoamericana escrita nos moldes do racionalismo científico. O elemento maravilhoso que se revestia na possibilidade de uma história não-eurocêntrica respondeu de forma afirmativa sem contudo subjugar a arte ao exercício panfletário. Nas últimas décadas verificamos a primazia de um movimento que sem desdenhar daquele se vale da metalinguagem até às bordas do seu limite, como se tivesse em mira a implosão da própria linguagem. Cruzando cenas em que o elemento maravilhoso não está de todo ausente, Roa Bastos elege nesses dois textos como objeto de diálogo com a história a figura do artista e sua relação com a arte, dando vazão assim para refletir sobre a eterna questão da representação. Ambos os textos põem em confronto leituras divergentes sobre o conceito do realismo artístico para concluir que até mesmo esse antagonismo Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 185 torna-se ilusório. O escritor viajante representado por Richard Burton que primordialmente se pauta pela observação e pela descrição fiel converte-se no ser mais espectral da narrativa, transmutando o mundo a seu redor em puro encantamento. Bartolomeu Mitre e Cándido López, por sua vez, deflagram por detrás de suas insistentes defesas sobre a arte, posições claramente empenhadas ideologicamente. Contudo, é a referência, presente nos dois textos, ao pintor argentino reabilitado a partir dos anos 60 do século passado que melhor testemunha o jogo ambíguo entre a tomada histórica e a representação artística, insinuando as diferentes leituras ao longo do tempo. REFERÊNCIAS BERNARDO, Gustavo. O nominalismo medieval na base da fenomenologia moderna: de Guilherme de Occam a Vilém Flusser. In: MALEVAL, Maria do Amparo. Atualizações da Idade Média. Rio de Janeiro: Ágora da Ilha, 2000. Disponível em: http://paginas.terra.com.br/arte/dubioergosum/flusser37.htm. Acesso em: 23 mai 2006. BURTON, Richard Francis. Cartas dos campos de batalha do Paraguai. Trad. José Lívio Dantas. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1997. DINIZ, Alai Garcia. Máquinas, corpos, cartas: Imaginários da guerra do Paraguai. São Paulo: USP, 1997. Tese de Doutorado. MUGGIATI, Roberto. Um agente inglês na corte de Pedro II. Nossa História, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, n. 24, p. 76-79, out. 2005. RICE, Edward. Sir Richard Francis Burton: o agente secreto que fez a peregrinação a Meca, descobriu o Kama Sutra e trouxe As mil e uma noites para o Ocidente. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. ROA BASTOS, Augusto et alli. O livro da Guerra Grande. Trad. Josely Vianna Baptista. Rio de Janeiro: Record, 2002. Artigo recebido em 04.02.2008. Artigo aceito em 14.05.2008. Naira de Almeida Nascimento Doutora em Letras pela Universidade Federal do Paraná. Professora do Curso de Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. 186 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 VIDA E MORTE: TANGÊNCIA PELAS PALAVRAS Raquel Illescas Bueno [email protected] RESUMO: No conto “Sem tangência”, publicado inicialmente em 1965 e incluído na obra póstuma Ave, palavra, Guimarães Rosa aborda o tema da morte e da possibilidade de alguma forma de existência posterior a ela. Este trabalho tem por objetivo iluminar as concepções do autor acerca do binômio “surpresa” e “inevitabilidade”, atributos da própria morte e da expressão verbal. Para tanto, além da análise do conto, serão investigadas circunstâncias biográficas da morte do autor. Não se pretende aqui reforçar as leituras esotéricas que atribuem a Rosa a capacidade de predizer sua própria morte, mas sim observar como o autor tematizou a morte num determinado texto literário, cujo título nega o que sugere: a existência de algum ponto em que vida e morte pudessem se tocar. ABSTRACT: In the short story entitled “Sem tangência”, first published in 1965 (in Ave, palavra, a posthumous book), Guimarães Rosa deals with the theme of death and the possibility of some form of existence after it. This essay intends to work with the author’s understanding of the concepts of “surprise” and “inevitability”, which are attributes of death itself and of its verbal expression. To that purpose, besides the analysis of the short story, biographic circumstances of the author’s death will be investigated. We have no intention of reinforcing esoteric readings which consider that Guimarães Rosa could predict his own death. Instead, the essay intends to analyze how Rosa develops the theme of death in one specific literary text whose title denies what it suggests: the existence of some point where death and life could touch one another. PALAVRAS-CHAVE: Guimarães Rosa. Conto brasileiro. Ave, palavra. KEY WORDS: Guimarães Rosa. Brazilian short story. Ave, palavra. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 187 Memória Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do Não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade Uma introdução ao que não se pode tocar Noções hauridas em diversas correntes filosóficas e religiosas embasam a investigação poética de Guimarães Rosa sobre as possibilidades de existência de vida após a morte, ou de uma zona ambígua entre ambas, tema presente em parte significativa de sua ficção. No conto “Sem tangência” (de Ave, palavra, 1965), a comunicação entre os homens é tentativa interrompida de compreender esses mistérios. O conto, muito breve, dá conta de cena igualmente breve mas reiterada, vivida num cemitério. Lá, o protagonista (o “forasteiro”) – freqüentador habitual daquele lugar – é interpelado por um coveiro, que lhe pergunta se ele era parente do homem enterrado na cova próxima à qual estavam. O que o protagonista fazia, na verdade, era observar diariamente os gestos de uma mulher que, assim como ele, aparecia regularmente por ali. A troca de palavras entre os dois homens é permeada por outras palavras, que o narrador – como o protagonista – não sabe quem pronuncia. A frase 188 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 mais significativa desse discurso de alguém (do além?): “Refuja o denso viver, pela levez da morte...” O diálogo entre o protagonista e o coveiro, personagem mais pragmático, pouco esclarece sobre o malfeitor recentemente enterrado ou sobre a moça de vestido preto que todos os dias visitava aquele túmulo. Conversa feita de silêncios e de palavras que o narrador não sabe quem pronuncia, ou mesmo se foram efetivamente pronunciadas, chamá-la de “diálogo” é já forçar a nota. Quem (e como) são os mortos, quem (e como) são os vivos? De onde vêm as palavras trazidas pelo “vento, devolvedor de palavras”, e que se intrometem nas falas das personagens? Segue, adiante, outra breve troca de idéias, desta vez envolvendo o ajudante do coveiro, rapaz que “tinha as petulâncias da vida”. Quem conscientemente fala (os dois trabalhadores da morte e o protagonista) pouco sabe sobre o morto – ou sobre a morte. Não há tangência no plano mais racional, mas ela fica sugerida quando se intrometem “outras” vozes. Dentre os vários significados do verbo “tanger” e do substantivo “tangência”, interessa destacar, no campo da geometria, as curvas, linhas ou superfícies que se tocam num único ponto. Mas não se descarte, por outro lado, o significado que remete à música, ao mundo dos sons: tanger um instrumento, fazer ressoar. Entre falas parcas e silêncios medeia a não tangência no conto ora analisado. E o mais certo é que, havendo ou não tangência entre vivos e mortos, impõe-se de súbito para os primeiros o “inenarrável rapto”. Foi assim também, dois anos depois da escrita desse conto, para o então recém-imortalizado Guimarães Rosa. A permanência de sua obra independeria, é claro, de o artista ter assento em alguma instituição como a Academia Brasileira de Letras. Mas esse dado biográfico – a imortalidade institucionalmente obtida – sempre é lembrado quando se faz referência à morte do autor, que adiou sua posse na ABL por quase quatro anos, para morrer três dias depois, de fulminante enfarte súbito e mortal (se o gênero permite o excesso de adjetivos, fiquem todos esses grafados). Foi uma morte inesperada, pelo menos para os que permaneceram vivos. Qual o lugar da palavra viva de Guimarães Rosa neste universo de que participamos nós, pesquisadores de sua obra? Ou, como indaga o Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 189 narrador de “Sem tangência”: “Quem morre, morreu mesmo?” Para Drummond, citado em epígrafe, quando as coisas são belas elas sobrevivem na memória. A beleza não tem prazo prescricional. Mas o jogo de ambigüidades se renova cada vez que alguém procura conceber racionalmente a dimensão da memória, cujo limite é o olvido, essa outra forma de morrer. Mesmos motivos, outros sentidos Com pouco mais de duas páginas, “Sem tangência” apresenta aquela intensa concentração dos recursos formais própria do idioma de Guimarães Rosa em suas produções maduras. Nesse conto, a linguagem foi colocada a serviço da ambigüidade, para expressar a permanente indecisão do narrador externo que, assim como o forasteiro que protagoniza a narrativa, avança e recua na sua curiosidade sobre o que pode haver para além da vida de tangências que todos conhecemos. A primeira frase do conto é eloqüente: “A morte é lúgubre lorde; a ambígua” (ROSA, 1995, p. 1031). Essa ambigüidade está presente, sobretudo na caracterização da moça que visita o túmulo recente. Ela é e não é a morte, ela é e não é a transição entre a vida e a morte: bela, misteriosa, calada, ela se veste de preto, talvez por ser a filha de alguém que está enterrado ali, talvez antecipando seu próprio enterro, como sugere o auxiliar do coveiro. O arcabouço retórico convocado pelo autor estende ao máximo os limites dos símbolos tradicionais. No plano dos significantes, a lógica racional é questionada – “a morte é maior do que a lógica” – gerando essa flutuação dos sentidos tão característica do texto rosiano. O autor não dispensa os elementos mais tradicionais dos contos de mistério: cemitério, cor negra, silêncio seguido de vozes que não se sabe de onde vêm, a porta primitiva enferrujada, urtigas e roseiras bravas. A eles, somam-se as imagens sugestivas de um “coveiro, toupeireiro operador”, e de “querubins em cavernas gritantes”, dentre outras. O cemitério vai assumindo um caráter de terceira margem, ambíguo como a própria morte. A moça era mais esbelta e mais rara que as outras todas da cidade; o cemitério, por sua vez, era sítio aprazível, menos aborrecido que outros daquela cidade “fabricada”. Sabemos que o protagonista escolheu ir até ali mais para passear do que para cortejar algum morto, e também para 190 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 viver experiências estéticas ligadas à vida. Ele considerava a necrópole como locus amenus, mas também como espaço capaz de surpreender: “Ali, o mar era o cemitério.” Possível referência a Brasília (lembre-se a fabricação da grande cidade no chapadão, em “As margens da alegria”, de Primeiras estórias), a tal cidade era, para esse forasteiro, “fatal, fabricada, enfadonha” (fff...). Considerese que em 1965, Brasília tinha apenas cinco anos de idade. Caso buscássemos apoio nas teorias críticas de Deleuze (1995), os conceitos de desterritorialização e deslizamento caberiam como uma luva para a análise do conto de Rosa, pois permitiriam multiplicar à enésima potência o poder sugestivo da figurativização que permeia a abordagem da possível existência de uma zona intermediária – se assim se pode dizer – entre a vida e a morte. Nas palavras do narrador: “A gente vê só o cinzento: mas têm-se de adivinhar o branco e o preto” (ROSA, 1995, p. 1031). Porém, nesta breve investigação, preferimos afastar embasamento de fundo psicanalítico, para assim minimizar o risco – neste caso, indesejado – de se ler “Sem tangência” como alegoria das representações inconscientes do sujeito biográfico João Guimarães Rosa. Estando o cemitério definido pelo narrador como local de “desexílio”, optou-se por ler o neologismo simplesmente como metáfora da sensação de conforto correspondente a uma “volta para casa”, e não, por exemplo, como deslizamento de algum desejo íntimo de morte. Deixemos de lado, portanto, a sugestividade dos Mil platôs e dos Mil planaltos de Deleuze e Guattari; voltemos ao espaço de “Sem tangência” – talvez estejamos volvendo assim ao planalto central do Brasil, local de nascença de Rosa e espaço geográfico preferido para suas tramas, seja por seus sertões, seja por suas veredas. O parágrafo de abertura do conto, como foi dito, inverte as compreensões mais usuais de cidade e necrópole, ao descrever a primeira como fatal e monótona e, a segunda, como locus amenus, capaz de proporcionar conforto espiritual. A cidade é inóspita; o cemitério, acolhedor. Mas, atenção: não tanto como para suscitar o desejo de ali se habitar. O que o protagonista fazia era passear por ali, ir e voltar, à sua vontade: “Podia-se procurar passeio, o desexílio, em seu reduzido espaço, dos que perderam para sempre o endereço”. No último parágrafo, a cidade segue sendo “fácil, fatigadora, fingida” (fff...), mas aparece uma novidade: o narrador informa que o personagem não mais permanecerá nela (“Deveria em seguida partir, o Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 191 forasteiro” – ROSA, 1995, p. 1033). Naquele momento, entretanto, o narrador tinha ainda um endereço, ainda que bastante provisório, naquela cidade “árdua”. No diálogo com o coveiro, problematizam-se os limites da vontade de conhecimento de cada um. Num primeiro momento, o forasteiro (estrangeiro, que não pertence àquele lugar) parece sentir-se superior por ter uma visão da morte que inclui elementos do tipo “especulação poética” e “mistério esperançoso”. Ele se orgulha de sua capacidade de ouvir do nada a palavra “Amor” e, mesmo amedrontado, prosseguir sua investigação. Depois, os papéis se invertem. O coveiro, que achou o forasteiro parecido com a moça de preto, estaria disposto a falar do parentesco entre ela e Seo Visneto, o morto recente. Nessa altura, o leitor já foi conduzido a pensar que os homens são todos parecidos entre si, que todos são (somos) parentes de todos, os mortos e os vivos, igualados por alguma finitude sabida e insabida: “Sim, a moça era quase prevista surpresa.” (ROSA, p. 1032, minha ênfase). Se a palavra “moça” fosse substituída por “morte”, a frase faria outro sentido, ou o mesmo? Rosa propõe nova reflexão, na seqüência dessa mesma passagem do conto: “Um dia, haverá sábios. E, que nos vem da vida, enfim? – com o continuitar do ar, do chão e do relógio. A morte: o inenarrável rapto” (ROSA, 1995, p. 1032). O homem supostamente visitado em sua morada eterna pela moça de preto tinha fama de mau, pertenceria a uma linhagem de perversos. Seu nome ou apelido – Visneto – remete a genealogia, herança, atavismo. Assim como em “Os irmãos Dagobé”, a pressuposição de que a maldade é hereditária comparece como assunto. Essa é a crença popular, que fica relativizada, mas influencia pré-julgamentos sobre a moça de preto e traz ao texto o tema da maldade como característica indissociável da natureza humana ao longo das gerações (lembre-se do mesmo assunto em “Os chapéus transeuntes”, de Estas estórias). Por outro lado, o coveiro identifica Seo Visneto como um homem “justo, bom, mas vagaroso”. O forasteiro resiste ao relato do coveiro sobre relações sangüíneas e afasta-se dali. Nessa atitude, questiona-se quão absurdo pode ser o exercício da liberdade de escolha, quando limita os conhecimentos possíveis, em vez de ampliá-los. “Ainda não”, diz o narrador, acompanhando o recuo do 192 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 protagonista. Mas quando, então? Somos forasteiros em uma cidade enfadonha? Não importa: “De repente, quando a gente não espera, o sertão vem.”, já dizia Riobaldo. Antes disso, o medo da morte se sobrepõe e abafa a capacidade de sentir e de avançar na interpretação da beleza do cemitério e de seus habitantes, tanto os mortos como os vivos, tanto os que parecem estar já em contato com uma outra forma de existência (como a moça de preto), quanto os operários envolvidos no prosaísmo das dificuldades e contradições cotidianas (o coveiro se queixa de dor nas costas; seu ajudante, apesar de exercer tarefa tão desprestigiada socialmente, e apesar de andar descalço, fuma cigarros caros). Retornando à frase inicial: a expressão “lúgubre lorde” fala de luto, mas também de riqueza e ostentação. A morte embrulhada para presente, a morte e sua festa. No caixão de Nhinhinha, em “A menina de lá” (de Primeiras estórias), os “funebrilhos” cor-de-rosa sobre o caixãozinho verde faziam do ritual de despedida da menina a inauguração festiva de uma nova fase da sua existência. Os enfeites no caixão haviam sido providenciados a pedido dela, que adivinhara a própria morte. Contra a lógica que atua contra a vida Não se estranhe que o lúgubre seja também festivo, uma vez que a morte é concebida a partir de uma visada mística, cara ao pensamento religioso e matizada pela filosofia oriental. A morte é iniciação, ressurreição, fim de um ciclo para início de outro, liberação de forças, renascimento em outro plano de existência. Em sua entrevista a Gunther Lorenz, Guimarães Rosa declarou: as regras [da matemática] não valem para o homem, a não ser que não se creia na sua ressurreição e no infinito. Eu creio firmemente. Por isso também espero uma literatura tão ilógica como a minha, que transforme o cosmo num sertão no qual a única realidade seja o inacreditável. A lógica, prezado amigo, é a força com a qual o homem, algum dia, haverá de se matar. Apenas superando a lógica é que se pode pensar com justiça. Pense nisto: o amor é sempre ilógico, mas cada crime é cometido segundo as leis da lógica. (ROSA, 1995, p. 57-8) Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 193 Como aponta Eduardo Coutinho, Rosa não despreza o racionalismo, mas relativiza sua autoridade, o cunho hegemônico e dogmático que adquiriu na tradição ocidental. Por isso, os que estão fora do senso comum ganham espaço em suas narrativas, sejam loucos, cegos, doentes, feiticeiros, artistas populares, crianças ou velhos: ao erigir este universo, em que a fala dos desfavorecidos se faz também ouvir, Rosa efetua verdadeira desconstrução do discurso hegemônico da lógica ocidental, e se lança na busca de terceiras possibilidades, tão bem representadas pela imagem, síntese talvez de toda a sua obra, que dá título ao conto “A terceira margem do rio”. [...] A contestação da lógica dicotômica, alternativa, da tradição cartesiana, em favor da busca de uma pluralidade de caminhos é uma das tônicas de toda a ficção rosiana, que se expressa, entre outras coisas, pelo leitmotiv “Tudo é e não é”, repetido com freqüência ao largo do Grande sertão: veredas. (ROSA, 1995, p. 21-2) Depoimentos de familiares e de amigos dão conta do temor confessado, poder-se-ia dizer ilógico de Rosa, que o levou a adiar sua posse na Academia Brasileira de Letras por quase quatro anos, da eleição em 1963 a novembro de 1967. A primeira publicação de “Sem tangência”, vale observar, aconteceu no período entre a divulgação do resultado da eleição e a posse (julho de 1965). Leia-se o depoimento de Carlos Heitor Cony, na época vizinho de Rosa, narrando um encontro acontecido na véspera da cerimônia, quatro dias antes da morte do autor mineiro: Chovia e era de noite. Apesar da miopia, da chuva e da noite, os olhos de gato de Guimarães Rosa me descobriram dentro do carro. [...] – Olha, não me deixe sozinho amanhã. Eu preciso de suas palmas na Academia. – Você terá muitas palmas. Nem estará sozinho. – Mas vá, assim mesmo. [...] A sua glória – segundo alguns – não precisava da Academia, mas ele precisava dela e por isso se emocionava, e por isso temia a morte em plena tribuna, envolto no fardão, como um clown das letras que encontra – ou busca – o seu ato final no próprio picadeiro. Para o seu bom gosto, a 194 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 cena seria exagerada. [...] Seu amor pela ordem impediu a fraqueza e ele reagiu. Mas sabia-se marcado.” (Cony, [1972?], p. 30) Em 1937, pouco tempo depois de tomar posse na mesma Academia, o diplomata João Neves da Fontoura havia dito a Rosa: “Você um dia será também acadêmico. Mas, mais tarde...” (“Ainda não.”). Rosa estava ali para receber um prêmio por Magma. Era ainda um escritor desconhecido, que só viria a estrear em livro quase dez anos mais tarde. Rosa comenta, no discurso de novembro de 1967, que julgou despropositados os prognósticos otimistas daquele conhecido, que nem amigo dele era (ainda não): “tão avulso, cabível sem antecedência nem conseqüência, que pôde me parecer até enganoso, fora de esquema, lapsos de improbabilidade. Só no futuro iriam assentar nexo” (ROSA, 1983, p. 435). Superado o tempo dos adiamentos, Rosa decidiu marcar sua posse para o dia em que se comemoraria o aniversário de 80 anos de João Fontoura: Foi há mais de 4 anos, a recém. Vésper luzindo, ele cumprira. De repente, morreu: que é quando um homem vem inteiro pronto de suas próprias profundezas. Morreu com modéstia. Se passou para o lado claro, fora e acima de suave ramerrão e terríveis balbúrdias. (ROSA, 1983, p. 455) Para condenar a atitude lutuosa dos vivos, Rosa cita um trecho do Bhágavad Gita, parte do Mahabharata, texto basilar do hinduísmo. Nele, o mestre Krishna orienta seu discípulo Arjuna: “Choras os que não devias chorar. O homem desperto nem pelos mortos nem pelos vivos se enluta.” Na seqüência, Rosa pede que se comemore o aniversário – no “plano terreno” – do amigo morto. Beleza vital e morte se interpenetram, como em “Sem tangência”, “A menina de lá”, “Recado do morro” (“É festa? Só se for morte de alguém...”), ou ainda, noutro sentido, “Os chapéus transeuntes”. Como qualquer outro acadêmico homenageado em discurso por seu sucessor, João Neves da Fontoura comparece à cerimônia de sua sucessão como um lorde lúgubre, o falecido-imortal cuja obra é exaltada nas palavras do recém-eleito que chega, festivo, para ocupar sua cadeira e alguma farda. Diferentemente dos demais acadêmicos – por força das palavras e de uma escolha de Rosa –, João Neves da Fontoura estava ali também como Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 195 aniversariante. Imortais ambos os Joões, daquela imortalidade obtida pela lógica interna da casa de Machado de Assis. Dentre os protocolos da Academia Brasileira de Letras, inclui-se a obrigação formal do sucessor de homenagear seu antecessor no discurso de posse. Nesse sentido, Rosa não estava antecipando a própria morte ao falar em morte, estava apenas cumprindo o protocolo. Todo imortal desse naipe faz a homenagem de um morto-imortal que lhe tenha cedido a cadeira. Com a maior felicidade e intensa emoção, de que dão conta os depoimentos dos presentes, João Guimarães Rosa cumpria. Citou além do hinduísmo o taoísmo (wu wei – não interferência), para ressaltar as idéias de inevitabilidade e de surpresa quanto à morte do amigo. Morte e luto são temas naturais naquele contexto. Assim também a própria idéia de sucessão. Este último é tema recorrente da ficção de Guimarães Rosa: sucessão por hereditariedade, por compartilhar crenças, por pertencer a uma mesma espécie. É possível adiar a sucessão por hereditariedade? Certa feita, um filho adiou a tomada do lugar do pai, depois se arrependeu. (“A terceira margem do rio”). Como saber o que acontece na terceira margem sem ao menos embarcar na canoa que leva a ela? Mas como embarcar nessa canoa se o sujeito encontra-se radicalmente cindido entre o “ser” e o “estar”? O filho permaneceria por isso à margem, “com as bagagens da vida”. Esse filho esperara muito tempo pelo momento de suceder seu pai, mas todo esse tempo não fora capaz de eliminar a surpresa que o inevitável retorno paterno causou. Vale lembrar: tal inevitabilidade foi sentida exclusivamente por ele, que permaneceu à margem. Toda sua família, tendo antes encontrado respostas mais racionais para o sumiço do pai – loucura e lepra, dentre outras – há tempos exilara-se para bem longe daquele rio. A cena do reencontro entre pai e filho é bastante forte, permeada de surpresa e susto: Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei, umas quantas vezes. E falei, o que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz: - Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto... Agora, o senhor vem, não carece mais... O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa!...” E, assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. 196 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Ele me escutou. Ficou em pé. Manejou remo n’água, prova para cá, concordado. E eu tremi, profundo, de repente: porque, antes, ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto – o primeiro, depois de tamanhos anos decorridos! E eu não podia... Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da parte de além. (ROSA, 1995, p. 412) Como a chegada da moça ao cemitério, em “Sem tangência”, a vinda do pai era certa e esperada. Como a morte. Mas nem por isso deixava de ser misteriosa, remetendo à impossível definição da identidade de quem está à margem e tem consigo pouco mais que a linguagem pela qual pode tentar verbalizar parte dessa certa incerteza, desse claro enigma, dessa inevitável surpresa. O percurso do filho rumo a sua identidade pessoal não se complementa. A lei do pai lhe pesa mais que as bagagens da vida. Em “Sem tangência”, por outro lado, a subjetividade forte é matizada pela incerteza quanto ao futuro, pela imprecisão das fronteiras entre os espaços da vida e da morte. Protagonista e narrador parecem fazer uníssono, o recurso à terceira pessoa soa como artifício literário (no bom sentido da palavra). Narrador aproximadamente igual a forasteiro-protagonista, que por sua vez é aproximadamente igual a João Guimarães Rosa. Tanto a cidade como o cemitério repousam sobre um mesmo chão, e não há rio, nessa história, que simbolize a impermanência. No chão, quase no final do conto, “[R]etomava o trabalho o coveiro, dolorento, sabedor de ofício. Já como fósseis os ossos que ele transplantava, naquele bom lugar universo” (ROSA, 1995, p. 1032). A matéria – de osso a fóssil – resistirá o quanto possa à impermanência. Até sucumbir às forças da terra. Bom lugar, o nosso universo feito de terra, água, fogo e ar? Quem o diz é o narrador – Rosa? Não concluindo A morte de Rosa, três dias depois de sua posse na ABL, tem inspirado alguma mistificação que prefiro redirecionar para o campo da linguagem, tangência possível. Uma frase de seu discurso é, com justiça, das mais conhecidas e citadas: “as pessoas não morrem: ficam encantadas”. Além disso: “A gente morre é para provar que viveu”, variação de um trecho de Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 197 “Os chapéus transeuntes”: “A morte é o que é por conseguinte. A gente morre é para provar que não teve razão” (ROSA, 1995, p. 749). “Antes” e “depois”, “causa” e “conseqüência” são noções relevantes mesmo para o pensamento cíclico, mítico. Independente de existir vida após a morte – dúvida que põe na encruzilhada qualquer lógica – a temporalidade importa. Em “Sem tangência”, Rosa tematiza a consciência dos limites do conhecimento, o desafio assustador de avançar em direção ao mistério. Entre oximoros e metáforas de largo vôo, a ambigüidade persiste. Prever que a literatura de Rosa tem força para durar muitos anos é quase o óbvio. Sua atitude simbólica, feita palavra, gerou imagens tão ricamente ambíguas que prorrogam indeterminadamente o prazo da tentativa de sua compreensão. De seu domínio formal da língua portuguesa, não é necessário fazer o elogio, ou lembrar que ele vem sendo feito, mais e mais, pela sempre crescente crítica especializada que se detém sobre essa portentosa obra. Do gosto literário futuro, nada sabemos. Talvez um dia a recepção (a falta de) venha a transformar Homero, Shakespeare ou Drummond em escritores obscuros. Será? Quando? Por quê? E quanto a Guimarães Rosa? Ainda não. Amar o perdido? Apelo do Não? Escreve Rosa, em “O grande samba disperso” (Ave, palavra): “Amor perdido é amor que não foi achado: não-amor. Não o amor-mor, o mor amor. [...] O amor não precisa de memória, não arredonda, não floreia: faz forte estilo. E fim” (ROSA, 1995, p. 942). No que tange a mors-amor, o binômio elidido, subentendido nessa frase de Rosa, convém ceder a palavra novamente a Drummond: se “as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão”, por outro lado, ou – noutra estrofe (ainda não) – “as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão”. REFERÊNCIAS CONY, Carlos Heitor. As obras-primas que poucos leram - 2; Grande sertão: veredas. In Manchete. Rio de Janeiro: Bloch Editores, [1972?]. DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Felix. Mil platôs. v. 1. São Paulo: Ed. 34, 1995. 198 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 ROSA, João Guimarães. Ficção completa, v. I e II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,1995. ROSA, Vilma G. Relembramentos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. Artigo recebido em 29.05.2008. Artigo aceito em 03.09.2008. Raquel Illescas Bueno Doutora em Literatura Brasileira pela USP. Professora Adjunta do Departamento de Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 199 200 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 P. K. PAGE: PERCEPÇÃO POÉTICA E CONSCIÊNCIA CULTURAL EM “BRAZILIAN FAZENDA”* Sigrid Renaux [email protected] RESUMO: Para Northrop Frye, “não é uma nação, mas um ambiente que causa impacto nos poetas e a poesia consegue tratar apenas dos aspectos imaginativos deste ambiente”. Partindo desta afirmação, o presente trabalho investiga o efeito que o ambiente específico de uma fazenda brasileira causou em P. K. Page, como revelado no poema “Brazilian Fazenda”. Ao descrever a paisagem que a cerca a partir de uma perspectiva singular, ela não apenas acentua a precisão imagística de sua percepção visual, como também põe em destaque sua sensibilidade poética, ao transformar os aspectos referenciais da fazenda em intensa experiência poética e cultural. ABSTRACT: Starting from Northrop Frye’s statement that “it is not a nation but an environment that makes an impact on poets, and poetry can deal only with the imaginative aspect of that environment”, this paper investigates the effect that the specific environment of a Brazilian farm has made on P. K. Page, as revealed in her poem “Brazilian Fazenda”. In the description of her surroundings from an unusual perspective, she not only highlights the imagistic precision of her visual perception but simultaneously foregrounds her poetic sensibility, as she transforms the referential aspects of the fazenda into an intense poetic and cultural experience. PALAVRAS-CHAVE: P. K. Page. Poesia. Subjetividade. Cultura brasileira. KEY WORDS: P. K. Page. Poetry. Subjectivity. Brazilian culture. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 201 No “Prefácio para uma Antologia não Coletada”1, Northrop Frye apresenta certos princípios críticos que considera essenciais ao tratar da poesia canadense: “O primeiro desses princípios é o fato de o canadense culto ter o mesmo interesse pela poesia que tem pela história ou política canadenses. Quaisquer que sejam seus méritos, é a poesia de seu próprio país e ela lhe dá uma compreensão do mesmo que nada mais pode lhe dar”. Frye também enfatiza que “as qualidades na poesia canadense que contribuem para tornar o Canadá imaginativamente mais expressivo para o leitor canadense são valores genuinamente literários, coincidam estes ou não com outros valores” (FRYE, 1971, p. 163). Apesar de ambas as constatações já serem significativas para uma compreensão da postura canadense vis-à-vis à poesia do próprio país e portanto poderiam servir de meio de comparação com a atitude adotada em outras culturas, é na realidade a afirmação seguinte de Frye que se tornará o ponto de partida de nossa argumentação: “Não é uma nação mas um ambiente que causa impacto nos poetas e a poesia pode apenas tratar do aspecto imaginativo desse ambiente” (FRYE, 1971, p. 164). Ela nos fornece a chave para uma compreensão melhor não apenas da poesia canadense, mas também dos poemas que P. K. Page escreveu sobre sua experiência no Brasil, deste modo tornando a paisagem de nosso próprio país subitamente mais significativa – “imaginativamente mais expressiva” – ao ser vista não através dos olhos de nossos conterrâneos, mas através dos olhos de uma poeta canadense. Como esposa de William Arthur Irwin, embaixador canadense no Brasil, P. K. Page já era conhecida como escritora quando chegou ao Brasil, em 1957: além de poemas publicados em diversas revistas canadenses de poesia, ela também já havia publicado um romance, The Sun and the Moon (1944), e dois livros de poemas, As Ten, as Twenty e The Metal and the Flower, que recebeu o Governor General’s Award para poesia. Como os comentários críticos enfatizam, os poemas de As Ten as Twenty (1946) mostram seu “profundo conhecimento das tendências poéticas inglesas na década de 1930” e seu compartilhamento das “preocupações psicoanalíticas dos poetas ingleses contemporâneos”, enquanto os poemas de The metal and the flower (1954) refletem, “em suas representações nitidamente visuais de situações concretas (...) as percepções cinematográficas” que ela havia adquirido quando trabalhava como roteirista para o National Film Board (TOYE, ed., 1983, p. 630-31). De 1942 em diante Page também se associou ao grupo Preview em Montreal onde conheceu F.R.Scott, A.J.M.Smith e outros poetas e escritores 202 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 que haviam introduzido a estética do Modernismo nas letras canadenses (ORANGE, 1987, p. 9). O fato de Page ter estudado arte no Brasil e aprendido a falar português já sugere quão fascinada e intrigada ela deveria estar com seu novo ambiente. Como ela afirma numa entrevista em 1975, “Bem, eu acho que o Brasil me deu uma dimensão plena ou enfatizou uma dimensão que eu já tinha, não sei bem como explicar, mas sinceramente eu senti de certa maneira que minha perceção havia se alterado” (KEELER, apud ORANGE, 1987, p. 4). Se a percepção de Page havia sido “alterada” pelo ambiente brasileiro, o impacto desta nova paisagem em sua sensibilidade poética seria transformado em versos apenas muitos anos mais tarde, pois durante o tempo em que viveu fora do Canadá (de 1953 a 1964, quando W.A.Irwin serviu como embaixador do Canadá na Austrália, no Brasil e no México) ela escreveu comparativamente pouca poesia, concentrando-se em pintura e em desenhos intrincados. Ambos mostram como suas diversas artes refletemse mutuamente, pois elas evocam imagens poéticas bem como estéticas (TOYE, ed. 1983, p. 631). Lembrando-nos deste contexto e também do fato bem conhecido que as tradições das quais surgiu a poesia de Page são o movimento simbolista francês, o surrealismo e os modernistas – ela própria inclui em sua relação Lorca, Rilke, Auden, Eliot e Stevens, entre outros, como influências (ORANGE, 1987, p. 8) – torna-se ainda mais desafiador avaliar um poema como “Brazilian Fazenda” (PAGE, 1997, p. 123), no qual os elementos históricos, religiosos e culturais da paisagem externa são transmutados e reaparecem como visão lírica. O título – “Brazilian Fazenda” – imediatamente cria em nós um sentimento duplo: uma sensação do déjà vu, devido à familiaridade que a imagem de uma fazenda transmite a nós brasileiros. Pois a fazenda faz parte de nosso contexto histórico e cultural e, assim, acrescentar o qualificativo “brasileira” ao termo “fazenda” torna-se quase uma tautologia. Por outro lado, o título também cria em nós uma sensação de expectativa, a curiosidade de ver como uma estrangeira iria ser afetada por este ambiente novo e estranho. Esta dupla sensação é ainda corroborada pelo fato de “Fazenda” significativamente aliterar com “Brazilian” deste modo aproximando ambas as palavras no som e no significado (JAKOBSON, 1970, p. 151), apesar de pertencerem a duas línguas e culturas diferentes. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 203 A combinação de duas palavras e de dois mundos diferentes também irá caraterizar a posição “suspensa” da autora no poema. Page, dividida entre duas culturas, está não apenas vendo um país com a perspectiva de um outro mas também está dividida entre um mundo real, representacional, e um mundo imaginário, entre a linguagem referencial e a emotiva, ao fundir a transposição literal ou cênica da fazenda com o impacto que esta visita à fazenda causou nela. Como Page agora relembra a ocasião – numa resposta esclarecedora à nossa pergunta se ela poderia recontextualizar a experiência específica que deu origem ao poema – ela comenta : A experiência específica que deu origem ao poema aconteceu em 1957, apesar de eu não ter escrito o poema senão muitos anos mais tarde. No Brazilian Journal, p. 43-35, descrevo nossa visita a uma fazenda em São Paulo de propriedade da família Meireles. Era antiga, elegante e muito bonita. (...) Foi a primeira fazenda que eu vi e sua beleza tornou o dia especial para mim. (PAGE, carta de 29/06/2001) Este duplo distanciamento no tempo e no espaço – lembrando-nos do conhecido princípio poético de Wordsworth de que a poesia “origina-se da emoção recolhida na tranqüilidade” (VIZIOLI,1987, p. 85) – enfatiza ainda mais como esta experiência deve tê-la afetado (o poema foi publicado em 1967 e “escrito nessa época”), e como a beleza desta fazenda tornou o dia “especial” para ela, como será revelado através da mensagem verbal do poema. Apesar de “Brazilian Fazenda” ser composto de vinte e três linhas de comprimento irregular, agrupadas em sete estrofes, esta irregularidade grafológica – tão característica do verso livre – é ilusória. Examinando o poema mais atentamente, percebemos que cada estrofe encapsula uma cena ou evento completo e que o padrão prosódico de cada estrofe está ainda ligado não apenas por enjambement mas também por sutís paralelismos sonoros que realçam as relações semânticas entre as imagens que impregnam cada cena. Simultaneamente, as frases nas primeiras seis estrofes – nas quais a persona nos dá uma descrição cênica mas ao mesmo tempo surrealista da fazenda – são compostas de orações coordenadas, de valor igual, exercendo portanto um efeito cumulativo sobre essas imagens; por outro lado, a oração complexa na última estrofe – na qual as orações estão unidas por subordinação – irão expor os efeitos desta experiência “extraordinária” que 204 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 a visita a uma fazenda brasileira causou na persona: seu pedido para retornar num dia qualquer, para poder ver a fazenda com olhos literais. Esta organização sintática é confirmada ainda pelo fato de que as unidades semânticas das seis primeiras estrofes (linhas 1-17) são na realidade dominadas pela locução adverbial com a qual o poema se inicia – “aquele dia” – e também pelo uso do passado no qual a persona narra os acontecimentos. Contrastivamente, a sétima estrofe (linhas 18-23) está controlada pela locução adverbial “num dia” e o “eu” lírico se dirige a si mesmo no presente. Desta maneira, vem à tona uma estrutura lingüística sofisticada e de muitas camadas que irá transformar a aparente casualidade dos detalhes referenciais captados pelo olhar de uma estrangeira num todo coerente mas complexo como também numa intensa experiência poética e cultural. Ao penetrarmos nesta fazenda, somos imediatamente atraídos não apenas para dentro do passado, com conotações de distância temporal e lembrança, contidos em “naquele dia”: That day all the slaves were freed their manacles, anklets left on the window ledge to rust in the moist air and all the coffee ripened like beads on a bush or balls of fire as merry as Christmas and the cows all calved and the calves all lived such a moo. [Naquele dia todos os escravos foram libertados das algemas, argolas deixadas no beiral da janela a enferrujar no orvalho e todo o café amadureceu como contas num arbusto ou bolas de fogo tão alegres como o Natal e todas as vacas deram cria e todos os bezerros soltaram mugidos.] Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 205 Somos também atraídos para um dia específico no passado, através do dêictico “aquele”, já conhecido ou compreendido pela persona, ao ela evocar ou visualizar “aquele dia” no qual “todos os escravos foram libertados”, lembrando-nos do dia real no qual a escravidão foi abolida no Brasil pela Lei Áurea: 13 de maio de 1888. Outro vínculo entre o dia e o evento é estabelecido pela assonância em “day/slaves”, enquanto “freed” tem seu significado ainda mais ressaltado por estar colocado no final de um enjambement e portanto ser visualmente mais proeminente. Libertados da escravidão e conseqüentemente de suas correntes simbólicas, os escravos têm suas algemas metaforizadas em ornamentos – a justaposição de ambas as imagens em “manacles, anklets”, levando à sua sobreposição não apenas no conteúdo e na forma (ambos são substantivos plurais) mas também fonologica e grafologicamente, pois “anklets” está virtualmente contida em “manacles”. Significativamente colocada em primeiro plano na linha 2 e mencionada no Brazilian Journal de Page ao ela descrever sua visita à primeira dessas “duas fazendas do início do século XIX” – “Depois da entrada, uma sala cheia de troféus e relíquias dos escravos e, adiante, o quarto dos escravos” (PAGE, 1988, p. 43) –- , essas “relíquias dos escravos” se tornam, destarte, os signos concretos da abolição da escravidão não apenas nesta fazenda mas, por extensão, também em todo o país. O fato de que foram “deixados no beiral da janela”, esquecidos ou abandonados, “a enferrujar no orvalho”, para serem corroídos e deteriorados pela própria natureza, é acentuado fonologicamente pela aliteração em “left/ ledge” e “manacles/moist” e pela consonância em “rust/moist”. Além disso, ao nos fazer visualizar a janela como porta de entrada para o ar, a luz e a visão, a imagem também confirma a antinaturalidade e crueldade da escravidão como instituição. Pois “air”–- colocada estrategicamente no final do primeiro terceto e fonologicamente introduzida por “their” –- como o primeiro elemento, a primeira necessidade essencial da vida humana, é simbólico não apenas do espaço como meio para o movimento e para a emergência dos processos de vida mas também da liberdade como desmaterialização (VRIES, 1974, p. 7)2 deste modo lembrando a liberdade recém-adquirida dos escravos e a remoção de seus emblemas materiais de cativeiro. Como conseqüência, “moist air” ou “moisture”, sugerindo um estado de indeterminação entre o formal e o informal, como também 206 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 sugerindo ser a causa da fertilidade, não irá apenas destruir o que é antinatural mas simultaneamente nos preparar para a renovação da natureza que acontecerá nas próximas duas estrofes. Esta transição também está fonologicamente prefigurada na aliteração “rust/ ripened”: and all the coffee ripened like beads on a bush or balls of fire as merry as Christmas Paralelizando a justaposição “manacles/anklets” como emblemáticos da abolição da escravidão, a conexão sintática entre o primeiro e o segundo tercetos efetuada por “and” estabelece diversos elos entre a data da libertação dos escravos e a época do amadurecimento do café na fazenda. Em primeiro lugar, traz à tona um aspecto seminal da história e cultura brasileiras, por lembrar como, no século XIX, as plantações de café principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais e parte de São Paulo eram mantidas pela exploração do trabalho escravo, deste modo tornando a relação temporal estabelecida entre a libertação dos escravos e o amadurecimento do café ainda mais significativa, ao enfatizar as conexões profundas e contraditórias que existem entre cativeiro, liberdade, natureza humana e natureza. Pois o “café” – o cafeeiro como vegetação em todas suas formas – tem duas implicações principais: com referência a seu ciclo anual, é simbólico de morte e ressurreição seguindo o ciclo do inverno e da primavera; e, devido à sua abundância, está conectado com fertilidade e fecundidade (CIRLOT, 1971, p. 359). Essas implicações se tornam ainda mais pertinentes se lembrarmos que os grãos simbolizam não apenas uma forma elementar de alimento, mas também energia, ressurreição, encarnação, enquanto as sementes estão associadas com fertilidade, crescimento e natureza humana. Conseqüentemente, a data adquire uma dimensão ainda mais ampla ao vincular um acontecimento histórico a um natural – a renovação e fertilidade da vegetação enfatizando a unidade fundamental da vida, pois a vegetação, assim como o homem, nasce da terra, e um circuito ininterrupto corre através dos níveis inferiores e superiores da vida. Deste modo, a combinação de ambos os acontecimentos torna-se uma metáfora para a “unidade fundamental da vida”, pois o amadurecer do café não apenas coincide com a data da libertação dos escravos, mas, como as argolas, torna-se emblemático de sua liberdade. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 207 Esta sobreposição é ainda enriquecida pela comparação “like beads on a bush or balls of fire” através das analogias estruturais e conceituais estabelecidas entre o teor e os veículos da comparação. Através da semelhança com contas e bolas de fogo, esses grãos vermelhos de café são visualizados como ornamentos brilhantes pendurados nos arbustos verdes, fazendo a função da semelhança – sua esfericidade, cor e esplendor amadurecido – tornar-se um “momento pictórico ou icônico” (RICOEUR, 1979, p. 143). Se compararmos essas linhas à descrição que Page fez da fazenda de café, dez anos antes, percebemos novamente como o olhar da poeta e pintora manteve vívidas as cores e a luz de sua experiência: “Após o almoço visitamos a fazenda de café. Arbustos verdes brilhantes, lustrosos, com frutinhas vermelhas – pássaros num arbusto, contas de fogo. Até onde os olhos alcançavam, arbustos de café pontilhavam a terra ondulante e bela”(PAGE, 1988, p. 44). Concomitantemente, as analogias conceituais que foram projetadas em “beads” (“contas” conotando não apenas enfeite mas também oração), “balls of fire” (“bola” como simbólica de terra, perfeição, eternidade, o círculo; e “fogo”, como a essência da vida, sol, fertilidade), confirmam e especificam ainda mais a “unidade fundamental da vida” simbolizada pela vegetação, atribuindo-lhe uma atmosfera festiva, alegre e religiosa. Pois não podemos separar o uso específico da imagem das contas, como uma comparação explícita com os grãos de café, de suas associações simbólicas de oração, não apenas porque num país católico como o Brasil (na década de 50) a palavra “contas” seria imediatamente associada às contas de um rosário, mas também porque essas associações simbólicas são ainda complementadas pela comparação “as merry as Christmas”: ao amalgamar as imagens dos férteis arbustos de café e de seus ramos cheios de contas e brilhando ao sol com as associações folclóricas do sol brilhando através das árvores no Natal como simbólico de muitas frutas. E, enquanto a árvore de Natal simboliza vida permanente, fertilidade e ressurreição, o Natal não apenas se entrelaça com o simbolismo da vegetação expressando esta unidade fundamental da vida, mas a acentua ainda mais, através de sua associação com uma época de alegria e renovação em nossas almas. Desta maneira, poderíamos até dizer que a imagem negativa do círculo, prefigurada em algemas/ argolas, é agora transformada numa imagem positiva de grãos de 208 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 café/ contas/ bolas de fogo, fazendo a alegria da época de Natal se tornar também um “correlativo objetivo” da alegria dos escravos libertados. Aproximadas ainda mais por diversos paralelismos sonoros, como aliteração em “beads/ balls/ bush”, aliteração parcial em “coffee/ Christmas” e assonância em “ripened/ fire”, enquanto a estrutura sintática e fonológica “as merry/ as [Christ]-mas” funciona como uma corrente sonora subterrânea para realçar a enfatização de “Christ/-” como a palavra mais importante da linha, todas essas associações visuais e semânticas serão transpostas para a terceira estrofe, sugerindo novamente como as plantas e os animais produzem novos frutos e filhotes quando a natureza está fértil: and the cows all calved and the calves all lived such a moo. A cena original no Brazilian Journal é um claro exemplo de como Page selecionou uma imagem e a remodelou de tal maneira que irá se encaixar nesta atmosfera de libertação, alegria e fertilidade estabelecida nas duas primeiras estrofes: “Na vacaria visitamos os bezerros, que chupavam nossos dedos como se fossem úberes quando estendíamos a mão para acariciá-los e vimos a previsão minuciosa, mês por mês, do número de bezerros que iriam nascer”(PAGE, 1988, p. 44). Pois aqui a natureza continua seu ciclo de fertilidade, ao passarmos do homem, à vegetação e aos animais: a imagem das vacas dando cria projetando as associações simbólicas das vacas com terra e fertilidade, enquanto a imagem dos bezerrinhos acrescenta um toque de inocência e de fragilidade à cena, complementado pelo “moo” humorístico e onomatopaico. A aliteração acentuada em “cows/ calved/ calves”, reverberando retroativamente para incluir “coffee/ cows/ calves”, aproxima ainda mais as imagens da vegetação e dos animais no som e significado, ao simultaneamente visualizarmos o grande número projetado pela repetição de “all the cows/ all the calves”. Além disso, a estrutura paralelística aparente na padronização das orações (sintagma nominal + sintagma verbal) nas primeiras três estrofes – all the slaves were freed and all the coffee ripened Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 and the cows all calved and the calves all lived 209 – ressalta ainda mais nitidamente as profundas conexões estabelecidas nos três níveis de descrição lingüística – realização, forma e semântica (LEECH, 1971, p. 37) – ao se sobreporem as analogias estruturais e conceituais, fazendo as quatro afirmações ou unidades semânticas adquirirem uma equivalência de sentido: todos os escravos foram libertados = todo o café amadureceu = todas as vacas tiveram filhotes = todos os filhotes viveram. As estrofes assim se tornam, por equivalência paradigmática e sintagmática, novamente uma só metáfora da “unidade fundamental da vida”. Ainda subordinado a “aquele dia”, as três estrofes seguintes – linhas 9-17 – apresentam um outro ângulo da fazenda, as passarmos de uma paisagem externa para a varanda da casa colonial: On the wide veranda where birds in cages sang among the bell flowers I in a bridal hammock white and tasseled whistled [Na ampla varanda onde pássaros em gaiolas cantavam entre campânulas eu numa rede nupcial branca e enfeitada com borlas assobiava] Esta cena, como se encontra descrita no Brazilian Journal (PAGE, 1988, p. 43) – “numa ampla varanda, sombreada por trepadeiras com campânulas cor-de-rosa, havia pássaros em gaiolas e uma rede nupcial branca enfeitada com borlas” – e, em contraste com a liberdade dos imensos campos, implícitos na fazenda de café, apresenta uma série de imagens de encapsulação parcial ou total: – “a ampla varanda”, tão típica de uma fazenda, com seus espaços abertos ao longo dos lados da casa e o telhado sustentado na frente por pilares, conotando abrigo, segurança, mas também contato com a paisagem e com o mundo exterior; 210 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 – as “gaiolas” – emblemáticas, como as algemas, de crueldade e encarceramento – destacando ainda mais as associações simbólicas positivas dos pássaros com o ar, o vento, o sol, a essência divina, imortalidade e criação, e de seu canto com os ventos, fertilidade e fascinação, por negá-los, deste modo projetando igualmente a falta de liberdade dos pássaros; – as vistosas “campânulas cor-de-rosa”, lembrando indiretamente o simbolismo do canto dos pássaros por suas associações com beleza, alegria, transitoriedade e alma, e portanto lembrando as conotações do próprio sino como adoração, liberdade, fertilidade, poder criativo do som, mas simultaneamente retomando, através de seu formato, o sino e a gaiola como imagens de encapsulação. Como que concentrando em si mesma todas essas imagens de encapsulação, visualizamos finalmente o “eu” da persona exatamente no centro do poema, circunscrito pelas orações anteriores e posteriores, simultaneamente envolto e suspenso “numa rede nupcial”. Sugestivamente “branca e enfeitada com borlas” – e portanto não apenas ornamentada com tufos em formato de sinos, mas também, em sua brancura e beleza nupciais, simbólica de pureza, iluminação, intuição, o inconsciente – a rede, novamente um artefato tão tipicamente brasileiro, projeta, em primeiro lugar, a suspensão literal da persona entre o ar e o chão. Ao envolvê-la num estado de iluminação e intuição, a rede também conota estar a persona suspensa entre dois mundos – como mencionado na introdução – entre um passado histórico e seu momento presente, entre sua liberdade e o aprisionamento dos escravos e dos pássaros. A suspensão, como desejo não realizado ou expectativa ansiosa, propiciará deste modo a fusão de realidade e surrealismo da próxima estrofe. Ademais, se todos nossos sentidos já haviam sido estimulados ao passarmos pelas três estrofes iniciais, visão, som, perfume e tato também percorrem esta rede de intrincados paralelismos visuais de enclausuramento – varanda/ gaiola/ campânula/ borla/ rede – todos eles novamente unidos por sutís paralelismos sonoros: além de a aparição do “eu” (“Ï”) poético estar precedida e seguida fonologicamente por sua assonância assimétrica com “wide/ bridal/ white”, e o uso seqüencial de nasais e líquidas em “sang/ among/ bell” reproduzir a sonoridade do canto dos pássaros, com um leve reecoar de “among” em “hammock”, outros efeitos sonoros – Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 211 aliteração parcial ou total em “bird/ bell/ bride”, consonância em “sang/ among” e assonância em “tasseled/ hammock” – contribuem igualmente para aproximar som e significado. Além disso, as similaridades grafológicas em “wide veranda” justificam a modificação de Page do original “deep veranda”, no Brazilian Journal, para “wide”, no poema. Chegamos agora à unica ação que a persona desempenha no poema: assobiar. Se numa primeira leitura, assobiar apenas implica em que o “eu” poético, ao imitar o canto dos pássaros, está tentando de maneira inconseqüente passar o tempo, enquanto os efeitos aliterativos e a similaridade visual entre “white/ whistled”, a rima “tasseled/ whistled” e a já mencionada assonância “I/ bridal/white” projetam novamente a relação íntima entre som e significado, entre assobiar e estar suspenso. Ademais, equivalência paradigmática e sintagmática entre as duas orações “birds in cages sang among the bell flowers/ I in a bridal hammock, white and tasselled, whistled” faz as conotações simbólicas do ato de assobiar – como ato mágico, um expediente para atrair deidades teriomórficas – não apenas reforçar o fato de a persona estar suspensa entre um mundo real e um surreal, mas efetivamente levar à fusão desses dois mundos. Ao assobiar, ela executou um ato mágico pois a paisagem externa reaparece a ela como visão, na estrofe seguinte: and bits fell out of the sky near Nossa Senhora who had walked all the way in bare feet from Bahia [e partículas caíram do céu perto de Nossa Senhora que andara descalça por todo o caminho desde a Bahia] Essas partículas de céu azul – cor associada com a imensidão do espaço superior e com profundidade e portanto com liberdade, espiritualidade, eternidade – não apenas caem “perto de Nossa Senhora” mas são emblemáticas de suas próprias cores –- azul e branco – sugerindo a conexão íntima que pode ser estabelecida entre esta visão de Nossa Senhora, envolvida simultaneamente pelo céu azul e em seu manto cor-do-céu e a maneira como ela está retratada em imagens e pinturas nas igrejas católicas, 212 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 e como Page provavelmente a viu ao visitar a capela na fazenda, “com uma linda Nossa Senhora” (PAGE, 1988, p. 45). Esta visão – que ressalta tão claramente a união da realidade exterior com a interior dos surrealistas, para os quais o real e o imaginário, o passado e o futuro, o alto e o baixo, o comunicável e o incomunicável cessam de ser percebidos como contraditórios (PREMINGER, ed., 1974, p. 821) – é então ainda amplificada na próxima linha, quando a persona, com intuição quase metafísica, imagina a chegada desta imagem à fazenda. Este distanciamento no tempo e no espaço – deste modo acrescentando outra moldura à visita real que Page fez à fazenda e à composição do poema – contribui ainda mais para tornar esta visão repleta de conotações religiosas, culturais e históricas: – o mais-que-perfeito já coloca a ação num tempo anterior a “aquele dia”, isto é, o dia da libertação dos escravos, enquanto “descalça” – simbolizando humildade e servidão voluntária porque o pé toca o pó da terra – retoma não apenas a imagem de Nossa Senhora descalça, mas também o fato de os escravos estarem descalços; – “desde a Bahia”, além de lembrar a longa jornada a pé a ser percorrida para alcançar a fazenda, simultaneamente resgata sua fascinante história: a Bahia como o primeiro lugar em que aportaram os portugueses quando descobriram o Brasil, o local em que a primeira missa católica foi celebrada, a primeira capital do Brasil e também a capitania ou província mais rica na primeira metado do século XVIII devido a seus produtos, gado, porto, centro de exportação e também de comércio de escravos3. Como Page confirma, Examinando agora o poema, acho, em relação aos escravos, que eu estava tentando incorporar a ele uma pequena parcela da história do Brasil. Não havíamos [o marido e ela] estado na Bahia quando visitamos a fazenda [em 1957], de modo que do ponto de vista de 1967 [quando compôs o poema] eu estava tentando tornar a fazenda uma divulgadora de outros aspectos do Brasil que me impressionaram ou comoveram (PAGE, carta de 29/06/2001). Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 213 Deste modo, se uma leitura preliminar desta linha dá seqüência à experiência surrealista da persona, ao ela transmitir como que magicamente a vinda de Nossa Senhora à fazenda ainda na época da escravidão, não podemos ignorar o fato de que uma imagem de Nossa Senhora poderia ter sido literalmente trazida da Bahia por escravos descalços carregando-a numa padiola com andores – como ainda é costume em procissões religiosas. A linha também relembra as peregrinações religiosas, nas quais as pessoas andam descalças, ou até de joelhos, para obter ou pagar por uma certa graça recebida, deste modo realçando sua religiosidade. Além disso, o uso literal e metafórico de andar “descalço” não é apenas questão de transferência de sentido, uma “metáfora concretiva” (LEECH, 1969, p. 158) atribuindo existência física à imagem de Nossa Senhora. Andar “de pés descalços” na realidade funde a imagem de Nossa Senhora andando descalça com a dos escravos, como se, ao andar descalça, ela estivesse se identificando e mostrando sua piedade para com eles, ou caminhando em direção a eles, naquele “dia especial” de sua libertação. Expressivamente ressaltada como a linha mais longa no poema e portanto icônica de “walked all the way in bare feet”, esta linha está ainda entremeada de paralelismos fonológicos, como aliteração em “bits/ bare/ Bahia; Nossa/ Senhora”; assonância em “I/ sky; bits/ lit”; “feet/ Bahia”; e aliteração e assonância em “walked all the way – além de “all” estar visualmente contido em “walked” – enquanto a assonância “bits/ lit” simultaneamente fornece uma transição entre esta estrofe e a seguinte: and the chapel was lit by a child’s fistful of marigolds on the red velvet altar thrown like a golden ball. [e a capela ficou iluminada por um punhado de cravos amarelos jogados como uma bola dourada por uma criança no altar de veludo vermelho.] Ainda subordinada a “aquele dia”, a atmosfera mágica da última estrofe, como conseqüência do ato de assobiar da persona, continua nesta outra e tem novamente sua origem em trechos do Brazilian Journal: 214 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 A segunda fazenda, menor que a primeira, era antiga como aquela (...). A sala principal no andar térreo tinha o formato de um haltere (...). Flores, em pequenos maços, sem folhas (...) comprimidas em vasos com formato de caneco, estavam perfeitamente dispostas como que por olhos de pintor (...) Após o semen [na visita à estrebaria], a capela, com uma bela Nossa Senhora e no altar, como na casa, os mesmos buquês de criança, pequenos e apertados, de flores – cravos amarelos, desta vez, em contraste com o pano de veludo vermelho no altar. (PAGE, 1988, p. 44-5) Da abertura da paisagem externa na última estrofe, retornamos a uma imagem de encapsulação: como a origem da palavra “capela” confirma (de cappela, dim. de cappa – manto), esta pequena igreja envolve os visitantes ou fiéis em sua atmosfera religiosa, tanto como construção separada ou como parte do casa principal. Geralmente dedicada à Virgem Maria, a capela – como local de culto na fazenda – está “iluminada por um punhado de cravos amarelos”. Pelo fato de desabrocharem do amanhecer até ao meiodia e depois fecharem à noite, os cravos amarelos se tornam emblemáticos do sol, enquanto sua cor dourada os associa ainda mais com iluminação espiritual e luz pura – o elemento celestial no qual vive Deus (FERGUSON, 1972: p. 42) –, deste modo justificando a atmosfera mágicamente ígnea e espiritualmente iluminada dentro da capela. Simultaneamente, “o punhado de cravos amarelos” resgata a imagem de Nossa Senhora, pois no simbolismo cristão esta flor é também um atributo da Virgem Maria, enquanto a cor dourada simboliza a cor dos cabelos da Virgem. Por esta razão, outras conotações relacionadas com o cravo amarelo, tais como constância, piedade, devoção e misericórdia, tornam-se igualmente virtudes que estão associadas à mãe de Cristo. Além disso, o cravo amarelo também participa do simbolismo geral da flor – regeneração – deste modo recuperando a atmosfera de renovação na natureza enfatizada nas estrofes II e III, “naquele dia” em que os escravos foram libertados. O fato de o punhado de cravos amarelos ser jogado no altar por uma criança – projetando sua associação com pureza, primavera, fertilidade e unidade na natureza –, faz a imagem da criança participar da mesma atmosfera de renovação da natureza. Além disso, o simbolismo da criança como mediadora e arauto de cura também pode sugerir uma fé renovada no futuro da humanidade. Desta maneira, seu simbolismo corrobora ainda mais Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 215 intensamente o simbolismo dos cravos amarelos como regeneração e expressa, novamente dentro da atmosfera religiosa da capela, a unidade fundamental da vida. Esta atmosfera religiosa atinge sua significância máxima na imagem do altar, tão emblemático, na arte cristã, da presença de Cristo no Sacramento da Eucaristia (FERGUSON, 1972, p.161) e também de devoção, sacrifício e fé. Sua importância é ressaltada mais uma vez por estar coberta de veludo vermelho, pois a cor vermelha, além de suas associações com luz, ressurreição, ouro, amor e fogo – todas relevantes neste contexto –, também é usada durante a época de Pentecostes, inserindo assim “aquele dia” ainda mais profundamente em uma época religiosa, estabelecida na estrofe II e depois reafirmada na estrofe V. Terminando a estrofe, a comparação “jogada como uma bola dourada”, enfatiza a analogia estrutural entre um punhado de cravos amarelos e uma bola dourada por causa de seu formato redondo e de sua cor, deste modo não apenas reiterando as conotações da cor dourada contidas em “marigold” – sol, fogo, fertilidade, imortalidade, pureza, iluminação spiritual, poder místico, espírito divino, a cor dos cabelos da Virgem – e em “golden ball” – emblemática da terra, perfeição e eternidade, já mencionados. A sobreposição de ambas as imagens, além de fundir suas analogias estruturais e conceituais, confirma novamente, ao resgatar simultaneamente a imagem e o simbolismo projetados em “bolas de fogo”, a conexão íntima entre a renovação da natureza e o ambiente religioso que impregna a estrofe II, e a cena espiritualmente iluminada dentro da capela. Acima de tudo, também a colocação da comparação no final da primeira parte do poema, subordinada a “aquele dia”, torna as associações visuais e simbólicas de “bola dourada” uma imagem final esclarecedora da perfeição deste dia “extraordinário” no qual os escravos foram libertados, perfeição que lembra, novamente, a unidade fundamental da vida. Todas essas imagens estão novamente intercaladas com paralelismos sonoros ressaltando suas relações semânticas: “chapel/ child” estão unidos por aliteração; “chapel/ marigolds”, “red/ velvet”, “gold/ golden/ thrown” e “altar/ ball”, por assonância; e, mais enfaticamente, a repetição das líquidas /l/ em quase todas as palavras desta estrofe e /r/, em menor número, além de interligar ainda mais as imagens em “chapel/ lit/ child”, red/velvet/ 216 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 altar”, “golden/ball” e “fistful/arigold”, ambas as consoantes líquidas acrescentam um toque especial de suavidade às imagens e de fluidez às linhas. Esses paralelismos são então transpostos para a segunda parte do poema, com a assonância em “thrown/ golden/ Oh” também estabelecendo uma transposição sonora entre ambos os segmentos. A última e mais longa estrofe contém o segundo momento do poema: Oh, let me come back on a day when nothing extraordinary happens so I can stare at the sugar-white pillars and black lace grills of this pink house. [Ah, deixe-me voltar num dia em que nada de extraordinário aconteça para que eu possa contemplar os pilares brancos como açúcar e as grades de renda negra desta casa cor-de-rosa.] Introduzida enfaticamente pela interjeição “Oh,” com seu som exclamatório de saudade ainda mais ressaltado pelo acento silencioso que segue a vírgula, deste modo contribuindo para projetar o forte sentimento ou emoção que tomou conta da persona ao proferir sua prece ou invocação – “deixe-me voltar num dia/ em que nada de extraordinário aconteça” – a oração principal imediatamente estabelece um contraste entre “aquele dia” no qual acontecimentos “extraordinários” (de extra-ordinem> fora da ordem usual) aconteceram e este dia “qualquer” (dentro da ordem usual) no qual ela gostaria de retornar. Quando o “eu” poético percebe a distância imaginativa que separa o “comum” daquele momento mágico – quando o mundo referencial se tornou um mundo imaginário, o passado histórico se fundiu com o aqui e agora da revelação poética e um brilho dourado imbuiu e fundiu as paisagens externa e interna – seu apelo para retornar num dia comum torna-se uma Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 217 prece para ver, “contemplar” a realidade novamente, como se o surrealismo de sua visão tivesse sido intenso demais para seus olhos. Estrategicamente prefigurado em “nothing extraordinary” – pois “nothing”, anulando “extra”, permite o aparecimento de “stare” – e por ter suas letras entrecruzadas, formando um quiasmo com “extra”, revelar suas implicações contrastivas de visão x realidade, o verbo “stare”, enfaticamente colocado no final da linha, torna-se deste modo a palavra mais significativa deste verso. Como a conjunção conclusiva “so” confirma, introduzindo a oração “so I can stare”, a persona deseja apenas contemplar, literalmente, com os olhos fixos e bem abertos, a fachada: at the sugar-white pillars and black lace grills of this pink house. [os pilares brancos como açúcar e as grades de renda negra desta casa cor-de-rosa.] Poderiamos quase dizer que o “eu” póético, ao olhar fixa e intensamente para a fachada de concreto da casa, não se permitia visualizar acontecimentos “extra”- ordinários tendo lugar, como se “stare” anulasse (como “nothing”) as implicações de “extra”. Comparando essas três últimas linhas com o registro no Brazilian Journal – “Visitamos duas fazendas do início do século XIX. A primeira, uma casa colonial, cor-de-rosa com pilares brancos e grades negras rendadas nas janelas” (PAGE, 1997, p. 43) – parece haver pouca alteração, à primeira vista, entre o que foi registrado como “fato” no Journal e como “ficção” no poema. Entretanto, ao especificar os pilares brancos como “sugar-white”, ao remover “nas janelas” das “grades negras rendadas” e ao simplificar “uma casa colonial, cor-de-rosa” para “esta casa cor-de-rosa”, essas características exteriores – ainda sutilmente vinculadas pela consonância em “pillars/ grills/ house” – tornam-se ainda mais ressaltadas, além de inevitavelmente acentuarem, mais uma vez, associações históricas e culturais para o leitor brasileiro: 218 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 – os pilares, simbólicos de propriedade, com sua cor branca como açúcar lembrando que o açúcar era o produto mais importante nas fazendas brasileiras até o final do século XVII; – as grades de renda negra, conotando proteção contra intrusos apesar das delicadas linhas ornamentais, mas também, ao resgatar a imagem das algemas, associadas a encarceramento; o qualificativo “negro”, além do mais, associa “grades” novamente a escravos; – a “casa cor-de-rosa”, uma última imagem de enclausuramento, retoma a imagem da casa colonial com a qual Page iniciou seu registro no Brazilian Journal, mas em ordem invertida, deste modo projetando o contraste entre a visão de liberdade estabelecida na primeira linha e de escravidão conotada na última linha do poema. Desta maneira, as três últimas imagens simultaneamente se tornam emblemáticas dos três elementos básicos na estrutura econômica colonial brasileira – a grande fazenda, a mono-cultura e o trabalho escravo – fazendo o poema terminar com uma visão concreta de dominação econômica e cultural, apesar do desejo da persona de apenas “observar”, em contemplação estética, a beleza desta casa colonial. Concluindo, poderíamos dizer que nossa entrada nesta “fazenda brasileira” nos forneceu não apenas uma descrição cênica do ambiente, projetando as imagens que causaram impacto na percepção visual da poeta. A descrição da topografia externa também revela o olhar interior da poeta – em seu devaneio e com sua sensibilidade poética – ao ela evocar e transformar os acontecimentos naturais, através da riqueza de suas conotações simbólicas, numa experiência transcendental. Acima de tudo, ao associar sua percepção quase metafísica a seu conhecimento cultural do Brasil – salientados ainda pelo lapso temporal entre a experiência poética e a composição do poema – ao resgatar associações históricas, religiosas e culturais, deste modo realçando a fusão da realidade exterior com a interior, Page criou uma visão lírica inolvidável de uma fazenda brasileira. Como mensagem verbal – ao projetar a função emotiva da linguagem transmitida pelo “eu” lírico e ao quebrar a arbitrariedade da linguagem referencial através do destaque de paralelismos fonológicos, morfológicos e sintáticos como também de equivalências paradigmáticas e sintagmáticas, todos eles intensificando as relações semânticas entre as configurações de Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 219 imagens – esta visão simultaneamente estabelece a função poética da linguagem, centrada na mensagem (JAKOBSON, 1971, p. 129), como a função determinante deste poema. Se Frye termina o “Prefácio” afirmando que Todo bom poeta lírico desenvolve uma certa estrutura de imagens, unificada por certas metáforas recorrentes, tão tipicamente própria como sua caligrafia e, mais cedo ou mais tarde, virá a produzir poemas que parecem estar no centro dessa estrutura. No sentido formal, são poemas míticos que fornecem ao crítico as chaves imaginativas para a obra de seu criador. Tais poemas (...) enriquecem não apenas nossa experiência poética mas também nosso conhecimento cultural e, com o passar do tempo, tornam-se cada vez mais a única forma de conhecimento que não fica datada e que continua a manter seu interesse para as gerações futuras. (FRYE, 1971, p. 179) podemos especificar mais ainda esta afirmação acrescentando que Page, em sua resposta a nosso ambiente natural e histórico, não apenas enriqueceu nossa “experiência poética” como leitores e nosso “conhecimento cultural” como brasileiros. Ela também os intensificou e aprofundou pois, ao tornar “Brazilian Fazenda” metafórica da unidade fundamental da vida e portanto de uma intensa experiência poética, cultural e, principalmente, transcendental, ela nos tornou muito mais intensamente conscientes e fascinados pelas possibilidades poéticas de nosso próprio país e de nosso passado cultural. Notas * Tradução de “Poetic experience and cultural knowledge in P. K. Page’s Brazilian Fazenda” publicado nos Anais do VI Congresso Internacional da ABECAN: Transculturalismos. CD-ROM. Porto Alegre: UFRGS, 2000. 2 Todas as traduções dos textos originais em inglês são de minha autoria, inclusive a tradução literal do poema ‘Brazilian Fazenda’ de P. K. Page. 3 Todas as referências simbólicas foram retiradas dos três dicionários mencionados nas Referências. 4 Pelo fato de este trabalho ter sido apresentado num congresso internacional, foi necessário acrescentar informações sobre História do Brasil já de conhecimento notório para brasileiros. 220 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 REFERÊNCIAS CIRLOT, Juan Eduardo. Dictionary of Symbols. London: Routledge & Kegan Paul, 1971. FERGUSON, George. Signs & Symbols in Christian Art. London: Oxford University Press, 1972. FRYE, Northrop. The Bush Garden. Essays on the Canadian imagination. Toronto: Anansi, 1971. JAKOBSON, Roman. “Lingüística e poética”. IN: Lingüística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1970. LEECH, Geoffrey N. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman, 1969. ORANGE, John. P. K. Page and Her Works. Toronto: ECW Press, 1987. PAGE, Patricia K. Brazilian Journal. Toronto: Key Porter Books, 1997. ________.The Hidden Room. Collected Poems, vol. II. Erin: The Porcupine’s Quill, 1997. ________. Carta à autora em 29/06/2001. Não publicada. PREMINGER, Alex, ed. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton: Princeton University Press, 1974. RICOEUR, Paul. “The metaphorical process as cognition, imagination, and feeling”. In: On Metaphor, ed. Sheldon Sacks. Chicago: The University of Chicago Press, 1979. TOYE, William, ed. The Oxford Companion to Canadian Literature. Toronto: Oxford University Press, 1983. VIZIOLI, Paulo. Trad. William Wordsworth: Poesia selecionada. São Paulo: Edições Mandacaru, 1988. VRIES, Ad de. Dictionary of Symbols and Imagery. Amsterdam: North-Holland, 1974. Artigo recebido em 16.02.2008. Artigo aceito em 23.08.2008. Sigrid Renaux Pós-Doutora em Literatura Inglesa e Norte-Americana pela Universidade de Chicago, EUA. Doutora em Língua Inglesa, Literatura Inglesa e Literatura Norte-Americana pela USP. Professora Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana do Curso de Letras da UNIANDRADE. Professora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Professora Titular de Literaturas de Língua Inglesa da UFPR (aposentada). Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 221 222 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 REGIONALISMO E GLOBALIZAÇÃO — DA APARENTE OPOSIÇÃO À COMPLEMENTARIDADE Verônica Daniel Kobs [email protected] RESUMO. O presente artigo tem como objetivo analisar como Cidade de Deus (2002), filme de Fernando Meirelles baseado no livro de Paulo Lins, e O auto da compadecida (2000), de Guel Arraes, adaptação da peça de Ariano Suassuna, seguiram tendências totalmente diferentes, a partir da fusão metrópole/ interior, em Central do Brasil (1998), de Walter Salles. Enquanto essa produção equilibra o ambiente cosmopolita da metrópole com o tradicionalismo do sertão, O auto da compadecida opta pela intensificação do regionalismo, mesmo debatendo temas universais, como a desigualdade social, por exemplo. No lado oposto, Cidade de Deus investe na urbanidade, denunciando a exclusão social, a violência, o preconceito e a corrupção, entre outros temas também de fundamental importância para a sociedade contemporânea. ABSTRACT. This article intends to analyse how Cidade de Deus (2002), a film by Fernando Meirelles based on Paulo Lins’ book, and Guel Arraes’ O auto da compadecida (2000), an adaptation of Ariano Suassuna’s play, followed totally different tendencies, starting from the fusion metropolis/inland region, in Central do Brasil (1998), by Walter Salles. While that production balances the cosmopolitan atmosphere of the metropolis with the traditional values of the inland region, O auto da compadecida chooses the intensification of regionalism, even if debating universal themes, such as social inequality. On the other hand, Cidade de Deus chooses the urban, denouncing social problems such as exclusion, violence, prejudice and corruption, among other themes of fundamental importance for contemporary society. PALAVRAS-CHAVE: Metrópole. Interior. Globalização. Regionalismo. KEY WORDS: Metropolis. Interior. Globalization. Regionalism. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 223 Introdução Central do Brasil, um marco no cinema nacional, promoveu a fusão entre duas paisagens: a interiorana e a urbana, bem como inverteu o sentido de busca que aparecia em filmes do Cinema Novo e em outras produções que tinham o Nordeste como pano de fundo. Não só Deus e o diabo na terra do sol, mas também Morte e vida severina e, mais recentemente, Abril despedaçado, trabalharam com a busca pelo mar como metáfora para a vida ambicionada pelos protagonistas. Alcançando o mar, eles estariam livres e com a certeza de ter novas e melhores perspectivas de vida. Central do Brasil, porém, mesmo também fazendo uso da busca como metáfora, inverte o percurso e lança Dora e Josué em um caminho árduo em direção ao sertão, ao interior, o que representa uma viagem também ao interior deles mesmos como pessoas. Sobretudo Dora passa por uma transformação atroz, mostrando seu afeto por Josué e até se redescobrindo como mulher. Depois do filme de Walter Salles, de 1998, outras duas produções optaram por caminhos completamente opostos, separando e aprofundando os extremos que Central do Brasil uniu. Em 2000, O auto da compadecida surgiu como representação popular e crítica da realidade, centrada numa cidade pequena, do interior nordestino, cuja hierarquia era resumida em tipos, os quais, por sua vez, representavam a influência do coronelismo, ainda forte nas regiões Norte e Nordeste, da Igreja (ressalte-se o fato de a região representada no livro e no filme ser uma das mais crentes e religiosas do Brasil) e a relação entre explorados e exploradores. Dois anos depois, em 2002, Cidade de Deus, que também optou por um microcosmo sistematizado e organizado hierarquicamente, a favela, centra as atenções sobre a sociedade urbana, investindo em temas como a violência, as relações entre pessoas dos morros e de bairros nobres da cidade e, principalmente, o tráfico como motor dessas relações e, ao mesmo tempo, como instrumento de poder dos menos favorecidos em relação aos mais abastados. Dessa forma, os três filmes escolhidos para estudo evidenciam três tendências distintas. No que se refere a Cidade de Deus, a opção pelo cenário mais urbano e por assuntos muito debatidos atualmente é um sinal claro da globalização, que torna urgente a abordagem de polêmicas que afligem a sociedade como um todo. Na contramão, O auto da compadecida reacende o 224 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 debate regionalista, o qual, segundo Stuart Hall, constitui um dos modos de continuar valorizando a cultura autóctone, para que ela não se perca em meio ao predomínio do global. Castells, na mesma linha de Hall, considera o nacionalismo contemporâneo “mais reativo do que ativo” (CASTELLS, 1999, p. 47), justamente pelo fato de ele tentar demarcar novamente as fronteiras diluídas, hoje, pelo multiculturalismo. Essas duas vertentes, antes em equilíbrio, no filme de Walter Salles, foram, posteriormente, dissociadas e aprofundadas por Guel Arraes e Fernando Meirelles. Cidade de Deus seguiu a tendência imposta pela globalização, que enfatiza a urbanidade e seus problemas comuns, assim como fizeram Cidade baixa, O invasor, O príncipe e Contra todos. Já no caso de O auto da compadecida, o risco, segundo Antônio Cândido, é cair no extremo do culto ao regionalismo, mas o filme de Guel Arraes tem dois pontos a seu favor que diluem ou minimizam esse perigo: o fato de ele provocar reflexões sobre temas universais, como desmandos dos poderosos e desigualdade social, por exemplo, e o fato de o filme ter sido feito com base em um texto literário, o qual, na época, encaixava-se perfeitamente às preocupações de desalienar o povo, usando a literatura e o cinema como instrumentos, a fim de fazer o público entrar em contato com pequenos recortes da realidade do país. Central do Brasil: interdependência entre o rural e o urbano O filme de Walter Salles reflete o hibridismo em vários de seus aspectos. Primeiramente, pela estética do diretor, acusado freqüentemente de dar um “bom acabamento” excessivo às suas produções. Isso provoca, para boa parte da crítica, uma diluição dos problemas da realidade brasileira que foram selecionados para figurarem no filme. Ivana Bentes chama esse procedimento de “cosmética da fome”, por oposição à “estética da fome” de Glauber Rocha. A relação entre a técnica “importada” de Salles e os temas inerentes ao país exemplifica, de certa forma, o hibridismo. O traço mais forte, porém, é a junção do regional com o global. No filme, isso é representado pelo deslocamento dos personagens da metrópole para o sertão. Por essa razão, Central do Brasil recebeu rótulos como “nordestern”, “road movie” e, ainda, “árido movie” (note-se que a composição dos termos também reflete o hibridismo) e foi relacionado estreitamente ao movimento Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 225 “mangue beat”, surgido em Pernambuco, em 1990, sob o comando de Chico Science, que juntava ao rock e ao hip-hop aspectos folclóricos do Nordeste. Canclíni enxerga o hibridismo em todos os movimentos modernistas, pelo fato de esses romperem com a tradição literária, a partir da instituição de uma mistura de elementos populares àqueles mais elitizados, promovendo um tipo de sincretismo cultural: “Os modernismos beberam em fontes duplas e antagônicas: de um lado, a informação internacional, sobretudo francesa; de outro, um nativismo que se evidenciaria na inspiração e busca de nossas raízes [...].” (CANCLINI, 2003, p. 116). O “mangue beat”, com influências modernistas assumidas, sobretudo do Manifesto Antropofágico, caracteriza-se pela mesma mistura: Inspirado no manifesto ‘caranguejos com cérebro’, o interesse central do movimento mangue beat era a fusão de ritmos [...]; seria uma percepção da diversidade cultural existente. O movimento aponta para o fato de que já não se pode mais pensar nas diferentes formas de produção cultural — eruditas, populares e de massa, de maneira excludente. [...]. Isso tornou o estilo do movimento como o Antropofágico [...]. (LEAL, 2006, p. 3) Na parte que se passa na cidade grande, Central do Brasil mostra exemplos de violência diária e denuncia a venda de crianças, o tráfico de órgãos, o charlatanismo e a justiça paralela, caso da cena em que o segurança, personagem de Otávio Augusto, mata um garoto, por ele ter roubado um produto, na estação. Fora isso, há espaço para a invasão sofrida pelas grandes cidades, que recebem, diariamente, pessoas, até famílias inteiras, de outras regiões, porque acreditam poder encontrar, nos grandes centros, melhores oportunidades e condições de vida, mas que se deparam, na maioria das vezes, com mais dificuldades do que antes. É importante destacar que, mesmo em se tratando da vida em uma cidade grande, Central do Brasil opta pela periferia, pelo subúrbio, na tentativa de dar ênfase aos excluídos. No entanto, praticamente toda a crítica internacional cobrou de Walter Salles maior atrelamento ao cinema idealizado por Glauber Rocha. Além disso, viu como negativas a recorrência de clichês e a tendência ao melodrama. Uma das poucas críticas positivas foi a norte-americana, que atribuiu 4,81 pontos ao filme, quando esse, no máximo, poderia atingir 5,00 pontos. Os 226 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 mais implacáveis foram os críticos portugueses, que, inclusive, evidenciaram forte parentesco entre o filme e as telenovelas brasileiras, dizendo que até os atores são de televisão. Tendo em vista que o mote do filme é a religiosidade ligada à transformação de Dora e Josué, a partir do momento em que os dois partem para o interior do país, os elementos religiosos tornam-se extremamente freqüentes. Avultam-se também os planos abertos, para a valorização da paisagem agreste. À medida que Josué e Dora se aproximam de seus destinos (a cidade natal do garoto), o aspecto religioso evolui. O ápice acontece quando eles chegam a um povoado em que está acontecendo um tipo de romaria, com quermesse, cultos a santos e rituais, como oferendas de velas e ladainhas, para pedir algo ou agradecer pela graça recebida. Na quermesse, Josué tem a idéia de fazer Dora valer-se de seu ofício de “escrevedora” de cartas e anuncia a escrita de mensagens a Padre Cícero. O fato de a praça aglutinar todas essas manifestações religiosas reforça o aspecto popular do filme, já que são apresentados os costumes de um povo simples, o comércio, com destaque ao artesanato, a medicina natural, etc., tudo potencialmente popular. Simbolicamente, a religiosidade se faz presente na busca de Josué pelo pai, Jesus, e em determinadas inversões, não apenas da imagem de Pietà, na cena antológica em que o menino ampara Dora, sobre uma pedra, mas também na profissão do pai, já que, no texto bíblico, não era Jesus o marceneiro, mas José. Na busca pelo pai, está implícito o sujeito descentrado. Também psicanaliticamente o pai representa o centro. Em Central do Brasil, isso é intensificado pelo fato de o nome do pai ser Jesus, o que representa o alcance de um estado de plenitude espiritual, depois da sintonia com o pai. Relacionado à simbologia do pai como centro ou equilíbrio está o nome da cidade em que Jesus mora, Bom Jesus do Norte, já que Norte simboliza a retidão, uma direção a ser seguida, colocando no caminho certo aquele que está perdido. Em outras palavras, pode-se afirmar que Walter Salles, ao mesmo tempo que tenta firmar a diversidade como um dos traços da identidade nacional, destaca também o conflito de identidade de seus personagens. Dessa forma, a identidade é um conceito explorado duplamente: interna e externamente; individual e coletivamente. A busca de Josué, sobretudo, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 227 depende de sua volta às origens, para encontrar o pai, pois, como filho, é parte integrante dele. No que se refere à identidade nacional, o equilíbrio alcançado entre metrópole e interior é apontado pela crítica como um dos resquícios ideológicos de Gilberto Freyre, que, em seu Manifesto Regionalista, de 1926, atentava para a diversidade da cultura nacional e para o risco do reducionismo, ao se tentar a unidade. Citando um trecho do manifesto e apontando suas afinidades com o filme Central do Brasil, Jayme Canashiro Augusto menciona: “‘[...] o único modo de ser nacional no Brasil é ser, primeiro, regional’ (algo bem assimilado por Walter Salles em seus filmes [...]).” (AUGUSTO, 2006, p. 3). Em outra passagem do mesmo artigo, o autor sintetiza: “Este filme é um encontro de vários Brasis: o do Nordeste que vai ao Sul-Maravilha em busca de sobrevivência, e o do Sul-Maravilha que vai ao Nordeste em busca de si mesmo. É o resgate na esperança do país: os personagens perdidos se tornam cúmplices no caminho para o interior do Brasil.” (AUGUSTO, 2006, p. 2). Tal afirmação estabelece o Nordeste como berço das tradições mais populares, a começar pela religiosidade, mais intensa nessa região. Dessa forma, se Josué busca sua própria origem, é como se também a cidade grande fosse fruto da cidade interiorana e necessitasse recuperar suas raízes, para reaver alguns costumes que se perderam, em meio à homogeneização cultural que afeta e transforma os grandes centros. O Nordeste, ainda mais quando se trata de uma cidade do interior, permite essa revitalização, porque ainda não foi maculado ou “corrompido”, tanto quanto outras regiões do Brasil, pelos costumes que vêm de fora e, dessa forma, é dotado de maior originalidade e “primitividade”. Isso, então, permite à metrópole resgatar hábitos esquecidos já há algum tempo, para que possa acentuar a diferença e assim reagir à globalização. O Auto da compadecida: comunhão entre o regional e o popular O filme de Guel Arraes retoma a tendência regionalista, que prevaleceu, sobretudo na literatura (atentando para o fato de o filme ter sido baseado na peça homônima, escrita por Ariano Suassuna), desde a época de 1930 até o início da década de 50, quando ganhavam destaque os trabalhos 228 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 de João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. O romance de 30, principalmente, filiava-se à ideologia do Manifesto Regionalista. É justamente essa filosofia que reaparece, em 2000, na versão cinematográfica do texto de Suassuna. As afinidades entre o manifesto de Gilberto Freyre e O auto da compadecida aparecem já na idéia de firmar a unidade através da diversidade, considerada uma das principais características brasileiras, pois O auto da compadecida, ao mesmo tempo que situa geográfica e espacialmente as críticas e os conflitos presentes no texto e no filme, conseqüentemente, obtém um alcance universal, fazendo com que o recorte que se faz de determinada sociedade, dentre tantas, represente todas as demais, unificando-as, de certa forma. Um aspecto, talvez o principal, responsável por particularizar a região é a fala, pois privilegiam-se a oralidade e o registro dialetal. Quanto à escolha do Nordeste, Freyre, em seu manifesto, justifica a importância dessa região, da seguinte forma: “[...] o Brasil é isto: combinação, fusão, mistura. E o Nordeste, talvez principal bacia em que se vêm processando essas combinações, essa fusão, essa mistura de sangues e valores que ainda fervem: portugueses, indígenas, espanhóis, franceses, africanos, holandeses, judeus, ingleses, alemães, italianos” (FREYRE, 2006, p. 30). Essa idéia afasta o preconceito existente em relação ao regionalismo, que considera tal tendência separatista e bairrista. Aliás, o autor do manifesto corrige esse equívoco, no início de seu texto, como ação preventiva, e conclui com trechos como o que foi transcrito acima, justificando a escolha do Nordeste como espaço que sintetiza o sincretismo cultural do Brasil. Renato Ortiz, ao comentar o posicionamento de Arthur Cezar Ferreira Reis sobre a Amazônia, compara-o ao autor do Manifesto Regionalista, mencionando que Reis “retoma os argumentos de Gilberto Freyre sobre o Nordeste” (ORTIZ, 1994, p. 93). Adiante, comentando a questão da unidade e da diversidade, Ortiz cita: “A região é uma das partes desta diversidade que define a unidade nacional. O elemento da mestiçagem contém justamente os traços que naturalmente definem a identidade brasileira: unidade na diversidade. Esta fórmula ideológica condensa duas dimensões: a variedade das culturas e a unidade do nacional” (ORTIZ, 1994, p. 93). Em outra obra, intitulada A moderna tradição brasileira, Renato Ortiz opõe as metrópoles, essencialmente urbanas, ao interior, espaço em que sobrevivem as tradições: Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 229 É sugestivo o contraste que se constrói entre São Paulo e o Nordeste. São Paulo é “locomotiva”, “cidade”, e o paulista é “burguês”, “industrial”, tem gosto pelo trabalho e pelas realizações técnicas e econômicas. O Nordeste é “terra”, “campo”, seus habitantes são telúricos e tradicionais e por isso representam o tipo brasileiro por excelência. (ORTIZ, 1999, pp. 36-7) Esse “tipo brasileiro” é resgatado tanto na segunda parte de Central do Brasil quanto em O auto da compadecida, já que as cidades grandes, pelo contato intenso que mantêm com as metrópoles estrangeiras, importando seus costumes e tradições, não perpetuam mais a brasilidade, sendo necessário, então, buscar esse traço em comunidades que estão à margem da industrialização intensa e que, portanto, mantêm hábitos originais, quase primitivos. Em outras palavras, os adjetivos “impuro” e “puro” servem para qualificar, respectivamente, a cultura dos grandes centros e a das cidades interioranas. O objetivo do regionalismo, tanto na literatura como no cinema, já é conhecido. Assim como Stuart Hall pontua hoje, Freyre já mencionava, em seu manifesto, em 1926, que o regionalismo buscava reagir à invasão estrangeira. Pode-se relacionar o resgate do regionalismo, em pleno ano 2000, auge da globalização, ao que postula Bauman, em sua obra Modernidade líquida: “Compartilhar intimidades, como Richard Sennett insiste, tende a ser o método preferido, e talvez o único que resta de ‘construção da comunidade’” (BAUMAN, 2001, pp. 46-7). A partir desse trecho, entende-se a razão de retomar uma obra escrita já há algum tempo e de caráter fortemente regional. O regional pode ser considerado o ponto de partida para o nacional. É através da identificação entre pessoas da mesma região que se estabelece a noção de comunidade e conjunto. Logo, torna-se especialmente significativo o fato de uma peça como O auto da compadecida ter sido adaptada para o cinema no ponto alto da globalização, quando, ainda conforme Bauman, não só as comunidades estão desaparecendo, mas também estão se diluindo instituições que antes eram sólidas e permanentes, como a família, a classe, o casamento, entre outras, denominadas por Ulrich Beck “categorias zumbi”. Em Recortes, Antônio Cândido, em um dos textos críticos que compõem a coletânea, menciona que o nacionalismo está ultrapassado. Porém, 230 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 deve-se ter em mente que o livro, embora tenha sido lançado em 1993, reúne textos escritos também nas décadas de 70 e 80, época em que, de fato, o nacionalismo não era uma preocupação urgente. No entanto, do final da década de 90 para cá, com o crescimento do fenômeno chamado globalização, o nacionalismo volta à tona, para tentar evitar a diluição de valores genuinamente brasileiros. Esse resgate, entretanto, não afetou apenas a cultura brasileira, mas muitas outras. Por esse prisma, pode-se considerar O auto da compadecida mais radical ou extremista que Central do Brasil, pelo fato de aquele optar por um cenário regional por excelência. No entanto, o debate de temas universais constitui, no texto e no filme, um ponto de equilíbrio, que ameniza o que, a princípio, parece radical. Ariano Suassuna, em entrevista concedida a Cláudio Vasconcelos, analisa o impacto contraditório da cultura de massa americana sobre a cultura brasileira popular. Ao responder se teme pelo fim da literatura de cordel, o autor afirma: Eu temo, não somente pela literatura de cordel e a literatura popular, mas por toda a cultura brasileira, que se encontra ameaçada pela invasão da cultura de massa americana. Agora, a cultura popular está mais, porque quem a produz são pobres e, portanto, o massacre é maior. Mas, por outro lado, o fato de eles serem pobres e viverem excluídos do ponto de vista sócio-político é um desastre. Mas, do ponto de vista cultural, às vezes e até sem querer, são eles que criam uma literatura brasileira, porque são menos expostos. (VASCONCELOS, 2006, p. 2) Essa afirmação reforça a concepção de Renato Ortiz, que também compreende o Nordeste como berço da tradição brasileira. Em O auto da compadecida, a simplicidade do espaço e da vida organizada na cidade do interior amplia a discussão de temas fundamentais, como a desigualdade social, por exemplo, e a necessidade de o povo sobreviver com muito pouco, passando a enfrentar condições tão adversas, como a seca, a fome e a exploração dos mais ricos. Mesmo através da comédia, texto e filme dão o recado, mostrando a corrupção do caráter e do código moral pelas altas instâncias do poder, representadas, na obra, pelas figuras do coronel, do bispo e do padre. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 231 Outro elemento que acompanha o nacionalismo, sobretudo quando esse parte de uma representação regionalista, é o tom popular. Essa característica se faz presente, na obra de Suassuna, desde as influências (de Plauto e Molière ao mamulengo e às chanchadas) até a linguagem, na qual se percebe a ênfase ao coloquial, elemento em que a literatura de cordel investe bastante. Somem-se a esses traços populares também a própria comédia e a estrutura de auto, já que esse tipo de peça compreende uma construção simples, alegoria, tom cômico, linguagem ingênua e um final moralizante. Não por coincidência, todos esses quesitos são encontrados na obra de Ariano Suassuna. Da mesma forma que o auto sintetiza várias características populares, a parte final da obra, do julgamento de João Grilo e seus conhecidos, também o faz. Por essa razão, ela pode ser considerada antológica, sempre referenciada. A cena do julgamento investe na oposição do bem contra o mal, representados, alegoricamente, por Jesus e Maria, de um lado, e pelo Diabo, do outro. Além disso, condensa, de certo modo, a religiosidade, que permeia toda a peça. Novamente, como aconteceu em Central do Brasil, a religiosidade é considerada aspecto essencial ao popular. Em meio à alegoria, recurso bastante recorrente no folclore, e à religiosidade, aparece a crítica social, que, no filme, muda o tom, de modo a conferir quase que um teor de documentário à seqüência de cenas em preto e branco, que mostra a migração dos nordestinos, quando fogem da seca, e suas precárias condições de vida. Fazendo jus à opção pelo regionalismo, mesmo debatendo questões universais, O auto da compadecida retrata, com detalhes, o espaço físico, o figurino e costumes específicos, salvaguardados do estrangeirismo. Como exemplos, podem ser citadas: a importância dada pelo coronel ao sobrenome, à titulação e às posses de Chicó, quando esse se apresenta como pretendente à mão de Rosinha; a praça, local onde, inclusive, está situada a igreja, espécie de centro da pequena cidade; as casas pequenas, coloridas e com as janelas caiadas; a caracterização da venda e do bar, à moda dos populares comércios de secos e molhados; e a tradição das quermesses. Cidade de Deus: representação da urbanidade Cidade de Deus, filme de Fernando Meirelles, com roteiro de Bráulio Mantovani, inspirado no romance de Paulo Lins, diferentemente de O auto 232 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 da compadecida, amplia o cenário da metrópole que Walter Salles insere, na primeira parte de Central do Brasil, dando ênfase à periferia. Curioso, em Cidade de Deus, é o fato de tanto o livro quanto o filme contrariarem a tendência que Beatriz Resende identificou na literatura, a partir de 1980. Segundo a autora, com exceção de Cristovão Tezza, Rubem Fonseca, Valêncio Xavier e Dalton Trevisan, para citar apenas alguns nomes, os escritores em geral, atuantes na década de 80, afastaram-se da representação da cidade em suas histórias, privilegiando, em seu lugar, o intimismo, e colocando, dessa forma, em primeiro plano, as crises e os conflitos que envolviam a identidade dos personagens. Para isso, porém, o espaço deixou de ser priorizado e delimitado e o aspecto psicológico dos personagens recebeu maior atenção. Na maioria das narrativas, os protagonistas pareciam perdidos, agindo como se fizessem parte de qualquer lugar, ao modo de um “nowhere man”. Tal tendência ainda permanece. Na literatura contemporânea, histórias que priorizam esse tipo de problemática podem ser vinculadas ao conceito de “modernidade líquida”, em que o tempo é mais importante que o espaço. Revendo os autores que serviram de base a Zygmunt Bauman, em “Tudo que é sólido desmancha no ar”, Marshall Berman, citando Marx, tenta sintetizar a atmosfera moderna, na qual o individual é reforçado pelo enfraquecimento das instituições estáveis do passado: “Todas as relações fixas, imobilizadas, com sua aura de idéias e opiniões veneráveis, são descartadas; todas as novas relações, recém-formadas, se tornam obsoletas antes que se ossifiquem. Tudo o que é sólido desmancha no ar [...]” (citado em BERMAN, 1986, p. 93). Com base nessa passagem, é certo que a individualização e a fluidez das relações sociais dão respaldo às narrativas que são focadas no sujeito e em seus conflitos com o meio e as demais pessoas que o cercam, muitas vezes enveredando para o psicologismo. Porém, na contramão da individualização, que diluiu as fronteiras, relativizando o que se entendia, até então, por “comunidades”, há a tendência que muitos consideram xenófoba, mas natural, cujo principal objetivo é reagir aos efeitos do global. Para tanto, livros e filmes, como é o caso de Cidade de Deus, tentam resgatar o espaço geográfico, como elemento que permite a identificação entre a obra e o leitor/espectador, ao mesmo tempo que retratam questões universais, já que os temas que irão desencadear a história, que se passa na favela do Rio de Janeiro, soam como representativos não só para o Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 233 Brasil, mas para outros países do mundo todo. A mudança significativa que o intervalo que Beatriz Resende apontou como tendo ocorrido na década de 80 pode ter servido como transição no modo de tratar e representar o espaço. Antes, eram priorizados os espaços rurais ou interioranos. Hoje, de modo inverso, a narrativa precisa deter-se sobre o cenário urbano, das grandes cidades, para entrar no debate sobre as questões contemporâneas, cumprindo sua função social. Flora Süssekind chama atenção para a mescla que se faz, contemporaneamente, “entre o etnográfico e o ficcional” (SÜSSEKIND, 2006, p. 1), a partir de outra combinação: jornalismo e literatura. “[...] uma materialização literária da trama citadina ganha sentido distinto quando se observa que a operação fundamental [...] é justamente a colocação entre parênteses dos recursos narrativos, como possibilidade de ampliação, reforçada pelos cadernos de fotos e por uma escrita parajornalística, do campo de visibilidade contextual” (SÜSSEKIND, 2006, p. 1). Percebendo, ainda, o deslocamento do rural para o urbano, o que prefigura a substituição das cidades pequenas pelos grandes centros, a autora menciona: “[...] é predominantemente urbana a imaginação literária brasileira nas últimas décadas” (SÜSSEKIND, 2006, p. 1). O título do artigo em que a autora insere os trechos aqui transcritos, Desterritorialização e forma literária, embora pareça paradoxal, porque fala de urbanização e delimitação do espaço, apenas apresenta o mesmo processo utilizado por Ariano Suassuna, em O auto da compadecida, obra em que o autor, a partir de uma cidade do interior, debate questões universais. Cidade de Deus elege como espaço uma favela carioca e situa as ações na década de 70. No entanto, a história não reflete só a realidade da sociedade carioca, mas de todas as sociedades, devido à universalidade dos temas explorados. Mariza Leão refere-se a isso, em artigo publicado no Jornal do Brasil: “[...] da experiência inovadora do cinema novo aos dias de hoje, 40 anos se passaram. Saímos da mais valia regional para a ‘mais valia universal’, como explica Milton Santos em seu livro Por uma globalização” (LEÃO, 2001, p. 3). Miguel do Rosário, compartilhando a mesma concepção, afirma: “Tratase, antes de tudo, de um filme universal, o que fica acentuado pelo título bílbico. Logo no começo, a vista do alto da comunidade lhe confere um ar de lugar divino, atemporal, um microcosmo onde se desenrolará um drama épico” (ROSÁRIO, 2006, p. 1 e 2). 234 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Naturalmente, com a escolha de um cenário urbano, a temática teve de se adaptar a ele. Por isso, em Cidade de Deus, encontram-se discussões acerca dos excluídos, do preconceito, da violência e da organização das quadrilhas que comandam o tráfico de drogas. Apesar de boa parte da crítica reclamar a ausência do conflito entre as classes, no filme, é justamente o tráfico que serve de mote a isso, já que há uma turma de brancos burgueses, da cidade, que vai ao morro, em busca da droga. A polarização brancos/ ricos/consumidores versus negros/pobres/fornecedores pode ser encarada, em lugar de redutora e estereotipada, como maneira de refletir sobre os vários tipos de preconceitos, pois a sociedade em geral (sobretudo aqueles que detêm o poder, brancos, na maioria esmagadora, e, por conseqüência, responsáveis pelo discurso hegemônico) tende a marginalizar os negros, assim como fazem com os pobres, como se a necessidade e, no caso dos negros, também a cor da pele, fosse determinante para a marginalidade. Também a relação entre o branco/rico e Bené, parceiro de Zé Pequeno, embora não seja muito comentada pela crítica, é responsável por demonstrar a influência de um elemento sobre o outro, a ponto de, a partir da flutuação da identidade de Bené, o personagem negro se transformar, aos poucos, até o ponto em que decide ir embora e mudar de vida. A mudança começa a ocorrer quando Bené dá dinheiro ao garoto rico e pede que ele lhe compre roupas de marca. Primeiro as roupas, depois a cor do cabelo, que de preto passa a ser loiro, sinalizam a tentativa de o personagem se “embranquecer”, buscando um status diferenciado e que permitisse a ele não ser mais visto pela sociedade de modo preconceituoso. Para Bauman, é intenso o vínculo ente o ato de comprar e a questão identitária: Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas as identidades, é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado que se torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias de identidade. Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades à vontade. (BAUMAN, 2001, p. 98) Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 235 Comparando esse trecho com o episódio citado anteriormente, vêse que Bené, optando por mudar radicalmente, não só exemplifica e comprova a mobilidade e flexibilidade do conceito de identidade, mas também responde àqueles que têm a visão unilateral e redutora de que a favela é reduto de bandidos, apenas. Junto com Buscapé, Bené relativiza o conceito de determinismo, afinal, mesmo tendo sido criado no mesmo ambiente que Zé Pequeno e de ter sido seu amigo por anos, desde a infância, consegue seguir um caminho diferente. Além disso, a mudança de Bené representa forte crítica ao preconceito social que existe em relação aos negros, já que, para que o personagem conseguisse a transformação desejada, deixando a vida de crimes que levava junto a Zé Pequeno, precisou enquadrar-se no modelo hegemônico do branco, sinônimo de riqueza e bom-caratismo, por oposição ao perfil reservado ao negro. Aliás, uma reclamação freqüente dos críticos diz respeito ao perfil atribuído aos pobres que moram nas favelas. Os mais radicais afirmam que o filme trata todos os pobres como marginais, o que não é verdade. Basta pensar em Zé Pequeno e opor seu caráter ao de Bené e ao de Buscapé, principalmente. O final dos dois personagens confirma a idéia de que não há generalizações na obra. Enquanto Zé Pequeno acaba morto pelos garotos da Caixa Baixa, que usurpam o seu poder, Buscapé opta, como anuncia a música que encerra o filme, pelo “caminho do bem”, escolhendo, para publicar, uma foto que acabou lhe garantindo um emprego, como fotógrafo, em um jornal de grande circulação na cidade. Comparando o filme de Meirelles a Central do Brasil, é fácil observar que Cidade de Deus supera este nas denúncias que faz, pois essas são mais plausíveis e amplas que a do tráfico de órgãos, por exemplo, tema explorado por Walter Salles, mas que parece fazer parte do conjunto de lendas urbanas mais que da realidade brasileira propriamente dita, tal é o grau de mitificação que já alcançou. Além disso, o microcosmo da favela impulsiona a universalidade, na medida em que a organização do tráfico serve de metáfora para qualquer tipo de organização social, com cargos hierárquicos e funções bem definidas. Claro que o elemento universal está presente também no filme de Walter Salles, mas de modo mais simbólico, no tocante à religiosidade, e de modo mais individual e menos social, no que se refere à transformação do sujeito, como ocorre com Josué e com Dora, em maior escala. 236 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Pelo fato de Cidade de Deus enfatizar a urbanidade, é visível o reflexo da globalização, no que diz respeito à inter-relação entre as classes, conseqüência do atenuamento das fronteiras que delimitavam rigidamente territórios tão distintos. Os temas têm alcance universal, mas pode-se explicar a escolha pela representação da cidade através do argumento de os grandes centros serem as principais vítimas do multiculturalismo, que embaralha as identidades culturais, margeando a despersonalização do sujeito e da sociedade em geral. As metrópoles, permitindo a evolução tecnológica, favorecem a globalização, para, no momento seguinte, reagirem a ela, de modo paradoxal e quase incompreensível, por perceberem a descaracterização de sua cultura pelo contato intenso e freqüente com as culturas dos outros países. Nesse aspecto, Cidade de Deus consegue chegar a um ponto de equilíbrio, ao misturar o espaço nacional com questões universais, associação que representa um dos principais conflitos da contemporaneidade. Considerações finais Grande parte da crítica aproxima os três filmes discutidos, neste artigo, a partir do aspecto da diluição da denúncia da realidade, alegando que o bom acabamento e o melodrama, em Central do Brasil, o tom cômico, em O auto da compadecida, e o formato estrangeiro de Cidade de Deus, muito parecido ao das peças publicitárias e dos videoclipes, distraem o público. Tal distração acarretaria o desvio dos aspectos que são de fato essenciais a uma análise crítica da realidade que, mesmo que em parcela muito pequena, é retratada no livro ou na tela. No entanto, em menor ou maior grau, os três filmes levam à reflexão, ao elegerem temas de grande importância para a sociedade contemporânea, e, por isso, tiveram imensa repercussão. Os militantes da ideologia do Cinema Novo opõem as produções de Salles, Arraes e Meirelles aos filmes de Glauber, o que representa um grande problema. Apesar de Glauber alcançar maior densidade nas denúncias, muitos de seus filmes eram herméticos demais e, por isso mesmo, não tiveram o alcance popular esperado. A idéia era fazer um cinema sobre o povo e para o povo, mas o objetivo não foi alcançado totalmente. Apenas a elite intelectual analisou e compreendeu as produções cinemanovistas, de modo satisfatório. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 237 De outro lado, observa-se o crescimento de obras que têm as metrópoles, e não mais as cidades interioranas, como pano de fundo, atendendo a urgência de polêmicas debatidas na mídia, todos os dias. Isso faz com que haja uma coerência na mudança imposta pela evolução da sociedade. Na era global, ao mesmo tempo em que são fortes os resquícios de estrangeirismo, as cidades grandes não deixam de expressar fragmentos que integram a brasilidade. Mudando-se os temas e os espaços, ou o tratamento dado a eles, mudam-se as formas de representação e, conseqüentemente, a “cara” do país, celebrando o conceito de identidade, como postula Stuart Hall, como algo móvel e fragmentado. Do regionalismo de 30 passou-se para a representação das metrópoles, transformação típica da modernidade, cenário da revolução ininterrupta, segundo Marx, assim como da dissolução, da fluidez e da mobilidade. REFERÊNCIAS AUGUSTO, J. C. A questão da identidade nacional nos primeiros filmes de Walter Salles Jr. Disponível em: http://www.facasper.com.br/jo/download/ identidade_nacional_nos_filmes_de_walter_salles.doc. Acesso em: 08 abr. 2006. BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade. São Paulo: Companhia da Letras, 1986. CANCLINI, N. G. Culturas híbridas. São Paulo: EDUSP, 2003. CASTELLS, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. FEYRE, G. Manifesto regionalista de 1926. Recife: Região, 1952. LEAL, R. et al. Chico science. Disponível em: http://ww.focca.com.br/ chicosci/ chico%201%20ª%20CC.htm. Acesso em: 23 mai. 2006. LEÃO, M. Condenados em nome de Glauber? Jornal do Brasil, 10 jul. de 2001. ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1994. _____. A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1999. 238 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 ROSÁRIO, M. do. A volta do marginal. Disponível em: http://www. arteepolitica.com.br/criticas/cinema/cidade_Deus.htm. Acesso em: 08 abr. 2006. SÜSSEKIND, F. Desterritorialização e forma literária — Literatura brasileira contemporânea e experiência urbana. Disponível em: http://www.infoamerica.org/ articulos/s/sussekind.htm. Acesso em: 14 fev. 2007. VASCONCELOS, C. Autor de Auto da compadecida fala sobre cultura popular. Disponível em: http://www.pi.gov.br/entrevista.php?id=8784. Acesso em: 05 mai. 2006. Artigo recebido em 05.12.2007. Artigo aceito em 30.04.2008. Verônica Daniel Kobs Doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paaná – UFPR. Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Paaná – UFPR. Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira da UNIANDRADE. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 239 240 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 CINEMA SHAKESQUEER: A REPRESENTAÇÃO DO AMOR QUE OUSA DIZER O NOME DO BARDO∗ Anna Stegh Camati [email protected] RESUMO: No processo de transcriação do texto shakespeariano, o filme homônimo Sonho de uma Noite de Verão, de 1984, opera mudanças de enfoque, ambientação, atmosfera, enredo, caracterização das personagens e políticas sexuais, de acordo com as exigências das perspectivas ideológicas selecionadas por Lindsay Kemp e Celestino Coronado. Na abertura do filme, o acréscimo de uma moldura literal e metafórica nos remete aos conceitos que Freud desenvolveu em seus escritos sobre a interpretação dos sonhos. A trama toda é reconfigurada como uma fantasia homoerótica de Puck, e a teia, na qual ele se encontra preso, representa a intrincada tessitura dos sonhos que permite múltiplas leituras. ABSTRACT: In the process of transmutation of the Shakespearean text, the homonymous 1984 film A Midsummer Night’s Dream operates transformations of focus, setting, atmosphere, characterization and sexual politics, according to the demands of the ideological perspectives chosen by Lindsay Kemp and Celestino Coronado. In the opening scene, the addition of a literal and metaphorical frame evokes Freudian concepts on the interpretation of dreams. The plot is reconfigured as Puck’s homoerotic fantasy, and the web, in which he is enmeshed, represents the intricate texture of dreams that allows multiple readings. PALAVRAS-CHAVE: Sonho de uma Noite de Verão. Políticas sexuais. Identidade de gênero. Adaptação fílmica. Intermidialidade. KEYWORDS: A Midsummer Night’s Dream. Sexual politics. Gender. Film adaptation. Intermediality. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 241 I am the love that dare not speak its name. Lord Alfred Douglas Introdução Para descrever as relações dialógicas entre os diferentes meios, o discurso teórico/crítico da contemporaneidade apropriou-se do conceito de intermidialidade que substitui e inclui os termos adaptação e tradução intersemiótica (SISLEY, 2007, p. 37). A incessante busca pelo novo conduziu a processos de hibridização e contaminação de meios, linguagens e suportes cada vez mais complexos. A mistura e fusão de diversas artes e mídias convergem para compor um produto novo, “um todo mesclado e interconectado de sistemas de signos que se juntam para formar uma sintaxe integrada” (SANTAELLA, 2003, p.135). Encenadores e cineastas optam, hoje, por interfaces e entrecruzamentos arrojados com o propósito de revitalizar a criação artística. No artigo intitulado “Shakespeare pós-colonial e pós-moderno”, Jyotsna Singh (1996, p. 39)1 argumenta que as tendências da pós-modernidade, tais como o pluralismo, a desconstrução e o descentramento, foram responsáveis por uma significativa alteração de valores: “o texto shakespeariano deixa de ser sacrossanto: ao invés disso é apropriado e recontextualizado através de uma multiplicidade de formas e estilos no sentido bakhtiniano que rompe com a autoridade cultural do Shakespeare de tradição inglesa e renascentista”. Como argumenta Anne Ubersfeld (2002, p. 12), uma obra clássica não mais tende a ser vista como “um objeto sagrado, depositário de um sentido oculto, como o ídolo no interior do templo, mas, antes de tudo, a mensagem de um processo de comunicação”. O presente ensaio objetiva investigar alguns aspectos apontados pelos críticos como elementos-chave do fenômeno da adaptação dos clássicos na contemporaneidade, e se propõe a analisar as mudanças, decorrentes do Zeitgeist, que se configuram na versão fílmica de Sonho de uma Noite de Verão (1984), idealizada por Lindsay Kemp e Celestino Coronado, sendo que este último também assina a direção. O filme é uma tradução intersemiótica do espetáculo teatral homônimo da companhia de dança de Lindsay Kemp que, por sua vez, é inspirado no texto shakespeariano. A tradição romântica da 242 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 representação da peça, que se prologa até a primeira metade do século XX, é subvertida por uma vasta gama de elementos de carnavalização bakhtiniana e da estética do grotesco. A adaptação criativa de uma língua para outra e/ou para outros meios pode ser designada por uma diversidade de rótulos, como transcriação, transmutação, transsubstanciação e transluciferação. Privilegio o último, termo cunhado por Haroldo de Campos, para me referir ao filme, porque ele contém, em sua composição morfológica, um dos nomes pelo qual o diabo é chamado, e remete ao episódio bíblico da rebelião dos anjos, liderados por Lúcifer, que, a partir de então, foram amaldiçoados e transmutados em demônios. Considerando que as dicotomias (anjo/demônio; amor/ódio; bem/mal, dentre outras) são polaridades ou opostos em tensão, pode-se ler o vocábulo “transluciferação” como um paratexto de si mesmo que elucida o processo tradutório, uma vez que inclui em seu significado a referência da relação de oposição e complementaridade que caracteriza as polaridades. Segundo Campos (1981, p. 209), esse tipo de travessia textual, também denominada por ele de “escritura mefistofélica” e/ou “desmemória parricida”, é uma transsemiotização no sentido abrangente que permite desvios, omissões, acréscimos, interpolações e distorções de toda espécie.2 Uso o termo “adaptação” na acepção proposta por Linda Hutcheon em seu livro A Theory of Adaptation (2006). Nesta obra, a crítica canadense alarga o âmbito desse conceito, da mesma forma como Roman Jakobson havia procedido na primeira metade do século XX, quando elaborou uma distinção terminológica que possibilitou a ampliação do conceito de tradução, ao propor três maneiras de interpretar o signo verbal: “tradução intralingual” (paráfrase de um texto na mesma língua); “tradução interlingual” (transformação de um texto para uma língua diferente); e “tradução intersemiótica ou transmutação”, que “consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais” (JAKOBSON, 2005, p. 64-65). A adaptação dos clássicos na contemporaneidade Um texto clássico é um contingente polívoco enriquecido por uma complexa rede de intertextos acumulados através dos séculos. A apropriação dos clássicos como matéria-prima para novas criações é uma prática recorrente Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 243 na contemporaneidade, e o debate em torno de como adaptar os clássicos (UBERSFELD, 2002, p. 8-37; HUTCHEON, 2006, p. 15-21; PAVIS, 2007, p. 57-78) ganhou corpo e voz nos estudos literários, culturais e intermidiáticos. A questão da significação de um clássico, como lê-lo e a partir dele interpretar o cotidiano já foi pensada por Shakespeare que escrevia peças sobre tempos remotos e reinos distantes para iluminar o seu próprio momento histórico. Segundo o entendimento de Peter Brook, na história da humanidade sempre surge um momento em que uma combinação de fatores e circunstâncias valida a opção por um texto clássico, tornando acertada a escolha (HUNT & REEVES, 1999, p. 90). Apesar de que ainda hoje muitas adaptações cênicas e fílmicas continuam a ser analisadas e julgadas a partir do critério da fidelidade, vale lembrar que mesmo em relação à obra de Shakespeare é impossível falar de um texto “autorizado” ou “oficial”. Existem diversas versões de cada uma das peças, e uma grande variedade de edições híbridas posteriores que apresentam diferenças substanciais entre si. Stephen Orgel (1991, p. 83-86), um dos mais respeitados críticos, comenta que nada sabemos sobre os textos “originais” de Shakespeare, uma vez que nunca foram encontrados manuscritos ou prompt-books (manuais de palco) de nenhuma de suas peças. E mesmo que tivéssemos recuperado estes ur-textos, eles provavelmente seriam diferentes de todos os outros textos que conhecemos até agora. Acredita-se que muitas das versões que chegaram até nós foram inúmeras vezes revisadas e modificadas pelo próprio bardo, e que provavelmente diversas falas ou cenas tenham sido interpoladas por seus colaboradores.3 A abertura e a maleabilidade que os textos de Shakespeare oferecem proporcionam inúmeras possibilidades criativas ao artista no percurso intermidiático através do tempo e espaço. Quando o texto é transformado em roteiro cênico ou cinematográfico, o resultado é sempre uma transescritura ou novo texto, com diversos graus de aproximação ou distanciamento do texto-fonte, que pressupõe uma série de transformações, visto que os diversos suportes são regidos por diferentes signos, códigos e convenções. Vale lembrar que na travessia da literatura para outros meios, a questão da fidelidade não se sustenta, porque, hoje, temos consciência que “mesmo o processo pretendidamente mimético caracteriza-se pelo fato de algo tentar fazer-se igual a outro, mostrando-se como não igual [...] Representar a coisa ‘tal como ela é’ é mimese mediada pelo código. Quer dizer, a similaridade já contém 244 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 seu tom diferenciador” (PLAZA, 2003, p. 33). A identidade entre o texto de origem e o de chegada, seja ele fílmico ou outro, não é apenas impossível, mas indesejável: A operação de passagem da linguagem de um meio para outro implica em consciência tradutora capaz de perscrutar não apenas os meandros da natureza do novo suporte, seu potencial e limites, mas, a partir disso, dar o salto qualitativo, isto é, passar da mera reprodução para a produção. (PLAZA, 2003, p. 109, minha ênfase) A análise das adaptações dos clássicos não deve limitar-se à comparação dos aspectos formais e temáticos entre o texto-fonte e o textoalvo. As principais determinantes do redirecionamento de sentido em qualquer adaptação, intersemiótica ou não, são as alterações efetuadas em função da mudança do tempo-espaço e do imaginário cultural. Este último é definido como “o conjunto de fantasias, valores, desejos, hábitos, modos de pensar que caracterizam um momento cultural específico e o diferenciam de outros momentos passados ou futuros” (CARTELLI & ROWE, 2007, p. 25). Nesse sentido, o fenômeno da adaptação pode ser visto como uma manifestação do processo cultural em constante mutação. Em face dessas articulações, as adaptações cênicas ou filmicas realizadas dentro da perspectiva brechtiana, de uma arte dialética que busque a atualização de textos clássicos como matéria de reflexão para uma leitura crítica da realidade, tornou-se uma prática comum. Esse procedimento altera radicalmente o sentido atribuído às obras canônicas pela crítica tradicional, preocupada com a integridade textual. Brecht defendia a necessidade da historicização dos clássicos, um processo que põe em jogo duas ou mais historicidades: o tempo em que o texto foi escrito e o tempo em que ele é reescrito ou transposto para outro meio, visto que o passado influi no presente, e o presente modifica o passado.4 Ubersfeld (2002, p. 12-16) também se pronuncia a esse respeito, quando diz que “a obra clássica, inscrita no processo de comunicação do teatro, sofre modificações em três níveis diferentes – o do emissor, o da mensagem e o do receptor”. A realização cênica ou fílmica envolve emissores múltiplos (encenador, atores e equipe de criação), e os signos da obra em Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 245 questão são filtrados de acordo com as mudanças do Zeitgeist e “em função da escuta atual do receptor”: ouve-se o texto em línguas diferentes concretizado em linguagens e em condições de enunciação contemporâneas. Em virtude da dupla mudança do emissor e do receptor, a mensagem também é modificada, “a partir do momento em que todo o processo de comunicação é abalado, a mensagem não poderia permanecer intacta”. A travessia intermidiática, portanto, envolve uma situação de comunicação complexa e multidirecional que se processa através da intermediação de práticas discursivas de diversos sistemas de significação. Um aspecto importante a ser considerado é o diálogo via de mão dupla que se processa no entrecruzamento de culturas e/ou situações de enunciação: a do texto/cultura-fonte e a do texto/cultura-alvo, com um olhar retrospectivo no passado, mas uma maior ênfase no presente (PAVIS, 2008, p. 123-154; O’SHEA, 2000, p. 43-60). (Sex)alteridades: políticas sexuais que admitem a diferença A partir dos anos 1980, os textos de Shakespeare foram apropriados pela cultura de massa, dando origem a inúmeras leituras alternativas que provocaram desconforto entre os críticos de posicionamentos conservadores. É nessa época que surge o “cinema shakesqueer”, uma vertente fílmica considerada transgressiva (ROTHWELL, 2007, p. 192) por ter ousado emprestar o nome de Shakespeare para representar políticas sexuais que admitem a diferença. Os filmes Sonho de uma Noite de Verão (1984) e Sociedade dos Poetas Mortos (1989) foram apontados por Richard Burt (1998, p. 30) como manifestações artísticas representativas deste novo gênero da indústria cinematográfica. O subtexto que informa o título deste ensaio, “Cinema shakesqueer: a representação do amor que ousa dizer o nome do bardo”5, inclui duas referências que remetem a dois momentos históricos diferentes, antes e depois da revolução das mentalidades na segunda metade do século XX. A primeira, “ousar ou não ousar dizer o nome do amor”, pode ser localizada em uma época anterior à produção do filme, quando a homofóbica sociedade vitoriana encontrou um bode expiatório para exorcisar seus desejos reprimidos. A frase poética “I am the love that dare not speak its name” (Eu sou o amor que não ousa dizer o seu nome), em epígrafe, evoca o poema “Two 246 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Loves” (Dois Amores) de Lord Alfred Douglas, dedicado a Oscar Wilde, que foi uma das muitas referências literárias usadas como arma pelo promotor, Edward Carson, nos três julgamentos que condenaram o poeta e dramaturgo irlandês à reclusão do cárcere por sua orientação sexual. A segunda, “ousar ou não ousar dizer o nome de Shakespeare”, remete à decada de 1980, época em que o filme foi produzido, e às mudanças operadas pelos meios de comunicação de massa que se atreveram a desafiar os cânones da arte ocidental. Esta época representou um marco histórico no terreno dos movimentos sociais de contestação: as legislações dos direitos das minorias foram consolidadas, a obra seminal de Michel Foucault, História da sexualidade (1976/1984), foi divulgada, e o direito da livre opção sexual e da construção de uma política identitária queer foi conquistado. Em face desta virada anti-essencialista, já não se receava dizer o nome do amor, mas toda essa abertura não foi suficiente para mudar a opinião dos críticos conservadores, que reprovaram a inserção de cenas de homoerotismo no Sonho shakesqueer, de 1984. Em virtude desses posicionamentos, o filme foi recebido com reservas e, apesar de seus méritos artísticos, não atingiu visibilidade no meio acadêmico e na mídia.6 Considerando os processos intertextuais e intermidiais que se configuram na recepção e produção de textos, vale mencionar que a dupla de criadores, Lindsay Kemp e Celestino Coronado, exerceram, em primeiro lugar, a função de leitores, um procedimento que nunca é inocente. A partir dessa perspectiva, as óticas e políticas sexuais dos adaptadores do Sonho foram decisivas na releitura e transcriação fílmica do texto-fonte em termos contemporâneos. Foi privilegiado o lado mais escuro da natureza humana, teorizado no ensaio “Titânia e a cabeça de asno”, por Jan Kott, em Shakespeare nosso contemporâneo (1961), obra traduzida para o português em 2003. Apesar de que as considerações teóricas de Kott foram recebidas com restrições pela crítica shakespeariana tradicional, sua obra causou uma reviravolta na história da recepção de Shakespeare e teve enorme influência sobre o teatro e o cinema, inclusive sobre a montagem antológica de Peter Brook, em 1975. As mudanças de enfoque do ensaio kotteano reverberam no filme dirigido por Celestino Coronado. Kott (2003, p. 199) considera o Sonho a peça mais erótica e brutal de Shakespeare, mas como até então ela foi quase sempre apresentada no teatro e no cinema sob uma perspectiva romântica e Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 247 idealizada, “a violência, a brutalidade das situações e dos diálogos é totalmente diluída em cena”. O crítico polonês comenta que a inversão mecânica dos desejos e a permutação dos amantes não é apenas a base da intriga, mas também da caracterização das personagens: A redução do personagem a simples parceiro amoroso parece o traço mais típico desse sonho cruel. E certamente o mais moderno. O parceiro não tem mais nome nem rosto. É apenas quem está mais próximo. Como em certas peças de Genet, não há aqui personagens bem definidos, há somente situações. Tudo torna-se ambivalente. (KOTT, 2003, p. 199-200) Sob a influência da ótica de Kott que vê os amantes como peças intercambiáveis de um mecanismo, os criadores do filme plasmam uma floresta tropical freudiana onde os encantamentos são de outra natureza – o néctar do amor perfeito é instilado nos olhos de Lisandro e Hérmia, que se empolgam com as primeiras pessoas que vêem ao despertar – Lisandro com Demétrio e Hérmia com Helena. O esquema da troca de parceiros, explorado por Shakespeare, é ampliado com a inclusão das políticas sexuais conquistadas nos anos 1980, época dos movimentos de afirmação da ideologia queer. Alteridades textuais, hibridização e intermidialidade A transcriação fílmica do Sonho é um pastiche pós-moderno que agrega marcas e traços do texto, sub-texto e ur-textos (textos-fonte) de Shakespeare, da crítica shakespeariana e da complexa rede de intertextos acumulados em torno da peça através dos séculos. É um filme auto-reflexivo, que entra “em diálogo, em paródia, [e] em contestação” (BARTHES, 2004, p. 64), não apenas com o texto de Shakespeare, mas com a história das adaptações do Sonho no teatro e no cinema, principalmente com as diversas representações da tradição operística, dentre elas o filme semi-operístico de Reinhardt/ Dieterle (1935), e a ópera de Benjamin Britten (1960). Como comenta Ubersfeld (2005, p. 70) não lemos mais um texto “como um texto, mas como um conjunto de texto +metatexto”. Quanto à forma, o filme é um produto híbrido que mistura diversas modalidades de teatro musicado, como a ópera, a opereta e o musical, que se 248 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 configuram como manifestações artísticas intermidiáticas que englobam e reciclam diversos meios. Como em todas essas formas, no Sonho shakesqueer diversos gêneros e artes se mesclam, entre elas a música (trilha sonora), o canto (árias, duetos, coros, ensembles), o teatro (pantomima) e a dança (balé clássico e danças típicas). Neste amálgama de múltiplos signos, linguagens e códigos, diversos empréstimos se destacam, dentre eles os efeitos especiais, dos filmes de ficção científica; as estéticas do grotesco, paródia e travestimento, da commedia dell’arte; e o cenário suntuoso e a espetacularidade, da tradição operística do século XIX. Sendo o cinema um meio predominantemente visual, e as formas de teatro musicado gêneros que priorizam a música, a sujeição ao novo suporte e as transformações de ordem formal exigiram a condensação do texto shakespeariano. No complexo processo de transsemiotização, setenta e cinco por cento das palavras de Shakespeare foram cortadas e substituídas pelas linguagens da música, da dança e da pantomima. A narrativa foi desconstruída, fragmentada e reconfigurada em termos operísticos. O cineasta elegeu o ambiente onírico da floresta como foco principal, uma opção que aproxima o fílme da ópera de Benjamin Britten, e construiu o novo texto com recortes de partes das narrativas entrelaçadas que compõe a trama da peça de Shakespeare: vários episódios e personagens foram eliminados, outros criados e interpolados, muitas falas deslocadas e refêrencias complexas oriundas de múltiplas fontes inseridas. Na abertura do filme, verifica-se o acréscimo de uma moldura literal e metafórica que nos remete ao conceito freudiano de que nenhum sonho é apenas um sonho. A trama toda é redirecionada como um sonho homoerótico de Puck, e seu estado de sonhador é assinalado pela metáfora da teia, uma intrincada tessitura que aprisiona seu corpo e mente. O espectador vê tudo através dos olhos de Puck (protagonizado por Lindsay Kemp) que em seu sonho assume as funções sugeridas por Kott (2003, p.197): “Puck é um ilusionista e um prestidigitador, como um Arlequim da commedia dell’arte”. Ele é um voyeur sinistro, uma combinação de fauno, diabo e Arlequim, com o acréscimo dos chifres do sátiro, que tem orgasmos quando observa os desencontros e as agressividades dos dois pares de amantes mortais, e o encontro sexual entre Titânia e Bottom. Como argumenta Kott (2003, p. 198), é ele quem “puxa os cordões de todos os personagens”, e “libera os Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 249 instintos que põe em marcha os mecanismos desse mundo”. Não somente Puck, mas todas as personagens são rearticuladas, tornando-se aspectos personificados das fantasias do sonhador. Observam-se modos de agir que Freud descreve em A interpretação dos sonhos (1900), constituindo evidência de que a vida psíquica do homem não se passa apenas no plano da consciência. Subterraneamente, forças inconscientes influem sobre o comportamento humano, sendo os sonhos manifestações dessas forças obscuras em ação. No filme, o sonho de Puck se configura como um palco onde ele é, ao mesmo tempo, ator, encenador, ponto, autor, público e crítico. O primeiro episódio que Puck visualiza em seu sonho, é o estupro das Amazonas pelos soldados de Teseu, e a subjugação de Hipólita pelo chefe guerreiro, que encontra respaldo no texto e subtexto de Shakespeare. Esta interpolação pode ser considerada uma citação, visto que remete à versão semi-operística de Reinhardt/ Dieterle (1935). Trata-se de uma das cenas que foram rodadas, mas rejeitadas na edição final para não comprometer a visão romântica do filme e atender as exigências de Hollywood.7 No processo criativo da adequação das diversas linguagens ao meio cinematográfico e ao gênero operístico destaca-se a transformação do enredo da troca de parceiros em um jogo de cabra-cega. A inconstância e as mudanças de afeição são representadas por meio de uma mescla de dança e pantomima, cujos movimentos coreografados traduzem em termos visuais a formação e inversão dos triângulos amorosos até o desencontro total na noite do solstício de verão. Esta transsemiotização dialoga com ambas, a crítica shakespeariana tradicional e revisionista. Enid Welsford (citado por BARBER, 1972, p. 128) descreve o movimento da peça como uma dança: “O enredo é uma configuração, uma figura geométrica, mais do que uma série de eventos ocasionados pela vontade e paixão humanas, especialmente na ambientação noturna banhada pelo luar, e a configuração é de uma dança”. Jan Kott, por sua vez, argumenta que no Sonho, as metáforas do amor, do erotismo e do sexo são inteiramente tradicionais no início, representando as polaridades em tensão, mas elas sofrem transformações importantes no decorrer do monólogo de Helena (I.1.226-251) que contém os elementos-chave para a compreensão da peça. 250 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Concordo com o crítico polonês de que se trata “do monólogo do autor, uma espécie de ‘canção’ brechtiana na qual, pela primeira vez, é anunciado o tema filosófico do Sonho. Esse tema é Eros e Tânatos” (2003, p. 203). Kott defende a idéia de que as imagens deste monólogo se desdobram em várias camadas ou planos de significação: a reflexão sobre a irracionalidade do amor, introduzida por meio de uma personificação – Cupido que, às cegas, dispara as flechas com seu arco – paulatinamente adquire novos contornos e se transfigura de fantasia gerada pelo desejo em força instintiva cega. De acordo com Kott, são as diversidades de leitura do monólogo de Helena que orientam a encenação ou a narrativa fílmica em uma determinada direção, romântica ou erótica: No monólogo de Helena, o Amor cego foi metamorfoseado numa força instintiva cega, numa Niké do instinto: “Asas sem olhos numa corrida sem memória”. [...] As transformações das imagens não são aqui senão um abandono brutal da idealização do amor cara a um Petrarca. (KOTT, 2003, p. 203-204) No filme, a ação do enredo dos amantes é introduzida por uma seqüência pantomímica dançada, apresentada como uma mascarada da corte. As personagens iniciam a dança repetidas vezes, com variações, improvisando coreografias de danças típicas de várias etnias. A seqüência de imagens que mostra os jovens, de olhos vendados, se divertindo com a dança de cabracega, traduz em ação a referência-chave do monólogo de Helena, privilegiando a acepção do amor como força instintiva cega. Por outro lado, o erotismo animal detectado por Kott, em sua leitura pós-freudiana, também é explorado na versão shakesqueer de Kemp/Coronado. Bottom é metamorfoseado numa criatura grotesca ao invés de asno, uma fusão do humano, do animal e do vegetal, composto de casca de árvore, folhas e pêlos, portando um enorme falo que sugere potência sexual exacerbada. Os comentários críticos de Kott (2003, p. 207) iluminam o encontro sexual do artesão com a rainha das fadas: “Titânia é quem mais profundamente penetra na esfera sombria do sexo onde não há mais beleza e feiúra, mas somente fascinação e liberação”. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 251 Shakespeare, em seu texto, já relativiza o racionalismo, e nos mostra que no embate entre a razão (no nível do consciente) e a paixão (no nível do inconsciente), a razão nem sempre consegue contolar as forças instintivas. O cineasta, por sua vez, através da técnica do travestimento, eleva tudo ao exagêro, ao gargantuesco e ao pantagruélico. Despersonaliza as personagens até as últimas conseqüencias com o propósito de “desalojar o público de suas posições antropocêntricas”, revelando o lado animal do homem. Bottom é metamorfoseado numa criatura grotesca, paradigma do não humano: “Um corpo é exibido, e uma linguagem é convocada; corpo e linguagem que não estão em sintonia, que se separam e que provocam, através de uma estranheza mútua, a mais aguda das interrogações sobre a presença do homem no seio do universo do mundo socializado” (SARRAZAC, 2002, p. 103). Em Shakespeare, o garoto indiano que é o pomo da discórdia entre Titânia e Oberon é mencionado diversas vezes, mas não aparece em cena. Kott acha que esse menino é absolutamente inútil para o desenvolvimento da ação, e que Shakespeare poderia ter encontrado inúmeras outras razões para justificar a briga do rei e rainha das fadas. Mas como o dramaturgo nunca insere elementos sem função dramática, seu texto carregado de subtexto sugere que se trata do desejo do rei e da rainha das fadas pela posse do menino. Este subtexto é atualizado, interpolado e expandido ad infinitum no filme: o menino, em fase pré-adolescente, torna-se o personagem principal, sendo acirradamente disputado pela drag-queen cega Titânia (protagonizada por um homem) e Oberon, chefe do reduto camp, um casal de amantes em discórdia. A situação que se apresenta é exatamente igual àquela que encontramos na leitura alternativa do Sonho que Charles Marovitz, amigo de Jan Kott, publica em 1991, em Recycling Shakespeare: Oberon, um chefe homossexual vingativo que exerce imensa autoridade em seu séquito na floresta, fez várias tentativas para arrancar o belo menino indiano de seu ex-amante, agora rival, Titânia – que também é um homossexual que gosta de vestir roupas de mulher. Titânia se recusa a entregar o garoto ou dividí-lo com outros (uma convenção sexual estabelecida), fato que enfureceu Oberon, e causou imensa animosidade entre os dois redutos camp [...] (MAROVITZ, 1991, p. 12) 252 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Inúmeras citações e alusões que dialogam com a história das adaptações do Sonho shakespeariano podem ser rastreadas no filme, articulando vários níveis de significação que conduzem os espectadores a uma série de reflexões. A caracterização do Tecelão, metamorfoseado em uma criatura híbrida e grotesca, remete ao Oberon, do filme de Reinhardt/ Dieterle (1935), onde o rei das fadas também é um misto de humano e vegetal, e o envolvimento erótico entre Oberon e Puck tem parentesco com a ópera de Benjamin Britten (1960). Estas alusões fazem lembrar que a visão romântica da peça já havia sido subvertida anteriormente nestas versões operísticas. Vale ressaltar, ainda, o episódio da disputa do belo rapaz, objeto universal de desejo, que adquire contornos míticos com a interpolação de uma situação narcísica, inspirada em um dos principais ur-textos ou textosfonte utilizados por Shakespeare. O filme transplanta referências do mito clássico de Eco e Narciso, da versão formulada por Ovídio (43 a.C. - 17 d.C.), no Livro III das Metamorfoses. O belo rapaz é um correlato mítico da figura de Narciso, jovem de extraordinária beleza: Narciso Com dezesseis anos de idade, poderia passar Tanto por moça quanto por homem; homens e mulheres Disputavam seu amor; mas naquele delgado rapazinho O orgulho era tão forte, que nenhuma pessoa conseguia agradá-lo. (OVÍDIO, 2003, p. 61) O Narciso contemporâneo também é disputado por todos e parece deleitar-se com isso até o instante em que vê sua própria imagem no espelho d’água de uma lagoa. Fica embevecido por alguns instantes, porém, em seguida, dá um grito que se desdobra em ecos, o que nos remete ao vaticínio de Tirésias – quando indagado pela mãe de Narciso se o garoto viveria até uma idade avançada, o vidente respondeu: “Sim. Se ele nunca se descobrir a si mesmo” (OVÍDIO, 2003, p. 61). Nesta versão fílmica, o grito sugere um momento de lucidez experimentado pelo belo rapaz: diferentemente do Narciso mítico, o jovem adolescente parece se dar conta da tragicidade da Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 253 situação, da não existência do objeto de seu desejo, ilustrando a postura narcisística do homem de hoje. Conclusão Como foi evidenciado ao longo deste ensaio, a peça de Shakespeare tornou-se um pré-texto para (re)negociações críticas e ideológicas em torno da questão da identidade de gênero. Por meio da apropriação de estratégias narrativas shakespearianas, dentre elas a inversão de papéis sexuais e de gênero, e as representações de situações grotescas acrescidas de elementos de carnavalização bakhtiniana, a versão fílmica rompe com os estereótipos e, ao mesmo tempo, questiona e contesta idéias convencionais aceitas como verdades universais. Vale lembrar que no Sonho shakespeariano, já se configuram várias inversões de papéis sexuais e de gênero: Helena toma a iniciativa e persegue Demétrio, e, para conseguir a posse do menino indiano, Oberon se vinga e faz Titânia se relacionar sexualmente com Bottom, metamorfoseado em asno. No trânsito intermidiático e intercultural do Sonho, o texto de Shakespeare passou por inúmeras mutações em virtude das múltiplas circunstâncias que envolveram a sua (re)criação, como a transposição espaçotemporal da narrativa, a mudança do imaginário cultural, a concretização em um novo suporte, e a adaptação para um novo gênero. Ressalte-se que a escolha do contexto cultural dos anos 1980, época da revolução das mentalidades, justifica a posição crítica adotada por seus realizadores e as transformações operadas, principalmente a (re}configuração do jogo da troca dos parceiros, visto que a versão moderna amplia o âmbito da formação dos pares ao contemplar ambas as possibilidades, hetero e homossexuais. A sofisticação paródica e desromanticização efetuada distingue o filme de Kemp/Coronado de diversas transsemiotizações anteriores dos gêneros operísticos e semi-operísticos. Apesar de constituir uma reinterpretação radical, uma total desmistificação do texto shakespeariano, e imprimir um grau suplementar de ambivalência com relação à caracterização das personagens e às confusões de gênero; apesar de todos os deslizes, mutações e permutas paradigmáticas, o texto fílmico pode ser considerado uma adaptação, no sentido amplo, visto que uma grande parte das funções cardeais 254 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 da narrativa permaneceram além ou aquém da passagem de um meio para outro. Notas ∗ Este texto é o resultado parcial da pesquisa, realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), durante meu estágio pós-doutoral (de 01.08.2007 a 31.07.2008), financiado pelo CNPQ (de fevereiro a julho de 2008). 1 Todas as traduções de citações de obras em língua estrangeira são minhas. 2 Como ensina Claus Clüver (2001, p. 338), com a ascensão da semiótica, todas as artes e mídias, consideradas sistemas de signos, podem ser pensadas como textos, qualquer que seja o sistema sígnico envolvido. “Dessa maneira, uma dança, um soneto, uma catedral, um filme e uma ópera são todos ‘textos’ a serem ‘lidos’”. Além disso, quando se fala em mídias, deve-se pensar não somente em cinema, rádio, jornal e TV, mas também em literatura e outras artes. Todos esses meios são mídias, pois veiculam informação e reúnem todo um aparato social e cultural em sua volta. 3 Sonho de uma Noite de Verão foi publicado numa edição conhecida como Q1 (Quarto 1) em 1600. Uma reedição do Q1, com algumas corruptelas, denominada Q2 (Quarto 2), surgiu em 1619. Esta última, com algumas rubricas acrescidas, serviu de base para o 1º Folio em 1623 (BROOKS, 2003, p. xxi-xxxiv). 4 A historicidade da história ou a relação dialética entre o presente e o passado já foi teorizada, antes de Brecht, por T. S. Eliot (1989, p. 37-48), no ensaio “Tradição e o talento individual”, uma das mais fecundas proposições estéticas do século XX. 5 A expressão-título do meu ensaio é uma apropriação e releitura paródica do título do capítulo “The Love That Dare Not Speak Shakespeare’s Name: New Shakesqueer Cinema”, de Richard Burt (1998, p. 29-74). 6 A crítica shakespeariana praticamente ignorou a adaptação do Sonho de Kemp/ Coronado. Kenneth S. Rothwell (2007, p. 194-95) tece breves considerações teóricas sobre o filme no ensaio “Shakespeare in the cinema of transgression, and beyond”. Ele se apropria das palavras de Teseu (5.1.215) e Hipólita (5.1.210) para expressar sua opinião: “O amor neste Sonho transcende as distinções de gênero para incluir todas as criaturas sem exceção e validar a observação de Hipólita: ‘Isso tudo é a maior tolice que eu já vi’. É conveniente, no entanto, lembrar da delicada advertência de Teseu que nos aconselha a não fazer julgamentos precipitados: ‘Os melhores no ofício são apenas sombras; e os piores não são piores, se a imaginação os emendar’”. 7 Em 1998, Russell Jackson descobriu na Biblioteca Pública de Birmingham, o roteiro da versão filmica de Reinhardt/ Dieterle, com data de 1934. Ele anotou as Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 255 três cenas que foram descartadas na versão editada, dentre elas: a derrota e subjugação de Hipólita por Teseu, as intrusões narrativas da esposa “megera” de Bottom, e o emprego da técnica da imagem colorida para mostrar a metamorfose, de branco para rubro, da flor mágica (GUNERATNE, 2006, p. 42). REFERÊNCIAS A Midsummer Night’s Dream. UK/Spain, 1984. 85 minutos. Dir. Celestino Coronado. BARBER, C .L. Shakespeare’s Festive Comedy: A Study of Dramatic Form and its Relation to Social Custom. Princeton: Princeton University Press, 1972. BARTHES, Roland. “A morte do autor”. In: O rumor da língua. Trad. Mário Laranjeira. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 57-64. BROOKS, Harold E. (ed.). Introduction. In: SHAKESPEARE, William. A Midsummer Night’s Dream. The Arden Shakespeare. Second Series. London: Thomson Learning, 2003, p. xxi-cxliii. BURT, Richard. Unspeakable Shaxxxpeares: Queer Theory and American Kiddie Culture. New York: St. Martin’s Press, 1998. CAMPOS, Haroldo de. Deus e o diabo no Fausto de Goethe. São Paulo: Perspectiva, 1981. CARTELLI, Thomas; ROWE, Katherine. New Wave Shakespeare on Screen. Cambridge: Polity Press, 2007. CLÜVER, Claus. “Estudos interartes: introdução crítica.”. In: Floresta encantada: novos caminhos da literatura comparada. Helena Carvalhão Buescu; João Duarte Ferreira; Manuel Gusmão (orgs.). Lisboa: Dom Quixote, 2001, p. 333-62. ELIOT, T. S. “Tradição e o Talento Individual”. In: Ensaios. Trad. Ivan Junqueira. São Paulo: Art Editora, 1989, p. 37-48. GUNERATNE, Anthony R. “The Politics of Adapting Shakespeare”. In: A Concise Companion to Shakespeare on Screen. Diana E. Henderson (ed.). Oxford: Blackwell, 2006, p. 31-53. HUNT, Albert; REEVES, Geoffrey. Peter Brook. (Directors in Perspective). Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 256 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 HUTCHEON, Linda. A Theory of Adaptation. London: Routledge, 2006. JAKOBSON, Roman. “Aspectos Lingüísticos da Tradução”. In:___.Lingüística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 63-72. KOTT, Jan. Shakespeare nosso contemporâneo. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. MAROVITZ, Charles. Recycling Shakespeare. London: Macmillan, 1991. O’SHEA, José Roberto. “Performance e inserção cultural: Antony and Cleopatra e Cimbeline, King of Britain em português”. In: Palco, tela e página. Anelise R. Corseuil e John Caughie (orgs.). Florianópolis: Editora Insular, 2000, p. 4360. ORGEL, Stephen. “What is a text?” In: Staging the Renaissance: Reinterpretations of Elizabethan and Jacobean Drama. David Kastan e Peter Stallibras (eds.). New York & London: Routledge, 1991, p. 83-87. OVÍDIO. “A História de Eco e Narciso.” In: Metamorfoses. Trad. Vera Lúcia Leitão Magyar. Santana: Madras Editora, 2003, p. 61-65. PAVIS, Patrice. O teatro no cruzamento das culturas. São Paulo: Perspectiva, 2008. PLAZA, Júlio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. ROTHWELL, Kenneth S. A History of Shakespeare on Screen. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. SANTAELLA, Lúcia. Cultura e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. SARRAZAC, Jean-Pierre. “A personagem criatura”. In: ___. O futuro do drama. Trad. Alexandra Moreira da Silva. Porto: Campo das Letras, 2002, p. 97103. SINGH, Jyotsna. “The Postcolonial/Postmodern Shakespeare”. In: Shakespeare: World Views. Heather Kerr et alii (eds.). Newark: University of Delaware Press; London: Associated University Presses, 1996, p. 29-43. SISLEY, Joy. “Writing, the Body and Cinema: Peter Greenaway’s The Pillow Book. In: Literary Intermediality: The Transit of Literature through the Media Circuit. Maddalena Pennacchia Punzi (ed.). New York: Peter Lang, 2007, p. 27-42. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 257 UBERSFELD, Anne. “A representação dos clássicos: reescritura ou museu?”. Trad. Fátima Saadi. In: Folhetim, nº 13, abr. / jun. 2002, p. 08-37. ________. Para ler o teatro contemporâneo. Trad. José Simões. São Paulo: Perspectiva, 2005. Artigo recebido em 20.11.2007. Artigo aceito em 21.03.2008. Anna Stegh Camati Pós-doutoranda da Universidade Fedetal de Santa Catarina (UFSC). Membro do Centro de Estudos Shakespearianos (CESh). Doutora em Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-Americana pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular de Literaturas Inglesa e Norte-Americana do Curso de Letras da UNIANDRADE. Professora do Mestrado em Letras, Área de Concentração: Teoria Literária, da UNIANDRADE. Editora-Adjunta e Revisora da Revista Scripta Uniandrade. 258 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 SHAKESPEARE E A LEI ATENIENSE: ASPECTOS POLÍTICOS NAS ORIGENS MODERNAS DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO EM SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO Erick Ramalho [email protected] RESUMO: Neste artigo trato de um aspecto moderno relevante para a sociedade contemporânea, apresentando uma leitura política da peça Sonho de Uma Noite de Verão de Shakespeare a partir dos elementos literários e dramáticos da mesma. Almejo demonstrar que a trama da peça legitima características do absolutismo monárquico trazido à cena no papel de Teseu (representação cênica da figura régia), conflagrado entre o sistema político herdado da Idade Média e a manifestação, no início da modernidade, da volição do sujeito. Para tanto, centro-me na análise da lei que Shakespeare denomina ateniense e nos desdobramentos que ela traz aos eventos da peça. ABSTRACT: In this article I deal with a modern aspect that is relevant to contemporar y society by presenting a political reading of Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream from the literary and poetic elements in the play. I aim to demonstrate that its plot legitimates features of monarchic absolutism on the stage in Theseus’s role (scenic representation of a kingly figure) that is conflated between the political system passed down from the Middle Ages and the early modern social manifestation of individual volition. To do so, I focus on the analysis of the law which Shakespeare calls Athenian and in the developments that it brings to the events in the play. PALAVRAS-CHAVE: Shakespeare. Política. Lei. Absolutismo Monárquico. KEY-WORDS: Shakespeare. Politics. Law. Monarchic Absolutism. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 259 Considerações iniciais O presente artigo1 tem o duplo intento de: 1) apresentar uma nova leitura da peça Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, sobretudo no que tange sua dimensão política; e 2) ao fazê-lo, demonstrar como o conhecimento e a análise da shakespeariana é útil para o entendimento da contemporaneidade, bem como para o estabelecimento de formas de crítica e teoria literárias que se nutrem de teorias de outras áreas — nesse caso, da filosofia política e da filosofia do direito — contrariamente a uma certa tendência vigente de restringir-se os estudos de literatura às teorias minoritárias e semióticas. Para tanto, divido minha análise em três partes, cuja disposição é análoga à metodologia ora adotada, qual seja: primeiramente descrevo a crítica contemporânea a fim de contextualizar e explicar a utilidade do presente estudo, assim como a necessidade de se estudar a obra de Shakespeare para um melhor entendimento do sujeito contemporâneo. Em seguida, examino alguns dos elementos cênicos e textuais preponderantes no Sonho..., quando também descrevo a trama da peça, identifico, em sua apresentação estética, elementos políticos relevantes para o problema ora proposto e analiso esses elementos tendo como subsídio teórico aspectos da filosofia política. Uma vez delimitados os pontos políticos da peça importantes para o presente estudo, faço uma análise filosófica de seus aspectos legais, os quais, nesse caso específico, auxiliam o entendimento da dimensão política da trama. Shakespeare, contemporaneidade e teoria: o contexto e o escopo do presente estudo. Parte considerável dos estudos literários relativos à contemporaneidade tem-se atido às apropriações e traduções — sobretudo semióticas — do texto literário em relação a outros meios artísticos e de expressão. Por um lado, é irrefutável a perda da posição privilegiada, ao menos em termos quantitativos, da literatura, sobretudo com a ascensão popular do cinema, que cumpre a função de difusão de conteúdo em massa que já coube à poesia oral nas sociedades antigas e ao romance no século 260 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 XIX. Por outro lado, a teoria literária contemporânea incorre em posições de risco pelas quais é devidamente criticada. Desses riscos, destaquem-se aqui dois: a suspensão, ou mesmo a abstenção, crítica em relação ao objeto de estudo (o texto literário, quer em si, quer em suas apropriações ou traduções) e a restrição das análises aos modos de apropriação/tradução, não raro ignorando-se a própria natureza do texto literário e as escolhas dos seus autores. À guisa de exemplo, basta mencionar pesquisadores das adaptações fílmicas de Hamlet que comparam os filmes que analisam com um texto da peça tomado a esmo, sem o cuidado de saber, com base em estudos de crítica textual, que não há um só Hamlet de Shakespeare, mas, pelo menos, três versões shakespearianas dessa peça. Costuma-se mesmo considerar determinado objeto de estudo sem o julgamento crítico que diferencia uma produção holywoodiana de um filme de Peter Greenaway. Por conseguinte, mesmo falhas de atuação evidentes em algumas dessas produções cinematográficas, assim como problemas de interpretação do texto literário por parte de seus diretores, são examinadas como escolhas por esses pesquisadores, não como erros. Ressalte-se, a propósito, que análises do Tito Andrônico de Shakespeare, por exemplo, demonstram que a genialidade de um autor não deve fazer com que as falhas de sua obra sejam negligenciadas. Também se vislumbra a uma crise epistemológica das letras, uma vez que análises cinematográficas propriamente ditas caberiam a princípio aos cursos de semiótica, assim como as análises de pintura, a priori, às Belas Artes. Naturalmente, é desejável que a formação abrangente do teórico das ciências humanas (área que compete, afinal, aos profissionais das letras) dê conta de manifestações artísticas diversas, pelo que se fazem, por exemplo, análises filosóficas de obras de arte (inclusive literárias, donde a importância dos cursos de Estética) e de filmes de temática literária.2 Exemplos da contribuição do intelectual de letras a outras áreas do conhecimento também não são parcos. Citem-se aqui o artigo “Intermidialidade e mito em Sonho de uma noite de verão, de Michael Hoffman” de Solange Ribeiro de Oliveira (2006, p. 73-82) — especialmente importante, além de sua abrangência teórica e profundidade intelectual, por tratar da peça ora analisada — e, também, o ensaio “Sleeping Beauties: Shakespeare, Sleep and Stage”, de David Roberts (2006), relevante principalmente por discutir o chamado pós-moderno contrastando-o à obra de Shakespeare. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 261 Assim, a atividade crítica das poéticas contemporâneas não deve nem subestimar nem desconsiderar a presença relevante de outras formas de expressão cultural, cuidando mesmo para que se as tomem como leituras e releituras que fazem incidir novas luzes interpretativas sobre o texto literário. Contudo, não deveria, em rompante anacrônico, ignorar como a análise atenta — ao modo do close reading — de textos antigos e modernos, com vistas ao exame mais aprofundando e abrangente, ainda que específico, da própria contemporaneidade manifestada nesses textos ou neles contrastada. O contemporâneo, afinal, funda-se a princípio nos modos artísticos e nos elementos sociais e políticos do início da modernidade, época também conhecida como Renascimento. E é nessa primeira fase da modernidade, conhecida na Inglaterra também como época elisabetana, que a vastidão de situações representadas por Shakespeare traz à tona elementos que auxiliam vislumbrar desdobramentos históricos dos quais resulta, em grande parte, o período tardio da modernidade. Trata-se este período da nossa contemporaneidade, que, por sua vez, não deve ser restringida, em um reductio ad absurdum, à expressão daquilo a que alguns chamam de pós-moderno.3 Assim, a abordagem crítica da shakespeariana faz-se fundamental à contemporaneidade também quando se examinam, como ora se almeja, aspectos da fundação do sujeito moderno e contemporâneo no contexto político, social e cultural refletido de maneira privilegiada no palco. Aí se insere o escopo do presente estudo. A saber, proponho aqui uma análise de elementos políticos que, presentes na poética shakespeariana em particular, e no início da modernidade em geral, moldam determinada expressão literária, ajustando-a ao contexto político em que foi produzida. Trata-se de analisar características intrínsecas ao texto literário que são distintas da estética, embora sem perder de vista nem a condição artística da literatura, nem a dimensão cênica do drama, sabendo-se que é para o palco que Shakespeare escreve as suas peças. Desse modo, contrariamente à prática recorrente nos estudos culturais e de minorias de contrastar uma abordagem estética a outra, política — quiçá, melhor descrita como ideológica (RAMALHO, 2007) —, prefiro considerar a natureza estética da obra literária como expressão em si mesma de elementos políticos. Dessa maneira, pode-se proceder com um estudo até mesmo de características extra-literárias a partir do argumento 262 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 comprovado por Terry Eagleton (1986) de que a própria expressão estética é política em si. A fim de cumprir os objetivos deste artigo, ora considero dois temas fundamentais na shakespeariana, quais sejam: a lei (ou o direito) e o absolutismo monárquico. Para tanto, parto da relação artística que se projeta entre eles na peça Sonho de Uma Noite de Verão. A lei é tema que se costuma considerar nas peças de Shakespeare em que questões de direito são patentes, como O Mercador de Veneza (o julgamento do judeu) e Medida por Medida (a corrupção do legislador). A estas, mais Tróilo e Créssida, Eagleton dedica o capítulo intitulado Law de seu livro William Shakespeare (1986). Em sua relação com o tema do poder monárquico, questões legais consistem também em usual objeto de estudos nas peças históricas, como, por exemplo, o problema da sucessão monárquica em Ricardo II.4 Quanto ao Sonho…, o problema da lei já foi identificado por Eagleton (1986, p. 21), segundo quem “If marriage is ideally the place where individual desire finds public sign and body, the play’s actual sexuality is torn between a death-dealing, patriarchal public law on the one hand (Theseus and Egeus) and a purely random subjectivity of Eros on the other (the four interchangeable lovers).” Essa interseção de amor e morte sob os véus sociais do casamento dá-se pela natureza cômica e fantasiosa da peça, a qual tende a encobrir os elementos políticos importantes, sobre os quais ora me detenho. Para fazê-lo, parto de um problema cuja enunciação é bem simples: um pai (Egeu) reclama ao Duque (Teseu) o direito que teria, de acordo com a lei que Shakespeare denomina ateniense (Athenian Law), de escolher aquele (Demétrio) que quer como marido da filha (Hérmia), contrariamente à vontade dela, desejosa de casar-se com o homem (Lisandro) por quem está apaixonada. Agindo em posição de juiz, o Duque primeiro atenua a pena cabível, oferecendo à moça o celibato como alternativa à morte prevista como punição quando do descumprimento da lei. Depois, desconsiderando a lei em sua integridade, o Duque contraria o pai reclamante permitindo que Lisandro, o homem preterido por ele, se case com sua filha Hérmia. Frente a isso, concentro minha análise nos seguintes pontos: 1) o direito paterno à lei ateniense versus a alteração de sua pena e a desobrigação do cumprimento da mesma, ambas com base na prerrogativa e no juízo do monarca; 2) o modo pelo qual o juízo do monarca se altera frente aos fatos cuja realidade Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 263 é alterada por uma causa sobrenatural, a ação de fadas; e 3) as implicações de (1) e (2) para configuração do monarca absolutista e do direito divino dos reis, bem como para as noções de lei em sua configuração shakespeariana. Elementos literários e cênicos e seus Aspectos Políticos em Sonho de uma Noite de Verão O drama elisabetano, como se sabe, estrutura-se sobre um conjunto, mais ou menos uniforme, de convenções estéticas e dramáticas moduladas por usos poéticos específicos que são determinados, com maior ou menor ênfase, por convenções retóricas. Essas convenções são apropriadas principalmente das releituras de Cícero, Quintiliano e dos escritos normativos elisabetanos, sobretudo de The Arte of Rhetorique de Thomas Wilson, obra publicada em 1553 e republicada com revisões e melhorias em 1560.5 É nas nuances de jogos retóricos transfigurados na dinâmica cênica que se percebem os primeiros traços do conflito ora analisado. Tome-se, a princípio, o diálogo entre Teseu e Egeu, pai de Hérmia, ao qual assistem Lisandro e Demétrio: Triste, trago uma queixa a Vossa Graça De minha filha, Hérmia. Vem cá, Demétrio. Meu senhor, dei a este homem a mão dela. Vem, Lisandro. Mas este, meu bom Duque, Foi quem o coração enfeitiçou Da minha menina. Tu, tu, Lisandro, Fizeste rimas para ela; trocaste Presentes de amor com ela. Cantaste, Sob o luar, frente à sua janela, Versos de falso amor com voz fingida. Tomaste para ti suas fantasias Com anéis, flores, doces, ninharias E pulseiras feitas de teu cabelo – Tudo para persuadir a inocente. Roubando o coração de minha filha, Tu fizeste da obediência dela Para comigo rude teimosia. (1.1.22-38) 264 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Com essas palavras, o pai queixa-se da desobediência da filha motivada por sua paixão por Lisandro, que teria, seduzido Hérmia. Opõemse, assim, as normas sociais (nómos), personificadas na argumentação racional de Egeu, e desejo natural de Hérmia de casar-se com quem escolher. Pela racionalidade de Egeu, refiro-me àquilo que os elisabetanos chamavam wit, isto é, o julgamento racional construído pela elaboração inteligente do pensamento com base nas informações apreendidas e processadas pelos sentidos, e, portanto, diferente, nesse contexto, do sentido de “sagacidade” dado a esse vocábulo atualmente. Também utilizo o termo “desejo” de acordo com o sentido daquela época, qual seja, o de desejo natural e biológico transposto em ações e atitudes sociais — como, por exemplo, na frase, ainda hodierna, will you marry me?, enunciação da vontade que se consolida culturalmente no casamento.6 Como se vê, o que está em jogo, então, é uma questão convencional: a aceitação pela filha da vontade de seu pai especificamente quanto à escolha de seu marido, o que acata uma norma social ao contrariar o seu desejo natural. Todavia, a recusa de Hérmia em obedecer a Egeu, leva-o a evocar a lei como forma de imposição de sua vontade, conforme se vê na continuação da fala supracitada: Assim, oh, meu bom Duque, se ela, agora, Não consentir em aceitar Demétrio, Perante o senhor, eu exijo antigo Privilégio de Atenas. Sendo minha, Ela terá de escolher: esposar, Cá, este homem ou morrer — é a lei. (1.1.39-44) Descrevem-se a lei — a filha deve casar-se com o homem escolhido para ela por seu pai — e a pena de morte, caso seja ela descumprida. Entretanto, a essa fala o Duque Teseu responde em tom conciliador, buscando convencer Hérmia da necessidade em manter-se a convenção há tempos estabelecida. Para tanto, Teseu assume uma postura didática, sem evocar, a princípio, a lei: O que me dizes, Hérmia, então? Mas, sabe: Teu pai é pra ti como um deus; aquele Que te fez, que te adornou, que entalhou Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 265 Tua figura como se fosse cera. Pois pode ele, também, desfigurar-te. Depois, Demétrio é um bom cavalheiro... (1.1.45-50) A justificativa de Teseu para que Hérmia acate a decisão de Egeu fundamenta-se na tradição e no mito. Com efeito, remete ao poder de ação do pai/deus que forma a figura da filha à maneira da mitologia greco-romana, em que o elemento masculino é representado pela ação (causa), e o feminino por paisagens ou elementos naturais (matéria) que são modificados pelo primeiro. Hérmia, contudo, questiona as palavras do Duque dizendo que Lisandro é tão bom quanto Demétrio e apresentando, enfim, sua recusa: Pois o perdão de Vossa Graça peço. Não sei que força me dá tal coragem Nem como minha razão me permite, Mas cá falarei somente o que penso: Imploro que Vossa Graça me diga Qual o pior mal que pode ocorrer-me, Se eu recusar-me a casar com Demétrio. (1.1.56-62) Típica do drama shakespeariano, a repetição de determinada informação com palavras diferentes, às vezes na fala de outra personagem, facilita a compreensão da trama pela platéia, além de permitir que seus desdobramentos sejam paulatinamente apresentados. No momento em que se ouvem essas palavras de Hérmia, na fala supracitada de Egeu a morte já havia sido anunciada como pena para o descumprimento da lei que lhe outorga supremacia na decisão acerca do marido da filha, embora Hérmia agora inquira a mesma informação frente ao Duque, que lhe responde: Ou morrer ou isolar-te, para sempre, De toda a sociedade. Portanto, Hérmia, Duvida de teus desejos. Senão, Agüentarás um hábito de freira, Em um claustro mofado, a cantar hinos Tristes para a lua distante e fria — Uma freira infértil por toda a vida. 266 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Muitas bênçãos àquelas que conseguem Deter seus desejos em celibato. Mas cá, na terra, são bem mais felizes As rosas desabrochadas que aquelas Que, com sua espinhosa virgindade, Crescem, vivem e morrem sós e sacras. (1.1.63-75) Esta fala demonstra alguns traços da figura do Duque: absolutista, posto que ciente de sua prerrogativa de assumir a lei em sua própria pessoa, e defensor de uma posição anglicana.7 Como se sabe, seu belíssimo libelo contra a virgindade é arraigado nas noções anglicanas de vontade própria e pela ausência da obrigatoriedade do celibato por partes de seus representantes religiosos, o que é, também, um elemento da modernidade, pois o anglicanismo contrasta-se, na Inglaterra, ao catolicismo da igreja medieval, por isso mesmo chamado de velha religião.8 Com isso, a morte, que era a pena única prevista na lei ateniense, passa a ser vista com relativismo, ao passo que o celibato, meio de isolamento social, surge como pena alternativa. As penas propostas são imediatamente analisadas pelo Duque que, à sua função de determinação dos fatores determinantes do que é justo, associa, com índole paternalista, a função de conselheiro, decidindo pelo celibato como pena mais apropriada e pedindo que Hérmia questione a própria vontade dela. Em termos cênicos, Shakespeare facilita a compreensão da trama pelo público ao atribuir a uma figura régia a função paterna, a despeito de sua representação configuração específica em termos hierárquicos e de nomenclatura político-social. Assim, um princípio fundamental da shakespeariana é que, uma vez no palco, o monarca atrai para si as atenções, concentrando a ação mesmo quando não é personagem central na trama. É o que se observa, por exemplo, no Príncipe de Verona em Romeu e Julieta, que representa a palavra de ordem em relação à guerra civil entre os Montéquio e os Capuleto. Também o Duque, no Sonho..., assim como Júlio César, na peça shakespeariana a que dá nome, representa um papel que tem configuração cênica similar àquela dos reis nas peças históricas de Shakespeare, ainda que nestas o problema da trama se relacione, na maioria das vezes, a complicações que afetam a estabilidade política e social, quando, direta ou indiretamente, o monarca é ameaçado. Isso se vê, por exemplo, em Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 267 Henrique V, em contraste a Romeu e Julieta, em que a guerra, por ser civil em vez de militar, não traz uma ameaça direta ao governante. Com efeito, a definição de monarquia utilizada por Antonio Candido no exame de outra peça de Shakespeare, Ricardo lI, é também útil na presente descrição das funções públicas de Teseu, qual seja: “(...) a estrutura do mando pressupõe três elementos: um princípio geral que o justifica; uma função que o encarna; uma pessoa que o exerce. No caso desta peça [Ricardo II], o princípio é o direito divino dos reis, inato e de ordem biológica, pois é hereditário e se transmite pelo sangue; a função é a realeza, que depende de uma unção no momento da investidura e é de caráter religioso; a pessoa é Ricardo Plantageneta...” (CANDIDO, 2000, p. 89). Quanto ao Sonho..., conquanto não-católico/medieval seja o seu teor, na enunciação acima se percebe a configuração do absolutismo monárquico medieval por meio de uma característica que lhe é fulcral, qual seja: os plenos poderes do monarca que, representado no palco pelo Duque, pode inclusive limitar a liberdade individual daqueles que são por ele governados. Os atos políticos de Teseu remetem ao princípio romano do quod principi placuit habet vigorem legis (“o que agrada ao príncipe tem força de lei”), principalmente no exercício do poder em que o monarca tem plenos poderes, ou seja, a plenitudo potestatis fundada no direito romano-canônico (RIBEIRO, 2004, p. 56). Por isso, muitos dos monarcas shakespearianos configuram-se como reis medievais e diferem do absolutismo monárquico moderno, conforme concebido por Thomas Hobbes, em que “os poderes do governante não esgotam os dos súditos” (RIBEIRO, 2004, p. 56). Ademais, o medievalismo de Teseu também se afirma por seu exercício da iustitia centrada em sua própria figura independentemente de legisladores, uma vez que “... uma característica essencial da modernidade”, conforme lembra Renato Janine Ribeiro, “é exatamente a da substituição da iustitia (...) pela jurisdição” (2000, p. 103).9 Nesse contexto, conflagrada entre a posição moderna de liberdade individual que se apresenta à filha de Egeu e o sistema medieval encarnado por Teseu, a trama sofre uma reviravolta quando Hérmia corajosamente declara que, nas circunstâncias que se lhe impõem, ela deverá tornar-se celibatária até a morte: 268 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Assim hei de viver até a morte. Prefiro, Vossa Graça, a virgindade A me curvar à vontade de alguém Que pretende comandar meus desejos. (1.1.76-79) Essa atitude é uma resposta à alteração da pena que Teseu faz relativamente à lei, instaurando o celibato como uma opção alternativa à morte. Com isso, a individualidade de Hérmia, que parece se realçar em sua afirmação dos próprios desejos em detrimento da tradição que os outorga a seu pai, é aparentemente afirmada. Mas não o é de fato, uma vez que o apagamento da individualidade de Hérmia é proferido em tons retóricos quando o caráter paternalista do Duque afirma-se frente a ele a pedir-lhe: Pensa um pouco mais, até a lua nova. Pensa até o dia em que minha noiva E eu juraremos nosso amor eterno. E, neste dia, prepara-te: ou morres Pela desobediência a teu pai, Ou aceitas casar-te com Demétrio, Ou proferes, lá no altar de Diana, Os teus votos de virgindade austera. (1.1.80-87) As funções públicas e privadas confundem-se, pois, na figura do monarca absolutista que, após acrescentar uma pena alternativa à lei, aconselhar que Hérmia faça a opção por esta pena e argumentar em tom paternalista para tanto, prolonga, frente à escolha contrária da moça, o tempo da decisão dela com base em um evento pessoal, seu próprio casamento. Enfim, no dia das núpcias do Duque, a decisão de Hérmia deveria, portanto, levá-Ia à morte, conforme a pena original da lei, ou a se transformar em freira, consoante a pena alternativa introduzida pelo Duque, ou casar-se com Demétrio, acatando a vontade de seu pai. O que se segue são diálogos entre Demétrio, Hérmia, Lisandro e Egeu em que se contrastam argumentos que convençam Hérmia a casar-se com Demétrio ou que façam com que Egeu e Demétrio aceitem o matrimônio entre Lisandro e ela. Por fim, Teseu chama Demétrio e Egeu a fim de atribuirIhes tarefas relativamente a seu casamento, e, antes que saiam, diz: Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 269 Fica, então, pronta para te ajustar À vontade de teu pai. Do contrário Nossa lei de Atenas conduzir-te-á — Pois ela não pode ser extenuada — Ou à morte ou ao celibato... (1.1.114-118) Note-se que o Duque, embora hábil na criação de uma pena alternativa ao descumprimento da lei, coloca-se na posição de quem não pode alterar a própria lei (“ela não pode ser extenuada”), cabendo-lhe, portanto, decidir apenas quanto à aplicação da pena, quando da falta do cumprimento da mesma. O pronome “nossa” é, a princípio, estratagema shakespeariano para lembrar sua platéia, composta em sua maioria de analfabetos, de que a trama se passa na Grécia, mas é indicativo também do posicionamento do Duque em relação à tradição. Trata-se de conceber sua existência como monarca pela regência de convenções culturais (o nómos) às quais se pretende, no absolutismo, imprimir certo caráter natural. A lei de Atenas além de apresentar essencialmente a afirmação da figura paterna, seria arquetípica e, ipso facto, anterior ao próprio Duque. A própria posição monárquica de Teseu é igualmente determinada por questões que se atribuem a fatores naturais, visto que se originam de uma escolha divina estabelecida por correspondências consoante o sistema cosmológico medieval. Em grande parte devido às textos de Platão, sobretudo ao Timeu, conforme explica Tillyard (1966), esse sistema foi herdado com simplificações pela sociedade inglesa do início da modernidade. Nele, o rei ocupa posição capital, análoga ao sol em relação aos planetas e à cabeça relativamente às demais partes do corpo humano, representação que é mencionada por Renato Janine Ribeiro ao analisar a política medieval em aspectos que se mostram relevantes para o presente exame da aplicação da lei ateniense no Sonho.... Segundo o filósofo, (....) o poder absoluto do rei não é o que é executado ou convertido para uso privado, para benefício geral do povo; é salus populi; pois o povo é o corpo e o rei, a cabeça; e este poder não é guiado pelas regras que governam apenas a common law, e seu nome apropriado é polícia e governo; e, assim como a constituição deste corpo varia com o tempo, assim varia esta lei absoluta, segundo a sabedoria do rei, para o bem comum; e, estas sendo regras gerais e verdadeiras como aquelas [=as leis do poder ordinário], 270 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 todas as coisas feitas de acordo com elas são legais.” (RIBEIRO, 2000, p. 136) Nesse contexto político, na peça shakespeariana evidencia-se não somente a legalidade das ações de Teseu, mas também o fato de que é esperado que ele o faça para, assim, cumprir suas funções monárquicas adequadamente. Todavia, se o Duque ocupa a posição política que lhe permite uma aplicação privilegiada da lei ateniense, ele não pode retirar dela uma limitação geográfica importante, a saber, ela somente tem validade em Atenas, onde vigora o mando de Teseu. Conforme se apreende das falas de Lisandro, os jovens estariam imunes ao efeito da lei ateniense na casa da tia dele, que se encontra a sete milhas de Atenas, aonde ele pretendia ir com Hérmia para que pudessem casar-se às escondidas. Para que pudessem realizar o seu plano de fuga, os jovens deveriam atravessar um bosque nos arrabaldes de Atenas, onde a presença dos seres feéricos interfere em seus desígnios e cria uma série de outras reviravoltas na trama. Paralelo a este, humano e regido por leis, abre-se um outro plano de ação, no qual Oberon e Titânia, o Rei e a Rainha das fadas, estão brigados. Como se sabe, Oberon ordena que Puck, seu elfo ajudante, goteje nos olhos de Titânia, adormecida, o sumo de uma flor que faz com que a pessoa, ao acordar, se apaixone pelo primeiro ser vivo por ela visto. Ao presenciar uma discussão entre Demétrio e Helena, em que o rapaz demonstra sua aversão pela moça, Oberon também ordena que Puck goteje o sumo da flor — o amor-perfeito, ou love-in-idleness — nos olhos de Demétrio, a quem se refere como “rapaz ateniense”, de modo que ele passe a amar Helena. Puck confunde Demétrio com Lisandro e, utilizando a flor mágica nos olhos deste e, depois, ao tentar corrigir seu erro, também nos olhos de Demétrio, faz com que ambos se apaixonem por Helena. Por sua vez, Lisandro passa a recusar a presença de Hérmia. Descoberto o erro de Puck, Oberon comanda sua reversão pelo poder de outra flor, a flor de Diana, deusa da castidade, que serve de antídoto ao amor-perfeito, atribuído a Cupido. Puck, então, leva Lisandro a amar Hérmia novamente, mas Demétrio continua sob o efeito da flor, de modo que se formam dois casais apaixonados: Hérmia e Lisandro; Helena e Demétrio. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 271 Essa ação de Puck resulta na alteração da vontade dos jovens de maneira inerente à vontade deles, o que requer que se entenda tanto a noção elisabetana de desejo quanto à de imaginação, pois é em seus meandros que se concretiza a índole absolutista de Teseu. Em termos simplificados, mas suficientes para a presente exposição, o desejo era concebido à época como um estado d’alma motivado por elementos da realidade que eram percebidos pelo indivíduo por meio de seus sentidos. Assim, o perfume de uma flor (um elemento da realidade), quando apreendido pelo olfato, criaria na mente de um indivíduo a imagem desta flor ao mesmo tempo em que desencadearia uma seqüência de outras imagens (da primavera, do acasalamento, do amor, etc.) que engendraria, enfim, o desejo amoroso. A esta seqüência de imagens denominava-se imaginação, palavra oriunda do latim imaginatio, o processo de construção mental de imagens ou imagines, plural de imago. A localização de suas imagens momentâneas e efêmeras apreendidas pelo sujeito se localizaria na região frontal do cérebro, onde também se processaria o desejo em seu imediatismo. Assim, ao passo que as imagens duradouras estariam guardadas na parte posterior do cérebro, onde se acharia a memória, o desejo estaria bem à frente, volúvel e sempre modificado por novas imagens advindas de aspectos diversos da realidade, inclusive aqueles ilusórios, advindos das artimanhas de Puck. Como se vê, a imaginação e o desejo poderiam ser determinados por outros elementos, de caráter místico mais do que empírico, que afetariam as atitudes do sujeito. Por isso, é conveniente ressaltar que o protestantismo religioso, apropriando-se de Aquinas,9 concebia, então, a possibilidade de que imagens fossem implantadas na mente humana por atos demoníacos sem que para elas existissem correspondentes na realidade. Dessa maneira, induzido por um demônio, um indivíduo poderia nutrir em sua mente a figura de um objeto qualquer que não fora percebido pelos seus sentidos, ou seja, que não foi realmente visto. Nesse caso, a imagem implantada em sua mente seria verdadeira (posto que ela existe para ele, único a enxergá-la), mas não seria real, pois não há objeto algum na realidade que tenha sido capturado pelos sentidos desse sujeito para produzir-lhe essa imagem mental. Por conseguinte, tal imagem passava a ser chamada de phantasma (fantasma é palavra grega para “visão”, “aparição” e, por conseguinte, também para “sonho” e “fantasma”, “espectro”) por causa da ausência de enlace entre si mesma e o real.10 272 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Assim, é justamente entre a indução sensorial de imagens mentais e a geração maligna de outras imagens na mente que Puck opera sua manipulação do desejo de cada um dos quatro jovens no palco, repleto de construções pictóricas lingüisticamente criadas e moduladas.11 Para tanto, o elfo vale-se de um objeto natural (a flor) para extrair dela um efeito mágico (o poder ilusório de seu sumo) capaz de induzir os indivíduos a verem aspectos da realidade que não veriam normalmente, uma vez que se cria em cada um deles uma paixão pré-determinada. A imaginação (imaginatio) passa a ser conduzida pela ilusão, pelo que seria chamada de fancy, ou seja, a paixão fruto do encantamento, muito próxima dos phantasmata religiosos em sua ausência direta de liames que o atem à realidade das coisas. Recorde-se, a propósito, que o próprio Demétrio muda seu pedido em relação a Hérmia, por preteri-la, enfim, por Helena, uma vez que termina a peça, diferentemente das demais personagens, ainda sob o efeito da flor. Isso tudo também corrobora a asserção de Eagleton (1986, p. 33) de que a noção de amor na peça é mais propriamente descrita pela idéia de ilusões que se interpõem. Essas ilusões, contudo, não impedem o Duque de avaliar as novas circunstâncias que se lhe impõem e que, enfim, não se afaste da iustitia, inserido que está em um sistema político, conforme representado no palco elisabetano, ainda a estruturar-se sobre o sistema político e cultural da Idade Média. Assim descrito a partir de seus elementos cênico-literários e de sua contextualização política, o problema legal ora analisado pode ser melhor entendimento à luz de alguns aspectos da filosofia, que, nesse caso, se relaciona diretamente aos aspectos políticos da peça. A lei ateniense à luz da filosofia Nos termos descritos acima, a lei ateniense, conforme representada no Sonho..., constitui uma noção legal, termo mais apropriado, nesse caso, que concepção, dada sua origem popular mais que teórica. Na filosofia do direito, a ausência de uma formulação específica para uma lei — conforme comprovei acima ser o caso da lei ateniense — leva à discussão entre forma e substância, algo que se mostra útil ao entendimento dos aspectos políticos ora analisados. A saber, as relações entre forma e substância da lei ateniense Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 273 na peça indicam uma substância essencial que dá a conhecer o teor da lei, embora não possua uma formulação específica e definida, pelo que permite que o Duque altere, segundo sua vontade e com suas palavras, alguns de seus aspectos. O conceito de substância essencial fundamenta-se em Aristóteles, que utiliza o termo ousi/a para “substância”, termo que remete ao particípio presente substantivado do verbo ei)mi/, “ser” e similar, portanto, à palavra latina essentia, de esse, “ser”, ou seja, a qualidade ou propriedade daquele que é, que existe. A alusão à filosofia aristotélica em relação à lei ateniense é útil principalmente para que se possa recuperar uma discussão oportuna, engendrada pelo jurista norte-americano Robert Summers, relevante aqui pelo que ela pode contribuir para o entendimento da lei em Shakespeare. Veja-se a descrição do problema proposto por Summers conforme análise de P. Soper: The distinction between form and substance traces at least to Aristotle who used the term to draw attention to the purposive arrangement of human artifacts in explaining their causal origins. (…) Consider, e.g., a vase made of clay. Aristotle would have explained that to fully understand the origins of this object, one needs to distinguish, not only the material cause (the clay), but also the formal cause (the shape, purposely designed to hold water and/or flowers). This analogy to physical shape as form nicely fits Summers’ suggestion that form and substance are independent concepts that can be sharply differentiated. One can change the shape of the vase, while leaving the substance unaltered. Or, one can hold the shape constant and change the substance—the vase can be made of glass or wood or metal. And in both cases the overall purpose (constructing a container that will hold water and/or flowers) becomes the measure of success: Poor form will yield a poor vase, as will an ill-considered substance (a vase made of porous material?). Compare, now, this commonsense idea of the distinction between form and substance with legal phenomena. Consider, in particular, the example that seems to figure more often than any other in Summers’ analysis: that of the legal precept that can have varying degrees of definiteness. Shall we set the speed limit (or the retirement age) at 65, or shall we set it at “a reasonable speed” (or age)? Here the form is one of definiteness and the substance is the designated speed limit. Now it is clear that we can keep the form of definiteness constant, while altering the content (changing the speed limit to 55 or 70, as Summers is quick to point out…) But note that, unlike the vase, we cannot easily do the opposite: We cannot keep the substantive content (65 mph) the same, while changing the form of definiteness. In the case of the vase, we can see both 274 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 form and substance as independent, keeping the shape the same while changing the content from clay to glass or vice versa. But in the case of the legal precept, the substantive policy decision—65 mph should be the maximum speed — automatically carries with it the correlative form. Substance, it seems, carries form in its wake. (SOPER, 2007, p. 58-59) À luz desse raciocínio, pode-se dizer que, por um lado, conforme configurada na peça shakespeariana, a lei ateniense apresenta os elementos primordiais tratados por Aristóteles na Metafísica, quais sejam: uma substância que, como o vaso de argila, faz-se na matéria primeva, amorfa em sua essência (no sentido de que não se lhe apresenta uma formulação definida) e concebida pela sociedade em algum momento passado. Uma vez acatada pela tradição e considerada natural — também em oposição ao antinatural, ou unnatural, que induz a maus governos, como se vê em Macbeth —, esta lei é feita presente, pela linguagem, em uma situação prática e definida: o direito de um pai em impedir o casamento de sua filha com o homem que ele pretere por outro, com quem deseja que ela se case. Conforme descrita na peça, essa situação não dista, em termos legais, do exemplo supracitado que se refere aos limites de velocidade em uma rodovia contemporânea. Em ambos os casos, não há uma restrição determinada por números. Nesses termos, a trama da peça aproxima-se dos limites de velocidade de uma rodovia contemporânea, como em parte do exemplo supracitado. Primeiro, porque em ambos os casos não há uma restrição definida numericamente, pois a velocidade pode ser determinada por aquilo que é “razoável” (reasonable) ao passo que, por exemplo, a Hérmia não se impõe certa idade que ela deveria atingir para poder casar-se. Ambas as leis, contudo, tem uma substância essencial (ou)si/a) que, para vigorar, é transposta em aparência perceptível (o que Aristóteles chama ai)sqhto/j, correlato a “estética”, ou seja, a apreensão de perceptos pelos sentidos), inserida no contexto social a que pertence. No primeiro caso, há um limite de velocidade, qualquer que seja ele, ao passo que um indivíduo a trafegar na rodovia em questão deve saber que não cabe a ele determinar a velocidade de seu veículo conforme sua vontade, mas, sim, de acordo com a lei. No caso da peça, a ausência de uma formulação específica para a lei ateniense não impede que se conheça a sua substância essencial: a filha não pode Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 275 desobedecer a vontade do pai especificamente no que tange à escolha do homem com quem deseja se casar. Por conseguinte, se a substância traz em si a forma da lei, conforme defende Soper, a ausência de uma formulação definida permite, na peça, que o Duque modifique a pena e os modos de aplicação da lei. Assim ele mantém sua substância sem parecer alterar sua forma, que parece continuar imbuída nessa própria substância. Como se estivesse a modelar algum barro primevo, alterações na aparência final, que dele se tornam atributos (sumbai/ nw é o termo utilizado por Aristóteles na Metafísica), são feitas na forma, de modo que, como um vaso abstrato e ideal, a lei ateniense forma-se por contornos determinados pelo julgamento do monarca acerca dos fatos e é confundida com o julgamento do Duque. Em suma, a lei que Teseu aplica é a lei ateniense, conquanto divergente ela seja, sobretudo na descrição da pena, de sua forma original. Por ser amorfa, visto que isenta de uma formulação específica, a lei, no contexto específico de sua aplicação pelo Duque, pode ser pontualmente reformulada, principalmente quanto à aplicação da pena por ela prevista. Considerações finais Às reviravoltas da trama ora descritas subjaz algo bem simples em termos políticos: a corroboração, em última instância, do absolutismo monárquico devidamente exercido por Teseu. Como já demonstrei, o Duque rege sua comunidade política pelo princípio medieval da iustitia, um desdobramento da assimilação de funções públicas e privadas que se confundem em sua figura. Associada a esses fatores e em grande parte deles decorrente, a evidência mais relevante para a função absolutista de Teseu é que ele, exercendo politicamente seu juízo, mostra-se hábil no julgamento do problema trazido por Egeu e, sobretudo, capaz de reinterpretar as alterações nos fatos com vistas a um novo julgamento. Ainda que a nova realidade das coisas seja fruto da ação das fadas, estas não afetam o Duque diretamente. Além de sequer acreditar na existência de seres feéricos, em momento algum Teseu é vítima dos efeitos mágicos da flor nem de qualquer outra forma de ilusão. Para ele, a alteração no comportamento dos jovens constitui uma 276 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 simples reordenação, conquanto inusitada, inexplicável e misteriosa, da disposição dos eventos que se lhe apresentam. Dessa maneira, o poder absolutista de Teseu apresenta também traços divinos — consoante o direito divino dos reis —, posto que ele se mostra acima da força pagã da magia feérica, ao menos de maneira direta. Por outro lado, simultâneo a esses traços medievais, Teseu apresenta posições de cunho anglicano, ipso facto, modernas. O caráter paternalista do Duque, em cuja pessoa confundem-se as funções de pai e de rei, é reafirmada no final da trama, quando Hérmia mostra-se subjugada a ele. Afinal, é Teseu que favoravelmente concede a ela o casamento com Lisandro e que determina que a celebração dessas núpcias ocorra na mesma cerimônia na qual ele esposará Hipólita, quando também se casarão Demétrio e Helena. Assim se evidencia, mais uma vez, a relação intrínseca, aqui examinada, entre a cronologia dos eventos sociais e a agenda pessoal do monarca que os determina. Como se vê, sem ter-nos legado ensaios nem defendido pessoalmente correntes ou preceitos políticos ou religiosos em suas peças, Shakespeare embebe suas tramas de elementos culturais e sociais que refletem a transição do medievo para a modernidade, bem como inúmeros conflitos do indivíduo moderno. Sob os invólucros estéticos que dão movimento cênico à trama do Sonho..., os aspectos políticos da shakespeariana vêm à tona quando a teoria, aqui haurindo aspectos do pensamento filosófico, coaduna-se com a crítica literária para lançar luz sobre a sua atualidade. E esta, veiculada pela abrangência cultural do teatro, motiva o questionamento também do sujeito contemporâneo. Notas 1 Uma versão embrionária deste texto, bem menor e restrita a questões legais em sua transfiguração literária, foi apresentada no Seminário Direito e Literatura, realizado no segundo semestre de 2006, na PUC-Minas, com organização do programa de pós-graduação em Direito daquela instituição. Aqui, todas as citações da peça de Shakespeare provêm da edição SHAKESPEARE, William. Sonho de Uma Noite de Verão. Tradução, introdução e notas de Erick Ramalho. Belo Horizonte: Tessitura Editora, 2006, sendo indicadas apenas pelos números do ato, da cena e dos versos. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 277 2 Ademais, não cabe ao literato a justificativa, mais confortável do que sólida, da impossibilidade exegética da interpretação, asseveração devidamente derrubada, dentre outros, por Stephen Davies (2006, p. 223-247) em seu ensaio “Authors Intentions, Literary Interpretation, and Literary Value”. 3 A esse respeito, convém asseverar: “Some recent essays and articles published both in the Cambridge Quartely and in The British Journal of Aesthetics have reassessed postmodernism through readings with twofold aims: i) to locate features now considered postmodern in classic texts, thereby assuming their existence before the postmodern concept itself; ii) to demonstrate that, while profitable as a landmark of difference, postmodernism criticism can be lost in its playfulness and cover misreading caused by lack of erudition of interpretative skills to be accepted and legitimated by some sort of widespread trend. Of these texts, the most direct in dealing with the second point seems to be Paul Crowther’s ‘Defining Art, Defending the Canon, Contesting Culture’, in which he puts himself against ‘a fashionable cultural relativism that is sceptical about the objectivity of aesthetic and canonical values’ promulgated by ‘that transdiciplinary mélange sometimes called ‘theory’ (…) inspired in general terms by Foucault’ (CROWTHER, 2006, p. 362). Crowther locates the origins of such procedure in a globalisation context through ‘discursive practices’ that ‘(…) are presented as a general way of understanding all cultural products. Every activity % including artifice and representation % is cleansed of its concreteness and/or physicality and repackaged as a mode of meaning or signification’ (CROWTHER, 2006, p.365), which leads artwork, literature being an example of it, to be interpreted from this ‘consumerist’ viewpoint within strict social readings – for which an example of my own might be the overuse of the terms ‘negotiation’ and ‘negotiating’ in recent literary studies.” (RAMALHO, 2007). 4 Meu presente escopo é o da crítica literária voltada ao texto dramático, pelo que tomo a lei aqui como prática social e política de maneira mais simplificada do que aquela que se utiliza nas discussões sobre o assunto realizadas por teóricos do direito. Não se deve ignorar, entretanto, que o conceito de lei é vasto e diversificado, como se vislumbra brevemente nesta explicação: There are at least two ways in which a pre-theoretical concept of law may influence the specification of a field of enquiry. First, law is a complex and fluid sphere of practices, norms, reasoning and ideals; it is conceptually broader than any individual theory of law sensibly can accommodate. For this reason part of the task of legal theory will be to reduce “law” in its broadest possible sense to certain parameters. This reduction may be enabled by one’s pre-theoretical commitments, i.e., a field of enquiry may be preferred simply because it represents best what one has always taken law to be. In this way some may hold a concept of law that is heavily connected to the type of people they consider central to law, others may focus on institutional relationships others on 278 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 legal ideas and some may think about rules and obligations (DONNELY, 2007, p. 3). Ainda que não alheia a essa diversidade, ora me concentro na dimensão política da aplicação da lei na representação teatral shakespeariana em detrimento de definições precisas do conceito de lei. 5 A retórica era, à época, “the major theory and practice of the arts of language including above all poetry” (SLOANE, 1974, p. 213). Assim, enquanto “The rhetor assumes a stance to achieve the aims of his oratory (or writing), and stance implies not the frequent modern blunder that literature is identical to the spontaneous, highly emotive, and directly candid personal experiences which have given rise to that literary expression, but instead it indicates that the orator has chosen a point of view, a strategy, a set of techniques or devices, perhaps specific language to enhance his chances for success” (SHAWCROSS, 1974, p. 5). Trata-se de uma “… renaissancistische Vereinigung von Dichter und Redner, das Ideal des poeta-orator” (PLETT, 1993, p. 227). Alhures, Sloane acrescenta que “... disputation was a prominent educational activity in that year of Shakespeare’s birth [in 1564, when Elizabeth I visited Cambridge] and remained so, at lest through the age of Milton” (SLOANE, 1993, p. 174). A relação entre poética e retórica nestes termos é ainda corroborada por W. Müller: “In der Renaissance beeinfluâten sich Rhetorik und Poetik gegenseitig so intensive und verbanden sich so eng miteinander, daâ die beind Disziplinen, die sich schon in der Antike einander stark angenähert hatten, vielfach kaum noch unterscheidbard waren” (MÜLLER, 1993, p. 225). Para tanto, Müller (1993, p. 225) cita como exemplo o tratado de poética de Puttenham: “In seiner Verteigigung dr Berechtigung rhetorischer Figuren in poetischer Rede bezieht sich Puttenham (...) auf ide forensische Rhetorik und idenfiziert den Dichter mit einem Amwalt (‘pleader’), der eine Rechtssache (‘cause’) vertritt und das höfische Publikum als seine Richter (‘judges’) durch das Mittel wirksamer Rede (‘efficacy of speach’) zu überzeugen (‘dispose’) versucht. . .”. 6 A esse respeito, Peter Mercer (1984, p. 194) lembra que, “In a sense, Othello’s first mistake is to attempt to involve himself in society in the most symbolically central manner — by marrying”. 7 A identificação de características anglicanas que ora faço não desconsidera a presença significativa de elementos do catolicismo na shakespeariana. Meu presente intento é apenas demarcar, em termos sociais que contrastam o início da modernidade com a Idade Média, sem, naturalmente, perder de vista que não existe uma “quebra” entre o medievo e o início da modernidade, mas uma continuação com modificações. Logo, a religião é aqui considerada em sua dimensão social e histórica. Diferentemente do que ocorre com John Milton, puritano poeta que bem utiliza sua literatura como veículo de expressão estética de seus conceitos teológicos, não é possível definir preceitos religiosos ou crença que Shakespeare possa ter seguido em sua vida ou em sua obra. Conforme E. Quinn, “There are two Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 279 major problems which arise in considering the relationship of religion and Shakespeare. The first is the fairly concrete biographical problem of his religious affiliation, Anglican, Catholic, or Puritan. The second is the not entirely unrelated, but more remote and conjectural, problem of the religious values (or lack of them) which inhere in his plays. (…) As with most famous Shakespearean conundrums, the facts concerning his denominational adherence have been obscured by the prejudices and a priori theorizing of the commentators” (1966, p. 680). Contudo, uma visão objetiva das peças de Shakespeare demonstra como se pode identificar, em sua representação dos conflitos religiosos do início da modernidade, elementos diversos das religiões então vigentes, sem querer, com isso, que Shakespeare tenha preferido uma delas. 8 Com efeito, “na politéia medieval”, assevera Janine Ribeiro (2000, p. 177-178) lendo Mcllwain e Helen Cam, “as leis não se faziam, mas se encontravam (havia law-finders, não law-makers). Logo, em vez de legisladores, com a vontade servindo de fundamento à sua ação, dispomos de diversas e vagas instâncias que reconhecem ou declaram um valor supremo, a iustitia.” 9 Com efeito, “Angels, Aquinas had taught, are pure thought and, assuming a form not unlike man’s, express that thought in ways not unlike human, verbal eloquence; whereas God’s eloquence, St. Augustine had most forcefully argued, inheres in images, natural and supernatural things, which mysteriously penetrate the soul” (SLOANE, 1993, p. 212). 10 Acerca das idéias que pervagavam o início da modernidade, período em que se insere a vida e a obra de Shakespeare, ressalte-se que: Common sense compared the individual data — described similitudes or images — gathered by the various external senses, and perceived qualities such as size, shape, number and motion that fell under more than one sense. Imagination stored these data before passing them on to fantasy, which acted to combine and divide them, yielding new images, called phantasmata, with no counterparts in external reality. Estimation accounted for instinctive reactions of avoidance or trust, while memory, finally, stored not only the images derived from the external sense, but also the phantasmata and the reaction of estimation; unlike imagination, however, it acted cum differentia temporis, recognizing its contents as part of past experience. Because the internal senses were less bound to the actual experience, they acted to bridge the gap between external sensation, limited to the knowledge of particulars, and the highest cognitive operation of intellection, which dealt with universals. (PARK, 1988, p. 470) 11 De fato, “Convém lembrar que a configuração espaço-temporal do palco elisabetano é cênico-textual, isto é, deve-se a artifícios de efetivo poder de convencimento pelo fingir (counterfeiting), já que o palco, apesar da peculiar arquitetura que o torna locus de encenação ímpar (condição que é, em termos retóricos, aludida ao chamar-se o palco, como em Henrique V, de scaffold), demanda recursos retóricos frente à simplicidade dos recursos cênicos (...) (RAMALHO, 2002, p. 93). À guisa 280 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 de exemplo, recorde-se que “When we come to Macbeth, we realise that most of its scenes take place either at twilight or at night. To darken a sunny stage Shakespeare depended totally on his verbal strength.” (ZYNGIER, 1984, p. 163). REFERÊNCIAS ARISTOTLE. Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary by W. D. Ross. Oxford: Clarendon, 1948. CANDIDO, Antonio. A culpa dos reis: mando e transgressão em Ricardo II. In: Adauto Novaes (ed.). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 87-100. CROWTHER, Paul. “Defining Art, Defending the Canon, Contesting Culture”. The British Journal of Aesthetics, 2004, 44(4): 361-377. DAVIES, Stephen. “Authors Intentions, Literary Interpretation, and Literary Value”. British Journal of Aesthetics, v. 46, n. 3, July 2006, p. 223-247. DONNELLY, Bebhinn. “Subjectivity and Law’s Fields of Enquiry”. Ratio Juris, v. 20, n. 1, March, 2007, p. 77-96. EAGLETON, Terry. William Shakespeare. Re-Reading Literature. Oxford: Blackwell, 1986. HEINZE, Eric. “Epinomia: Plato and the First Legal Theory”. Ratio Juris, v. 20, n. 1, March, 2007, p. 97-135. MERCER, Peter. Othello and the Form of Heroic Tragedy. In: C. B. Cox and D. J. Palmer (ed.). Shakespeare’s Wide and Universal Stage. Manchester: Manchester University Press, p.185-201. MÜLLER, Wolfgang. Ars Rhetorica und Ars Poetica: Zum Verhältnis von Rhetorik und Literatur in der englischen Renaissance. In: PLETT, Heinrich F. (hrsg.). Renaissance-Rhetorik. Berlin: De Gruyter, 1993. p. 225-243. OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. “Intermedialidade e mito em Sonho de uma noite de verão, de Michael Hoffman”. In: Scripta Uniandrade. Curitiba: Uniandrade, n. 4, 2006, p. 73-82. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 281 PARK, Katharine. The Organic Soul. In Quentin Skinner and Eckhard Kessler (ed.). The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. p. 464-484. PLETT, Heinrich F. Rhetorik der Renaissance-Renaissance der Rhetorik. In: ________. (hrsg.). Renaissance-Rhetorik. Berlin: De Gruyter, 1993. p. 225243. QUINN, Edward. Religion. In: O. J. Campbell (ed.). The Reader’s Encyclopedia of Shakespeare. New York: MJB Books, 1966. RAMALHO, Erick. “New Challenges from the Lost Unity: Shakespeare, Performance and Difference”. In: Anais do I Congresso Internacional da Associação Brasileira dos Professores Universitários de Inglês, 2007, Belo Horizonte. RAMALHO, Erick. “Shakespeare e a encenação do silêncio”. In: Pereira, Lawrence F. & Rosenfield, Kathrin H. (Org.). Literatura e pensamento entre o final da renascença, o barroco e a idade clássica. Revista Letras. Santa Maria (RS): Universidade Federal de Santa Maria, v. 24, 2002, p. 91-98. RIBEIRO, Renato Janine. Ao leitor sem medo. Hobbes escrevendo contra o seu tempo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. RIBEIRO, Renato Janine. O Retorno do Bom Governo. In: Adauto Novaes (ed.). Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. ROBERTS, David. “Sleeping Beauties: Shakespeare, Sleep and Stage”. The Cambridge Quarterly, v. 35. n. 3, 2006, p. 231-254. SHAWCROSS, John T. The Poet as Orator: One Phase of His Judicial Pose. In: Thomas O. Sloane & Raymond B. Waddington (ed.). The Rhetoric of Renaissance Poetry. From Wyatt to Milton. Berkeley: University of California Press, 1974, p. 5-36. SHAKESPEARE, William. Sonho de Uma Noite de Verão. Tradução, introdução e notas de Erick Ramalho. Belo Horizonte: Tessitura Editora, 2006. SLOANE, Thomas O. Rhetorical Education as Two-Sided Argument. In: PLETT, Heinrich F. Renaissance-Rhetorik. Berlin: De Gruyter, 1993. p. 163178. 282 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 SLOANE, Thomas O. The Crossing of Rhetoric and Poetry in the English Renaissance. In: Thomas O. Sloane & Raymond B. Waddington (ed.). The Rhetoric of Renaissance Poetry. From Wyatt to Milton. Berkeley: University of California Press, 1974. p. 212-242. SOPER, Philip. “On the Relation between Form and Substance in Law”. Ratio Juris, v. 20, n. 1, March, 2007, p. 56-65. TILLYARD, E. M. W. The Elizabethan World Picture. London: Penguin, 1966. ZYNGIER, Sonia. The Elizabethan Theatre: a landmark in English Literature. In: Anais do XVI seminário de professores universitários de língua inglesa: teatro contemporâneo de língua inglesa. Belo Horizonte: PUC-MINAS, 1984, p. 160166. Artigo recebido em 20.05.2008. Artigo aceito em 21.09.2008. Erick Ramalho Vice-Presidente do Centro de Estudos Shakespeareanos (CESh). Editor-Adjunto do Selo CESh, da Tessitura Editora. Tradutor da peça Sonho de Uma Noite de Verão de Shakespeare (Tessitura, 2006). Tradutor de Beowulf (Tessitura, 2007). Mestre em Literaturas de Expressão Inglesa (UFMG). Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 283 284 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 OTELO E O ENGAJAMENTO POLÍTICO-CULTURAL DO FOLIAS D’ARTE∗ Célia Arns de Miranda [email protected] RESUMO: No espetáculo Otelo, realizado pelo Grupo Folias D’Arte em 2003, a reflexão sobre o binômio texto/ contexto torna-se um procedimento imperativo. Marco A. Rodrigues (encenador), através da inserção das músicas New York, New York e The End, que desempenham uma função de enquadramento épico e de comentário crítico da ação, identifica o referente contemporâneo ao estabelecer o diálogo entre a cultura-fonte e a cultura-alvo. ABSTRACT: In the stage adaptation of Othello, realized by the theatrical company Folias D’Arte in 2003, critical reflection about text and context assumes a crucial importance. The director Marco A. Rodrigues succeeds in finding a contemporary referent for his production by inserting the songs New York, New York and The End which accumulate the functions of epic framing and critical comment on the action, thus establishing a dialogue between source and target cultures. PALAVRAS-CHAVE: William Shakespeare. Grupo Folias D’Arte. Políticas culturais. Apropriação. Historicização. KEY-WORDS: William Shakespeare. Group Folias D’Arte. Cultural Politics. Appropriation. Historicization. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 285 Brecht “descobre em Shakespeare um dramaturgo não apenas épico, mas também profundamente histórico. Um teatro cujo objeto é além do destino do protagonista, toda uma sociedade”. Bernard Dort. Ao optar por inserir na introdução do livro The Appropriation of Shakespeare as palavras de Hans R. Jauss1 (1982, citado por Marsden, 1991, p.9) de que uma obra literária não é um monumento que monologicamente revela sua essência atemporal, Jean I. Marsden está enfatizando o fato de que a permanência de uma obra reside na sua capacidade de influenciar e ser influenciada (1991, p. 9). Essa é uma clara referência à necessidade humana de construir mitos e de manipular esses mitos uma vez estabelecidos, o que explica a motivação de muitos dramaturgos e diretores teatrais de se apropriarem de uma obra do passado e de tentarem atualizá-la, deslocandoa para o contexto contemporâneo. No mundo dos estudos literários, a apropriação textual é um processo necessário e inevitável: uma obra literária estará exercendo influência, se as pessoas não deixarem de manifestar uma reação diante dela, ou seja, se houver leitores que, novamente, se apropriem da obra do passado, ou autores que desejem imitá-la, excedê-la ou refutá-la. Através do ato de apropriação literária, a respectiva obra torna-se propriedade alheia e essa é uma garantia de sua permanência através de sua re-invenção (1991, p.1). Quando Ben Jonson, um dos homens mais eruditos da era elisabetana, escreveu sobre Shakespeare, dizendo que “he was not of an age but for all time” (citado por Boyce, 1991, p. 323)2 ele não poderia ter imaginado a implicação dupla de suas palavras: por um lado, esse verso enaltece o eterno apelo de Shakespeare, enquanto que, por outro lado, ele pode ser interpretado como a descrição de um processo literário de apropriação cultural que já estava em curso naquele dado momento, no qual cada nova geração tenta redefinir Shakespeare em termos contemporâneos, projetando a sua própria ideologia nas peças e na elaboração mitológica do autor (MARSDEN, 1991, p. 1). Realmente, o que impressiona em Shakespeare são todas as leituras possíveis que seus textos permitem, o que confirma as palavras de Gerd Bornheim, ao refletir sobre as tendências da arte da encenação em relação às montagens shakespearianas: 286 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Chega a ser irônico, pois o que menos se tenta hoje é montar Shakespeare no estilo elisabetano. Qualquer tentame nesse sentido certamente nem poderia passar de mera curiosidade histórica a ser sepultada em algum arquivo. Sem dúvida uma certa margem daquela atualidade de Shakespeare se perdeu, e é a partir dessa perda que a situação se modifica, ou seja: as leituras de seus textos se ampliam. O elemento novo está precisamente neste ponto: há leituras, desamarradas agora de seu espetáculo conciso. Passa, pois, a haver leituras. Assim é que a lendária e estrepitosa leitura efetuada na virada do século pelo Duque de Saxe Meiningen de Júlio César construiu-se justamente na perspectiva do tal arquivo histórico, com arquitetos e arqueólogos a postos na própria Roma. Donde o problema: o que é um texto como Júlio César? Uma peça romana do século I, uma proposta singelamente elisabetana, ou um texto contemporâneo? O teatro, e com ele o cinema, vem preferindo a primeira hipótese. Aparentemente, tal abordagem pode até parecer um “progresso”, um modo de “atualizar” Shakespeare precisamente por empurrá-lo para os idos romanos. Mas, todas as contas feitas, por mais que se deplore, tais procedimentos trazem consigo um pouco da maquilagem da máscara da morte. (1997, p. xvi) Quando Charles Marowitz relata em seu livro Recycling Shakespeare algumas de suas experiências como encenador, manifesta-se com veemência contra o conservadorismo que é visto por ele como a força mais implacável no mundo das artes, por tentar preservar velhas visões em detrimento das novas. Ele reitera a sua tese, enfatizando o fato de que se os elisabetanos tivessem sido conservadores em relação a Kyd, Holinshed, Sêneca, Whetstone, Boccaccio e Belleforest, o mundo não teria conhecido Shakespeare. Se os tradicionalistas tivessem vigorado, cada produção shakespeariana seria um transplante inanimado da página para o palco e a originalidade e talento que a mente contemporânea traz para os conceitos tradicionais seria menor, senão inexistente (1991, p.26). Marowitz, ao defender com veemência a possibilidade de apropriação e transformação das obras shakespearianas, fala o seguinte: Eu diria que quando um dramaturgo como Shakespeare nos fornece a carne, é quase uma obrigação nossa acrescentar as batatas, as cebolas e o tempero. A nossa tarefa é reproduzir, redescobrir, reconsiderar e olhar sob um novo ângulo os clássicos − não simplesmente regurgitá-los. “Eu Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 287 re-penso logo existo”, disse Descartes − ou, ao menos, ele deveria. (1991, p. 24) Interpretar uma obra de arte significa colocar ênfase em certos aspectos e excluir outros: é por esse motivo que, apesar de haver centenas de produções teatrais sobre uma determinada obra literária, as potencialidades do texto, que são infinitas, não se esgotam. Cada produção provê apenas um insight parcial e nenhuma produção, não importa o quão definitiva possa ser, pode realizar todas as potencialidades do texto. Dentro da conjuntura da apropriação textual, Anne Ubersfeld (2002, p. 12) refere-se, com muita propriedade, ao fato de que “ler hoje é ‘des-ler’ o que foi lido ontem. [...] [É permitido] compreender que a obra clássica não é mais um objeto sagrado, depositário de um sentido oculto, [...] mas, antes de tudo, a mensagem de um processo de comunicação.” A obra clássica, inserida dentro do processo interativo de comunicação do teatro, portanto, prevê a participação conjugada do emissor e do receptor na formulação da mensagem, confirmando-se, por esse prisma, “a relatividade histórica das leituras que se impõe ao pensamento.” (2002, p. 12) A partir desses pressupostos, o espectador-leitor é levado ao esforço árduo para integralizar o sentido que jamais é finito - “É assim que se refaz a teatralização dos clássicos: pelo investimento do espectador na representação.” (2002, p.33) Sob essa perspectiva, fazendo-se uma referência específica ao enfoque do presente estudo, pode-se dizer que Shakespeare produziu a tragédia Otelo e o encenador Marco Antonio Rodrigues, através do ato da leitura interativa e recriativa, converteu esse texto clássico numa outra obra de arte, a versão moderna de Otelo, realizada pelo Grupo Folias D’Arte em 2003 e 20043. O resultado é uma incessante e recíproca interação do sagrado e do profano, da arte erudita e popular, da linearidade clássica e da fragmentação do pensamento, do humanismo renascentista e da modernidade asfixiante. Entretanto, deve-se reiterar que, por esse viés, o pré-texto não mais fala, ele é falado; ele não mais revela, ele é revelado; ele não mais significa, ele é figurado metaforicamente. Anne Ubersfeld, ao considerar que uma obra clássica é aquela que não tendo sido escrita para nós, (2002, p. 9) “reclama uma ‘adaptação’ a nossos ouvidos”, põe em evidência uma das questões cruciais na discussão 288 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 da representação dos clássicos que, necessariamente, antevê a inclusão do referente contemporâneo em função da escuta atual do receptor4. A partir da percepção de que a tríade do processo comunicativo - emissor, receptor e mensagem - sofreu modificações profundas, pergunta-se, se ainda é possível uma forma tradicional de leitura e interpretação dos clássicos, sem que seja realizada uma releitura histórica - a releitura do passado tem como propósito a apresentação de uma leitura do presente. A leitura ideológica espontânea que os contemporâneos de um certo texto teatral eram capazes de realizar, vai reencontrar no presente uma outra proposta de leitura, em função do desenvolvimento da história e da contribuição das ciências humanas, que mudaram, radicalmente, o repertório do espectador-leitor dos séculos XX e XXI (2002, p. 14-15). Sabe-se que, hoje em dia, não é mais possível considerar o autor o único emissor de uma produção teatral. Ubersfeld chama de ‘práticos’ (2002, p. 13) todo o conjunto da equipe envolvida, ao lado do autor, na produção do espetáculo, ou seja, o encenador, os técnicos e os atores. Obviamente, dentro deste arrazoado, a mudança do receptor também irá repercutir profundamente em todo o processo comunicativo, uma vez que o ouvinte da atualidade, por um lado, não irá mais reconhecer “a relação da mensagem com suas condições primitivas de enunciação” (2002, p. 13) e, por outro lado, ele se torna indiferente a certos aspectos da obra, enquanto que outros se intensificam sob os seus olhos. Essas palavras confirmam o que Gerd Bornheim expressou, tão brilhantemente, ao referir-se às encenações modernas da obra shakespeariana, ressaltando que é a partir de uma certa perda daquela atualidade de Shakespeare que o potencial das leituras dos textos dele se multiplicam - há uma certa perda, entretanto, pode-se reencontrar uma outra forma de expressão. Cabe ao encenador descobrir os ecos contemporâneos para suprir as conotações que se tornaram ofuscadas: “o espectador do século XX [irá impor] a um texto saturado conotações que são as da sua própria cultura” (Ubersfeld, 2002, p. 15). Por esse prisma, pode-se inferir que a dupla mudança do emissor e receptor irá acarretar uma mudança significativa da própria mensagem, ou seja, “a partir do momento em que todo o processo de comunicação foi abalado, a mensagem não poderia permanecer intacta” (2002, p.16). Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 289 Dentre as diferentes formas de historicização dos clássicos, Anne Ubersfeld (2002, p. 20-25) salienta que aquela que remete a um referente contemporâneo leva a privilegiar, muitas vezes, uma leitura universalista e humanista do texto clássico. A identificação de uma proximidade entre os enunciados de um texto clássico e a atualidade vivida pelos espectadores estabelece uma ligação dialética entre os dois períodos da história. Após Ubersfeld lançar a pergunta, (2002, p. 26) “como assegurar a permanência do texto clássico?”, e fazer um breve comentário sobre a diversidade de enfoques sobre essa questão, ela aponta uma quase unanimidade entre os envolvidos no debate: “a permanência não pode ser compreendida como a de um objeto total, em seu fechamento e sua unidade, mas como a permanência de elementos esparsos, de ‘arquiteturas quebradas’, segundo a expressão de A. Vitez” (2002, p. 28-29). A sua segunda indagação, “O que fazer então, hoje, da dramaturgia clássica? É preciso respeitá-la, exaltandolhe o ‘encadeamento’? Ou bem ‘desencadeá-la?’” (2002, p. 30) põe, definitivamente, o foco sobre a polêmica que, ainda hoje, tem sustentado debates acalorados não só entre os envolvidos com o fazer teatral, mas também entre os dramaturgos e críticos em geral. Partindo do pressuposto de que o desmantelamento dos textos clássicos já é um fato incontestável, a ênfase, na proposta moderna da encenação dos clássicos, é colocada no heterogêneo, no trabalho com a descontinuidade e no interesse no receptor.5 Ao considerar o contexto sociocultural da recepção, José Roberto O’Shea (2007, p. 158) menciona que: A relevância de uma performance [...] está relacionada e condicionada à recepção, já que não só o ator, mas também o espectador são objeto de estudo; por conseguinte, a inserção sociocultural é crucial ao processo de construção e interpretação dos significados encenados (em contraste com os significados literários do texto da peça). O objetivo /.../ é entender a natureza e a extensão dos contextos em que a performance se insere, propósito que justifica a atenção ao momento histórico nacional ou local no qual a performance é realizada, à composição sociocultural do público e à sua expectativa, bem como às circunstâncias concretas da performance. Ainda dentro desse arrazoado, Patrice Pavis (1999, p. 196-97), ao mencionar que historicizar “é mostrar um acontecimento ou uma personagem 290 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 à luz social, histórica, relativa e transformável”, lembra-nos que o termo e a sua respectiva conceituação foram introduzidos por Bertold Brecht. A historicização, de acordo com o autor e teórico alemão,6 (1976, citado por Pavis, 1999, p.197) “leva a considerar um determinado sistema social do ponto de vista de outro sistema social. A evolução da sociedade fornece os pontos de vista.” Nesse sentido, todo teatro é histórico e político. Brecht levanta a questão de que é imprescindível que um espetáculo mantenha um vínculo com o presente – ou, então, ele não interessa. Para atender esse quesito, pergunta-se: Qual é a perspectiva contemporânea que está sendo enfocada pelo Otelo do Folias D’Arte? Qual é o cruzamento sócio-ideológicohistórico que existe entre o Otelo shakespeariano e o do Folias? Além de manter Iago na “condição de narrador e comentarista da evolução dos episódios”, tal qual Shakespeare já havia concebido, o espetáculo faz uso da música “como enquadramento épico e como comentário crítico da evolução da história”. No prólogo do espetáculo, a música New York, New York “situa acidamente um desfile de mutilados, loucos, viciados na Veneza-a-capitaldo-mundo dos dias de hoje e a música The End (The Doors), lembra que Chipre já foi o Vietnã e agora pode ser o Iraque” (COSTA, 2OO3, p. 101-102). De acordo com Dagoberto Feliz (Diretor musical), a função da música no Otelo do Folias D’Arte é realizar a fusão da arte erudita e popular que é um dos aspectos que também caracterizava as encenações do período elisabetano (2003, p. 5). Uma das características que acompanha a estética do Folias é promover em seus espetáculos o diálogo intermidial entre vários segmentos artísticos como a música, a dança, o teatro, o cinema, as artes plásticas, dentro de um todo artístico. No prólogo do Otelo, o público, ao contemplar o desfile de transeuntes na capital cosmopolita do mundo ao som de New York, New York (a princípio, entoada e tocada no violão por um ator para, em seguida, ouvir-se a voz de Frank Sinatra na gravação) tem a oportunidade de se defrontar com um elenco polivalente que se reveza em demonstrações caricatas que exacerbam a deformação grotesca dos heróis de cada dia que se reconhecem irmãos no esvaziamento do momento contemporâneo. O conjunto de espelhos encostado na parte de trás do espaço de representação torna-se um recurso cênico bastante funcional: ao refletir as imagens dos passantes, multiplica a cena exacerbando e alastrando o circo da vida que nos torna todos palhaços sem picadeiro. É o espelho um indício de que estamos diante da imagem de uma realidade mordaz? Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 291 Um fato relevante é que dentre os transeuntes no desfile, surge Otelo, o nosso personagem herói!!! É o Otelo de verdade ou de mentira? É aquele que se transforma em ator na própria vida? Quais são os limites entre a vida e o teatro, entre a aparência e a realidade? Shakespeare refere-se, inúmeras vezes, em suas peças teatrais ao mundo como um palco onde homens e mulheres são meros atores desempenhando muitos papéis7. O fato do personagem Otelo ser inserido dentro do desfile de transeuntes no prólogo do espetáculo, como um mero cidadão, torna-se significativo uma vez que nesse exato instante, personagem e ator são fundidos: o herói trágico tornase um homem como todos nós8. É claro que dentro do momento atual, não há mais lugar para o herói trágico clássico, mas apenas para aquele que retrata o homem contemporâneo na sua solidão entre milhares de pessoas, na sua pequenez em uma das maiores metrópoles do mundo, na sua pobreza em pleno desenvolvimento do capitalismo. Como tentar remanejar o que sobrou do projeto moderno? É o herói moderno o retrato de uma crise das utopias? Com Shakespeare e seus conterrâneos, há um deslocamento do sentido do teatro: o teatro que se ocupava dos deuses, dos reis e dos heróis, dos santos, do Cristo e da Virgem, ocupa-se agora do homem com toda a sua amplitude e limitações, um ser simplesmente mundano esforçando-se pela sobrevivência do dia-a-dia. Tudo se verifica no plano de uma horizontalidade plena (MIRANDA, 2004, p. 146). Ainda dentro do prólogo, repentinamente, os transeuntes ficam estáticos. Todos estão ‘congelados’, com exceção de um ator/personagem que, mais tarde, os espectadores percebem que se trata do Iago. Ele abre um guarda-chuva e caminha com desembaraço no meio de todos! Eu repito: só ele se move, os outros estão privados de seus movimentos! Essa cena não deixa de ser uma ‘pre-figuração’ da trama que será apresentada, logo a seguir, quando todos os personagens serão enredados pela astúcia e ambição descomedida de Iago. E, por que um guarda-chuva aberto? Certamente, será para resguardá-lo, metaforicamente, das intempéries da vida que serão provocadas por suas incursões envenenadas que terão o poder de paralisar, até certo ponto, a reação de todos os outros personagens. O prólogo, apesar de não estar diretamente vinculado ao desenvolvimento do enredo, trata-se de um recurso épico utilizado pelo diretor tendo em vista tanto a sua proposta cênica para o espetáculo quanto a 292 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 dinamização do jogo teatral. O prólogo assume uma função metalingüística de intervenção crítica antes e durante o espetáculo. O diálogo intermidial e intertextual que é estabelecido a partir da inserção de New York, New York não pode ser relevado, uma vez que essa música assume na encenação uma função equivalente aos songs brechtianos. Tal como preconizam Sergei Eisenstein, Kurt Weill e o próprio Brecht, dentre outros, a música pode produzir, algumas vezes, um efeito de contraponto em um espetáculo, quando ela “sublinha ironicamente um momento do texto ou da atuação” (PAVIS, 1999, p. 255). No Otelo do Folias, a música New York, New York, ao invés de conduzir os espectadores a uma embriaguez romântica, produz um efeito de ruptura objetivando induzir o espectador a uma atitude crítica. Através do distanciamento9, a música é vista sob uma nova perspectiva. Os versos entoados por Frank Sinatra que exaltam o sonho americano, cultivado desde a implantação de suas colônias enquanto as fronteiras estavam sendo desbravadas rumo ao oeste, torna-se o ideal que está enraizado na alma de cada cidadão: “I wanna wake up in a city, that doesnt sleep // And find Im king of the hill – top of the heap //...// I’ll make a brand new start of it – in old New York // If I can make it there, I’ll make it anywhere // Its up to you – New York, New York // I want to wake up in a city, that never sleeps // And find Im a number one – top of the list, king of the hill // A number one.”10 Entretanto, o que sobrou do sonho americano? O que sobrou das visões utópicas de um país que intencionava desenvolver uma sociedade homogênea na qual as diferenças culturais, raciais e religiosas seriam fundidas numa nacionalidade multi-étnica, ou seja, num ‘melting pot’11? Nova Iorque, a cidade-símbolo dos vencedores e daqueles que têm a ilusão de que ‘querer é vencer’ torna-se o cenário do desfile dos loucos, viciados, excêntricos e de todos os meio-heróis. Por esse viés, New York, New York assume um caráter de música Gestus que induz o espectador a um posicionamento político e/ ou filosófico. Os atores, ao representarem no prólogo o desfile de tipos urbanos que exibem uma situação que evoca uma emoção diametralmente contrária ao o que está sendo cantado, reiteram para os espectadores que a nossa sociedade continua desequilibrada entre as forças daqueles que exercem o poder e daqueles que estão submetidos a esse poder, ou seja, entre o estado e o individualismo, entre os colonizadores e os colonizados entre os ricos e os pobres, entre o gênero masculino e o feminino, entre Veneza e Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 293 Chipre, entre os Estados Unidos e o Vietnã // o Iraque, e entre todos os Iagos e Otelos que habitam o planeta Terra. De acordo com Iná Camargo Costa, (2003, p. 101) é imperativo saudar o espetáculo Otelo do Folias D’Arte por ter estabelecido um diálogo intermidial com a versão fílmica (1952) de Orson Welles12. O cineasta inicia a sua filmagem com uma pré-figuração mostrando o enterro de Otelo e Desdêmona e a prisão de Iago, que aparece suspenso em uma gaiola. Quando a câmera fecha em seu rosto, é uma indicação para os espectadores de que assistiremos à história em forma de flashback, determinado pelo ponto de vista de Iago. “Isto define a adoção da forma épica por Orson Welles”(2003, p. 101) A adaptação de Welles foi construída a partir de uma concepção estética elaborada, cuja intenção é apresentar as relações visuais em vez da visualização das conexões narrativas. Nesse caso, uma responsabilidade muito maior é transferida para a audiência que terá que estabelecer as conexões que farão parte de um todo coerente. Em Welles a seqüência visual domina desde o início: o filme prolonga-se por, aproximadamente, oito minutos (a prefiguração e o prólogo) antes que qualquer acompanhamento falado ocorra. As primeiras palavras (prólogo) são uma narração sincrônica. O diálogo é introduzido apenas quando o ‘olho’ e o ‘ouvido’ foram, separadamente, iniciados (DAVIES, 1994, p. 103-104). Parece-me conveniente ressaltar que no prólogo do Otelo do Folias, que se estende por quase cinco minutos antes que o primeiro diálogo ocorra, as percepções visuais e auditivas também devem ser integralizadas pela audiência. Nesse caso, como já foi mencionado em relação ao filme de Welles, o espectador assume um posicionamento crítico na construção do sentido. Por um lado, com esse tipo de concepção, a compreensão passa a ser um exercício hermenêutico uma vez que o todo não pode ser compreendido sem a compreensão das partes, nem as partes sem a compreensão do todo. Por outro lado, no espetáculo do Folias, a platéia é convidada a sentar em três arquibancadas móveis que mudam de posição de acordo com a necessidade de haver uma maior ou menor aproximação e integração com as cenas. A movimentação das arquibancadas permite não apenas que os espectadores tenham diferentes olhares sobre a cena como também não deixa de ser um recurso de distanciamento ao ativar a mudança das perspectivas cênicas. Mário Rojas,13crítico de teatro, escreveu a respeito do efeito no uso das arquibancadas na apresentação do Otelo do 294 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Grupo Folias D’Arte em Portugal (Lisboa e Porto) no ano de 2006. Não restam dúvidas, de que esse recurso cênico transformou-se num elementochave para a plena apreciação do espetáculo: As arquibancadas dos espectadores com rodas giratórias, mudavam constantemente de posição, o que ia construindo diferentes perspectivas de recepção, focos múltiplos que revelam todo o gesto e movimento e quase anulava a distância entre atores e espectadores. (2006, citado por Figueira, 2008, p. 171) A análise das canções e/ou músicas tanto nos espetáculos quanto nos filmes tem sido, muitas vezes, negligenciada, o que ocasiona um grande prejuízo para a compreensão mais apurada da concepção estética e/ou ideológica que o diretor tentou imprimir na sua respectiva produção artística. No caso do Otelo do Folias, a inserção das duas canções, New York, New York (no prólogo) e The End (durante a encenação) acrescentam uma complexa relação intertextual e intermidial para o espetáculo. Entretanto, embora a música na prefiguração do Otelo de Orson Welles também seja reveladora, a sua função é diversa: neste caso, a música torna-se uma ilustração e criação da atmosfera que corresponde à ação dramática. A música de fundo repercute e reforça as imagens do filme. Para o acompanhamento do som uníssono de lamentação e o ritmo pesado da percussão, as tomadas da câmera aparecem na tela com uma desorientação deliberada inicial: o rosto de Otelo aparece invertido na tela quando ele está deitado na esquife, como se a intenção do cineasta fosse enfatizar o reverso desnatural da ordem moral da vida de Veneza. A câmera se aproxima do rosto (close-up) e então se afasta acima da face para revelar as mãos daqueles que estão carregando a esquife. O som inicial é interrompido por um estrondo ruidoso, urgente, vibrante do tambor e Iago, amarrado, é visualizado primeiro de um ângulo inferior e, em seguida, de um ângulo superior − enquanto ele é arrastado para uma pesada jaula de ferro. Logo a seguir, o compasso fúnebre continua acompanhando a procissão que caminha lentamente até desaparecer na escuridão absoluta. Percebe-se que o poder e os estilos antagônicos que Otelo e Iago representam são evidenciados desde a pré-figuração da produção fílmica de Welles: a procissão funerária de Otelo, ordenada, elegíaca, movendo-se da Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 295 direita para a esquerda, é acompanhada dos sons uníssonos enquanto que a aparição de Iago é marcada pela confusão e barulho provocados tanto pelo som estridente e abrupto como pelas pessoas furiosas empurrando-o para dentro da jaula. Otelo é caracterizado pela simplicidade, grandiosidade, hipérbole enquanto que o estilo de Iago infecta a imagem do filme com perspectivas perturbadoras, composições atormentadas e distorções grotescas. As tomadas em close-ups de Iago através da jaula e as tomadas vertiginosas na medida em que a jaula balança no alto prefiguram, por um lado, o motivo da prisão que é recorrente em todo o filme e, por outro, enfatizam a elevada perspectiva da visão de Iago do mundo que ele infectou com a sua manipulação calculada (KNIGHT, citado por DAVIES, 1994, p. 106). Entretanto, parece-me que, apesar de Iago tornar-se vítima de seu próprio estilo e de estar isolado contra as íngremes muralhas do forte, ele ainda preserva até o final, mesmo enjaulado, a visão superior sobre todos os que estão abaixo de seus olhos. É como se a direção do filme ainda continuasse a ser sua, tal como ocorre com o Iago na versão do Folias que, desde o prólogo, ao manter o seu passo zombeteiro e desprezível enquanto caminha entre os transeuntes ‘congelados’, anunciasse que essa peça será dele. Notas * Este texto é o resultado parcial da pesquisa que está sendo realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) durante o estágio Pós-Doutoral (03/2008-02/2009), sendo que a mesma está sendo financiada pelo CNPQ de setembro de 2008 a fevereiro de 2009. 1 JAUSS, Hans R. Literary History as a challenge to Literary Theory. In: Towards an Aesthetic of Reception. (Trad.) Timothy Bahti. Minneapolis: University of Minnesota University Press, 1982, p. 22. 2 Em 1623, sete anos após a morte de William Shakespeare, ao ser organizada e publicada a obra completa das peças do dramaturgo inglês, Ben Jonson (15721637) escreveu um poema laudatório em homenagem ao seu amigo, onde está inserido o verso “He was not of an age, but for all time!”, que pode ser traduzido da seguinte forma: “Ele não pertence ao nosso século, mas a todos os tempos!”. (Todas as traduções de citações retiradas de obras em língua inglesa foram realizadas pela autora do artigo.) 296 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 3 O “espetáculo teve mais de dez mil espectadores entre junho de 2003 e junho de 2004 (em 139 récitas). [...] Otelo, o espetáculo do grupo com maior impacto em termos de reconhecimento público e mediático, teve uma cobertura de imprensa entusiástica”. (FIGUEIRA, 2007, p.161) 4 André Antoine (1856-1943), ao refletir sobre a função de uma encenação moderna da obra clássica, defende “a rejeição da ortodoxia em matéria de encenação, o direito do encenador de sustentar um discurso diferente daquele da celebração da obra-prima. A direção não é mais (ou não é mais apenas) a arte de fazer com que um texto admirável (...) emita coloridos reflexos, como uma pedra preciosa; mas é arte de colocar esse texto numa determinada perspectiva; dizer a respeito dele algo que ele não diz, pelo menos explicitamente; de expô-lo não apenas à admiração, mas também à reflexão do espectador.” (1903, citado por ROUBINE, 1998, p. 41). 5 De acordo com Linda Hutcheon, o pós-modernismo, ao atacar a noção de que a obra de arte é um objeto fechado, auto-suficiente e autônomo que obtém a sua unidade a partir das inter-relações formais de suas partes, “devolve o texto ao ‘mundo’, [...] mas não se trata de um retorno ao mundo da ‘realidade ordinária’: [...] o ‘mundo’ em que esses textos se situam é o ‘mundo’ do discurso, o ‘mundo’ dos textos e dos intertextos.” (1991, p. 164-65, grifo do autor). 6 BRECHT, B. Journal de Travail. Paris: L’ Arche, 1976, p. 109. 7 Shakespeare, em sua comédia As you like it (Como gostais), escreveu os seguintes versos que foram comentados acima: “O mundo é um palco // E os homens e mulheres meros atores // Eles têm suas saídas e entradas // E cada homem em seu tempo // Desempenha muitos papéis // Seus atos correspondendo às sete idades.” (Ato II, cena vii) 8 Dr. Samuel Johnson (1996, p. 40) menciona que Shakespeare fala de reis, rainhas, mas ele pensa nos homens. 9 “Para Brecht, o distanciamento não é apenas um ato estético, mas, sim, político: o efeito de estranhamento não se prende a uma nova percepção ou a um efeito cômico, mas a uma desalienação ideológica. O distanciamento faz a obra de arte passar do plano do seu procedimento estético ao da responsabilidade ideológica da obra de arte. (PAVIS, 1999, p. 106) “O song é um recurso de distanciamento, um poema paródico e grotesco, de ritmo sincopado, cujo texto é mais falado ou salmodiado que cantado.” (1999, p. 367) 10 "Eu quero acordar na cidade, que nunca dorme // E descobrir que eu sou o rei da montanha – o maioral // ... // Eu farei um novo recomeço nela – na velha Nova Iorque // Se eu conseguir lá, eu conseguirei em qualquer lugar // Só depende de você, Nova Iorque, Nova Iorque // Eu quero acordar na cidade que nunca Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 297 dorme // E descobrir que sou o número um, no topo da lista // Rei da montanha, o número um //”. (Tradução retirada do site www.letras.mus.br, no dia 25/07/ 2008.) 11 A expressão ‘melting pot’ teve sua origem no período da colonização americana pelos ingleses no decorrer dos séculos XVII e XVIII. O termo tornou-se uma metáfora de um processo idealizado de imigração e colonização através do qual diferentes nacionalidades, culturas e raças seriam absorvidas dentro de um ‘grande caldeirão’, objetivando a construção de uma América que se tornaria uma nova terra prometida. 12 Orson Welles foi o primeiro cineasta a questionar as convenções relacionadas aos critérios de fidelidade de uma adaptação fílmica. A sua atitude radical em relação às adaptações do bardo contribuiu para pavimentar o caminho de outras adaptações mais recentes como Rei Lear (Jean-Luc Godart, 1987), Titus (Julie Taymor, 1999), e Hamlet (Michael Almereyda, 2000). A produção de Otelo, filmada por três anos, principalmente, em Marrocos e na Itália, é indicativa de uma concepção estética que irá caracterizar todo o trabalho de Welles fora do aparato dos estúdios americanos. Aqui está uma das facetas da genialidade de Welles: por um lado, ele produziu dois dos maiores filmes americanos, Citizen Kane (1941) e The Magnificent Ambersons (1942) com todo o estúdio de Hollywood aos seus pés e, por outro lado, ele produziu muitos dos melhores filmes do mundo, sem nenhum dinheiro. (ROTHWELL, 1999, p. 73-74) 13 ROJAS, Mário. Otelo em Portugal. (Trad.) Marília Carbonari. In: Gestos 42, novembro 2006. REFERÊNCIAS BORNHEIM, Gerd. Prefácio. In: HELIODORA, Bárbara. Falando de Shakespeare. São Paulo: Perspectiva; Rio de Janeiro: FUNARTE: Cultura Inglesa, 1997, p. ixxvii. BOYCE, Charles. Shakespeare A to Z: the essential reference to his plays, his poems, his life, and more. New York: Belta, 1991. BRECHT, Bertold. Estudos sobre teatro. (Trad.) Fiama Pais Brandão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978. ________. Teatro dialético: ensaios. (Seleção e introd.) Luiz C. Maciel. Rio de Janeiro: Civilização Brasiliense, 1967. 298 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 COSTA, Iná Camargo. O Otelo do Folias. In: MAIA, Reinaldo & RODRIGUEZ, Marco A. (ed.) Caderno do Folias (Especial). 5ª e 6ª ed., primeiro semestre – 2003. DAVIES, Anthony. Filming Shakespeare´s Plays. Cambridge University Press, 1994. DORT, Bernard. O teatro e sua realidade. (Trad.) Fernando Peixoto. São Paulo: Perspectiva, 1977. (Coleção Debates) FIGUEIRA, Jorge L. Verás que tudo é verdade: uma década de Folias (1997-2007). 1ª ed. São Paulo: Folias, 2008. HELIODORA, Barbara. Falando de Shakespeare. São Paulo: Perspectiva; Rio de Janeiro: FUNARTE: Cultura Inglesa, 1997. (Estudos: 155) HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. (Trad.) Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. JOHNSON, Samuel. Prefácio a Shakespeare. (Trad.) Enid B. Dobránszky. São Paulo: Iluminuras, 1996. LOURENÇO, Jorge L. Verás que tudo é verdade: uma década de Folias (1997-2007). São Paulo: Folias, 2007. MAIA, Reinaldo & RODRIGUES, Marco A. (ed.) Caderno do Folias (Especial). 5ª e 6ª ed., primeiro semestre – 2003. MAROWITZ, Charles. Recycling Shakespeare. London: Macmillan, 1991. MARSDEN, J. I. The Appropriation of Shakespeare: Post-Renaissance Reconstruction of the Works and the Myth. New York: Harvester, 1991. MIRANDA, Célia A. ‘Estou te escrevendo de um país distante’: uma re-criação cênica de Hamlet por Felipe Hirsch. (Tese de Doutorado defendida no Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2004.) O’SHEA, José Roberto. Impossibilidades e possibilidades: análise da performance dramática. IN: LOPES, L. P. da M.; DURÃO, F. A.; ROCHA, R. F.da. Performances: estudos de literatura em homenagem a Marlene Soares dos Santos. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2007. PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. (Trad.) J. Guinsburg e Mª Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 299 ROTHWELL, Kenneth S. A history of Shakespeare on screen: a century of film and television. Cambridge University Press, 1999. ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. (Trad.) Yan Michalski. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. SHAKESPEARE, William. As you like it. 8ª ed. (Ed.) Agnes Latham. London: Routledge, 1994. SHAKESPEARE, William. Otelo. (Trad.) Maria Silvia Betti. IN: MAIA, Reinaldo & RODRIGUES, Marco A. (ed.) Caderno do Folias (Especial). 5ª e 6ª ed., primeiro semestre – 2003, p.19-88. UBERSFELD, Anne. A representação dos clássicos: reescritura ou museu? (Trad.) Fátima Saadi. In: SAADI, F. (Ed.) Folhetim, nº 13, abr./jun. 2002, p. 08-37. WELLES, Orson. Othello. Castle-Hill Productions, 1992. 1 videocassete (89 minutos), digitally souced, Hifi stereo, UHS, UPRC). Artigo recebido em 30.05.2008. Artigo aceito em 21.09.2008. Célia Arns de Miranda Pós-doutoranda na UFSC; bolsista pelo CNPQ de setembro de 2008 a fevereiro de 2009. Doutora em Literaturas Inglesa e Norte-Americana pela USP. Professora Associada da Universidade Federal do Paraná. Professora do Curso de Pós-graduação de Estudos Literários (UFPR). Membro do Centro de Estudos Shakespearianos (CESh). 300 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 UM AUTOR EM BUSCA DE SI MESMO, EM BUSCA DO SEU PAÍS: RASTO ATRÁS, DE JORGE ANDRADE Lílian Fleury Dória [email protected] RESUMO: Esse ensaio analisa a peça Rasto atrás do dramaturgo Jorge Andrade e reflete sobre a busca da memória como material da sua escrita. As relações entre forma e estrutura cênica são investigadas, discutindo a estética expressionista, a multiplicidade de espaços, a simultaneidade dos tempos, a metalinguagem e, em alguns momentos, a anulação do tempo. Texto autoreflexivo e profundamente emblemático da obra de Jorge Andrade se constitui na investida mais funda do autor em busca de si mesmo, do seu povo, da sua sociedade. ABSTRACT: This essay analyzes Jorge Andrade’s play Rasto atrás and reflects upon memorial reconstr uction as material for his writing. The relationship between form and scenic structure is investigated, and the expressionistic aesthetics, multiple spaces, temporal simultaneity, metalanguage and, eventually, time cancellation are discussed. Self-reflexive and emblematic of Jorge Andrade’s work, the text represents the author’s most radical identity search, looking for himself, his people and his society. PALAVRAS-CHAVE: Dramaturgia. Teatro brasileiro. Memória. Identidade. Subjetividade. KEY WORDS: Dramaturgy. Brazilian theatre. Memory. Identity. Subjectivity. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 301 No drama moderno brasileiro, encontramos uma vertente que se desenvolve no período de 1943 a 1980 e que se apóia na tríade: memória, tempo e linguagem. Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), Naum Alves de Souza e Flávio Márcio são alguns dos expoentes dessa vertente. São autores que criam uma dramaturgia que tenta retratar a decadência familiar e, portanto, social, transitando pela memória. Jorge Andrade, autor de estatura poderosa, elabora uma obra cíclica que é ímpar na dramaturgia brasileira. A publicação de dez peças − entre as quais Rasto atrás − no livro Marta, A árvore e O relógio demonstram um vigor e um trabalho acurado de composição dramatúrgica. No seu conjunto, esta obra é única na literatura teatral brasileira. Acrescenta à visão épica da saga nordestina a voz mais dramática do mundo bandeirante. É única, esta obra, pela grandeza da concepção e pela unidade e coerência com que as peças se subordinam ao propósito central, mantido durante longos anos com perseverança apaixonada, de devassar e escavar as próprias origens e as da sua gente, de procurar a própria verdade individual através do conhecimento do grupo social de que faz parte. (...) Todo o ciclo é, de fato, a incessante procura de quem, na medida em que encontra, mormente na medida em que se encontra a si mesmo, se torna “filho perdido”, filho pródigo que não volta. Não é mero acaso que as últimas palavras da última peça do ciclo se refiram a esta busca: “Procurar... procurar... procurar... que mais poderia ter feito...? (ROSENFELD, in ANDRADE, 1970, p. 599) De 1943 − quando foi escrito Vestido de noiva de Nelson Rodrigues − a 1966 − ano de criação de Rasto atrás de Jorge Andrade − o drama moderno brasileiro caminhou pelas peças de Nelson Rodrigues − que foram surpreendendo a platéia a cada estréia, encontrou forças na brasilidade de Guarnieri, em Eles não usam black-tie e em Dias Gomes com O pagador de promessas − e encontrou um novo caminho com o sucesso de Jorge Andrade em A moratória (1955) − sua segunda peça, antes havia escrito O telescópio. Jorge Andrade inicia assim uma obra que, como afirma Antônio Cândido, “refaz, no teatro, um caminho percorrido em parte pelo romance brasileiro de nosso tempo, na medida em que se volta para a decadência dos 302 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 valores patriarcais, que assinala a formação do Brasil atual” (CÂNDIDO, in ANDRADE, 1970, p. 630). Rasto atrás é um texto onde a fragmentação do tempo é essencial e onde o contato com o resgate da memória faz parte intrínseca dos personagens e da própria trama. Texto auto-reflexivo e profundamente emblemático da obra de Jorge Andrade se constitui na investida mais funda do autor em busca de si mesmo, do seu povo, da sua sociedade. Rasto atrás obteve em 1966 o 1o prêmio no Concurso do Serviço Nacional de Teatro e foi encenada no Rio de Janeiro por ocasião da premiação. Se toda a obra de Jorge Andrade tem como eixo a questão da memória e como cada personagem se relaciona com ela, Rasto atrás é singular nesse aspecto. Toda a sua estrutura dramatúrgica se dá no embate entre tempo, memória e linguagem. Para refletirmos sobre a memória buscamos apoio nos estudos de Henri Bergson e nas análises desse filósofo feitas por Ecléa BOSI (1987, p. 9). Ao pensarmos nas lembranças como sombras junto ao nosso corpo, podemos entender porque para Bergson a memória seria o lado subjetivo de nosso conhecimento das coisas. E será a memória que permitirá a relação do corpo presente com o passado, misturando-se com as percepções imediatas e muitas vezes ocupando o espaço todo da consciência. Bergson afirma que é do presente que parte o chamado ao qual a lembrança responde, pois as imagens passadas só se conservam para se tornarem úteis. E, como afirma Ecléa BOSI (1987, p. 14), “Bergson quer mostrar que o passado se conserva inteiro e independente no espírito; e que o seu modo próprio de existência é um modo inconsciente”. Bergson vai nos apontar a força poderosa da memória e do inconsciente. Desse modo a recordação seria uma organização móvel e o papel da consciência seria o da escolha. A memória, “faculdade épica por excelência” (BOSI, 1987, p. 48), é arma do homem para vencer a morte e perpetuar-se. O teatro, espaço sagrado do recordar, do re-contar, do reapresentar, do re-criar, é também arte desse homem para reflexão de sua cultura e de sua interioridade, espaço livre para a consciência aflorar suas sombras e expor as tensões entre memória, tempo e linguagem. Quanto ao tempo, podemos partir da afirmação de Martin HEIDEGGER (1973, p. 463): Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 303 O tempo não é. Dá-se o tempo. O dar que dá tempo determina-se a partir da proximidade que recusa e retém. Ela garante o aberto do espaço − de − tempo e preserva o que, no passado, permanece recusado e, no futuro, retido. Ao aceitarmos o pressuposto de Heidegger de que o tempo não é, mas dá-se, podemos partir para a percepção de que o tempo no teatro é o tempo cênico, o tempo coerente com a concepção de cada texto e esse é um dos alicerces do teatro moderno que quebra com a lei das três unidades, regras que determinaram a estrutura dramática das peças no Classicismo Francês e foram respeitadas durante anos até que o teatro romântico as transformasse. Regras que já haviam sido quebradas pela genialidade de Shakespeare ao utilizar um tratamento livre de espaço e tempo dentro da organicidade de sua obra. “O tempo e o espaço cênicos nada têm a ver com o tempo e o espaço empíricos da platéia” (ROSENFELD, 1965, p. 56). O tempo agora é o tempo cênico que se permite tratamentos simultâneos, dependendo da determinação do sujeito da história ou, mais acentuadamente, o teatro começa a se inclinar para o cinema − arte do século XX − com a sua revolucionária concepção do olhar como determinador da seqüência. E da possibilidade de se compor uma história a partir de vários olhares com diferentes ângulos. O tempo então se dá enquanto tempo cênico, efetiva-se como tal. Retornando ao autor que analisamos nesse estudo, percebemos que o tempo é utilizado de forma não-linear e com um específico tratamento cênico, além da necessidade de fragmentá-lo. Essa fragmentação parece atender à intenção de traçar o retrato da sociedade em que vivemos, quase que um buscar de raízes, uma composição do país e da sociedade brasileira. Escrita em três planos que se entremeiam, a peça Rasto atrás nos mostra o cotidiano de um dramaturgo contemporâneo e suas angústias ao lidar com matéria tão fluida como a literatura e tão distanciada de uma nação semi-analfabeta como a nossa. No segundo plano, esse escritor vai ao encontro do passado e traz ao palco retalhos de suas memórias de infância e adolescência. No terceiro plano encontra-se o pai: personagem inserido num tempo mítico, auto-exilado na mata e inatingível para o menino Vicente. 304 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 O texto só pode ser visto sob uma perspectiva expressionista, com traços épicos. O autor faz essa opção claramente, desde a primeira cena no cinema onde necessita de uma grande tela até os painéis coletivos que vão se sucedendo ao longo da peça. Numa montagem com recursos limitados (de cenários e número de atores), todo o início da peça que se baseia num painel social ficaria terrivelmente comprometido. O uso de recursos cinematográficos no contexto cênico tem, sem dúvida, função epicizante, já que acrescenta o amplo pano de fundo documentário que costuma faltar ao teatro. Ademais, acrescenta o horizonte de um narrador, o que relativiza a ação cênica. (ROSENFELD, 1973, p. 117) O autor tem necessidade de situar o personagem Vicente dentro de grupos de pessoas: no cinema, na estação, no trem, na cidade pequena, na família; para nos dar exatamente a dimensão do macrocosmo e do microcosmo e de sua relação dialética. Esse homem, parece nos dizer o autor, é um homem qualquer numa cidade qualquer desse país. Vicente é um artista, um dramaturgo, mas é um homem tão comum como qualquer um de nós. E, por isso mesmo, é tão emblemático dentro da peça e dentro da obra de Jorge Andrade. O personagem Vicente aparece também na peça A escada e é citado em O telescópio. Mas ele volta com toda a sua força dramática em O sumidouro, peça que trabalha as relações angustiadas entre criador e criatura, autor e personagem. O Vicente de O sumidouro é o mesmo Vicente de Rasto atrás, após voltar da viagem a Jaborandi. E é esse Vicente em O sumidouro que nos diz: “Não sou (...) um homem sem rosto, com o rosto de cada um? Não vivo dividido em mil pedaços?” (ANDRADE, 1970, p. 586). Temos um autor que se auto-examina e que reflete sobre a arte teatral, essa arte que tem um caráter desvelador e libertador. O autor − assim como o ator − terá mil rostos e nenhum, dividido em mil pedaços, capaz de sentir e expressar até mesmo aquilo que mais lhe repugna, chegar próximo do que é mais distante. E não seria essa a função da arte: propor e desvelar enigmas, trabalhar com o que é distante e com o que é próximo, expor o que é diverso e o que é complexo? Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 305 É essa procura que nos apaixonará em Rasto atrás. Um texto que compreende em si outros textos. Um jogo intertextual do autor com seus outros textos e do autor consigo mesmo. Ficamos tentados a perceber Vicente como alter-ego de Jorge Andrade, mas esse é apenas o primeiro dos muitos lances do labirinto que é essa peça. Labirinto que se arma e desarma, expondo muitos planos de leitura, de reflexão e de cenografia. “Vicente, embora representando o próprio Jorge Andrade, não deve ser concebido como a sua transcrição biográfica literal”, nos adverte ROSENFELD (in ANDRADE, 1970, p. 613). Vicente, dramaturgo, aos 43 anos resolve voltar à sua cidade de origem e, a partir de uma estrutura cênica que anula o tempo, personagens psicologicamente complexos vão surgindo ao redor de não mais um só Vicente, mas de quatro: o autor na maturidade, o menino de cinco anos, o adolescente de quinze anos e o jovem de vinte e três anos. Rasto atrás, uma das peças mais complexas e ricas do ciclo (...). A viagem ao interior, descida ao passado, é para Vicente de fato uma viagem ao “interior”, à sua própria intimidade profunda. (ROSENFELD, in ANDRADE, 1970, p. 605) Então, o que em Vestido de noiva de Nelson Rodrigues apenas se pressentia como uma investigação psicanalítica expressa no palco, já agora se faz de fato. Rasto atrás é, explicitamente, a caçada consciente de si mesmo, uma busca profunda de suas raízes, como o próprio personagem Vicente explica ao definir o título e a expressão Rasto atrás (RA): Papai dizia que certas caças correm rasto atrás, confundindo suas pegadas, mudando de direção diversas vezes, até que o caçador fica completamente perdido, sem saber o rumo que elas tomaram. E muitas vezes, são tão espertas que ficam escondidas bem perto da gente em lugares tão evidentes que não nos lembramos de procurar. (RA, p. 461) Caça e caçador, autor e palavras, personagem e memória, indivíduo e sociedade, esses são alguns dos materiais que Jorge Andrade está trabalhando em Rasto atrás. Caça que se esconde e deixa pegadas, formando um labirinto de lembranças entremeadas com as palavras soltas no ar. 306 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Assim é o movimento ardiloso das lembranças e também do que significam; é o movimento das palavras, a esquivança da forma. Nesta obra extremamente bem organizada, a organização não sufocou a pulsação da vida e nada é gratuito. Não apenas estão presentes, nela, o escritor, suas evocações e seus conflitos; o próprio fenômeno da criação literária, caçada interminável, está em cena, inserido na sua construção. (LINS, in ANDRADE, 1970, p. 654) A organização a que se refere Osman Lins na citação acima é na verdade a organicidade do texto de Jorge Andrade. Organicidade que compreende uma trama de fios que se entrecruzam simultaneamente. Não é só o tempo que o autor manipula, mas também os vários níveis de leitura e reflexão temática. Temos um autor em conflito consigo mesmo e com seu passado, com seu pai. Temos um homem em conflito com uma sociedade subdesenvolvida e distante dos progressos culturais. Temos um autor enfrentando o jogo ardiloso das palavras e da memória. E, por fim, temos a luta da arte por se fazer. A angústia da criação, pois ao se dispor a criar, o artista está permitindo que em si mesmo nasça o processo transformador e gerador de novas vidas, novos rostos, novas perspectivas. A organicidade desse texto pode nos levar a pensar no desenho de um labirinto. Como no romance de Jorge Andrade que leva o título de Labirinto (1978), em Rasto atrás, nos movemos para frente e para trás, “passado e presente se misturam na busca da saída do labirinto, no esforço de Teseu para vencer seu minotauro particular e aprender a conviver com seus fantasmas” (DRUMMOND, in ANDRADE, 1970). Se, em Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, o processo psicanalítico de mergulho no inconsciente surgia por um acidente, em Rasto atrás, é Vicente que quer mergulhar no passado, que busca essa volta: VICENTE: Preciso encontrar meu pai. Ele está perdido no meio da mata, no norte de Mato Grosso. Há quase vinte anos. É necessário que eu compreenda de uma vez por todas o que se passou entre nós. (RA, p. 460) Esse pai tão distante, perdido na mata há vinte anos, se situa no plano mítico. Um homem que escolhe a permanência na mata, a fuga ao progresso, a vida num tempo circular, que não se altera (ELÍADE, Mircea, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 307 s.d.). Essa distância entre pai e filho quase impossível de ser vencida, nos lembra o conto de Guimarães ROSA (1988), A terceira margem do rio, onde o pai faz uma opção pelo auto-isolamento dentro de uma canoa no rio e lá permanece anos a fio, até que o filho, que não o compreendia, um dia o substitui. João José, o pai de Vicente não o compreende o filho, e Vicente não consegue compreender o pai. Essa incomunicabilidade perpassa toda a peça e é um dos móveis de grande conflito que sustenta a dramaticidade do texto. VICENTE (5 anos): Papai! Por que a lua está quebrada? JOÃO JOSÉ (muda o tom): Não estou vendo lua nenhuma no céu, Vicente. (...) VICENTE (um pouco aflito): Por que a lua fica quebrada? Quem sabe? Ninguém sabe? JOÃO JOSÉ: Vicente! VICENTE: Senhor! JOÃO JOSÉ: Você já sabe laçar? VICENTE: Não. JOÃO JOSÉ: Laçar é mais importante do que saber porque a lua fica quebrada. VICENTE: Por quê? JOÃO JOSÉ: Porque é. Quer aprender? VICENTE (afastando-se, até desaparecer): Se o senhor me explicar porque a lua fica quebrada, aprendo a laçar também. (Sai). (RA, p. 463-464) Línguas diferentes em mentes que não querem se comunicar. Este o retrato dos diálogos de Vicente e João José que retornam ao palco pela recordação de um ou outro. Mas o que movimenta tamanha incompreensão? Essa é a pergunta que se faz Vicente e ela não pode ser respondida apenas pelo conflito de gerações, nos adverte o autor, mas trata-se de procurar, procurar, procurar. Escavar, escavar, escavar. E o inconsciente que brota qual água de mina escondida na rocha é a matéria que escorre para o público, ora cristalina, ora turva. Os processos do sistema inconscientes (lcs), são intemporais; isto é, não são ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo; não têm absolutamente qualquer referência ao tempo. A referência ao 308 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 tempo vincula-se, mais uma vez, ao trabalho do sistema consciente (Cs). (FREUD, 1974, p. 214) O que nos assinala Freud e que é sempre bom lembrar, é que a intemporalidade e a desordenação temporal fazem parte intrínseca do processo inconsciente. Jorge Andrade sabe disto e faz uma opção clara por uma emergência do inconsciente em Rasto atrás. O tempo está esfacelado e o personagem Vicente, qual um indivíduo que se submete à psicanálise e a partir de então passa a lidar com a emergência e o fluxo desordenado das imagens inconscientes e do esgarçar da memória − está exposto no palco, expondo para o público a sua escolha por um resgate da memória consciente e inconsciente. Então, o que percebemos em Rasto atrás, é que enquanto forma e estrutura cênica, o texto pede não só uma estética expressionista, como também a liberdade de trabalhar com a multiplicidade de espaços, a simultaneidade dos tempos e, em alguns momentos, a anulação do tempo. A tendência a fragmentar a realidade e recompô-la em nova disposição cênica atinge o ponto máximo, dentro do ciclo, em Rasto atrás, que não só estilhaça o espaço e o tempo como rompe a unidade do protagonista, fazendo-o ser interpretado por quatro atores, correspondente a quatro idades e quatro situações cruciais de sua vida. A solidez do realismo autêntico − o antigo, naturalmente − perde assim a sua consistência, ao privar-se, além da personagem una e coesa, da estabilidade espacial e da ordenação cronológica. O espetáculo, por sua vez, recorre agora a cenários tendentes ao abstrato, muitos deles com acentuado predomínio dos sentimentos subjetivos. Ao produto resultante dessa fusão de tendências chamamos de realismo poético − a realidade psicológica e social, ainda existente, refratada por processos que visavam a lhe dar maior alcance e originalidade artística. (PRADO, 1988, p. 95-96) Este realismo poético de que nos fala Décio de Almeida Prado é entremeado com uma grande carga expressionista e, muitas vezes, traços de um teatro épico. Expressionista porque nesse texto, a subjetivação atinge um alto grau, e a própria subjetividade constitui-se em mundo (ROSENFELD, in ANDRADE, 1970): Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 309 A justaposição simultânea de (...) planos temporais é, evidentemente, um recurso épico. Só um narrador, no caso encoberto, pode manipular dois níveis de tempo, fazendo com que as personagens vivam simultaneamente em ambos. Na dramaturgia tradicional, em que não há essa possibilidade, as personagens avançam irremediavelmente para o futuro, como na realidade, inseridas no decurso linear do tempo, podendo apenas evocar o passado pelo diálogo, nunca cenicamente. (1970, p. 614) A presença do autor como um narrador onisciente, mas que ao mesmo tempo tem no palco uma projeção fictícia que é Vicente, dramaturgo, é algo extraordinário, porque está trabalhando com um recurso épico de distanciamento e ao mesmo tempo o autor-personagem está no palco se auto-imolando, gerando perplexidade e angústia, o que reforça a denominação da peça de realismo poético, dada por Décio de Almeida Prado. A peça tem uma cena capital, onde o pai se debate com os quatro Vicentes e o público tem nessa cena um tecido complexo e entremeado de lembranças conscientes e inconscientes dos Vicentes (em seus diferentes momentos de vida) e do pai. A cena, que começa na página 516, inicia com o pai falando das caças que correm rasto atrás e que nem estas puderam com ele: VICENTE (43 anos): Nós nos procuramos tanto, papai, e estávamos tão perto... perdidos no mesmo mundo! (...) Cada um levanta a caça que quer, mas deve voltar com ela bem firme nas mãos. A partir daí, assistiremos a um tour de force onde pai e filho se digladiam em vários momentos da vida. Sempre impenetráveis em suas caçadas obstinadas. O pai, com suas caçadas de animais. O filho, caçando as palavras, as imagens e a si próprio. JOÃO JOSÉ: Vicente! Onde está você, meu filho? Vicente! (...) P’ra que se esconder meu filho? VICENTE (5 anos): Não estava escondido, papai. JOÃO JOSÉ (sorri): Amoitado pior do que catingueiro! VICENTE: É a minha gruta, papai. JOÃO JOSÉ: Gruta? 310 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 VICENTE: Onde guardo minhas coisas. Como se fosse um segredo. JOÃO JOSÉ: Também podemos chamar de amoitador, filho. VICENTE: Que é isto? JOÃO JOSÉ: Lugar onde as caças amoitam. (RA, p. 516) Neste trecho fica bem clara a distância de zonas de pensamento de um personagem e outro, expressa na linguagem. Enquanto que para Vicente gruta é um lugar afetivo onde se guardam segredos, tesouros infantis; para João José, isto é o estranho, o desconhecido que ele percebe no filho e está relacionado com o ato malicioso de amoitar. Essa desconfiança do pai pelo filho vai num crescendo ao longo da peça e transborda numa desconfiança sexual, um temor pela homossexualidade. Mas o texto oferece uma pista para o início desse ódio desmedido do pai pelo filho: é esse filho que lhe roubara a mulher, pois se supõe que ela morrera no momento do parto. VICENTE: Tem gente que não sabe o que é. JOÃO JOSÉ: Você não sabe quem é?! VICENTE (15 anos): Não. Acho que não. JOÃO JOSÉ: Você é um homem. É o meu filho! VICENTE: Não se trata disto! (RA, p. 517) O espanto do pai diante do desconhecimento de Vicente de si próprio é um traço agudo que conduzirá o conflito por toda a peça. João José, como dizíamos anteriormente, vive num tempo circular, imutável. E nesse seu mundo − que se situa no plano da mata − não há lugar para dúvidas e fragilidades. JOÃO JOSÉ: Você vive com o pensamento no mundo da lua! VICENTE: P’ra dar certo, era preciso ter o pensamento no mundo dos bichos? JOÃO JOSÉ (Explode): No mundo dos homens, mesmo... seu burro! VICENTE: Nós vamos devagar, papai! Não temos pressa. Mas, nós chegamos lá. Usando um palavreado seu: nós vamos desamoitar esta caça. E então... soltaremos toda a cachorrada... e no entardecer, quando não nos restar senão a noite, voltaremos com ela, já de olhos vidrados, pendente da garupa suada do nosso ódio. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 311 JOÃO JOSÉ (Confuso): De que é que está falando?! VICENTE: De caças amoitadas, nada mais. Amoitadas dentro de nós, nas moitas dos olhares, dos gestos e dos silêncios. Caças ferozes que não atacam, mas cercam e isolam... até que suas presas morram de incompreensão e solidão! JOÃO JOSÉ: Com você não adianta conversar. Não entendo você. (RA, p. 518-519) Neste clímax da cena, percebemos Vicente fazendo uso da linguagem imutável do pai e subvertendo-a, redescobrindo-a para si mesmo e para o pai que, no entanto, não consegue entendê-lo. Percebemos então a linguagem como incompletude e, como afirmava Lacan, “a situação do sujeito (...) é essencialmente caracterizada pelo seu lugar no mundo simbólico, ou, em outros termos, no mundo da palavra” (LACAN, 1979, p. 97). A cena se estende por mais alguns momentos, com alta tensão entre os personagens até terminar numa bofetada. Vicente ora com 5 ou 23, 15 ou 43 anos, vem de todos os pontos caçando esse pai que não se entrega no afeto, carregado de rancor e desconfiança. O tempo é anulado na cena capital da peça e não há qualquer linearidade, a não ser o desenrolar de um processo emocional que se enrodilha em si mesmo, qual novelo de fio. Para Vicente, o fio é o fio da memória. Escorregadia e invasora, a memória ressurge de forma labiríntica e exige de quem a quer possuir uma entrega total. E é Vicente, aos 43 anos, que a deseja e se entrega a esse desvendamento tão doloroso de vasculhar a si mesmo e a seus fantasmas, caças amoitadas maliciosas, que correm rasto atrás. A memória é a faculdade épica por excelência. Não se pode perder, no deserto dos tempos, uma só gota da água irisada que, nômades, passamos do côncavo de uma para outra mão. A história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. (BOSI, 1987, p. 48) E Vicente parece saber disso, pois a sua volta ao passado não se constitui, em momento algum, num desejo de vingança do ódio do pai, mas sim uma busca de compreensão da sua gente e da nossa sociedade. Uma sociedade que viveu agudamente as tensões entre a decadência da oligarquia 312 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 rural e o surgimento de uma sociedade urbana onde muitas histórias se parecem e guardam semelhanças com a história de Vicente, que também guarda proximidade com as lembranças do autor Jorge Andrade. O dramaturgo Vicente busca a si e aos outros, àquilo que lhe dá forma, pois ao lidar com o teatro, ele sabe que é arte que se constitui de matérias tão entremeadas como o recordar, o reviver e o reapresentar. Esse homem, que se sabe com mil rostos, pois se dispôs à árdua tarefa de bordar tecidos e cores diferentes para diferentes personagens precisa do seu passado. Por mais que o autor Jorge Andrade se exponha no romance autobiográfico Labirinto, onde encontramos seguidamente frases e diálogos que estão em Rasto atrás e que na verdade foram vividos por Jorge Andrade, não nos interessa o autor empírico (ECO, 1994) real, mas sim o autor Vicente, pois é com ele que dialogamos. O reencontro entre pai e filho finaliza a peça quando o pai ao ver o filho Vicente, acredita que agora pode compreendê-lo, “já na hora do pega”: JOÃO JOSÉ: − Eu vim p’ra morrer, meu filho. Agora, eu posso! (RA, p. 525) “Perpassado pela dor, o texto impõe-se por sua dramaticidade e capacidade de utilização de recursos expressionistas e épicos” (ROSENFELD, in ANDRADE, 1970, p. 615). Além do esfacelamento e, por vezes, da anulação do tempo que propõe um espaço simultâneo não-linear, Jorge Andrade faz um trabalho cuidadoso de recuperação da linguagem. É na linguagem que desenha as características sociais de grupamentos diferentes: São Paulo, 1960; cidade interiorana, 1920; e homens vivendo na mata, num lugar primitivo, sem tempo. Jorge Andrade traça um painel do Brasil rural e do surgimento do progresso. Presente e passado se interpenetram, expondo temas sociais decorrentes destas mudanças. A questão da sexualidade surge em momentos diferentes da peça, através da avó Mariana afoita para as filhas casarem, mas ao mesmo tempo impedindo-as de viverem suas próprias vidas, indicando a raiz do estigma das solteironas no interior do Brasil. O pai, com sua desconfiança cerrada sobre Vicente, demonstrando os valores fechados em Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 313 si mesmos de uma cultura machista e patriarcal. O espectro do homem machão, durão, que deveria exercer seu poder de comando e sua sexualidade a qualquer preço é negado por Vicente. Essa negação anuncia um novo tempo, urbano, não-alicerçado no coronelismo vigente no interior do Brasil antes de 1930. Outros escritores, entre nós, têm posto seu passado em termos de literatura. Creio, porém, ser a primeira vez, nas letras brasileiras, que um escritor enfrenta o problema da sua própria situação em uma cultura adversa ao seu trabalho. Jorge Andrade, com extrema coragem e grande vigor literário, empreende essa tarefa. Não escreveu, insistamos, o drama de um jovem que sofre por não alcançar com seu pai um determinado nível de compreensão; mas o do escritor − no caso um dramaturgo, o que se torna ainda mais terrível, dada a impiedosa estrutura de nossos meios teatrais − que não atinge aquele nível nas relações com o povo a que ama e ao qual desesperadamente se dirige. Neste sentido, Rasto atrás, além de suas indiscutíveis virtudes cênicas (...) é um dos mais contundentes documentos de nossa literatura. (LINS, in ANDRADE, 1970, p. 656) Isso nos leva a uma reflexão sobre as relações entre dramaturgia e história. Para Anne UBERSFELD (2005, p. 94) “o espaço teatral é o lugar da história” e essa afirmação reforça o pensamento de que nessa vertente da dramaturgia brasileira há uma necessidade de entender a sociedade do nosso país e, ao compreendê-la, construí-la. Cada peça de teatro é um recorte de um momento sócio-político e revela costumes, comportamentos e estruturações dessa sociedade. No teatro, o que sempre se reproduz são as estruturas espaciais, que definem não tanto um mundo concreto, mas a imagem que os homens têm das relações espaciais na sociedade em que vivem, e dos conflitos que sustentam essas relações. (UBERSFELD, 2005, p. 94) Rasto atrás é uma peça que prima por uma relevância do subjetivismo, o que a aproxima da estética expressionista. E o palco para expressar este drama subjetivo, torna-se então espaço interno, espaço onde o psiquismo aflora e cria outras possibilidades simbólicas para a encenação. Na relação 314 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 entre espaço e psiquismo, a cena assemelha-se a um campo fechado, num grande embate do eu e suas divisões, pois “o espaço cênico pode também se apresentar como um vasto campo psíquico em que forças se enfrentam – as forças psíquicas do Eu” (UBERSFELD, 2005, p. 94). Em Rasto atrás a casa está ali, fortemente arraigada na memória, mas ela parece disputar a centralização com o espaço público, coletivo. A relação entre indivíduo e sociedade é a primeira contradição que nos é apontada por esse texto. Mas a multiplicidade e a fragmentação do espaço mental do personagem Vicente é o enfoque principal da peça. Algumas oposições bem urdidas pelo autor: a casa como tempo estagnado em contraposição às transformações dinâmicas da sociedade – o cinema (a imagem e a ficção) e o trem (a velocidade e o real). O espaço circular e imutável da mata onde está o pai em oposição ao movimento do filho em busca de si mesmo. Movimento incessante e desordenado, atemporal, cronológico, tecendo metaforicamente um outro espaço, que é a questão crucial do texto: a metalinguagem expressa no espaço da escrita. A memória é a guia mestra dessa história, e vai tornar real que o espaço é um decurso de tempo. Em Rasto atrás, há uma ligação intrínseca, quase que metafísica, dos objetos com o pensamento expresso na peça. Alguns objetos são fundamentais: o relógio (constante em grande parte da obra de Jorge Andrade) que denuncia o passar do tempo; a flauta, que fala do fazer e do prazer artístico e que nesta peça é colocada como objeto repudiado pela avó (“mulher de pés no chão”) e amado pelo avô (“homem sonhador”); a cama da avó (símbolo do seu poder, do poder do matriarcado, da casa como território dominado pelas mulheres); as perneiras do pai (símbolo do autoritarismo do pai caçador, mandante, dominador da vida animal); e os livros, a paixão de Vicente pela magia das palavras que o atariam à vida. O autor dá uma dimensão poética aos objetos, tornando-os sujeitos também da história, como vemos na fala abaixo: VICENTE: Em nossa casa, na fazenda, havia um relógio em frente à janela da sala. (...) Gostava de ver no vidro dele, refletidos, galhos de árvores do pomar, cachorros e galinhas que passavam, gente. Era como Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 315 se fosse uma bola de cristal onde eu pudesse ver tudo. Um espelho que era só meu, que refletia o que eu desejasse. (RA, p. 508) Esse adentramento na intimidade dos personagens se efetiva com a poetização e a relevância dos objetos da casa. No diálogo entre tias e Vicente, quando uma louça é quebrada, em meio à festa da chegada de Vicente, evidenciamse as colocações acima: ETELVINA: Vamos deixar de mentir, Jesuína! Não suporto mais isto. VICENTE: Não suporta o quê, tia? ETELVINA: A travessa não era nossa. Já vendemos toda a louça. VICENTE: Pediram emprestado? Eu pago. ETELVINA: Não. Serão entregues depois que morrer a última de nós. JESUÍNA: Ora, Etelvina! ETELVINA: Nada mais nos pertence: nem casa, nem louças, nem cristais. Só restou o relógio... porque é seu. Pode levar também. VICENTE: (horrorizado) Mas... isto é um saque contra a morte! ETELVINA: E contra o que deveríamos sacar? (RA, p. 490-491) A poeticidade de Rasto atrás está acentuada na relação íntima dos personagens com os objetos – signos do tempo, da memória, como nos afirma a Tia Isolina no trecho abaixo: ISOLINA: – A morte não apaga essas coisas. (...) Suas marcas ficam em nós para toda a vida. Penso que nada morre, Pacheco. Tudo permanece fechado entre as paredes, nas gavetas, agarrado aos objetos. (RA, p. 466467) Ao resgatar a obra de Jorge Andrade, através da análise da sua peça Rasto atrás, o impulso analítico foi de contribuir para o pensamento crítico sobre a dramaturgia brasileira e seus possíveis caminhos. Uma peça de teatro é um organismo onde todas as partes são determinadas pela idéia do todo, já nos ensinava Aristóteles. E este todo se constrói na interação dinâmica das partes. Na busca do que integra a unidade central dessa peça, destaca-se que a memória individual interage com a memória social. 316 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Na mitologia grega, a memória, Memosine é mãe de Clio, musa da história e irmã de Cronos (tempo). Tempo, memória e história são anteriores ao reinado de Zeus e, portanto, arcaicos. Essa digressão mitológica nos faz entrever ligações mito-poéticas nas peças que trabalham com a memória como fio condutor e alicerce emocional de construção dos personagens. E essas peças constituem um caminho que se inicia com Vestido de noiva de Nelson Rodrigues, acentua-se na obra de Jorge Andrade e irá encontrar ressonâncias em Naum Alves de Souza, Flávio Márcio e Oduvaldo Vianna Filho em Rasga coração no período de criação dramatúrgica que se estende de 1943 a 1980. Após a ditadura militar, a produção dramatúrgica no Brasil encontrou outros caminhos em múltiplas facetas. O caráter de modernidade presente nos textos de Jorge Andrade e dos outros autores que citamos anteriormente se dá pela relação que esses autores estabelecem com a memória, o tempo e a linguagem. A arte moderna volta-se sobre si mesma e reconhece como relativos o mundo empírico dos sentidos, abrindo um espaço de interioridade e de correlações simbólicas. O teatro moderno percebe espaço e tempo não mais como unidades fixas e normativas, mas, como pensava Kant, formas subjetivas da nossa consciência e que projetam a realidade sensível dos fenômenos. E é pela memória que se tece uma linhagem do drama moderno brasileiro. Memória que não está atada a um desenvolvimento cronológico, mas transita por territórios vários, espacializando a linguagem, fragmentando o tempo e trabalhando intimamente com as características essenciais ao fazer teatral. As relações da arte com a história “são duplas, porque por um lado, dizem respeito à sua emergência da história e, por outro, à sua presença nela; de uma parte, à sua intemporalidade e, de outra, à sua temporalidade” (PAREYSON, 1984, p. 104). Ao analisarmos a gênese de uma obra, percebemos no interior desta as conexões com a situação histórica, com as condições desta sociedade, com as características do povo e de sua linguagem. E essa aliança entre memória, espaço e consciência faz com que possamos perceber um todo orgânico na relação entre indivíduo e sociedade. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 317 REFERÊNCIAS ANDRADE, Jorge. Labirinto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. ________. Marta, A árvore e o relógio. São Paulo: Perspectiva, 1970. BERGSON, Henri. Matéria e memória. Trad. Paulo Neves da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1990. BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 2. ed., São Paulo: T. A. Queiroz: Editora da USP, 1987. CÂNDIDO, Antônio. Vereda da salvação. In: ANDRADE, Jorge. Marta, A Árvore e O Relógio. São Paulo: Perspectiva, 1970. ELÍADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Trad. Rogério Fernandes. Lisboa: Editora Livro do Brasil, s.d. FREUD, Sigmund. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XIV. Trad. Themira de Oliveira Brito, Paulo Henriques Britto e Christiano Monteiro Oiticica. Rio de Janeiro: Imago, 1974. HEIDEGGER, Martin. Conferências e escritos filosóficos. Trad. Ernildo Stein. Coleção Os Pensadores. Vol. 45. São Paulo: Abril Cultural, 1973. LACAN, Jacques. O seminário. Livro l. Os escritos técnicos de Freud (1953-1954). Trad. Betty Milan. Rio de Janeiro: Colégio Freudiano do Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. LINS, Osman. Significação de Rasto atrás. In: ANDRADE, Jorge. Marta, A árvore e o relógio. São Paulo: Perspectiva, 1970. PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. Trad. Maria Helena Nery Garcez. São Paulo: Martins Fontes, 1984. PRADO, Décio de Almeida. O teatro brasileiro moderno: 1930-1980. São Paulo: Perspectiva: Editora da USP, 1988. ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 27. ed., 1988. ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: São Paulo Editora, 1965. (Coleção Buriti). 318 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 ________. Visão do ciclo. In: ANDRADE, Jorge. Marta, A Árvore e O Relógio. São Paulo: Perspectiva, 1970. UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. Trad. José Simões (coord.). São Paulo: Perspectiva, 2005. Artigo recebido em 14.04.2008. Artigo aceito em 06.08.2008. Lílian Fleuri Dória Mestre em Literatura Brasileira (UFPR). Graduada em filosofia. Professora no Bacharelado em Artes Cênicas da Faculdade de Artes do Paraná. Diretora teatral, arquiteta e urbanista. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 319 320 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 MACRO E MICRO PODERES EM DUAS PEÇAS DE PLÍNIO MARCOS Roberto Ferreira da Rocha [email protected] RESUMO: As pesquisas desenvolvidas sob a inspiração da obra de Michel Foucault muito têm contribuído para o esclarecimento do funcionamento dos micro-poderes nas sociedades contemporâneas. Tais trabalhos revelam a dinâmica do poder dentro dos pequenos grupos que atuam como células do tecido social em instituições tais como a família, a escola, hospitais e prisões. No entanto, a relação entre macro e micro poderes pouco tem sido abordada. Assim, a for ma como as relações de opressão desenvolvidas em regimes totalitários se espraiam pelo tecido social, moldando interações entre indivíduos, é ainda um campo vasto para investigação. No entanto, se nas ciências sociais tais questões ainda não alcançaram toda atenção que merecem, este é um tema que tem sido abordado de forma bastante intensa pelo drama moderno e contemporâneo. No Brasil, a partir dos anos 60, quando o país viveu sob a tutela de um regime autoritário que impôs forte censura ao teatro, os dramaturgos desenvolveram formas de abordar a opressão a partir da ótica do indivíduo. Dentre eles, talvez tenha sido Plínio Marcos que tenha criado a obra mais radical. Neste artigo pretendo abordar em duas de suas peças – Quando as máquinas param e A dança final – o modo como os conflitos de gênero e identidade, vividos pelos dois casais protagonistas, refletem a opressão gerada pelo macro-poder. ABSTRACT: Research inspired by Michel Foucault’s work has contributed to enlighten the way capillar y power functions in contemporary society. Such research reveals the dynamics of power inside small groups that spin and weave the social tissue, such as the family, schools, hospitals and prisonhouses. However, the relationship between the micro and macro powers has seldom been explored. Thus, the way power relations developed in totalitarian regimes infiltrate in society, fashioning the relationships between individuals, is still a large field of investigation. If, in the social sciences these relationships have rarely been investigated, the issue has been much presented in modern and contemporary drama. In Brazil, from 1965 to 1984, when the country was governed by a military dictatorship, dramatists developed dramatic forms to face the oppression issue from the point of view of the individual. Among them, Plinio Marcos is perhaps the most radical playwright of the period. In this paper, I intend to focus on two of his plays – When the machines stop and The final dance – the way the gender and identity conflicts experienced by the two pairs of protagonists reflect the oppressive situation generated by macropower. PALAVRAS-CHAVE: Micro-poder. Macro-poder. Teatro brasileiro. Plínio Marcos. KEY WORDS: Micro-power. Macro-power. Brazilian theatre. Plinio Marcos. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 321 A vocação eminentemente política do teatro tem sido apontada por vários teóricos. Bernard Dort, um dos mais importantes críticos teatrais da segunda metade do século vinte, e um brechtiano de primeira hora, afirmava que o teatro “apesar de não ser mais que um jogo, não deixa de ser o eco, a mímica e o modelo de nossa vida comum” (DORT, 1986, p. 21, tradução minha). E, Denis Guénoun, em texto mais recente, enfatiza ainda mais o caráter político do teatro. O teatro é, portanto, uma atividade intrinsecamente política. Não em razão do que aí é mostrado ou debatido – embora tudo esteja ligado – mas, de maneira mais originária, antes de qualquer conteúdo, pelo fato, pela natureza da reunião que o estabelece. O que é político, no princípio do teatro, não é o representado, mas a representação: sua existência, sua constituição, “física”, por assim dizer, como assembléia, reunião pública, ajuntamento. O objeto da assembléia não é indiferente: mas o político está em obra antes da colocação de qualquer objeto, pelo fato de os indivíduos se terem reunido, se terem aproximado publicamente, abertamente, e porque sua confluência é uma questão política – questão de circulação, fiscalização, propaganda ou manutenção da ordem. (GUÉNOUN, 2003, p. 15) A enunciação teatral se dá sempre num contexto público. Um grupo de técnicos e artistas, responsáveis pelo espetáculo, dirige sua enunciação a um outro grupo presente no mesmo espaço-tempo, os espectadores, que participa diretamente da condução do evento enunciativo durante todo o seu desenrolar, sendo mesmo capaz de interferir nos rumos da própria enunciação teatral. Em momentos de intenso controle da sociedade civil pelo aparelho de estado, pode o teatro se tornar um espaço de congregação de grupos dissidentes ao regime autoritário. É revelador, nesse sentido, o depoimento de Heloisa Buarque de Holanda sobre a recepção do espetáculo Opinião por aqueles que se rebelaram contra o golpe militar, em 1965. Conta a autora, em seu livro Impressões de Viagem: Lembro-me de ter assistido várias vezes ao show, de pé, arrepiada de emoção cívica. Era um rito coletivo, um programa festivo, uma ação entre 322 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 amigos. Um encontro ritual, todos em “casa”, sintonizados secretamente no fracasso de 64, vivido como um incidente passageiro, um erro informulado e corrigível, uma falência ocasional cuja consciência o rito superava. (HOLLANDA, 1981, p. 35) Para além do conteúdo do show, que, como afirma Heloisa Buarque de Holanda, ainda estava comprometido com um extremo didatismo político, o show propiciava a experimentação por parte da platéia de uma forma ritualística de fazer política, típica dos anos 60 daqueles que eram apontados pejorativamente pelas facções políticas mais tradicionais, tanto de direita quanto de esquerda, de “esquerda festiva”. Já Aristóteles afirmava que a arte trata sempre do universal; o filósofo ensina, na Poética, que o autor, ao criar sua obra, “atribui a um indivíduo de determinada natureza pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convêm a tal natureza” (ARISTÓTELES, 1987, p. 209). Dito de outra forma, na arte, o individual alcança sempre a estatura do arquétipo. E, no teatro, arte do presente, que necessita da co-presença de artistas e espectadores para que a obra se produza, deve-se acrescentar ainda a relevância do texto para o momento em que é encenado. Mesmo que se trate da montagem de um texto clássico, escrito muitos séculos antes, ao ser enunciado em cena, a obra adquire imediatamente para os participantes do evento teatral, um significado novo; ou seja, para os enunciadores do texto teatral, ele se refere direta ou indiretamente ao momento presente, daí que o texto escrito para cena apresente uma constante instabilidade, que muitas vezes críticos e estudiosos procuram inutilmente conter. Além disso, as ações no teatro não possuem sentido apenas em si mesmas. A ação dramática implica a estrutura que a torna possível. Ou seja, as ações representadas no palco muitas vezes remetem a uma dimensão superior, seja ela cósmica, como na tragédia grega, seja ela social, como no drama moderno, que as engloba, dotando-as de sentido. A obra de Plínio Marcos (1935-1999) se caracteriza geralmente por textos em que um pequeno número de personagens, confinados num espaço exíguo, opressor e asfixiante, se digladia numa luta às vezes mortal pelo poder num universo de seres excluídos: indivíduos marginalizados, ou à beira da marginalização, enredados em situações que são incapazes de Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 323 compreender inteiramente. Seus anti-heróis estão fadados ao fracasso, pois não são capazes de enxergar os mecanismos que dirigem suas vidas. O diálogo, no entanto, é construído de forma a deixar o espectador entrever o que muitas vezes escapa à consciência dos personagens. Estes ocupantes de um território excluído sentem até fisicamente a opressão, mas são incapazes de achar uma solução para ela. Como procurarei demonstrar aqui, este beco sem saída tem como origem formações discursivas que, ao mesmo tempo, estruturam a identidade das personagens, e sujeita-as à situações de opressão da qual não conseguem escapar. Tendo sido um dramaturgo que desenvolveu a maior parte de sua obra durante o período mais negro da ditadura militar implantada no país a partir do golpe de 1 de abril de 1964, Plínio Marcos foi durante toda sua carreira uma vítima constante da censura. Sua carreira praticamente estaciona na década de setenta. Não que ele tivesse parado de criar novos e instigantes textos (muito menos conhecidos, porém, que as obras primas dos anos sessenta, Barrela, Dois perdidos numa noite suja, Navalha na carne e Abajur Lilás). Porém, muitas de suas peças não chegaram a ser encenadas, ficando, portanto, irrealizadas como obras teatrais. O teatro de Plínio Marcos, apesar de intrinsecamente político, nunca foi um teatro de agit-prop, de ataque direto ao Estado ou ao status-quo. Em suas primeiras peças, a maioria de um ato, Plínio Marcos trabalha dentro do gênero que Peter Szondi chamou de “peça de conversação” (SZONDI, 2001, 105-108). Diferentemente do drama clássico burguês, no qual o diálogo era o cerne da ação dramática que se desenvolvia a partir da interação de sujeitos autônomos e auto-suficientes, cujo conflito se dava apenas ao nível individual, a peça de conversação em um ato, forma a qual Plínio Marcos se ateve na primeira fase de sua obra, retornando e ela em algumas de suas últimas peças, é produto um momento histórico em que o herói dramático não pode ser mais considerado sujeito autônomo, único responsável por seu destino, como o era o herói do drama burguês. O herói de Plínio Marcos experimenta o que Theodor Adorno chamou uma “vida danificada”, ficando à mercê de forças sociais e simbólicas que o sujeitam, conforme explica Pasta Júnior em sua apresentação do livro de Szondi (2001, p. 15). Geralmente tais peças representam o ponto culminante de uma situação insustentável que antecede à catástrofe final. Embora não possuam um tom 324 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 panfletário inflamado, elas remetem inevitavelmente à uma situação política macro, que estrutura a interação dos personagens no espaço exíguo que habitam. Nas duas peças que formam o cerne desta comunicação, estes espaços são, respectivamente, uma casinha de periferia de um casal de proletários, em Quando as máquinas param (1967), e o quarto de um casal de classe média alta, em A dança final (1994). Em sua crítica à Navalha na carne, Décio de Almeida Prado faz uma observação ao diálogo de Plínio Marcos, que pode servir de mote para a minha discussão de Quando as máquinas param e A dança final. Escreve Décio que Plínio Marcos é mestre nessas sugestões psicológicas que não se aclaram totalmente – e talvez nem mesmo para o autor. O seu diálogo comporta sempre dois planos: o das palavras, simples, elementar, de acordo com o nível mental das personagens; e o dos sentimentos, das reações inexpressas, que, ao contrário, é bastante sutil e complexo. O interesse teatral está na correlação entre esses dois planos, naquilo que poderíamos chamar de transparência dramática: a capacidade de revelar o pensamento que não chega a ser articulado pelo diálogo. (PRADO, 1987, p. 217-218) Os dois planos que Décio de Almeida Prado aponta no diálogo de Plínio Marcos ainda me parece marcado por uma leitura meramente psicológica do seu teatro. O “plano do que fica subentendido” não parece estar ligado ao interior do indivíduo como algo que escapa à consciência dos personagens, mas antes ao móvel da situação que os enreda, móvel esse que é sempre social. Estas duas peças desenvolvem uma situação única, reduzida aos seus elementos essenciais; porém, ela não está, em ambos os textos, enfeixada em um único ato, mas se desenvolve em uma série de quadros mais ou menos autônomos, o que as coloca na fronteira entre o dramático e o épico. Com relação ao seu conteúdo, temos um conflito ao nível micropolítico que está intimamente relacionado a uma situação social do nível macro-político, pois é a estrutura social e política que dá sentido aos conflitos entre os indivíduos, embora eles não sejam um mero reflexo dela. Mais especificamente, pretendo relacionar nestas peças a crise dos papéis masculinos de provedor e amante, respectivamente, com as modificações estruturais da organização do trabalho social, em Quando as máquinas param, Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 325 e a obsessão pelo consumo e pela manutenção da imagem de sucesso pessoal e profissional dentro da ordem ideológica neoliberal, em A dança final. Quando as máquinas param conta a história de um operário nãoqualificado desempregado, Zé, e sua mulher, Nina, em cinco quadros mais ou menos independentes que se sucedem cronologicamente. No desenrolar da ação, o agravamento da situação profissional de Zé causará a ruína de sua identidade como homem, e culminará com um ato de violência física contra sua companheira que coloca em risco a continuidade da convivência dos dois. A peça termina em aberto, sem que o autor apresente uma solução final para o conflito. Os quatro primeiros quadros descrevem sempre um mesmo movimento que vai do desânimo à euforia provisória, que se desfaz novamente no quadro seguinte, como se os personagens estivessem enredados numa espécie de círculo vicioso com o qual não conseguem romper. A peça se inicia com Nina dentro de casa, preparando o almoço, enquanto ouve Zé jogar futebol com os moleques da rua. Nina obviamente incomodada com a situação chama o marido para comer, interrompendo a ação que se desenvolve fora de cena. É partir dessa situação que o conflito do herói se delineia. Zé, o operário desqualificado desempregado não consegue assumir um dos principais papéis sociais que a cultura outorga aos homens, o de provedor. Ele procura aliviar seu desconforto no campo de futebol improvisado na rua, onde experimenta o prazer gerado pela autosatisfação que seu domínio da bola proporciona, numa atitude obviamente regressiva. No entanto, esses raros momentos de escapismo são cortados pela fala de Nina, sempre a ser referir ao dinheiro escasso, às dívidas com o Português do armazém e ao atraso do aluguel, obrigando Zé a se voltar para as responsabilidades que ele tem que assumir para forjar sua identidade de homem adulto. Nina, por seu lado, encarna em seu discurso, vazado de chavões de fundo religioso, o princípio da realidade. Ela prega uma atitude de retidão moral que Zé não consegue seguir inteiramente. Costurando para fora, ela vai de certa forma assumindo o papel que deveria caber ao marido. É essa atividade econômica informal que, mesmo precariamente, mantém os dois. A situação econômica de Zé se torna ainda mais crítica quando o senhorio pede a casa que eles alugam, radicalizando a seu conflito existencial, 326 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 pois a única solução é ele ir morar com a esposa na casa da sogra, alternativa que deteriora ainda mais a auto-imagem de Zé. ZÉ – Você acha que eu vou comer esmola? Morar de esmola? Você acha que eu vou viver de esmola? Eu não sou aleijado, nem nada. Sou forte. Quero trabalhar. (109) Porém, com o mercado de trabalho formal em franco retraimento, Zé vislumbra a possibilidade de entrar de vez na marginalidade, destino de muitos dos meninos do grupo de moleques com o qual Zé tanto se identifica. ZÉ – Se não fosse por você, Nina, eu largava a mão de tudo. Ia ser o cara mais estrepado. Não queria nem saber. Começava pelo porção. Mandava o sacana pra glória. Dava tanta porrada nele, que quando largasse o filho da puta nem a mãe dele ia reconhecer. Amassava o focinho dele. Desse o que desse. Palavra que hoje eu só queria ser solteiro. Fazia o azar. (94) A corrosão de sua identidade de provedor leva Zé ao desespero. Ele abdica até do papel de pai, que tanto desejara, e tenta forçar a mulher a abortar o primeiro filhos deles. NINA – Eu estou te estranhando. ZÉ – Até eu estou me estranhando. De repente, eu abri os olhos e vi que pra gente não tem saída. Não dá pra ter filho. NINA – Mas é seu filho. ZÉ – E daí? Você quer que eu fique de boca aberta, como artista de cinema americano? NINA – Não! Só quero que você não diga besteira. Você está pensando que filho é o quê? ZÉ – Filho é luxo. É pra quem pode. NINA – Se Deus manda, a gente tem que receber. ZÉ – Que Deus manda! Se a gente seguisse a tabela direito, você não pegava. NINA – Pois é. Mas peguei. ZÉ – E vai tirar na marra. (116) Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 327 Quando Nina recusa abortar, pois o ato contraria suas posições religiosas, e ameaça deixar o marido, Zé, num surto de violência incontida, dá um soco na barriga da mulher. Com este ato de violência a peça termina. No livro de Viviane Forrestier, O horror econômico, encontrei uma frase que me pareceu resumir perfeitamente a catástrofe do herói de Plínio Marcos: “uma vez reduzido a zero, o excluído se torna expulso” (FORRESTIER, 1997, p. 46). Escrita em 1967, a peça já se refere, em suas entrelinhas, à situação das relações de trabalho no mundo atual que Forrestier analisa em seu ensaio. Zé, incapaz, devido a sua posição de classe, de adquirir o capital social indispensável para ser um indivíduo minimamente preparado para assumir o papel de provedor, que ele acredita indispensável para forjar plenamente sua masculinidade, é condenado a ser absorvido na multidão de párias que o atual estágio do capitalismo produz ao torná-los inassimiláveis ao mercado de trabalho. Em A Dança Final, o tema da impotência masculina adquire ressonâncias metafóricas. Como na peça anterior, o que está em jogo é a perda da identidade masculina. O cenário deste drama é o quarto de um casal de classe média alta. No diálogo entre Menezes e sua mulher, Lisa, reverberam ainda as vozes dos participantes dos dois ambientes freqüentados pelos protagonistas em seu condomínio de luxo, a piscina, lugar de encontro das mulheres, e a sauna, lugar de encontro dos homens. Vendedor de ações de sessenta anos, com uma privilegiada posição social, um casamento sólido, dois filhos, apartamento próprio em condomínio de luxo, carro importado do ano, Menezes não consegue ver mais sentido em tudo que adquiriu na vida, pois lhe falta aquilo dava sentido a tudo: a potência sexual, símbolo do poder falocrático que imagina deter. Para Menezes todas as conquistas de sua vida tinham como objetivo forjar a imagem do macho vencedor. MENEZES – Você parece que não compreende. Esse carrão é ferramenta de trabalho. Impõe respeito. Abre portas. Sou vendedor de ações. Tenho que chegar dando um ar de vitorioso. Carrão, terno sob medida, gravata estilosa. LISA – É... Aí, estafa para manter a aparência. MENEZES – É isso mesmo. LISA – Que lógica! Cheio de luxo e estafado! 328 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 MENEZES – Meu pau ninguém vê. Mas eu preciso ir à luta pra manter nosso padrão de vida. (15) Mas ao se tornar impotente, sua auto-imagem se deteriora, corroendo sua identidade. Menezes assim descreve sua crise existencial: MENEZES – Antigamente... eu tinha pau. Comparecia sempre... sem vacilo. Agora, é só vexame.] Eu perdi a alegria de viver... a coragem... a fé em mim mesmo. Não tenho ânimo pra trabalhar. Perdi a fome... o sono. Meu Deus, é uma loucura... Há seis dias eu ... E me parece uma eternidade. Estou me consumindo... coisa louca... uma loucura desesperada que não me tira a consciência da impotência. Estou infernizado. A vergonha de ter sido viril e já não ser. (19) Na sociedade altamente competitiva que é a sua, Menezes não consegue mais encontrar seu lugar. E o medo, então, toma conta de sua vida. MENEZES – Tenho medo. Tenho medo do ridículo. Medo de pegar fama de brocha. Logo vira fama de corno. Meu Deus, ando com medo de tudo... De dar trombada. De ser assaltado. De não fechar negócio... medo de tudo. (36) Com a decadência física e moral de Menezes, Lisa vai invertendo as relações de poder dentro do casamento e no final da peça ela passa de esposa submissa aos desejos do marido à principal artífice do jogo de aparências social que tem sido a tônica da vida dos dois. No último quadro, Menezes, cede à chantagem de Lisa, que ameaça revelar sua impotência a todos, conseguindo que ele finalmente concorde em celebrar suas bodas de prata. O drama de Menezes tem como pano de fundo um universo social dominado pela ética do consumo e obcecado pela manutenção da imagem narcísica de sucesso pessoal e profissional. As peças de Plínio Marcos realizam plenamente a vocação política do teatro. Seu enfoque principal remete aos micro-poderes que permeiam interações individuais; mas nas fendas do diálogo, nas lacunas e não-ditos das falas dos personagens, nas formações discursivas que informam sua Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 329 ideologia, ressoa sempre a esfera do macro-poder. A grandeza deste autor está em explicitar na sua escrita dramática a dupla implicação destes dois planos, sem o recurso do discurso panfletário. REFERÊNCIAS ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco; Poética. Trad. Leonel Vallandro e Gerd Bornheim (Ética a Nicômaco) e Eudoro de Souza (Poética). São Paulo: Nova Cultural, 1987. (Os pensadores). DORT, Bernard. Théâtres: Essays. Paris: Seuil, 1986. FORRESTER, Viviane. O horror econômico. Trad. Álavaro Lorencini. São Paulo: Unesp, 1997. GUÉNOUN, Denis. A exibição das palavras. Trad. Fátima Saadi. Rio de Janeiro, Teatro do Pequeno Gesto, 2003. HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. São Paulo: Brasiliense, 1981. MARCOS, Plínio. Navalha na carne/Quando as máquinas param. São Paulo: Círculo do Livro, 1981. ________. A dança final. São Paulo: Maltese, 1994. SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). Trad. Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. Artigo recebido em 21.05.2008. Artigo aceito em 20.08.2008. Roberto Ferreira da Rocha Doutor em Inglês pela Universidade de Santa Catarina. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 330 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 ANEXO Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 331 332 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 ESTÉTICA DA RECEPÇÃO ESTÉTICA DO EFEITO Wilfred L. Guerin et alii (autores)1 Brunilda T. Reichmann e Julián Bargueño (tradutores) A estética do efeito ou a teoria do efeito estético [reader-response criticism] , um dos desenvolvimentos recentes mais importantes na análise literária, surgiu principalmente como uma reação contra a Nova Crítica, que dominou a área de teoria literária durante cerca de meio século. A Nova Crítica, ou abordagem formalista, contou com alguns dos nomes mais importantes da Literatura Americana e Inglesa entre seus teóricos, críticos e disseminadores, tais como I. A. Richard, T. S. Eliot, William Empson, John Crowe Ransom, Allen Tate, Cleanth Brooks, Robert Penn Warren e R. P. Blackmur. (Deve ser observado que estes teóricos não tinham uma abordagem formalista única; na verdade, Richard e Blackmur ambos escreveram ensaios que questionam características básicas da Nova Crítica e sugerem mais do que uma simples inclinação à teoria do efeito estético.) [...] Mesmo correndo o risco de parecer simplista e, portanto, representar de modo superficial o formalismo, pode-se afirmar que esta abordagem considera um texto literário como um objeto de arte com existência própria, independente e não necessariamente relacionado com seu autor, seus leitores, a época histórica que ilustra ou o período histórico no qual foi escrito. Seu significado surge quando leitores fazem uma análise minuciosa do texto, e apenas dele, sem consideração a quaisquer outras informações exteriores ao mesmo. Tal exegese resulta na percepção da obra literária como um todo orgânico, no qual todas as partes se encaixam e são perfeitamente relacionadas, formando assim um significado objetivo. O formalismo concentra-se no texto, como a única fonte de interpretação. O texto – poema, peça ou conto – tem significado em si mesmo e revela-se para o leitor crítico que o examina, segundo as condições do próprio texto. O objetivo da crítica formalista é mostrar como a obra alcança seu significado. 1 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 333 Esta perspectiva crítica formalista é o resultado de uma visão que essencialmente não considera a literatura como um meio para atingir um fim (como os gregos a consideravam), ou como uma expressão de individualismo, emoção e comunhão entre os seres humanos (tendências românticas marcantes), ou como o produto de impulsos psicológicos complexos (uma perspectiva psicanalítica moderna). Antes, o formalismo vê a literatura como um tipo de conhecimento peculiar e especial, que oferece ao ser humano as mais profundas verdades a ele relacionadas, verdades que a ciência é incapaz de revelar. A literatura tem sua própria linguagem, diferente e mais intensa do que a linguagem comum (científica). Essa linguagem não é, no entanto, subjetiva ou anárquica; é compreendida e diferenciada por uma metodologia sistemática e rigorosa: a leitura minuciosa [close-reading] e a aplicação dos conceitos e vocabulário da análise literária. Paradoxalmente, apesar de denegrir a ciência como único meio de conhecimento, os críticos formalistas empregam as técnicas da ciência ao interpretarem a arte literária. O formalismo, então, foca-se no texto, encontrando nele todo significado e valor e considerando tudo mais como alheio, incluindo leitores, que os críticos formalistas consideram absolutamente perigosos como fontes de interpretação. Apoiar-se em leitores como fonte de significado é o mesmo que se tornar vítima do subjetivismo, relativismo e outros tipos de insanidades críticas. Críticos da estética do efeito têm uma abordagem radicalmente diferente. Eles acreditam que os leitores foram ignorados em discussões do processo de leitura ao invés de ser a preocupação central, como deveriam ter sido. O argumento é mais ou menos o seguinte: de certo modo, um texto nem sequer existe até que seja lido por alguém. De fato, o leitor tem sua parcela na criação ou é, até mesmo, criador do texto. É como a velha questão colocada nas aulas de filosofia: se uma árvore cai na floresta e ninguém ouve, ela fez barulho? Críticos da estética do efeito dizem que, de fato, se um texto não tem um leitor, ele não existe – ou pelo menos não tem significado. São leitores, com a experiência que trazem ao texto, quem lhes dão significado. Qualquer significado que ele pode ter, é inerente ao leitor e, portanto, é este quem deveria dizer o que um texto significa. Deveríamos, talvez, dizer aqui que a teoria ou estética do efeito não é de forma alguma uma posição crítica monolítica. Aqueles que dão importância aos leitores e às suas respostas ao interpretar uma obra vêm de 334 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 uma série de áreas críticas diferentes, sem excluir o formalismo, que é o alvo dos ataques mais pesados da estética do efeito. Críticos desta escola vêem críticos formalistas como bitolados, dogmáticos, elitistas e certamente equivocados ao essencialmente recusar aos leitores até mesmo um lugar no processo interpretativo da leitura. Por outro lado, os críticos da estética do efeito vêem a si próprios, como Jane Tompkins colocou, “dispostos a compartilhar sua autoridade crítica com leitores com menor formação e ao mesmo tempo fazer uma parceria com psicólogos, lingüistas, filósofos e outros estudantes de processos mentais” (Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism [Baltimore: Johns Hopkins UP, 1980]: 223). Apesar de idéias da estética do efeito estarem presentes na crítica desde a década de 1920, principalmente em I. A. Richards, e na década de 1930, nos trabalhos de D. W. Harding e Louise Rosenblatt, só na metade do século elas começam a ganhar lugar preponderante na teoria literária. Walter Gibson, ao escrever em College English em fevereiro de 1950, fala sobre “leitores dirigidos” [mock readers], aqueles que desempenham papéis que leitores reais sentem-se compelidos a desempenhar, porque o autor claramente espera que o façam, pela maneira com que o texto é apresentado (“Authors, Speakers, Readers, and Mock Readers,” College English 11.5 [1950]: 265-69). Ao chegar aos anos 1960 e continuando até o presente como um movimento mais ou menos orquestrado, a estética do efeito ganhou um número suficiente de seguidores para formar um ataque frontal aos baluartes do formalismo. Devido à complexidade das idéias que subjaz a estética do efeito, e porque seus proponentes freqüentemente as apresentam em uma linguagem técnica, seria apropriado enumerar as formas que receberam maior atenção e tentar chegar a uma definição tão clara quanto possível. Revisemos mais uma vez as premissas básicas da teoria direcionada ao leitor, levando em consideração que cada teórico da estética do efeito diferirá sobre algum ponto, mas que os fundamentos abaixo refletem as perspectivas principais do posicionamento como um todo. Primeiramente, na interpretação literária, o componente mais importante não é o texto, mas sim o leitor. De fato, não há texto a não ser que haja um leitor. E o leitor é o único que pode dizer o que o texto é; de alguma forma, o leitor cria o texto tanto quanto o autor. Este sendo o caso, para chegar-se ao significado, críticos Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 335 devem rejeitar a autonomia do texto e concentrar-se no leitor e no processo da leitura, na interação que se estabelece entre o leitor e o texto. Esta premissa deixa perplexos os críticos com formação tradicional em análise literária. Ela afirma que a estética do efeito é subjetiva e relativa, ao passo que as teorias mais antigas buscavam o máximo de objetividade possível em uma área de estudo que tem, por definição, um alto grau de subjetividade. Paradoxalmente, a fonte derradeira dessa subjetividade é a própria ciência moderna, que se tornou crescentemente cética quanto à possibilidade de conhecimento objetivo. A teoria da relatividade de Einstein permanece como a expressão mais conhecida dessa dúvida. Assim também, a demonstração do filósofo Thomas S. Kuhn de que o fato científico é dependente do quadro de referências do observador reforça as alegações de subjetividade (The Structure of Scientific Revolutions [Chicago: U of Chicago P, 1962]). Outra característica especial da teoria da estética do efeito é que ela é baseada na retórica, a arte da persuasão, que tem uma longa tradição na literatura, desde os gregos, que originalmente a empregavam na oratória. Agora ela se refere a uma miríade de recursos e estratégias usadas para fazer com que o leitor responda à obra literária de maneiras específicas. Portanto, ao estabelecer o leitor firmemente na equação literária, os antigos podem ser considerados os precursores da teoria moderna da estética do efeito. Admitese, no entanto, que quando Aristóteles, Longino, Horácio, Cícero e Quintiliano aplicavam princípios retóricos ao julgar uma obra, eles concentravam-se na presença dos elementos formais contidos nela, ao invés de no efeito que estes produziam no leitor. Tendo em vista, então, a ênfase no leitor na teoria do efeito estético, sua relação com a retórica é bastante óbvia. Wayne Booth em seu Rhetoric of Fiction (Chicago: U of Chicago P, 1961) está entre os primeiros críticos modernos a considerar o leitor no ato interpretativo. A Nova Crítica, que influenciou fortemente o estudo da literatura, e ainda o faz, tinha realmente proscrito leitores, afirmando que era uma falácia crítica – falácia afetiva – mencionar quaisquer efeitos que um texto literário poderia ter sobre seus leitores. E enquanto Booth não foi tão longe quanto outros críticos ao atribuir aos leitores o papel principal na interpretação, ele certamente lhes deu proeminência e acrescentou que a retórica é “o recurso do autor para controlar 336 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 seus leitores” (Preface to Rhetoric of Fiction). Por exemplo, em uma leitura minuciosa [close reading] de Emma, de Jane Austen, Booth expõe as estratégias retóricas usadas por Austen para assegurar que o leitor veja as coisas através dos olhos da heroína. Em 1925 I. A. Richards, geralmente associado com a Nova Crítica, publicou Principles of Literary Criticism (New York: Harcourt), no qual ele constrói um sistema afetivo de interpretação, ou seja, baseado em respostas emocionais. Diferentemente dos Novos Críticos que estariam em evidência nas duas décadas seguintes, Richards reconhece que a concepção científica da verdade é a correta e que a poesia cria apenas pseudo-afirmações. Estas pseudo-afirmações, porém, são cruciais para a saúde psíquica dos seres humanos, porque elas tomam o lugar da religião em seu papel de satisfazer nosso anseio – “apetência” [appetency] é o termo de Richards – pela verdade, ou seja, por alguma visão do mundo que possa satisfazer nossas necessidades mais profundas. Matthew Arnold tinha anunciado, no século XIX, que a literatura iria preencher esta função. Richards testou sua teoria ao solicitar a estudantes de Cambridge que registrassem suas respostas e avaliações sobre alguns poemas breves não identificados e de qualidade variável. Ele então analisou e classificou as respostas dos estudantes e as publicou juntamente com suas próprias interpretações, em Practical Criticism (New York: Harcourt, 1929). A metodologia de Richards é certamente baseada na reação do leitor, mas o uso que ele fez de seus dados está vinculado à Nova Crítica. Ele classificou as respostas em categorias de acordo com o grau com que elas se diferenciavam das interpretações “corretas” ou “mais adequadas”, que ele demonstrou ao se referir ao “próprio poema”. Louise Rosenblatt, Walker Gibson e Gerald Prince são críticos que, como Richards, afirmam a importância do leitor, mas não estão dispostos a relegar o texto a um papel secundário. Rosenblatt acredita que respostas irrelevantes devem ser excluídas em favor das relevantes e que um texto pode existir independentemente de seus leitores. No entanto, ela adianta uma teoria transacional: um poema passa a existir apenas quando recebe uma leitura apropriada (“estética”), ou seja, quando os leitores “compenetram” um determinado texto (The Reader, the Text, the Poem [Carbondale: Southern Illinois UP, 1978]). Gibson, essencialmente um formalista, propõe um leitor dirigido [mock reader], um papel que o leitor real Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 337 desempenha porque o texto pede que o faça “em favor da experiência”. Gibson propõe um diálogo entre o falante (o autor?) e o leitor direcionado. O crítico ao ouvir este diálogo o parafraseia, revelando assim as estratégias do autor, que manipula os leitores a aceitar ou rejeitar o texto. Gibson de forma alguma abandona o texto, mas injeta o leitor mais profundamente dentro da operação interpretativa, de modo a ganhar novos insights críticos. Usando uma diferente terminologia, Prince adota uma perspectiva similar à de Gibson. Perguntando-se porque críticos deram tamanha atenção aos narradores (oniscientes, em primeira pessoa, não-confiável, etc.) e praticamente ignoraram leitores, Prince também pressupõe um leitor, a quem chama de narratário – um de vários leitores hipotéticos a quem a narrativa é dirigida. Estes leitores, na verdade criados pela narrativa, incluem o leitor real, com o livro na mão; o leitor virtual, para quem o autor pensa que está escrevendo; e o leitor ideal, dotado de compreensão perfeita e afinidade; no entanto, nenhum destes é necessariamente o narratário. Prince apresenta as estratégias pelas quais a narrativa cria os leitores (“Introduction to the Study of the Narratee,” in Reader-Response Criticism, Ed. Jane Tompkins, 7-25). Os críticos mencionados até aqui – com exceção de Prince – são os pioneiros ou talvez mais precisamente a guarda avançada do movimento da estética do efeito. Ao continuar a insistir na importância do texto no ato interpretativo, eles igualmente insistem que o leitor seja levado em consideração; não fazê-lo, afirmam, empobrecerá a interpretação ou a tornará incompleta. Sendo a guarda avançada, eles abriram caminho para aqueles que se tornaram os principais nomes da teoria do efeito estético. Apesar de existir discordância sobre quem pertence a este último grupo, a maioria dos estudiosos reconhece Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Norman Holland e Stanley Fish como de grande importância para o movimento. Wolfgang Iser é um crítico alemão que aplica a crítica da fenomenologia para a interpretação da literatura. A fenomenologia enfatiza o papel do observador (neste caso, do leitor) em qualquer percepção (neste caso a experiência da leitura) e insiste na dificuldade, senão na impossibilidade, de separar qualquer coisa conhecida da mente que a conhece. De acordo com Iser, o crítico não deveria apreender o texto como um objeto, mas interpretar o seu efeito no leitor. Apesar de aderir a esta posição, isto não afastou Iser de considerar o texto como parte central da interpretação. Ele 338 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 também postula um leitor implícito, com “raízes firmemente plantadas na estrutura do texto” (The Act of Reading [Baltimore: Johns Hopkins UP, 1978]: 34). Mesmo assim, suas crenças fenomenológicas o mantém afastado da noção formalista de que há um significado essencial de um texto com o qual todas as interpretações devem tentar concordar. As experiências dos leitores direcionarão os efeitos que o texto produz neles. Além do mais, Iser acrescenta, um texto não conta tudo para o leitor; existem “lacunas” ou “espaços”, aos quais ele se refere como sendo a indeterminação do texto. Leitores devem preenchê-los e através disso agregar significado(s), tornandose assim, de certa forma, co-autores. Tais significados podem ir além do único “melhor” significado dos formalistas, porque são resultados da variada bagagem cultural do leitor. De fato, os leitores implícitos de Iser são um tanto quanto sofisticados: eles trazem à contemplação do texto um diálogo com as convenções que os habilitam a decodificar o texto. Mas o texto pode transcender qualquer grupo de convenções literárias ou críticas, e leitores com bagagens culturais altamente diferentes podem preencher esses espaços e lacunas com significados novos e não-convencionais. A postura de Iser é, portanto, fenomenológica: no centro da interpretação reside a experiência do leitor. Essa criação do texto pelo leitor, no entanto, não significa que o texto resultante é subjetivo ou deixa de ser uma criação do autor. É mais propriamente, diz Iser, prova da inesgotabilidade do texto. Porém, um outro tipo de crítica baseada no leitor, que também se apóia na retórica, é a estética da recepção2, que documenta a resposta do leitor aos autores e/ou às suas obras em qualquer época. Tal crítica depende basicamente de resenhas de jornais, revistas e periódicos, e de cartas pessoais como evidência da recepção do público. Existe uma variedade de teorias da recepção, uma das mais recentes e importantes é promulgada por Hans Robert Jauss, outro estudioso alemão, em sua obra Towards an Aesthetic of Reception (trans. Timothy Bahti; Minneapolis: U of Minnesota P, 1982). Jauss procura estabelecer uma acomodação entre a interpretação que ignora a história e a que ignora o texto em favor de teorias sociais. Para descrever os critérios empregados por ele, Jauss propôs a expressão “horizontes de expectativas de um público leitor”. Estes resultam do que o público previamente compreende sobre um gênero e suas convenções. Por exemplo, a poesia de Pope foi altamente considerada por seus contemporâneos, que valorizavam Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 339 a clareza, o decoro e a sagacidade. O século seguinte teve diferentes horizontes de expectativas e, portanto, questionou se Pope teria sido realmente um poeta. Similarmente, Madame Bovary, de Flaubert, não foi bem recebido pelos leitores em meados do século XIX, que se opuseram ao estilo impessoal, clínico e naturalista da obra. Os horizontes de expectativas haviam condicionado os leitores a apreciar um estilo narrativo apaixonado, lírico, sentimental e florido. Respostas hostis tardias de leitores aos clássicos firmemente estabelecidos surgiram na segunda metade do século XX. Huckleberry Finn tornou-se alvo de críticas duras e mal orientadas, baseadas no fato de que a obra continha insultos raciais na forma de epítetos como “nigger” e representações aviltantes dos negros. As escolas foram obrigadas, em alguns casos, a remover o livro de currículos e de listas de leitura e, em casos extremos, das prateleiras das bibliotecas. De maneira semelhante, feministas ressentiram-se do que consideravam filosofia e atitudes machochauvinistas em “To His Coy Mistress”, de Marvell. O horizonte de expectativas desses leitores incorporaram fervorosa facciosidade em assuntos contemporâneos em suas análises literárias de obras anteriores. Horizontes de expectativas não estabelecem o significado final de uma obra. Portanto, de acordo com Jauss, não podemos dizer que uma obra é universal, que ela terá o mesmo apelo ou impacto em leitores de todas as épocas. É possível, então, alguma vez alcançar um veredicto crítico sobre uma obra literária? Jauss acredita ser possível apenas até o ponto em que consideramos nossas interpretações originárias de um diálogo entre passado e presente, representando assim uma fusão de horizontes. A importância da psicologia na interpretação literária tem sido reconhecida há tempos. Platão e Aristóteles, por exemplo, atribuíam forte influência psicológica à literatura. Platão considerava esta influência essencialmente perniciosa: a literatura incitava as emoções do público, em especial aquelas que deveriam ser controladas rigorosamente. Aristóteles, ao contrário, argumentava que a literatura exercia uma boa influência psicológica; a tragédia, em particular, ao provocar na platéia uma catarse ou purificação das emoções. Espectadores ficavam então calmos e satisfeitos, ao invés de incitados e agitados, após o conflito emocional. [...] Um dos mais proeminentes psicanalistas do mundo, Sigmund Freud, teve uma incalculável influência na análise literária, com suas teorias 340 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 sobre o inconsciente e sobre a importância do sexo ao explicar grande parte do comportamento humano. Críticos então se voltavam para Platão e Aristóteles ao examinar as relações psicológicas entre uma obra literária e sua audiência e para Freud ao buscar entender as motivações psicológicas inconscientes das personagens na obra literária e no autor. Se, no entanto, seguidores de Freud estão mais preocupados com o inconsciente das personagens literárias e seus criadores, críticos psicológicos mais recentes têm focado no inconsciente dos leitores. Norman Holland, um desses críticos, argumenta que todas as pessoas herdam de sua mãe um “tema de identidade” ou a compreensão fixa sobre o tipo de pessoas que são. O que quer que leiam é processado para que se encaixe em seu “tema de identidade” (“The Miller’s Wife and the Professors: Questions about the Transactive Theory of Reading”, New Literary History 17 [1986]: 423-47). Em outras palavras, leitores interpretam textos como expressões de suas próprias personalidades ou psiques e sendo assim usam suas interpretações de modo a enfrentar a vida. Holland ilustra essa tese em um ensaio intitulado “Hamlet – My Greatest Creation” (Journal of the American Academy of Psychoanalysis 3 [1975]: 419-27). Esta resposta altamente pessoal à literatura aparece em outro artigo de Holland, “Recovering ‘The Purloined Letter’: Reading as a Personal Transaction” (in Suleiman and Crosman, eds., The Reader in the Text [Princeton, NJ: Princeton UP, 1980]: 350-70). Aqui Holland relaciona a história de sua própria tentativa de esconder uma experiência masturbatória adolescente. A teoria de Holland, apesar de toda sua ênfase nos leitores e na psicologia dos mesmos, não nega nem anula a independência do texto. Ele existe como um objeto e como a expressão de uma consciência diferente da dos próprios leitores; algo no qual eles podem se projetar. Mas David Bleich, que chama a variedade de respostas do leitor de Holland de subjetivismo, nega que o texto exista independentemente dos leitores (Subjective Criticism [Baltimore: Johns Hopkins UP, 1978]). Bleich aceita os argumentos de filósofos contemporâneos, tais como Thomas S. Kuhn, que negam que o fato objetivo existe. Uma posição como esta assegura que mesmo o que é considerado uma observação científica de alguma coisa – de qualquer coisa – é ainda meramente uma percepção individual e subjetiva que ocorre em um determinado contexto. Bleich afirma que indivíduos em todos os lugares Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 341 classificam as coisas em três grupos essenciais: objetos, símbolos e pessoas. Literatura, uma criação mental (em oposição a uma concreta), seria então considerada um símbolo. Um texto pode ser um objeto no sentido que é papel (ou outro material) e impressão, mas seu significado depende da simbolização na mente dos leitores. O significado não é encontrado; é desenvolvido. Relações humanas melhores resultarão de leitores com visões diferentes, compartilhando e comparando suas respostas e, por meio dessas, descobrindo mais sobre motives e estratégias de leitura. A honestidade e a tolerância, requerida em operações como essas, auxiliam indubitavelmente no autoconhecimento, que de acordo com Bleich é o objetivo mais importante para todos. O último dos teóricos a ser tratado nesta discussão é Stanley Fish, que denomina essa técnica de interpretação de estilística afetiva. Assim como outros críticos centrados no leitor, Fish se rebela contra a rigidez e o dogmatismo dos Novos Críticos e especialmente contra o princípio de que o poema é um objeto único, estático, um todo cuja compreensão tem que ser apreendida em uma primeira leitura. Os pronunciamentos de Fish sobre a estética do efeito surgiram em estágios. No primeiro estágio, ele argumenta que o significado em uma obra literária não é alguma coisa a ser extraída como um dentista extrai um dente; o significado deve ser negociado por leitores, uma linha de cada vez. Além do mais, eles serão surpreendidos por estratégias retóricas ao prosseguir a leitura. Significado é o que acontece aos leitores durante essa negociação. Um texto, na visão de Fish, poderia conduzir os leitores, ou mesmo auxiliá-los, a fazer algumas interpretações, apenas para miná-las mais tarde e forçar os leitores a fazer novas e diferentes leituras. Portanto, o foco é no leitor; o processo de leitura é dinâmico e seqüencial. Fish insiste, no entanto, no alto grau de sofisticação dos leitores: eles devem estar familiarizados com as convenções literárias e devem mudá-las quando percebem que foram ludibriados pelas estratégias de um texto. Seu termo para esses leitores é “informados” (Surprised by Sin: The Reader in “Paradise Lost” [Berkeley: U of California P, 1967]). Fish mais tarde modifica o método descrito acima ao atribuir maior iniciativa ao leitor e menor controle ao texto no ato interpretativo. A posição modificada de Fish sustenta que leitores realmente criam uma obra literária quando a lêem. Fish conclui que cada leitura resulta em uma nova 342 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 interpretação que acontece por causa das estratégias que os leitores usam. O texto, como um diretor independente de interpretação de fato, desapareceu. Para Fish, a interpretação é um assunto comunitário. Os leitores mencionados são informados; possuem competência lingüística, formam comunidades interpretativas que têm pretensões comuns; e, repetindo, criam textos quando utilizam técnicas de leituras comuns. Tais manifestações significam que esses leitores estão empregando as mesmas estratégias interpretativas ou similares e são, portanto, membros da mesma comunidade interpretativa (Is There a Text in This Class? [Cambridge, MA: Harvard UP, 1980]). Parece razoável dizer que haverá mais de uma resposta ou interpretação de uma obra literária e que isso é verdade porque os leitores e intérpretes vêem as coisas diferentemente. Parece igualmente correto observar que a reivindicação de que o significado da literatura reside exclusivamente no o leitor individual, cujas opiniões são igualmente válidas, é fazer uma análise literária ulterior e completamente relativa. Em algum lugar entre esses dois pontos de vista, críticos e intérpretes se encaixam. Os procedimentos [...] de definir uma abordagem literária e depois aplicá-la, não funciona de uma forma definitiva na estética do efeito. Aqui, no entanto, para ilustrar citaremos, arbitrariamente, dois trabalhos críticos de duas obras conhecidas, baseados na estética do efeito. A leitura de Steven Milloux de “Rappaccini’s Daughter”, de Hawthorne, é uma atraente e convincente análise dessa complexa narrativa baseada na tese de que ciladas e obstáculos preparados por um narrador não-confiável funcionam para confundir leitores até que estes aprendam a evitar tais armadilhas e cheguem a um entendimento baseado em suas próprias interpretações das ações do personagem e não na onisciência do autor (Interpretive Conventions: The Reader in the Study of American Fiction [Itaca and London: Cornell UP, 1984]: 73-92). A leitura de Milloux de Huckleberry Finn une uma abordagem retórica, decididamente centrada no leitor, ao novo historicismo, que enfatiza jornais contemporâneos, artigos de revistas, opinião pública, ideologias predominantes e assim por diante (“Reading Huckleberry Finn: The Rhetoric of Performed Ideology,” New Essays on Huckleberry Finn, ed. Louis Budd [Cambridge: Cambridge UP, 1985]: 107-33). Uma estética do efeito altamente personalizada e psicológica sobre Hamlet surge na obra de Norman Holland “Hamlet – My Greatest Creation”, páginas 171-76. Aqui, o foco está na Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 343 conexão entre palavras – prolixidade – e a violência e negligência dos familiares. Apesar de engenhosa, esta interpretação é menos idiossincrática do que sua leitura de “The Purloined Letter”, de Poe, mencionada anteriormente. Para resumir, dois aspectos distintos caracterizam a estética do efeito. Um deles é o impacto da obra literária no leitor, por isso a ênfase moralfilosófica-psicológica-retórica na análise da estética do efeito. (De que forma a obra afeta o leitor e que estratégias ou recursos foram acionados na produção desses efeitos?). O segundo aspecto é que o texto é relegado a uma posição secundária. (O leitor passa a ter prioridade.) Deste modo, a estética do efeito ataca a autoridade do texto. É onde o subjetivismo aparece. Se um texto não pode existir a não ser na mente do leitor, então o texto perde sua autoridade. Acontece uma mudança de perspectiva – de objetiva para subjetiva: textos significam o que leitores individuais afirmam que eles significam ou o que comunidades interpretativas de leitores afirmam que eles significam. Sendo esse o caso, a aplicação da abordagem da estética do efeito – em relação a Huckleberry Finn, por exemplo – poderia resultar, pelo menos teoricamente, em tantas leituras quanto seu número de leitores. Isso envolveria pressupor um leitor hipotético, cuja resposta, embora possivelmente interessante, seria aleatória e arbitrária. Realmente, qual reação do leitor deveríamos aproveitar, já que há tantas? Se tornamos os fundamentos da estética do efeito claros aos leitores deste texto, teremos atingido nosso objetivo. Eles então poderiam aplicá-los como desejarem. Deste modo, a interpretação se torna a chave para o significado – como sempre o é – porém sem a autoridade última do texto ou do autor. O elemento importante na estética do efeito é o leitor, e o efeito (ou influência) do texto no leitor. Quando os críticos da estética do efeito começam a analisar o efeito do texto no leitor, a análise freqüentemente assemelha-se à crítica formalista ou à crítica retórica ou mesmo à crítica psicológica. A principal distinção é a ênfase na reação do leitor na análise. O significado é inerente ao leitor e não ao texto. Aqui é onde a teoria da recepção se encaixa. O mesmo texto pode ser interpretado por diferentes leitores ou comunidades de leitores de maneiras muito diferentes. A história interpretativa de um texto pode variar consideravelmente, assim como as interpretações freudianas de Hamlet em contraste com suas interpretações anteriores. Leitores trazem consigo sua 344 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 própria herança cultural ao responder a textos literários, um fato que leva em consideração o princípio de que textos falam para outros textos apenas por meio da intervenção de leitores específicos. Deste modo, a estética do efeito pode apropriar-se de outras teorias – como todas as outras abordagens procuram fazer. É provável que a estética do efeito pareça, para muitas pessoas, tanto esotérica como excessivamente subjetiva. Indiscutivelmente, os leitores tinham sido pouco considerados pela Nova Crítica; mas eles podem ter sido demasiadamente enfatizados pelos teóricos que procuram dar-lhes a palavra final ao interpretar literatura. A comunicação, como um todo, é baseada na afirmação demonstrável de que existem significados comuns e concordantes na linguagem, não importa quão ricos, metafóricos ou simbólicos. Argumentar que existem, mesmo em teoria, tantos significados quanto leitores para um poema, indubitavelmente questiona a possibilidade de um discurso compreensível. O fato de alguns teóricos não se sentirem totalmente confortáveis com as implicações lógicas de suas posições é evidenciado por suas colocações sobre leitores dirigidos [mock readers], leitores informados, leitores reais e leitores implícitos – expressões pelas quais se referem a leitores dotados de educação, sensibilidade e sofisticação. Apesar dos perigos potenciais do subjetivismo, a estética do efeito tem sido um contrapeso ao dogmatismo literário e um registro da riqueza, complexidade e diversidade de interpretações literárias viáveis, e parece seguro dizer que leitores jamais serão ignorados novamente na leitura/interpretação de um texto. Notas 1 GUERIN, Wilfred L. et alii. A Handbook of Critical Approaches to Literature. New York: Oxford UP, 1992, p. 331-44. 2 As expressões “estética do efeito” ou “teoria do efeito estético” serão usadas como tradução da expressão norte-americana “reader-response criticism” e “estética da recepção” como tradução de “aesthetic reception”, que por sua vez é uma tradução literal de “Rezeptionsästhetik”, do alemão. Existe uma diferença entre as duas expressões em termos de abrangência. A estética do efeito diz respeito ao efeito Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 345 do texto no leitor, a estética da recepção diz também respeito ao efeito do texto no leitor, mas tenta resgatar os efeitos do texto nos leitores, através dos tempos. Hans Robert Jauss [1975] é quem introduz a expressão “Rezeptionsästhetik”, traduzida para o inglês como “aesthetic reception”. Atualmente a expressão “estética da recepção” está sendo comumente usada para designar tanto a estética da recepção como a estética do efeito ou teoria do efeito estético. 3 Ver Nota 2. Brunilda T. Reichmann PhD em Literaturas de Língua Inglesa pela Nebraska University em Lincoln. Professora Titular de Literatura Inglesa e Norte-Americana do Curso de Letras daUNIANDRADE. Editora da revista Scripta Uniandrade. Coordenadora do Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. Professora Titular de Literaturas de Língua Inglesa da UFPR (aposentada). Julián Bargueño Compositor e produtor musical. Aluno especial do curso de Mestrado em Teoria Literária da UNIANDRADE. 346 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 DOSSIÊS TEMÁTICOS DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES 2009: Releituras de Shakespeare 2010: Escritores paranaenses 2011: Intertextos / Intermídias / Interartes Endereços eletrônicos para envio de trabalhos: [email protected] Endereço para correspondência: Centro Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE Cidade Universitária Mestrado em Teoria Literária Scripta Uniandrade Rua Morumby 283, Santa Quitéria 81220-090 Curitiba, PR Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 347 348 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 NORMAS DA REVISTA 1 · · · · · · · · · · Os trabalhos entregues para apreciação e possível publicação em qualquer das revistas do Centro Universitário Campos de Andrade – Uniandrade – deverão seguir os seguintes parâmetros: Ser inéditos. Ser redigidos em português, espanhol ou inglês. Ter no mínimo 10 páginas (cerca de 4000 palavras) e no máximo 20 páginas (cerca de 8000 palavras). Incluir dois resumos (de 100 a 120 palavras cada um), antes do início do texto, um em português e outro em língua estrangeira. Incluir, após os resumos, palavras-chave (de três a seis) em português e na língua estrangeira. Ser digitados em folha A4, com espaçamento 1,5, fonte Arial, 11. Incluir no corpo do trabalho, entre aspas, citações de até quatro linhas. Citações com mais linhas devem ser destacadas do texto, alinhadas pela margem de parágrafo, digitadas com espaçamento simples, fonte Arial, 10, e não conter aspas. Incluir referências às citações no próprio texto, entre parênteses. Exemplo: (MILLER, 2003, p. 45-47). As notas explicativas devem ser incluídas no final do texto. Seguir as normas da ABNT quanto à digitação das referências a serem incluídas depois da conclusão do texto. · Para livros, a entrada deverá ter o seguinte formato: GOMES, C. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlântica, 2002. · Para artigos publicados em revistas e periódicos, a entrada deverá ter o seguinte formato: ALMEIDA, R. Notas sobre redação. A palavra, 2. série, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 101-124, abr. 2003. · Para citação eletrônica, a entrada deverá ter o seguinte formato: LIMA, G. Referências de fonte eletrônica. Disponível em: <http:// www.format.com.br > Acesso em: 21 set. 2006. Ser enviadas aos editores, como anexo, via e-mail, sem identificação. A identificação deve ser enviada em outro anexo e conter o título do trabalho, o nome do autor, a titulação, a instituição da titulação, a instituição à qual está vinculado, o cargo que ocupa, o e-mail e o número do telefone. Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 349 2 Os autores deverão encaminhar parecer do Comitê de Ética de sua Instituição ou submeter seu trabalho ao Comitê de Ética da Uniandrade, se o Conselho Editorial achar necessário. 3 O Conselho Editorial poderá recusar trabalhos que não atendam às normas incluídas acima. 4 Depois de aceitos pelo Conselho Editorial, os trabalhos de pesquisa serão submetidos ao Conselho Consultivo para leitura, análise e parecer. 5 Por via eletrônica ou postal, o Conselho Editorial comunicará ao autor a avaliação feita por membros do Conselho Consultivo. 6 Os originais não aprovados e os respectivos disquetes estarão disponíveis no Núcleo de Pesquisa até dois meses após o parecer negativo dos Consultores. 7 Os originais aprovados com restrições serão encaminhados para a correção dos autores. Nestes casos, a Comissão Editorial se reserva o direito de recusar o artigo, caso as alterações neles introduzidas não atendam às solicitações dos consultores. 8 Os autores dos originais aprovados e publicados receberão dois exemplares da revista. 9 O direito de cópia referente aos artigos publicados pertence a Uniandrade. 10 O envio do artigo para publicação implica a aceitação das condições acima citadas. 350 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008 351 352 Scripta Uniandrade, n. 06, 2008
Baixar