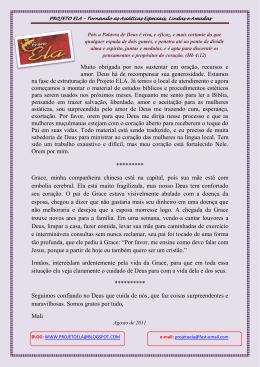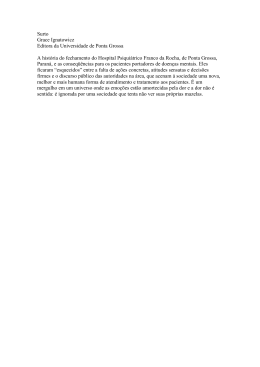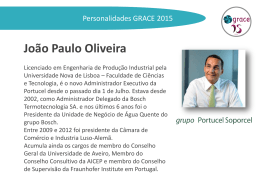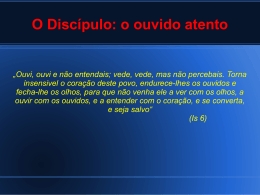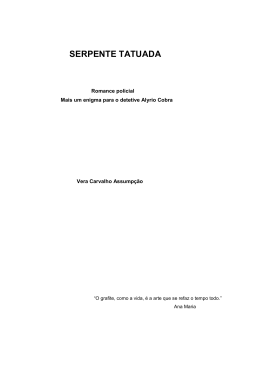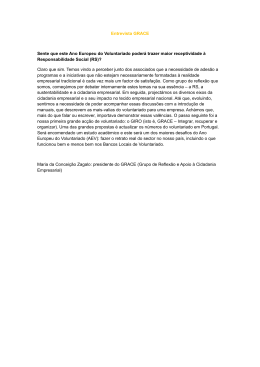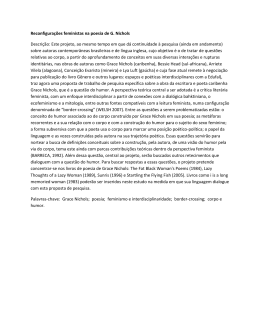UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
LUIZ MANOEL DA SILVA OLIVEIRA
SUBVERTENDO O LEGADO DE CALIBAN:
PERSPECTIVAS PÓS-COLONIAIS DE SUPERAÇÃO DA SUBALTERNIDADE EM
UM ESTUDO COMPARATIVO DE JASMINE, DE BHARATI MUKHERJEE, E
ALIAS GRACE, DE MARGARET ATWOOD
RIO DE JANEIRO
2007
2
LUIZ MANOEL DA SILVA OLIVEIRA
SUBVERTENDO O LEGADO DE CALIBAN:
PERSPECTIVAS PÓS-COLONIAIS DE SUPERAÇÃO DA SUBALTERNIDADE EM
UM ESTUDO COMPARATIVO DE JASMINE DE BHARATI MUKHERJEE E ALIAS
GRACE DE MARGARET ATWOOD
Tese apresentada à Coordenação dos Cursos de PósGraduação em Letras da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção
do título de Doutor em Ciência da Literatura, na área
de concentração Literatura Comparada. Orientador:
Prof. Dr. Eduardo de Faria Coutinho (UFRJ). CoOrientadora: Profa. Dra. Peonia Viana Guedes
(UERJ).
UFRJ – Faculdade de Letras
Rio de Janeiro, 2º semestre de 2007
3
LUIZ MANOEL DA SILVA OLIVEIRA
SUBVERTENDO O LEGADO DE CALIBAN: PERSPECTIVAS PÓS-COLONIAIS DE
SUPERAÇÃO DA SUBALTERNIDADE EM UM ESTUDO COMPARATIVO DE
JAS MINE, DE BHARATI MUKHERJEE, E ALIAS GRACE, DE MARGARET
ATWOOD
Tese apresentada à Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção
do título de Doutor em Ciência da Literatura, na área de concentração
Literatura Comparada.
Aprovada em ___ de __________ de 2007.
BANCA EXAMINADORA:
__________________________________________
Prof. Dr. Eduardo de Faria Coutinho (UFRJ)
Orientador
__________________________________________
Profa. Dra. Peonia Viana Guedes (UERJ)
Co-Orientadora
__________________________________________
Profa. Dra. Ruth Persice Nogueira (UFRJ)
__________________________________________
Prof. Dr. Luiz Edmundo Bouças Coutinho (UFRJ)
__________________________________________
Profa. Dra. Leila Assumpção Harris (UERJ)
__________________________________________
Profa. Dra. Angélica Maria dos Santos Soares (UFRJ)
__________________________________________
Prof. Dr. Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ)
4
.
À memória da minha mãe, Luzia,
e do meu pai, Alfredo,
que enfrentaram mares de dificuldades,
para que eu chegasse até aqui;
À memória da minha tia, Francisca,
responsável por calmarias providenciais
naqueles mares revoltos.
5
AGRADECIMENTOS
Ao muito estimado Prof. Dr. Eduardo de Faria Coutinho, que me orientou nesta
pesquisa, com auxílio metodológico, observações críticas fundamentais, paciência, dedicação
e muita amizade;
À Profa.Dra. Peonia Viana Guedes, que, com sua co-orientação nesta pesquisa e a sua
presença amiga, prolongou os apoios acadêmicos e emocionais já a mim concedidos desde a
época da Graduação;
À FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro, que me concedeu o suporte financeiro indispensável para a realização desta
pesquisa;
Ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, da Faculdade de Letras da
UFRJ, que me apresentou possibilidades de encarar a Literatura por prismas inusitados;
À Profa, Dra. Ruth Persice Nogueira, também minha mestra e amiga, que sempre me
incentivou a trilhar o caminho fascinante das descobertas literárias;
À Profa. Dra. Leila Assumpção Harris, por seu entusiasmo, apoio constante e
incentivo, desde o Mestrado;
À minha esposa, Sílvia Regina, e meus filhos, Victor Luiz e Elisa Beatriz, pelo amor,
paciência e abnegação em abrir mão de imensas quantidades de tempo, a eles não dedicadas,
para que eu pudesse realizar e completar esta pesquisa;
À minha sogra, Cylne Delgado Moreira, pelos apoios de várias naturezas que
suavizaram momentos críticos coincidentes com os da realização deste estudo;
A todos os meus amigos e amigas, aos presentes e aos já ausentes desta dimensão, que
me agraciaram com os mais variados apoios nestes últimos anos.
6
SINOPSE
OLIVEIRA, Luiz M. S. Subvertendo o Legado de Caliban: Perspectivas Pós-Coloniais de
Superação da Subalternidade em um Estudo Comparativo de Jasmine, de Bharati
Mukherjee, e Alias Grace, de Margaret Atwood. Tese (Doutorado em Ciência da
Literatura: Literatura Comparada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2007.
Um estudo da representação literária da superação da subalternidade e da construção
identitária híbrida e emancipada dos sujeitos pós-coloniais femininos, em uma perspectiva
comparatista entre os romances Jasmine, de Bharati Mukherjee, e Alias Grace, de Margaret
Atwood, utilizando o Caliban de A Tempestade como metáfora fundacional dos sujeitos
colonizados representados nas Literaturas em Língua Inglesa e os fundamentos críticoteóricos atinentes às Teorias Pós-Estruturalistas, às Teorias Feministas, às Teorias PósColoniais e aos Estudos Culturais.
7
RESUMO
OLIVEIRA, Luiz M. S. Subvertendo o Legado de Caliban: Perspectivas Pós-Coloniais de
Superação da Subalternidade em um Estudo Comparativo de Jasmine, de Bharati
Mukherjee, e Alias Grace, de Margaret Atwood. Tese (Doutorado em Ciência da
Literatura: Literatura Comparada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2007.
O objetivo principal desta Tese é evidenciar a representação literária da superação da
subalternidade e da conseqüente aquisição de agenciamento, voz e poder pelo sujeito póscolonial feminino, nos romances contemporâneos em língua inglesa Jasmine, de Bharati
Mukherjee, e Alias Grace, de Margaret Atwood. Para atingir esta meta, optou-se pelas
seguintes estratégias: a) considerar a personagem shakesperiana Caliban, de A Tempestade,
como metáfora fundacional dos sujeitos colonizados representados literariamente, enfatizando
o seu potencial de resistência à dominação do colonizador europeu, simbolizado por Próspero,
através do aprendizado da língua inglesa; b) estabelecer relações intertextuais significativas
entre obras literárias em inglês contendo representações dos colonizados com os romances
estudados, para avaliar, sob uma ótica comparatista, a complexidade do processo de
construção das identidades híbridas do sujeito subalterno, em geral, e em condição feminina,
especificamente, assim como a sua liberação das características subalternas herdadas de
Caliban; c) ressaltar o papel fundamental das Teorias Pós-Estruturalistas, do cruzamento das
Teorias Feministas com as Teorias Pós-Coloniais, e da Desconstrução derrideana para o
estudo do processo de formação de identidade das protagonistas dos romances em causa,
focalizando em especial a correlação existente entre a fragmentação das narrativas dos
romances e das personalidades de Jasmine e Grace Marks; e, por fim, d) sublinhar a
relevância do domínio da língua inglesa para a emancipação do sujeito pós-colonial feminino.
Embora tenha havido um diálogo com diversas correntes do pensamento, privilegiaram-se
nesta tese, sobretudo no que diz respeito às questões da subjetividade, identidade e alteridade,
as contribuições das Teorias Pós-Estruturalistas, das Teorias Pós-Coloniais, das Teorias
Feministas e dos Estudos Culturais. Destacam-se, assim, as idéias e postulados teóricos de
Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Roberto Fernández Retamar, Bill
Ashcroft, Gayatri Chakravorty Spivak, Homi K. Bhabha, Edward W. Said, Stuart Hall, JeanFrançois Lyotard, Fredric Jameson, Sarah Mills, Luce Irigaray, Leela Gandhi, Linda
Hutcheon, Ania Loomba e Patricia Waugh, dentre outros.
8
ABSTRACT
OLIVEIRA, Luiz M. S. Subvertendo o Legado de Caliban: Perspectivas Pós-Coloniais de
Superação da Subalternidade em um Estudo Comparativo de Jasmine, de Bharati
Mukherjee, e Alias Grace, de Margaret Atwood. Tese (Doutorado em Ciência da
Literatura: Literatura Comparada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2007.
The main purpose of this Dissertation is to highlight the literary representation of the process
of overcoming subalternity by post-colonial female subjects as well as of their consequent
acquisition of agency, voice, and power in two contemporary novels written in English:
Bharati Mukherjee’s Jasmine and Margaret Atwood’s Alias Grace. In order to accomplish
this task, the following strategies have been chosen: a) to consider the Shakespearean
character Caliban from The Tempest as an effective literary metaphor for the individuals
subjected to colonization, due to his willingness to resist the domination exerted by the
European colonizer, represented by Prospero, through the learning and mastering of the
English language; b) to establish meaningful intertextual connections between literary works
in English on the colonized subject and the two post-colonial novels aforementioned, in order
to study, from a comparative perspective, the complexity of the process of constructing the
hybrid identities of post-colonial (female) subjects, as well as their gradual discarding of
Caliban’s negative legacy; c) to stress the fundamental roles of Post-Structuralist Theories, of
the intersections between
Feminist and Post-Colonial Theories, and of Derridean
Deconstruction, for the analysis of the process of identity formation of the novels’
protagonists, by focusing particularly on the correlation between the fragmentation of the
novels’ narratives and of their protagonists’ personalities; and, finally, d) to emphasize the
importance of the domain of the English language for the emancipation of the post-colonial
(female) subject. Although there has been a dialogue with other currents of thought, the main
theoretical support of this dissertation, especially as regards the issues of identity, subjectivity
and alterity, has come from Post-Structuralist and Feminist Theories, as well as from Cultural
Studies. Among these, it is worth mentioning the contributions of Roland Barthes, Jacques
Derrida, Michel Foucault, Roberto Fernández Retamar, Bill Ashcroft, Gayatri Chakravorty
Spivak, Homi K. Bhabha, Edward W. Said, Stuart Hall, Jean-François Lyotard, Fredric
Jameson, Sarah Mills, Luce Irigaray, Leela Ghandi, Linda Hutcheon, Ania Loomba, and
Patricia Waugh.
9
RÉSUMÉ
OLIVEIRA, Luiz M. S. Subvertendo o Legado de Caliban: Perspectivas Pós-Coloniais de
Superação da Subalternidade em um Estudo Comparativo de Jasmine, de Bharati
Mukherjee, e Alias Grace, de Margaret Atwood. Tese (Doutorado em Ciência da
Literatura: Literatura Comparada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2007.
Le principal but de ce travail c’est ce d’évidencer la représentation littéraire du procès de
surmonter la subalternité et la conséquente acquisition d’agencement, voix et pouvoir par le
sujet post-colonial féménin, dans les romans contemporain de langue anglaise Jasmine, de
Bharati Mukherjee, et Alias Grace, de Margaret Atwood. Pour cela, on a choisi les processus
suivants : a) considérer le personnage shakesperéan Caliban, de La tempête, comme
métaphore fondationale des sujets colonisés représentés littérairement, à cause de son
potentiel de résistence à la domination du colonisateur européen, symbolisé par Propère, à
travers de son apprentissage de la langue anglaise ; b) établir de relations intertextuelles
significatives entre des oeuvres littéraires en anglais qui portent de représentations des
colonisés et les protagonistes des deux romans étudiés, à fin d’évaluer, dans une perspective
comparatiste, la complexité du procès de construction des identités hybrides du sujet
subalterne féménin, aussi bien que sa libération du légat négatif de Caliban ; c) signaler le rôle
fondamental des théories post-structuralistes, du croisement des théories féménistes avec les
théories post-coloniales, et de la déconstruction dérrideanne pour l’étude du procès de
formation d’identité des protagonistes des romans étudiés, en considérant surtout la
correlation existente entre la fragmentation des narratives des romans et des personalités de
Jasmine et Grace Marks ; et finalement d) mettre en évidence l’importance du domaine de la
langue anglaise pour l’émancipation du sujet post-colonial féménin. Quoiqu’on a établi un
dialogue avec de diverses courants du pensée contemporain, on a privilegié dans cette thèse,
surtout en ce qui concerne de questions de subjectivité, d’identité et d’alterité, les
contributions des théories post-structuralistes, des théories post-coloniales , des théories
féménistes et des Études Culturels. Entre les théoriciens abordés, on doit mentionner à
Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Roberto Fernández Retamar, Bill
Ashcroft, Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Edward W. Said, Stuart Hall, JeanFrançois Lyotard, Fredric Jameson, Sarah Mills, Luce Irigaray, Leela Gandhi, Linda
Hutcheon, Ania Loomba et Patricia Waugh.
10
SUMÁRIO
Introdução ............................................................................................................................... 11
Capítulo 1 – Considerações Preliminares .............................................................................. 30
1.1 Considerações sobre o Pós-Estruturalismo, o Pós-Modernismo e a
Desconstrução ...................................................................................................... 30
1.2 A Reinterpretaçao dos Binarismos Lingüísticos de Saussure ............................... 44
1.3 Os Estudos Culturais e as Teorias Pós-Coloniais ................................................. 48
1.4 A Contribuição do Comparatismo e da Interdisciplinaridade .............................. 57
Capítulo 2 – O Papel da Fragmentação na Narrativa e na Problematização da
Subjetividade das Protagonistas Jasmine e Grace Marks .................................. 62
2.1 A Fragmentação na Contemporaneidade .............................................................. 62
2.2 A Fragmentação da Narrativa e das Identidades em Jasmine .............................. 66
2.3 A Fragmentação da Narrativa e das Identidades em Alias Grace ...................... 109
Capítulo 3 – A Contribuição dos Jogos de Sentidos Ficcionais para o Processo de
Formação Identitária das Protagonistas Jasmine e Grace Marks .................... 134
Capítulo 4 – A Literatura Colonial e Pós-Colonial em Língua Inglesa como Instâncias
de Enunciação e Resistência do Subalterno: de Caliban a Jasmine e Grace
Marks .............................................................................................................. 163
Capítulo 5 – A Representação da Superação da Subalternidade de Jasmine e Grace
Marks Enquanto Sujeitos Pós-Coloniais: A Reinvenção do Potencial de
Caliban na Trajetória de Subjetificação ......................................................... 200
Considerações Finais .......................................................................................................... 246
Bibliografia ......................................................................................................................... 252
Sítio da Internet Referido Sem Autoria Definida ............................................................... 262
11
INTRODUÇÃO
O lançamento de um olhar sobre as nossas histórias passadas, enquanto indivíduos ou
povos oriundos de processos traumáticos de colonização, tanto na posição de
dominante/colonizador ou de dominado/colonizado, tem exigido cada vez mais reavaliações
constantes, para que as intrincadas conseqüências contemporâneas das relações que se
estabeleceram e as que ainda se encontram em tessitura dinâmica possam começar a ser
compreendidas de uma maneira mais clara, assim como para que novos paradigmas mais
abrangentes possam abrigar os entendimentos e subjetividades resultantes desse processo.
Nessa medida, uma vez que o nosso objetivo primordial aqui é defender a tese de que
o sujeito pós-colonial (de modo geral) e o sujeito pós-colonial feminino (de forma específica)
têm conseguido, pelo menos no texto literário, superar as condições de subalternidade
impostas tanto pelas práticas imperialistas passadas e as neocoloniais presentes, quanto pelo
fardo opressor da sociedade patriarcal (mormente no caso do subalterno enquanto mulher), as
abordagens aqui eleitas se estendem também para searas que transcendem o escopo dos
estudos literários tradicionais e penetram o campo da interdisciplinaridade.
Em vista disso, ao utilizarmos um recorte bastante específico de A Tempestade, de
Shakespeare, – toda a riqueza e a exuberância da rebeldia e da subversão de Caliban enquanto
objeto das idealizações do colonizador Próspero –, e então elegermos o próprio Caliban como
um dos ícones fundadores da expressão da resistência do sujeito colonial/pós-colonial
subalterno nas literaturas em língua inglesa, já estamos antecipando uma postura
interdisciplinar. Ou seja, essa natureza da abordagem justifica-se plenamente em se
considerando o fato de que estamos na tentativa de produzir uma Tese na área da Literatura
Comparada em que o Caliban shakesperiano, – personagem de uma peça teatral –, será
encarado como uma entidade de quem as protagonistas Jasmine, de Bharati Mukherjee, e
Grace Marks, de Margaret Atwood, deverão herdar as características de subversão, tanto para
12
minar as forças hegemônicas que as oprimem, quanto para descartar as sombras da
subalternidade que as envolvem respectivamente nos romances Jasmine e Alias Grace 1. Essa
relação tensa e dual aponta em última análise para a promoção e o fortalecimento do sujeito
pós-colonial, numa perspectiva mais ampla, e para o empoderamento do sujeito pós-colonial
feminino, de modo mais específico e contundente. E, naturalmente, essa representação
positiva ficcional reverbera situações que de fato têm acontecido nas relações contemporâneas
entre indivíduos (ex-colonizados e imigrantes), em países desenvolvidos (as ditas nações do
primeiro mundo) e nos países em desenvolvimento (as ditas nações do terceiro mundo).
Portanto, além de se utilizarem as visões críticas e as “leituras” do Caliban de A Tempestade
como mote inicial para se efetivar a comparação entre os romances de Mukherjee e Atwood,
vamos concomitantemente discutir parcelas dos discursos históricos acerca de alguns aspectos
coloniais e pós-coloniais que permeiam as relações entre Ocidente e Oriente, com justificável
ênfase na situação de certas colônias e ex-colônias inglesas, assim como importantes aspectos
das Teorias Pós-Coloniais e Feministas e determinados conceitos de importância capital nas
narrativas pós-modernas.
Numa palavra, quebra-se, de início, a fronteira entre gêneros artístico-literários em
virtude de se utilizar o personagem de uma peça teatral do final da era elisabetana inglesa
(pertencente ao gênero “dramático”) como ícone do sujeito colonial subalterno, para se
apropriar das suas características subversivas e se constatar como as protagonistas de duas
produções literárias pós-modernas enquadradas no gênero “romance” lidam com esses
elementos subversivos comuns a todos eles. Além do mais, a representação literária das
qualidades e das “falhas” do colonizado inauguradas por Caliban na memorável peça
1
Em virtude de estarmos lidando com uma vasta gama de livros e artigos, tanto de publicação recente quanto
muito antiga, - o que poderia gerar confusões entre a data original de publicação e a data da edição com que
trabalhamos nesta Tese -, optamos por não mencionar datas entre parênteses quando se tratar de menção simples
à obra no corpo do texto. Somente informaremos a data (da edição com que efetivamente trabalhamos) quando
se tratar de referência completa (autor/ano/página). No entanto, na “Bibliografia”, procuramos, tanto quanto
possível, inserir a data da publicação original de cada obra, além da data da publicação da edição com que
trabalhamos (N. da A.).
13
shakesperiana também serão verificadas nos ícones subseqüentes do colonizado em outras
obras literárias inglesas que também serão brevemente abordadas nesta Tese a título de
ilustração emblemática da condição do sujeito subalterno, para melhor se entender o processo
que se pretenderá demonstrar nas caracterizações das personagens de Atwood e Mukherjee.
É oportuno frisar que, especificamente com relação a Alias Grace, a questão da
quebra das barreiras entre os gêneros vai se acirrar não somente em função do flagrante uso
da metaficção historiográfica, mas também por causa de outros usos e interpolações textuais
pertencentes a outros “gêneros” diferentes do “romance”, dos quais Margaret Atwood vai
amplamente lançar mão. Todavia, cumpre retardar referências mais específicas sobre o
assunto, que serão tratadas com mais vagar em todos os capítulos desta Tese, direta ou
indiretamente.
Voltando agora o foco da nossa abordagem para um outro aspecto bastante relevante
da questão, deparamo-nos com as complexas questões de poder, dominação e subordinação. A
esse respeito, destacamos algumas breves especulações acerca das motivações de certos
grupos humanos, desde um passado remoto, para exercer domínio sobre outros povos, tribos
ou nações. Encontraremos razões históricas, sociais e econômicas claramente elevadas ao
“status” de justificativas naturais para o fato, ou, até mesmo, razões de ordem religiosa ou
cultural, numa posição principal, escamoteando razões sub-reptícias, quase sempre calcadas
na pressuposição da intrínseca inferioridade generalizada (étnica, religiosa, cultural, social,
econômica ou política) do povo que sofre os efeitos da colonização.
Na verdade, a história de todos os povos está repleta de situações em que essa idéia se
confirma. Portanto, seria possível pinçar interessantes casos ilustrativos, se o nosso objetivo
aqui fosse revestido de um cunho eminentemente histórico. Contudo, o que se pretende
colocar aqui em evidência é como o fenômeno do enfraquecimento do poderio das nações
imperialistas entre os séculos XIX e XX acabou por se fazer representado direta ou
14
indiretamente em várias obras literárias anglo-saxônicas anteriores ao pós-modernismo e que
ora são reinterpretadas à luz das visões críticas contemporâneas.
Nessa medida, as relações de poder que sempre existiram entre indivíduos, grupos de
indivíduos e entre metrópoles e colônias (ou até mesmo, mais recentemente, entre exmetrópoles e ex-colônias), após o surgimento dos Estudos Culturais, têm-se mostrado
instigantes e reveladoras de novos conceitos, graças ao reexame das suas naturezas múltiplas,
enfocando-se não somente os aspectos da dominação e da subjugação, mas também as muitas
variações
da
questão
escamoteadas
no
interespaço
entre
o
binarismo
“dominação/subjugação”.
Não se pode negligenciar aqui que até chegarmos a este estágio de pensamento sobre
essas relações foi necessário que a história mundial testemunhasse diversos acontecimentos,
muitos deles sangrentos, para que os avanços políticos e sociais provocados pela emancipação
político-administrativa de várias ex-colônias tivessem condições de se consubstanciar.
Contudo, desde o final do século XIX, o poderio antes quase que inexpugnável dos grandes
impérios começou a dar sinais de exaustão.
Com efeito, de acordo com Benjamin Abdala (1998, p. 1502), no período que vai de
1830 a 1914, tivemos a última grande fase do processo colonialista, que se vinculou
intimamente à expansão demográfica e à Revolução Industrial. Nesse período verificou-se o
estabelecimento definitivo dos vários impérios europeus pelo mundo afora, os quais atingiram
dimensões geográficas e estatísticas inegavelmente impressionantes. O império britânico
atingiu a marca de trinta e cinco milhões de quilômetros quadrados, seguido pelo império
francês com os seus doze milhões. Se usarmos uma visão de conjunto, por volta do final do
período assinalado acima, os impérios britânico, francês, belga, holandês, germânico e
italiano constituíam um bloco de duzentos milhões de europeus dominando setecentos
milhões de pessoas.
15
Acreditamos que somente estes fatos históricos e estatísticos recém-evocados já
seriam suficientes para que as reavaliações e o reexame das múltiplas questões suscitadas pelo
colonialismo e pelo pós-colonialismo merecessem um lugar de ainda mais destaque nas
discussões contemporâneas sobre a cultura, a literatura, a história, as identidades e os direitos
humanos, dentre uma série de outros campos, ao invés de se tentar solapar esse tipo de
discussão, como o fazem muitos críticos ácidos que não vêem utilidade em se reabrirem certas
chagas da humanidade que, por motivos ideológicos, se esforçam para apagar da nossa
memória.
Aproveitando ainda mais um pouco a esteira de considerações levadas a efeito por B.
Abdala, podemos enfocar o aspecto e o período que nos interessa aqui mais de perto, a época
turbulenta da segunda década do século XX, em que as bases do império colonialista
começaram, de fato, a ruir:
A partir de 1920, a crise final dos impérios coloniais eclodiu. Os clamores por
emancipação política e independência da parte dos povos colonizados, associados aos
problemas gerados pelos custos financeiros de se manterem colônias que muitas vezes
não mais produziam lucros para a metrópole, facilitaram o enfraquecimento do
sistema colonial, principalmente após 1945. Em três décadas (1945-1975), sob o
choque provocado pelos movimentos nacionalistas e a reestruturação das políticas
colonialistas, os impérios coloniais começaram a se desfigurar. As velhas estratégias
de dominação e exploração direta e arrasadora dos primórdios do passado colonialista
passaram a dar lugar a formas novas e mais sutis de dominação, mas que nem por isso
podem ser consideradas menos cruéis (ABDALA, 1998, p. 1502-1503).
Em complemento às palavras recém-citadas de Abdala, Angelika Bammer diz-nos que
todo o tumulto que se instalou nos territórios dominados pelas antigas metrópoles de certa
forma gerou grandes movimentações e deslocamentos de grupos, indivíduos e povos por todo
o século XX, como nunca se havia registrado na história da humanidade. Bammer refere-se à
separação das pessoas das suas culturas nativas tanto pelo deslocamento físico para outras
áreas (como refugiados, imigrantes, migrantes, exilados ou expatriados), quanto pela
imposição colonial de uma cultura estrangeira (que ela denomina “displacement”), como uma
16
das experiências mais traumáticas e formativas do século XX. Ela afirma que quaisquer que
sejam os cálculos estatísticos, os números são alarmantes. Somente para citar um exemplo,
como o do deslocamento de grupos humanos em conseqüência das perseguições nazistas
propriamente ditas e da Segunda Guerra Mundial, Bammer estima que, durante os anos da
dominação de Hitler, mais de trinta milhões de pessoas foram forçadas a abandonar os seus
países, enquanto que a distribuição populacional da Europa depois do final da Segunda
Guerra ocasionou a migração permanente de uma outra leva estimada em vinte e cinco
milhões de pessoas. Por fim, Angelika Bammer dá uma informação vital acerca desses
deslocamentos quando também os associa aos efeitos das políticas coloniais e pós-coloniais,
como se verifica no trecho abaixo2:
Os dados referentes aos refugiados registram uma história semelhante. Além das
guerras e dos ditos desastres naturais, a combinação das práticas coloniais e
imperialistas, executadas numa escala de abrangência internacional, e das
discriminações étnicas, religiosas e raciais praticadas e sancionadas pelo Estado
dentro dos próprios países de origem dos perseguidos tornaram a migração e a
expulsão em massa de pessoas uma característica “natural” e familiar das políticas
domésticas e internacionais do século XX. 3
Bammer ainda ilustra a situação com mais dados impressionantes ao afirmar que o
século XX testemunhou o maior número de refugiados jamais registrado oficialmente pela
História – entre sessenta e cem milhões, desde 1945. Com relação ao caso das pessoas que,
embora não expulsas, são obrigadas a se deslocar dentro dos seus próprios países por
processos de colonização interna ou externa, os dados são alarmante, mas imprecisos. Por
exemplo, segundo a autora, nem todos os vinte e três milhões de indivíduos que viveram sob
o governo imperial francês na Indochina, nem tampouco os trezentos e quarenta milhões de
2
A maior parte das traduções das referências bibliográficas e citações em língua estrangeira é do autor da Tese.
Quando este não for o caso, inserir-se-á nota de rodapé indicando a autoria da tradução em questão (N. do A.).
3
No original em inglês: “Refugee counts tell a similar story. In addition to wars and so-called natural disasters,
the combination of colonial and imperialist practices carried out on an international scale, and state-sanctioned
ethnic, religious, and racial discrimination practiced intranationally have made mass migration and mass
expulsion of people a numbingly familiar feature of twentieth-century domestic and foreign policy” (BAMMER,
1994, p. xi).
17
colonizados sob o domínio inglês no subcontinente indiano podem ser considerados como
“deslocados” pelo governo colonial, mesmo que se entenda “deslocamento” de uma forma
metafórica.
Como se percebe, as condições gerais de vida sempre foram difíceis e tortuosas para a
maioria dos povos que vivia sob o domínio implacável das nações imperialistas, tendo que
amargar uma longa “via crucis” até a conquista da sua emancipação política. Destacamos,
dentre várias dessas histórias de emancipação, a da Índia, a maior e, quiçá, a mais importante
colônia inglesa desde os primórdios do Império Colonial Britânico.
A emancipação política da Índia, conseguida em 1948, somente não foi mais
traumática devido à firme e decisiva ação do seu famoso líder político e espiritual, Mahatma
Gandhi, defensor da política de resistência pacífica e da desobediência civil, claramente
inspirada nos princípios filosóficos do Transcendentalismo norte-americano de Ralph Waldo
Emerson e Henry David Thoreau.
Assim, como o foco principal desta Tese visa buscar uma base teórica de sustentação
para se detectarem nas produções literárias coloniais e pós-coloniais indícios de aquisição de
agenciamento, voz e poder por parte do colonizado, principalmente através da aquisição do
inglês, enquanto língua do dominador, para subverter a lógica da dominação imperialista,
podemos, de início, usar o exemplo de Gandhi para ilustrar a questão por um viés histórico.
Nascido na Índia em 1869, ele estudou Direito em Londres de 1888 a 1891. Residiu na África
do Sul, de 1893 a 1914, onde tomou a defesa da comunidade indiana, sujeita a um racismo
que as autoridades tendiam a oficializar, e publicou, em 1909, A Autonomia da Índia, livro
que contém um verdadeiro repositório contra o materialismo ocidental e contra a violência.
Essa doutrina era baseada no Hinduísmo, no Cristianismo, no Transcendentalismo (como já
afirmamos anteriormente) e em pensadores como Leon Tolstói. De volta à Índia, em 1915,
ainda permaneceu fiel aos ingleses por alguns anos, até o Massacre de Amritsar, em 1919. A
18
partir de então, engajou-se em várias lutas, sem abrir mão da sua filosofia pacifista, sendo
aprisionado várias vezes, mas vendo também evoluir o processo emancipatório indiano, até
que um fanático lhe tirou a vida, em 1948.
Ora, a lição de Gandhi parece-nos suficientemente emblemática para fazer parte desta
Introdução, na medida em que ele aprendeu e dominou a língua inglesa muito bem, chegando
a se graduar em Direito na sede da metrópole e acumulando também a vivência em outra
nação que igualmente sofrera os efeitos do colonialismo e do imperialismo inglês. Em suma,
Gandhi teve uma vida de preparação e estudo dos meios e da ideologia do dominador até não
ver mais alternativa de conduta que não a de lutar, mesmo que pacificamente, contra os
métodos sangrentos e desumanos do Império Britânico.
A história real de Gandhi e da emancipação da Índia encerra a mesma tônica que
pretendemos se materialize nesta Tese: o estudo de algumas das estratégias que autores e
autoras têm usado, principalmente na reescritura e reexame de obras ditas canônicas, que
deixem transparecer indícios de que o sujeito subalterno passa a dominar a linguagem do
dominador, não para docilmente lhe cumprir os desígnios, a exemplo do que acontece com
Sexta-Feira, em Robinson Crusoe, mas para subverter a lógica da dominação via língua,
literatura e cultura impostas (atitude cujo embrião já é perceptível nos impropérios do Caliban
de A Tempestade).
Ainda a título de ilustração dos estratos históricos que dão conta dos mecanismos da
dominação, podemos evocar o recuado fato do expansionismo do Império Romano na
Antiguidade, que se alastrou por imensas extensões territoriais e teve na conquista dos gregos
um dos momentos talvez mais caracteristicamente singulares nas relações dominadordominado. Essa alegada peculiaridade se traduz pelo fato de que, de um modo geral, os
romanos impunham a sua dominação eminentemente militar, que precedia a introdução da
administração burocrática, legislativa e política nas regiões dominadas, porém mantinham
19
certa tolerância quanto às práticas culturais e religiosas dos povos dominados, cuja
comprovação é também perceptível no caso do povo Hebreu, antes e depois de Cristo.
Todavia, mais singular ainda se configura o caso da conquista da Grécia, no qual, em
contrapartida ao exercício do domínio militar sobre os gregos, os romanos não puderam se
isentar da dominação cultural e religiosa helênica que naturalmente se infiltrou e se impôs no
seu império, com a incorporação das divindades do panteão grego, mesmo que renomeadas, e
com uma ou outra modificação em seus papéis e funções mitológicas. Além desse fato
relevante, outros aspectos da cultura helênica foram similarmente absorvidos pela sociedade
romana, principalmente com a utilização de preceptores gregos para a educação dos jovens
(DURANT, 2001, p. 158-159). Se considerado à luz dos Estudos Culturais, tal estado de
coisas já aponta para certas formas de hibridismo e para a propalada indissociabilidade entre
as identidades/alteridades de colonizadores e colonizados, conforme figura nos postulados das
Teorias Pós-Coloniais (ASHCROFT, 2002, p.11 e GANDHI, 1998, p. 11).
Já quanto ao período que vai do século XI, na Idade Média, até o começo do século
XVI, as estratégias de dominação colonial se desenvolveram sob a égide de grandes
companhias comerciais, criadas e mantidas pelos principais países colonizadores e
importantes cidades européias, tais como Veneza, Gênova e Pisa. Entretanto, foi a partir do
século XVI em diante que o colonialismo começou a assumir formas mais irregulares e
variadas, devido ao avanço e à expansão das então nascentes potências colonizadoras, tais
como Espanha, Portugal, França, Holanda e Inglaterra, que começaram a estender os
tentáculos do seu poderio para regiões longínquas e outros continentes, como a África, a Ásia
e as Américas, e, mais tarde, a partir do século XIX, também para a Oceania. Os resultados de
tais ações de dominação quase sempre eram precedidos ou concomitantes a um “esforço
civilizatório” cujo objeto eram os nativos dessas terras, os quais eram comumente designados
como animais - tidos como bugres e desprovidos de alma. A situação era de tamanha
20
intolerância com relação às diferenças do “Outro”, enquanto colonizado, que, por vezes, a
própria religião européia hegemônica, velada ou explicitamente, endossava as razões para a
alegada inferioridade dos povos conquistados, como no caso da América espanhola e da
América portuguesa.
Como era de se esperar, os países que haviam adotado as visões reformistas não se
diferenciavam muito dos católicos quanto a essas práticas colonialistas. Fica claro, então, que
as ações de conversão para o Cristianismo visavam mais a uma “domesticação” do que
consideravam ser tendências selvagens, incivilizadas e beligerantes dos nativos do que a uma
real intenção de salvação espiritual, com o apagamento das práticas religiosas, ritualísticas e
culturais autóctones. Em suma, no caso das colônias de países católicos, a despeito da
sinceridade de alguns dos religiosos envolvidos nos esforços de conversão e civilização dos
ditos índios, nativos ou selvagens – fato que não se pode negar – a principal finalidade dessa
domesticação e pacificação dos aborígenes era desprover-lhes dos meios de resistência contra
o efeito de “rolo compressor” que tinham sobre eles as ações mercantilistas coloniais. Com
relação aos países protestantes, dos quais podemos ter a Inglaterra como referência
emblemática, o apagamento da cultura e das práticas religiosas dos povos colonizados se
processou pela via do ensino da língua inglesa para a leitura dos textos bíblicos.
Fazendo uma pequena digressão para ilustrar o fato de que as práticas coloniais
realmente muito se assemelhavam, a despeito de o colonizador ser católico ou protestante,
podemos ainda rememorar o caso do passado colonizador das Américas espanhola e
portuguesa, em que também encontramos exemplos bastante traumáticos de carnificina e de
violência desmedida contra os colonizados, como o dos lamentáveis e vergonhosos episódios
ocorridos na missão jesuítica dos Sete Povos das Missões, em área do sul do Brasil e países
vizinhos. Infelizmente, a destruição dessa Missão pela sanha imperialista desmedida não
21
parece se ter inscrito como símbolo de vergonha de uma forma mais peremptória como o
episódio merecia.
Ainda a respeito da alegada superioridade das nações européias, pretexto constante
para dominar e civilizar os povos colonizados de todos os continentes, vale ressaltar as
palavras do crítico e pensador cubano Roberto Fernández Retamar, em que ele expõe as
feridas abertas por esse trágico encontro de culturas tão díspares e desconstrói algumas
versões históricas oficiais que não focalizam o massacre dos colonizados com a devida
atenção:
Com relação ao nascimento do capitalismo, muitos fatos devem ser enfocados.
Primeiramente, a invasão da América que se seguiu a 1492; a conquista e o
genocídio, monstruosos como se mostraram; os milhões de pessoas arrancadas da
África, e posteriormente de outras regiões e enviadas para as colônias para trabalhar
como bestas; as diversas e ulteriores formas de exploração (...) uma história de
atrocidade, rapina, desprezo, arrogância, ganância desmedida, espoliação ecológica,
desprezo por outras culturas e intolerância a religiões não-cristãs. 4
É digno de nota, ainda, citar que Fernández Retamar desconstrói uma série de outras
crenças e pressuposições, oriundas de leituras históricas que sempre privilegiaram a versão
dos colonizadores a respeito dos horrores verificados em nome das ditas práticas civilizatórias
cristianizantes. Ele cita, por exemplo, que embora a visão eurocêntrica hegemônica tenha
admitido que os centros urbanos europeus dos séculos XIV, XV e XVI sediassem as cidades
mais desenvolvidas de então, essa visão, além de extremamente tendenciosa, escamoteia
situações reais não enfatizadas em muitos registros históricos do passado. Contudo, hoje já
figuram em certas edições informações tais como a que dá conta de que, como observa o
crítico, em 1492, na época da dita “descoberta”, estima-se que existiam em terras americanas
4
No original em inglês: “In relation to the birth of capitalism, several facts must be pointed out. First, the
European invasion of America following 1492; the conquest and the genocide, monstrous as they are; the
millions wrenched from Africa, and later from other places, enslaved and sent to work like beasts; the diverse
and ulterior ways of direct or indirect exploitation; (...) a story of atrocity and rapine, of arrogance, greed and
ecological despoliation, of hubristic contempt for other cultures and intolerance of non-Christian faiths”
(FERNÁNDEZ, 1997, p. 164).
22
cerca de dez milhões de habitantes espalhados pelas Américas. De igual modo, o
conglomerado urbano mais populoso do mundo conhecido não se situava na Europa, pois era
a cidade de Tenochtitlán, onde hoje fica a Cidade do México, novamente agora a mais
populosa do planeta. Além disso, doenças como a peste e problemas como a indigência
humana e a escassez de recursos naturais e de comida, que campeavam na Europa, eram
inexistentes nas Américas e especialmente em Tenochtitlán, onde algumas das nações
aborígenes tinham sistemas de plantio irrigado, esgoto e água potável, estradas e sistemas
políticos e religiosos organizados, além de outros avanços, não compartilhados pelos
“civilizados” europeus. Cabe, aqui, então, perguntar: Quem seriam, de fato, os civilizados e
quem seriam os bugres, os ditos incivilizados?
Entretanto, tal estado de coisas ainda é passível de se submeter a uma outra série de
considerações atinentes aos Estudos Culturais contemporâneos, que dão uma contribuição
vital para se entender a complexidade das relações de dominação política e cultural implícitas
nas práticas coloniais e pós-coloniais, notadamente no que diz respeito a questões de raça,
gênero, alteridade, identidade e etnia. Tais questões surgiram com a inauguração da ênfase
nos Estudos Culturais por volta da década de 1950, nos meios intelectuais ingleses, e têm a
função precípua de reexaminar as relações colônia/metrópole, assim como a de evidenciar e
denunciar essas já aludidas formas sutis de dominação imperialista contemporânea, como nos
ensina Edward Said em Cultura e Imperialismo. Para Said (1993, p. 9), o império é a relação,
formal ou informal, com que um Estado efetivamente controla a soberania política de uma
outra sociedade politicamente organizada. Esse processo pode se consubstanciar pela força ou
colaboração política, dependência econômica, social ou cultural. Enfim, Said afirma que o
imperialismo é simplesmente o processo ou política de se estabelecer e manter um império.
Contemporaneamente, o colonialismo direto praticamente desapareceu; o imperialismo, como
devemos encará-lo atualmente, ainda subsiste onde ele sempre esteve, em uma esfera cultural
23
geral, assim como nas práticas específicas de certos procedimentos políticos, ideológicos,
econômicos e sociais.
É nessa altura, então, que resolvemos começar a emitir alguns pontos de vista que já
aproximam as considerações teóricas ainda incipientes desta Introdução às referências às
escritoras que desafiam com a sua produção as questões imperialistas. Bharati Mukherjee, por
assim dizer, especializou-se em histórias de sobrevivência protagonizadas por imigrantes
intrépidos. No seu primeiro romance, The Tiger’s Daughter, de 1971, por exemplo, ela retrata
Tara Banerjee Cartwright, uma mulher indiana oriunda da região de Bengala, bem sucedida
na vida e educada no Ocidente, cujas constantes tensões com referência aos seus papéis como
mulher bengali e esposa de um americano sobrepujam os bem intencionados esforços para
entender o seu próprio mundo de diversidades culturais. Em Jasmine, de 1989, e Holder of
The World, de 1993, descrevem-se as dificuldades do sujeito feminino enquanto imigrante e
engajado na busca de identidade, assim como o sentido de segurança no lugar em que se
habita. Em ambos os romances, a busca de identidade e os deslocamentos diaspóricos
problematizam a discussão da questão pós-colonial e a expandem para domínios sobremaneira
violentos e grotescos, embora bastante reais, denotando as tensões geradas pelas colisões de
culturas diferentes.
É interessante ressaltar que no caso de Mukherjee as diásporas experimentadas por ela
mesma devem ter exercido algum tipo de influência na configuração das suas personagens
itinerantes. Com efeito, segundo nos afirma Peonia Viana Guedes (2001, p. 230), Bharati
Mukherjee nasceu no seio de uma família de classe média alta em Calcutá, Índia, em 1938, e
recebeu uma educação de elite em um convento dirigido por freiras irlandesas. Após a sua
formatura no ensino médio, passou alguns anos na Inglaterra e na Suíça e, ao retornar para a
Índia, estudou nas Universidades de Calcutá e de Baroda, onde terminou o Mestrado em
Inglês e Cultura Indiana Antiga. Em 1961, ela foi aos Estados Unidos participar do “Writer’s
24
Workshop” e receber o grau de Doutorado pela Universidade de Iowa. De 1966 a 1981,
Mukherjee e o marido, o escritor canadense Clark Blaise, viveram no Canadá. Depois desse
período, o casal emigrou para os Estados Unidos. Desde então, Mukherjee tem escrito livros
de ficção e não ficcão, tem recebido prêmios literários, lecionou redação criativa nas
Universidades de Colúmbia e de Nova Iorque, e atualmente leciona na Universidade da
Califórnia, em Berkeley.
Margaret Atwood, considerada uma das mais importantes autoras canadenses da
atualidade, também desafia as representações subalternas da mulher, enquanto critica
severamente os mitos pioneiros e fundacionais do Canadá, assim como os mitos culturais
quotidianos que submetem a mulher a papéis de subalternidade anteriormente não
questionados. De acordo com Claire Buck (1992, p. 301), Atwood conjuga a excelência da
sua produção intelectual a um elevado grau de sensibilidade para com as questões sociais e
humanas, trabalhando incansavelmente como ativista e porta-voz de várias causas sociais,
sendo inclusive membro ativo de instituições como a Anistia Internacional, por exemplo.
Conseqüência natural disso, a produção literária de Atwood tem influenciado enormemente a
escrita feminina contemporânea, dentro e fora do Canadá. Em 1970, ela reescreve Roughing
in the Bush, or Life in Canada, da autora canadense do século XIX Susanna Moodie. Nessa
reescritura, ela desafia o estereótipo da mulher colonizadora rude, que predominara na
literatura canadense até então. Em The Journals of Susana Moodie (1970), Atwood produz
um moderno trabalho de conscientização que suplanta as meras características de um diário
realista, sublinhando temas feitos populares por Moodie e todos os escritores que nela se
miraram. Tais temas incluem maridos ausentes, mulheres que sobrevivem bravamente a toda
sorte de tragédias, crianças perdidas e frustrações, de modo geral.
Em um outro romance de sua autoria igualmente importante, Surfacing, de 1972,
Atwood apresenta uma história cheia de pujança, que utiliza o tema da sobrevivência, mas
25
também investiga e desafia os estereótipos femininos canadenses, classificando os Estados
Unidos e as maneiras americanas como destrutivos, hipócritas e superficiais. Nesse romance,
a mulher rejeita os homens americanos, que são descritos como subproduto da cultura popular
e precursores do tipo de turista que procura experiências diferentes vindas das regiões remotas
das áreas colonizadas, sublinhando uma visão do Canadá como nação pós-colonial. Além
disso, a jornada da protagonista sem nome para achar o lócus apropriado para a sua
“desconstrução psicológica e emocional” (movimento do eu estereotipado para a
individualidade ou autoconstrução) é retratada como uma jornada de volta ao passado, à
natureza e ao inconsciente (WHEELER, 1997, p. 270-271).
Todavia, segundo nossa interpretação, Jasmine e Alias Grace apresentam
possibilidades mais significativas para se proceder a uma análise comparativa das literaturas
produzidas respectivamente por suas autoras, com a finalidade de se constatar a representação
literária da superação do estigma de Caliban, por parte do sujeito pós-colonial, como
descreveremos nos parágrafos seguintes.
Muito embora existam diferenças fundamentais na abordagem da mulher enquanto
sujeito pós-colonial nos dois romances em questão, assim como diferenças significativas na
condução da narrativa, em contrapartida há uma grande quantidade de pontos comuns nas
trajetórias das suas protagonistas.
Em vista disso, a escolha das palavras apropriadas em um trabalho acadêmico que
pretende lidar com as delicadas e complexas questões concernentes a obras literárias pósmodernas que apresentam tal natureza de especificidade deve ser um item tratado com muita
cautela. Assim, quando nos propomos levar a efeito esta Tese comparativa sobre Jasmine e
Alias Grace, enfocando especificamente as suas vertentes de interpretação enquanto formas
de escrita pós-coloniais, e, desse modo, aproximando as representações das protagonistas das
imagens suscitadas pelo Caliban shakespeariano, se faz necessário explicar por que termos
26
como “sombra”, “legado” e “superação de subalternidade” serão, aqui, tão fortemente
associados a Caliban.
De imediato, acorrem-nos as idéias de Gayatri Chakravorty Spivak contidas no artigo
“Can the Subaltern Speak?” a respeito das suas considerações sobre a condição do sujeito
pós-colonial feminino, que serão citadas em mais de um capítulo nesta Tese, e das quais já
antecipadamente aproveitamos a noção básica de que a mulher sempre amargou a
desvantagem de estar duplamente excluída nas sociedades coloniais, por razões políticas e de
gênero, o que a mergulha em profundas “sombras” e lhe confere a condição de apagamento
identitário. Dessa maneira, um dos primeiros motivos para a utilização de termos tais como
“sombra” é justamente o espectro variado de possibilidades de interpretação das situações de
exclusão e de segregação que afetam tanto Caliban, como um dos primeiros ícones literários
do colonizado subalterno, quanto Jasmine e Grace Marks, entendidas como “herdeiras” dos
legados de Caliban nas literaturas de língua inglesa da contemporaneidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, poderíamos, de imediato, enfatizar as possíveis
conotações negativas do vocábulo “sombra”, recordando-nos das associações de idéias que se
tornam possíveis a partir do seu desdobramento semântico para “escuridão”, por exemplo, - o
espaço onde a luz não alcança; o espaço da negatividade, da demonização e da reiteração da
suposta inferioridade étnica e da nulidade da subjetividade do subalterno. Fazendo uma
incursão mais profunda nas questões de identidade e alteridade, “ser uma sombra” equivale a
não ser o sujeito, o ser, a personalidade, aquele que possui identidade e individualidade, mas
uma mera extensão de um “Outro” opressor e obliterador de qualquer esforço de construção
de subjetividade desse indivíduo apagado e retido nas armadilhas que a subalternidade
imposta lhe cria. Não seria preciso nos alongarmos nesse ponto, bastando essas breves
considerações preliminares acerca de “sombra”, para que ilações da mesma natureza
referentes a “legado” e “subalternidade” se subordinem às significações a que “sombra” nos
27
reporta. De qualquer forma, voltaremos a essas argumentações em momentos mais
apropriados no decorrer da Tese.
Dessa forma, optamos por abordar a temática da aquisição de agenciamento, poder e
voz por parte do sujeito subalterno enquanto mulher e colonizada em Jasmine e Alias Grace,
– com o conseqüente afastamento dos tradicionais estigmas de Caliban – , através da divisão
desta Tese em cinco capítulos. No primeiro deles, intitulado “Considerações Preliminares”, a
nossa intenção principal é propor uma reflexão acerca das mudanças de parâmetros que
marcaram a Teoria, a Cultura, a Literatura, a Lingüística e outros campos do saber, quando da
exaustão do pensamento estruturalista e do surgimento de outras vertentes interpretativas dos
fenômenos sociais e culturais que nos cercam. Nesse capítulo inicial também se pretende
tanto articular as bases teóricas principais que nortearão as argumentações pela Tese afora,
como evidenciar a fluidez, a elasticidade e o caráter de indeterminação das correntes pósestruturalistas, que conseqüentemente deram uma contribuição “sui generis”, por assim dizer,
para o entendimento e a concepção das novas formas de subjetividade da contemporaneidade,
naturalmente afastadas das concepções reducionistas e excludentes herdadas do pensamento
iluminista. Todavia, deve-se aqui registrar que as concepções teóricas abordadas não se
concentram exclusivamente nesse capítulo, pois por todos os outros recorremos de novo às
noções já arroladas no Capítulo 1, assim como evocaremos o concurso de novos conceitos,
sempre que se fizer necessário.
No segundo capítulo - “O Papel da Fragmentação na Narrativa e na Problematização
da Subjetividade de Jasmine e Grace Marks” -, pretendemos demonstrar a estreita associação
entre a fragmentação estrutural e semântica dos dois romances (a desarrumação seqüencial
lógico-cronológica dos eventos narrativos, o combate à tradicional ordem dos eventos do
enredo em começo, meio e fim, e o questionamento implícito do que seja o romance enquanto
gênero narrativo) e a fragmentação identitária das duas protagonistas. Em outras palavras,
28
nesse capítulo já começamos a desconstruir o sentido negativo de que o termo “fragmentação”
possa estar imbuído, mostrando que as várias alteridades das protagonistas, expostas lado a
lado com as “fraturas” e descontinuidades do texto, constituem, em última análise, fatores de
enriquecimento identitário e promotores de uma subjetividade positiva em processo de
formação.
Já o terceiro capítulo, que recebe o título “A Contribuição dos Jogos de Sentidos
Ficcionais para o Processo de Formação Identitária das Protagonistas em Jasmine e Alias
Grace”, reveste-se também de fortes intenções desconstrutivistas, uma vez que temos ali a
intenção de trazer contribuições teóricas do passado, como as de Henry James e Schlegel,
desautorizando assim posições conservadoras que visam a negar a qualidade literária de obras
contemporâneas, pelo fato de suas temáticas poderem estar imbricadas com questões de alta
relevância no mundo de hoje, como as atinentes aos Estudos Culturais, por exemplo. No
Capítulo 4 – “A Literatura Colonial e Pós-Colonial em Língua Inglesa como Instâncias de
Enunciação e Resistência do Subalterno: de Caliban a Jasmine e Grace Marks”, objetivamos
estabelecer uma larga correlação intertextual entre algumas obras literárias em língua inglesa,
escritas no passado ou na atualidade, e Jasmine e Alias Grace, com o fim de, através desse
diálogo entre as obras, avaliar os silêncios e as enunciações discursivas que acabam por
realçar a efetividade do processo de construção identitária de Jasmine e Grace Marks. Para
executar essa tarefa, começamos a usar a imagem do Caliban de A Tempestade, realçando o
seu potencial subversivo, já um indício mínimo de conquista (mesmo que gradativa) de
agenciamento por parte do colonizado subalterno.
No Capítulo 5, finalmente, – “A Representação da Superação da Subalternidade de
Jasmine e Grace Marks Enquanto Sujeitos Pós-Coloniais: A Reinvenção do Potencial de
Caliban na Trajetória de Subjetificação” – pretendemos unir as pontas de muitas das diversas
instâncias em que as personagens são representadas positivamente, como resultado da
29
conquista de agenciamento ou de definições e autodefinições discursivas que apontam para a
emancipação identitária. Por fim, com a Parte intitulada “Considerações Finais”, pretendemos
duas coisas, basicamente: primeiro, ousamos substituir a tradicional terminologia
“Conclusão”, para adotarmos um mínimo de coerência com as Teorias Pós-Estruturalistas que
utilizamos por toda a Tese, bem como para nos coadunarmos mais com as finalizações dos
dois romances, que não “concluem” nada, a rigor, de uma forma peremptória com relação às
questões identitárias dos sujeitos pós-coloniais femininos que retratam; e, em segundo lugar,
tentamos juntar, de forma sucinta, as diversas referências e idéias desenvolvidas por toda a
Tese para corroborar a efetividade da nossa hipótese principal.
Em vista de tudo isto, os fundamentos teóricos desta Tese se nortearão pelos vieses
críticos do Pós-Modernismo, do(s) feminismo(s), dos Estudos Culturais e das Teorias PósColoniais. Dessa forma, vários textos e idéias de teóricos como Jacques Derrida, Fredric
Jameson, Ania Loomba, Gayatri Spivak, Edward Said, Homi Bhabha, Stuart Hall, Luce
Irigaray, Michel Foucault, Linda Hutcheon e Jean-François Lyotard, dentre outros, serão, de
forma geral, utilizados para subsidiar teoricamente as argumentações do trabalho.
30
CAPÍTULO 1
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 – Considerações Sobre o Pós-Estruturalismo, o Pós-Modernismo e a
Desconstrução
Neste capítulo inicial, antes de começarmos a abordagem mais direta da questão
crucial da representação literária da emancipação da subjetividade das protagonistas Jasmine e
Grace Marks, decidimos enfocar alguns dos mais emblemáticos aspectos do pensamento
estruturalista e das posições críticas que nele se têm inspirado, destacando-se, entre eles, o
generalizado
ímpeto
revisionista
e
desconstrucionista
do
Pós-Estruturalismo/Pós-
Modernismo. Desse modo, como desdobramento dessa abordagem de ruptura, não
poderíamos negligenciar a contribuição fundamental dos Estudos Culturais, para promover a
visibilidade das minorias e dos seus problemas, assim como para realçar as interseções
relevantes entre as Teorias Pós-Coloniais e as Teorias Feministas. Como todos esses aspectos
são amplamente difusos e não sujeitos a rotulações simplistas, decidimos dar início às
presentes considerações pela teia de relações envolvendo o Pós-Estruturalismo com outras
posturas críticas e filosóficas surgidas simultaneamente ou até mesmo em decorrência do
pensamento pós-estruturalista. Assim sendo, uma evidência primária dessas inter-relações e
imbricamentos já se faz evidente pelo fato de que o termo “pós-estruturalismo” começou a ser
usado teoricamente na década de 1970, juntamente com o “pós-modernismo” de Jean
Baudrillard e Jean Françoise Lyotard, a “pós-crítica” de Fredric Jameson e a “desconstrução”
de Jacques Derrida (BAROSS, 1994, p. 158) – ou seja, uma intensa rede de relações
31
entrecruzadas de diversos ramos do saber já começa a se imbricar e a se problematizar para
fornecer posições históricas, sociológicas, filosóficas, lingüísticas, literárias, psicanalíticas e
políticas (sem prejuízo de outras categorias não mencionadas aqui) que apontam para uma
miríade de possibilidades de significados e interpretações dos diversos fenômenos (de várias
naturezas) que giram em torno das atividades humanas, em função das novas formas de se
pensar o mundo advindas desses posicionamentos, de questionamentos e reexames
conceituais.
A despeito de ter em sua agenda a intenção de oferecer propostas alternativas às
limitações das concepções fechadas e reducionistas do Estruturalismo, o Pós-Estruturalismo
não constitui uma escola de pensamento unificada ou até mesmo um movimento. A esse
respeito, Patrícia Waugh (1998, p.177) emite opinões notáveis e esclarecedoras, ao comparar
as agendas do pós-modernismo (que aqui trataremos como equivalente a “pósestruturalismo”) com as do feminismo. Diz-nos ela que o termo pós-modernismo estabeleceuse definitivamente graças a uma tomada de consciência típica dos eventos de fim de milênio,
juntamente com a reflexão sobre todos os outros termos e conceitos encabeçados pelo prefixo
“pós”, a partir dos anos de 1970 e 1980 em diante: pós-industrialismo, pós-marxismo, póshumanismo e, até mesmo, pós-feminismo. Entretanto, ao estabelecer um confronto entre “pósmodernismo” e “feminismo”, o discurso de Waugh dá conta das dificuldades de se fechar uma
conclusão definitiva acerca do que seja “pós-modernismo”, como se retrata a seguir:
Um problema crucial em se avaliarem as relações entre o pós-modernismo e o
feminismo é que, embora o feminismo possa, em termos gerais, ser definido como
um movimento político cujos objetivos são, em última análise, emancipatórios, o
pós-modernismo não pode ser descrito de forma tão simples. O termo pósmodernismo tem sido utilizado para designar um espectro surpreendentemente
amplo de práticas culturais, escritores, artistas, pensadores e opiniões teóricas
relacionadas com a modernidade tardia. O tema também se refere a um sentido de
mudanças radicais nas formas de pensamento que nós herdamos do Iluminismo
europeu do século XVIII. 5
5
No Original em inglês: “A Crucial problem in trying to assess the relations between postmodernism and
feminism is that, although feminism can be broadly defined as a political movement whose objectives are
32
Entretanto, as surpresas que o pós-modernismo nos reserva não param por aí; por
exemplo, um fato curioso que surge dessa indeterminação pós-estruturalista é que os autores e
teóricos mais comumente classificados como “pós-estruturalistas”, como Jacques Derrida,
Michel Foucault e Roland Barthes, raramente aceitavam essa rotulação para os seus trabalhos
exatamente por admitirem que não seguiam nenhuma doutrina específica e que não estavam
comprometidos com nenhum método específico de especulação, mesmo porque tais possíveis
comprometimentos iriam de encontro aos princípios difusos, elásticos e amplamente
inclusivos (e tão “não essencialistas” quanto possível), típicos das argumentações pósestruturalistas. Neste ponto, fazemos uma pequena digressão, recordando algumas palavras de
Linda Hutcheon, em que ela expõe a necessidade de uma vigorosa teorização do PósModernismo 6, citando em seu artigo “Beginning to Theorize Postmodernism”, o fato de que
com ela concordam outros críticos e teóricos a esse respeito, como o renomado Ihab Hassan.
Ambos apontam para o fato de que mesmo correndo o risco de se elaborarem definições para
o termo/movimento (o que seria tão indesejável para os teóricos do Pós-Modernismo, por
“essencializar” e delimitar os termos “pós-estruturalismo” e “pós-modernismo”), há a
necessidade premente desse risco para se evitar outro perigo iminente: a transformação do
termo em clichê ou neologismo, negando-lhe a possibilidade do “status” de uma conceituação
cultural adequada.
Deixando as polêmicas conceituais à parte, é digno de registro que os posicionamentos
céticos e as atitudes subversivas da maioria dos teóricos e críticos pós-estruturalistas em
relação aos legados culturais da nossa sociedade e ao “projeto de modernidade”
indubitavelmente originaram uma tensa rede de inter-relações entre trabalhos possuidores de
ultimately emancipatory, postmodernism cannot be described so easily. The term ‘postmodernism’ has now
come to designate a bewilderingly diverse array of cultural practices, writers, artists, thinkers and theoretical
accounts of late modernity. It also refers to a more general sense of radical change in the ways of thinking we
have inherited from the eighteenth-century European Enlightenment (WAUGH, 1998, p. 177).”
6
Nesta referência (como será por toda a Tese), usamos os termos “Pós-Modernismo” como sinônimo de “PósEstruturalismo”, seguindo o que dispõe Irena R. Makaryk e Z. Baross (1994, p. 158).
33
naturezas, contornos, políticas e interesses conflitantes, tais como a crítica à Metafísica, de
Derrida, os questionamentos de Foucault sobre a formação do poder e da episteme e as
críticas feministas radicais ao falocentrismo, de Luce Irigaray e Hélène Cixous, somente para
citar alguns exemplos.
Não constitui então uma grande surpresa o fato de que “pós-estruturalismo” e “pósmodernismo” tornaram-se termos intercambiáveis (BAROSS, 1994, p. 158), sinalizando que,
além do excesso atual de rótulos, a virada para o “pós” no campo da Teoria é comumente
vista como um sintoma do “mal-estar” que o próprio termo denuncia, a saber: “a condição
pós-moderna” de Lyotard, “a era do simulacro” (da “cópia”, da “simulação”, da negação do
“original”), da crise e, na verdade, “do imenso processo de destruição do significado” 7. Ainda
com respeito à virada para o “pós”, temos a seguinte elucidação de Homi K. Bhabha:
É o tropo dos nossos tempos colocar a questão da cultura na esfera do além. Na
virada do século, preocupa-nos menos a aniquilação – a morte do autor – ou a
epifania – o nascimento do “sujeito”. Nossa existência hoje é marcada por uma
tenebrosa sensação de sobrevivência, de viver nas fronteiras do “presente”, para as
quais não parece haver nome próprio além do atual e controvertido deslizamento do
prefixo “pós”: pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-feminismo... (BHABHA,
2003, p. 19). 8
Deve-se acrescer a isto que todos esses fenômenos, condições e situações novas que
são os objetos de estudo desses críticos e intelectuais transcenderam o domínio meramente
teórico e começaram a se manifestar nas várias áreas sociais; ou seja, passou a reinar certa
confusão entre a vida real e a teoria – áreas que até então eram tidas como distintas e
descontínuas. O resultado desse estado de coisas tem enriquecido tanto as áreas de estudo da
Crítica quanto aquelas da Teoria, uma vez que passou a ser possível “ler” as teorias do “pós”
como um diagnóstico de uma época (com a realidade social exercendo o papel de referente
para elas) ou como uma mudança de rumo radical (dirigindo-se ataques contra a representação
7
8
No original em inglês: “The immense process of the destruction of meaning” (BAROSS, 1994, p. 158).
Os destaques no texto são do próprio Homi K. Bhabha.
34
e o referente, por exemplo). De um modo geral, essa situação dá conta do início do
apagamento das fronteiras entre os campos de estudo estabelecidos e dos seus objetos,
realçando as questões palpitantes referentes à intertextualidade e à interdisciplinaridade, que
tanto têm reorientado as áreas de interesse da Literatura Comparada na contemporaneidade.
A confusão entre a vida real e a teoria a que nos referimos no parágrafo anterior ficou
sobremaneira agravada quando alguns estudiosos da cultura do Pós-Modernismo, tais quais
Ihab Hassan, Al Foster e Arthur Kroker, descobriram que o mesmo espírito subversivo
envolvendo a vida real e a Teoria também permeava a Pintura, o Cinema, a Música e a
narrativa de vanguarda, que então passaram a expor os seus artifícios de ilusão para
transgredir e desconstruir uma outra distinção tradicional que ainda estava de pé – aquela
entre o meio e a mensagem. Estava pronto então o campo para que a arte em larga escala
também seguisse os mesmos passos da Teoria, juntando-se a ela no ataque à realidade que já
estava sendo protagonizado não somente pela própria Teoria, mas também pela cultura na era
do Pós-Modernismo. O conseqüente enfraquecimento do real antes perpassado por noções
como “original”, “autêntico”, “referência estável” e “significado” passou a ser duplamente
encarado tanto como uma característica quanto como um efeito dos questionamentos pósestruturalistas, de forma que a propalada “confusão” entre diferentes domínios (significado e
significante, evento e conceito, cópia e original, dentre outros) tornou-se o marco mais
característico do Pós-Estruturalismo.
Ainda com referência ao prefixo “pós”, tornou-se um consenso a importância que
vozes (como as de Nietzsche, Heidegger e Freud), conceitos e correntes do passado (como a
Metafísica Ocidental e o Estruturalismo) têm para a Teoria Pós-Estruturalista. Derrida,
Lyotard e Barthes repetidamente retornam a essa questão para efusivamente rejeitarem
qualquer argumentação que denuncie ou aspire a ultrapassar esses elementos que antecederam
o Pós-Estruturalismo. Isto assim se configura porque as noções do frescor de um recomeço,
35
de superação e de progresso mais se coadunam com o “traço heróico” da Modernidade, como
afirmou Lyotard (1984), e constituem exatamente as noções que as idéias do “pós” têm em
mente desestabilizar. A argumentação deve funcionar aqui como uma “anamnese” do passado
que se notabilize pelo deslocamento e pela ruptura do sistema discursivo. Barthes, que teve
uma trajetória estruturalista, talvez seja o único “pós-estruturalista” de fato, tendo sido o
responsável por colocar a noção da quebra da representação do significado na agenda das
discussões teóricas (BAROSS, 1994, p. 159).
O Estruturalismo causou um grande impacto em dois campos: na Lingüística de
Saussure e na Antropologia de Claude Lévi-Strauss. Embora Lévi-Strauss tenha procurado
desenvolver seus conceitos sociológicos através de um modelo científico análogo em sua
forma à Lingüística, Saussure conferiu uma base sincrônica à Ciência da Linguagem através
da criação de um novo objeto e de uma nova unidade de análise - o signo lingüístico e o
sistema do signo. Tal estrutura era composta de um significante e de um significado separados
por uma barra. O signo então encerrava uma relação arbitrária entre o sinal material (a letra ou
o som) e o conceito imaterial (o significado). Como mais tarde os lingüistas estruturalistas
mudaram o foco da argumentação lingüística do significado para a organização, o significado
deixou de ser visto como intrínseco ao elemento significante. Dessa forma, o significado (o
sentido) dos signos lingüísticos tornou-se perceptível somente através da relação com outros
signos (ou seja, em uma relação opositiva a eles), existindo assim somente na forma da língua
e não em sua substância.
Além do impacto na Lingüística e na Sociologia, o Estruturalismo provocou uma
ruptura no discurso da Modernidade em dois aspectos relevantes. Primeiramente, a estrutura
ou o simulacro de uma função passou a regular todas as aparências – o concreto, o particular e
o histórico. Essa estrutura implicava uma “vantagem” sobre o empírico e o histórico. Então,
uma vez que essa estrutura passou a regular a História, pressupõe-se que ela também a
36
transcendia. Desse modo, a estrutura imobilizou o tempo e “esvaziou” a Modernidade do seu
conteúdo heróico de História enquanto revivescência, renovação, renascença e progresso. Ou
seja, o Estruturalismo então desestabilizou um dos principais pressupostos da Modernidade.
De acordo com a visão crítica de Jacques Derrida (1978) a esse respeito, a estrutura entendida
como um campo fechado não admite nenhum lugar secreto (internamente), nem tampouco
nenhum limite (externamente). A segunda instância de ruptura dá-se quando a Ciência da
Linguagem (vista como oposta à fala do indivíduo ou “parole”) separa o significado do signo
e o reconstitui como o efeito do jogo da estrutura. Dessa forma, resulta desse processo que o
sujeito falante é destituído de sua posição no discurso como elemento que cria e autoriza o
significado.
Foucault lembra-nos que apesar de todo esse ímpeto, o Estruturalismo ainda
alimentava mais uma ilusão - a tentativa de mostrar o mundo à consciência como se ele fosse
feito para ser lido pelo homem. De qualquer forma, ainda que se argumente que o
Estruturalismo tenha evidenciado a morte do sujeito falante, ele não conseguiu invalidar o
discurso centrado no sujeito, o que é de grande utilidade aqui para os nossos propósitos
principais. A desestabilização dessa última ilusão estruturalista é um dos vários objetivos do
Pós-Estruturalismo, o que obviamente transcende os limites do pensamento saussuriano.
Derrida decidiu se inspirar em certas conclusões de trabalhos anteriores de Nietzsche,
como as que resultaram nas idéias de que “a teoria rompe uma ordem e uma economia
opondo os próprios conceitos dessa mesma ordem ou economia aos seus próprios discursos”
9
. Logo, Derrida passou a ser conhecido como o lançador de uma nova fase do Pós-
Estruturalismo com Of Grammatology e Writing and Difference. Nesses dois livros seminais,
Derrida volta-se para os textos fundacionais de Saussure e Lévi-Strauss com a finalidade de
submeter a noção de “estrutura” e “signo”, enquanto formas estáveis e unificadas, às
9
No original em inglês: “(..) theory disrupting an order and an economy by turning its concepts against its own
discourse” (BAROSS, 1994, p. 159).
37
especulações e ao escrutínio de um novo método introduzido por ele, que passou a ser
conhecido como “Desconstrução” 10.
A Desconstrução, que é de fundamental importância para os fins últimos desta Tese,
revela que no discurso da Lingüística Estruturalista escamoteiam-se os conceitos
fundamentais de uma filosofia que sempre objetivara estabelecer uma exterioridade
contingente e superficial para o pensamento articulado. Conseqüentemente, o signo
lingüístico passou a regular a ordem que permitia que essa filosofia desde o início tratasse a
sua própria escrita como não problemática, por se basear nos seguintes pressupostos:
considerar o significado como produtor de si mesmo e vindo de dentro do indivíduo (do
“self”), tratar o seu próprio texto como uma janela para o pensamento e a consciência, assim
como considerar o significado como absolutamente estável e imediatamente acessível e
ancorado no texto.
Não se pode olvidar aqui que esses trabalhos de Derrida também têm o mérito de
objetivarem a releitura da Filosofia e da escrita, além do exame da relação entre a Filosofia e
a Lingüística. Assim, os conceitos de “supplément” e “différance”, por exemplo, extrapolam e
transcendem as noções de diferença de Saussure, com o fim de desautorizar o conceito
metafísico da “presença” inscrito no signo lingüístico. Derrida propõe a reformulação da
“ausência” (que, para Saussure, constitui uma negatividade “pura”) como uma presença
ausente. Decorre daí que o significante tornou-se então um suplemento do referente ausente
que ele não representava, mas cujo espaço vazio ele ocupava. Em função disto, a significação
sempre envolverá o jogo silencioso do adiamento (“deferral”), assim como a representação
nunca apresenta, mas vai simplesmente adiar a presença do significado, (o que se aplica aos
nossos fins aqui, uma vez que as protagonistas Jasmine e Grace Marks nunca atingirão aqui
10
Por toda a Tese, optamos por grafar “Desconstrução” com letra maiúscula, quando o termo se referir
especificamente ao princípio teórico-filosófico criado por Jacques Derrida. No entanto, quando o sentido do
termo estiver mais próximo da designação de um conjunto de estratégias narrativas pós-modernas usadas por
determinado(a) autor(a), que também incluam os princípios derrideanos, o referido termo será grafado com letra
miníscula (N. do A.).
38
um “significado” fechado e acabado, ou seja, uma identidade fixa e delimitável). A
significação, que para Saussure é um jogo de diferenças opositivas binárias (como será mais
detalhado ainda neste capítulo), foi reformulada pela Desconstrução e passou a constituir um
jogo de adiamento do significado, ou seja, o adiamento da presença desse mesmo significado
no espaço e no tempo. Além disso, o significado nunca está ancorado (no texto ou em outra
categoria discursiva), nunca pára, nunca se estabiliza e nem tampouco se conclui, de acordo
com o que afirma Stuart Hall:
Isso é o que Derrida, em outro contexto, denomina différance: “o movimento do
jogo ‘produz’ (...) essas diferenças, esses efeitos de diferença” (Derrida, 1981,
1982). Não se trata da forma binária de diferença entre o que é absolutamente o
mesmo e o que é absolutamente “Outro”. É uma onda de similaridades e diferenças,
que recusa a divisão entre oposições binárias fixas. Différance caracteriza um
sistema em que “cada conceito [ou significado] está inscrito em uma cadeia ou em
um sistema, dentro do qual ele se refere ao outro e aos outros conceitos
[significados], através de um jogo sistemático de diferenças” (Derrida, 1972). O
significado aqui não possui origem nem destino final, não pode ser fixado, está
sempre em processo e “posicionado” ao longo de um espectro. Seu valor político
não pode ser essencializado, apenas determinado em termos relacionais (HALL,
2003, p. 60-61).
Conforme se percebe, o pensamento crítico-desconstrucionista de Derrida foi de
importância capital para minar os pressupostos do Estruturalismo, além de acumular o mérito
sobressalente de favorecer a abertura de caminhos para uma nova modalidade de crítica
textual – uma troca não meramente de conteúdo, mas uma verdadeira “intromissão” na
Ciência da Linguagem. O desdobramento natural dessa “intromissão” de Derrida levou, na
verdade, a um profundo reexame crítico no seio das ciências humanas da relação entre a
linguagem, por um lado, e a verdade, o erro, o conhecimento, o poder, a razão, o desejo e o
sujeito falante, de outro lado. Em decorrência disto, a Desconstrução tem tido uma influência
marcante na Crítica Literária, desestabilizando as antes claras fronteiras entre a ficção e a
Teoria, a Literatura e a Filosofia, a leitura e a escrita, o crítico e o escritor.
39
A contribuição da Teoria Psicanalítica de Lacan também teve um lugar de destaque na
sua união com o desconstrucionismo de Derrida para subverter muitos dos princípios do
Estruturalismo. De fato, as idéias de Lacan unidas às de Derrida propiciaram uma nova
categoria de escrita: a leitura, que tem aqui um alcance semântico muito superior e mais rico
do que o sentido imediato e mais genuinamente denotativo que o termo comporta, ou seja, o
simples fato de ler números, palavras, letras, expressões, períodos, parágrafos etc - o que não
necessariamente inclui a apreensão do sentido do que se lê. Na verdade, nos referimos aqui,
por exemplo, a uma leitura de Lacan sobre Freud, como analisado por J. Gallop em Reading
Lacan, de Derrida sobre Platão, conforme abordado por G. Hartman em Saving the Text; de
Derrida sobre Rousseau, conforme exposto por Paul de Man em Blindness and Insight:Essays
in the Rhetoric of Contemporary Criticism; e de Hélène Cixous sobre a nossa Clarice
Lispector em Readings with Clarice Lispector. A efetivação dessa “leitura” de outros
escritores, teóricos, intelectuais e pensadores, principalmente os do passado, transfere essa
mesma leitura e conseqüentes novas interpretações para outras esferas de significação, já que
se entra num jogo em que são abundantes as apropriações, as relações intertextuais em todos
os níveis, a quebra das fronteiras entre os gêneros, a paródia e o pastiche, dentre outros
recursos discursivos e narrativos. Devemos ressaltar aqui que alguns desses recursos, como o
afrouxamento das barreiras entre os gêneros e a intertextualidade, são fundamentais para a
leitura comparativa de Jasmine e Alias Grace, conforme ficará mais evidente nos capítulos
subseqüentes.
Seguindo o rastro de outros pensadores e teóricos que deram a sua contribuição
decisiva para o desconstrucionismo, devemos recordar que nos campos do pensamento social
e da Filosofia da Ciência, Michel Foucault inaugurou um método chamado de “genealogia”,
bastante semelhante aos princípios da Desconstrução. A genealogia de Foucault constitui um
questionamento das formações e dos regimes discursivos. Ela não visa simplesmente a
40
substituir a História como escrita pelo sujeito moderno, mas antes pretende deslocá-la dessa
posição. Em Madness and Civilization, Foucault reescreve a história da razão a partir do
ponto em que ela ganha conhecimento sobre o seu objeto - a loucura -, vista como uma
história de silenciamento e de supressão da voz da insanidade na linguagem, o que nos é de
grande auxílio aqui, pois o discurso da loucura em Alias Grace (em larga escala) e Jasmine
(fortemente sugerido pela avó de Jasmine, conforme aqui abordado no Capítulo 2, quando se
enfoca a “insanidade” dos desejos de emancipação profissional da protagonista) acaba por
servir aos propósitos de formação identitária das protagonistas. Enfim, percebemos a loucura
como forma de comportamento subversivo que mina a hegemonia dos discursos familiar,
social e médico, oferecendo visibilidade para o sujeito subalterno e exercendo papel
preponderante no seu processo de subjetificação. Um processo semelhante envolverá até
mesmo com mais propriedade a trajetória de Grace Marks, uma vez que ela foi tida e
diagnosticada como louca e confinada em um hospício por grande período de tempo. Porém, a
“loucura” de Grace Marks também lhe conferiu um “status” diferenciado e uma posição
discursiva privilegiada que contribuiu para a problematização do seu processo de construção
identitária, conforme se enfocará nos próximos capítulos.
É importante ressaltar aqui que a “genealogia” de Foucault constituiu um
desdobramento do seu método anterior denominado “arqueologia”. Dessa forma, a
“genealogia” enfatiza a questão do conhecimento frente à diversidade de domínios que se
apresentam. Por exemplo, temos, dentre esses domínios, as ciências e a epistemologia, que
Foucault analisa em The Order of Things e The Archaelogy of Knowledge; a Medicina, que
recebe o seu escrutínio em The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perceptions; a
punição, analisada em Discipline and Punish: The Birth of the Prison; e a ética, a sexualidade
e as tecnologias do “self” em History of Sexuality. Essas “histórias” têm por finalidade
principal analisar a relação entre os diversos discursos e os seus objetos (o corpo, a doença, a
41
sexualidade, a disciplina, a verdade e o conhecimento), para se poder escrever uma genealogia
do sujeito moderno. Todavia, um mérito posterior desses escritos foi a descoberta de que
esses discursos funcionam tanto como regimes quanto como objetos, pois, enquanto regimes,
eles estão implicados em relações de poder – a produção e o controle dos seus objetos, porém,
enquanto objetos, eles estão sujeitos aos seus próprios regimes de operações discursivas.
Voltando o foco agora para Roland Barthes, notamos que os seus escritos marcaram a
virada teórica do Estruturalismo para o Pós-Estruturalismo, mudando o objeto de
questionamento da obra para o texto, da afirmativa para a enunciação e da História para o
discurso. Dessa forma, se a “obra” for considerada uma estrutura tão estável, fechada e
idêntica a si própria, então o “texto” há de ser o lugar da produtividade e da disseminação,
conforme exposto por Derrida em Dissemination, enfim um campo de encontro em que até
mesmo o autor é um mero visitante, de acordo com o que Barthes desenvolve em From Work
to Text, ou até mesmo uma função da escrita (como atesta Foucault em History of Sexuality,
volume 3, 1986), sem nenhum acesso privilegiado ao significado. Barthes enriquece aqui
esse arrazoado pós-estruturalista com a afirmação de que, de fato: “tudo significa
incessantemente e muitas vezes, mas sem estar fadado a uma grande totalidade final ou a uma
estrutura definitiva”.11 Baross lembra-nos que a esse respeito vêm ao encontro dessas idéias
de Barthes os conteúdos gerais de vários escritos de Lacan que articulam a seguinte
impossibilidade:
O real é aquele objeto ausente (o referente) para o qual nem a teoria nem o sujeito
podem recuperar o acesso. O preço da consubstanciação do objeto e da existência na
linguagem é exatamente aquela perda, ou seja, uma relação com o ‘real’
permanentemente mediada pelo adiamento e pela postergação. 12
11
Na versão em inglês: “Everything signifies ceaselessly and several times, but without being delegated to a
great final ensemble, to an ultimate structure” (BARTHES, 1977, p.12).
12
Na versão em inglês: “The real is that absent object (referent) to which neither theory nor subject can regain
access. The price of subjecthood, of being in language, is that loss: a permanently mediated (delayed/deferred)
relation to the ‘real’ ” (BAROSS, 1994, p. 161).
42
É digno de nota registrar que essa dificuldade foi enfrentada por muitas correntes
teóricas, porém talvez nunca tão urgente e dolorosamente como pelas Teorias Feministas,
cujos membros desde o início da era pós-estruturalista se engajaram na luta para recuperar o
feminino, que sempre esteve excluído dos discursos dominantes da Filosofia, da Crítica e da
narrativa ficcional. Não é surpresa afirmar que as ativistas do movimento logo lançaram mão
das contribuições da Psicanálise e da Desconstrução para elaborar as suas teorias, pois, apesar
das diferenças de definição entre o pós-modernismo e o feminismo, as duas correntes têm em
comum o ímpeto crítico contra a noção universal e racional do Sujeito, já que os pressupostos
do Iluminismo concebem esse conceito como predominantemente masculino, assim como o
fazem com a História, considerando-a uma “grande narrativa” universal do progresso da
humanidade. Tal comunhão de interesses entre o pós-modernismo e o feminismo se torna
inequívoca quando S. Hekman afirma:
O feminismo e o pós-modernismo são as únicas teorias contemporâneas que
apresentam uma genuína crítica radical ao legado iluminista do modernismo.
Nenhuma das outras teorias sobre o cenário intelectual contemporâneo oferece uma
forma de deslocamento da epistemologia masculinista da modernidade. 13
Naturalmente, as dificuldades encontradas foram hercúleas, principalmente por conta
dos legados obliterantes das articulações ideológicas do patriarcado de que os campos do
saber estavam imbuídos. Não obstante, as correntes feministas pós-estruturalistas se
engajaram irreversivelmente na busca do espaço das vozes femininas excluídas dos discursos
das ciências, da Filosofia e das artes como um todo e da própria escrita feminista, que é o
aspecto que mais de perto nos interessa aqui, para os propósitos da presente Tese. Essa busca
logo de início envolveu uma tarefa dupla – a da crítica e a da representação. Na verdade, a
13
No original em inglês: “Feminism and postmodernism are the only contemporary theories that present a truly
radical critique of the Enlightenment legacy of modernism. No other approaches on the contemporary
intellectual scene offer a means of displacement and transforming the masculinist epistemology of modernity”
(HEKMAN, 1990, p. 189).
43
crítica feminista passou a entender a representação do feminino duplamente como um
espelho: ao mesmo tempo em que esses discursos refletem as mulheres como criaturas
sofrendo pela falta do falo, essa imagem negativa também funciona como um outro espelho
em que o sujeito masculino reconhece a si próprio como completo, de acordo com K.
Silverman. Por outro lado, uma vez que essa vertente crítica inicial falhou em prover o
feminino com uma identidade positiva, esse mesmo posicionamento crítico evidencia a
dificuldade que as Teorias Feministas tiveram para descobrir e escrever uma posição
discursiva a partir da qual o feminino pudesse se articular de uma forma totalmente não
problemática. Entretanto, as teorias feministas foram agregando mais especulações que
acabaram por enriquecer os seus debates, dotando as argumentações de outros contornos
referentes à raça, à etnia, à nacionalidade, às diásporas contemporâneas, à sexualidade e aos
cruzamentos entre o feminismo e as Teorias Pós-Coloniais, como de certa forma se enfocará
por toda a Tese. No entanto, somente para dar mais uma contribuição momentânea ao
entendimento dos esforços das teóricas feministas para firmar posições mais favoráveis às
mulheres, citamos o que Patrícia Waugh relata sobre o quadro atual em que se inserem os
feminismos vigentes:
Recentemente, a teoria feminista tem manifestado um grande número de
inequívocos sintomas pós-modernos: um certo flerte com conceitos como o sublime,
com a idéia da alteridade radical (outridade), ou até mesmo com a possibilidade de
um “espaço” feminino fora das hierarquias patriarcais e da racionalidade, e um
gosto por imagens sugestivas da fluidez e do hibridismo, tais como as do “cyborg” e
a do nômade. 14
De um modo geral, com a Desconstrução, as Teorias Pós-Estruturalistas adotam uma
verdadeira virada lingüística, renunciando às suas posições privilegiadas na linguagem e sobre
os seus objetos de estudo, e renunciando igualmente à busca das causas, do autor, da
14
No original em inglês: “Recently, feminist theory has come to manifest a number of overt postmodern
symptoms: an infatuation with such concepts such as the sublime, with the idea of radical alterity (otherness) or
the possibility of a feminine ‘space’ outside of rationality and patriarchal hierarchies, and a fondness for images
suggestive of fluidity such as the cyborg or the nomad”(WAUGH, 1998, p. 178).
44
objetividade científica, ou até mesmo de um valor básico instituído anterior ao que o texto
está transmitindo. Enfim, apropriadamente como atesta Baross, “o texto (e o seu significado)
não é mais concebível como um modo de presença originário e unificado. Todas as coisas
começam (e já são) uma reprodução: o significado já é sempre reconstituído pela postergação
e pelo adiamento”
15
, dessa forma abrindo espaços de formulações teóricas de questões
relacionadas a grupos minoritários, como nesta Tese ilustraremos com a ajuda das Teorias
Feministas e Pós-Coloniais.
1.2 – A Reinterpretação dos Binarismos Lingüísticos de Saussurre
Dentre os vários tipos possíveis de abordagem de que podemos lançar mão para
enfocar a aquisição da linguagem e da cultura do dominante por parte do colonizado para
subverter a hegemonia imperialista e liberar esse mesmo sujeito colonizado do estigma da
subalternidade, decidimos escolher de início a visão do conteúdo ideológico dos binarismos
lingüísticos saussurianos, filtrados pela ótica das Teorias Pós-Coloniais, de acordo com os
postulados defendidos por Bill Ashcroft e alguns outros teóricos. Não obstante, serão aqui
também aproveitadas as contribuições das teias de relações intertextuais que envolvem
Jasmine e Alias Grace (entre si e esses próprios romances com outros escritos ficcionais),
assim como o papel do comparatismo literário, dos Estudos Culturais e das relações estreitas
entre as Teorias Pós-Coloniais e as Teorias Feministas, para se propor a visualização de uma
trajetória das duas protagonistas que represente simultaneamente tanto a sua liberação dos
estigmas “calibanescos”, quanto as suas respectivas transformações em sujeitos das suas
próprias histórias.
15
No original em inglês: “The text (its meaning) is no longer thinkable as an originary or unified mode of
presence. Everything begins with, and is already, a reproduction: meaning is always already reconstituted by
deferral and delay” (BAROSS, 1994, p. 161).
45
Ashcroft retorna aos binarismos do lingüista francês Ferdinand de Saussure para expor
os limites do pensamento estruturalista. Aschcroft afirma que, de acordo com Saussure, os
signos lingüísticos têm significado não somente em virtude de uma simples referência a
objetos reais, mas principalmente em virtude da sua oposição a outros signos lingüísticos. De
acordo com essa linha de raciocínio, cada signo representa em si próprio uma função binária
entre o significante (o sinal, ou som ou a imagem da palavra) e o significado (ou seja, o
sentido do sinal, o conceito ou imagem mental que é invocada). Saussure também defende a
idéia de que a ligação entre o significante e o significado é totalmente arbitrária, ou seja, não
existe nenhuma necessidade natural para a ligação entre a palavra “cão” e o significado “cão”,
por exemplo. Porém, uma vez que a ligação esteja estabelecida no campo lingüístico e social,
ela passa a ser válida para todo usuário da língua.
Como conseqüência, estabeleceu-se a premissa de que os signos lingüísticos assumem
significados através de uma relação de “diferença opositiva” entre eles mesmos e outros
signos lingüísticos, quando estabelecida uma comparação, de forma que a “oposição binária”
se tornava a mais extrema forma de diferenciação possível entre eles. Como se torna fácil
concluir, essas oposições constituíam um “sistema binário de relações fechadas”, que se
tornou muito recorrente na construção cultural da realidade, constituindo a pedra de toque que
orientará a maior parte das críticas dirigidas a esse aspecto das oposições binárias por diversos
teóricos e pensadores pós-estruturalistas.
O problema mais contundente que se pode identificar a partir das relações
estabelecidas nesse sistema binário é a supressão das ambigüidades e dos espaços de
significação intersticiais, o que torna essas relações sobremaneira excludentes e limitadoras.
Dessa forma, quaisquer possibilidades de significação que se situem nos interespaços de
relações binárias, tais como as fornecidas pelas oposições homem/mulher, criança/adulto,
amigo/inimigo, por exemplo, se tornam impossíveis.
46
Com o advento das novas formas de se encarar a realidade, a sociedade e a cultura,
que se originaram com o desdobramento e a exaustão do Estruturalismo, passou-se a criticar e
a denunciar a limitação dessa lógica binária. As teorias feministas pós-estruturalistas
contemporâneas têm fartamente demonstrado que muitas dessas relações opositivas
escamoteiam uma rede hierárquica em que um dos termos da oposição binária é sempre
dominante. Assim, o homem teria prevalência sobre a mulher, o nascimento sobre a morte, o
branco sobre o preto, somente para citar alguns exemplos e suas claras implicações de ordem
política, de gênero e de etnia. Conclui-se, segundo essas teorias, que esse sistema binário
acaba sendo emblemático e endossante das formas de dominação exercidas pelas forças
hegemônicas (tais quais as estratégias e políticas das nações imperialistas) sobre povos e
indivíduos de territórios colonizados. Nessa medida, qualquer estado ou condição que não se
encaixe nesse sistema de oposição binária está fadado à repressão e sujeito a um ritual. Por
exemplo, o estado intersticial entre “criança” e “adulto” – “adolescência” – é tratado como
uma categoria escandalosa, um rito de passagem sujeito a considerável desconfiança e
ansiedade. Uma relação da mesma natureza acontece quando se quer dar conta dos estados
intersticiais entre “homem” e “mulher”, pois, muito além das questões sobre o que define um
indivíduo como pertencente ao gênero “masculino” ou “feminino”, estão implicadas outras
questões mais complexas de alteridade, identidade e de opção e/ou orientação sexual. Ou seja,
a aparentemente “inocente” disposição dos signos lingüísticos nas oposições binárias são
representantes das complexas teias de relações de dominação, poder e submissão entre
indivíduos e grupos, com conseqüentes implicações sociais, históricas e políticas.
Os Estudos Culturais, a Literatura e a Crítica norte-americana contemporânea
fornecem-nos farto e riquíssimo material de estudo dessa última situação, através das
produções literárias dos representantes das comunidades de “gays” e lésbicas norte-
47
americanas, por exemplo, que têm procurado não somente defender os seus direitos civis
como também representar esses direitos e suas lutas na literatura contemporânea.
Como resultado desse processo discriminatório, o estado intersticial entre o binarismo
colonizador/colonizado, por exemplo, evidenciará os sinais de uma ambivalência extrema,
manifestada em atitudes de imitação, esquizofrenia cultural, ou vários tipos de obsessão com
identidade. O desdobramento desse esquema colocará uma ênfase maior em um dos
elementos do binarismo. A relação mais direta dessas interpretações pós-estruturalistas nos
faz, então, lembrar as bases nas quais se funda a lógica imperialista. Dessa forma, pode-se
facilmente concluir que a lógica binária do Imperialismo não passa de um desenvolvimento da
tendência do pensamento Ocidental, em geral, de lançar um olhar ao mundo inteiro e aos
fenômenos culturais e tentar interpretá-los à luz das relações binárias que estabelecem uma
relação
“natural”
de
dominância.
Uma
simples
distinção
entre
centro/margem,
colonizador/colonizado, metrópole/colônia e civilizado/primitivo, por exemplo, representa, de
forma bem contundente, a extrema violência em que o Imperialismo assenta suas bases e que
ele ostensivamente tenta perpetuar. O mais impressionante é que essas oposições binárias são
estruturalmente relacionadas umas com as outras, em cadeia, o que reforça a aludida lógica do
Imperialismo. Nas oposições a seguir, podemos visualizar essa corrente estrutural de interrelações, de um e de outro lado:
colonizador
branco
civilizado
avançado
bom
bonito
humano
professor
doutor
/
colonizado
preto
/
primitivo
/
atrasado
/
mau
/
feio
/
bestial
/
aluno
/
paciente
/
48
Nesse caso, as oposições binárias constroem uma categoria escandalosa entre cada
uma das oposições, de forma que tais oposições podem ser consideradas caso a caso, - quando
lidas horizontalmente - , assim como podem assumir um sentido totalizador coletivo, se lidas
verticalmente; ou seja, se efetivarmos uma leitura horizontal, cada termo à esquerda estará em
posição hegemônica de dominação em relação ao da direita; porém, se lido o primeiro bloco
inteiro, verticalmente, e o segundo, do mesmo modo, em seguida, mais inflexíveis parecem se
tornar as relações entre colonizador e colonizado. Assim, podemos de imediato perceber que o
sistema binário “inocentemente” originado no campo da Lingüística de Saussure passou a
endossar as ideologias imperialistas de dominação, dando origem a idéias e conceitos tais
como o impulso de “explorar” ou de “civilizar”.
1.3 – Os Estudos Culturais e as Teorias Pós-Coloniais
Em vista de todo o exposto até aqui, podemos concluir que a abrangência das Teorias
Pós-Coloniais abarca esse interespaço do tabu, a área intermediária entre as oposições binárias
estruturalistas, em que passam a vicejar a ambivalência, o hibridismo e a contínua
desconstrução das certezas do edifício imperialista, como veremos mais adiante.
Um dos sistemas binários mais catastróficos perpetuados pelo Imperialismo é a
invenção do conceito de raça, que teve a sua origem nas classificações taxonômicas da
Biologia. Tal conceito tem servido aos propósitos de dominação imperialista, na medida em
que se reduzem todas as complexas diferenças físicas e culturais inerentes às sociedades
colonizadas a meras oposições endossantes da sanha imperialista de dominação. Nessa
medida, os conceitos de preto/pardo/amarelo/branco podem ser simplesmente reduzidos ao
binarismo branco/preto.
49
Um outro efeito bastante sintomático desse sistema estruturalista binário imperialista
de ver o mundo e endossar naturalmente os processos de dominação, em todos os níveis, pode
ser vislumbrado na oposição entre Ocidente/Oriente, o que gerou uma série de interpretações
equivocadas e preconceituosas das práticas, das culturas e dos diversos povos orientais, de um
modo geral e de acordo com o ponto de vista do colonizador branco europeu.
Para tornar então mais claras as concepções que se formaram acerca do Oriente,
passaremos a abordar algumas idéias de Edward Said, para verificar os seus pensamentos
teóricos que também contribuem para enriquecer o campo das discussões pós-estruturalistas.
Em seu livro Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, Said faz um estudo das cartas
de Conrad, consideradas como ficções autobiográficas, em relação às suas obras, vistas como
autobiografias ficcionalizadas. Esse estudo visa a correlacionar o processo de autodefinição
aparente nas cartas de Conrad ao desenvolvimento da sua obra ficcional. Tal pesquisa de Said
se torna relevante na medida em que ele passa a incorporar obras literárias ao seu rol de
objetos de estudo, para melhor entender a problemática sócio-cultural imperialista (e, nesta
Tese, este é um dos nossos objetivos, ou seja, relacionar a Teoria da Cultura com os exemplos
pinçados de obras literárias). Dessa forma, Said demonstra que o passado é sempre narrado de
novo nos escritos de Conrad (de certa forma, é o que exporemos no Capítulo 4, quando
abordaremos a problemática pós-colonial em Heart of Darkness, também de autoria de
Conrad), como uma fórmula de se evitar a autodesintegração. Já em Beginnings, Said dá
continuidade ao seu estudo da narrativização da experiência, enfocando as mudanças de
parâmetro que se desencadearam na estrutura do romance moderno. Digno de nota é dizer
que, na esteira dessas considerações, esse estudo da narrativização toma um rumo político em
seu livro Orientalismo, que é o que nos interessa mais diretamente aqui para a ilustração da
conquista de vez e voz por parte do subalterno, a partir da desconstrução das visões
cristalizadas e monolíticas sobre o Oriente e o Orientalismo de modo geral. Nesse livro, Said
50
relata a história das caracterizações através das quais os pensadores e intelectuais do mundo
ocidental têm constantemente ficcionalizado o Oriente desde o início do século XIX, no afã
de abarcar a magnitude dos povos e culturas diferentes que se encontram naquela parte do
mundo. Como esse ímpeto não poderia estar separado das estratégias imperialistas de
dominação do Outro que então estavam a pleno vapor, as idealizações que advieram dos
incontáveis romances, poemas, relatos de viagem e estudos sobre a cultura dos povos
muçulmanos, por exemplo, assim como os referentes aos outros povos orientais, ajudaram a
formar as idéias pré-concebidas e artificialmente construídas ao bel-prazer desses pensadores
e escritores ocidentais.
Em conseqüência, em Orientalismo, Said vê a necessidade de recontar a história do
Orientalismo em si, e, fazendo isso, ele intervém, decisivamente, na formação e definição
discursiva da questão. Ele começa a sua abordagem dizendo que as experiências e contatos
que os diferentes povos ocidentais dominadores (americanos, franceses, britânicos, alemães,
russos, espanhóis, portugueses, italianos e suíços) tiveram com o Oriente variaram ao
extremo. Todavia, uma forma de “resolver” o Oriente pode ser encontrada na consideração do
lugar especial ocupado por este na experiência ocidental européia. Assim, Said afirma que:
O Oriente não está apenas adjacente à Europa; é também onde estão localizadas as
maiores, mais ricas e mais antigas colônias européias, a fonte das suas civilizações e
línguas, seu concorrente cultural e uma das suas mais profundas e recorrentes
imagens do Outro. Além disso, o Oriente ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente),
como sua imagem, idéia, personalidade e experiência de contraste. Contudo, nada
desse Oriente é meramente imaginativo. O Oriente é parte integrante da civilização
e da cultura materiais 16da Europa (SAID, 2001, p. 13-14).
É altamente relevante comentar que as idéias acerca da alteridade mencionadas acima
por Said encontram eco em definições de outros estudiosos, como bem refletem as seguintes
idéias de Ashcroft sobre o conceito de alteridade: as suas associações com alternância, alterego, outridade e a indissociabilidade da construção identitária do indivíduo da construção
16
O destaque do termo é do próprio autor.
51
identitária dos seus “outros”, conforme será mencionado com mais vagar no Capítulo 2
(ASHCROFT, 2002, p. 11 e GANDHI, 1998, p. 11).
Como reforço dessa idéia da ruptura da visão binária e monolítica, para a qual até
mesmo os estudos sobre subjetividade e alteridade contemporaneamente têm contribuído,
cumpre citar as palavras de Said sobre o que ele entende acerca do Orientalismo, como
credencial para prosseguirmos até as manifestações emancipatórias dos povos e indivíduos
ditos “subalternos”:
Portanto, orientalismo não é um mero tema político de estudos ou campo refletido
passivamente pela cultura, pela erudição e pelas instituições; nem é uma ampla e
difusa coleção de textos sobre o Oriente; nem é representativo ou expressivo de
algum nefando complô imperialista “ocidental” para “subjugar” o mundo “oriental”.
É antes uma distribuição de consciência geopolítica em textos estéticos, eruditos,
econômicos, sociológicos, históricos e filológicos; é uma elaboração não só de uma
distinção geográfica básica (o mundo é feito de duas metades, o Ocidente e o
Oriente), como também de toda uma série de “interesses” que, através de meios
como a descoberta erudita, a reconstrução filológica, a análise psicológica e a
descrição paisagística e sociológica, o Orientalismo não apenas cria como mantém;
ele é, em vez de expressar, uma certa vontade ou intenção de entender, e em alguns
casos controlar, manipular e até incorporar, aquilo que é um mundo manifestamente
diferente (ou alternativo e novo); é acima de tudo um discurso (...). Com efeito, o
meu verdadeiro argumento é que o Orientalismo é – e não apenas representa – uma
considerável dimensão da moderna cultura político-intelectual, e como tal tem
menos a ver com o Oriente que com o “nosso” mundo (SAID, 2001, p. 24).
Já em outro livro seu, Cultura e Imperialismo, Said continua o esforço elucidativo,
quando também desmistifica os conceitos de “imperialismo” e “colonialismo”, igualmente
essenciais para a compreensão dos movimentos de resistência dos povos e indivíduos
subjugados:
Usarei o termo “imperialismo” para designar a prática, a teoria e as atitudes de um
centro metropolitano dominante governando um território distante; o
“colonialismo”, quase sempre uma conseqüência do imperialismo, é a implantação
de colônias em territórios distantes. Como diz Michael Doyle: “O império é uma
relação, formal ou informal, em que um Estado controla a soberania política efetiva
de outra sociedade política. Ele pode ser alcançado pela força, pela colaboração
política, por dependência econômica, social ou cultural. O imperialismo é
simplesmente o processo ou a política de estabelecer ou manter um império”. Em
52
nossa época, o colonialismo direto se extinguiu em boa medida; o imperialismo,
como veremos, sobrevive, onde sempre existiu, numa espécie de esfera cultural
geral, bem como em determinadas práticas políticas, ideológicas, econômicas e
sociais. Nem o imperialismo nem o colonialismo são simples atos de acumulação e
aquisição. Ambos são sustentados e talvez impelidos por potentes formações
ideológicas que incluem a noção de que certos territórios e povos precisam e
imploram pela dominação, bem como formas de conhecimento filiadas à
dominação: o vocabulário da cultura imperial oitocentista clássica está repleto de
palavras e conceitos como “raças servis” ou “inferiores”, “povos subordinados”,
“dependência”, “expansão” e “autoridade” (SAID, 1999, p. 40).
A par dessas novas considerações em que se delineiam redefinições de conceitos tais
como “orientalismo”, “subjetividade”, “alteridade” e “subalternidade”, somente para citar
alguns dos termos correntes nos estudos e abordagens pós-coloniais, podemos começar a
traçar a desconstrução das visões imperialistas binárias acerca dos povos e sujeitos póscoloniais, trazendo à tona um fórum para as novas possibilidades de expressão e conquista de
identidade desses representantes do dito mundo subalterno. Contudo, a tarefa não é tão
simples como parece, uma vez que as relações entre colonizador e colonizado são de fato
muito mais intrincadas do que se poderia supor, de acordo com o que Leela Gandhi, em PostColonial Theory (1998, p. 11) expõe. Numa notável série de argumentações a autora afirma
que os resíduos persistentes da colonização somente se decomporão se e quando nós
estivermos dispostos a reconhecer os comportamentos recíprocos dos dois parceiros coloniais.
Dessa forma, e ainda segundo Gandhi, a condição colonial teria acorrentado o colonizador e o
colonizado em uma dependência implacável, assim como também moldou o seu caráter e
ditou as suas condutas. O desejo do colonizador pela colônia, dessa forma, fica bastante
transparente; porém, muito mais difícil é aquilatar a contrapartida desse desejo da parte do
colonizado. A situação é tão extrema que Gandhi chega a emitir as seguintes especulações em
forma de interrogação: “Como pode o colonizado negar a si próprio tão cruelmente?” ou
“Como poderia ele detestar os colonizadores e, ainda assim, admirá-los tão passionalmente?”
(GANDHI, 1998, p. 11).
53
Comprova-se, então, o vigor da já aludida indissociabilidade das alteridades do
colonizador e do colonizado. Ainda nesse livro, Leela Ghandi se refere a um memorável
desafio lançado por Gayatri Chakravorty Spivak, em 1985, contra a cegueira da Academia
Ocidental acerca das questões de classe e raça, através de um polêmico e bombástico artigo
intitulado “Can the Subaltern Speak?”. Nesse artigo, Spivak fartamente discorre sobre a difícil
situação do sujeito colonial/pós-colonial subalterno feminino, no tocante à sua aquisição de
voz e subjetividade, estabelecendo, por assim dizer, uma visão bastante pessimista, tal a
crueza da conclusão a que chega, quando esse sujeito pós-colonial é vitimado por dois tipos
de discriminação – de nacionalidade (por ser colonizado, o que também já embute a
discriminação racial) e de gênero (por ser mulher). O trecho diz o seguinte:
A questão não é a da participação feminina em insurreições, ou das regras básicas da
divisão do trabalho, pois, para ambos os casos, há muitas evidências de
discriminação. A questão é, de fato, que, tanto como objeto da historiografia
colonial quanto como sujeito da insurreição, a construção ideológica de gênero
mantém o homem na posição de dominante. Se, no contexto da produção colonial, o
subalterno não tem nenhuma história e, portanto, não pode ter voz, o subalterno na
condição de mulher está ainda muito mais mergulhado nas sombras. 17
Na verdade, o trecho recém-citado é a culminância de um conjunto de interessantes
considerações acerca da precariedade generalizada em que se situa o sujeito subalterno nas
sociedades coloniais e pós-coloniais. A autora também afirma que muitos esforços têm sido
despendidos para conservar a noção do “Ocidente como sujeito”, o que pode ser interpretado
como a “Europa como sujeito”. O desdobramento natural desse projeto deu origem à idéia do
“Outro da Europa” (as sociedades colonizadas). Não seria preciso dizer que, subrepticiamente a esse arrazoado, sempre persistiu um projeto imperialista constantemente
sequioso de tornar a vida mais difícil para o “Outro da Europa”, através da obliteração da
17
No original em inglês: “The question is not of female participation in insurgency, or the ground rules of the
sexual division of labor, for both of which there is ‘evidence’. It is, rather, that, both as object of colonialist
historiography and as subject of insurgency, the ideological construction of gender keeps the male dominant. If,
in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as a female is
even more deeply in shadow” (SPIVAK, 1997, p. 28).
54
produção científica e ideológica da colônia, assim como da instituição da lei para
salvaguardar os interesses imperialistas. Da mesma forma, toda a produção cultural da
metrópole devia constantemente se empenhar no apagamento do “Outro” enquanto sujeito.
Vale ressaltar aqui que devido à importância das idéias precisas e contundentes de Spivak, por
toda esta Tese utilizaremos farta referência à última citação de “Can the Subaltern Speak?”,
assim como pinçaremos outras alusões apropriadas feitas pela autora em outras das suas
obras.
Um paralelo interessante e bastante apropriado podemos traçar aqui entre essa famosa
citação de Spivak e uma outra afirmação feita por Wanda Balzano, ao analisar a situação de
opressão dupla a que as mulheres irlandesas sempre estiveram sujeitas, em função da trágica e
sanguinolenta colonização inglesa. Tais idéias nos ajudam a compreender grande parte dos
percalços enfrentados por Grace Marks, Mary Whitney e Nancy Montgomery (as duas outras
moças imigrantes irlandesas no romance, com quem Grace intercambia aspectos
indentitários), que ainda amargavam o elemento complicador de estarem no Canadá do século
XIX, na verdade um braço forte do Imperialismo Britânico. A passagem referida realmente
nos recorda as palavras de Spivak, como se cita abaixo:
Destituída de poder sobre o seu próprio corpo e por muito tempo mantida fora de
cena por situações opressivas negativas, a “coolleen” (clichê para “mulher
irlandesa”) tem tido a sua voz negada duplamente. Por um lado, ela é silenciada e
marginalizada pelo poder patriarcal enquanto mulher, por outro lado, ela é
desvalorizada e diminuída pela cultura imperialista britânica enquanto falante de
gaélico (ou de irlandês, se alguém assim preferir). Essa desvantagem verbal dupla
torna a situação mais difícil para a mulher irlandesa expressar as suas experiências
pessoais e políticas adequadamente, complicando ainda mais a noção do que seja
“ser irlandês/a”, que Éilís Ní Dhuibhne derivou lingüisticamente da noção do que é
“ser inglês/a”. 18
18
No original em inglês: “Dispossessed of her body and for long hidden under negative imperatives, the
‘coolleen’ (cliché of Irishwoman) has been doubly denied her voice. On the one hand silenced and marginalised
by patriarchal power as a woman, on the other hand devalued and minimalised by British imperialist culture as
Gaelic-speaking (or Irish if one wishes). This double verbal deprivation makes it more difficult to express
personal or national experiences adequately, so complicating the notion of ‘Irishness’ that Éilís Ní Dhuibhne
derives linguistically from that of ‘Englishness’ ” (BALZANO, 1996, p. 93).
55
Dando prosseguimento às palavras de Spivak e Balzano, recorremos agora a outras
palavras emblemáticas de Homi Bhabha, em seu artigo “Signs Taken for Wonders”, em que
ele nos provê de mais subsídios para entender não somente a dominação colonial em si, mas
também o fascínio que certos aspectos marcantes da cultura do dominador exercem sobre o
colonizado. Nesse sentido, Bhabha afirma que:
Há uma cena envolvendo os escritos culturais do colonialismo inglês que se repete
tão insistentemente depois do início do século XIX – e, através dessa repetição, tão
triunfalmente inaugura uma literatura do império – que eu me vejo propenso a
repetir isso mais uma vez. Trata-se do cenário encenado nos selvagens e iletrados
rincões coloniais da Índia, África e do Caribe, em que tem lugar a súbita e fortuita
descoberta do livro inglês. Esse fato é, como todos os mitos de origem, memorável
por seu equilíbrio entre epifania e enunciação. 19
Nesse artigo, Bhabha defende a premissa de que o encanto que o livro inglês exerce
sobre as populações colonizadas funda-se na “condição iletrada” dos membros dessas
populações. Em tais circunstâncias, o aprendizado do inglês para possibilitar o acesso às
informações e à cultura do colonizador cuidadosamente dispostos nos livros ingleses se torna
um dos sinais tidos como “mágicos e maravilhosos”, e que acaba por constituir um meio
efetivo pelo qual o colonizador controla a imaginação e as aspirações das sociedades
colonizadas.
Ainda nesse artigo, Bhabha enfoca um fator que também é objeto de especulações no
artigo de Spivak (1997), mencionado anteriormente – a questão da obliteração da produção
cultural e do apagamento da identidade do Outro enquanto colonizado subalterno. Uma vez
que todo o “encantamento” produzido pela aquisição da língua inglesa pelo colonizado
No original em inglês: “There is a scene in the cultural writings of English colonialism which repeats so
insistently after the early nineteenth century – and, through that repetition, so triumphantly inaugurates a
literature of empire – that I am bound to repeat it once more. It is the scenario, played out in the wild and
wordless wastes of colonial India, Africa, the Caribbean, of the sudden fortuitous discovery of the English book.
It is, like all myths of origin, memorable for its balance between epiphany and enunciation” (BHABHA, 1997,
p.29).
19
56
produz a sua “sedução” pela posterior leitura dos livros ingleses, abre-se uma nova frente para
se facilitarem as estratégias de colonização, já que a língua e a cultura dos povos colonizados
vão assumindo uma posição secundária, ou até mesmo passam a ser sujeitas ao total
apagamento em face da aquisição do inglês e da leitura dos livros ingleses, novos forjadores
da identidade e das aspirações desses mesmos povos colonizados.
Na esteira dessas considerações vale ainda frisar que Bhabha também sublinha que
nessa atitude hipnotizadora que o livro inglês causa na mente dos colonizados exerce um
papel central a leitura da Bíblia, o que nos reporta à intenção de também desmerecer e apagar
as manifestações religiosas dos povos colonizados, geralmente tidas como bárbaras e
primitivas. A respeito do papel da Bíblia e da sua influência na mente dos sujeitos
colonizados, podemos rememorar uma emblemática passagem de Alias Grace, em que a
protagonista esboça uma visão crítica sobre a inquestionabilidade do conteúdo das mensagens
e dos livros bíblicos, conforme será enfatizado no Capítulo 4, o que constitui uma forma de
desautorizar as “inatacáveis” verdades bíblicas vistas como uma das “grandes narrativas” que
o Pós-Estruturalismo tem por intenção desestabilizar.
Enfim, tendo em vista que os críticos e teóricos contemporâneos são muitos e não
param de escrever sobre as relações entre “centro” e “margem”, assim como sobre
“colonizador” e “colonizado”, e as outras problemáticas suscitadas pelos presentes estudos
das relações coloniais e pós-coloniais entre os diferentes povos e indivíduos, certamente
poderíamos ter citado muito mais estudiosos da questão.
Porém, para efeito de simplificação, optamos por nos concentrar nos conceitos críticoteóricos citados neste capítulo e achamos conveniente destacar algumas opiniões de Michael
Groden, por serem elucidativas de uma das funções precípuas dos Estudos Culturais, para
finalizar esta parte do capítulo. Assim, deve-se ressaltar que os Estudos Culturais têm
decisivamente contribuído para a expressão das vozes das minorias que anseiam pela
57
efetivação da promoção da sua condição de “objetos das idealizações” dos povos e grupos
dominantes para a tão nova e almejada condição de “sujeitos”, donos dos seus próprios
destinos.
A esse respeito, no texto de Groden (1993) encontramos a informação de que os
Estudos Culturais se firmaram como uma importante disciplina acadêmica no mundo
anglófono entre os anos de 1960 e 1990 e ganharam logo prestígio por fomentarem várias das
grandes mudanças teóricas então em curso. Os Estudos Culturais ganharam ainda mais
destaque, porque foram responsáveis por importantes mudanças de foco das pesquisas
acadêmicas, em função da sua característica interdisciplinar, acontecendo paralelamente aos
avanços nos estudos étnicos e nos estudos das questões feministas.
Enfim, para atestar a condição de relevância irreversível que os Estudos Culturais
assumiram nesse contexto pós-estruturalista, destacamos uma interessante posição do autor a
esse respeito quando ele afirma que uma marca de diferenciação entre os Estudos Culturais e
os já consagrados estudos canônicos é que para os estudos culturais há novos e diferentes
objetos de estudo antes impensáveis na área da crítica e teoria literárias (GRODEN, 1993, p.
179).
1.4 – A Contribuição do Comparatismo e da Interdisciplinaridade
Tão importantes quanto as Teorias Pós-Coloniais ou as Teorias Feministas, por
exemplo, também se afiguram as novas influências e tendências que se incorporaram aos
objetos de interesse da Literatura Comparada, dentro de uma perspectiva pós-estruturalista
dinâmica e multifacetada que problematiza as infindáveis redes de possibilidades
comparativas que se estabeleceram, nestes últimos anos, e que extrapolaram as fronteiras da
própria Literatura. Consideradas, então, a vastidão e a acuidade das abordagens que a
58
Literatura Comparada passou a abarcar desde a época da chamada “Escola Americana”,
mercê de uma atitude interdisciplinar e inclusiva que ela acolhe, evocamos aqui alguns
conceitos fundamentais que Eduardo Coutinho traz a lume em um artigo que traça um breve
histórico das relações entre a Literatura Comparada e interdisciplinaridade. Um dos trechos
destacados do artigo que mais nos interessam diz o seguinte:
A segunda fase na constituição da Literatura Comparada no meio acadêmico, a
designada “Escola Americana”, caracterizou-se, entre outras coisas, pela ênfase
sobre o seu cunho interdisciplinar, máxime no que concerne à Literatura e outras
áreas do conhecimento (...) (COUTINHO, 2003, p.14).
A interdisciplinaridade passou então a desempenhar um papel tão importante que
atualmente se vai além da idéia de que a Literatura Comparada efetiva meramente
comparações de literaturas nacionais, como ocorria na fase inicial da disciplina. Além disso,
Coutinho ainda nos esclarece que a Literatura Comparada propicia um método de ampliação
da perspectiva do indivíduo na abordagem separada de obras literárias. Essa perspectiva
constitui uma maneira de se voltar para além dos estreitos limites oferecidos pelas fronteiras
nacionais, “com o fim de discernir tendências e movimentos em várias culturas nacionais e
observar as relações entre a literatura e outras esferas da atividade humana” (COUTINHO,
2003, p. 14). Além de possibilitar a conseqüente associação da Literatura com outras formas
de expressão artística, tais como a Música e o Cinema, e outros campos do saber, como a
Filosofia, a História, a Política, a Psicologia e a Psicanálise, por exemplo, a predominância de
uma atitude interdisciplinar na Crítica e na Teoria literária tem aberto caminho para a
incorporação dos Estudos Culturais e das Teorias Pós-Coloniais na interpretação de textos
ficcionais contemporâneos, premissa que encontra eco no artigo de Groden (1993, p. 179), já
citado anteriormente neste capítulo.
59
Como sinal de um desdobramento radical da preponderância das visões
interdisciplinares, nas fases posteriores da Literatura Comparada vem-se observando que os
Estudos Culturais têm posto em xeque noções como as de “identidade” e “nacionalidade”, da
mesma forma que têm promovido a desestabilização do locus de pertencimento da obra
literária. Ou seja, anteriormente, apesar de já interdisciplinar, a Literatura Comparada deixava
bem claras as fronteiras entre as disciplinas, de forma que, como nos assevera Coutinho, se
considerado um estudo comparatista sobre o tema do incesto ou da revolução, as vertentes
interpretativas sinalizariam claramente que a abordagem estaria se dando pelo viés que
enfatizava o literário, em vez de o fazer pelo viés psicanalítico ou sociológico. Essas barreiras
hoje caíram por terra, em virtude do crescente questionamento sobre o objeto de estudo da
Literatura Comparada – as obras literárias – e de certos conceitos fundamentais que
constituíam os seus pilares tais como “nação” e “idioma”. Por fim, Coutinho nos adverte que:
Destituída de sua aura de esteticidade, a obra literária passa a ser vista como um
produto da cultura e a literatura como uma prática discursiva como muitas outras. O
resultado é que a interdisciplinaridade perde também sua especificidade e a
abordagem interdisciplinar generaliza-se. Os estudos literários tornam-se todos
interdisciplinares, uma vez que passam a inscrever-se na esfera da cultura, marcada
justamente pela confluência de áreas diversas do saber (COUTINHO, 2003, p. 21).
Parece-nos, então, oportuno cotejar as palavras de Rita Felski, acerca das
contribuições do feminismo norte-americano para o entendimento das características
contemporâneas do texto literário, que parecem ecoar as idéias de Coutinho. Diz ela:
O feminismo norte-americano tem servido para lembrar aos críticos que a literatura
não se refere unicamente a si própria, ou aos processos metafóricos e metonímicos,
mas está profundamente imbricada com as relações sociais reais, reveladoras das
maquinações da ideologia patriarcal através das suas representações de gênero e das
relações femininas e masculinas. 20
20
Tradução de Lúcia Helena Vianna.
60
Contudo, a aceitação dessas novas concepções ainda encontra bastante resistência nos
meios acadêmicos, mercê da interpretação errônea do que seja a “destituição da aura de
esteticidade”, referida por Coutinho, que a obra literária tem sofrido contemporaneamente. Na
verdade, a incorporação interdisciplinar extrema que gera a interpenetração de/em outros
campos do saber “destituiu” a obra literária da condição de estar unicamente associada a
objetivos estéticos e artísticos; daí, a confusão que endossa posições mais tradicionalistas que
comumente têm negado a muitas produções contemporâneas a qualidade de se inscreverem
como obras literárias. Em outras palavras, tais críticos e intelectuais olham com desconfiança
qualquer obra literária que abarque em suas temáticas questões palpitantes como as de gênero
ou identidade, assim como as pós-coloniais e as transnacionais. Um argumento muito comum
entre eles é que a ênfase exagerada nessas abordagens secundariza a tal ponto o estético na
obra de arte que essa mesma obra passa a não ser vista como literatura propriamente dita,
restando lugar para o mero panfletarismo. Sem negar uma relativa dose mínima de acerto
dessa posição tradicional, há-de se reconhecer a exagerada insistência numa posição algo
purista que a grande maioria das obras literárias pós-modernas têm sobejamente provado ser
inapropriada, ultrapassada e estanque. Em virtude de tais polêmicas, procedemos nesta Tese a
uma reflexão acerca da relatividade dessas posições ultraconservadoras, através da elaboração
do Capítulo 3, em que os romances Jasmine e Alias Grace são analisados à luz de idéias de
críticos e escritores do século XIX, tais como Henry James e August Wilhelm von Schlegel,
assim como de outros críticos, intelectuais, pensadores ou filósofos contemporâneos, como
Cornelius Castoriadis e Wolfgang Iser. Enfim, o nosso intuito principal com a escritura do
Capítulo 3 é desconstruir a premissa de que somente se podem aplicar pressupostos teóricos
da contemporaneidade para a análise de obras literárias pós-modernas, ou que as teorias do
passado não se coadunam com a análise dessas mesmas obras de ficção. Em outras palavras,
61
trata-se aqui da quebra de barreiras “intransponíveis”, como será apropriadamente ilustrado e
defendido por Wofganf Iser, conforme abordaremos nesse capítulo por vir.
Por fim, dada toda esta breve exposição de alguns aspectos relevantes do cenário
contemporâneo, esperamos ter assentado as bases teóricas mínimas para o prosseguimento das
nossas discussões. Dessa forma, convergem para subsidiar os propósitos desta Tese não
somente os pressupostos pós-estruturalistas que minam posicionamentos críticos reducionistas
e sistemas interpretativos monolíticos e essencialistas, mas também a interdisciplinaridade e a
intertextualidade, vistas como recursos e estratégias constituintes da Literatura Comparada na
contemporaneidade. Em conseqüência disso, abre-se o espaço indispensável para a discussão
de
questões
mais
atinentes
aos
Estudos
Culturais,
como
identidade,
gênero,
transnacionalidade e diásporas, por exemplo. Assim, tornou-se possível lançar mão das várias
contribuições teóricas pós-estruturalistas e conjugá-las com as estratégias comparatistas para
avaliar a representação do processo de formação identitária dos sujeitos pós-coloniais
femininos representados por Jasmine e Grace Marks nos dois romances contemporâneos aqui
em estudo.
62
CAPÍTULO 2
O PAPEL DA FRAGMENTAÇÃO NA NARRATIVA E NA PROBLEMATIZAÇÃO
DA SUBJETIVIDADE DAS PROTAGONISTAS JASMINE E GRACE MARKS
2.1 - A Fragmentação na Contemporaneidade
Dentre as várias possíveis vertentes de análise e interpretação de obras literárias pósmodernas como Jasmine e Alias Grace, certamente aquelas que privilegiarem o papel da
desconstrução e da fragmentação hão de conter uma maior capacidade de sedução. Na
verdade, isto se dá porque a fragmentação e a desconstrução desempenham funções
absolutamente vitais nos dois romances, potencializando-se de tal modo que se intercambiam
e se imbricam numa intercomplementaridade que aponta exatamente para a multiplicidade de
sentidos interpretativos. Embora talvez se pudesse argumentar que nada há de tão espetacular
nesse fato, uma vez que essa situação poderia ser tida como mais ou menos recorrente na
maioria das obras literárias, uma leitura mais atenta das duas obras de imediato revelaria que
tanto Bharati Mukherjee quanto Margaret Atwood ostensivamente privilegiam esses dois
recursos das estéticas do pós-modernismo na escritura dos seus respectivos romances.
Em vista dessa constatação absolutamente fundamental para os propósitos desta Tese,
decidiu-se que neste capítulo será levada a cabo a análise das contribuições que os efeitos da
fragmentação e da desconstrução trazem para a representação da aquisição de voz e poder das
protagonistas dos dois romances. Tais estratégias são usadas pelas duas autoras de forma que
simultaneamente se aproximam (em muitos aspectos) e se afastam (em alguns outros), porém
63
se revelam, em última análise, de indubitável relevância para a formação das subjetividades
das protagonistas de ambos os romances.
Um dos pontos de aproximação entre o uso dessas estratégias é que a fragmentação e a
(“des”)organização das narrativas configuram uma teia inquebrantável com a multiplicidade
das identidades das personagens de um modo inequivocamente intencional, da mesma forma
que o irrestrito uso de técnicas de desconstrução não somente amplia os sentidos ficcionais,
como também assimila a fragmentação da narrativa e a faz ficar imbricada com a
representação das múltiplas alteridades das protagonistas.
Dessa forma, começando a observação desses aspectos por Jasmine, podemos
constatar que a quase absoluta falta de linearidade na ordem cronológica de apresentação dos
eventos da narrativa processa-se lado a lado com a apresentação das diversas personalidades
da protagonista: fragmentos da narrativa esfacelada (o que já desconstrói o tradicional
conceito aristotélico de arrumação da narrativa em começo, meio e fim) espelham, refletem e
ecoam as várias visões de Jasmine, tornando-a uma representação literária admirável do
sujeito pós-colonial feminino do mundo contemporâneo, com suas diversas idades, nomes,
papéis, condições e comportamentos metamórficos indispensáveis às suas necessidades de
adaptação, sobrevivência e deslocamentos diaspóricos.
Assim, a estreita relação entre essas duas camadas de fragmentação torna-se um todo
intercomplementar. Pode-se então afirmar que a ênfase no uso dessa estratégia por parte de
Mukherjee não somente assume essa relevância associativa entre as duas formas de
fragmentação (da narrativa e das personalidades da protagonista) como também aponta para a
relevância de conceitos fundamentais para a literatura e a arte contemporâneas, tais como:
identidade, alteridade, subjetividade, descentramento, condição pós-moderna, dentre outros
importantes conceitos.
64
Porém, antes de iniciar a abordagem da eficácia dessas complementações entre a
fragmentação da narrativa e a fragmentação das personalidades da protagonista em Jasmine, a
referência à seguinte definição teórica de “fragmentação” nos sugere a interessante e rica
noção de que o termo em si já apresenta a possibilidade de interpretação dicotômica e
problematizadora da sua própria aplicação em vários setores das atividades humanas na
contemporaneidade, dentre eles a Literatura. Assim, baseando-se nas idéias de Jean-François
Lyotard em The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Joseph Childers assim
sumaria as noções do teórico francês acerca de “fragmentação”:
O conceito (de fragmentação) é oposto ao de TOTALIDADE 21 – tanto como uma
descrição do “self” ou do SUJEITO, do sistema de valores em que vivemos imersos,
ou das experiências materiais do nosso cotidiano. A fragmentação é freqüentemente
associada às condições do mundo PÓS-MODERNO e pós-industrial. Para muitos,
especialmente aqueles indivíduos extremamente envolvidos com formas específicas
de ESSENCIALISMO ou crença em formas transcendentais de estética, conceitos
morais e ações políticas, a fragmentação é altamente indesejável. Para outros
indivíduos, especialmente aqueles que defendem noções de DESCENTRAMENTO
ou de INDETERMINAÇÃO – ou seja, aqueles que percebem o sentido de todas as
coisas como produzido de uma maneira contingencial e sem uma fundamentação
absoluta – a fragmentação é encarada como a inevitável conseqüência do
capitalismo e da proliferação da tecnologia. Para este último grupo, a fragmentação
não configura em si mesma um estado deletério de coisas e pode até mesmo ser
objeto de comemoração. 22
Indubitavelmente, a definição de Childers é bastante elucidativa do conceito de
fragmentação, demonstrando que o termo em si já encerra um componente de
problematização. Entretanto, mais adiante, ele ainda revela que, a despeito da posição recémcitada de que teóricos da pós-modernidade celebram a fragmentação, existe outra faceta do
21
O destaque deste e dos outros termos subseqüentes constam no original em inglês.
No original em inglês: “The concept itself is opposed to that of TOTALITY – whether as a description of the
self or SUBJECT, the system of values we inhabit, or the material experiences of everyday life. Fragmentation is
often linked to the conditions of a POSTMODERN, postindustrial world. For many, especially those invested in
particular forms of ESSENTIALISM, or belief in transcendent forms of aesthetics, morals or political action,
fragmentation is much lamented. For others, especially those who espouse notions of DECENTERING or
INDETERMINACY – that is, for those who perceive all meaning to be contingently produced and without any
absolute foundation – fragmentation is seen as the inevitable consequence of capitalism and the proliferation of
technology. For this latter group, fragmentation is not necessarily in and of itself a deleterious state”
(CHILDERS, 1995, p. 117).
22
65
termo que possibilita a manipulação de pessoas e instituições por parte de grupos que
almejam a opressão do “Outro”, através do exercício do poder, como o próprio Childers
explica abaixo:
Ao mesmo tempo, todavia, a fragmentação pode ser usada pelas diversas
instituições sociais (tais como os governos, as corporações militares e aquelas que
controlam os sistemas educacionais, dentre outras) para exercer poder sobre as
pessoas através da promoção da constante alienação do indivíduo e da frustração,
em última análise, de qualquer tentativa de o indivíduo atingir unidade ou totalidade.
23
Conforme se evidencia no trecho acima, a questão da problematização do termo
“fragmentação” reveste-se de nuances ainda mais complexas na medida em que ele pode ser
entendido no mínimo de duas formas bem diferentes que apresentam efeitos ideológicos
também claramente distintos. É interessante destacar ainda que termos como “unidade” e
“totalidade” geralmente se inscrevem numa esfera interpretativa essencialista, representando
associações de sentidos que não se coadunam com os parâmetros da Desconstrução de
Derrida. No entanto, quando Childers encara a fragmentação como um fator facilitador da
manipulação de grupos subalternos, o conceito insere-se no campo semântico oposto ao de
“unidade” e “totalidade”. Isto posto, se a complexa questão da aquisição de identidade do
colonizado for levada em conta aqui, estes dois últimos termos poderiam equivaler não a
sentidos fechados e acabados, mas a algum mais amplo e encampador de outras
possibilidades, como “integralidade”. Em outras palavras, para os opressores a ênfase na
fragmentação da identidade dos colonizados impediria que estes concluíssem o processo de
abandono da condição de eternos objetos das idealizações dos opressores e construíssem sua
nova e sempre desejada condição de sujeitos das suas próprias histórias. Acreditamos que a
autoconstrução do colonizado como sujeito equivale ao tal atingimento da “unidade” ou
23
No original em inglês: “At the same time, however, it can also be used by existing institutions (such as
governments, the military, education, or corporations) to exercise power over people by emphasizing the
increasing alienation of the individual and the ultimate futility of any sort of attempted unity or
totality”(CHILDERS, 1995, p.117).
.
66
“totalidade” a que Childers se refere na última citação (não tendo necessariamente nada a ver
com as visões essencialistas), uma vez que ainda nesse trecho o sentido de “fragmentação” é
negativo e serve aos interesses dos opressores, o que respalda e confere plausibilidade aos
entendimentos não essencialistas de “unidade” e “totalidade” no caso específico da última
reflexão de Childers sobre a fragmentação.
É exatamente em meio a essa fluidez cambiante de interpretações que as estratégias de
desconstrução usadas por Bharati Mukherjee e Margaret Atwood vão abrir brechas que
levarão o leitor a entender a fragmentação como elemento inalienável das caracterizações dos
sujeitos ditos subalternos, e a configurá-la como elemento facilitador do processo de aquisição
de identidade desses sujeitos, enfatizando o estabelecimento de parâmetros mais positivos,
visto que esse processo será constantemente permeado por estratégias de resistência à
dominação por parte dos colonizados.
2.2 - A Fragmentação da Narrativa e das Identidades em Jasmine
Primeiramente, em referência direta a como Bharati Mukherjee trabalha com essa
questão no seu romance, não podemos olvidar a forma como a autora inteligentemente mescla
aspectos da fragmentação da narrativa e da subjetividade da protagonista de uma forma tão
flagrantemente imbricada que chega a causar impactos e provavelmente possíveis enganos de
interpretação. A título de ilustração, podemos nos reportar a uma das mais significativas
passagens do livro, posicionada estrategicamente na abertura do primeiro parágrafo do
capítulo 1, como que a sinalizar para o leitor mais atento a tônica que caracterizará a natureza
da narrativa que está por vir. Essa passagem é revestida de um caráter tão emblemático que dá
conta de um grande número de referências altamente desconstrutivas que, a despeito de
causarem um estranhamento inicial, provar-se-ão absolutamente vitais para interpretações
67
mais abrangentes dos sentidos do romance. A citação igualmente abarca algumas noções
aparentemente “não intencionais”, conforme se vê a seguir:
Muitas vidas atrás, debaixo de uma figueira-da-índia no vilarejo de Hasnapur, um
astrólogo virou as suas orelhas – as suas antenas parabólicas – para as estrelas e
previu a minha viuvez e o meu exílio. Eu tinha apenas sete anos de idade naquela
época, era rápida e aventureira, e os meus braços estavam todos feridos por folhas e
espinhos. 24
De modo geral, uma cuidadosa e atenta atitude de leitura normalmente se
consubstancia pelo leitor somente quando já consegue estabelecer alguns elos mínimos de
identificação com a história, ou seja, quando o estranhamento inicial é superado, mormente
em se tratando de um romance tão pouco convencional quanto Jasmine. Levando-se em conta
que tal processo pode-se dar tão mais rapidamente quanto o leitor reconhecer “em que terreno
está pisando”, podemos ter como certo que a leitura de Jasmine pode demandar um pouco
mais de tempo e avanço pelo texto para que o leitor sinta-se minimamente confortável, uma
vez que a exposição do uso da fragmentação como estratégia narrativa simultaneamente
desestabiliza as noções tradicionais de narrativas sistematicamente arrumadas e dispostas em
começo, meio e fim, assim como retarda a instalação de uma sensação de segurança por parte
daquele leitor. Em suma, o leitor terá primeiro que reconhecer o terreno pantanoso com o qual
está lidando, descondicionar-se da influência de parâmetros narrativos tradicionais e penetrar
na fluidez e na miríade de incertezas que a estratégia pós-moderna de Mukherjee oferece, de
uma forma aventureira e desafiante dos mais diversos paradigmas fechados.
Para ilustrar de um modo pragmático tal estado de coisas, basta que nos reportemos
brevemente a alguns dos pontos abordados pela narradora na citação anterior. Em poucas
linhas, ela consegue fazer uma série de referências aparentemente irrelevantes que se provarão
24
No original em inglês: “Lifetimes ago, under a banyan tree in the village of Hasnapur, an astrologer cupped
his ears – his satellite dish to the stars – and foretold my widowhood and exile. I was only seven then, fast and
venturesome, scabrous-armed from leaves and thorns” (MUKHERJEE, 1991, p. 1).
68
absolutamente imprescindíveis para a recepção dos vários sentidos da história. Para começar,
a expressão “muitas vidas atrás” pode sugerir uma referência irônica às muitas fases da vida
de um indivíduo, usando-se o conceito religioso-cultural da reencarnação como base
metafórica, assim como de fato constituir uma referência direta a esse próprio conceito
brahmanista, como uma plausível característica inerente à personalidade da protagonista
indiana. À primeira vista, não é tão simples vislumbrar as reais intenções da narradora, pois as
duas possibilidades não se excluem. No entanto, à medida que avança a leitura do romance,
ganha força a interpretação irônica da passagem sem que se descarte completamente a
possibilidade de que a voz que narra esteja de fato considerando a reencarnação como parte
do repertório de crenças e conceitos que compõem a complexa psicologia da multinomeada
personagem Jasmine. Ou seja, absolutamente nada parece ser desconsiderado. Um outro
trecho da fala da narradora corrobora a incorporação de conceitos religiosos e culturais da
Índia, quando ela faz referência à figueira-da-índia (“banyan tree”, no original em inglês),
visto que os simbolismos relacionados a essa árvore e à figueira em geral inserem-se em
contextos místicos hindus e de tradições de outras culturas também. Na cultura judaico-cristã,
por exemplo, há o registro de referências à figueira por Cristo nos textos bíblicos, em que Ele
teria feito uma alusão negativa a essa árvore, comparando um exemplar dela que não produzia
frutos às pessoas que não produzem obras de elevação espiritual, tão idealmente esperadas
dos então convertidos àquela forma de religião inovadora e subversiva no seio do Império
Romano de dois mil anos atrás. Muitas outras referências poderiam ser feitas, porém nos
restringiremos no momento a mais uma alusão feita por Jean Chevalier:
Na Ásia oriental, o papel da figueira é extremante importante. No entanto, estou me
referindo aqui a uma variedade muito especial da planta, a majestosa figueira-daíndia, conhecida cientificamente na Botânica como Ficus religiosa. Trata-se da
mesma árvore da eternidade para os Upanixades, assim como a árvore da vida do
Bhagavad Gita. (...) Na iconografia primitiva, ela representa o próprio Buda (...) e é
tida como um símbolo de imortalidade e de sabedoria suprema (...) (CHEVALIER,
1982, p. 427-428).
69
Logo após as referências supostamente “não intencionais” à reencarnação e à figueirada-índia, aparece a referência ao astrólogo (figura que também será irreverentemente evocada
no final do romance). Essa alusão é bastante relevante porque, na mística e milenar Índia, a
figura do astrólogo sempre foi objeto do respeito e da admiração de todos. Além disso, na
passagem em questão, o astrólogo está fazendo as suas previsões debaixo de uma árvore
tradicionalmente sagrada na cultura indiana, o que garante um “status” duplo de verdade
“incontestável” às suas previsões.
Como se vê, é dessa forma tão radical e contundente que Bharati Mukherjee
primeiramente vai atacar as definições monolíticas e interpretações peremptórias de fatos que
circunscrevem o destino e a identidade dos indivíduos a formas e modelos inexoravelmente
deterministas. Essa atitude da autora não somente sinaliza as estratégias que ela utilizará para
esse fim por todo o romance, como também dá conta da sua talentosa capacidade de tão
economicamente evocar uma plêiade de sentidos fundamentais para a sua obra ficcional,
compactados nas apenas cinco parcas primeiras linhas do parágrafo de abertura do romance.
Não resta dúvida de que toda essa cena inicial constitui um choque de desconstrução
de conceitos das mais variadas naturezas (religiosa, social, psicológica, sociológica, política,
dentre outras). No entanto, a estratégia da autora avança um pouco mais ainda nesse pequeno
trecho abordado: ao comparar as orelhas do astrólogo a uma antena parabólica, ela não
somente dessacraliza os supostos poderes premonitórios do astrólogo, como também
evidencia inequivocamente a total falta de vontade de a narradora aceitar a má sorte
vaticinada para ela pelo astrólogo (a viuvez e o exílio).
Não se pode negligenciar aqui a relevância da recusa categórica a essa possibilidade
dupla de destino malfadado para a mulher, uma vez que, diferentemente das sociedades
ocidentais, a viuvez sempre constituiu uma espécie de “danação” para as mulheres indianas.
70
Mesmo que a aquisição de costumes e a assimilação de influências culturais ocidentais
tenham mudado bastante os hábitos culturais da Índia de hoje, não resta dúvida de que esses
parâmetros culturais seculares ainda resistem em várias localidades recônditas daquele vasto
país. Na verdade, na sociedade hindu tradicional a mulher gozava de um “status” não muito
superior ao da condição de sombra do seu marido. Dessa forma, em caso de morte do marido,
a mulher se resumia a um ser quase nulo, para não se falar ainda na culpa que advinha dessa
má-sorte, pois se no destino da mulher “estivesse escrito” que enviuvaria isto estaria se dando
em virtude de pecados por ela cometidos em outras encarnações. Assim, sempre foi um lugarcomum cultural na Índia que a viúva decidisse se suicidar, atirando-se nas chamas da
cerimônia de cremação dos restos mortais do seu marido (suicídio ritualístico conhecido como
“sáti”), sem que os circunstantes esboçassem grandes reações que impedissem a viúva de
cometer esse “desatino” (aos olhos das sociedades ocidentais e à luz dos princípios cristãos).
É digno de nota que Mukherjee também incorporará esse dado cultural ao enredo do seu
romance, porém não sem desconstruir e questionar a eficácia de tal procedimento. Ainda
sobre a condição da viúva, deve-se destacar que àquelas que não optassem pelo “sáti” estaria
reservado um destino de confinamento e desprezo. Em aldeias interioranas como a descrita no
romance, por exemplo, as viúvas geralmente deixavam de morar com os seus filhos e outros
familiares e passavam a residir com outras mulheres viúvas da mesma família ou de outras
famílias, formando uma categoria social à parte, sem receber muitas visitas de parentes ou
amigos, visto que a viuvez teria se dado em função de pecados transcendentais pretéritos. Isto
é bem exemplificado no romance pela passagem em que depois de o seu marido ser
assassinado, Jasmine vai morar numa cabana com sua mãe, que também havia se tornado
viúva. Esse episódio voltará a ser enfocado adiante neste capítulo.
Quanto à questão do exílio, a outra parte do vaticínio do astrólogo, Mukherjee
brilhantemente introduz na temática do romance o outro fator (a opressão por razões políticas
71
e de gênero) que assombra e interfere nas condições de agenciamento, voz e identidade da
mulher colonizada, completando a noção de exclusão em dose dupla, uma vez que o “status”
negativo da viuvez é o emblema da dominação patriarcal a oprimir a mulher, assim como a
condição colonial/pós-colonial de imigrante, refugiada ou exilada, vai igualmente constituir
uma fonte de opressão. A abordagem mais detida desses tópicos será retomada com mais
vagar quando se discutirem as interseções significativas entre esses aspectos fragmentadores
da identidade da protagonista e os descontínuos estratos narrativos onde tais aspectos se
fazem vislumbar.
Sem medo de incorrer em exageros, pode-se afirmar que a primeira passagem do
romance já indica a força e a tenacidade da protagonista para lutar contra um destino prédeterminado e infalivelmente negativo para ela, o que demonstra um indício mínimo de
agenciamento e de aquisição de poder, a despeito das situações de desvantagem a que ela vai
estar submetida por todo o resto da obra.
Da mesma forma, não pairam dúvidas no ar quanto ao fato de que Mukherjee parece
bastante consciente a respeito de como tirar proveito da manipulação dessas várias nuances da
fragmentação para a representação de processos identitários pós-coloniais femininos mais
positivos, que implicam um conseqüente processo de representação do empoderamento
feminino.
Ainda nos valendo da passagem inicial, podemos afirmar que ela constitui uma efetiva
e enfática negação da “totalidade” como sinônimo de “conformidade”, “essencialismo” e
“subalternidade”, numa bastante bem elaborada forma de expressão: para começar, a
narradora Jane Ripplemeyer (uma das alteridades/identidades da protagonista) consegue
comprimir os episódios da sua vida como a menina Jyoti, de sete anos de idade, em apenas
três páginas (em que as vozes de Jyoti e Jane se confundem); depois, Jyoti peremptoriamente
recusa as previsões desditosas do astrólogo para o seu destino, ao mesmo tempo em que
72
impõe a sua própria voz como uma outra mulher (Jane Ripplemeyer), o que o leitor somente
entenderá no segundo capítulo do romance. Acresça-se a tudo isso que o episódio da infância
da protagonista havia sucedido quando ela tinha apenas sete anos, enquanto que a voz da
brava narradora Jane ecoa do momento em que ela está em Iowa, dezessete anos depois do
incidente com o astrólogo na aldeia de Hasnapur.
Em vista da natureza das estratégias sinalizadas por Mukherjee já no início do capítulo
1 de Jasmine, fica claro que desde então ela outorga à sua protagonista uma marca de
diferença, bem ao modo como Derrida concebe esse conceito. Dessa forma, podemos afirmar
que a autora não somente confere à sua protagonista seis diferentes nomes e personalidades
distintas (Jyoti, Jasmine, Kali, Jazzy, Jase e Jane), mas também voz e agenciamento para
resistir à totalidade (no sentido essencialista e unicista do termo). No bojo desse processo de
empoderamento, a narradora vai aprendendo a tirar vantagens das conseqüências negativas
que a fragmentação impõe à sua trajetória e às suas alteridades.
Visto que normalmente a maioria dos sentidos de “identidade” no mundo ocidental
tem gravitado em torno de concepções que reproduzem de alguma forma as noções de sujeito
herdadas do Iluminismo, tais concepções têm-se circunscrito a modelos racionalistas fechados
e reducionistas. Indubitavelmente, tal pressuposição acarretaria a problematização da
representação do processo de construção identitário levado a efeito em Jasmine já que
“construção” geralmente sugere “unificação” e “ajuntamento de partes separadas para formar
um todo”, ao passo que “fragmentação” sugere “divisão em partes”, o que é aparentemente
oposto à idéia de “unidade”. Ademais, se “unidade” for interpretada como sinônimo de
essencialismo, certamente não será exclusivamente essa acepção do termo que as estratégias
pós-modernas de representação implicam. Ao se observar a vitalidade e o dinamismo que
caracterizam as ações da protagonista Jasmine, no entanto, chega-se logo à conclusão de que a
“unidade” procurada por Mukherjee assume um caráter híbrido na medida em que o conceito
73
implica aqui a junção das várias alteridades da protagonista para formar um tipo de identidade
multifacetado e em constante modificação, que atenda à necessária adaptação e enfrentamento
das vicissitudes com que os sujeitos pós-coloniais têm que se deparar para sobreviver nos
territórios de adversidade por que transitam. Assim, longe de constituírem dados negativos, o
hibridismo e a fragmentação assumem nuances mais positivas e passam a implicar a
correlação com conceitos da Desconstrução, tais como “divisão”, “multiplicação”,
“desdobramento”,
“reavaliação”,
“descontinuidade”,
“análise”,
“experimentação”
e
“descentramento”.
Todo esse complexo processo identitário consubstancia-se nas diversas iniciativas que
a protagonista levará a efeito para dotar a aparentemente simplória Jyoti das condições
necessárias para se transformar em outras personagens e ser várias mulheres, ao mesmo
tempo em que sendo uma só. Esse processo se acelera quando alguns eventos trágicos na vida
de Jasmine acabam por assumir o efeito de uma catapulta a arremessá-la a uma nova cultura
(a ocidental) e a um novo país (os Estados Unidos). Ela se vê repentinamente presa num
turbilhão de acontecimentos que a compelem a assumir novos nomes e novas identidades na
medida em que é obrigada a se engajar em movimentos diaspóricos na América, é exposta a
todo tipo de experiências inusitadas e alguns homens vão passando pela sua vida. Vale
ressaltar que todos esses episódios são narrados descontinuamente, de modo que parecem
peças de um quebra-cabeça que o leitor vai encaixando aqui e ali para tentar chegar à
identidade multifacetada que está em processo de construção.
De fato, Jyoti, a personalidade original da protagonista, é aparentemente como
qualquer outra garota de uma aldeia interiorana da Índia. Entretanto, essa aparente tabula rasa
já esboça resistência aos vaticínios do astrólogo aos sete anos de idade, o que prova que ela
não era tão simplória assim. Jyoti acaba dando lugar a Jasmine, quando se casa com Prakash;
de Jasmine ela momentaneamente se transforma na própria deusa Kali, quando chega aos
74
Estados Unidos e é estuprada por “Half-Face”, o capitão do navio que traz imigrantes ilegais
para a América. A própria protagonista alega ter “incorporado” Kali após ter sido estuprada,
uma vez que a doce Jasmine de Prakash jamais teria tido coragem de matar uma pessoa.
Desse ponto em diante, ela se transforma em Jazzy e depois em Jase, a babá da filhinha do
professor universitário Taylor (por quem ela se apaixona), em Nova Iorque. Tudo isso sucede
antes de a protagonista se mudar para Iowa e se transformar em Jane Ripplemeyer (a principal
voz narradora do romance). Jane é também a esposa do banqueiro Bud Ripplemeyer.
A constatação de que Jyoti não é uma alteridade tão simples quanto se poderia supor
implica necessariamente a premissa de que Mukherjee se esmerou na construção da sua
protagonista; prova disso é não somente o episódio do astrólogo no primeiro capítulo do
romance, mas também os vários indícios espalhados pela história de que Jyoti/Jasmine possui
em sua alma as sementes da resistência à dominação. A título de ilustração dessa
complexidade, poderíamos citar a passagem em que a voz narradora de Jane Ripplemeyer
enfaticamente assevera no fim do primeiro capítulo, em complemento às previsões do
astrólogo “Eu sei o que não quero ser” 25, numa clara representação desses referidos indícios
de voz e agenciamento, condições mínimas para a construção identitária. Assim, se por um
lado a voz da narradora deixa claro que repele veementemente aquilo que ela não quer ser, por
outro lado essa mesma voz deixa em aberto as múltiplas possibilidades de realização
identitária que lhe possam convir e de que ela possa tirar proveito em favor próprio.
Partindo-se, então, do Capítulo 1 e prosseguindo na análise do imbricamento das duas
formas de fragmentação que permeiam o romance, lançaremos mão de algumas contribuições
teóricas de especialistas em análise do discurso, tais como S. Rimmon-Kenan, S. Chatman e
M. Toolan, para aquilatarmos o quanto Jasmine é um lídimo representante das formas pósmodernas não convencionais de narrativas.
25
No original em inglês: “I know what I don’t want to become” (MUKHERJEE, 1991, p. 3).
75
Jasmine é um romance composto de vinte e seis capítulos, desprovidos de títulos, cujo
tamanho varia de duas a vinte e uma páginas; e a sua narrativa é muito habilmente conduzida
por uma narradora em primeira-pessoa (Jane Ripplemeyer), que tem o estrito controle de
todos os episódios e cuja voz muitas vezes parece migrar para a boca de uma das suas outras
alteridades, o que forma um emaranhado polifônico enriquecedor das estratégias narrativas
empregadas pela autora. Esse fenômeno se dá especialmente quando a narradora se refere a
passagens e personagens com tanto distanciamento que confunde o leitor: afinal de contas, se
trataria da voz de Jane, de Jyoti, de Jasmine, ou de algum outro alter-ego posterior à
“reencarnação” da protagonista como Jane, ou seja, uma personalidade ainda não nomeada,
mas que a autora sugere existir depois de Jane. Ainda que a existência dessa alteridade nova
seja meramente hipotética, ela é digna de registro, principalmente porque no último capítulo
do livro existe a clara possibilidade de que Jane possa se transformar em outra mulher (a nova
esposa de Taylor), ou até mesmo continuar o seu ciclo de metamorfoses identitárias. Como se
pode inferir, saber exatamente quem é a narradora do romance de Mukherjee o tempo todo e
em todas as partes da narrativa não é tão simples quanto se poderia esperar. A esse respeito,
os estudos de S. Rimmon-Kenan sobre tipos de narrativas podem lançar algum lume sobre a
questão e nos subsidiar no entendimento das formas como a narradora de Jasmine conduz
essa complexa narrativa. Ao discorrer sobre a questão, diz ele:
A história é sempre apresentada no texto através da mediação de algum “prisma”,
“perspectiva” ou “ângulo de visão”, verbalizados pelo narrador, mas não
necessariamente pertencentes a ele. Em concordância com o que Gennette (1972)
afirma, eu também nomeio essa mediação de “focalização”. (...) Obviamente, uma
pessoa (e, por analogia, um agente narrativo) é capaz tanto de falar quanto de ver, e
até mesmo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo – um estado de coisas que
facilita a confusão entre essas duas atividades (...). Mas uma pessoa (e, por analogia,
um agente narrativo) também é capaz de executar a tarefa de contar o que uma outra
pessoa vê ou viu. Assim, falar e ver, e narração e focalização, podem (mas não
precisam) ser atribuídos ao mesmo agente (...). 26
26
No original em inglês: “The story is presented in the text through the mediation of some ‘prism’,
‘perspective’, ‘angle of vision’, verbalized by the narrator though not necessarily his. Following Genette (1972),
I call this mediation ‘focalization’. (...) Obviously, a person (and, by analogy, a narrative agent) is capable of
both speaking and seeing, and even of doing both things at the same time – a state of affairs which facilitates the
confusion between the two activities. (...). But a person (and, by analogy, a narrative agent) is also capable of
76
Em vista do exposto, concluímos que narração e focalização não podem ser reduzidas
a classificações simplistas. Para ilustrar, então, essas sutis mudanças de focalização e enfatizar
que tais mudanças são realçadas e facilitadas pela fragmentação da narrativa e das alteridades
de Jyoti, muitas passagens do livro poderiam servir. No entanto, antes de exemplificar a
situação com passagens específicas, torna-se imperioso proceder-se à desconstrução de certos
aspectos da narrativa. Não se quer afirmar com isto que Jasmine careça de indícios de
desconstrução, pois a situação é exatamente a oposta: no romance sobejam indícios que
corroboram a peculiaridade da narrativa, além do farto uso da desconstrução em vários níveis
e da representação das novas maneiras de se avaliarem os aspectos do colonialismo e do póscolonialismo referentes à formação da subjetividade. Naturalmente, não se poderia
negligenciar aqui o imbricamento das Teorias Feministas com os discursos das Teorias PósColoniais e os postulados dos Estudos Culturais.
Em suma, o que se pretende nesta parte da Tese é desenvolver algumas reflexões sobre
o que Derrida entende por Desconstrução, para então avaliarmos quão desconstrutiva é a
narrativa de Bharati Mukherjee em Jasmine.
Em vista disso, e apresentando mais uma visão teórica sobre a Desconstrução – como
complemento do que já foi abordado no capítulo anterior -, resolvemos destacar que, para
J.A.Cuddon, a Desconstrução de um texto não se processa pelo ceticismo indiscriminado ou
pela subversão arbitrária, mas antes pelo desfazimento dos nós das forças antagônicas de
significação dentro desse próprio texto. Além disso, Cuddon também afirma que a idéia de
Desconstrução não deve ser confundida com “destruição”, conforme Bárbara Johnson
estabelece em The Critical Difference, em que ela também afirma que para se erradicar essa
confusão basta ter em mente que desconstruir tem a ver com analisar interminavelmente.
undertaking to tell what another person sees or has seen. Thus, speaking and seeing, narration and focalization,
may, but need not, be attributed to the same agent.(...)” (RIMMON-KENAN, 1983, p. 46).
77
Cuddon ainda afirma que os precursores do movimento são os filósofos
fenomenologistas modernos, como Husserl e Heidegger; Ferdinand de Saussure e a sua
Lingüística Científica (baseada nos sistemas fechados de significantes e significados ligados
arbitrariamente, com nenhuma referência absoluta, substancial e motivada); muitos
revisionistas de Nietzsche; e muitos artistas de vários ramos, como James Joyce (com o seu
Finnegans Wake). Entretanto, as especulações sobre os princípios da Desconstrução podem
ainda ser vislumbrados em momentos anteriores da nossa cultura ocidental, conforme nos
assevera C. Holman na citação abaixo:
Há algo de desconstrutivo acerca do que Darwin fez com as hierarquias biológicas
das relações presente-passado e humano-animal; do que Freud fez com as
hierarquias das relações adulto-criança, razão-sonho, consciente-inconsciente e
muitas outras; da mesma forma que também há indícios de desconstrução no que
Picasso (que chamava a sua arte de “uma soma de destruições”) fez com as
hierarquias de perspectiva e orientação na pintura. 27
Na Verdade, a Desconstrução passou a ser o aspecto mais influente do PósEstruturalismo, uma vez que com as obras já aludidas no Capítulo 1 Derrida lançou as bases
dessa nova corrente de pensamento filosófico, acarretadora da nevrálgica distinção entre
différance e difference, que se refere ao princípio do infindável e contínuo adiamento do
significado. Todavia, qualquer reflexão sobre a Desconstrução seria incompleta se não se
fizessem menções à “disseminação”. Prosseguindo com a visão teórica complementar dada
por Cuddon, diz-nos ele que em uma aplicação especial tornada popular por Derrida, o termo
é tão exaustivamente explorado de modo que se podem tirar vantagens tanto da sua raiz latina
sêmen (“semente”) quanto da sua relação com a forma grega “sema” (“signo”, “sinal”), com o
claro propósito de que o significado na linguagem está amplamente espalhado, semeado, não
27
No original em inglês: “There is something deconstructive about what Darwin did to the biological
hierarchies of present-past and human-animal; what Freud did to the hierarchies of adult-child, reason-dream,
conscious-unconscious, and several others; what Picasso (who called his art “a sum of destructions”) did to the
hierarchies of perspective and orientation in painting” (HOLMAN, 1992, p. 129).
78
semeado, marcado e não marcado. Como resultado, os significados de “disseminar” abarcam
as idéias de “semear”, “espalhar”, “propagar” e “difundir”. O termo “disseminação”, assim,
basicamente sugere plurissignificação. Ademais, do modo como Derrida concebe o termo, a
disseminação é dotada de conotações sexuais e procriativas. Tal processo sugere um jogo
textual livre que é alegre, instável e “excessivo” -, em estreita relação com o conceito
Nietzscheano do dionisíaco na arte. Cuddon coroa o seu raciocínio afirmando que:
Em suma, um texto pode possuir tantos sentidos diferentes que ele não pode ter um
único SENTIDO. Não existe nenhum sentido essencial garantido. Uma prática
desconstrutiva imediata seria elaborar as indagações para questionar o que se pode
entender por “garantido”, “essencial” e “sentido” naquele contexto específico. 28
Após esta exposição bastante simplificada de alguns aspectos sintomáticos da
Desconstrução e da Disseminação, as seguintes considerações de P. Lye sobre os efeitos da
Desconstrução de Derrida nos textos literários parecem constituir um adequado ponto de
partida para se abordarem os sentidos entrelaçados causados pela fragmentação da narrativa e
pela fragmentação das subjetividades da protagonista em Jasmine:
A literatura é um tipo de escrita claramente aberto à desconstrução, já que ela tão
intensamente se baseia nos sentidos múltiplos das palavras, nas exclusões, nas
substituições, na intertextualidade, nas afiliações entre os sentidos e os signos, no
jogo da diferença, na repetição (e, logo, na diferença significativa). De acordo com
Jakobson, a literatura (ou a leitura enquanto literatura) serve à função poética do
texto. Este fato, pressupõe-se, num entendimento ao modo de Derrida, significaria
que uma leitura inocente e transcendental de um texto torna-se imbricada e
complicada por uma contraleitura que desconstrua as assunções significativas
básicas desse mesmo texto.29
28
No original em inglês: “In short, a text may possess so many different meanings that it cannot have a
MEANING. There is no guaranteed essential meaning. An immediate deconstructive practice would be to
question the foregoing sentence by asking what is meant by ‘guaranteed’, ‘essential’, and ‘meaning’ in that
context” (CUDDON, 1992, p. 223).
29
No original em inglês: “Literature is a writing clearly open to deconstructive reading, as it relies so heavily on
the multiple meanings of words, on exclusions, on substitutions, on intertextuality, on affiliations among
meanings and signs, on the play of meaning, on repetition (hence significant difference). In Jakobson’s phrasing,
literature attends to (or, reading as literature attends to), the poetic function of the text. This, in (one guesses) a
Derridean understanding would mean that the naïve, thetic, transcendental reading of a text is complicated
(folded-with) by a counter-reading which de-constructs the thetic impetus and claims” (LYE, 1997, p. 4).
79
Como resultado, uma leitura desconstrutiva do texto é uma leitura que analisa as
especificidades das diferenças críticas desse texto com relação a ele mesmo. A partir desses
pressupostos, decidiu-se aqui levar a efeito uma estratégia desconstrutiva de análise da
narrativa de Jasmine exatamente para tentar o desfazimento dos nós ocasionados pela
narrativa não-linear e cronologicamente descontínua, com o objetivo de contrastar o resultado
obtido com a estratégia empregada por Mukherjee. Se um pouco de ênfase for dado à
arrumação da seqüência temporal dos eventos no romance, a fragmentação da personalidade
de Jyoti vai continuar existindo (num nível menos intenso). Em suma, se arrumássemos
cronologicamente toda a saga de Jyoti/Jasmine, a fragmentação continuaria sendo uma
estratégia importante, porém estaria sobremaneira desacelerada e desproblematizada demais
para atingir os propósitos de uma leitura pós-colonial das multifacetadas personalidades da
protagonista. Dessa forma, se tal arrumação fosse tentada, ou se a autora tivesse optado por
seguir a ordem cronológica na apresentação dos episódios narrativos, a estrutura do romance
poderia apresentar aproximadamente a seguinte configuração:
a)
Eventos referentes à existência da protagonista como Jyoti – Os eventos
referentes à vida de Jyoti, a garota interiorana do vilarejo de Hasnapur, e as
descrições da época em que ela tinha sete e treze anos, assim como os
episódios que descrevem os aspectos social, religioso, familiar e político do
cenário da Índia são narrados principalmente nos capítulos 1, 6, 7, 8, 9,10 e
11. Desse modo, se tais episódios tivessem sido narrados cronologicamente,
os capítulos que os contêm poderiam ser renumerados na ordem de 1 a 7;
b)
Eventos referentes à existência da protagonista como Jyoti/Jasmine _ O
capítulo 12 mostra o momento em que Jyoti casa com o homem que ela
escolhe (o que já é um fator de diferença entre ela e outras meninas
80
indianas), junto do qual ela consegue ser feliz por um curto espaço de
tempo. Após o casamento com Prakash, este renomeia-lhe Jasmine. Este
então seria o novo oitavo capítulo do romance nessa suposta rearrumação;
c)
Eventos referentes à existência da protagonista como Jasmine – O capítulo
13 mostra o trágico encontro de Jasmine com a morte. Nesse fatídico
capítulo, uma parte das predições do astrólogo registradas no capítulo1
torna-se uma infeliz realidade na vida de Jasmine, uma vez que Prakash é
morto na explosão de uma bomba num ataque terrorista. Ironicamente, o
terrorista visava à morte de Jasmine e não à de seu marido, pois se tratava
de um fundamentalista profundamente contrariado com o comportamento e
a vestimenta ocidentalizada de Jasmine. Também é digna de nota aqui uma
noção sutilíssima de que não só a protagonista, mas também outros
personagens do romance intercambiam as suas alteridades com as dos
deuses do hinduísmo. No caso de Prakash, toda a sua generosidade e amor
para com Jasmine (comportamento bastante incomum para um marido
indiano) aproximam-no da alteridade do deus Vishnu, que encarna a
generosidade, o amor e a misericórdia. O novo número deste capítulo seria
9. Também não deve ser tão “não intencional” o fato de que a autora tenha
escolhido o capítulo “13” exatamente para narrar uma das piores desgraças
da vida de Jasmine, o que evidenciaria a assimilação de uma das
superstições ocidentais mais populares acerca desse número, especialmente
nos Estados Unidos. Tal especulação é absolutamente plausível, uma vez
que a autora mistura elementos da religiosidade e do misticismo indiano
(astrologia, reencarnação, referências religiosas ao brahmanismo etc). Em
suma, se todos esses elementos místicos orientais estão presentes, por que
81
ela não poderia ter lançado mão de um elemento correlato do ideário
místico e supersticioso do Ocidente?
d)
Eventos
referentes
à
existência
da
protagonista
como
Jasmine/Jyoti/Jasmine – No capítulo 4, já como viúva, Jasmine retorna
para a sua família e passa a morar na cabana das viúvas, junto com a sua
mãe Mataji, que enviuvou quando o pai de Jasmine fora morto por um
touro. Assim, momentaneamente ela desce do “plano” de Jasmine para a
sua existência anterior como Jyoti. Todavia, ela é dirigida pelas boas
influências de Prakash, de quem meio sobrenaturalmente parece ouvir a voz
dizendo “Não se arraste para Hasnapur e para o feudalismo. Aquela Jyoti
está morta”
30
, de forma que ela decide voltar a ser Jasmine de novo. Para
tanto, ela emigra para os Estados Unidos, com documentos falsos, levando
consigo alguns dos pertences do seu querido Prakash. Deve-se destacar aqui
como a autora interessantemente retrata a divisão cultural que já domina a
mente de Jasmine: ao mesmo tempo em que tem consciência de que não
deve voltar a ser Jyoti e assumir um tipo de vida feudal em Hasnaspur, ela
tenta emigrar para os Estados Unidos, não para morar, mas para fazer uma
fogueira no campus da universidade onde Prakash planejava estudar. Nessa
fogueira, Jasmine praticaria o suicídio. Ou seja, ela não consegue entender
que nos Estados Unidos as pessoas não assistiriam impassíveis a esse ritual
porque isso não faz parte do repertório cultural norte-americano. Este
capítulo receberia o número 10;
e)
Eventos referentes à “morte” de Jasmine – Nos capítulos 14 e 15, Jasmine
descreve as terríveis condições dos seus deslocamentos diaspóricos como
30
No original em inglês: “Don’t crawl back to Hasnapur and feudalism. That Jyoti is dead” (MUKHERJEE,
1991, p. 87).
82
uma imigrante clandestina para os Estados Unidos, além de registrar
também a ajuda recebida do capitão do navio ilegal (“Half-Face”) e as suas
supostas “boas” intenções enquanto seu guia e protetor nas primeiras horas
em solo norte-americano. Tal ajuda vai até o ponto em que ele se oferece
para dividir o mesmo quarto de motel com Jasmine para melhor “protegêla”. Esses capítulos seriam renumerados como 11 e 12;
f)
Eventos referentes à existência da protagonista como Jane/Jase – No
capítulo 18, da página 109 até o final do último parágrafo da página 114, a
narradora reporta-se a eventos sobre Jane Ripplemeyer; dessa parte em
diante, o foco da narrativa é desviado para os momentos posteriores à
simbólica morte de Jasmine, visto que ela é estuprada por Half-Face e
momentaneamente “incorpora” a Deusa Kali para poder matá-lo. Quando a
protagonista foge do motel, ela parece se tornar uma mulher sem nome
(pois a inocente Jasmine teve a sua morte simbólica com o estupro e a
intrépida e vingativa Kali teve uma existência meteórica para matar HalfFace, de modo que essas duas alteridades não pareciam servir para aquele
momento). A protagonista atravessa esses momentos de angústia, fuga e
desespero até o instante em que miraculosamente Lílian Gordon, “uma
generosa senhora quaker”, atravessa o seu caminho, e ajuda-a se
transformar em Jase. Lílian é uma ativista social que protege imigrantes
ilegais. Ela a encaminha para ser a babá da filha do casal Taylor e Wylie
Hayes em Nova Iorque, onde ela passa a ser decentemente tratada como um
ser humano. Curiosamente, é interessante observar que esse capítulo
receberia o número “13”, caso fosse implantada a linearidade da narrativa;
83
ou seja, diferentemente do capítulo 13 real do romance, este novo capítulo
13 passaria a conter a melhor existência da protagonista;
g)
Eventos referentes à existência da protagonista como Jazzy – Nos capítulos
18 e 19, Jasmine é ajudada por Lílian Gordon, com quem passa algum
tempo, antes de ser encaminhada para a casa do casal nova-iorquino para
ser a babá da filha deles. Esta é a parte da existência da protagonista em que
ela aparentemente não tem nome, embora haja a referência de que Lílian a
nomeia Jazzy. É interessante notar que Lílian a chama de “Jazzy” por não
entender a pronúncia de “Jasmine”, o mesmo se dando quando a
protagonista chega à casa dos seus novos patrões, que decidem chamá-la de
“Jase” por não entenderem a forma como a protagonista pronuncia “Jazzy”.
Tal fato evidencia que no processo de americanização da protagonista o
apeerfeiçoamento do seu domínio do inglês vai desempenhar um papel
fundamental. Os capítulos 18 e 19 poderiam então ser renumerados para 14
e 15;
h)
Eventos referentes à existência da protagonista como Jane Ripplemeyer –
Os episódios narrativos referentes prioritariamente à Jane Ripplemeyer
figuram nos capítulos 2, 3, 4, 5, 17, 20, 24, 25 e 26. Nesses capítulos, Jane
relata principalmente a sua rotina em Baden (Iowa) como mulher de Bud
Ripplemeyer, porém também rememora esparsamente alguns instantes das
suas existências anteriores. Tais capítulos poderiam ser renumerados como
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, respectivamente;
Em suma, se fosse tentada essa renumeração e reorganização dos eventos narrativos do
romance de uma forma cronológica, o número de capítulos poderia até se reduzir de 26 para
84
24 (porque algumas das referências imbricadas poderiam se acomodar organizadamente nos
capítulos apropriados). Como um exercício especulativo para se visualizarem lado a lado a
versão original (super fragmentada) e essa possível versão da história “mais arrumada”, a
tentativa poderia até nos fazer entender melhor os movimentos do romance, porém faria com
que a história perdesse o que ela tem de mais atrativo – a representação exacerbada de como a
identidade de um sujeito pós-colonial feminino pode ser objeto de esfacelamentos e
metamorfoses tão extremas, experimentados tragicamente por esse mesmo sujeito de uma
forma silenciosa e solitária. Além disso, uma possível arrumação cronológica da narrativa e
do fluxo das alteridades de Jyoti/Jasmine não resolveria todos os problemas de identificação
da narradora-protagonista, para não falar da estrutura interna de certos capítulos, que contêm
muitas referências cruzadas às várias existências da protagonista. No capítulo 7, por exemplo,
há a exposição da intimidade da vida familiar de Jyoti, através do episódio em que se narra
que Jyoti era uma aluna excelente e, por causa disso, ela havia estudado muito mais que suas
irmãs. A narradora então descreve uma crise familiar acontecendo quando Jyoti recusa o
oferecimento de um emprego em um banco (algo muito ousado para uma garota) e diz que ela
quer estudar medicina. Essa passagem se torna emblemática para os objetivos da autora
porque a “simplória” Jyoti já é capaz de impor sua voz para escolher uma carreira profissional
absolutamente impensável para uma mulher. É igualmente digna de registro a imediata
associação que Dida, a avó de Jyoti, faz entre a atitude “destemperada” da neta e a loucura e a
influência da Deusa Kali, como se observa no seguinte trecho:
Meu pai ficou ofegante e disse: “Esta garota está louca! Eu vou escrever nas costas
do dicionário: esta garota está louca!” (...) Dida entendeu alguma coisa de pronto
pela primeira vez e disse em punjabi: “Culpem a mãe. A insanidade tem que vir de
algum lugar. É a mãe que é louca. (...)” Por todo aquele dia e até tarde da noite, nós
continuamos a ouvir aquele coro: “A garota está louca. A mãe dela é louca. O país
todo ficou louco. Kali Yuga chegou.” 31
31
No original em inglês: “My father gasped. “The girl is mad! I’ll write in the back of the dictionary: the girl is
mad!”(…) Dida caught on for the first time. She said in Punjabi “Blame the mother. Insanity has to come from
somewhere. It’s the mother who is mad.” (…) All that day and deep into the night, we heard their chorus. “The
girl is mad. Her mother is mad. The whole country is mad. Kali Yuga has already come” (MUKHERJEE,
1991, p. 45).
85
Conforme se percebe claramente na passagem em referência, a alegação de
“loucura” evidencia a fragilidade dos laços de solidariedade entre as mulheres oprimidas na
Índia, - fato também perceptível entre mulheres oprimidas de outras sociedades, ocidentais ou
orientais - , que acabam sendo paradoxalmente as primeiras porta-vozes desse discurso
patriarcal, escandalizador de qualquer tentativa de comportamento transgressor de mulheres
que ousam sair dos estritos limites das idealizações que lhes são impostas.
Ademais, uma vez que o conformismo feminino acerca das condições subalternas da
mulher nessas sociedades não raro faz com que elas encarem tal situação discriminatória
como natural, qualquer tentativa individual de subverter esse processo é tomada à conta de
expressão de comportamento insano. A esse respeito, Leila Assumpção Harris e Lílian
Nacimento Pinho desenvolveram valiosas considerações em que os conceitos de sanidade e de
insanidade em Alias Grace ganham contornos outros que não aqueles do discurso patológico
da Psicanálise. Todavia, as suas afirmações também se encaixam na presente problemática de
Jasmine, quando elas frisam que: “Não se trata aqui da loucura como patologia, mas como
construto social, como classificação atribuída pela sociedade àqueles indivíduos considerados
fora dos padrões normais” (HARRIS, 2003, p. 385). Na passagem em destaque, Dida, a avó
de Jyoti, de imediato classifica as altas aspirações profissionais da menina (tornar-se médica)
como inequívocos indícios de loucura – o que se encaixa no sentido de “loucura” dado por
Leila Harris e Lílian Pinho. Para a situação adquirir uma aura mais inexorável ainda, Dida
esbraveja que a culpa pela loucura da neta é da mãe de Jyoti, ou seja, se houve algum fator
hereditário determinante daquela situação “mórbida”, ele não teria sido de responsabilidade
do seu filho (o pai de Jyoti, o homem), mas sim da mãe da menina, com a mensagem
subliminar de que as mulheres da sua própria família seriam “mentalmente equilibradas”
porque se acomodaram aos modelos sociais de submissão reservados para elas naquela
86
sociedade. Mais adiante, as estratégias sarcásticas e a refinada maneira de Mukherjee lidar
com sutilíssimos estratos de ironia vão de certa forma “endossar” esses prognósticos de Dida,
quando a mãe de Jyoti (e a própria Jyoti/Jasmine) fica viúva; ou seja, além de “loucas”, mãe e
filha ainda têm o “merecimento transcendental” de amargar o doloroso “status” de viúvas
numa sociedade que as excluirá e as considerará párias exatamente por esse motivo.
Entretanto, retornando o foco da nossa atenção para a peculiar reação discriminatória
da avó de Jyoti, ainda se podem evocar outras implicações relevantes trazidas à baila pelas
idéias de Luce Irigaray acerca da posição da mulher na sociedade patriarcal e da natureza das
relações entre as mulheres. De acordo com Irigaray, a ordem social determina a ordem sexual.
Nas sociedades patriarcais, os homens são “os sujeitos da produção e os agentes das trocas”32,
ao passo que as mulheres são os produtos (“commodities”). Na sua visão, a economia, como
um todo, é baseada em “relações homossexuais”, visto que todas as trocas ou transações
econômicas acontecem entre os homens. Em uma sociedade desse tipo, ela afirma, “a mulher
existe somente para propiciar a mediação, a transação, a transição e a transferência entre um
homem e um outro, ou seja, entre um homem e ele próprio”
33
. Conseqüentemente, Irigaray
também frisa que tão logo uma mulher trava uma relação de qualquer natureza com outra
mulher ela se torna masculina. Essa constatação explica perfeitamente o comportamento de
Dida, na medida em que ela se torna “masculina” ao se tornar porta-voz da sociedade
patriarcal opressora quando Jyoti expressa a sua vontade de deixar de ser “commodity”
(objeto das idealizações da sociedade patriarcal, que se expressa na passagem em referência
com a sua recusa em “ser bancária”) para ser um “sujeito” (“ser médica”, condição
profissional mais complexa e oferecedora de maior emancipação – fruto da sua escolha).
Outro aspecto emblemático envolvendo Dida é a referência a “Kali Yuga”, que
poderia passar despercebida em função da sutileza e do aparente “descaso” com que a
32
No original em inglês: “ (...) producer subjects and agents of exchange” (IRIGARAY, 1985, p. 192).
No original em inglês: “ (…) woman exists only as an occasion for mediation, transaction, transition,
transference, between man and his fellow man, indeed between a man and himself” (Ibid, p. 193).
33
87
narradora insere a oração “Kali-Yuga já chegou” 34. Na verdade, a expressão “Kali-Yuga” não
é importante aqui somente por conter o nome de uma das divindades mais apavorantes do
panteão Hindu, mas antes por designar uma era prevista nas tradições hinduístas de muito
terror e desgraças para a humanidade, na qual reinariam tais estados caóticos que as próprias
bases da sociedade patriarcal estariam ameaçadas, como se percebe na seguinte citação:
Kakbhushundi disse: “No Kali-Yuga, o berço cálido do pecado, os homens e as
mulheres estarão desvinculados das normas dos comportamentos justos e corretos e
agirão ao contrário do que os Vedas ensinam. Na era de Kali, cada virtude será
suplantada pelos pecados do Kali-Yuga: todos os bons livros terão desaparecido; os
impostores terão promulgado um número de crenças que eles inventarem das suas
próprias cabeças. (...) Cada homem e cada mulher se regozijará em se revoltar
contra os Vedas. Os brâmanes venderão os Vedas; os reis sangrarão seus súditos;
(...) Dominados pelas mulheres, todos os homens dançarão ao som das canções
femininas, como fazem os macacos controlados pelos seus adestradores. (...) As
esposas que tiverem seus maridos vivos não usarão nenhum ornamento, enquanto
que as viúvas enfeitar-se-ão de acordo com as últimas tendências da moda. (...)” . 35
Contudo, a teia de implicações significativas para os fins desta Tese não se restringe –
e nem o poderia – a esta parte do capítulo. Ainda mais à frente, há situações emblemáticas
envolvendo outras personagens. Trata-se a primeira delas da passagem em que a narradora faz
menção aos personagens Pitaji e Mataji pela primeira vez fazendo uso dos seus primeiros
nomes sem os terem apresentado com mais minudência anteriormente; são o pai e a mãe de
Jyoti, respectivamente. Essa estratégia acaba sendo problemática por tornar o texto mais
obscuro e “desarrumado”, fazendo com que o leitor tenha que saber de eventos envolvendo
personagens introduzidas abruptamente, que somente farão sentido em um segundo momento.
A outra passagem dessa natureza situa-se no final do capítulo, quando a narradora diz:
34
No original em inglês: “Kali-Yuga has already come” (MUKHERJEE, 1991, p. 45).
No original em inglês: “Kakbhushundi said: In the Kali-Yuga, the hot-bed of sin, men and women are all
steeped in unrighteousness and act contrary to the Vedas. In the age of Kali, every virtue had been engulfed by
the sins of Kali-Yuga; all good books had disappeared; impostors had promulgated a number of creeds which
they had invented out of their own wit. (…) Every man and woman takes delight in revolting against the Vedas.
The Brahmans sell the Vedas; the kings bleed their subjects; (…) Dominated by women, all men dance to their
tune like a monkey controlled by its trainer. (…) Wives having their husbands alive have no ornaments on their
person, while widows adorn themselves in the latest style (…)” (UTTAR-KANDA, 1999, p. 1-2).
35
88
“Quando eu disse à Wylie uma vez que minha mãe me amava tanto que chegou a tentar me
matar, ou até mesmo que ela quase se matou de outra vez, ela puxou a sua filha Duff para
mais perto dela”
36
. Os principais problemas aqui são: a) a narradora da passagem é
provavelmente Jane Ripplemeyer, que é quem parece narrar a maior parte da história; todavia,
ela refere-se aos pais de Jyoti pelo seu primeiro nome, o que a distancia do contexto narrado,
como se Pitaji e Masterji não fossem os pais de quem narra a cena (Jane), o que também
reforça a noção de que a protagonista, na condição de uma mulher mais madura e com outro
nome, sente-se de fato uma personalidade diferente da menina Jyoti; b) quando a narradora
refere-se à Wylie na citação acima, ela está se referindo à mulher que a contratara como babá
da sua filha Duff. No entanto, em um certo momento, quando ela usa a expressão “a filha
deles”, ela também está se referindo ao pai de Duff, Taylor; contudo, como duas linhas acima
ela estava se referindo somente à Wylie, a expressão adequada deveria ter sido “sua filha”, ou
“filha dela”, em vez de “filha deles”. Surpreendentemente, entretanto, o que se torna mais
enigmático para o leitor é que Taylor e Wylie Hayes somente farão sua primeira aparição
coerente e detalhada no romance numa passagem bem posterior, na página 114 do capítulo
18. Em suma, estas são apenas algumas ilustrações de fenômenos narrativos de mesma
natureza que são abundantes no romance e dão a sua contribuição para deixar as informações
literalmente fora de lugar. Não é de se estranhar, portanto, que tal número de referências
descontínuas e desordenadas figurem como obstáculos à pronta recepção da história pelo
leitor.
Rememorando o capítulo 1 de Jasmine, mais uma vez, tem-se o episódio principal
envolvendo a pequena menina de sete anos (Jyoti) veementemente recusando a predição da
sua futura viuvez por um astrólogo no vilarejo indiano de Hasnapur. No final desse breve
capítulo, ocorre a primeira descontinuidade provocada por um interessante fenômeno
36
No original em inglês: “When I said to Wylie once that my mother loved me so much she tried to kill me, or
she would have killed herself, she pulled Duff, their daughter, a little close to her” (MUKHERJEE, 1991, p. 45).
89
polifônico subitamente interposto na narrativa pela narradora, privando o leitor da expectativa
de um esquema narrativo tradicionalmente linear e cronologicamente organizado, quando a
narradora afirma:
Eu nadei para a parte do rio envolta em halos solares dourados. Furiosamente, eu
usava os meus pés e minhas mãos como se fossem remos. Repentinamente, meus
dedos tocaram a carcaça de um pequeno cachorro, já enrijecida pela água. Estava
totalmente apodrecida e os olhos do bicho já tinham sido consumidos. No instante
em que toquei o animal morto, a carcaça partiu-se em duas partes, como se a água as
tivesse mantendo unidas até aquele momento. Um cheiro nauseabundo dominou o
ambiente enquanto os restos do cachorro rapidamente afundavam. (...) Aquele
cheiro insuportável ainda guardo vividamente na memória. Eu hoje tenho vinte e
quatro anos e moro em Baden, Iowa, mas toda vez que eu levo um copo d’água até
os meus lábios, aquele fedor volta com a rapidez de um raio. Eu sei exatamente o
que não quero para mim. 37
Para que a passagem acima seja plenamente compreendida em todo o seu potencial de
desconstrução, vale ressaltar que ela se segue ao pânico e ao alvoroço em que se encontrava a
pequena Jyoti ao escapar do astrólogo que predissera a sua viuvez e o seu exílio sob um pé de
figueira-da-índia. Quando tenta se desvencilhar do místico, Jyoti cai e corta a língua com os
dentes (o que já prenuncia um evento posterior em que a protagonista voluntariamente cortará
a língua com uma faca, quando assumir a alteridade da deusa Kali, para matar Half-Face); ao
mesmo tempo, um pequeno galho escapa da lenha amarrada que ela carregava na cabeça e a
sua ponta lhe produz um ferimento em forma de estrela bem no meio da testa. Segue-se que o
astrólogo entra em transe de novo e a narradora afirma sobre si própria: “Eu era um nada, um
pontinho insignificante no sistema solar. Maus momentos estavam por vir. Eu estava indefesa
e marcada. A minha estrela sangrava”
37
38
. O astrólogo então continua a repreender a menina,
No original em inglês: “I swam to where the river was a sun-gold haze. I kicked and paddled in a rage.
Suddenly my fingers scraped the soft waterlogged carcass of a small dog. The body was rotten, the eyes had
been eaten. The moment I touched it, the body broke in two, as though the water had been its glue. A stentch
leaked out of the broken body, and then both pieces quickly sank. (...) That stentch stays with me. I’m twentyfour now, I live in Baden, Elsa County, Iowa, but every time I lift a glass of water to my lips, fleetingly I smell
it. I know what I don’t want to become” (MUKHERJEE, 1991, p. 3).
38
No original em inglês: “I was nothing, a speck in the solar system. Bad times were on the way. I was
helpeless, doomed. The star bled” (MUKHERJEE, 1991, p. 1).
90
citando o caso de uma outra mulher que vivenciara uma previsão astrológica trágica, quando
todas as evidências apontavam para a não concretização do mau-agouro. Jyoti então se sente
momentaneamente enlevada pelas fragrâncias das flores e pela visão que tinha das árvores
retorcidas em redor, como se elas se curvassem para protegê-la, como se elas fossem
fantasmas femininos benfazejos, como ela própria afirma: “Eu sempre tive a impressão de que
espíritos femininos me protegiam. Eu nunca me senti um nada” 39. Jyoti vai então ao encontro
das irmãs, que se apavoram ao vê-la ferida na testa e gritam: “O que aconteceu? (...) Agora o
seu rosto está marcado com essa cicatriz para o resto da vida! Como é que a nossa família vai
poder arranjar um marido para você?” 40, ao que Jyoti responde: “Isto não é uma cicatriz, é o
meu terceiro olho”
41
, numa alusão às histórias que a sua mãe contava sobre os sábios
santificados que desenvolviam um terceiro olho bem no meio das suas testas, símbolo de
sabedoria e acesso a conhecimentos místicos e transcendentais dos mundos invisíveis. Por
fim, Jyoti afirma para as irmãs: “Agora, eu sou uma sábia”
42
. As suas irmãs param de se
banhar no rio, pegam os seus vasos de água e o fardo de lenha que Jyoti trouxera da floresta e
vão ao encontro das outras mulheres à beira de um poço ali perto. Jyoti decide então se banhar
numa parte mais atraente do rio, onde se depara com a carcaça do cachorro descrita na citação
da página anterior.
Em suma, nas três primeiras páginas de abertura do romance, Bharati Mukherjee
consegue condensar tanta informação relevante para o entendimento de toda a obra com uma
assombrosa economia de palavras e uma linguagem quase telegráfica que desnorteiam e
desestabilizam qualquer leitor menos prevenido. Além disso, fica patente o tom de superação
do estigma da subalternidade, que a narradora deixa absolutamente claro na rápida progressão
dos eventos narrados: a) primeiro, o astrólogo prediz a viuvez e o exílio de Jyoti; b) logo,
39
No original em inglês: “I always felt the she-ghosts were guarding me. I didn’t feel I was nothing” (Ibid, p.2).
No original em inglês: “What happened? (...) Now your face is scarred for life! How will the family ever find
you a husband?” (Ibid, p. 2).
41
No original em inglês: “It’s not a scar, it’s my third eye” (Ibid, p. 2).
42
No original em inglês: “Now I’m a sage” (MUKHERJEE, 1991, p. 2).
40
91
Jyoti se aterroriza, cai e recebe um ferimento com formato de estrela na testa (o que pode ser
mau, se for uma cicatriz; mas pode ser bom, se visto como um “terceiro olho” emancipatório
e doador de uma forma de poder exclusiva dos homens sábios); c) em seguida, Jyoti readquire
sua força e se sente protegida pelas fragrâncias das flores e pelas árvores das florestas; d)
depois, ao se separar das suas irmãs, escolhe nadar numa parte do rio agradável, mas se
depara com a carcaça podre do cachorro; e) por fim, no último parágrafo, não é mais Jyoti
quem controla a narrativa, mas sim Jane Ripplemeyer (na verdade, a mesma Jyoti, já madura
e moradora não de Hasnapur, mas de Iowa, nos Estados Unidos). Nesse instante, a carcaça
podre do cachorro transforma-se em metáfora de todos os males, todos os escolhos de
submissão e sofrimento que Jyoti, Jasmine, Kali, Jazzy, Jase e Jane Ripplemeyer – enfim,
todas as “identidades” da protagonista – tiveram que enfrentar por serem várias e a mesma
mulher simultaneamente. Como complicador dessa situação, a protagonista de Jasmine,
enquanto representação do sujeito pós-colonial feminino, além de naturalmente não se
enquadrar no propalado padrão americano WASP (“White Anglo-Saxon Protestant”, ou seja,
o padrão branco, de ascendência anglo-saxônica e de religião do ramo protestante), também é
mulher (subalterna por razões de gênero), imigrante (subalterna por razões políticas, oriunda
da Índia, país de terceiro mundo e ex-colônia britânica), não-branca e de tipo exótico
(subalterna por razões de etnia e possuidora de uma beleza “enfeitiçante” e de “naturais”
tendências para a lascívia, característica comumente idealizada e imposta pelos europeus
colonizadores a todas as mulheres não-brancas das colônias de países europeus).
Na verdade, tem-se muita informação tanto clara quanto veladamente sugerida no
espaço restrito desse primeiro capítulo. Conduzindo a narrativa dessa maneira, desde o início
do livro, a narradora quebra a tradicionalmente esperada linearidade da história, apresentando
dois momentos absolutamente extremos na vida da protagonista. A distância entre a vida de
Jyoti em Hasnapur, com sete anos de idade, e a da já americanizada Jane Ripplemeyer, em
92
Iowa, dezessete anos depois, abre uma lacuna bastante difícil para o leitor preencher de
imediato. Tal quebra na narrativa, assim como a da já referida menção a Wylie e Taylor, no
capítulo 7, antes que sejam efetivamente apresentados no capítulo 18, é forte o suficiente para
gerar um tipo de frustração no leitor que se pode explicar pelo que Michael J. Toolan afirma
sobre as narrativas de modo geral e que bem se aplica ao desconforto que o tipo de narrativa
de Jasmine proporciona desde o capítulo 1:
As narrativas parecem tipicamente possuir uma ‘trajetória’. Elas geralmente vão
para algum lugar, e se espera que elas de fato levem a algum lugar, apresentando
algum tipo de desenvolvimento e até mesmo um fechamento ou conclusão. Todos
esperamos que as narrativas tenham começos, meios e fins (conforme Aristóteles
estipulou em sua Arte Poética). 43
Muito embora se possa afirmar que o romance em questão tenha um início turbulento,
após a leitura do segundo capítulo a recepção da história começa a ficar menos problemática.
No entanto, não se pode negar que essas alternâncias radicais do foco narrativo tornam mais
complicadas a leitura e a recepção da história e requerem maior habilidade do leitor para
interpretar o romance. A esse respeito, um pouco mais de luz pode ser lançada na tentativa de
se bem analisar e lidar com a narrativa de Jasmine se forem levadas em conta as seguintes
considerações que S. Chatman faz acerca das idéias que Genette desenvolve sobre a seqüência
cronológica dos eventos de uma narrativa:
Genette estabelece distinção entre seqüência normal, em que a história e o discurso
têm a mesma ordem (1 2 3 4) e as seqüências anacrônicas. E deve-se ressaltar que a
anacronia pode ser de duas naturezas: o “flashback” (analepse), quando o discurso
quebra o fluxo da história para o rememoramento de eventos anteriores (2 1 3 4), e o
“flashforward” (prolepse), quando o discurso dá um salto para frente, em direção a
eventos subseqüentes ou intermediários. 44
43
No original em inglês “Narratives typically seem to have a ‘trajectory’. They usually go somewhere, and are
expected to go somewhere, with some sort of development and even a resolution, or conclusion provided. We
expect them to have beginnings, middles, and ends (as Aristotle stipulated in his Art of Poetry)” (TOOLAN.
1998, p. 4).
44
No original em inglês: “Genette distinguishes between normal sequence, where the story and discourse have
the same order (1 2 3 4), and ‘anachronous’ sequences. And anachrony can be of two sorts: flashback (analepse),
93
Seguindo então essa forma de se analisar a narrativa, podemos afirmar que uma das
estratégias mais fartamente usadas por Mukherjee em Jasmine é exatamente a analepse, que
se torna um meio eficaz pelo qual a narradora-protagonista vai evocando as diferentes
mulheres que ela foi no passado, assim como as circunstâncias físicas e psicológicas de cada
uma dessas alteridades.
Na verdade, a dinâmica história que a narradora de Jasmine tece torna-se de difícil
compreensão, num primeiro momento, também em função desse uso recorrente e intercalado
da analepse (“flashback”) com a prolepse (“flashforward”), à medida que ela lança mão
desses dois recursos narrativos para unir as diversas pontas das histórias das mulheres
passadas (que a narradora já havia “encarnado”) com os episódios da vida de Jane
Ripplemeyer (a alteridade mais madura e posterior da protagonista-narradora).
Em vista de uma apreciação mais detida do uso de todo esse processo que amalgama a
fragmentação da(s) identidade(s) da protagonista com a fragmentação extrema dos eventos
narrativos, e com a conseqüente criação de uma atmosfera narrativa de difícil recepção
imediata, podemos reconhecer que não só o romance de Mukherjee é dotado de um tom
sobremaneira típico das estéticas da pós-modernidade (principalmente por rejeitar a fórmula
“princípio-meio-fim”), mas também que o leitor passa a ficar seduzido pela (des)arrumação
da narrativa, quando os primeiros obstáculos são ultrapassados.
Levadas em consideração tais perspectivas, percebe-se que a desconstrução permeia
esses recursos narrativos usados por Bharati Mukherjee. Resulta desse processo que um novo
olhar analítico lançado sobre Jasmine, após compreendida a magnitude dessas estratégias
narrativas, passa a desvelar uma série de outras características e estratégias surpreendentes
também empregadas no romance pela autora para evidenciar a admirável saga da sua
where the discourse breaks the story-flow to recall earlier events (2 1 3 4), and flashforward (prolepse) where the
discourse leaps ahead, to events subsequent to intermediate events” (CHATMAN, 1978, p. 64).
94
protagonista multinomeada, enquanto engajada numa diáspora para a construção de sua autoimagem e identidade. A natureza e a organização dessas estratégias narrativas não
convencionais geram situações à primeira vista enigmáticas, mas que ganham novos sentidos
quando se percebe que elas ecoam as complexas, tortuosas e fragmentadas situações vividas
pela protagonista Jasmine. Não seria preciso dizer que as noções de fragmentação, diáspora,
desterritorialização e hibridismo vão ocasionar situações trágicas e dificuldades que obrigarão
Jasmine a elaborar respostas adequadas em termos de adaptação, assimilação, superação de
traumas emocionais e dores físicas e emocionais das mais variadas naturezas.
De fato, torna-se bastante admirável todo o mosaico oferecido pela confluência da
fragmentação da narrativa e das identidades de Jasmine que permeia a “via crucis” da
protagonista. Primeiramente, a ainda Jyoti é recolocada por Jane Ripplemeyer dentro da
atmosfera mística e misteriosa de Hasnapur, o vilarejo onde ela nascera, o que já deixa claro
um certo poder para manipular a narrativa dando saltos para a frente ou para trás, sem a
mínima preocupação com as conseqüentes dificuldades na recepção da história que essa
estratégia vai causar. Feita esta primeira intervenção fundamental na narrativa, a mulher que
então nos é apresentada não passa de uma menina de certo modo inocente, mas que não se
furta a dizer um sonoro e retumbante “não” às nada alvissareiras previsões que um astrólogo
lhe faz sobre a sua vida futura. Deve-se ressaltar aqui que essa cena inicial reporta-nos a um
dos vários lugares-comuns da cultura da Índia – a onipresença do misticismo como um
elemento de determinismo irrecorrível governando as vidas e os destinos das pessoas. Desse
modo, o que o astrólogo faz nessa cena é algo a que ele estaria bastante acostumado, por ser
parte da sua rotina e função social; a única novidade aqui é o tom de desconstrução de que a
narradora reveste a cena, adicionando uma negação absoluta e peremptória da protagonista ao
vaticínio do místico, enunciada por um ser duplamente em vantagem: uma mulher na também
desvantajosa faixa etária infantil. Não podemos olvidar aqui que, conforme muitos teóricos do
95
pós-colonialismo afirmam, a infantilização dos colonizados fora uma das várias estratégias
dos dominadores para justificar a “necessária” tutela que esses povos requereriam; ademais,
uma vez que a criança sempre amargou um “status” de inferioridade no mundo ocidental até
bem poucas décadas, a infantilização imposta por motivos de dominação figura como
eficiente estratégia para desabonar a subjetividade dos colonizados. Dessa forma, a retratação
de Jasmine como a rebelde menina Jyoti já serve para desconstruir de imediato qualquer
presunção de que a criança seja necessariamente tão incapaz, manipulável, carente de tutela e
desorientada. Em conseqüência, a infantilização do sujeito subalterno pós-colonial, enquanto
mulher ou não, já figura como um conceito subliminarmente combatido no primeiro capítulo
do romance de Bharati Mukherjee.
Subseqüentemente ao notável episódio de abertura de Jasmine, entre a alteridade de
Jyoti e a de Jane Ripplemeyer, várias outras alteridades da protagonista alternar-se-ão, como
se fossem verdadeiras “reencarnações” da mesma mulher recebendo diferentes nomes. Como
há passagens no romance em que a protagonista tanto clara quanto sutilmente se refere à
reencarnação, conforme sobejamente enfatizado nesta Tese, concluímos que a autora resolveu
lançar mão do uso dessa estratégia fragmentadora para endossar as profundas diferenças de
personalidade que cada uma das alteridades de Jasmine apresenta.
Torna-se necessário, em função dessa peculiaridade, deixar bem claros outros pontos
em relação ao tópico “reencarnação”, uma vez que faremos uso dele aqui para endossar as
estratégias de fragmentação da personalidade da protagonista: a) em diversos trechos do
romance, a narradora refere-se à reencarnação, com uma rica variedade de tons – não somente
pia e seriamente (ao modo de quem realmente acreditasse nesse conceito religioso, por
pertencer à cultura hindu), mas também irônica e ceticamente (exatamente como um
observador externo da cultura religiosa hindu, como alguém que estivesse simplesmente
fazendo uso dos conceitos relacionados à reencarnação para endossar as suas estratégias de
96
fragmentação da personalidade das suas personagens); b) todas as considerações acerca da
reencarnação aqui utilizadas privilegiam o seu “status” como um lugar-comum típico da
cultura da Índia, originado no intricado sistema religioso do hinduísmo e, em função disso,
suficientemente significativo para ser apropriado por Mukherjee como um elemento do seu
próprio meio cultural, por se formarem as indispensáveis condições para representar as
camadas de fragmentação da complexa identidade de sujeitos femininos pós-coloniais como
Jasmine; c) a despeito das suas dimensões religiosas e míticas, as únicas características do
conceito que interessam aqui são as que têm a ver com o seu potencial de simbolismo do
renascimento, das mudanças, dos movimentos de reconfiguração e rearrumação de esquemas
e situações anteriores que apontem para as questões da desconstrução.
Um outro fator marcante que endossa o uso da reencarnação para interpretar as
diversas facetas de personalidade de Jasmine é a presença recorrente de referências míticas,
religiosas e supersticiosas por todo o romance, de que a tão aludida cena do astrólogo no
capítulo de abertura já é um exemplo radical.
Assim, a existência da protagonista feminina de Mukherjee como Jasmine é crucial
para o seu processo de amadurecimento, porque essa “reencarnação” como Jasmine funciona
como uma eficiente “ponte” ligando a sua existência anterior como a menina e depois
adolescente Jyoti (antes do seu casamento com Prakash) às suas posteriores “existências” ou
“reencarnações” como Kali, Jazzy, Jase e Jane Ripplemeyer. Entretanto, é precisamente
quando se lança um olhar sobre essas existências da protagonista postas em ordem
cronológica (exatamente o que não é oferecido no romance) que se percebe que a dimensão e
a força da protagonista encampam não somente as características de todas as suas outras
existências, mas também alguns traços de Brahma, Vishnu e Shiva. Conseqüentemente, a
amálgama dessas muitas mulheres, somada à incorporação por parte de Jasmine de várias
97
características dessas divindades indianas, acaba por dar uma contribuição significativa para a
representação da sua complexidade identitária.
À luz desses esclarecedores comentários sobre misticismo e reencarnação,
acreditamos que a ênfase recorrente no uso desses conceitos como estratégias de
fragmentação no romance (vistos como recursos narrativos pós-modernos) abre espaço para a
interpretação das várias facetas da personalidade da protagonista como verdadeiras
reencarnações da garotinha Jyoti de Hasnapur. Enfim, temos que levar em consideração todas
essas referências e analisá-las detidamente. Por exemplo, além do episódio da querela entre o
astrólogo e Jyoti, poderíamos evocar também a passagem em que Jane diz que ela deu a seu
marido Budd uma nova trilogia para ele contemplar – Brahma, Vishnu e Shiva -, numa mais
que clara alusão ao hibridismo e à mistura de fatores culturais e religiosos, quando pessoas de
diferentes etnias, línguas e culturas se associam ou mantêm contato (no caso de Jane e Budd,
por relação de casamento). Além disso, infere-se do tom das palavras de Jane que ela está
oferecendo ao seu marido uma trilogia religiosa alternativa tão válida quanto à do Pai, do
Filho e do Espírito Santo do mundo cristão ocidental a que Bud pertence.
Nessa especulação, vale a pena frisar que a transição de uma para outra “existência”
deixa no ar um certo sentido de morte e renascimento e de que a nova mulher saída desse
processo conseguiu trilhar mais alguns passos em direção à maturidade. Porém, há algo mais
no ar: percebe-se que a protagonista continuamente renasce (se transforma) em outras
personalidades, sem nunca ficar claro se ela em algum momento atingirá uma identidade final
e estável; porém, o que fica fora do escopo da dúvida é que de fato o processo de maturidade
é irreversível, como o conseqüente empoderamento advindo desse processo.
Desse modo, conforme fartamente exposto no romance, as múltiplas “reencarnações”
de Jyoti transformam-se no principal recurso que a autora usa para desconstruir e dotar de
complexidade a primeira e (relativamente) simplória faceta (Jyoti) do sujeito pós-colonial
98
feminino apresentado no romance. Seguindo essa linha de raciocínio, Jyoti é aparentemente
um “tabula rasa”, em comparação com as outras alteridades da protagonista apresentadas em
Jasmine. No decorrer do processo de sucessão dessas alteridades, torna-se interessante
observar a aquisição de novos hábitos, estilos e comportamentos diferentes pela protagonista à
medida que a história transcorre.
Na verdade, se todas as conseqüências e implicações do uso ostensivo das noções
ligadas à reencarnação como recurso narrativo facilitador da fragmentação da personalidade
forem consideradas mais detidamente, outra série de fatos corroboradores desse processo de
fragmentação também será igualmente evidenciada. Por exemplo, as previsões astrológicas
sobre a viuvez e o exílio de Jyoti no capítulo 1 somente tornam-se plausíveis e fazem sentido
se levada em conta a noção hindu de que tais fados estão “escritos nas estrelas” para aqueles
que os merecem, em virtude de haverem cometido pecados e faltas graves em encarnações
anteriores. Conseqüentemente, se tais maus presságios estão previstos para Jyoti, isto ocorre
porque ela já teria existido em outros corpos em encarnações anteriores e essas graves faltas e
pecados teriam sido supostamente cometidos por ela. Em suma, a estratégia da autora de fazer
a sucessão de alteridades de Jyoti ser vista ou comparada com reencarnações, de uma forma
velada ou explícita, problematiza a questão da fragmentação da subjetividade, na medida em
que a “consciência de sujeito” da protagonista passa a englobar uma multiplicidade de
personalidades, com vidas, nomes e relacionamentos diferentes, como se cada existência
anterior tivesse sido de algum modo apagada e uma personalidade nova surgido e se inserido
em novo ambiente social e afetivo.
A passagem seguinte dá conta de toda essa farta recorrência de dados e referências
correlacionadas com a reencarnação, endossando-se, assim, a intenção da autora de evocar
esse princípio místico e cultural da Índia e incorporá-lo às suas estratégias narrativas, ao
99
assumir uma postura ao mesmo tempo cética e sarcástica, mas também de respeito e
reverência a um conceito predominantemente não-europeu:
Exceto pelas visitas de meus irmãos nos finais de semana, Mataji e eu ficávamos
sozinhas na sombria cabana das viúvas, somente um pouco melhor instaladas do que
os “Mazbis” e os Intocáveis. Minhas amigas jovens, como a Vimla, nunca nos
visitavam. Uma má-sorte tão inexplicável e aparentemente imerecida parecia
contagiosa. Ela não queria a sua jovem existência impoluta de forma alguma
conspurcada. Um touro e uma bomba tinham tornado as duas viúvas, mãe e filha!
Como elas devem ter pecado para sofrer tanto assim agora! 45
O trecho acima destacado ilustra peremptoriamente o ostracismo que Jasmine e a mãe
experimentaram quando foram morar juntas na cabana das viúvas, em virtude da morte dos
seus maridos, o que configura mais uma forma de opressão sobre a mulher embutida num
hábito cultural arraigado na Índia e cruelmente levado a efeito também pelas outras mulheres
da comunidade, como a personagem Vimla, referida na passagem em destaque, uma outrora
amiga de Jasmine, dos tempos em que ela não era “marcada” ou “amaldiçoada” pelos castigos
de ordem transcendental configurados pela viuvez. É relevante frisar que a parte da passagem
grifada no original e transcrita acima acaba por confirmar um fenômeno polifônico recorrente
no romance; neste caso, é como se o fluxo do discurso de Jasmine tivesse sido interrompido e
a “voz” de Vimla se interpolasse e conduzisse momentaneamente aquele diminuto trecho da
narrativa.
Deve ser frisado que, acerca dessa leitura das diversas vidas da protagonista como
“reencarnações”, existe pelo romance afora uma noção de rompimento entre uma e outra
personalidade da protagonista, o que ocasiona um distanciamento entre a voz narradora
45
No original em inglês: “Except for the visits of my brothers on the weekends, Mataji and I were alone in the
widow’s dark hut, little better than Mazbis and Untouchables. My young friends, like Vimla never visited.
Inexplicable, seemingly undeserved misfortune is contagious. She didn’t want her unblemished young life in any
way marred. A bull and a bomb have made them widows, mother and daughter! How they must have sinned to
suffer so now.!” (MUKHERJEE, 1991, p. 87).
100
preponderante de Jane Ripplemeyer e as referências que ela faz das suas outras “vidas” em
que tinha outros nomes. Resulta disso que o papel do leitor fica realçado, na medida em que
muito se demandará dele para o entendimento da história, como já foi referido anteriormente.
Um outro desses nós problematizadores da narrativa está no capítulo 2, por exemplo.
Ali, numa determinada passagem, além de a narradora apresentar algumas novas personagens
- o seu marido Budd Ripplemeyer, o seu filho adotivo Du Ripplemeyer e um amigo, Darrel - ,
Jane Ripplemeyer também se refere a que um certo Taylor não queria que ela se mudasse de
Iowa (e, nessa existência em que a protagonista encontra Taylor, seu nome era Jase). Em
síntese, partindo-se do primeiro episódio envolvendo o astrólogo e Jyoti em Hasnapur, a
narrativa do capítulo dá um salto para um momento posterior da existência de Jyoti, quando
então a voz de Jane assume a narrativa (dezessete anos após o primeiro episódio descrito). A
partir daí, o foco narrativo do capítulo 2 retoma dois outros “flashbacks” referentes à
existência da protagonista como Jase (em Nova Iorque) e Jane, quando da sua permanência
em Iowa e da sua união com Budd Ripplemeyer. Ainda para tornar a situação mais
complicada, a narradora faz várias referências cruzadas a diversos fatos e situações, sugerindo
que o seu nome é Jane Ripplemeyer, mas ao mesmo tempo se refere ao seu nome original
indiano (Jyoti). Além disso, ela faz essas referências com tal distanciamento que se tem a
impressão de que não se está referindo a ela própria nem quando menciona Jyoti, nem quando
menciona Jane, a mulher de Bud, como se observa abaixo:
(...) A propriedade dos Ripplemeyer: de Bud, minha e de Du. Jane Ripplemeyer tem
uma conta bancária. Jyoti Vijh também tem uma em uma outra cidade. O pai de Bud
fundou o primeiro banco de Baden no sobrado acima da barbearia; agora Bud
preside o banco em um prédio elegante entre a Kwik Copy e a nova Drug Town.46
46
No original em inglês: “(...) The Ripplemeyer land: Bud’s and mine and Du’s. Jane Ripplemeyer has a bank
account. So does Jyoti Vijh, in a different city. Bud’s father started the First Bank of Baden above the barber’s;
now Bud runs it out of a smart building between The Kwik Copy and the new Drug Town” (MUKHERJEE,
1991, p. 43).
101
Não seria preciso dizer que esse tipo de narrativa não convencional, cheio de
referências fragmentadas dispostas numa estrutura de quebra-cabeça, espelha a trajetória da
personagem feminina do romance, que é igualmente fraturada, distorcida e dolorosa. De
forma análoga, a natureza do comportamento da protagonista, conforme se verifica do início
ao final do romance, assim como a seqüência de episódios frenéticos subjacentes à sua
trajetória enquanto sujeito pós-colonial feminino subalterno, constituem um fértil terreno para
a aplicação, confirmação e, em alguns casos, negação de uma série de conceitos e teorias
defendidos por muitos intelectuais e estudiosos que lidam com os estudos pós-coloniais. Tais
idéias e conceitos podem ser de valiosa ajuda para a apreensão do complexo processo de
transformação e formação de identidade de Jasmine.
Retornando a outros aspectos referentes à idéia de reencarnação como poderoso
recurso narrativo corroborador da fragmentação, podemos citar uma passagem bastante
emblemática no início do capítulo 14, que aborda a questão exatamente de acordo com a
crença indiana. Nesse momento, percebe-se que a autora incorpora a questão da reencarnação
com toda a exuberância e naturalidade religiosa e cultural com que os indianos crentes
encaram a questão. Mas, além desse detalhe fundamental, é também uma passagem crucial na
narrativa, porque trata do momento em que Jasmine tinha ficado viúva e, em conseqüência,
simbolicamente “descera” do “plano” de Jasmine para o de “Jyoti” (sua existência original,
primeira, anterior ao casamento com Prakash e à existência como Jasmine). A passagem é
emblemática também do processo peculiar de aquisição de poder por parte da protagonista,
uma vez que ali se expressa tanto a sua firme determinação de não se conformar com o “status
quo” negativo para a mulher naquela sociedade excludente, quanto a sua recusa em
docilmente se acomodar à condição indesejável das viúvas na Índia. É, finalmente, um dos
momentos de reflexão de Jasmine:
102
Pense Vijh & Wife! Prakash me exortava de todo canto da nossa triste escura sala.
Não existe morte, existe somente uma ascensão ou uma descida, uma mudança para
outros planos da existência. Não se arraste de volta para Hasnapur e para o
feudalismo. Aquela Jyoti não existe mais.47
Algumas linhas à frente, ainda no mesmo capítulo, registra-se um outro episódio
muito relevante, quando Jasmine menciona um comentário feito por um “swami”, um
professor de religião hindu, de que a missão suprema do ser humano é criar uma nova vida.
Assim, quando Jasmine dá uma resposta negativa para a indagação feita pelo “swami” sobre
quantos filhos ela tinha, ele começa a rezar. A reação de Jasmine ao sinal de reprovação do
religioso revela uma forma bastante idiossincrática de se encarar o que seja “criação de vida”,
desconstruindo a noção e desatrelando-a do entendimento monolítico de que seja
exclusivamente “reprodução”. Além disso, a passagem corrobora enfaticamente a
incorporação dos “ensinamentos” do seu falecido marido Prakash, que naquele momento lhe
parecem muito mais sábios e confiáveis do que os do “swami”:
Depois, eu pensei, afinal de contas nós tínhamos criado vida. Prakash pegou a Jyoti
e dela criou Jasmine, e Jasmine está fadada a completar a missão de Prakash. Vijh &
Wife. Uma visão tinha se formado. Havia milhares de rúpias em nossa conta
bancária. Ele já tinha a sua aceitação garantida na Flórida e o seu “visa”. Eu contei
tudo isso a meus irmãos, juntamente com o plano que eu tinha arquitetado. Eles
ficaram estupefatos. Uma garota provinciana indo sozinha para a América, sem
emprego, marido e documentos? Eu devia estar louca! Certamente, eu estava. Eu
contei a eles que tinha feito uma promessa para Deus de fazer aquilo. Era uma
questão de dever e de honra. Eu não ousei contar nada a minha mãe. 48
A narrativa, em seguida, flui pelos capítulos 3, 4 e 5, focalizando reminiscências da vida
de Jane enquanto esposa de Bud. Tal fato ajuda o leitor a juntar mais algumas partes do
47
No original em inglês: “Think Vijh & Wife! Prakash exhorted me from every corner of our grief-darkened
room. There is no dying, there is only an ascending or a descending, a moving on to other planes. Don’t crawl
back to Hasnapur and feudalism. That Jyoti is dead” (MUKHERJEE, 1991, p. 87).
48
No original em inglês: “Later, I thought, We had created life. Prakash has taken Jyoti and created Jasmine, and
Jasmine would complete the mission of Prakash. Vijh & Wife. A vision had formed. There were thousands of
rupees in our account. He had his Florida acceptance and his American visa. I turned everything over to my
brothers, along with my plan. They were stupefied. A village girl, going alone to America, without job, husband,
or papers? I must be mad! Certainly, I was. I told them I had sworn it before God. A matter of duty and honor. I
dared not tell my mother ” (Ibid, p. 88).
103
verdadeiro quebra-cabeça que é a vida de Jane. No início do capítulo 4, por exemplo, Jasmine
refere-se ao fato de que Bud decide começar a nomeá-la Jane, imitando o modo como o
personagem Tarzan costumava fazer com a Jane na antiga produção cinematográfica norteamericana, baseada no romance Tarzan of the Apes, de Edgar Rice Borroughs, que acabou se
transformando numa famosa série televisiva: “Mim, Tarzan; você, Jane”, de que Bud faz uma
paródia dizendo: “Eu, Bud; você, Jane” 49. É interessante realçar como a questão da outridade
sutilmente desponta deste aparentemente insignificante episódio. Ou seja, naquela série de
filmes hollywodianos, apesar de brancos, Tarzan e Jane são dois personagens bastante
diferentes, cujas vidas estão ligadas pelo destino: Jane é uma jovem mulher americana, muito
bem educada, que se apaixona por Tarzan, um homem inglês que fora perdido nas selvas
africanas desde a sua infância e que sobreviveu por ter sido criado por macacos. Esta
referência intertextual insere-se numa série maior à qual retornaremos com mais vagar no
Capítulo 5, quando a questão identitária estiver sendo focalizada mais de perto.
No capítulo 18, há outro momento emblemático de ironia bem refinada, em que Jane
Ripplemeyer está confabulando com a Dra. Mary Webber, uma americana que acredita em
experiências transcendentais (viagens astrais e reencarnação). Na passagem, a principal razão
para o entusiasmo da referida personagem baseia-se em sua convicção de que, sendo Jane
oriunda da Índia, seria natural se esperar que ela gostasse de conversar sobre tais assuntos, ou
mesmo tivesse a obrigação “natural” de acreditar neles. Nesse ponto, então, a ironia é
soberba, pois Jane responde às inquirições da Dra. Webber dizendo: “Eu respondo a ela que
sim, eu estou certa de que eu já renasci muitas vezes e que de muitas dessas vidas eu me
recordo perfeitamente”, e acrescentando, após uma pequena pausa: “Sim”, eu digo a ela “eu
acredito mesmo em você. Nós certamente continuamos a visitar o mundo de tempos em
49
No original em inglês: “Me, Bud, you Jane” (MUKHERJEE, 1991, p.22).
104
tempos. Eu mesma já viajei no tempo e no espaço. Isto é mesmo possível”
50
. Dando à Dra.
Webber esses tipos de resposta, usando as noções de misticismo e reencarnação, Jane está na
verdade se referindo à sucessão de desgraças e infortúnios que a acometeram em vez de estar
falando de reencarnação propriamente dita. Mas o que se torna ainda mais digno de ênfase é
que a Dra. Mary Webber não tem nenhuma condição de compreender que está sendo
ironizada pelas aparentes concordâncias de Jane com as suas pronunciadas crenças. Torna-se
digno de nota aqui que Jasmine, enquanto sujeito pós-colonial híbrido em formação, já é
capaz de apresentar alguns tipos de comportamento contraditórios como sinais de aquisição
de uma certa visão crítica da sua própria situação peculiar: fazendo troça com as crenças da
Dra. Webber em reencarnação, ela demonstra uma visão cética acerca do conceito. Entretanto,
a situação é mais complexa do que parece, pois, quando lamenta as agruras da sua presente
existência enquanto Jane Ripplemeyer, a personagem deixa virem à tona resquícios
inequívocos da sua fé religiosa indiana, como na passagem seguinte: “Eu nunca deveria ter
existido como a Jane Ripplemeyer de Iowa, Baden (...) Quando o futuro de Jyoti fora
bloqueado depois da morte de Prakash, o Senhor Rama a devia ter levado embora deste
mundo”
51
. Além dessa passagem, ainda temos a sua afirmação ambígua “Teoricamente, eu
acredito em reencarnação”
52
, um pouco antes de dar à Mary Webber as respostas que ela
queria ouvir. Em suma, Mukherjee desconstrói o conceito de reencarnação e brinca com ele,
não deixando nada de fora: nem o seu oscilante ceticismo, nem a sua utilização para
fragmentar a personalidade da protagonista ou representar os seus deslocamentos diaspóricos,
ou, até mesmo, a real possibilidade de assumir momentaneamente a crença na reencarnação
para explicar as agruras por que ela sempre passa.
50
No original em inglês: “I tell her that that yes, I am sure that I have been reborn several times, and that yes,
some lives I can recall vividly (...) Yes, I do believe you. We do keep revisitng the world. I have also traveled in
time and space. It is possible” (MUKHERJEE, 1991, p. 113).
51
No original em inglês: “I should never have been Jane Ripplemeyer of Baden, Iowa. (...) When the future of
Jyoti was blocked after the death of Prakash, Lord Yama should have taken her” (Ibid, p. 113).
52
No original em inglês: “Theoretically, I believe in reincanation” (Ibid, p. 112).
105
Após deixar a casa de Professorji, seu amigo indiano e imigrante ilegal nos Estados
Unidos, Jasmine começa a aprender a como ser uma americana enquanto trabalha na casa de
Willie e Taylor, tendo a função principal de babá da filha adotiva do casal, Duff. Lá, ela tem
contato com o ‘modus vivendi’ americano, e então se torna capaz de fazer certas comparações
entre a Índia e a América. Esta é a razão pela qual o que resta de Jasmine se extingue,
ocasionando o “nascimento” de Jase, totalmente hipnotizada pelo dinamismo do que
significava “ser uma americana”, como se depreende do que a própria personagem afirma:
Eu deveria ter sido mais econômica; uma boa poupança é a única garantia que se
tem. Se há uma coisa que eu deveria ter aprendido com os sovinas Vadheras é que
Jyoti deveria ter economizado mais. Mas agora a Jyoti era uma deusa sáti, pois ela
foi cremada numa pira funerária atrás do apinhado motel na Flórida. Jasmine viveu
para o futuro, para a “Vijh & Wife”. Já a Jase ia muito para o cinema e vivia para o
presente (...) Pois para toda confiável criada Jasmine, sempre haverá Jase, a
incansável aventureira. Eu me arrepiava ao empuxo dessas forças contraditórias. Eu
rezava para que o meu emprego como a mãe postiça de Duff nunca tivesse fim. 53
Entretanto, a velocidade das transformações é o que de fato parece caracterizar Jasmine
como um típico sujeito pós-colonial híbrido, como ela mesma reconhece, em passagens como
a que segue:
Eu me sinto muitas vezes como uma pedra em movimento arremessada em uma
névoa diáfana, incapaz de se fixar, incapaz de desacelerar, mas mesmo assim nem
um pouco disposta a abandonar a corrida. Eu estou ativa, eu vou para a frente mais e
mais. Onde eu vou parar, somente Deus sabe. 54
53
No original em inglês: “I should have saved; a cash stash is the only safety net. I’d learned that if nothing else
from the scrimping Vadheras. Jyoti would have saved. But Jyoti was now a sati-goddess; she had burned herself
in a trash-can-funeral pyre behind a boarded-up motel in Florida. Jasmine lived for the future, for Vijh & Wife.
Jase went to the movies and lived for today. (...) For every Jasmine the reliable caregiver, there is a Jase the
prowling adventurer. I thrilled to the tug of opposing forces. I prayed my job as Duff’s ‘day mummy’ would last
forever” (MUKHERJEE, 1991. p. 156-157).
54
No original em inglês: “I feel at times like a stone hurtling through diaphanous mist, unable to grab hold,
unable to slow myself, yet unwilling to abandon the ride I’m on. Down and down I go, where I’ll stop only God
konws” (Ibid, p. 123).
106
Dessa forma, depois de dramaticamente avistar em Nova Iorque o terrorista que tinha
matado Prakash, chega a hora de ela findar (ou suspender) a sua existência como Jase, e então
rumar para Iowa para se transformar em Jane Ripplemeyer, a esposa de Bud.
É sobremaneira admirável a percepção de como Mukherjee lida com o uso dos
princípios reencarnacionistas tanto para desconstruir e problematizar a personalidade
simplória de Jyoti, como para construir uma nova e intricada subjetividade da personagem
pós-colonial feminina em questão, para a qual ela arrisca algumas definições. Como se pode
perceber por todo o romance, há um número abundante de referências correlacionadas ao
renascimento, mudança, encarnação, apropriação e incorporação de outras personalidades, por
exemplo. De forma semelhante – mas ainda muito mais sutil – existem referências esparsas
aos deuses do panteão hindu no meio de passagens emblemáticas da narrativa, principalmente
com relação a Kali, Brahma, Shiva e Vishnu. Se o leitor suspeita de certas intenções da parte
da autora e procede a pesquisas sobre os papéis dessas deidades, ele vai acabar descobrindo
uma conexão muito sintomática entre essas tais referências e as muitas “encarnações” de
Jasmine.
De qualquer maneira, todo o processo de interpretação das estratégias de apropriação de
crenças religiosas e de idéias místicas (ou míticas) pertencentes às tradições culturais da Índia,
como um todo, e daquelas estritamente relacionadas à reencarnação, em particular, tornam
flagrantes as intenções de Mukherjee de usar todo esse material para engendrar recursos
narrativos de desconstrução altamente eficazes, a despeito de fazê-lo de forma sutil ou radical,
ou até mesmo de tal fato implicar aceitação, crítica, ou mero propósito irônico para a
desconstrução e a reavaliação de valores orientais ou ocidentais atinentes à construção da
identidade do indivíduo. Este é o caso com a representação das várias mulheres,
personalidades, facetas da mesma personalidade, alteridades, máscaras ou “reencarnações”,
107
como majoritariamente optamos por rotular as representações fragmentadas da(s)
identidade(s) da protagonista de Mukherjee nesta Tese.
Resulta daí que, tendo em mente que o recurso provido por tais estratégias facilita e
endossa a fragmentação e problematiza a personalidade da pequena Jyoti de Hasnapur, como
um passo indispensável para a sua transformação num típico sujeito pós-colonial, podemos
alinhar todo esse processo com a narrativa quebrada, não cronológica e não linear. Em suma,
um tipo de fragmentação faz eco do outro, da mesma forma que essa quebra e essa
desarrumação do discurso narrativo tornam-se metáforas da fragmentação das identidades da
protagonista de Jasmine. De forma semelhante, toda a complexidade, instabilidade e tensão
decorrentes do processo identitário representado literariamente no romance de Mukherjee
espelham possibilidades factíveis de relações entre as antigas colônias e suas então
metrópoles (e, por implicação, entre colonizadores e colonizados), assim como entre grande
parte das atuais nações ditas de terceiro-mundo (em sua maioria, ex-colônias) e os presentes
países desenvolvidos (geralmente, as ex-metrópoles coloniais do passado). Constrói-se, então,
a atmosfera pós-colonial que traz todo esse legado complexo do passado colonial,
ressignificando-o dentro da atmosfera da contemporaneidade.
À luz da intrincada rede de conexões com a qual os sujeitos pós-coloniais são postos em
contato, as suas tentativas de construção identitária tornam-se um processo comumente difícil
e doloroso, a requerer deles uma grande capacidade de adaptação a mudanças, assimilação de
novas culturas e desenvolvimento de estratégias efetivas de sobrevivência nas suas tão
características e (por vezes) compulsórias diásporas. Como um dos resultados desse processo,
o sujeito pós-colonial pode lançar mão das suas múltiplas e fragmentadas experiências como
ponto de partida para a construção da sua identidade, a despeito de todas as dificuldades
enfrentadas pelo caminho, porque esse sujeito, enquanto homem ou mulher, terá
invariavelmente adquirido uma mais vasta gama de recursos e experiências emocionais do
108
que os indivíduos pertencentes às culturas dominantes e que não estejam sujeitos tão
radicalmente aos impositivos da fragmentação por razões políticas e históricas. Fica patente
aqui que a aquisição dessas vivências peculiares por parte dos sujeitos pós-coloniais ditos
subalternos acaba por implicar um certo sentido de superioridade emocional em função de
estarem submetidos a experiências múltiplas, fluidas e variáveis, e por se situarem nos
entrelugares das culturas pelas quais eles têm que transitar.
No caso de Jasmine, a fragmentação da personalidade representada pelas suas múltiplas
vidas como mulheres diferentes torna-se um meio eficaz através do qual ela parece estar no
caminho certo para atingir a sua simbólica “moksha”, ou seja, a liberação espiritual das
“reencarnações” e conseqüente aquisição de iluminação no hinduísmo, conforme explicado
por Civita (p. 1238-1239), o que equivale a dizer que o processo identitário de Jasmine está
um pouco mais perto da sua conclusão (ou, no mínimo, ganhando mais complexidade). No
último capítulo do livro, embora a protagonista esteja, por assim dizer, sob a influência de
Shiva e, por causa disto, em movimento para vivenciar novas experiências, algo diferente está
acontecendo: ela está voltando para Taylor. Isto significa que a protagonista está dando um
passo atrás, retrocedendo para uma vida anterior. Entretanto, distintamente de quando Jasmine
voltou a ser Jyoti depois da trágica viuvez, dessa vez Jane Ripplemeyer está voltando para
uma “encarnação” em que ela fora de fato feliz e da qual desejara nunca ter saído. Deve-se
aqui acrescentar que “estar sob a influência de Shiva”, conforme mencionado acima, equivale
a dizer que se está corporificando no texto uma das sugestões de intercâmbio de alteridade a
que a protagonista está sujeita; dessa vez, com Shiva, a faceta da Trilogia Trimúrti composta
por Brahma, Vishnu e Shiva. Ressalte-se que Shiva é a faceta da divindade responsável, entre
outras coisas, pelas mudanças radicais na vida dos indivíduos, dos povos e do universo, como
será abordado mais atentamente no Capítulo 5.
109
Quando Jane decide voltar para Taylor, fica indefinida no ar a questão de se ela vai
voltar a ser Jase ou não. O leque de possibilidades se abre, pois já fora sinalizado pela
narradora que ter sido Jase fora prazeroso; por outro lado, o fato pode também significar que a
protagonista está deixando de “ser Shiva”. Todavia, mesmo que retorne para a sua existência
como Jase, ela não será a mesma, uma vez que terá o legado de todas as experiências ricas,
duras e traumáticas adquiridas como a mulher de Bud em Iowa. Assim, a despeito de se Jane
Ripplemeyer vai se fixar na sua antiga existência como Jase ou não, ou se ela vai continuar
“suscetível” aos movimentos de Shiva e seguir “reencarnando” como outras mulheres ou não,
o que de fato importa é o resultado de todo esse processo. E, no bojo dessas conseqüências,
realmente dignas de nota são as heranças culturais e as experiências multiculturais híbridas
acumuladas pela protagonista, que serão partes inalienáveis da identidade que está
construindo. Em suma, conseguindo manter um equilíbrio entre resistência e assimilação
cultural, Jasmine está no caminho da construção de um tipo de identidade marcadamente mais
rico do que os daqueles sujeitos não submetidos às agruras da fragmentação cultural,
psicológica, política, lingüística e emocional. Este dado ficcional de certa forma reflete o que
os Estudos Culturais têm sobejamente provado ser verdadeiro nas relações sociais e políticas
do mundo contemporâneo, em que países pobres e ricos e imigrantes e populações das nações
desenvolvidas debatem-se, desentendem-se, ou por vezes, integram-se.
2.3 - Fragmentação da Narrativa e das Identidades em Alias Grace
Procedendo a uma mudança bastante radical de foco, encetamos agora a apreciação das
contribuições conferidas pela Desconstrução e pela fragmentação da personalidade e da
narrativa ao processo de formação identitária de Grace Marks, a protagonista do romance
110
Alias Grace, de Margaret Atwood, no intuito de detectar os fatores em comum que apontem
para a liberação das protagonistas Jasmine e Grace Marks da condição de sujeitos subalternos.
Enquanto a fragmentação das alteridades da protagonista de Mukherjee e a própria
complexidade da narrativa não-linear de Jasmine são elevadas a um grau superlativo, as
rupturas narrativas e o esfacelamento identitário de Grace Marks no romance de Atwood
processam-se obedecendo a um ritmo menos acelerado, mas nem por isso menos significativo
e traumático. A questão em Alias Grace é a de se vislumbrarem os vieses de intercessão que
permitam um diálogo com Jasmine e ressaltem as semelhanças e as diferenças entre as
estratégias narrativas que apontem para a questão do empoderamento das protagonistas
femininas.
Para marcarmos o início das especulações acerca das descontinuidades narrativas de
Alias Grace em si e das múltiplas facetas da personalidade de Grace Marks, é necessário
frisar que existe um fator diferenciador fundamental entre o romance de Mukherjee e o de
Atwood: em Grace Marks, existe a mistura e o imbricamento entre elementos ficcionais e
elementos históricos, uma vez que o drama da protagonista de Atwood se problematiza a
partir de um duplo homicídio de fato ocorrido no verão de 1843, numa pequena cidade
chamada Richmond Hill, situada ao norte de Toronto, no Canadá. As vítimas desse crime
foram o fazendeiro Thomas Kinnear e a sua própria governanta e amante, Nancy
Montgomery, que estava grávida de um filho do patrão. Os dois foram encontrados mortos no
porão da casa da fazenda e dois empregados irlandeses de Kinnear foram imediatamente tidos
como os supostos assassinos do casal: a nossa Grace Marks, então contando 16 anos de idade,
e James McDermott, um peão de 21 anos, soturno, de poucas palavras e de feições graves e
nada amistosas. Os registros oficiais relatam que os dois jovens imigrantes desapareceram da
cena do crime, mas foram prontamente encontrados dias mais tarde em uma taverna barata de
Lewiston, do outro lado da fronteira canadense, em território norte-americano. De volta ao
111
Canadá, os dois foram julgados e condenados à morte, porém a consumação da pena somente
afetou a James McDermott, uma vez que Grace Marks teve a sua pena capital comutada para
prisão perpétua, por conta da pouca idade e pela pressão de alguns grupos de militantes
políticos e religiosos, que acreditavam pairarem dúvidas sobre o grau de participação de
Grace nos homicídios hediondos à vista do povo canadense (deve-se ressaltar aqui que a
gravidade incontestável dos crimes fora sobremaneira intensificada pelo fato de terem sido
supostamente cometidos por dois imigrantes irlandeses, cujos desdobramentos se farão mais
claros em capítulo posterior).
Dessa forma, com os depoimentos de acusação do jovem Jamie Walsh, um outro
empregado de Thomas Kinnear, confirmaram-se as condenações de Grace e McDermott,
vindo este a ser enforcado em novembro de 1843. A partir desse momento, Grace Marks foi
confinada na Penitenciária Kingston também em novembro daquele mesmo ano. Porém, a
saga e o périplo da figura histórica/personagem de ficção Grace Marks estavam apenas no seu
início, uma vez que uma série de circunstâncias passou a determinar uma tortuosa mobilidade
da personagem. De fato, nove anos após a prisão, no mês de maio de 1852, consta o registro
da sua transferência para o Hospício Provincial de Toronto, por conta do diagnóstico de louca
furiosa que o seu então comportamento alterado lhe rendeu. No ano seguinte, no mês de
agosto, Grace é levada de volta à Penitenciária Kingston, na condição de presa altamente
perigosa, susceptível a fases de grande rebeldia e extrema resistência à autoridade. Entretanto,
como quase tudo que envolve a Grace Marks histórica, mais um fenômeno inusitado se
consubstancia na sua trajetória, na medida em que Grace logra conseguir o perdão do seu
crime, mercê das pressões e atuação do grupo de amigos influentes que ela acaba atraindo
para si e que acreditam na sua inocência. Desse modo, em 7 de agosto de 1872, Grace Marks
deixa a prisão, após vinte e nove anos de encarceramento. Estava a nossa protagonista então
com quarenta e cinco anos de idade e, de acordo com registros da época, ela teria se mudado
112
para o Estado de Nova Iorque e lá se casado; a partir de então, cessam todas as referências
sobre Grace Marks. A despeito disto, torna-se sintomático já estabelecer uma teia comparativa
embrionária entre Jasmine e Grace Marks:
a)
as
duas
protagonistas
provêm
de
países
estrangeiros
de
“status”
comprovadamente subalternos (Índia e Irlanda) com relação às suas
“metrópoles”, e/ou “ex-metrópoles” (Inglaterra e Canadá – destacando-se aqui
que o Canadá do século XIX enquanto colônia inglesa funciona para o
imigrante irlandês como se fosse a própria Inglaterra opressora da Irlanda,
denotando uma clara função esquizofrênica do Canadá, com relação à sua
identidade nacional), ou até mesmo potência “neocolonizadora” (neste caso,
os Estados Unidos, que acabam por ser o país de destino das duas imigrantes);
b)
como se verá mais adiante com relação a Grace Marks, ela também passou por
uma diáspora marítima tão ou mais traumática, desconfortável, desumana e
humilhante quanto a de Jasmine, na qual inclusive perdera a mãe e presenciara
o lançamento do seu corpo ao mar. Além disso, as condições de transporte do
navio que a trouxera da Irlanda com a família reportam-nos, respeitados os
limites, às condições de transporte inimaginavelmente desumanas dos antigos
navios negreiros que transportavam populações africanas para a servidão nas
Américas;
c)
no histórico de ambas as protagonistas constam homicídios (enquanto Jasmine
foi obrigada a matar “Half-Face” após ser por ele estuprada, Grace Marks é de
fato acusada do homicídio de Kinnear e Nancy) e histórico de insanidade (a de
Grace Marks parece de fato “mais comprovável” pelas internações, relatos e
registros da época, ao passo que a de Jasmine é insinuada algumas vezes no
113
romance, conforme já fartamente aludido no início deste capítulo). Ou seja,
crimes e insanidade (mesmo que fingidas e com fins de sobrevivência)
parecem situações inevitáveis e impostas aos imigrantes, como produto das
pressões a que se vêem expostos;
d)
a questão da fragmentação identitária a que os sujeitos pós-coloniais são
comumente expostos também é digna de destaque aqui – nomes patentemente
falsos e “vulgos”, comprovadamente requerentes de comportamentos
adequados para formarem uma identidade diferente da original, para fins de
sobrevivência, fuga/disfarce ou adaptação às novas culturas por que transitam.
No caso de Jasmine, reportamo-nos à profusão de nomes e alteridades que a
protagonista vai adotando pela sua trajetória; com Grace Marks, o mesmo
processo se dá, embora menos contundente e profuso, quando ela assume e/ou
se identifica fortemente com as características da personalidade de Mary
Whitney ou até mesmo de Nancy Montgomery;
e)
a questão do misticismo, com a referência recorrente a aspectos da
religiosidade hindu em Jasmine (deuses, reencarnação etc) e a emblemática
cena de “possessão” espiritual de que Grace Marks é vítima, conforme se
relatará mais pormenorizadamente ainda neste capítulo, são indícios de
problematização da identidade das protagonistas;
f)
por fim – e para finalizarmos esta pequena digressão e retornarmos à questão
do tipo de fragmentação narrativo que ocorre em Alias Grace - , devemos
levar em consideração que tanto Bharati Mukherjee quanto Margaret Atwood
copiosamente lançam mão de estratégias de desconstrução da narrativa que
vão refletir a multiplicidade de representações identitárias das protagonistas
dos seus respectivos romances.
114
Retornando, assim, às considerações acerca do tipo de fragmentação da narrativa em
Alias Grace, podemos afirmar que esse processo se dá de forma bem distinta da forma como
ele ocorre em Jasmine. Numa primeira palavra a esse respeito, podemos afirmar que enquanto
Bharati Mukherjee subverte totalmente a ordem linear e cronológica de apresentação dos
eventos em seu livro (já desconstruindo o princípio aristotélico de início, meio e fim), as
estratégias de Margaret Atwood vão se concentrar menos na “desarrumação” da ordem de
apresentação dos eventos na narrativa do que na desconstrução do gênero narrativo
“romance”. Ou seja, Atwood vai proceder à fragmentação do que se entende por “romance”,
enquanto gênero literário, mesclando isso com as várias “versões” de quem seria a sua
protagonista Grace Marks, através de diversos pontos de vista divergentes. Em suma, a
mistura dessas duas formas de fragmentação indubitavelmente se constituirá um elemento de
enriquecimento e problematização identitária da personalidade de Grace Marks. Para
começarmos então as nossas apreciações acerca da fragmentação e da desconstrução de que
Atwood reveste o seu romance, citamos as palavras de Peonia Viana Guedes, tão
esclarecedoras dessa peculiar condição de Alias Grace:
Em Alias Grace (traduzido como Vulgo, Grace), publicado em 1996, Margaret
Atwood recorre a copiosos elementos paratextuais, entre eles epígrafes poéticas
significativas; trechos de entrevistas e artigos de jornal; excertos das confissões de
Grace e de James; arquivos do tribunal, da penitenciária e do hospício; baladas
populares da época; retratos dos assassinos, publicados no Toronto Star; desenhos,
extraídos de moldes para a confecção de colcha de retalhos, antepostos a cada
capítulo da obra; correspondências de médicos e reverendos; fontes diversas de
materiais de interesse, ou incorporados ao folclore canadense, ou referidos em
histórias e memórias destinadas a futuras gerações de aficionados e pesquisadores
de relatos de crimes, da história e da literatura (GUEDES, 2002, p. 71).
Deve-se frisar que, conforme salientado na última parte da citação de Peonia Guedes
acima, o crime ocorrido na Toronto do século XIX de fato atraiu a atenção não somente da
imprensa sensacionalista nacional e internacional da época, mas também de escritores e
115
pesquisadores como a escritora canadense Susanna Moodie, contemporânea de Grace Marks,
que, ao saber do bombástico crime no qual Grace estava envolvida através do advogado que a
defendera, resolveu procurá-la na prisão e depois no hospício. O resultado dessas visitas
Moodie transportou para o seu segundo livro de memórias, Life in the Clearings, publicado na
Inglaterra em 1853.
Todavia, antes de examinarmos os desdobramentos desses escritos de Moodie e a sua
influência em Atwood para conceber a Grace Marks de Alias Grace, devemos recuar um
pouco mais no passado e avaliar, mesmo que superficialmente, os tipos de ideologia carreados
pela literatura dessa escritora canadense do século XIX. Em uma publicação anterior a Life in
the Clearings, a autora parece escrever quase que exclusivamente para o público britânico,
concentrando-se na “outridade” (“otherness”) e na “estrangeirice” (“foreigness”) das maneiras
canadenses, em oposição aos refinados modos europeus, dessa forma enfatizando as
vantagens e os privilégios não só de “estar” (na) como de “ser” a metrópole, em oposição ao
conceito de “ser nativo” (da colônia) e ter uma vida “provinciana”, conforme nos informa
Leon Litvak (1996, p. 120). Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Moodie publica
posteriormente Life in the Clearings, em que ela pretende descrever o lado ocidental do
Canadá como o mais civilizado. É neste livro que Moodie inclui as suas impressões sobre
uma visita que ela fez a Grace Marks em um hospício de Toronto. Nessa passagem, Moodie
descreve Marks como uma mulher louca, incontinente, saltitante e gritona, concluindo o seu
escrito sobre ela com o voto pio de que essa “louca delirante venha algum dia a encontrar paz
aos pés de Jesus na vida espiritual”, conforme registra Litvak.55
Curiosamente, Margaret Atwood demonstra primeiro interesse no drama e na história de
Grace Marks nos anos de 1970, quando escreve um seriado para televisão que se baseia
fortemente nas versões do caso de Marks contidos nos escritos de Susanna Moodie.
55
No original em inglês: “(...) This raving maniac would find some peace at the feet of Jesus in the next world”
(LITVAK, 1996, p. 120).
116
Entretanto, retornando ao assunto cerca de vinte anos depois, Atwood assume uma postura
mais crítica, oferecendo ao público, com Alias Grace, uma versão muito mais complexa,
sofisticada e instigante do caso do que a versão seca e reducionista perpassada pelo título
dado ao registro do caso por Moodie em Life in the Clearings – “Mulher fatal induz obscuro
peão de fazenda a cometer um homicídio” -, versão que coloca praticamente toda a culpa dos
lamentáveis crimes sobre os ombros de Grace Marks, criando uma aura de vítima de
aliciamento para James McDermott. Em suma, Margaret Atwood passa a subverter todas
essas versões peremptórias acerca da culpa irrecorrível de Grace Marks, assim como
reexamina a identidade canadense, enquanto reescreve suas versões da vida pública e privada
da Toronto do século XIX, partindo principalmente das versões de Susanna Moodie (mas não
se reduzindo a elas), e efetivando, na prática, o que Linda Hutcheon classifica como sendo o
uso da ironia como uma regra subversiva poderosa para repensar e revisitar a história tanto
pelo artista pós-moderno quanto pelo artista pós-colonial (HUTCHEON, 1997, p.131).
Em Alias Grace, Margaret Atwood reconstitui a história de Grace Marks lançando mão
de fontes e personagens históricos e ficcionais simultaneamente, num entrelaçamento que
gera situações inusitadas e indicadoras de estratégias narrativas altamente sofisticadas por
parte da autora. Tudo isso Atwood explica no final do livro, numa seção curiosamente
denominada “Posfácio da Autora” (o que em si já é incomum, pois o que é corriqueiro, linear
e esperado pelo leitor é que qualquer elucidação sobre o livro seja dada no início, no
“prefácio”). Nesse “posfácio”, Atwood começa explicando que “Alias Grace é um livro de
ficção, embora baseado na realidade”
56
. A seguir, a ironia a que Linda Hutcheon se refere,
citada no parágrafo anterior, encontra expressão nas afirmações que Atwood faz nessas
elucidações tardias, o que revela a plena consciência da autora da ambigüidade subjacente aos
eventos históricos, como quando ela afirma:
56
No original em inglês: “Alias Grace is a book of fiction, although it is based on reality” (ATWOOD, 1996, p.
461).
117
Eu naturalmente ficcionalizei eventos históricos (do mesmo jeito que o fizeram
outros pesquisadores do caso que alegaram estar escrevendo história). Eu não
modifiquei nenhum fato conhecido, embora os registros escritos sejam tão
contraditórios que poucos deles possam de fato ser tidos como inequivocamente
“verdadeiros” (...) Quando tive dúvidas, tentei escolher a alternativa mais provável
e, sempre que possível conciliei todas as hipóteses. Onde nos registros havia meras
insinuações e evidentes lacunas, eu me senti livre para inventar. 57
A propósito dessas estratégias narrativas de Atwood, Peonia Guedes (2002, p. 71)
informa que a distinção entre os discursos da história e da literatura é hoje, de acordo com a
crítica canadense Linda Hutcheon, totalmente desafiada pela teoria e arte pós-modernas, uma
vez que as leituras críticas mais recentes, tanto da história quanto da ficção, sintonizam-se
muito mais com o que os dois gêneros têm em comum do que com as suas diferenças,
conforme a própria Linda Hutcheon ressalta em “...vimos que também existe uma concepção
bastante diferente de história na arte pós-moderna, mas desta vez trata-se da história como
intertexto” e que se completa quando ela afirma “A história torna-se um texto, um construto
discursivo do qual a ficção se serve com a mesma intimidade com que se serve de outros
textos da literatura”
58
. Já em outro artigo também muito esclarecedor da metaficção
historiográfica, Hutcheon assevera que a metaficção historiográfica está presente nos
romances pós-modernos que são “intensamente auto-reflexivos, mas que também tanto
reintroduzem o contexto histórico na metaficção como também problematizam toda a questão
do conhecimento histórico.”59 Confirmando a argumentação de Hutcheon, Francis Sparshott
afirma que a metaficção historiográfica tem como um dos seus princípios a garantia de que o
seu mundo seja ao mesmo tempo decididamente fictício e inegavelmente histórico, de modo
57
No original em inglês; “I have of course ficcionalized historical events (as did many commentators on this
case who claimed to be writing history). I have not changed any known facts, although the written accounts are
so contradictory that few emerge as unequivocally ‘known’. (...) When in doubt, I have tried to choose the most
likely possibility, while accomodating all possibilities wherever feasible. Where mere hints and outright gaps
exist in the records, I have felt free to invent” (Ibid, p. 465).
58
No original em inglês: “History becomes a text, a discursive construct upon which fiction draws as easily as it
does upon other texts of literature” (HUTCHEON, 1992, p.142).
59
No original em inglês: “(...) intensely self-reflexive but that also both re-introduce historical ccontext into
metafiction and problematize the entire question of historical knowledge” (Ibid, 1989, p. 54).
118
que as duas esferas tenham em comum a sua constituição no discurso e como discurso
(SPARSHOTT, 1986, p. 154-5), o que é complementado pela afirmação de Hutcheon de que
“a história, enquanto relato narrativo, é, pois, irrecorrivelmente figurativa, alegórica, fictícia;
sempre já textualizada, sempre já interpretada” 60.
Em vista de todas essas elucidações sobre a metaficção historiográfica, concluímos que
Margaret Atwood lança mão de informações factuais retiradas de fontes oficiais, de relatos
históricos, de notícias de jornais do século XIX e de partes de Life in the Clearings para
conceber um dos mais lídimos e representativos exemplos de metaficção historiográfica nas
literaturas de língua inglesa. Nessa medida, em Alias Grace, Peonia Guedes afirma que
Margaret Atwood:
(...) não somente cria uma história de assassinato, loucura e obsessão, como ainda
pinta um quadro estarrecedor da vida e dos costumes da sociedade provinciana
canadense do século XIX. A narrativa configura a pressão pela reforma social que
dividia os cidadãos canadenses quanto ao tratamento diferenciado e preconceituoso
dispensado aos imigrantes, empregados e mulheres; mostra a disseminação do
espiritualismo, do mesmerismo, e das novas teorias sobre a doença mental, bem
como do tratamento de fenômenos como amnésia, sonambulismo, histeria, dupla
personalidade e de toda sorte de doenças nervosas (GUEDES, 2002, p. 72).
A divisão dos capítulos de Alias Grace também se insere em uma situação não
convencional, pois os seus cinqüenta e três capítulos estão distribuídos em quinze partes
denominadas a partir dos padrões de uma colcha de retalhos. A cada uma dessas quinze
partes, com seus respectivos nomes relacionados a esse artefato notadamente feminino,
corresponde um desenho que representa o padrão de bordado da colcha de retalhos a que o
título da parte se refere. Devem-se ressaltar de início os potenciais irônicos e metafóricos
desse tipo de recurso usado por Atwood, na medida em que a colcha de retalhos liga-se a
profundas questões de opressão da sociedade patriarcal ocidental que serão atacadas pela
60
No original em inglês: “Histoy as a narrative account, then is unavoidably figurative, allegorical, fictive; it is
always textualized, always already interpreted” (Ibid, 1992, p. 143).
119
autora no romance. A colcha de retalhos tem comumente constituído um símbolo das prendas
domésticas e do zelo e do cuidado feminino com a casa, os filhos, o marido e com a sua
memória enquanto perpetuadora dos valores patriarcais que oprimem as próprias mulheres.
Todavia, a questão não é tão simples quanto parece, pois se os aspectos da desconstrução e da
subversão forem levados em consideração, veremos que a colcha de retalhos tem sido
comumente reinterpretada e reinventada no universo metafórico da literatura da
contemporaneidade, principalmente quando produzida por mulheres escritoras.61 Este é o caso
dos novos sentidos que Margaret Atwood parece querer atribuir à utilização desse recurso,
uma vez que Grace Marks não pode ser tida como uma lídima representante do
comportamento exemplar que a sociedade vitoriana da Toronto do século XIX requeria da
mulher. Então, em vista disso, conclui-se que no mínimo as intenções da autora são altamente
irônicas, assim como reveladoras de outra função para essa mesma colcha de retalhos: a de
metáfora da construção de uma identidade feminina bastante fluida e fragmentada, por razões
políticas, de gênero, emocionais, psicológicas, sociais e de saúde (desequilíbrio mental).
Feito este preâmbulo, focalizaremos prioritariamente algumas partes e capítulos mais
significativos do romance, cuja análise possa representar os outros não mencionados com
tanta minúcia, para efeito prático e de não nos desviarmos da finalidade precípua desta Tese.
Temos, então, a primeira parte do romance, “Jagged Edge” (“Arestas”)
62
, que neste caso
também corresponde ao capítulo 1. A estrutura de apresentação é a seguinte: primeiro,
aparece uma página de abertura com a numeração romana marcando a seqüência das partes,
61
Um exemplo que de imediato nos ocorre é o do conto “Everyday Use”, da escritora contemporânea afroamericana Alice Walker, autora do famoso romance A Cor Púrpura. No conto em questão, uma colcha de
retalhos da família (“quilting”) é disputada por uma filha, que se emancipara da situação sufocante e opressora
da casa materna, e por sua mãe (mulher mais velha e já irremediavelmente acomodada à situação de opressão em
que fora criada). Curiosamente, a mãe toma a colcha de retalhos da filha visitante, não para si própria, mas para
defender o “legado” da filha mais nova, que se acomodara ao tipo de vida de opressão que a mãe lhe transmitira.
A colcha de retalhos viraria uma tapeçaria, caso a filha emancipada conseguisse levá-la consigo; um símbolo de
preservação da identidade anterior e daquilo em que ela jamais quereria se transformar.
62
As traduções dos títulos dos padrões da colcha de retalhos que nomeiam as partes I, II, III, IV, V, VI, IX, XIII,
XIV e XV do livro são de Peonia Viana Guedes (ver GUEDES, 2002, p. 69-82). As demais (VII, VIII, X, XI e
XII) são livres traduções do autor desta Tese, em vista da falta de acesso à versão em português do livro de
Atwood.
120
com o título da parte em questão (o nome do padrão da colcha de retalhos e um desenho
posicionado logo abaixo, ilustrando o modelo daquele padrão na colcha); pula-se, em seguida,
uma página e registram-se as epígrafes atinentes àquela parte na página seguinte; pula-se
novamente uma página e então se inicia o capítulo, com numeração arábica.
Logo em seguida a essa questão estrutural, fica claro de início que a história de Grace
Marks não vai começar do marco zero, por assim dizer, ou seja, a partir de algum ponto
distante e remoto da infância de Grace Marks, o que já é um indício da quebra da linearidade
da narrativa (além do rompimento com a forma estrutural de se apresentar um romance, como
vimos no parágrafo anterior). Desse modo, a protagonista é apresentada em 1851, oito anos
após a sua prisão, porém usufruindo de um privilégio por trabalhar como doméstica e
costureira na casa do diretor da penitenciária, prática que na época era comum tanto nos
Estados Unidos quanto no Canadá, em se tratando de presos amistosos e tidos como
confiáveis. A voz de Grace domina o capítulo, que tem características de sonho e pesadelo
simultaneamente, uma vez que a protagonista fixa-se em uma série de reminiscências que
invocam Kinnear, Nancy, McDermott e Jamie Walsh de uma forma vaga e nebulosa. Numa
espécie de devaneio, Grace lembra-se de Nancy Montgomery colhendo peônias brancas no
jardim da casa de Kinnear no dia em que ela chegara lá para se empregar. Essas flores que
habitam a memória de Grace começam a ser “sentidas” nos cantos dos olhos da protagonista,
até que finalmente “se transformam” em peônias de cor escarlate que passam a irromper do
chão da prisão de forma “miraculosa”, tanto por essa condição inusitada, quanto pelo fato
informado por Grace de que “as peônias não florescem em abril” (mês no qual Grace alega
estar). De uma aura mais onírica ainda se reveste a narrativa quando Grace relata que, ao
tentar pegar uma dessas flores irrompidas do chão da prisão, constata que elas são feitas de
pano, o que nos remete indiretamente para a metáfora da costura e da colcha de retalhos, de
que o leitor ainda nem desconfia nesse passo incipiente da narrativa. Se não fosse pelo
121
pretexto da suposta insanidade da protagonista, poderíamos pensar em realismo mágico; mas
isto também seria prematuro concluir logo no primeiro capítulo.
Logo após, a mudança de cor das flores de branco para escarlate parece se associar à
lembrança do sangue na roupa de Nancy Montgomery, com Grace acrescentando que daquela
vez ela ajudará Nancy e vai limpar o sangue das suas roupas, como se estivesse anulando o
crime que supostamente cometera (embora o leitor ainda não tenha notícia de que haverá um
crime e sobre quem são as vítimas e os acusados). Da mesma forma, Grace devaneia que
Kinnear vai chegar e ela lhe preparará um café que será servido a ele por Nancy. A essa
altura, o leitor encontra-se bastante perdido, pois ainda não foi apresentado a nenhum desses
personagens, assim como a noção do crime afirmado acima ainda não lhe foi sugerida
claramente. Todavia, o que mais se torna enigmático é que no último parágrafo, graficamente
separado do resto do pequeno capítulo, Grace Marks afirma: “Isto é o que eu contei ao Dr.
Jordan, quando nós chegamos àquela parte da história”
63
, o que desestabiliza qualquer
tentativa de se chegar a uma conclusão acerca de tudo o que sucede com a protagonista. Na
verdade, a partir desse momento Grace vai inaugurar o rol de falas das personagens que
emitem pontos de vista contraditórios sobre o mesmo assunto. Enfim, chega-se ao final do
capítulo praticamente tão em devaneio quanto Grace Marks e sem se saber exatamente em
que terreno se pisa. Todavia, antes de se passar para alguns dos capítulos seguintes, vale a
pena ressaltar que antes do capítulo 1 e da primeira parte (“Arestas”) começarem, a autora
insere três epigrafes, - como será comum pelo livro afora - , para marcar o início de cada
parte. A diferença é que o romance começa com as epígrafes, que parecem não pertencer nem
ao capítulo 1 nem à primeira parte, com o “status” de autônoma. Assim, como no caso das
outras epígrafes estas carreiam mensagens que direta ou indiretamente têm a ver com o drama
de Grace Marks, com a atmosfera por vezes pesada e misteriosa do universo mental da
63
No original em inglês: “That is what I told Dr. Jordan, when we came to that part of the story” (ATWOOD,
1996, p. 6).
122
personagem e com a própria forma de modelar e conduzir a narrativa. Essas propaladas
epígrafes são as seguintes: “O que quer que tenha acontecido todos estes anos,/Deus sabe que
eu digo a verdade, afirmando que vocês mentem”, fala atribuída a William Norris em “The
Defence of Guenevere”; “Eu não tenho nenhum tribunal”, de Emily Dickinson, em Letters; e
“Eu não posso lhes afirmar o que seja a luz, porém eu posso definir o que ela não é... Qual é o
motivo da luz? O que é a luz?”, de Eugene Marais, em The Soul of the White Ant. Todas estas
epígrafes estão posicionadas antes do índice dos capítulos do livro, de forma que nem é
possível fazer a referência bibliográfica delas de uma forma apropriada. Entretanto, percebese que a “costura” intertextual pretendida por Atwood visa a compor uma colcha de retalhos
com significados muito mais abrangentes do que aqueles que a própria colcha de retalhos que
Grace Marks vai tecendo pelo romance afora quer transmitir.
O segundo capítulo também corresponde à segunda parte do livro e o padrão colocado
na página de abertura da parte II (com o seu respectivo desenho) é intitulado “Estrada
Pedregosa” (“Rocky Road”). Se pairasse ainda alguma dúvida quanto a se Margaret Atwood
de fato está desafiando as normas e convenções estabelecidas para a escrita de um romance, a
partir da visualização e leitura dessa parte e desse capítulo quaisquer dessas possíveis dúvidas
se dirimiriam, pois eles contêm o relato jornalístico do Toronto Mirror acerca do
enforcamento de James McDermott, e uma passagem do Livro de Punições da Penitenciária
Kingston, detalhando vários tipos de castigos diferentes a serem infligidos aos presos de
acordo com a infração cometida. Também figuram ali os retratos de James McDermott e de
Grace Marks, que foram publicados no Jornal Toronto Star, e um longo poema composto de
trinta e quatro estrofes de quatro versos cada uma, bem ao modo de quadrinhas folclóricas,
contendo uma versão do crime e das punições de Grace e McDermott. Um detalhe importante
que deve ser notado atentamente é a inscrição que aparece sob o retrato de Grace Marks:
“alias Mary Whitney” (vulgo Mary Whitney), fazendo referência a uma personagem que
123
ainda não fora mencionada até aquele momento. Esse capítulo é altamente emblemático das
estratégias de desconstrução usadas por Atwood em Alias Grace, pois, além de afirmar a base
histórica da trama (pelas supostamente inquestionáveis notícias jornalísticas), também
promove a mistura de gêneros narrativos, usando simultaneamente um trecho de reportagem
jornalística, a transcrição de parte do já referido Livro de Punições da Penitenciária Kingston
e uma outra mistura do gênero “poesia” com o gênero “quadrinha folclórica”, por assim dizer.
Toda essa reengenharia narrativa se afigura como necessária para montar um capítulo do
livro, que acaba por se constituir absoluta e radicalmente não convencional em termos dos
parâmetros tradicionais de escrita e concepção de um capítulo do gênero “romance”, que se
espera ser composto somente de parágrafos e mais parágrafos organizando os eventos
referidos em ordem geralmente seqüencial lógica, cronológica e coerente. Em suma, esse
capítulo revoluciona a própria noção tradicional de “capítulo de romance” e dirige a nossa
atenção para o fato de que Grace Marks usa pseudônimos ou vulgos, o que já auxilia o leitor
no entendimento gradativo da complexidade identitária da protagonista.
A partir da parte III, “Gatinha Encurralada” (“Puss in the Corner”), as partes em que o
livro está dividido vão se tornar mais complexas, ou por arregimentarem muitos capítulos, ou
por conterem um capítulo bastante extenso e complexo. É o caso da parte XIV, “A Letra X”
(ou “A Carta X”), que incluirá várias cartas trocadas entre o psiquiatra ficcional, Dr. Jordan, e
os outros médicos reais que cuidaram de Grace Marks ao longo dos anos. Os capítulos
seguintes, a partir do terceiro, também vão se caracterizar por introduzir uma grande
quantidade de personagens novas que não somente trarão mais vigor e dinamismo à trama,
como também possibilitarão o aparecimento de diversas vozes que nos reportarão aos
conceitos bakhtinianos da polifonia e da heteroglossia. Uma verdadeira Babel se instalará no
romance, em virtude das contradições e posicionamentos ideológicos distintos que se
chocarão o tempo todo (mormente no que concerne à culpa ou à inocência de Grace Marks).
124
Enfim, a parte III, que abarca os capítulos 3, 4 e 5, tem a voz de Grace Marks como a voz
prevalente, transmitindo-nos as suas visões críticas e impressões gerais acerca do seu papel de
doméstica na casa do diretor da penitenciária, das suas visões da família que a abriga, e do
enforcamento de McDermott. Nessa parte, a história já deu um salto para o ano de 1859.
Relata-se então que Grace Marks foi acometida de um surto histérico e que, por conta disso,
foi levada de volta à penitenciária. Mas é exatamente este episódio aparentemente negativo
que vai colocá-la em contato com um novo e jovem médico ficcional (Dr. Simon Jordan), que
proporá a Grace o fim das terapias agressivas e traumatizantes e passará a implantar os
princípios psicanalíticos no novo tratamento que passa a utilizar com ela.
A quarta parte, “Paixonite de Rapaz” (“Young Man’s Fancy”), além das já esperadas
epígrafes, abrangerá os capítulos de 6 a 11. Trata-se de uma parte bastante longa em que o
eixo central do romance será introduzido por Margaret Atwood: a nova forma de tratamento a
que Grace será submetida, graças à contratação do jovem médico americano Simon Jordan
feita pelo Reverendo metodista Verringer (um dos simpatizantes da causa de que Grace é
inocente). Dr. Jordan revolucionará a terapia de Grace Marks através da adoção das mais
recentes teorias da Psiquiatria e da Psicologia. Para melhor elucidação de um episódio que
ocorrerá posteriormente, deve-se ressaltar que o Reverendo Verringer faz parte de um grupo
de reformistas espirituais que defendem a sanidade e a inocência de Grace através da
utilização de uma sessão hipnótica que se transformará numa espécie de “seance”, ou seja,
uma sessão de invocação e possessão espiritual, de ricos significados para a questão da
fragmentação da personalidade da protagonista. Dr. Jordan, que encetará a complexa tarefa
de tentar desbloquear as lembranças de Grace Marks com o auxílio de objetos físicos e
referências alegóricas capazes de levá-la a estabelecer conexões significativas com as
lembranças do crime, também será um dos personagens a participar dessa sessão
espiritualista. Por toda essa parte, as passagens são narradas em terceira pessoa e nos revelam
125
muito da vida de Grace Marks, por sua própria voz, assim como o conteúdo e as impressões
das suas entrevistas com o jovem terapeuta Jordan, que parece ficar fascinado pelos mistérios
e enigmas que envolvem Grace Marks, conforme sugere o título dessa parte, “Paixonite de
Rapaz”.
A quinta parte do livro “Pratos Quebrados” (“Broken Dishes”) se estende do capítulo 12
até o 16. A idéia de destruição, quebra e ruptura carreada pelo título dessa quinta parte parece
de fato antecipar os trágicos acontecimentos que serão rememorados por Grace Marks nessa
seqüência de capítulos: a miséria, as humilhações, as agruras e a brutalidade da vida na
Irlanda; o embarque num navio não apropriado para transportar pessoas adequadamente, mas
sim para o transporte de carga bruta e madeira; o hiper-traumático falecimento da mãe de
Grace durante a viagem e o lançamento do seu corpo ao mar; e, finalmente, a incapacidade de
seu pai de prover o sustento da família, suas bebedeiras e a falta de recursos para criar
adequadamente os nove filhos. Essa parte do livro também é vital por mencionar
explicitamente e consagrar a importância da metáfora da costura e da feitura da colcha de
retalhos, pois Grace recebe a incumbência de começar a preparar as partes que futuramente
comporão uma colcha de retalhos que fará parte do enxoval de casamento de uma das filhas
do governador. Uma passagem digna de nota a esse respeito acontece quando Jordan pergunta
a sua paciente qual seria o padrão que ela gostaria de usar caso a colcha de retalhos não fosse
uma encomenda para outra pessoa, ou seja, fosse para ela mesma. Embora fique claro em
outro momento que a sua preferência seja o padrão “Árvore do Paraíso”, ela mente para
Jordan, alegando que poderia ser este ou aquele indistintamente. Essa cena prova a
manipulação do discurso e da terapia pela paciente, em vez de pelo terapeuta. Pois, caso
revelasse a Jordan o verdadeiro padrão de sua preferência, talvez passasse para ele
informações que o auxiliassem a ter acesso muito fácil à sua intimidade. Alem disso, na
décima-quinta parte do livro, “Árvore do Paraíso”, Grace fará revelações que serão vitais para
126
um entendimento mais profundo da sua identidade, como abordaremos no último capítulo
desta Tese com mais pormenores. Vale frisar que na quinta parte do livro, Marks faz várias
referências ao seu alter-ego Mary Whitney, o que tornará ainda mais complexa a
problematização da sua identidade, tal é o grau de identificação que se estabelece entre as
duas. Essas associações se espraiarão para as partes e capítulos seguintes e serão mais
detalhadas no capítulo sobre a construção identitária das protagonistas.
A sexta parte do romance recebe o nome sugestivo de “Gaveta Secreta” (“Secrete
Drawer”) e inclui os capítulos de 17 a 20. Nesta série, Grace Marks vai desvelando mais
dados e informações sobre a sua vida, como o relato do seu primeiro emprego como lavadeira,
e a sua relação de amizade com outra empregada da casa, a já tão referida Mary Whitney,
mocinha petulante que aos dezesseis anos morre em virtude de um aborto mal conduzido,
resultado de um caso amoroso com um dos filhos da família para a qual trabalhava. O leitor
começa a entender então por que Mary Whitney assume uma estatura tão grandiosa no
imaginário de Grace Marks, chegando a influenciar tão fragorosamente a formação da sua
identidade. O episódio da morte de Whitney fornece mais uma pista para o Dr. Jordan sobre a
constituição emocional e nervosa da alma de Grace, quando ela relata que, ao saber da morte
da amiga, sofreu um desmaio que teve a duração inusitada de dez horas. Porém, mais bizarra
do que a duração do desmaio foi a revelação de que quando “retornara” à consciência, no dia
seguinte ao enterro, acreditava e dizia ser a própria Mary Whitney, constituindo tal fato a
primeira sugestão forte de um caso de dissociação de personalidade, que voltará à baila nos
últimos capítulos do romance, principalmente nos agrupados na parte “Árvore do Paraíso”.
Em vista de tudo isto, tornam-se sintomáticas as últimas palavras de Grace Marks no final do
capítulo 20, quando ela compreende de fato que sua querida amiga Mary Whitney está morta:
“E então a época mais feliz da minha vida estava finalizada e perdida” 64.
64
No original em inglês: “And the happiest time of my life was over and gone” (ATWOOD, 1996, p. 180).
127
As outras partes seguintes recebem os títulos: “Cerca de Cobras” (“Snake Fence”),
sétima parte; “Raposa e Gansos” (“Fox and Geese”), oitava parte; “Corações e Miúdos”
(“Hearts and Gizzards”), nona parte; “Dama do Lago (“Lady of the Lake”), décima parte ;
“Escoras Caídas” (“Falling Timbers”). Décima-primeira parte; “Templo de Salomão”
(“Solomon’s Temple”), décima-segunda parte; “Caixa de Pandora” (“Pandora’s Box”),
décima-terceira parte; “A Letra X” ou “A Carta X” (“The Letter X”), décima-quarta parte; e
“Árvore do Paraíso” (“The Tree of Paradise”), décima-quinta e última parte. Da parte sétima
até a décima-quarta, vários episódios se entrelaçam e adicionam complexidade à história, ao
drama e à identidade de Grace Marks: o seu primeiro encontro com Nancy Montgomery, que
é quem, por mais irônico que possa parecer, a convence a também vir a trabalhar para Thomas
Kinnear; a ansiosa e complicada vida na fazenda de Kinnear, também em virtude do caso
amoroso entre Nancy e o patrão, que desperta logo ciúmes e inveja em Grace Marks; a paixão
que o jovem Jamie Walsh passa a devotar a Grace; as peripécias que Grace tem que fazer para
se desviar do assédio sexual de James McDermott; todos os eventos e episódios dolorosos que
culminam no assassinato de Thomas Kinnear e de Nancy Montgomery; e, finalmente, a
tentativa de fuga de Grace Marks e James McDermott para os Estados Unidos. Grande parte
dessas revelações vem a lume através das entrevistas entre Grace e o Dr. Jordan, de forma que
não é difícil perceber que todos os habitantes da fazenda de Kinnear viviam divididos entre
sentimentos de amor, ódio, inveja, desejo sexual reprimido, cobiça e rivalidade, tudo isso
originando uma espécie de campo minado em que, como afirma Peonia Guedes “lealdades
estabelecidas de modo aparentemente aleatório e fugaz atiçam perigosos sentimentos de ira e
vingança” (GUEDES, 2002, p. 76). Todavia, como o que o Dr. Jordan almeja não se mostra
fácil de conseguir – fazer com que Grace Marks se recorde de fatos mais intimamente
associados aos homicídios em si - , ele concorda em submetê-la a uma sessão de hipnotismo
como recurso extremo para inverter esse quadro amnésico.
128
Uma característica que deve ser registrada com destaque aqui, inclusive por constituir
indício do empoderamento de Grace Marks, é a aura de conflito de que se revestem todas as
comunicações entre o Dr. Jordan e a sua paciente. Se de um lado fica evidente que Atwood
faz de Jordan o arauto de discursos tais como o da Medicina e o do patriarcado, ou seja,
discursos que lhe conferem poder e precedência não somente sobre Grace Marks, mas
também sobre a sociedade como um todo, de outro lado, apesar de gozar de um “status”
tremendamente desfavorável, Grace Marks expõe uma sagacidade inusitada para saber separar
o que deve ou não dizer para o seu terapeuta, quase sempre interpretando as mensagens dele
de uma forma altamente idiossincrática e oposta ao que ele gostaria de ouvir. E o mais notável
desse processo é que Grace Marks distorce deliberadamente tudo o que Jordan diz para ela, o
que origina um fosso lingüístico consciente forjado por Grace, denotador de uma forma de
resistência que tem reflexos muito além da terapia, ou seja tem implicações patriarcais. Essa
verdadeira brincadeira de gato e rato praticamente sem fim em que o médico
(inconscientemente) e a paciente (deliberadamente) se engajam faz com que as suas
entrevistas sejam longas e tortuosas, com voltas e rodeios que parecem infinitos. No entanto,
esses fatos narrativos têm uma importância aparentemente insuspeitada, mas que em última
análise se desnudam em toda a sua relevância, conforme as palavras de Patrícia Yaeger que
afirma a esse respeito que o romance constitui uma forma multivocal, que possibilita para as
mulheres escritoras uma chance singular de obstruir as práticas discursivas e os pressupostos
patriarcais do cotidiano (YAEGER, 1988, p. 31). Não resta dúvida de que Margaret Atwood
soube usar e abusar dessa prerrogativa aventada por Patrícia Yaeger. Uma passagem bastante
ilustrativa desse desencontro lingüístico guiado e comandado por Grace Marks ocorre um
pouco antes do final do capítulo 11, na parte intitulada “Paixonite de Rapaz” (“Young Man’s
Fancy”), quando o Dr. Jordan, seguro da sua posição, implanta uma nova forma de terapia
que, acredita, ajudará a trazer do fundo do inconsciente de Grace as respostas que tanto o
129
ajudariam a desvendar a decifrar a verdadeira esfinge que a personagem representa para ele.
Tal situação é relatada pela voz narradora do romance (que neste caso claramente se
diferencia da de Grace):
Todo dia ele tem colocado pequenos objetos na frente dela e lhe tem pedido que
relate que tipos de fatos eles a levam a imaginar. Esta semana ele tentou várias
espécies de legumes de raiz, ansiando por uma conexão que conduzisse aos recessos
mais profundos da mente de Grace Marks, como “beterraba-porão-cadáveres”, ou,
até mesmo, “nabo-subsolo-túmulo”. De acordo com as suas teorias, o objeto certo
haveria de evocar uma corrente de associações perturbadoras em Grace, muito
embora até agora ela só tenha oferecido respostas à simples luz da literalidade, de
forma que ele somente conseguiu arrancar dela nada mais que uma série de
considerações culinárias. 65
A despeito do fato da própria história de Grace Marks e do seu tratamento ocuparem
quase 80% dos capítulos do romance, não se pode negar a força dos enredos paralelos que se
desdobram nestes e nos capítulos restantes, tais como: o flerte do Dr. Jordan com Lydia, a
jovem moça casadoira da cidade; a sugestão do envolvimento sexual do Dr. Jordan com a sua
senhoria, a Sra. Humphrey, e o seu envolvimento emocional com a própria Grace Marks; as
invectivas da mãe controladora do Dr. Jordan, através de cartas dramáticas e emocionadas,
que expressam toda a habilidade de manipulação de uma “mãe enferma”; a peleja na
sociedade local entre conservadores e liberais; e os pontos de vista absolutamente díspares
acerca do tratamento da insanidade mental de Grace, emitidos tanto pelos grupos locais
quanto pelos profissionais e estudiosos do assunto com quem o Dr. Jordan mantém freqüente
correspondência. Porém, muito além de tudo isso, os capítulos de Alias Grace trazem para o
leitor a recriação ficcional impressionante do contexto histórico e social de uma pequena
cidade provinciana e colonial canadense, repleta de preconceitos arraigados, hipocrisia, medo,
65
No original em inglês: “Every day he has set some small object in front of her, and has asked her to tell him
what it causes her to imagine. This week he has attempted various root vegetables, hoping for a connection that
will lead downwards: Beet – Root Cellar – Corpses, for instance; or even Turnip – Underground – Grave.
According to his theories, the right object ought to evoke a chain of disturbing associations in her: although so
far she’s treated his offerings simply at their face value, and all he’s got out of her has been a series of cookery
methods” (ATWOOD, 1996, p. 90).
130
sexismo e ignorância, em uma Toronto que é uma verdadeira Babel, habitada por europeus de
todas as nacionalidades, vitimizados, ironicamente, por toda a exploração e a miséria de que
tentaram escapar quando emigraram da Europa. Na Toronto de Alias Grace, como afirmado
por Peonia Guedes, somos defrontados com “a cultura vitoriana em versão canadense” (2002,
p. 78), o que reforça a idéia de que o Canadá inglês colonial do século XIX era uma extensão
da própria Inglaterra para os imigrantes.
Volvendo agora o nosso foco para as três últimas partes do romance “A Caixa de
Pandora” (“Pandora’s Box”), “A Carta X” ou “A Letra X” (“The Letter X”), perceberemos
como a questão identitária de Grace vai consolidar a sua relação estrita com as formas da
narrativa descontínua e fornecer horizontes de interpretação que, se enriquecem as alteridades
da protagonista, não tornam menos espinhosa a apreensão da sua identidade. Especificamente
no capítulo 48, da parte “A Caixa de Pandora”, Simon Jordan finalmente concorda em
submeter Grace Marks a uma sessão de hipnotismo sob o comando do Dr. Jerome DuPont, na
tentativa de desvendar o grande enigma que é a sua paciente. Mas, o problema que poderia
desabonar a cena é que o Dr. Jerome DuPont é, na verdade, Jeremiah, uma figura do passado
de Grace Marks, que tentara adverti-la sobre os perigos de trabalhar na fazenda de Thomas
Kinnear (entretanto, tudo isso somente é do conhecimento do leitor e não das personagens
envolvidas na sessão de hipnotismo/espiritismo). Embora fosse natural esperar que tal fato
desabonador levasse ao descrédito imediato a cena a seguir, tem-se de pronto a estarrecedora
revelação pela boca de Grace de que ela teria de fato ajudado a pôr fim na vida de Nancy
Montgomery. Perante a evidente desilusão da mulher do diretor da penitenciária a respeito
dessa revelação bombástica, “a voz que sai da boca de Grace Marks” replica dizendo que ela é
Mary Whitney e não Grace Marks. Isto surpreende mais ainda a todos, especialmente ao
cético e algo positivista Dr. Jordan. Porém, todo o ambiente da sessão está o tempo inteiro
envolto em uma aura de misticismo e acontecimentos meio sobrenaturais, como a queda de
131
temperatura e uma série de batidas (“raps”) na mesa, supostamente ocasionadas por uma mão
fantasmagórica, como era tão comum se relatar em sessões do gênero, tanto na Europa quanto
na América do Norte, principalmente na segunda metade do século XIX. Em suma, a sessão
de hipnotismo/espiritismo acaba por conferir mais complexidade ao enigma de Grace Marks,
em vez de oferecer soluções para o crime e um desfecho para a questão identitária da
protagonista. A riqueza dessa cena é superior ao aqui relatado e a ela voltaremos no último
capítulo desta Tese.
A décima-quarta parte do livro, “A Carta X”, ou “A Letra X”, compõe-se não de uma,
mas de oito correspondências epistolares trocadas entre diversas personagens, relatando os
últimos eventos ocorridos, sem a preocupação de dar um fecho à narrativa, mas deixando a
questão da sanidade e da inocência de Grace Marks em aberto. Informa-se ali que o Dr.
Jordan participou da Guerra Civil norte-americana, feriu-se, retornou à casa da sua mãe e
deve casar-se com a jovem Faith Cartwright. O dado curioso sobre o novo casal é que Jordan
insiste em confundir a noiva com Grace Marks. Resultado da perturbação mental causada pela
guerra, ou não, tal fato denota a inegável influência que Grace exerceu sobre o jovem médico,
de modo que fica sugerida a extensão da ligação emocional que o mantinha preso a ela, algo
que ia além dos limites da relação médico-paciente (o que também endossa o inquestionável
poder de fascínio que Grace sempre exerce sobre Jordan).
No entanto, a despeito da incontestável riqueza da contribuição que essas últimas partes
trazem para a história, a última parte (“Árvore do Paraíso”) é carreadora de episódios e
situações que mais ainda nos intrigam: tomamos conhecimento de que Grace Marks é
perdoada do seu crime em 1872 e que então se casa com Jamie Walsh (o outro empregado da
fazenda de Kinnear que supostamente se arrependera de testemunhar contra ela no passado),
muda-se para uma pequena fazenda no Estado de Nova Iorque, e está provavelmente grávida
132
(ou entrou na menopausa). Desses fatos todos, constam dos registros históricos somente o seu
perdão e a sua mudança para Nova Iorque; o seu casamento com Walsh é criação ficcional.
A passagem mais significativa dessa parte é a que Grace Marks relata mentalmente ao
Dr. Jordan (ela passa a partir de então a manter diálogos mentais com ele) que está bordando a
sua “árvore do paraíso” na sua própria colcha de retalhos, e que nessa colcha ela, Mary
Whitney e Nancy Montgomery “estarão todas juntas” (ATWOOD, 1996, p. 460), o que mais
complica do que esclarece o enigma da personalidade de Grace Marks. Essa tal árvore do
paraíso sairia de um pedaço de anágua de Mary Whitney (que ela haveria guardado por todos
aqueles anos), de um pedaço de uma camisola que usara na prisão (que ela teria implorado
para que a deixassem levar da prisão, quando liberta) e de um retalho estampadinho floral
pálido, cor-de-rosa e branco, de um pedaço do vestido usado por Nancy no primeiro dia de
trabalho de Grace na fazenda de Kinnear. Note-se que Grace Marks expressa a idéia de que
guardar um pedaço da roupa de uma outra personagem a faz sentir-se identificada com a sua
personalidade, como em outras passagens anteriores em que ao usar peças do vestuário de
Nancy Montgomery ou de Mary Whitney a fazia sentir-se como se fosse uma das duas.
Deixando de lado prováveis explicações patológicas para essa circunstância, o que
importa aqui é que definitivamente o enigma Grace Marks não é resolvido ao final do
romance. Ademais, quando Grace afirma “E assim estaremos todas juntas.” (ATWOOD,
1996, p. 460), nas últimas linhas do romance, numa referência à integração da sua
personalidade às das outras duas personagens já mencionadas com o término do bordado na
colcha de retalhos, as únicas soluções que parecem vingar são as que conferem certezas para a
própria Grace Marks, mas não para nós leitores, pois como afirma Peonia Guedes:
Com essa alusão a uma ligação entre as três mulheres a narrativa chega ao fim sem
que se possa chegar a qualquer conclusão ou certeza. Jamais se chegará à conclusão
de se Grace Marks participou do plano para assassinar Thomas Kinnear; se, de fato,
foi co-participante do assassinato de Nancy Montgomery; se a Grace que ajudou
McDermott nos assassinatos era, não a Grace de verdade, mas um alter ego surgido
133
após a perda da sua querida amiga e mentora, Mary Whitney; se Grace efetivamente
sucumbiu à loucura ou apenas fingiu-se louca para justificar os seus atos e garantir
melhores condições de vida; se Grace está realmente grávida, apenas na menopausa,
ou se um tumor cresce no seu útero. Os relatos históricos que se referem a Grace
Marks são enganosos e abrem múltiplas interpretações possíveis. A Grace Marks
ficcional que emerge das páginas de Alias Grace também é um enigma (GUEDES,
2002, p. 81).
Assim, a Grace Marks histórica e a Grace Marks ficcional não se distinguem tanto,
pois, se os eventos registrados e as informações documentadas nas quais Atwood se baseou se
tornam enganosos e imprecisos, abre-se espaço para o brilhante exercício da metaficção
historiográfica, conforme Linda Hutcheon entende, ao dizer: “A metaficção historiográfica
joga com as verdades e as mentiras do registro histórico” 66.
Concluindo, então, estas longas considerações acerca da relevância do papel da
fragmentação e das estratégias de desconstrução empregadas pelas duas autoras na concepção
das narrativas dos dois romances, percebemos por esse caminho uma consistente série de
fatores em comum que vão se conjugar com as formas de fragmentação da(s) identidade(s)
das duas protagonistas, formando uma teia de intercomplementaridade entre narrativa e
representação das múltiplas identidades/alteridades de Jasmine e Grace Marks. Isso aponta
para a construção de um tipo de identidade híbrida, não monolítica, aberta e que se configura
como muito mais rica do que as identidades dos seus opressores. Na verdade, os opressores
somente têm acesso ao nível de realidade que eles querem enxergar em relação aos
colonizados, enquanto acalentam a ilusão de que esses sujeitos pós-coloniais são
irremediavelmente subalternos. Ousaríamos acrescentar aqui que, parodiando a fala de Grace
Marks nas duas últimas linhas de Alias Grace, “elas estão realmente juntas”, mas nesse “elas”
poderíamos incluir também a Jasmine do romance de Mukherjee, dadas as semelhanças das
suas situações e as agruras experimentadas em suas trajetórias.
66
No original em inglês: “(...) historiographic metafiction plays upon the truth and lies of historical record.”
HUTCHEON, 1989, p. 63).
134
CAPÍTULO 3
A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS DE SENTIDOS FICCIONAIS PARA O
PROCESSO DE FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DAS PROTAGONISTAS JASMINE E
GRACE MARKS
A exploração dos sentidos ficcionais em Jasmine e Alias Grace torna-se uma tarefa
sobremaneira instigante por se tratar de duas obras pós-modernas em que as autoras lidam
contundentemente com questões de alteridade, identidade, colonialismo, pós-colonialismo,
desconstrução, feminismos, assim como, em decorrência dessas abordagens, acabam por urdir
uma enorme gama de jogos e técnicas narrativas que dotam as duas obras de características
absolutamente singulares. Em conseqüência de tudo isso, os sentidos ficcionais ganham
nuances inusitadas que apontam para novos horizontes interpretativos, corroboradores da
questão do empoderamento e do processo de subjetificação das protagonistas em questão.
Como era de se esperar, a maioria das análises de Alias Grace e Jasmine privilegiam
visões contemporâneas da estética do pós-modernismo, conforme se tem demonstrado até este
ponto e mais detidamente se perceberá neste e nos próximos capítulos desta Tese. Contudo,
dada a riqueza de interpretações e sentidos possíveis propiciados por uma forma
desconstrutiva de se encararem os tipos de ficções que os dois romances apresentam, tanto
podemos usar idéias e postulados de estudiosos que lidam com as questões cruciais do campo
dos Estudos Culturais e das estéticas da pós-modernidade, como Linda Hutcheon, Stuart Hall,
Gayatri Chakravorty Spivak, Ania Loomba, Edward Said, Homi Bhabha e Thomas Bonnici
(somente para citar alguns dos teóricos cujas idéias utilizaremos aqui), como igualmente usar
as idéias e posições defendidas por estudiosos que lidam mais diretamente com as noções do
135
estético em literatura e as variações do fictício e do imaginário não tão (ou nada) ligadas às
estéticas da pós-modernidade, tais como Wolfgang Iser, Cornelius Castoriadis, August
Wilhelm von Schlegel e Henry James. Ou seja, o texto literário, enquanto obra de arte, se
transforma em um campo praticamente infindável de estudos acerca dos sentidos possíveis do
fictício e do imaginário, independentemente de receber o rótulo de pós-moderno ou não.
Naturalmente, as posições dos vários estudiosos acerca desses tópicos variam bastante;
porém, é exatamente essa inesgotável discussão que torna mais fascinantes as tentativas de
apreensão do que sejam o fictício, a(s) ficção (ões) e o imaginário. Tendo em mente, então,
que o pós-modernismo é altamente inclusivo, os dois romances se tornam interessantes arenas
não somente para a apreciação dos conceitos do fictício e do imaginário, como também dos
interespaços e brechas de significação que o leitor pode preencher, de acordo com Iser e
outros teóricos contemporâneos, como veremos adiante. E, sem sombra de dúvida, dadas as
peculiaridades de fragmentação, indeterminação e desconstrução de sentidos fixos e
monolíticos de todos os temas abordados, o romance pós-moderno acaba por ser um campo
mais fecundo ainda para o estudo dos seus ricos aspectos ficcionais.
Enfim, tenta-se aqui provar que, apesar da predominância dos parâmetros de análise
saídos das premissas dos Estudos Culturais, a constituição do “fictício” , como se apresenta
no romance pós-moderno em língua inglesa, também pode ser objeto de análise e
interpretação de acordo com outras vertentes teóricas. Deve-se deixar claro aqui que uma das
diversas razões para esta empreitada é a constatação de que a resistência a novas idéias
sempre foi recorrente no campo da interpretação e da crítica artística e literária. Ou seja, o
estigma que ainda pesa sobre os escritos pós-modernos que se alinham no âmbito dos objetos
de interesse e temáticas dos Estudos Culturais não pode, necessariamente, negar a sua
característica de “boa literatura”. Que haja obras pós-modernas que não passam de veículos
panfletários das questões pós-coloniais, de raça e de gênero, por exemplo, é absolutamente
136
inegável; contudo, é igualmente inegável que um grande número de autores e autoras
contemporâneas produzem “boa literatura”. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde os
Estudos Culturais e a adoção das abordagens desconstrutivas francesas floresceram
enormemente, existem muitos autores e autoras em cujas obras é recorrente a temática das
questões que afligem as comunidades de gays e lésbicas, o que originou a “Queer Theory”.
Dentre eles, alguns produzem “literatura” meramente panfletária, como, por exemplo,
exaustivas e enfadonhas descrições minuciosas das relações sexuais das suas personagens;
entretanto, outros existem que também abordam as questões que afligem as suas comunidades
em obras que já se acham ao lado das ditas obras “canônicas” nas estantes das livrarias, tendo
saído das seções “queer” dessas mesmas livrarias. Em suma, o que pretendemos com este
capítulo é desestabilizar posições extremistas, essencialistas e maniqueístas de se encarar a
obra de arte literária. Assim, se voltarmos o foco da nossa discussão para o passado,
poderemos detectar essas mesmas distinções nas opiniões de Virginia Woolf, quando, por
exemplo, em seu ensaio crítico “Modern Fiction” (In ABRAMS, ed, 1993), ela comenta obras
literárias e classifica seus autores como “escritores materialistas” (sinônimo de maus
escritores) e “escritores espiritualistas” (sinônimo de bons escritores). Dessa maneira, ela
alinha Wells, Bennett e Galsworthy no primeiro grupo, e Thomas Hardy e Joseph Conrad no
segundo, conforme se verifica abaixo:
(...) Mas, também é verdadeiro que, enquanto nós lhes agradecemos pelos seus
muitos dons e talentos, nós igualmente reservamos a nossa imensa gratidão ao Sr.
Hardy e ao Sr. Conrad, assim como, num grau menos superlativo, ao Sr. Hudson,
pelos seus romances The Purple Land, Green Mansions e Far Away and Long Ago.
O Sr. Wells, o Sr. Bennett e o Sr. Galsworthy têm-nos acalentado tantas esperanças
para imediatamente frustrá-las tão contumazmente que a nossa gratidão, com
relação a eles, se justifica por nos mostrarem claramente tudo aquilo que eles
deveriam ter feito, mas acabam deixando por fazer. (...) Se nós tentássemos
expressar o que queremos dizer através de uma simples palavra, talvez devêssemos
afirmar que esses três autores que acabamos de citar são materialistas. 67
67
No original em inglês: “But it is also true, that, while we thank them for a thousand gifts, we reserve our
unconditional gratitude for Mr. Hardy, for Mr. Conrad, and in much lesser degree for the Mr. Hudson of The
Purple Land, Green Mansions, and Far Away and long Ago. Mr. Wells, Mr. Bennett, and Mr. Galsworthy have
excited so many hopes and disappointed them so persistently that our gratitude largely takes the form of thanking
137
Essa classificação distintiva entre “bons” e “maus” autores, ou “boas” ou “más” obras
literárias é e sempre foi recorrente, e a podemos encontrar também em Schlegel, como se
exemplifica no seguinte trecho:
Freqüentemente tenho visto, com espanto e raiva interior, o criado trazer-lhe pilhas
daqueles livros. Como pode tocar os volumes imundos com suas mãos? E como
pode permitir, através de seus olhos, a entrada do palavrório confuso e inculto no
templo da alma? Abandonar durante horas a sua fantasia a homens de quem se
envergonharia por ter trocado algumas palavras frente a frente? Isto não leva a nada,
exceto a matar o tempo e corromper a imaginação! Você leu quase todos os maus
livros, de Fielding 68a La Fountaine. Pergunte a si mesma o que tirou daí. Seu
pensamento mesmo desdenha a matéria vil, pois o que lhe transforma em
necessidade um hábito fatal de juventude, devendo ser tão assiduamente arranjado, é
logo a seguir totalmente esquecido (SCHLEGEL, 1988, p. 62).
Henry James também é responsável por conceitos semelhantes aos de Virginia Woolf
e Schlegel quando, ao tecer considerações sobre pintura, realidade, romance e história, de
repente cita Anthony Trollope de uma forma nada elogiosa:
A única razão para a existência de um romance é que ele tenta de fato representar a
vida. Quando ele desdenha essa tentativa, a mesma tentativa que se vê na tela do
pintor, terá chegado a uma situação muito estranha. Não se espera de uma pintura
que seja tão humilde que possa ser esquecida; e a analogia entre a pintura e a arte do
romancista é, até onde posso ver, completa. Sua inspiração é a mesma, sua técnica (a
despeito da qualidade diferente dos meios) é a mesma, elas podem explicar e
sustentar uma à outra. (...) se a pintura é realidade, o romance é história. Essa é a
única descrição genérica (que lhe faça justiça) que se pode dar do romance. Mas a
história também se permite representar a vida; não se espera dela, não mais do que
da pintura, que faça apologias. O tema da ficção está arquivado, como em
documentos e registros, e para que seja explorado é preciso falar dele com
segurança, com a tonalidade do historiador. Alguns romancistas de renome têm um
costume de entregar-se que deve com freqüência levar às lágrimas pessoas que
tomam sua ficção a sério. Recentemente, me espantei ao ler muitas páginas de
Anthony Trollope, com sua falta de discrição quanto a isso. Numa digressão, num
them for having shown us what they might have done but have not done; what we certainly could not do, but as
certainly, perhaps, do not wish to do. (…) If we tried to formulate our meaning in one word we should say that
these three writers are materialists” (WOOLF, 1993, p. 1922).
68
Curiosamente, Henry Fielding e Jane Austen são classificados por Virginia Woolf como “bons escritores”, no
seu ensaio citado anteriormente (ver WOOLF, 1993, p. 1921). Ela alega que Fielding e, mais ainda, Jane Austen,
deram uma contribuição positiva para a construção do romance inglês, embora contassem somente com
“ferramentas simples” e “material temático ainda primitivo”. Isso corrobora a relatividade das opiniões pessoais,
por mais abalizadas que sejam, uma vez que não se pode desautorizar nem Schlegel nem Woolf (muito embora
se possa considerá-los com as devidas ressalvas, em nome das novas perspectivas teóricas e críticas da
contemporaneidade).
138
parêntese ou aposto, ele concede ao leitor que ele e esse amigo confiante estão
apenas “simulando acreditar” (JAMES, 1995, p. 22).
Enfim, a principal intenção aqui é tornar patente que, apesar do grande número de
dissensões dos vários teóricos sobre o que seja “boa” ou “má” literatura, essa polêmica não é
nova; portanto, não é privilégio das discussões contemporâneas, pois sempre esteve na ordem
do dia para teóricos renomados de épocas diferentes, de acordo com o que pudemos observar
nas citações recém-utilizadas. Conseqüentemente, da mesma forma como não podemos
assumir essas opiniões críticas do passado como possuidoras da última palavra acerca das
obras e autores que criticaram acidamente, também não podemos acolher inexoravelmente a
premissa conservadora de que exista um fosso tão intransponível entre os textos literários pósmodernos e as teorias mais tradicionalistas.
Em última análise, - e ainda nos referindo às palavras de Henry James recém-citadas -,
acreditamos ser possível encontrar vários pontos de interseção entre essas teorias e as
produções literárias contemporâneas, mesmo a despeito de algumas “incompatibilidades” que
se percebem em certas noções defendidas por Henry James, tais como a idéia de que a ficção
literária deva representar a vida de uma maneira tão pictórica como a própria pintura o faz
(atitude plenamente compreensível, se consideradas as concepções estéticas realistas então
experimentadas por James), ou que o discurso histórico seja tão altamente inquestionável e
confiável que tenha necessariamente o “status” de “provar” a veracidade das versões que
apresenta. Mas esses “afastamentos” serão mais convenientemente tratados adiante, quando
do entrelaçamento interseccional entre as obras de ficção de Bharati Mukherjee e Margaret
Atwood e as idéias de Iser, Castoriadis, James e Schlegel, acerca do fictício e do imaginário.
Mesmo propondo um tipo de leitura de Jasmine baseada em correntes críticas outras
que não sejam as atreladas aos Estudos Culturais e às Teorias Feministas e Pós-Coloniais, não
podemos perder de vista que esse romance de Bharati Mukherjee é uma das mais bem
139
elaboradas obras representativas das inevitáveis diásporas geográficas, transnacionais a que o
sujeito pós-colonial feminino vê-se obrigado a enfrentar nesse processo doloroso de
crescimento e conquista de maturidade, voz e identidade, caminho esse permeado pela dor e
tragédias pessoais.
Não obstante, procederemos também à tentativa de aproximar as especificidades e
particularidades dessas abordagens que compõem a complexa rede de jogos narrativos dos
dois romances estudados com as noções sobre “ficção”, “imaginário”, e “jogos narrativos”,
em consonância com as idéias de Wolfgang Iser, Cornelius Castoriadis e Henry James, por
exemplo. Tal tarefa talvez seja, de certa forma, espinhosa. Porém, nosso ponto de apoio
principal é a elasticidade e a ampla capacidade de inclusão das abordagens pós-modernas. Na
verdade, achamos que se pode mesmo afirmar que as possíveis tensões entre visões recuadas
no tempo, como as de Henry James e Schlegel, e as posições e visões contemporâneas (no
mais das vezes altamente desconstrutivas) podem propiciar interespaços de significação que
permitam que se vislumbrem outras nuances do ficcional e do imaginário em literatura.
Conforme já afirmara no início deste capítulo, tentaremos fazer uma leitura de
Jasmine e Alias Grace que permita a avaliação dos jogos narrativos que existem nas duas
obras, à luz de algumas idéias defendidas por Henry James, Schlegel, Castoriadis e Iser.
Decerto, em determinadas situações necessariamente teremos que lidar com “afastamentos” e
“incompatibilidades” entre o que se apresenta nos romances e o defendido pelas idéias dos
escritores acima, muito por conta da condição pós-moderna das referidas obras.
A primeira idéia que nos acorre é a de relacionar o conto de Henry James “O Desenho
do Tapete” aos dois romances em questão. O referido conto trata de um imenso “jogo de
esconde-esconde” que as personagens fazem umas com as outras, motivadas pela suposta
posse de um “segredo” capital que uma sempre diz à outra possuir. Tal segredo seria
supostamente constituído dos “significados últimos” que um determinado e famoso escritor,
140
senhor Hugh Vereker, teria querido transmitir através de um de seus livros. O próprio escritor
é uma das personagens do conto, em que muito se fala e se elucubra acerca do que o autor “de
fato teria querido dizer” nas páginas do seu livro. São construídos verdadeiros jogos de
palavras e labirintos, a partir do pedido que George Corvick faz a um jornalista amigo seu
para que escreva um artigo para o periódico O Meio, tarefa que Corvik mal tivera tempo de
pensar em executar. Quem se torna então o protagonista desse conto em que Henry James
especula sobre os sentidos da criação literária, da crítica e das “intenções secretas” dos autores
é o jovem jornalista a quem Corvik pede tal favor.
Desde então, o jovem jornalista, jamais nomeado nesse conto narrado em primeira
pessoa, lê as obras de Verek, escreve artigos sobre elas e obtém o seguinte comentário do
autor sobre um dos artigos, quando conversam em casa de uma amiga comum: “Ah, nada
mau... a mesma bobagem de sempre” (JAMES, 1993, p. 148). Em seguida, a senhorita Poyle
pergunta ao escritor se o jornalista não lhe havia feito justiça. Verek retruca que o artigo é de
fato de excelente escritura, mas o problema é que, segundo afirmação da senhorita Poyle,
Verek é impenetrável. Após ainda afirmar que o artigo é encantador, Verek se diz tão
impenetrável quanto o Saara69, e que não se trata da obtusidade do escritor do artigo; trata-se
de fato de que “Ninguém percebe nada” (1993, p.149).
A partir desse ponto, o jogo passa a ser cada vez mais instigante, ocorrendo as mortes
de personagens (inclusive a de Corvik e sua mulher, também muito interessada em
“desvendar” o mistério em questão) que antes haviam afirmado ao jovem jornalista haverem
descoberto o tal segredo de Verek, de forma que o protagonista fica cada vez mais perturbado
com as suas frustradas tentativas. A certa altura, a impenetrabilidade da obra de arte parece
69
A frase de Verek, afirmando que ele é tão impenetrável quanto o Saara, pode, contemporaneamente, ser
encarada como uma afirmação de ordem intertextual com o conto de Paul Bowles, “Baptism of Solitude” (1963,
p.128-144), em que questões de alteridade e pós-coloniais são discutidas a partir do ponto de vista das
interpretações do que é o Deserto do Saara e toda a diversidade de fauna, flora, populações e climas que nele
abundam. A impenetrabilidade do Saara de Bowles reside no fato de que a sua narrativa parece estar mostrando
qualquer área do globo, menos o Saara, dada a quantidade de informações novas que Bowles nos passa. Vale
ainda ressaltar que “Baptism of Solitude” inspirou o filme O Céu que nos Protege.
141
consubstanciar-se na metáfora do “tapete”, se consideradas as palavras de Verek em certa
parte do conto, em conversa com o protagonista:
Estava claro que não me considerava intelectualmente à altura da façanha. Fiquei
com Verek meia-hora, e ele foi muito simpático; mas não pude deixar de julgá-lo
um homem de humor instável. Havia se aberto comigo num momento; e agora se
tornava indiferente. Esta sua inconstância ajudou a convencer-me de que a tal deixa
não levaria a nada de muito importante. Não obstante, consegui fazê-lo responder a
mais algumas perguntas referentes à questão, ainda que com uma impaciência
indisfarçável. Para ele, sem dúvida alguma, a coisa que nos parecia tão obscura era
evidente. A meu ver, devia estar em primeiro plano, como o desenho complexo de
um tapete persa. Ele aprovou enfaticamente esta imagem quando eu a usei, e propôs
outra: “É o fio onde estão enfiadas minhas pérolas!” (JAMES, 1993, p. 158).
É curioso ressaltar que no conto de Paul Bowles, a que nos referimos na nota de
rodapé abaixo, a imagem do “desenho no tapete persa” é substituída por várias fotografias de
paisagens e pessoas que ele entremeia no conto, o que aumenta a perplexidade do leitor, que
do Saara somente espera ter imagens e notícias de calor, pobreza, condições inóspitas e
ausência de vida e de água.
Voltando ao conto de James, em seu final, o protagonista acalenta a esperança de
finalmente arrancar o tal segredo do Sr. Drayton Deane, viúvo de Gwendolen, que também
fora mulher de Corvik, então falecido. Na verdade, o protagonista acreditava que Gwendolen
havia revelado o “segredo” para o segundo marido, de forma que essa era a grande e última
esperança que o protagonista tinha de atingir os seus objetivos. Todavia, Dreaton fica
estupefato com a notícia de que a sua esposa sabia de algo tão importante e não tinha
partilhado com ele tal segredo.
Em suma, o protagonista e Dreaton acabam vitimados pelo grande jogo-armadilha
urdido por Henry James para transmitir a idéia de que, talvez, a busca incessante pelos
sentidos últimos de uma obra ficcional é que são o próprio “sentido último” da obra de ficção,
conforme se verifica na passagem final do conto:
142
Hoje, como vítimas de desejo insatisfeito, ele e eu somos exatamente iguais. O
estado do pobre homem é quase um consolo para mim; há mesmo momentos em que
isso parece ser minha justa vingança. (JAMES, 1993, p. 179.).
Desviando, agora, o foco de atenção para o outro texto de Henry James, “A Arte da
Ficção”, nele encontramos pontos de interseção e de afastamento se tentarmos interpretações
de Jasmine e Alias Grace, de acordo com as idéias sobre o ficcional e o romance
desenvolvidas pelo autor nesse texto teórico. Aproveitamos a oportunidade para fazer uma
pequena digressão e nos referirmos à citação de um trecho do artigo acima, feita no começo
deste capítulo, em que James parece tentar estabelecer uma analogia pictórica demais da
ficção literária, e chega, em outro trecho, a compará-la a uma das “belas artes” (p.23). Por
outro lado, endossa também a idéia de que o discurso da História é inquestionável, da mesma
forma que “se existem ciências exatas, também existem artes exatas, e a gramática da pintura
é tão mais definida que isso faz diferença” (JAMES, 1993, p. 27). Como tais idéias são
anteriores ao relativismo einsteiniano, percebe-se que ainda estão muito imbuídas do
cientificismo newtoniano/cartesiano, que prevalecera até o século XIX, e constituem
“afastamentos” das idéias e princípios teóricos e filosóficos pós-estruturalistas. Podem, até
mesmo, carrear um “nó” a mais nas complicações estabelecidas em “O Desenho do Tapete”,
na medida em que James passa, no conto, a idéia de que “as mensagens” do autor (e, por
extensão, os sentidos da ficção) são inapreensíveis – e somente se pode especular sobre eles.
Porém, se existem “artes” e ficções exatas, como algo em sua essência pode ser inapreensível,
não mensurável, não quantificável e indefinível?
Entretanto, apesar dessas aparentes incompatibilidades entre as idéias de Henry James
e as mais comuns vertentes de interpretação dos romances de Mukherjee e Atwood, figuram
também algumas interseções. Se, por exemplo, a propalada “exatidão” das obras de arte e da
ficção não encontra eco nem em Jasmine nem em Alias Grace, a busca incessante pelos
sentidos últimos da obra ficcional, como retratada em “O Desenho do Tapete”, combina
143
perfeitamente com o alto grau de fragmentação da identidade de Jasmine e as cambiantes
formas de alteridade de Grace Marks, para não falar nas peculiaridades fragmentárias e de
multiplicidade de sentidos das narrativas em que as duas personagens se movimentam, de
maneira que os tais sentidos últimos nunca sejam atingidos (na verdade, segundo o princípio
do “deferral”, para Derrida esses sentidos são sempre “adiados” – por isso inapreensíveis em
uma forma “essencial” monolítica e fechada).
Pode-se até mesmo afirmar que o cerne dessas interseções encontra subsídio tanto nas
idéias da Desconstrução e da Disseminação defendidas por Jacques Derrida, quanto em certas
afirmações do próprio James, como veremos adiante. Relembrando brevemente idéias já
aludidas no Capítulo 2, para Derrida, um conceito fundamental que deve estar acoplado ao
conceito de desconstrução é o da “disseminação”. Partindo-se da origem latina do termo
(“semen”), tem-se a clara interpretação de que a linguagem é amplamente, ao mesmo tempo,
“espalhada”, “semeada”, “sinalizada”, “(não) sinalizada”, o que implica as idéias de
“propagar” e “difundir”. J.A. Cuddon (1992), então, observa que “disseminação”, do modo
como Derrida entende o termo, é deliberadamente dotada de um sentido sexual e procriativo,
o que sugere, segundo ele, o jogo textual livre (o que já nos remete aos jogos textuais de Iser),
que é divertido, instável e “excessivo”.
A possível correlação de todas essas idéias pós-estruturalistas com algumas idéias de
Henry James pode ser vislumbrada na primeira parte do seguinte trecho do conto deste autor:
A arte vive de discussão, de experimentação, de curiosidades, de variedade de
tentativas, de troca de visões e de comparação de pontos de vista; e presume-se que
os tempos em que ninguém tem nada de especial a dizer sobre ela e em que ninguém
oferece motivos para o que pratica ou prefere, embora possam ser tempos honrados,
não sejam tempos de evolução – talvez sejam tempos, até mesmo, de uma certa
monotonia (JAMES, 1995, p. 20).
144
Todavia, fatores outros há que, mais uma vez, afastam as idéias de James tanto da
estrutura das obras ficcionais pós-modernas quanto das suas temáticas e personagens, como se
depreende no seguinte trecho:
Que seus personagens “devem ter contornos claros”, como diz o Sr. Besant – ele
sabe disso em seu âmago; mas como deve fazer isso é um segredo entre seu anjo da
guarda e ele mesmo. Seria absurdamente simples se a ele fosse ensinado que uma
grande quantidade de “descrição” os faria assim, ou que, ao contrário, a ausência de
descrição e o cultivo do diálogo, ou a ausência de diálogo e a multiplicação dos
“incidentes”, o salvaguardariam das dificuldades (JAMES, 1995, p. 20).
Os referidos afastamentos no presente caso ficam por conta de que no romance pósmoderno, a exemplo de Jasmine e de Alias Grace, os contornos não só dos personagens
quanto da estrutura da narrativa não são necessariamente “claros”. Na verdade, muitas vezes,
o “desenho do tapete” nos romances pós-modernos é muito menos aparente ainda. Conforme
fartamente ilustrado em capítulos anteriores, as questões da identidade das protagonistas, da
fragmentação das suas alteridades e das narrativas, assim como o uso da metaficção
historiográfica (especificamente em Alias Grace) adicionam ingredientes especiais à certa
impenetrabilidade dos romances. Ainda aqui, merecem destaque mais alguns outros pontos de
dissensão: James afirma que “o crítico que, diante da textura fechada de um trabalho acabado,
pretenda traçar uma geografia dos itens marcará algumas fronteiras tão artificiais quanto,
acredito, qualquer uma das conhecidas pela história” (JAMES, 1995, p. 32-33). As ditas
dissensões se revelam na medida em que a “textura fechada de um trabalho acabado” não se
coaduna com a idéia contemporânea de que o romance pós-moderno é uma obra aberta, sem
um fechamento nos moldes tradicionais. Por outro lado, se em outro momento James tanto
enaltece a inquestionabilidade da história, nesse passo, parece-nos que ele relativiza essa
questão. Se assim o for, pelo menos aqui, encontraremos um ponto em comum com as idéias
contemporâneas – existem vertentes em que a história é vista hoje não como uma ciência
145
social cujos princípios sejam absolutamente inquestionáveis, mas antes como mais uma fonte
de narrativas de fatos e versões de fatos que podem oscilar em sentido ao sabor das diferentes
possíveis interpretações e ideologias (premissa que notoriamente desagrada a muitos
historiadores, de modo geral).
De certo modo, podemos lembrar aqui do largo uso do recurso da metaficção
historiográfica (já considerado um novo gênero literário), por parte de Margaret Atwood,
quando ela reflete, num “pós-escrito” do romance, sobre as “lacunas” que teve que preencher
ao escrever Alias Grace, dadas as reticências da história oficial. Ao proceder a esse
“preenchimento”, ela relativiza o discurso histórico, uma vez que o mescla ao discurso
ficcional, tornando impossível a sua distinção (ATWOOD, 1996, p. 464-465), conforme já
citado em capítulo anterior.
Curiosamente, torna-se oportuno mencionar que não somente a questão da metaficção
historiográfica, mas também a mistura de poesia, prosa, notícias jornalísticas, a presença de
personagens históricas ao lado de outras ficcionais, e a estrutura do imenso romance de
cinqüenta e três capítulos, ordenados de acordo com os padrões da confecção de uma colcha
de retalhos, formam uma mistura tão variada para cuja plausibilidade poderíamos encontrar
respaldo nas seguintes palavras de Schlegel:
É verdade, você afirmou que o romance seria aparentado, acima de tudo, com o
gênero narrativo e até mesmo com o épico. Mas devo lembrar-lhe, primeiramente,
que uma canção pode ser tão romântica quanto uma história. Pois, afinal, quase não
posso conceber um romance que não seja uma mistura de narrativa, canção e outras
formas. (SCHLEGEL, 1988, p. 68).
Concentrando-nos, agora, em alguns dos conceitos que Cornelius Castoriadis defende
acerca da imaginação, do imaginário e da reflexão, para se verificar que tipo de contribuição
se pode deles extrair para a interpretação de obras pós-modernas, tais quais as que ora se
analisam, é necessário frisar que Castoriadis faz uma abordagem bastante profunda dos
146
conceitos. Assim sendo, ele se reporta à História, à Filosofia e à Psicanálise, por exemplo. Em
função dessa característica, a abordagem dos conceitos de Castoriadis efetivada aqui visará a
pinçar os principais tipos de informação que privilegiem a condição do que venha a ser o
“fictício”.
Logo na abertura do seu artigo intitulado “Imaginação, Imaginário e Reflexão”,
Castoriadis diz que se constitui um fato espantoso que a imaginação radical do ser humano, da
psique ou da alma, mesmo descoberta há vinte séculos, por Aristóteles, jamais tenha
adquirido o lugar central que lhe é de direito na filosofia da subjetividade. Tal observação
permite-nos fazer uma imediata associação com as questões de alteridade, identidade e
subjetividade que constituem temas centrais tanto em Jasmine quanto em Alias Grace, uma
vez que leituras e interpretações de ordem psicanalítica podem ser usadas para as
protagonistas dos dois romances, sendo que o fato de Grace Marks passar a maior parte da sua
vida num manicômio penitenciário já revela as dobras da complicação de ordem psiquiátrica
da sua subjetividade, abrindo mais ainda as possibilidades de interpretações psicanalíticas de
Alias Grace. Porém, a isto retornaremos adiante, pois ainda é necessário explicar certos
conceitos que Castoriadis postula.
Para ele, o termo “imaginação” há de ser considerado duplamente, na medida em que
não se pode excluir de seu entendimento nem a sua conexão com “imagem” num sentido bem
amplo (muito além do restritivo conceito de “visual”), nem tampouco a sua conexão com a
idéia de “invenção” e de “criação”. Castoriadis utiliza também os termos “imaginação
radical” e “imaginário social instituinte”. Para melhor entendê-los, deve-se explicar que, para
Castoriadis, a “imaginação radical” (que precede o próprio pensamento) opõe-se à
“imaginação segunda”, pois a radical vem antes da segunda. Na verdade, a imaginação
segunda é meramente reprodutiva e combinatória; é a de que se fala no dia-a-dia, ao passo que
a “imaginação radical” vem antes mesmo da distinção entre o “real” e o “imaginário”, ou
147
“fictício”. Assim, se existe o que chamamos de “realidade” é porque há imaginação radical e
imaginário instituinte; e, como se pode perceber, o termo “imaginário”, aqui, é um
substantivo.
A partir desse ponto, Castoriadis vai estabelecendo uma rede de conceitos que nos vai
aclarando as suas idéias. Ele diz, por exemplo, que, para Kant, a imaginação constitui o poder
de representar um objeto na intuição, mesmo sem a sua presença; enquanto que Sócrates,
através de Platão, vai mais além quando afirma que a imaginação é a capacidade de (se)
representar o que não é. Retornando a Kant, Castoriadis diz que ele também afirma que já que
todas as nossas instituições são sensíveis, a imaginação pertence à sensibilidade. Nesse ponto,
porém, Castoriadis permite-se inverter o raciocínio kantiano, ao dizer que a sensibilidade é
que pertence à imaginação, uma vez que a imaginação a que Kant se refere é a “imaginação
segunda”, conforme se reproduz abaixo:
De fato, não há nenhuma “receptividade” ou “passividade” das “impressões”. Para
começar, não há “impressões. As “impressões” são um artefato filosófico ou
psicológico. Há, em alguns casos, percepções – a saber, representações correlativas
a objetos “externos” e mais ou menos “independentes”. (Em alguns casos somente:
para toda a filosofia herdada há um privilégio exorbitante da percepção, ainda mais
exacerbado em Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty). Essas percepções comportam,
sem dúvida, um “componente sensorial”. Mas esse componente é, ele próprio, uma
criação da imaginação. Os “sentidos” fazem emergir a partir de um X algo que
“fisicamente” ou “realmente” não existe – se entendermos por “realidade” a
“realidade” da física: eles fazem emergir as cores, os sons, os odores etc. Na
natureza “física” não há cores, sons e odores: há somente ondas eletromagnéticas,
vibrações do ar, espécies de moléculas etc. O quale sensível, as famosas “qualidades
secundárias” são uma pura criação da sensibilidade, isto é, da imaginação em sua
manifestação mais elementar, dando uma forma, e uma forma específica, a algo que,
“em si”, não tem nenhuma relação com essa forma (CASTORIADIS, 1999, p. 247).
Assim sendo, no objeto não há distinções entre “qualidades primárias” (que se referem
ao “categorial”, ao “lógico” e às formas universais) e “qualidades secundárias” (a concretude
do objeto conforme apreendido pela “sensibilidade” humana), o que ocasiona a reiteração de
que as ondas luminosas não são coloridas e não causam a cor como cor. Elas induzem, sob
148
certas condições, a criação, pelo sujeito, de uma “imagem”, que, na maioria dos casos – e, de
certa forma, por definição, em todos os casos de que podemos falar – é participada genérica e
socialmente. Por outro lado, todas essas inferências de Castoriadis levam à idéia de que a
atitude “na primeira pessoa” ou “intencional” dá ao sujeito “as coisas tais como são”, o que
constitui a estranha ilusão realista da fenomenologia, a qual coexiste, paradoxalmente, com as
conseqüências fatalmente solipsistas, conforme posto por Castoriadis, nas seguintes palavras:
Como posso saber que alguma coisa existe para o outro ou, na verdade,
simplesmente que o outro existe, se estou confinado à minha atitude na primeira
pessoa? Do ponto de vista fenomenológico estrito, não tenho qualquer acesso à
experiência dos “outros”: esses e suas “experiências” não existem como fenômenos
para mim. A simples desginação do problema nas Meditações Cartesianas, de
Husserl (ou na Fenomenologia da Percepção, de Merleau-Ponty), não é suficiente
para exorcizá-lo (CASTORIADIS, 1999, p. 249).
Como não poderia deixar de ser, a discussão é profícua e praticamente infindável.
Todavia, para efeito de simplificação e de se desviar o foco das discussões para o que tratam
os romances em questão, podemos, ainda, evocar de novo Castoriadis quando ele diz que tal
dificuldade de se acreditar na existência do Outro, ou até mesmo de ter a experiência dele,
parece uma barreira fenomenológica intransponível. Um conceito que parece dar a solução
para esse problema seria a noção de que o sujeito “sabe” em primeira mão não só ao que
corresponde “ver” a cor vermelha, mas também “sabe” ao que corresponde viver em uma
sociedade onde as coisas mais importantes são as significações imaginárias sociais. Seguindo
essa linha de raciocínio, podemos, então, aquilatar como essas propaladas “filosofias da
subjetividade” desempenham um papel preponderante tanto em Jasmine quanto em Alias
Grace.
Para, então, destacarmos alguns pontos dos romances em que as ficções neles
representadas se douram desses contornos filosóficos, mesclados a outras noções mais
149
atinentes às interpretações filosóficas da Desconstrução, torna-se oportuno citar uma definição
teórica do que seja alteridade:
Alteridade deriva-se da forma latina alteritas, que significa “o estado de ser outro ou
diferente; diversidade, outridade”. Os outros termos que daí se derivam são
“alternado (a)”, “alternativo (a)”, “alteração” e “alter-ego”. O termo alterité é mais
comum no francês, e é antônimo de identité (Johnson and Smith 1990, xviii). O
termo foi adotado pelos filósofos como uma alternativa para outridade 70, para
registrar a mudança nas percepções ocidentais das relações entre a consciência e o
mundo. Desde Descartes, a consciência individual tinha sido encarada como o ponto
de partida privilegiado para a consciência, e, nesse caso, “o outro” aparece nessas
filosofias (pós-iluministas) como um “outro” reduzido, como uma questão
epistemológica. Ou seja, em um conceito de humano em que todas as coisas
florescem da noção de que “Penso; logo, existo”. O ponto crucial em relação ao
outro é o “eu” ser capaz de responder a questões tais como “Como eu posso
conhecer os outros?” e “Como podem as outras mentes ser conhecidas?” (...) Esta é
uma das questões-chave das mudanças no conceito de subjetividade, porque, não
importa se vista no contexto da ideologia, da psicanálise ou do discurso, a
“construção” do sujeito há de ser encarada como absolutamente inseparável da
construção dos seus outros (ASHCROFT, 2002, p. 11). 71
Como se vê, partindo-se, então, dessa noção de que a construção do sujeito é
amalgamada à construção dos seus outros, a relativização da identidade e da alteridade das
personagens em romances pós-modernos fornece a possibilidade de uma certa comunhão com
o Outro. Isto, aos nossos olhos, não equivale a dizer que todos os problemas entre o “eu” e o
“Outro” achem solução perpétua que possibilite cessarem-se as especulações teóricas,
psicológicas e filosóficas acerca da questão. Entretanto, a noção de relatividade das
alteridades do “eu” e do “Outro” possibilita o tal descentramento social, psicológico e
70
71
“Otherness”, em inglês.
No original em inglês: “Alterity is derived from the Latin alteritas, meaning “the state of being different;
diversity, otherness”. Its English derivates are alternate, alternative, alternation, and alter ego. The term alterité
is more common in French, and has the antonym identité (Johnson and Smith 1990: xviii). The term was adopted
by philosophers as an alternative to “otherness” to register a change in the Western perceptions of the
relationship between consciousness and the world. Since Descartes, individual consciousness had been taken as
the privileged starting point for consciousness, and “the other” appears in these (post-Enlightenment)
philosophies as a reduced “other”, as an epistemological question. That is, in a concept of the human in which
everything stems from the notion that “I think, therefore I am”. The chief concern with the other is to be able to
answer questions such as “How can I know the other?” “How can other minds be known?” (…) This is a key
feature of changes in the concept of subjectivity, because, whether seen in the context of ideology,
psychoanalysis or discourse, the “construction” of the subject itself can be seen to be inseparable from the
construction of its others” (ASHCROFT, 2002, p. 11).
150
filosófico da noção de sujeito, conforme defendido por Linda Hutcheon e referido aqui
anteriormente. De fato, o “descentramento” a que Linda Hutcheon se refere está totalmente
imbuído das características da Desconstrução de Jacques Derrida, na medida em que não só
com relação ao sujeito e ao Outro, mas também com relação a todos os temas ficcionais pósmodernos, deixa-se de privilegiar uma visão monolítica, única e fechada acerca de tais termos
e temas. Para Linda Hutcheon, ainda, o termo “descentramento” equivale a “ex-cêntrico” e
origina a (aparente) separação radical entre o que se convencionou rotular como “centro”
(geralmente representado pelas forças hegemônicas de poder e pelas suas conseqüentes idéias
e conceitos tidos como fixos e imutáveis em épocas anteriores ao pós-estruturalismo) e
“periferia” (geralmente representado pelas “margens” – situações, conceitos e “sujeitos”
normalmente tidos como “outros” ou “diferentes” do paradigma hegemônico típico do
“centro”). De qualquer forma, as especulações teóricas e filosófico-desconstrucionistas
encaram as relações entre “centro” e “periferia” (que podem ser reduplicadas na relação entre
o “eu” e o “Outro”) como absolutamente indissociáveis, conforme já afirmado anteriormente,
quando definimos “alteridade” teoricamente.
Como conseqüência, em Jasmine e em Alias Grace hão de se misturar esses esboços
de conceitos filosóficos vistos até então para se especular um pouco mais profundamente
sobre a natureza do fictício e do imaginário e as peculiaridades das suas narrativas com todos
os seus vieses pós-modernos. Em Jasmine, além da questão da ex-centricidade da sua
condição de sujeito pós-colonial feminino subalterno, há as questões lacanianas como tão bem
exemplificado no episódio do espelho, em que Jyoti-Jasmine se transmuta na Deusa Kali. A
questão do descentramento e da desconstrução é levada a um grau tão extremo pela autora que
a linearidade da narrativa é totalmente “fraturada”. Por exemplo, para se ter uma idéia
aproximadamente completa sobre quem “é” a protagonista, o leitor tem que se debater por
entre o espinhoso caminho traçado pela autora ou, por outro modo, pelos aparentemente
151
diversos narradores da história, reordenando mentalmente as seguintes exposições (já
anteriormente mais detalhadas no capítulo 2): quando se trata de eventos envolvendo as vidas
da protagonista sob o nome de Jyoti (desde os seus sete anos até os treze, em Hasnapur, em
que aparecem as cenas familiares, religiosas e políticas da sua vida na Índia), os dados a eles
referentes estão expostos nos capítulos 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; quando o foco é a sua
“metamorfose” de “Jyoti” para “Jasmine”, as informações vitais encontram-se no capítulo 12;
quando a questão resume-se somente aos episódios exclusivos de sua “existência” como
“Jasmine” (quando ela se torna viúva), estaremos no capítulo 13; se o foco for, então, a sua
existência praticamente tríade em que a alteridade oscila entre “Jasmine”, “Jyoti” (quando fica
viúva e “volta” a uma encarnação anterior) e “Jasmine” de novo (quando então rechaça o
papel fatal de viúva na sociedade indiana e retorna à identidade de Jasmine, saindo de
Hasnapur e emigrando para a América), o capítulo a ser lido é o 14; quando o que está na
berlinda é “a morte” de Jasmine (em que se descrevem as terríveis condições do seu
deslocamento diaspórico para a América e seu contato com as alegadas “boas” intenções de
Half-Face), tais episódios se narram nos capítulos 15 e 16; os eventos que ilustram as suas
existências como “Jane Ripplemeyer” e “Jase” estão no capítulo 18, da página 109 até o
último parágrafo da página 114 (onde o narrador é claramente Jane Ripplemeyer). A partir
daí, Jane narra que Jasmine “incorpora” Kali, mata Half-Face, e foge do motel, à noite,
encontrando uma senhora Quaker (Lilian Gordon) que bondosamente a acolhe e protege,
encaminhando-a para ser a “baby-sitter” da filha do casal Taylor e Willie Hayes, em Nova
Iorque, que lhe renomeiam “Jase”; já nos capítulos 18 e 19, focaliza-se a sua existência
temporária como “Jazzy”, o nome que Lílian lhe dá, ao não entender a forma como a
protagonista pronuncia “Jasmine”; por fim, os eventos que diretamente se referem à última
alteridade aparente da protagonista – Jane Ripplemeyer - , aparecem nos capítulos 2, 3, 4, 5,
17, 20, 24, 25 e 26.
152
Dessa maneira, se fosse tentada uma “reordenação” dos capítulos, mantendo-se uma
linha cronológica de abordagem dos eventos na vida da protagonista, estes teriam que ser
remanejados e, provavelmente, se poderiam reduzir de 26 para 24, numa especulação nesse
sentido, em virtude de algumas sobreposições de abordagens se acomodarem e se fundirem,
como conseqüência da rearrumação. Todavia, isso, ao invés de adicionar mais complicação à
forma desconstrutora de exposição da narrativa, simplesmente “destruiria” o romance,
privando-o das inumeráveis lacunas que se exige que o leitor preencha para se começarem a
entender alguns sentidos ficcionais da obra. Isso nos reporta, de imediato à Estética da
Recepção e outras teorias de Wolfgang Iser, principalmente quando ele enfoca a necessária
“assimetria” que deve existir entre o leitor e o texto ficcional (o que inegavelmente Bharati
Mukherjee propicia em Jasmine), conforme, se verifica na seguinte fala de Iser:
Em minha primeira exposição, farei algumas observações acerca do reader-response
criticism como reação a uma circunstância histórica. Numa segunda exposição,
gostaria de enfocar a assimetria entre texto e leitor. Tal assimetria produz espaços
vazios ou lacunas que precisam ser negociados. Por essa razão, destacarei certos
tipos de interação que ocorrem durante o processo de leitura (ISER, 1999, p. 19).
Mais adiante, Iser diz que o que veio a ser chamado de Estética da Recepção não é de
modo algum um empreendimento tão simples quanto parece, pois comporta uma distinção
básica entre um estudo da recepção propriamente dita e uma análise do chamado efeito ou
impacto que um texto pode provocar. Tratamos, então, de aspectos diferentes de um mesmo
problema. Nessa medida, as perspectivas da recepção visam, portanto, a identificar claramente
as condições históricas que forjaram a atitude do receptor num dado momento e numa dada
circunstância à qual se transmitiram juízos sobre a literatura. Como afirma Iser, “nesse
sentido, o estudo da literatura se torna um instrumento para recriar ou reconstruir o passado”
(ISER, 1999, p. 20). Assim, podemos inferir que, se a Literatura pode recriar o passado, fica
ainda mais justificada a associação da Literatura com a metaficção historiográfica para se
153
recriar tanto a história privada da personagem histórica Grace Marks, quanto a história
pública da Toronto do século XIX, em Alias Grace.
Iser continua suas considerações fazendo um punhado de afirmativas sobre as formas
de interpretação do objeto estético, desde o século XIX, realçando os diversos conflitos
existentes entre as correntes, passando pela ortodoxia do “New Criticism”, até chegar à
contemporaneidade, quando afirma:
Todavia, quando a estética clássica foi substituída pela desconstrução, o jogo pôde
simplesmente continuar, o que de certa forma explica o êxito da perspectiva
desconstrucionista nas universidades americanas. (…) A literatura moderna se
mostrou inacessível a estudos segundo critérios já mencionados da intenção, do
valor e da mensagem72. As questões sobre literatura que, no passado, seriam
formuladas com naturalidade começaram então a ser percebidas como decorrência
de uma abordagem historicamente condicionada da arte. É indiscutível, porém, o
seguinte traço fundamental na história da interpretação: as questões formuladas
anteriormente não deixam de exercer certa influência quando novas questões estão
sendo concebidas. Não sumiram pura e simplesmente de vista. Ao contrário,
tornaram-se signos de uma via de interpretação naquele momento bloqueada. Desse
modo, as velhas questões servem para apontar novas direções. A velha busca
semântica da mensagem deu origem à análise dos meios de construir, de articular o
objeto estético. O critério de conciliação de opostos, sempre vinculado ao valor
estético da obra, levou à questão de como as faculdades humanas eram estimuladas
e afetadas pelo texto literário durante o processo de leitura (ISER, 1999, p. 24).
Um complemento altamente significativo para as palavras recém-citadas de Iser e
crucial para esta análise seria a afirmação peremptória do autor de que as perguntas anteriores
não estão mortas e enterradas, mas continuam sobrevivendo como “fontes negativas” para que
novas perguntas sejam feitas. Desse modo, as intenções dos autores e as mensagens da obra
constituem o pano de fundo para a teoria do efeito estético.
Fica, então, estabelecida a atmosfera propícia para a explanação do que se constitui
(em) o(s) jogo(s) ficcional (ais) para Iser, e desse modo podemos observar com relação aos
romances estudados que as teias proporcionadas por esses jogos estão estritamente
72
Isto nos faz lembrar que certas idéias de Henry James, nesse campo, constituem as tais “incompatibilidades”
ou “afastamentos” a que anteriormente nos referimos, porém não intransponíveis, conforme se relata na própria
citação acima.
154
relacionadas com o processo de aquisição de agenciamento e voz por parte das protagonistas
Grace Marks e Jasmine. De início, Iser afirma que a intencionalidade subjacente à
ficcionalização é comparativamente determinada em relação ao que foi excedido ou
transgredido, o que nos remete a certos conceitos sobre “excesso” e “disseminação”, ligados à
Desconstrução de Derrida, já mencionados anteriormente no Capítulo 2, tornando-se
fundamental a apreensão do seguinte conceito inicial sobre a ficcionalização:
No entanto, ela tem em mira um alvo ainda indeterminado, pois não pode ser
controlado cognitivamente. Noutras palavras, a ficcionalização equivale a um jogo
livre, pois tal jogo ultrapassa o que é e se volta para o que não é. (...) O ato de fingir,
contudo, mantém em jogo o que se transgrediu, de modo que o transgredido possa
tornar-se algo diferente de si mesmo. (...) A ficcionalização instaura uma diferença
que não pode mais ser erradicada pela consciência, pois não se conhece aquilo a que
visava a intencionalidade. A diferença se revela então por meio de um movimento
compensatório entre aquele jogo livre, no qual se vai além do que é, e um jogo
instrumental cujo propósito implícito tem caráter pragmático. Esse movimento
oscilatório impede não apenas que o jogo livre se desligue inteiramente daquilo que
deixou para trás, mas também que o jogo instrumental realize o seu propósito no
sentido aqui assinalado ontem, isto é, no sentido de produzir um fechamento
(closure) (ISER, 1999, p. 26).
O raciocínio de Iser se desdobra ainda no sentido de afirmar que sempre que o
movimento do jogo está prestes a atingir o seu fechamento, o jogo livre demonstra mais uma
vez a sua pujança, pois a sua função precípua é evitar todo tipo de finalização. Já o jogo
instrumental combate o próprio “adiamento” da sua conclusão. Trata-se, sem dúvida, de uma
relação bastante tensa, em que esse movimento assaz conflituoso resulta num jogo com a
diferença (a play of difference), para utilizar um termo do âmbito da Desconstrução, apesar de
Iser afirmar que os teóricos da Desconstrução silenciam quanto ao dinamismo que se processa
nesse jogo. Extremamente crucial se torna afirmar que, embora desencadeado pela
ficcionalização, o jogo com a diferença foge ao seu controle, podendo apenas ser encenado. O
significado de tudo isso é que a ficcionalização estará sempre sujeita a mudanças, em
decorrência da sua inabilidade para controlar o alvo a que visava.
155
Os desdobramentos dessa tensa relação entre jogo livre e jogo instrumental se
especificam ainda mais na medida em que Iser subclassifica os jogos em quatro tipos: ágon,
jogo de conflitos; alea, jogo baseado na sorte e no imprevisível; mimicry, jogo de imitação; e,
por fim, ilinx, fundamentalmente um jogo de carnavalização que resulta numa subversão
contínua.
Praticamente, fica um pouco difícil de se afirmar com precisão absoluta se todos esses
tipos são encontrados em Jasmine e Alias Grace. À primeira vista e numa análise a grosso
modo, parece-nos que sim. Uma vez que o agon configura uma disputa, uma luta, uma
divisão, em que “realidades referenciais são dispostas antagonicamente, e posições
intertextuais, organizadas antiteticamente” (ISER, 1999, p. 111), de modo que configura
também tanto a consolidação quanto o solapamento do que se consolidou, achamos que se
trata de um subtipo de jogo que está fartamente presente nos dois romances: tanto em Jasmine
quanto em Alias Grace, existe esse jogo de inclusão e exclusão de conceitos e valores de
várias naturezas. Com relação específica à condição de inferioridade do sujeito pós-colonial
feminino, tanto são expostas as agruras de tal situação, na terra hostil do colonizador, quanto é
exposta a lenta (em Alias Grace) e a meteórica (em Jasmine) condição de superação desse
dado de inferioridade. Ademais, todas as citações poéticas em Alias Grace visam a expor um
paradigma de comportamento feminino que se revela antitético se comparado aos
comportamentos atribuídos à suposta criminosa e imigrante irlandesa Grace Marks. Em
Jasmine, podemos ainda detectar o agon em passagens tais como as em que a narradora
principal, Jane Ripplemeyer, faz menções intertextuais a Jane Eyre, de Charlotte Brontë, a
Alice in Wonderland, de Lewis Carroll, e a Great Expectations, de Charles Dickens, criando
situações conflituosas, na medida em que são referências negativas, uma vez que a narradora
diz se tratarem de livros cuja leitura lhe causara náusea e desprazer, numa clara rejeição do
inglês e da literatura inglesa canônica como ícones de dominação.
156
Quanto à alea, podemos afirmar que a sua função é dotar o texto de um certo grau de
imprevisibilidade, tornando imprescindível se contar com o desenvolvimento dos elementos
de surpresa e aventura, fundamentais para a manutenção do dinamismo desse jogo. Desse
modo, a alea torna aberta a rede semântica formada tanto pelos campos referenciais do texto,
quanto pela recorrência de outros textos, interferindo, incessantemente, nas posições
organizadas de forma antagônica para produzir alterações inesperadas. Na verdade, pode-se
afirmar, sem medo de exagero, que a alea, de fato, explode o texto, ocasionando uma
estruturação imprevisível da sua semântica. De certo modo, então, podemos afirmar que em
graus diferentes a alea também está presente nas duas obras: dado o ritmo vertiginoso da
narração e da sucessão dos eventos das “vidas” de Jasmine, principalmente os de ordem
trágica, a alea é presença confirmada nos jogos ficcionais do romance de Bharati Mukherjee;
já relativamente a Alias Grace, é também possível afirmar que os elementos imprevisíveis
também sobejam nessa narrativa, embora em ritmo bem menos frenético do que o verificado
em Jasmine. Um bom exemplo seria a repentina inclusão do seguinte elemento: o Dr. Jordan
(psiquiatra ficcional) de Grace Marks concorda em submetê-la a uma sessão de hipnose,
cedendo à onda de hipnotismo, neuro-hipnotismo e mesmerismo que se popularizara na
Europa, convencido por outro “pesquisador” visitante (Dr. Jerome DuPont, na verdade um
charlatão). O resultado do experimento passa a refletir também a onda de espiritualismo que
por volta de 1840 varreu os Estados Unidos, com os “rappings”
73
das irmãs Fox: o que
deveria simplesmente ter a configuração de uma sessão de hipnose provoca ruídos e batidas
estranhas na sala onde se encontram Grace Marks, Dr. Jordan e algumas outras personagens.
Narra-se, então, que o espírito de Mary Whitney se “incorpora” em Grace e revela que tinha
feito o mesmo no dia dos assassinatos, de forma que Grace seria inocente, pois não teria
cometido os crimes em pleno domínio da sua consciência. Tudo isso é inesperado e adiciona
73
Batidas em madeira, supostamente provocadas pela alma de um morto, com uma codificação previamente
estabelecida, que fizesse corresponder as quantidades de batidas produzidas aos números e às letras do alfabeto,
para que o diálogo entre os vivos e os mortos se estabelecesse.
157
mais complicação à alteridade e à condição de Grace Marks, de uma forma mais contundente,
na medida em que o suposto espírito, para se fazer acreditado, revela, em voz baixa,
intimidades da vida do antes tão cético Dr. Jordan, que não eram do conhecimento de pessoa
nenhuma, por serem muitíssimo pessoais.
Desviando, agora, o foco da nossa atenção para a mimicry, temos a seguinte definição
postulada por Iser:
Enquanto o agon se desenvolve mediante a superação da diferença, e a alea,
mediante o esforço de torná-la absoluta; a mimicry visa a fazê-la desaparecer (um
exemplo de mimicry residiria no realismo socialista). Mas como o que se busca
eliminar é exatamente o que constitui a mimicry, ou seja, a diferença entre o texto e
o que se quer imitar, o próprio processo de eliminação se torna um jogo,
fundamentalmente um jogo em que se imita ampliando (transfiguration), mas
também em que se produz ilusão. A mimicry corresponde, portanto, ao oposto da
alea: esta não mostra o texto como realidade fingida nem como imagem especular
de algo dado, mas como um cenário para o imprevisível, algo que a mimicry tende a
abolir, e com isso, o jogo livre fica suspenso (ISER, 1999, p.112).
Quanto à mimicry, ousamos dizer que talvez não seja detectável nos dois romances em
questão, ou, se o for, isso acontece num grau tão mínimo que nos escapa à percepção no
momento, em face do vigor da presença dos outros sutbtipos de jogos.
O quarto subtipo se denomina ilinx, possuidor de um elemento “vertiginoso” que
consiste na carnavalização de todas as posições reunidas no texto. Isso se dá desse modo
porque existe uma clara tendência anárquica no ilinx. Tal anarquia não apenas libera o que foi
reprimido, mas também tem a capacidade de reintegrar o que fora excluído. Em vista disso, o
ilinx permite ao ausente jogar com o presente e, em tudo quanto está presente, instala uma
diferença que faz qualquer elemento que tenha sofrido exclusão reagir contra aquilo que o
excluiu. O que quer que esteja presente aparece como se algo o espelhasse de trás. Podemos,
dessa forma, considerar o ilinx como um jogo no qual o jogo livre atinge seu mais alto grau de
expansão e de realização. Não obstante, em todos os seus esforços para ir além do que existe,
o jogo livre continua ligado ao que ele pretende ultrapassar, em virtude de jamais conseguir
158
extinguir totalmente as tendências subjacentes e as implicações do jogo instrumental. “Afinal,
até mesmo a subversão tem um alvo e, nesse sentido, é instrumental, embora ative o elemento
livre muito mais intensamente para esse fim específico” (ISER, 1999, p. 112).
Quanto à presença do ilinx, em Jasmine e Alias Grace, acho que ele se torna
mensurável através – principalmente – das identidades multifacetadas no primeiro romance,
assim como nas cambiantes formas de representação das alteridades de Grace Marks, no
segundo. Na verdade, as duas autoras verdadeiramente brincam com os conceitos de
identidade fixa e alteridade mutante – e, nesse sentido, carnavalizam os temas “identidade
fixa” e “alteridade cambiante”. Importante se torna destacar que Bharati Mukherjee leva isso
a um grau extremo, enquanto que Margaret Atwood é um pouco mais comedida na dose de
desconstrução, mas nem por isso se poderia dizer que o ilinx não está contemplado em Alias
Grace. Uma outra evidência da presença do ilinx nos dois romances se consubstancia no fato
de que por mais que a alteridade do colonizado esteja multifacetada e carnavalizada, ela não
consegue se construir de uma forma totalmente independente da alteridade do dominador.
Assim, foi possível constatar que, independentemente de quaisquer motivações ou
caracterizações, os jogos textuais de Iser são perceptíveis nessas duas obras, lídimas
representantes da escrita pós-moderna contemporânea, porque, ainda segundo o que Iser nos
ensina:
No texto literário, esses diferentes jogos raramente ocorrem de forma isolada.
Geralmente se mesclam, e as respectivas combinações podem ser entendidas como
um jogo textual. Assim, no que concerne à literatura, agon, alea, mimicry e ilinx,
por si mesmos, não são jogos, mas elementos constitutivos do jogo do texto (ISER,
1999, p. 112).
Embora possa parecer que chegar a uma “conclusão” sobre a qualidade e a natureza
dos jogos textuais em Jasmine e Alias Grace de alguma forma soe contraditório, mercê da
condição pós-moderna dos romances, que flagrantemente não “concluem” coisas no sentido
159
de fechar questões como o New Criticism entendia, por uma questão de ordem prática tem-se
que suspender a discussão. Entretanto, toda vez que se discute acerca da natureza do que
sejam o fictício e o imaginário, de um modo geral, e, na seara da literatura, de modo
particular, certamente essas elucubrações e especulações que exercitaram nosso pensamento
nos deixam mais “íntimos” do fictício e do imaginário. Mas, por outro lado, como sabemos
que a natureza desses conceitos ligados à ficção literária não é totalmente apreensível
cognitivamente, como nos ensinam Castoriadis e Iser, quanto mais aumenta o nosso grau de
“intimidade” com eles, maior se torna a quantidade de perguntas e especulações sobre os
mesmos.
Na verdade, ao se discutir, teorizar e especular sobre esses conceitos, nos vemos de
fato enredados nas malhas de um jogo (ou de muitos jogos) em que se entrelaçam os
pensamentos e conceitos dos estudiosos com as estruturas textuais dos romances estudados.
Naturalmente, como os estudiosos que enfocamos não são todos contemporâneos entre si (por
exemplo, Schlegel teve sua fase mais produtiva na primeira metade do século XIX; e Henry
James também foi testemunha das mudanças e do cientificismo do século XIX, porém mais
familiarizado com a sua segunda metade e o começo do século XX, uma vez que morreu em
1916), temos um apanhado bem diversificado de opiniões teóricas, ou seja, de dois escritores
e teóricos que viveram o século no qual o romance, enquanto gênero literário novo, passou
por grande amadurecimento, e de dois outros (Castoriadis e Iser) que vivenciaram as
vertiginosas modificações do século XX. Dessa forma, efetivar tentativas de interpretação e
de análise dos tipos de ficção contidos em Jasmine e Alias Grace, à luz das contribuições
desses pensadores, mais do que enriquecer a discussão acerca do fictício e do imaginário,
também reitera uma das mais marcantes características dos dois romances estudados – o seu
potencial desconstrutivo.
160
Se Schlegel e Henry James esposam algumas idéias e conceitos que são fruto das
instituições sociais e conceitos científicos, filosóficos e estéticos do século XIX, e muitas
vezes parecem um tanto quanto “fora de lugar” ou anacrônicos, isso não significa que as suas
idéias sejam totalmente superadas e nada se possa aproveitar delas na análise e discussão de
obras literárias contemporâneas. Bem o provam as posições mediadoras de Wolfgang Iser,
que mantém a sua linha crítica especulando sobre a estética da obra literária, mas não
desconsidera as contribuições do passado, nem tampouco as correntes de pensamento atuais.
Em vista dessa exposição, nada nos parece mais adequado do que a dinâmica dos
jogos textuais que Iser desenvolve em suas teorias para explicar essa interação entre obras
literárias e opiniões críticas de autores que vivenciaram experiências estéticas diferentes. Mais
uma vez enfatizando o romance como gênero literário bastante novo, não se pode supor que
um romancista da primeira hora escreva do mesmo modo como o romancista da
contemporaneidade. Provavelmente, daí se originam também as opiniões dos diversos críticos
sobre os “bons” e “maus” escritores, assim como sobre “boa” e “má” literatura. Mais
precisamente abordando o romance pós-moderno, constatamos que ele reúne características
tão peculiares que podem mesmo afastá-lo demais das concepções estéticas mais tradicionais.
É o caso dos romances que têm uma relação direta ou indireta com os Estudos Culturais, pois
alguns deles podem simplesmente ser vistos como obras panfletárias de ideologias que
supostamente nada têm a ver com a obra literária enquanto obra de arte.
Não obstante, conforme já afirmáramos anteriormente, existem muitos exemplos de
produções literárias contemporâneas que nada ficam a dever às obras tidas como “canônicas”.
Certamente, este é caso dos dois romances cuja “ficcionalidade” ora avaliamos à luz das
idéias de Iser, Castoriadis, James e Schlegel.
Desse modo, não somente as peculiaridades das narrativas não lineares de Jasmine e
Alias Grace, mas também as características do pós-modernismo em si e das suas temáticas
161
inquietantes compõem a matéria-prima constituinte dos diversos jogos que figuram nos
romances e que os dotam de nuances ficcionais tão especiais e esteticamente diferentes de
quase tudo que já foi escrito antes.
Para finalizar esta discussão, então, não voltaremos a tentar exemplificar os jogos
textuais de Iser nos dois romances, nem tampouco retornaremos ao cotejamento de mais
alguns aspectos dos pensamentos de James, Schlegel e Castoriadis com outras passagens dos
romances. Optaremos simplesmente por expor alguns trechos das passagens finais de Jasmine
e Alias Grace, com todo o seu potencial ficcional de desconstrução de sentidos fechados e sua
capacidade de incluir, abarcar e “costurar” novos sentidos aos que já existiam, num
movimento dinâmico (de jogo) que permite ao leitor preencher as lacunas semeadas pelo
caminho.
No último capítulo de Alias Grace, após enfrentar uma longa e penosa saga, Grace
Marks finalmente se livra da prisão ao obter o perdão para o seu crime (após vinte e nove
anos entre a cadeia e o manicômio penitenciário). Grace é ajudada pelos vários amigos que
fez graças ao bom comportamento e acaba aceitando a oferta de casamento que Walsh lhe faz
(Walsh é um homem que testemunhara contra ela no passado e que vê na oferta de casamento
a reparação para uma possível injustiça que tenha cometido). Os dois casam e viram pequenos
fazendeiros nos Estados Unidos (onde ninguém os conhece e assim Grace não será lembrada
como ex-presidiária). Enfim, Grace Marks parece feliz com a nova vida e descobre que está
grávida. Porém, a questão da alteridade multifacetada continua a pairar sobre a sua
subjetividade. Na seguinte passagem (dois últimos parágrafos do livro), Grace Marks está
prestes a concluir a colcha de retalhos (com a história da sua vida) que de longa data vinha
costurando e bordando. Ela então descreve o padrão de bordado chamado “árvore do paraíso”,
e a questão problemática da alteridade se reitera uma vez que a protagonista alegará que estará
plasmando nesse bordado três triângulos representativos dela, de Mary Whitney e de Nancy
162
Montgomery, para que elas “fiquem sempre juntas”. A este episódio, retornaremos no último
capítulo.
Da mesma forma, em Jasmine, a questão da alteridade, associada à continuação dos
deslocamentos diaspóricos, deixará o romance aberto. Na verdade, a protagonista, então na
pele de Jane Ripplemeyer, está prestes a abandonar seu segundo marido, Budd (que ficara
numa cadeira-de-rodas em função de um tiro, fato que Jane atribuíra à possível má sorte que
ela acredita trazer a seus homens – o que parece sugerir uma influência de Shiva74) e seguir
com Taylor (seu ex-patrão em Nova Iorque, por quem ela se apaixonara na época) e sua filha
(de quem ela fora babá):
Então não há nada que eu possa fazer. O tempo dirá se eu sou um tornado, que reduz
a escombros tudo o que encontra, aparecendo não-se-sabe-de-onde e evanescendo
numa nuvem. Eu estou fora da casa, no caminho esburacado e ferido pelas rodas dos
carros, intrepidamente seguindo na frente de Taylor, ávida de desejos e repleta de
esperanças. 75
É altamente emblemático notar também como a narradora retoma o episódio do
astrólogo e da predição da sua viuvez, descrita no primeiro capítulo, para desconstuir a noção
de predestinação, sublinhando, em contrapartida, a idéia de aquisição de poder (pelo menos
para “escrever nas estrelas” o seu destino), ao mesmo tempo em que parece retornar para a
sua identidade de Jase (provavelmente a época em que fora mais feliz). Em outras palavras, a
protagonista fecha o romance deixando indeterminadas as suas próximas existências e uma
possível identidade menos cambiante, porém não sem antes sugerir a condição de
empoderamento retratada no seu desafio ao astrólogo, de quem ela tem uma “visão” em seu
devaneio identitário. A este episódio também retornaremos com mais vagar no último
capítulo.
74
Tal influência de Shiva sugeriria, de fato, um intercâmbio de alteridade da personagem com a do deus hindu,
através de causar acontecimentos que revelem o comportamento ou função da divindade. No livro, existe essa
sugestão velada, não só com relação a Jane e a Shiva, mas também com relação a outros personagens e outros
deuses.
75
No original em inglês: “Then there is nothing I can do. Time will tell if I am a tornado, rubble-maker, arising
from nowhere and disappearing into a cloud. I am out the door and in the potholed and rutted driveway,
scrambling ahead of Taylor, greedily, with wants and reckless from hope” (MUKHERJEE, 1991, p. 214).
163
CAPÍTULO 4
A LITERATURA COLONIAL E PÓS-COLONIAL EM LÍNGUA INGLESA COMO
INSTÂNCIAS DE ENUNCIAÇÃO E RESISTÊNCIA DO SUBALTERNO: DE
CALIBAN A JASMINE E GRACE MARKS
Com referência à premissa de que a representação literária da aquisição de poder por
parte do colonizado está direta ou indiretamente relacionada ao aprendizado da língua do
colonizador, optamos por proceder a breves considerações sobre algumas obras emblemáticas
das literaturas em língua inglesa em que essa questão de alguma forma se destaca, para a
melhor compreensão de como esse processo se dá em Jasmine e Alias Grace. Desse modo,
serão enfocadas a aquisição de voz e agenciamento por parte do colonizado; a capacidade de
expressão/elocução do subalterno na linguagem do dominador, para dizer impropérios (como
no caso emblemático do Caliban em A Tempestade), utilizando a língua adquirida em
processos de resistência; e a ruptura do silêncio imposto pelas forças hegemônicas, que não
raro equivale ao processo de negação da subjetividade do subalterno no âmbito das relações
coloniais.
Assim, optamos por pontilhar esse caminho começando por A Tempestade, e, depois,
Robinson Crusoé, Foe, Heart of Darkness, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde,
“Lispeth”, Jasmine e Alias Grace. O foco da abordagem privilegiará a dicotomia entre
enunciação e silêncio, com ênfase na problemática da voz da mulher. Nessa medida, a
seguinte citação de Trinh T. Minh-ha acerca do silêncio e da enunciação parece uma
credencial perfeita para abrir a série de considerações que faremos sobre a questão:
164
Dentro do contexto do discurso feminino, o silêncio tem muitas faces. Como o uso
do véu, o silêncio somente será subversivo quando liberto do contexto masculino de
ausência, falta e medo como territórios femininos. Por um lado, corremos o risco de
inscrever a feminilidade como ausência, falta e vazio, ao negar a importância do ato
de enunciação. Por outro lado, entendemos a necessidade de situar a mulher no
espaço da negatividade e das ações em meio-tom, por exemplo, em nossas tentativas
de minar os sistemas de valores patriarcais. O silêncio é muito comumente colocado
em contraste com o discurso: o silêncio como um desejo de nada dizer, ou como um
desejo de desdizer, e como uma linguagem própria tem raramente sido explorado. 76
Como se pode perceber, utilizando uma postura bastante desconstrucionista, Trinh T.
Minh-ha chama a atenção para nuances do silêncio anteriormente impensadas: o silêncio
imposto, mesmo quando usado pelo opressor como instrumento da negação da subjetividade,
acaba se tornando um arauto retumbante da própria ausência da voz ou referência do
subalterno, enquanto mulher ou não. Desse modo, adotaremos, de início, essa postura
defendida por Minh-ha para a avaliação de como se representam dentro das literaturas em
língua inglesa os processos de enunciação dos sujeitos colonizados e o quanto tais processos
contribuem para o seu empoderamento.
Muito embora já se tenha afirmado que A Tempestade (encenada pela primeira vez
provavelmente em 1611 e publicada no Primeiro Fólio em 1623, de acordo com OUSBY,
1996, p.929) tenha sido escrita alguns anos após o franco início da Inglaterra nas aventuras da
colonização, assim como que a publicação de Robinson Crusoé (1719) ocorreu quando a
Inglaterra já acumulava pelo menos um século de experiência como metrópole colonizadora,
optamos aqui por não seguir uma ordem cronológica linear na abordagem de cada uma das
obras destacadas neste capítulo.
76
No original em inglês: “Within the context of women’s speech, silence has many faces. Like the veiling of
women, silence can only be subversive when it frees itself from the male-defined context of absence, lack, and
fear as feminine territories. On the one hand, we face the danger of inscribing femininity as absence, as lack, and
as blank in rejecting the importance of the act of enunciation. On the other hand, we understand the necessity of
placing women on the side of negativity and of working in undertones, for example, in our attempts at
undermining patriarchal systems of values. Silence is so commonly set in opposition with speech. Silence as a
will not to say or a will to unsay and as a language of its own has barely been explored” (MINH-HA, 1997, p.
416).
165
Dessa forma, considerados os primeiros movimentos de emancipação nas colônias
inglesas já datados de fins do século XIX (ABDALA, 1998, p.1502), é possível detectar a
presença e o aparecimento das primeiras rachaduras do império colonial europeu em obras
literárias como Heart of Darkness de Joseph Conrad (escrito em 1899 e publicado pela
primeira vez em 1902) e The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, (publicado em 1886)
de Robert Louis Stevenson, se adotarmos formas de releituras desconstrutivas, nos moldes
esposados pelo filósofo francês Jacques Derrida, conforme já referidos nos Capítulos 1 e 2, e
a exemplo do que se depreende da citação de Minh-ha com relação à dicotomia da enunciação
e do silêncio. Para se subsidiar a presente argumentação, brevemente rememoramos o que
Cuddon diz (1992, p. 222), com relação à Desconstrução, desvinculando-a da idéia de
“destruição”, conforme já citado em capítulo anterior, e associando o termo a “análise”.
Assim, a adoção de uma postura de análise constante abre campo para o desdobramento e
conseqüente atrelamento a outros sentidos de argumentação, na medida em que “desfazer” se
refere a sentidos únicos, fechados e monolíticos, o que passa a privilegiar o sentido da análise
constante, com o conseqüente adiamento de uma forma de significação única e fechada.
Assim, seguindo uma linha desconstrucionista de argumentação, podemos considerar
que a “eloqüência” dos silêncios e das brechas da novela de Stevenson retumba o drama de
Jekyll/Hyde enquanto metáfora de horror, de decadência e de ambigüidade de caráter que sai
da esfera do drama individual e se amplia, para simbolizar a decadência não só do pacato e
ordeiro cidadão londrino vitoriano, Dr. Jekyll, mas também a decadência da Inglaterra, na sua
condição de nação colonizadora e poderosa, que começa a perder o controle sobre as suas
colônias, da mesma forma que Jekyll começa a perder o controle sobre o trânsito entre as suas
antagônicas personalidades de Jekyll (o seu lado bom) e de Hyde (o seu lado maléfico).
Em suma, se levarmos em consideração no discurso do colonialismo a idealização
mítica e recorrente do homem branco, colonizador, tido como salvador e civilizador, aquele
166
que assumiu para si toda a carga de incivilidade do colonizado, assim como a
responsabilidade pela transformação da sua indolência em força produtiva, através da sua
cristianização e adesão aos padrões culturais ditos civilizados, a corrupção de um membro
respeitável e exemplar da sociedade londrina vitoriana conservadora dá um golpe de
misericórdia nessa visão mítica. Na verdade, uma das mais contundentes exemplificações
dessa atribuição do homem europeu já era defendida em período anterior por Rudyard
Kipling, como se observa no trecho seguinte do seu poema “The White Man’s Burden” (“O
Fardo do Homem Branco”), que dispensa maiores considerações, tal a clareza das construções
ideológicas que evidencia:
Take up the White Man’s burden –
Send forth the best ye breed –
Go, bind your sons to exile
To serve your captive’s need;
To wait, in her heavy hearness,
On fluttered folk and wild –
Your new-caught sullen peoples,
Half devil and half child.
Take up the White Man’s burden –
In patience to abide,
To veil the threat of terror
And check the show of pride;
By open speech and simple,
A hundred times made plain, to seek another’s profit
And work another’s again.
Rudyard Kipling (KIPLING, 1962, p. 136-137)
Entretanto, a constatação na novela de Stevenson de que o cidadão exemplar Jekyll
não combina com a descrição missionária, messiânica e impoluta do homem branco citado no
poema de Kipling se associa ao fato de que o aparecimento do romance inglês propriamente
dito tem estreita relação com questões coloniais. Muito embora se possa argumentar que a
produção literária inglesa do século XIX tem como tema principal os problemas da sociedade
burguesa inglesa dentro da metrópole, o que se pode facilmente verificar nas obras de
167
Fielding, Richardson, Smollet e Sterne, por exemplo, é absolutamente inegável que aquele
que é considerado o primeiro romance da literatura inglesa - Robinson Crusoe, de Daniel
Defoe - já estivesse totalmente imbuído das características da colonização, assim como da
subjugação do Outro, do nativo. Conseqüentemente, torna-se sintomático que a fórmula
estrutural da narrativa e da exploração das temáticas do romance de Defoe acabará por se
tornar o modelo para o romance inglês do século XIX. É como se o fato de o gênero
“romance” ter-se originado de uma obra literária que explorava o ambiente do “Outro, de uma
ilha, de uma região exótica e tropical”, tivesse definitivamente marcado as características do
“romance” enquanto novíssimo gênero literário.
Voltando momentaneamente o foco da atenção para Caliban, poderíamos ir muito
mais além se levássemos em consideração as tradicionais caracterizações desse personagem
shakespeariano bastante incomum, uma vez que poderíamos identificar nele a metáfora para
todos os seres colonizados e colonizáveis de áreas e ilhas tropicais e exóticas, bem distantes
do centro de comando europeu, como é o nosso propósito principal aqui. Acresça-se a isso o
fato de que a Caliban, enquanto representante do outro, do subjugado, do inferior, é negada
até mesmo a condição de humanidade, uma vez que ele é considerado meio-homem, meiopeixe, ou meio-monstro, conforme ainda exploraremos mais detidamente.
Todavia, mais uma vez voltando os nossos olhos para a novela de Stevenson, mesmo
na tentativa de detectar indícios dos efeitos da colonização européia na obra literária, é
possível afirmar, por mais paradoxal que pareça, que não há nela referências diretas à questão
do imperialismo inglês ou europeu, de um modo geral. Além disso, um outro grande silêncio
que permeia a novela é a parca existência de personagens femininas – há as criadas da casa do
Dr. Jekyll, a quem não é dado o direito de expressão marcante. Ou seja, a novela de Stevenson
é uma obra literária eminentemente masculina. Não obstante, tomando como ponto de partida
esse grande silêncio sobre a questão das mulheres e da colonização é que se abre o campo
168
para a efetivação de uma leitura desconstrutiva em que podemos vislumbrar exatamente o
esboço de uma reflexão acerca do típico cidadão londrino exemplar, característico do período
vitoriano. Enfim, trata-se do modelo de cavalheiro, homem civilizado e educado, que daria
base à nação inglesa para ser exemplo de austeridade, civilização, e superioridade moral,
social e religiosa para os subalternos súditos de Sua Majestade nos mais recônditos rincões do
Império Britânico.
Porém, o que se percebe é que Dr. Jekyll, publicado em 1886, traz à baila a história de
um respeitável médico londrino que resolve se engajar em experiências científicas a fim de
pesquisar se é possível separar-se a natureza boa do homem da sua tendência ao mal e à
monstruosidade de caráter. Ele desenvolve, então, uma droga que o faz transitar entre a
personalidade de Jekyll (seu suposto lado bom) e de Hyde (seu lado mais torpe e insidioso).
Ele consegue ter sucesso por algum tempo, controlando o processo até o ponto em que seu
“lado Hyde” passa a dominá-lo. Fica, então, cada vez mais difícil retornar para o seu “lado
Jekyll”. Suas reservas da droga transformadora escasseiam, de modo que o suicídio é a única
forma que ele encontra para se livrar do mal, das mortes, da violência e do horror
generalizado, que são associados às manifestações de Mr. Hyde.
Por todo o desenrolar da trama, são muitas e recorrentes as doses de mistério usadas
por Stevenson, principalmente quando as referências a Hyde são feitas (e antes do leitor tomar
conhecimento de que Hyde é um alter-ego de Jekyll). As referências a Hyde sempre
descambam para a seara de uma interpretação maléfica irrecorrível, como a seguinte, que
chega a aproximá-lo das caracterizações subalternizantes comuns do Outro enquanto
colonizado, pela via da demonização, ou enquanto um Outro de mesma etnia, porém
possuidor de marcas de diferenças inferiorizantes (anão, “anormal”) em relação ao tipo padrão
de homem londrino (de estatura comum, “normal”):
169
Mr Hyde era pálido e com aparência de anão; ele aparenta possuir deformidade sem
apresentar nenhum sinal evidente disso; tinha um sorriso incômodo. Ele tinha sido
concebido pelo advogado como uma mistura criminosa de timidez e seriedade (...)
Deus me perdoe, mas o tal homem não parece humano! Era algo troglodítico. Ou
poderia esta ser a história de Dr. Fell? (...) Oh, meu pobre Harry Jekyll, se acaso eu
já vira a marca de Satã em algum rosto, foi no rosto do seu novo amigo. 77
Daí em diante, o drama de Jekyll passa a dominá-lo, irremediavelmente, até o seu
suicídio – a única forma que vê para se livrar do seu alter-ego (Hyde), que já tinha até mesmo
cometido um homicídio. Todavia, a aura de mistérios envolvendo totalmente a relação de
Jekyll e Hyde e o predomínio de personagens masculinos, além da quase absoluta ausência de
mulheres (o outro grande silêncio da novela), permite brechas na narrativa que o leitor fica à
vontade para preencher. Tais lacunas têm captado a atenção de críticos como Vladimir
Nabokov, por exemplo, que chegam a aventar hipóteses bastante audazes sobre a natureza da
relação Jekyll/Hyde, como se expõe a seguir:
Já foi sugerido que Stevenson, trabalhando sob extremas restrições vitorianas, e não
querendo trazer cores para a história estranhas à atmosfera monástica por ele criada,
conscientemente evitou a colocação de personagens de natureza feminina nos
supostos prazeres secretos com que Jekyll se deliciava.78
Mais além, Nabokov, impressionado com as reticências e silêncios da novela, especula
ainda sobre outras intenções que talvez nunca tenham acorrido a Stevenson:
Primeiramente, a reticência vitoriana permite ao leitor especular sobre conclusões e
idéias que talvez nunca tenham passado pela cabeça de Stevenson. Por exemplo,
Hyde é chamado de “protegido” de Jekyll e seu benfeitor, porém, mais intrigante
77
No original em inglês: “Mr. Hyde was pale and dwarfish; he gave an impression of deformity without any
namable malformation, he had a displeasing smile, he had borne himself to the lawyer with a sort of murderous
mixture of timidity and boldness, (...). God bless me, the man seems hardly human! Something troglodytic, shall
we say? or can it be the old story of Dr. Fell? (...) O my poor old Harry Jekyll, if ever I read Satan’s signature
upon a face, it is on that of your new friend” (STEVENSON, 1994, p. 12).
78
No original em ingês: “It has been suggested that Stevenson, working as he did under Victorian restrictions,
and not wishing to bring colours into the story alien to its monkish pattern, consciously refrained from placing a
painted feminine mask upon the secret pleasures in which Jekyll indulged” (NABOKOV, 1980, p. 194).
170
ainda se torna outro epíteto atribuído a Hyde, o de “favorito” de Jekyll. (...) O
padrão eminentemente masculino predominante no romance pode sugerir, por um
desvio de pensamento, de acordo com Gwynn, que as aventuras secretas de Jekyll
poderiam ser práticas homossexuais, tão comuns, “por baixo do pano”, na Inglaterra
Vitoriana.79
Seja como for, e dada a predominância de termos tais como “silêncio” e “horror” pelo
romance afora, podemos ter como certo o desmantelamento da imagem do cidadão londrino
modelar, representante da nação igualmente modelar e portadora de todas as qualidades
morais que supostamente “faltam” aos povos incivilizados das colônias. Dessa forma, o
drama, a falência, a hipocrisia e o descontrole de Jekyll assumem um “status” metafórico.
Assim, a história de falência, em pequena escala, de Jekyll/ Hyde pode ser vista como
metáfora para as situações de falência e dificuldade que a grande nação britânica colonizadora
irá enfrentar dentro de algum tempo (ABDALA, 1998, p. 1502). Por outro lado, poderíamos,
ainda, arriscar ilações ousadas que funcionariam em mão dupla: a primeira diria respeito ao
fato de que, se o colonizado não mais pudesse contar com os dotes civilizados do colonizador,
já que a corrupção de Jekyll o desvinculara das tais obrigações nobres, altruísticas e
missionárias para com o “incivilizado”, conforme a ideologia do poema de Kipling (“White
Man’s Burden”, citado anteriormente neste capítulo), esse mesmo colonizado teria a chance
de construir a sua subjetividade sem a anulação quase que absoluta dos valores da sua cultura.
Quanto à segunda ilação, poderíamos aventar que a corrupção de Jekyll pelo seu lado
maléfico (Hyde) encerraria um paralelo metafórico com a relação tradicional do colonizador
com o colonizado (que, tal como Hyde, é repositório de todo tipo de possíveis idealizações
negativas). Tal análise hiperdescontrutivista ganha plausibilidade quando Dr. Jekyll é
comparado com a obra de Conrad, Heart of Darkness. Ali, a corrupção, a loucura e a doença
79
No original em inglês: “First of all, this Victorian reticence prompts the modern reader to grope for
conclusions that perhaps Stevenson never intended to be groped for. For instance, Hyde is called Jekyll’s protegé
and his benefactor, but one may be puzzled by the implication of another epithet attached to Hyde, that of Henry
Jekyll’s favorite (...). The all-male pattern that Gwynn has mentioned may suggest by a twist of thought that
Jekyll’s secret adventures were homosexual practices so common in London behind the Victorian veil” (Ibid, p.
194).
171
do personagem Kurtz também têm sido vistas como resultantes do contato com os nativos e as
tenebrosas florestas africanas, como discutiremos mais adiante, mas já evocando um exemplo
contundente e explícito da representação literária dos horrores da colonização.
Além da novela de Stevenson e do romance de Joseph Conrad, poderíamos ainda nos
referir a uma infinidade de romances e escritos ficcionais de outros gêneros na literatura em
língua inglesa do final do século XIX e do início do século XX, para se verificar como as
questões coloniais e pós-coloniais, inclusive as referentes ao silêncio e à enunciação, fazem-se
representadas nessas obras, conforme nos afirma Said (1973, p.1971). Contudo, para não nos
determos demasiadamente nesta preparação para voltarmos a Caliban e começarmos a
explorar Jasmine e Alias Grace, rememoraremos, brevemente alguns dados importantes do
romance Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Nessa obra, a exposição dos efeitos altamente
deletérios e desumanizantes das ações imperialistas no coração das selvas africanas do Congo,
a falência e a corrupção de Kurtz, em decorrência do contato com as selvas e os nativos, são
estabelecidas de uma forma muito mais contundente do que no romance de Stevenson em que
a questão é tratada de modo mais sutil e vincula-se a uma questão metafórica.
Marlow, o capitão de um navio ancorado no Rio Tâmisa, esperando pela mudança da
maré, começa a narrar para a tripulação a sua experiência na África, quando então liderava
uma expedição para o impenetrável e misterioso coração das selvas africanas, através do Rio
Congo. É digno de nota, logo de início, que Marlow vai contar uma história cheia dos
horrores dos efeitos do colonialismo selvagem e canibal tanto nos nativos africanos quanto
nos europeus colonizadores, que são ironicamente chamados de “emissários da luz”, numa
clara alusão à suposta superioridade do colonizador branco, em detrimento da suposta
inferioridade dos povos africanos. Marlow era contratado de uma companhia de navegação
para a difícil tarefa de resgatar Kurtz, um dos seus agentes, que se encontrava doente nos
confins da selva. Durante a viagem, Marlow vai se impressionando com a selvageria dos
172
nativos, e com a escuridão da selva e dos corações humanos (nativos e colonizadores) que vai
encontrando pelo caminho. À medida que a viagem prossegue, ele vai ouvindo mais algumas
histórias meio-míticas sobre Kurtz, que se teria desumanizado totalmente e se tornado louco.
Todo esse processo se desencadeia com a ganância de Kurtz com o comércio de marfim para
a empresa de que era contratado, e do qual ele desviara grande parte, enriquecendo
ilicitamente. Alguns nativos tinham Kurtz como um deus, dono de uma autoridade
inquestionável, e tendo poder de vida e morte sobre todos. O destino de Kurtz é então a
doença e a conseqüente morte, quando de volta no navio de Marlow.
As experiências de Marlow permitem que ele vá tecendo comentários críticos sobre as
situações de injustiça que vê, tais como na seguinte passagem, em que ele aborda um dos
mecanismos básicos do colonialismo: “A conquista da terra, que mais comumente significa a
espoliação daqueles que têm uma cor de pele diferente, ou narizes ligeiramente mais chatos
do que os nossos, não é uma coisa prazerosa quando se olha para ela mais detidamente”.80
Nesse ponto, torna-se claro que Conrad está expondo mais a escuridão e as trevas do
coração humano do que a escuridão das selvas propriamente dita. À medida que Marlow
penetra na escuridão das selvas, mais ele passa a conhecer o coração e a natureza humana,
pelo seu lado mais torpe e corrupto. Nessa medida, Kurtz, então, se torna a metáfora de “toda
a Europa subjugando a África”, uma vez que, curiosamente, ele apresenta uma identidade
totalmente híbrida e fragmentada: ele fora educado na Inglaterra; sua mãe era meio-inglesa;
seu pai era meio-francês; infere-se que ele se tenha influenciado pelos hábitos e culturas dos
nativos, de alguma forma; e ele trabalhava para uma empresa comercial belga, sendo reputado
como o melhor comerciante de marfim da companhia. Mais curioso e irônico ainda é que ele
começara a sua carreira como repórter para uma organização chamada “Sociedade
Internacional para a Supressão dos Costumes Selvagens”, mas acabou se tornando alguma
80
No original em inglês: “The conquest of the earth, which mostly means the taking it away from those who
have a different complexion or slightly flatter noses than ourselves is not a pretty thing when you look into it too
much” (CONRAD, 1994, p.10).
173
coisa que se classificaria num possível interespaço semântico entre “selvagem” e “monstro”,
estabelecendo uma referência direta às questões ideológicas concernentes a poder e
dominação, por trás das aparentes relações binárias opositivas e “meramente lingüísticas”
entre os signos (de acordo com as concepções de Saussure, sobre a questão, já abordadas no
Capítulo 1).
Nos comentários de Marlow, depreendem-se idéias relativas ao capitalismo desumano
e selvagem, assim como a da associação do canibalismo com as piores práticas capitalistas
predatórias. As palavras que Kurtz pronuncia no momento da morte fazem-nos lembrar
daquelas que também figuram em Dr. Jekyll – “horror, the horror. (...)”. Curiosamente, tem-se
a mesma idéia que se defende em Dr. Jekyll: a de que a decadência, o horror e a calamidade
individuais ampliam-se em metáforas abrangentes para o declínio do poderio das nações
colonialistas européias, principalmente a Inglaterra. Tal hipótese se fortalece mais ainda nas
últimas passagens de Heart of Darkness, quando Marlow interrompe as histórias sobre a selva
africana, e o curso d'água em questão não é mais o Rio Congo, mas sim o Rio Tâmisa. Nesse
momento, estão todos em silêncio, sob o efeito dos horrores da narrativa. Os arredores
também não são mais as escuras selvas africanas, mas a também sombria Londres de muitos
senhores “Hyde”, por assim dizer, como se depreende do último parágrafo do livro, que sela
as considerações sobre as mazelas do colonialismo e, sub-repticiamente, acaba por incluir
Londres nessas considerações. Agora, a capital do poderoso império britânico está totalmente
envolta em escuridão:
Marlow calou-se e sentou-se separado dos outros, indistinta e silenciosamente,
assumindo a pose de um Buda. Ninguém se moveu por algum tempo. “Nós
perdemos a primeira maré vazante”, disse o diretor, repentinamente. Eu levantei
minha cabeça. Um pedaço de mar no horizonte estava ofuscado por um grupo de
nuvens negras, e o tranqüilo curso d’água que leva aos mais recônditos locais da
terra deslizava sobriamente sob um céu turvo – o rio, parecia, de fato, levar para o
coração de trevas imensas. 81
81
No original em inglês” “Marlow ceased, and sat apart, indistinct and silent, in the pose of a meditating
Buddha. Nobody moved for a time. ‘We have lost the first of the ebb’, said the Director, suddenly. I raised my
174
Retornando às já aludidas idéias de Fernández Retamar, para começarmos a desviar o
foco da discussão para as caracterizações de Caliban, é oportuno destacar o seguinte
fragmento do artigo do pensador cubano:
Neste ensaio, eu falarei sobre Caliban, e freqüentemente através dele. Anos atrás, eu
propus que o filho mítico de Sycorax fosse encarado como um símbolo cultural
referente ao que José Marti chamava de “Nossa América” (...) Mas essa poderosa
“metáfora conceitual” (para usar as palavras de Gayatri Chakravorty Spivak) – e eu
insisto que essa metáfora conceitual é um poderoso instrumento de entendimento, e
não um simples nome numa peça – se referirá, nessas páginas, não somente à
América Latina ou ao Caribe, (...) mas a todos os miseráveis e subjugados da terra,
de um modo geral, cuja existência atingiu uma dimensão absolutamente singular
desde 1492. 82
Trilhando os caminhos críticos da Desconstrução e da reinterpretação de idéias
monolíticas e cristalizadas, Roberto Fernández Retamar vai tecendo suas considerações,
enquanto reavalia algumas das histórias dos vários processos de colonização de que se tem
notícia. Ele afirma, por exemplo, que, se a data de 1492 for tomada como um marco, tendo
em vista a “invasão da América” (em vez de “descoberta, como Fernández Retamar prefere
renomear esse evento histórico), podemos ser mais audaciosos e recuar no tempo por um
milênio (considerado o ano de 1992, que é a época de onde ele fala). Isto posto, nos
encontraremos na Europa de 992. Fernández Retamar, então, diz que a Europa abrigava uma
“civilização” bastante precária, mas que, a despeito disso, já estava a praticar a mesma atitude
“egiptocêntrica” de desdém que os antigos egípcios adotavam quando se referiam “aos
infantis e impuros gregos” (FERNÁNDEZ, 1997, p.163). Da mesma forma, ele afirma que os
head. The offing was barred by a black bank of clouds, and the tranquil waterway leading to the uttermost ends
of the earth flowed somber under an overcast sky – seemed to lead into the heart of an immense darkness”
(CONRAD, 1994, p. 111).
82
No original em inglês: “In this essay, I will speak about Caliban, and frequently through him. Years ago I
proposed mythical Sycorax’s son as an image of the culture pertaining to what Jose Marti called “our America”,
which has worldwide roots. But the powerful ‘concept-metaphor’ (to use Gayatri Chakravorty Spivak’s words)
of Caliban, a concept-metaphor, I insist, an instrument for understanding, by no means just a name in a play) will
refer in these pages not only to Latin America and the Caribbean but, as has so frequently been the case, to the
wretched of the earth as a whole, whose existence has reached a unique dimension since 1492” (FERNÁNDEZ,
1997, p. 163).
175
europeus não tinham a mínima condição de ser “refinados” como os árabes ou os bizantinos.
Por essa época, possivelmente, nem mesmo os verdadeiramente refinados chineses e os maias
sequer suspeitassem que os rudimentares europeus existissem.
Bastante interessante e inovadora é a visão de Fernández Retamar, que chega a propor
a implantação de um processo de humanização imediato (reconhecimento de subjetividade)
das relações dos povos abastados e desenvolvidos com os povos miseráveis e subjugados,
como única forma de se impedir um colapso inexorável entre tais nações, com prejuízos para
todos. Enfim, Fernández Retamar propõe que finalmente se faça justiça a “Caliban”, para que
ele não invada e destrua “os domínios de Próspero”, definitivamente.
Unindo as concepções acerca de Caliban que Fernández Retamar desenvolve,
podemos ligeiramente evocar mais uma vez uma outra obra literária inglesa que ecoa a
situação do Caliban de Shakespeare. Trata-se do romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe.
Nessa obra, a clara relação de dominação estabelecida entre Crusoé (o náufrago inglês) e
“Sexta-Feira”, o nativo da ilha, era aceita como um processo normal, e o elemento europeu
naturalmente encarado como superior a qualquer “nativo” ou povo colonizado. De certa
forma, pode-se afirmar que Sexta-Feira é imediatamente submetido a um processo de
“calibanização”, somente para lembrarmos a representação Shakesperiana do “monstro” da
“ilha de Próspero”. Entretanto, não se quer afirmar aqui que Shakespeare tenha
definitivamente determinado a condição anti-humana de Caliban como fórmula monolítica
inexorável. Muito pelo contrário, exatamente a indeterminação do caráter e da alteridade de
Caliban, quiçá intuitiva e sabiamente representados por Shakespeare, seja o fator que tem
contribuído para se enxergar em Caliban não apenas o seu aspecto de “meio-monstro” ou
“meio-demônio”, mas também o seu caráter de “metáfora conceitual”, para usar a expressão
(de Spivak), para todos os povos e indivíduos deserdados e estropiados do nosso planeta,
conforme defendido por Fernández Retamar e já mencionado anteriormente.
176
Em vista de todo o exposto, e enfatizando a questão da enunciação, cabe-nos, agora,
pinçar alguns exemplos tirados das produções ficcionais inglesas para se verificar até que
ponto tanto o deslumbramento da descoberta do inglês (BHABHA, 1997, p. 29), quanto o seu
uso para minar as forças da dominação estão contemplados nesses escritos literários. Optamos
por começar pelas idealizações de Caliban e como ele já representa uma primeira tentativa de
resistência à dominação imposta através do uso da língua igualmente imposta.
Desde a publicação de A Tempestade, Caliban acabou por se tornar uma das
personagens mais comentadas, analisadas e reavaliadas em escritos literários ou reescrituras e
reinterpretações do seu papel. Porém, antes de abordar algumas dessas situações, as seguintes
palavras de Margaret Drabble figuram como perfeita credencial para efetivarmos essa
incursão no universo dos Calibans que acabarão por se desdobrar neste processo:
Caliban, em A Tempestade, de Shakespeare, é descrito no Fólio “nomes dos atores”
como um escravo selvagem e deformado. O seu nome provavelmente pode se
derivar tanto de “Caribe”, quanto de “canibal”. Filho da Feiticeira Sycorax e do
dono original da ilha de Próspero, Caliban é um ser semi-humano, porém tem sido
descrito e representado de forma positiva e atrativa em produções artísticas e
literárias contemporâneas, fato que acabou sendo facilitado pelas inegáveis
qualidades poéticas dos seus discursos na peça. 83
Como se pode perceber, apesar da aparente condição irremediavelmente subalterna e
semi-humana que Shakespeare reservou para essa peculiar personagem, o dramaturgo
elisabetano também o dotou de condições de expressão, mesmo que sob a pressão irresistível
da magia de Próspero, de forma que um olhar pós-moderno e desconstrutor contemporâneo
pode descobrir nuances que libertam Caliban do seu ergástulo de servidão e subalternidade,
anteriormente irrevogáveis. Torna-se digno de nota, inclusive, que mesmo no século XIX,
83
No original em inglês: “Caliban, in Shakespeare’s The Tempest, is described in the Folio ‘names of actors’ as
a savage and deformed slave’. His name probably derives either from ‘Carib’ or ‘Cannibal’. Son of the witch
Sycorax and the original possessor of Prospero’s island, he is only semi-human, but has often been portrayed
attractively in modern production: the poetic qualities of his speeches have facilitated this” (DRABBLE, 1985, p.
159).
177
Robert Browning já tenha atentado para essas características de Caliban e tenha escrito o seu
poema “Caliban upon Setebos” ou “Natural Theology in the Island”, em 1864, inspirando-se
na religiosidade do personagem para fazer alusão a alguns tópicos altamente prioritários
então, conforme nos informa Ian Ousby:
Browning pegou emprestado o Caliban de A Temspestade, de Shakespeare. A sua
“teologia natural” – ou seja, a especulação primitiva acerca de Setebos, o deus de
Caliban - , permite ao poeta olhar de uma forma oblíqua para as diversas
ramificações do pensamento religioso do seu tempo, tais como o calvinismo austero,
as visões críticas agudas e o acalorado debate de então sobre a questão do
evolucionismo. 84
Somente para dar um exemplo da reduplicação do Caliban shakesperiano em um texto
contemporâneo não teórico, seria, provavelmente, muito difícil achar um exemplo de
reescritura literária de A Tempestade que tenha ousado ir tão longe quanto o romance Índigo,
da escritora inglesa Marina Warner. Nesse romance, a autora consegue redesenhar os
contornos da ilha de Próspero e inseri-la em um universo expandido que engloba tanto ilhas
do Caribe, quanto a cidade de Londres, num enredo que atravessa 350 anos, indo do século
XVII até o século XX. Muitas das personagens de Warner têm o mesmo nome que as
personagens de Shakespeare, como Sycorax, Ariel e Miranda, muito embora uma
correspondência direta entre os seus papéis não possa coincidir integralmente. O Caliban de
Marina Warner, por exemplo, pode ser identificado com Dulé, filho adotivo de Sycorax,
porém, também pode ser identificado com o ator que se casa com Miranda.
Todavia, quando se desvia a atenção para a critica literária sobre A Tempestade,
encontramos uma outra variedade de Calibans altamente negativa e geralmente associada às
84
No original em inglês:“Browning borrowed the character of Caliban from Shakespeare’s The Tempest. His ‘
natural theology’ – primitive speculation about the character of his god, Setebos – allows the poet to glance
obliquely at several strands of religious thought: stern Calvinism, the higher criticism and the contemporary
debate about evolution” (OUSBY, 1996, p. 145).
178
populações nativas das colônias, em que se exaltam os seus supostos piores vícios e defeitos,
como nos diz L.J. Leininger:
Assim, em A Tempestade, escrita mais ou menos cinqüenta anos depois da
participação franca da Inglaterra no comércio de escravos, o nativo da ilha (Caliban)
se torna a própria encarnação da concupiscência, da luxúria, da desobediência, e do
mal inexorável, enquanto o seu escravizador é apresentado como uma figura divina.
Isso causa uma enorme diferença na expectativa criada, ou seja, cria-se um
determinado sentido se alguém enfocar as obrigações morais do Próspero, na
condição de dono de escravos, para com o Caliban, na condição de seu escravo;
assim como se cria outra perspectiva se o enfoque se centrar nas obrigações morais
do Próspero, enquanto figura divinizada, para com o Caliban concupiscente e
vicioso. 85
No rastro dessa gama de reinterpretações de Caliban também é digno de nota lembrar
do que nos diz Reuben Brower, quando ele se refere ao fato de que a ilha de Próspero é um
lugar de estados fluidos, transitórios e ambíguos, com o poder de afetar as formas de vida nela
inseridas. Tal característica da ilha onde se desenrolam os eventos de A Tempestade determina
uma ausência natural de barreira entre estados. Por essa razão, um relevante dado referente à
alteridade é trazido à baila quando, na peça, Miranda vê Ferdinando pela primeira vez. Ela
tem dificuldades para defini-lo de acordo com os limitados padrões de que dispõe. Assim, a
sua primeira reação é dizer: “Uma coisa divina, pois coisa alguma tão nobre há na natureza
que eu já tenho visto” (“A thing divine; for nothing natural I ever saw so noble” – I.2.420, em
Bullen, 1965, p. 1141).
Essa mesma situação de estranheza com relação ao Outro desdobra-se nas reações
envolvendo Ferdinando, Trínculo e Caliban, este último sendo objeto de uma confusão que se
constitui em contrapartida jocosa, se comparada às reações tidas pelas demais personagens
85
No original em inglês: “Thus, in The Tempest, written some fifty years after England’s open participation
in the slave trade, the island’s native is made the embodiment of lust, disobedience, and irremediable evil,
while his enslaver is presented as a God-like figure. It makes an enormous difference in the expectation raised,
whether one speaks of the moral obligations of Prospero-the-slave-owner toward Caliban-his-slave, or speaks of
the moral obligations of Prospero-the-God-figure toward Caliban-the-lustful-Vice-figure” (LEININGER, 1983,
p. 61).
179
envolvidas na série de erros de interpretação e leitura do uns dos outros, quando
simultaneamente defrontados pela primeira vez, conforme nos expõe Brower:
Ferdinando não está certo se Miranda é uma deusa ou uma virgem, e Caliban pensa
que Trínculo é um deus bravo e guerreiro. Ocorre uma subseqüente variação cômica
na situação, na medida em que Trínculo tem dificuldades em definir Caliban como
peixe, homem, monstro ou demônio. 86
Em vista do exposto até este ponto, se efetivarmos uma leitura desconstrutiva dessa
peça shakespeariana, focalizando em primeiro plano a personagem Caliban, teremos uma das
mais primitivas representações do colonizado, em que as idealizações deste que o colonizador
produz atingem níveis de bizarrice estratosféricos. Caliban é tratado sistematicamente com
humilhação e desrespeito. Primeiramente, Próspero se refere a ele como “escravo
abominável”; depois, no decorrer da peça, aparecem os seguintes epítetos: “peixe estranho”,
“quadrúpede da ilha”, “meio-diabo”, “esse pedaço de escuridão”, “escravo venenoso”. Além
disso, as palavras “monstro” e “escravo” aparecem trinta e sete vezes na peça para fazer
referência a Caliban. Mas em meio a essa profusão de referências, nota-se que Shakespeare
magistralmente empresta a Caliban palavras de revolta contra Próspero, o seu dominador, o
que já demonstra uma tímida, mas consistente manifestação de revolta contra a tirania
colonial.
Na verdade, Caliban incorpora a imagem radicalizada do Outro do homem europeu,
filho de um demônio e de Sycorax, uma bruxa da ilha, incapaz de falar antes da chegada de
Próspero. Miranda, a filha de Próspero, é quem ensina Caliban a falar inglês. Assim, depois
de aprender a língua do colonizador, Caliban lentamente se engaja em um processo de
empoderamento, aquisição de agenciamento e voz, assim como de conscientização de sua
86
No original em inglês: “Ferdinand can not be sure whether she is a goddess or a maid, and Caliban takes
Trinculo for a “brave god”. There is a further comic variation on this theme in Trinculo’s difficulty in deciding
whether to classify Caliban as fish or man, monster or devil” (BROWER, 1967, p. 42).
180
situação política, como se pode perceber em suas falas: “Você me ensinou a linguagem, e a
minha grande vantagem com isso é que eu aprendi a xingar” 87 e “Esta ilha é minha, herdada
da minha mãe Sycorax, mas você a roubou de mim”
88
. Além das estratégias discursivas,
Caliban também demonstra outras formas de resistência e rebelião contra a dominação
quando, por exemplo, ele não obedece a Próspero, recusando a vir quando este o chama, ou
simplesmente quando ignora as ofensas e xingamentos de Próspero, dando continuidade ao
que está falando simultaneamente ao discurso desairoso do seu “mestre”.
Sem dúvida, Caliban é um ícone de resistência singular e muito à frente da natureza
pacata e submissa de Sexta-feira, o segundo ícone do colonizado representado na literatura
inglesa vários anos depois no Robinson Crusoé, de Defoe. Não é de se admirar que Caliban
tenha sido fonte de inspiração para tantas obras de arte posteriores e para pensadores e
intelectuais. Numa interessantíssima reinterpretação da personagem Caliban, por exemplo, o
crítico e pensador cubano Roberto Fernández Retamar, conforme afirmações, vê Caliban em
todos os miseráveis da terra, que estão sobremaneira aumentando em número:
(...) a pior situação é de fato aquela dos domínios de Caliban, aquela região situada
no hemisfério sul. Enquanto eu escrevo este ensaio a população de Calibans
constitui mais de dois-terços dos seres humanos vivos neste instante; antes do início
do século XXI (o que equivale a dizer, amanhã), eles constituirão três-quartos do
mundo, e, no meio do século XXI, constituirão nove-décimos da humanidade. 89
Fernández Retamar também diz que Caliban está indo para o Norte, o que também
equivale a dizer que o Oriente agora está vindo para o Ocidente, exigindo a sua parte no
quinhão das riquezas conquistadas pelo Ocidente através da exploração colonial do Oriente.
87
No original em inglês: “You taught me language; and my profit on’t/ Is, I know how to curse”
(SHAKESPEARE, 1961, 1:2: 365-6, p. 33).
88
No original em inglês: “This island’s mine, by Sycorax my mother,/ Which thou tak’st from me” (Ibid,
1:2:334-35, p. 31).
89
No original em inglês: “(…) the worst situation is of course that of Caliban’s realm, that of those who are in
the South. As I write this essay they constitute more than two-thirds of the human beings now living; by the
beginning of the twenty-first century (which is to say, tomorrow), they will be three-fourths of the world, and by
the middle of that century, nine-tenths” (FERNÁNDEZ, 1997, p. 169).
181
A propósito de nos estarmos reportando a questões referentes ao Oriente e ao
orientalismo, torna-se conveniente fazer uma referência inicial neste capítulo ao romance
Jasmine. Trata-se de uma obra tipicamente pós-moderna que expõe de uma forma dramática e
contundente a saga de um sujeito pós-colonial feminino em suas diásporas pelo mundo, desde
a Índia até os Estados Unidos, onde, por fatores vários, o seu deslocamento geográfico não
cessa. Em Jasmine, Mukherjee também expõe a fragmentação da identidade da protagonista
que troca de nome explicitamente seis vezes (Jyoti, Jasmine, Kali, Jazzy, Jase e Jane
Ripplemeyer), à medida que é exposta a situações penosas, assumindo não necessariamente os
nomes, mas as alteridades dos deuses da Trindade Trimúrti Hindu, Brahma, Shiva e Vishnu,
assim como as alteridades da famosa “cowgirl” norte-americana “Calamity Jane” e da
personagem Jane Eyre, do romance homônimo de Charlotte Brontë. Nesse processo dinâmico
de fragmentação da narrativa, - em que todos os eventos são expostos de forma confusa e nãolinear, formando um verdadeiro quebra-cabeças para o leitor - bem como de comunhão de
alteridades e identidades fragmentadas, destaca-se a questão da tentativa do sujeito póscolonial feminino de se livrar das imposições patriarcais tanto da milenar Índia, quanto da
condição de exótica que a sua etnia e cultura diferentes lhe conferem. Todavia, o que deve
mesmo ser ressaltado aqui é que a protagonista se torna forte e vitoriosa no território da
superpotência mundial (EUA), graças ao seu domínio crescente tanto da língua inglesa,
quanto do urdu (no romance uma língua em que aparecem vários textos que são objeto de
estudos universitários, mas que ninguém domina). Assim, ela consegue se empregar como
tradutora e sobreviver algum tempo nessa função. Torna-se patente que a aquisição do inglês
e o domínio de uma língua que os americanos não sabiam contribuem muitíssimo para o
sucesso crescente de Jasmine, em sua trajetória de construção de subjetividade, escapando do
estigma que o “exotismo” da sua condição quase a fixa em perpétua condição de diferença
desvantajosa.
182
Um outro exemplo em que a figura do colonizado é de imediato fixada em perpétua
condição do “Outro exótico” transparece e fica patente no romance Robinson Crusoé, de
Daniel Defoe, em que o náufrago inglês nomeia de “Sexta-Feira” o nativo que ele encontra na
ilha, além de ensinar-lhe inglês e os primeiros rudimentos de uma educação “civilizada”.
Porém, tudo o que Crusoé ensina a Sexta-Feira é na exata proporção para fixá-lo na sua
condição inferior.
Se fizermos uma leitura comparativa dos romances Robinson Crusoé, obra “canônica”
de Daniel Defoe e Foe, do escritor sul-africano contemporâneo E.M. Coetzee, perceberemos
neste último a clara intenção de reescrever o romance oitocentista de Defoe, destacando
fatores de alto interesse para a crítica contemporânea e os Estudos Culturais. Neste ponto,
torna-se elucidativo evocar as palavras de Thomas Bonnici a esse respeito:
O romance Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, é, até onde se tem notícia, o primeiro
romance da literatura inglesa. Sempre foi, erroneamente, considerado um livro
infanto-juvenil. Entretanto, esse romance é, na verdade, a representação dos esforços
de invasão e colonização de outras terras, levados a efeito pelos ingleses, que já
contavam mais ou menos um século, por volta da sua publicação. Segundo afirma
Kermode (1990, p. xxv-xliii), desde a publicação de A Tempestade (1611), que
constitui a primeira representação literária em língua inglesa da dicotomia entre os
europeus e os nativos, invasão e resistência, linguagem e submissão (com uma única
interrupção na demolidora confissão de Jonathan Swift {1971, p. 268} no final de
As Viagens de Gulliver, publicado em 1726), há, na produção literária inglesa,
muitos traços sub-reptícios da ideologia colonial que se perpetuaram por toda a Era
Vitoriana até a década de 1950. De fato, o tema do imperialismo infesta a literatura
inglesa por mais de três séculos (SAID, 1993, p. 68). Por outro lado, o romance Foe,
de Coetzee, publicado no antigo Protetorado Britânico da África do Sul, um país (à
época da publicação) que ainda lutava para banir o regime do apartheid, se destaca
por dar voz a uma personagem feminina que não existia no romance de Daniel
Defoe (mas que existe em Foe, a reescritura de Robinson Crusoé), assim como
também evidencia um processo de tentativa de recuperação da voz do colonizado
Sexta-Feira, que, no romance original de Defoe, tinha a sua língua interditada. Da
mesma forma que Rhys cria em “madwoman in the attic” uma voz que insere em
Wide Sargasso Sea, também podemos afirmar que Coetzee se engaja
definitivamente no rol dos escritores e escritoras que desenvolvem a sua teoria sobre
a escrita e a literatura como meios efetivos da subjetificação dos povos nativos
oprimidos (BONNICI, 1996, p. 171-172).
Como se pode verificar, as palavras iniciais de Bonnici acerca do enredo de Robinson
Crusoé e Foe imediatamente nos reportam a questões de capital importância para as teorias
183
pós-coloniais, tais como o fato (que nos interessa muito neste capítulo) de que a linguagem
pode ser usada como meio de opressão ou de silenciamento do colonizado ou de outro tipo de
sujeito subalterno; a inexistência de participação feminina significativa no romance de Daniel
Defoe (que, mais do que simplesmente silenciar a mulher, promove quase um completo
apagamento feminino de toda a estrutura da narrativa); e a tentativa subversiva de Coetzee de
reescrever uma obra canônica inserindo nela tanto a voz quanto a firme atitude feminina. Em
suma, tais características abordadas por Thomas Bonnici permitem-nos visualizar as possíveis
correspondências intertextuais entre Robinson Crusoe, Foe e Jasmine.
Bonnici (1996, p. 172) ressalta que um dos primeiros aspectos relevantes nas análises
dos romances de Defoe e Coetzee é o que concerne à natureza do narrador. Em Robinson
Crusoe, o leitor encontra um texto eminentemente masculino em que inexistem personagens
femininas e no qual os atributos masculinos de trabalho, pensamento, invasão, dominação,
planejamento, superioridade e triunfo são realçados. Contrariamente a tudo isso, a “resposta”
de Coetzee em Foe é imbuída de um tom de desconstrução e de subversão, na medida em que
o autor insere na narrativa uma narradora feminina na primeira parte do romance, que leva a
sua versão da história de Cruso para um editor inglês cujo nome é Foe, para que ele
providencie a sua publicação. Depois que essa protagonista, Susan Barton, - representativa da
imagem de mulher independente no romance de Coetzee-, em vão procura por sua filha nas
terras da Bahia colonial, no Brasil, ela embarca em um navio em direção a Lisboa. Os
marinheiros promovem um motim e fazem Susan Barton desembarcar numa ilha deserta onde
ela encontra Cruso, um homem extremamente taciturno, e o seu escravo Sexta-Feira, um
nativo sem língua própria. Praticamente feita prisoneira por Cruso, ela se interessa pelo
registro das histórias dele e de Sexta-feira na ilha, até que aparece um navio inglês que os
resgata e os leva para a Inglaterra. Cruso morre durante a viagem, de modo que Susan Barton
se vê compelida a adotar Sexta-Feira. A partir desse ponto, ela viaja por vários lugares com
184
Sexta-Feira, disseminando a fantástica história que ela registrou. Sobre esse ponto, Bonnici
afirma que:
A Segunda e a terceira partes ainda se constituem das narrativas de Barton. Essa
segunda parte é constituída de cartas e textos similares a entradas de diário dirigidas
a um ilusório Sr. Foe, a quem Barton tenta convencer a escrever a históra dela e a
publicá-la. As entradas dos textos discorrem principalmente sobre a mudez de
Sexta-Feira e as suas possíveis causas, a sua falta de história presente e a
impossibilidade do registro da sua história passada. Na terceira parte, Susan Barton
registra o seu encontro com o Sr. Foe, que tenta manipulá-la para ela escreva a
história privilegiando um ponto de vista masculino. Por outro lado, há uma tentativa
de Sexta-Feira de expressar a sua própria história de forma escrita. Na enigmática
quarta parte, o narrador parece ser Sexta-Feira, explorando sua própria garganta e a
sua boca. Ele descobre a imagem de um mundo perdido dominado pelo colonizador,
mas que o faz vislumbrar a sua subjetividade, a sua história e a sua autonomia
(BONNICI, 1996, p. 172).
Levando-se em conta aqui a irrefutável importância dos fatos enfocados por Bonnici,
principalmente aqueles referentes à participação direta de uma mulher na narração de uma
história, nós ousaríamos chegar a dizer que Foe é uma “invasão” ou “apropriação”, de um
texto canônico (Robinson Crusoe) que não apresenta nenhuma mulher, exatamente por uma
narradora mulher, através da reescrita desse mesmo romance “invadido”. Sem dúvida alguma,
esse fato em si próprio nos faz recordar a natureza peculiar da narrativa de Jasmine, assim
como também nos traz à mente as palavras de Fredric Jameson, quando ele afirma que
escrever constitui o ponto de vista libertário onde o texto literário pode ele mesmo ser visto
como uma reescritura ou re-estruturação de um texto histórico anterior ou de um subtexto
ideológico (JAMESON, 1981, p. 82).
Para finalizar esta abordagem comparativa dos romances de Daniel Defoe e de E.M.
Coetzee, resolvemos selecionar a seguinte passagem de Foe para ilustrar a força da mulher
enquanto narradora. No romance, ela é obrigada a enfrentar situações de opressão e
desconforto, dentre as quais se destaca a insinuação de Foe para modificar a história de Cruso.
Bonnici (1996, p. 172) frisa que a reação de Susan Barton a uma versão diferente da história,
185
eivada de toques e características masculinas, é evidente, como se observa no trecho do
romance de Coetzee que se segue:
Esta é uma narrativa com início, meio e fim, e cheia de deliciosas digressões
também, faltando nela somente uma parte intermediária – exatamente no trecho em
que Cruso perdeu muito tempo arando o terreno e eu perambulando pelas praias.
Certa vez, você me propôs uma parte intermediária para a história, recheada de
canibais e de piratas. Tais interpolações eu não poderia aceitar, visto que não são
verdadeiras. Agora, você me propõe reduzir a ilha a um mero episódio na história de
uma mulher em busca da sua filha perdida. Isto eu também rejeito. 90
Como conseqüência, podemos resumir a situação conflituosa e tensa entre as forças
hegemônicas de dominação e as tentativas dos vitimados pelo estigma da subalternidade de
superar essa dominação, conforme se expuseram nas obras ficcionais presentemente
abordadas: a) Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, pode ser interpretado como uma clara
alegoria do colonialismo britânico já em seu centenário de existência. Crusoé, visto como
legítimo representante do colonizador europeu, forja a subjetividade de Sexta-Feira, o nativo
da ilha em que ele aporta após o terrível naufrágio. Pode-se, até mesmo, dizer que Crusoé é
uma variante do Próspero de Shakespeare, ao passo que Sexta-Feira pode também ser visto
como o Caliban de A Tempestade (nesse caso, hão de ser respeitadas as diferenças entre um e
outro, uma vez que o temperamento beligerante de Caliban se distingue do dócil e submisso
comportamento de Sexta-Feira). Entretanto, até mesmo em A Tempestade a presença e a
importância da mulher são contempladas pela figura de Miranda, a bela filha de Próspero, ao
passo que no romance de Defoe a mulher é totalmente inexistente; b) em Foe, podemos
detectar a desafiante reescritura da história de Daniel Defoe, efetivada por Coetzee, um
escritor sul-africano da contemporaneidade, que tenta compensar o completo banimento da
90
No original em inglês: “It is a narrative with a beginning and an end, and with pleasing digressions too,
lacking only a substantial and varied middle, in the place where Cruso spent too much time tilling the terraces
and I too much time tramping the shores. Once you proposed to supply a middle by inventing cannibals and
pirates. These I would not accept because they were not the truth. Now you propose to reduce the island to an
episode in the history of a woman in search of a lost daughter. This too I reject” (COETZEE, 1987, p. 121).
186
mulher na história de Defoe através da inserção de uma narradora feminina engajada na
reescritura das histórias de Cruso e de Sexta-Feira; c) em Jasmine, Bharati Mukherjee
oferece-nos uma narrativa revolucionária da versão de um possível processo ficcional de
formação de subjetividade pós-colonial feminina. A história, além de ter a autoria de uma
importante escritora que tem na sua biografia a marca dos deslocamentos diaspóricos e a
lembrança das discriminações coloniais, é conduzida por uma narradora extremamente
experiente, Jane Ripplemeyer, que a cada capítulo realça evidências do empoderamento
gradativo da protagonista do romance, graças, principalmente ao domínio do inglês.
Agora, se voltarmos mais uma vez a nossa atenção para um outro trabalho de Rudyard
Kipling, encontraremos nele farto material para enxergar não só a repetição da alteridade
negativa do colonizado, como também momentos em que as brechas do texto permitem
interpretações desconstrutivas que chegam a trair ironicamente as intenções originais do
autor. De fato, a sua obra é repleta de escritos ficcionais de gêneros variados nos quais ele
registra a sua visão das colônias e das suas populações subalternas, com todas as idealizações
negativas a pesarem sobre as alteridades dos colonizados. Todavia, apesar de tal característica
constituir um lugar-comum na vasta produção de Kipling, quando ele publicou um poema
intitulado “White Man’s Burden” (“O Fardo do Homem Branco”), na Revista McCLURE, em
12 de fevereiro de 1899, esse fato imediatamente provocou uma onda de protestos de críticos
europeus e americanos, entre eles, Mark Twain. Embora parte do poema já tenha sido referida
e citada neste capítulo, resolvemos repetir a sua primeira estrofe (KIPLING, 1962, p.138), já
que ela dá conta das razões para tanta resistência:
Take up the White Man’s burden –
Send forth the best ye breed –
Go, bind your sons to exile
To serve your captives’ need;
To wait, in heavy harness,
On fluttered folk and wild –
Your new-caught sullen peoples,
Half devil and half child.
187
Como se vê, no discurso de Kipling se reproduzem aqueles sistemas binários de
significação monolítica abordados no Capítulo 1, em que o colonizado é como uma tabularasa onde o colonizador pode escrever a sua história ou a que ele escolher para o colonizado.
Entretanto, parece que às vezes até mesmo na obra de Kipling podemos enxergar algumas
brechas de significação para outras interpretações das suas próprias idéias cristalizadas sobre
o colonizado. Refirimo-nos, especificamente, a um conto de Kipling intitulado “Lispeth”, em
que o autor narra a história de Lispeth, uma jovem do Himalaia batizada com o nome inglês
“Elizabeth”. Lispeth é uma belíssima garota nativa, criada e batizada por um capelão inglês
e sua mulher. Apesar de o conto não apresentar outras passagens em que o capelão e a sua
mulher desaprovem a conduta de Lispeth, essa situação muda, quando um determinado
episódio acontece: um certo dia, a protagonista vem de uma das suas costumeiras caminhadas
pelas montanhas em direção à casa do capelão, onde mora. Entretanto, a caminhada desse dia
reserva-lhe uma surpresa, pois acha nas montanhas um homem branco ferido e desacordado.
Lispeth então retorna para casa trazendo em seus fortes braços um “fardo’ (nas palavras do
próprio narrador), ou seja, o homem branco ferido. Assim, podemos especular um pouco
sobre os aspectos irônicos de tal passagem, se lembrarmos que o “fardo” no poema de Kipling
acima referido era uma designação dos colonizados demonizados e/ou infantilizados pelos
povos colonizadores, conforme já mencionado. Lispeth pede aos pais adotivos que cuidem do
tal homem, pois ela se apaixonou e quer se casar com ele quando ele se recuperar. A reação
de Lispeth reproduz a atração amplamente debatida e irrecorrível que o colonizado tem pelo
colonizador e este pelo colonizado (ver Leela Ghandi, 1998, p. 11). Fica patente que Lispeth é
suficientemente incapaz de perceber as barreiras étnicas e sociais que a separavam desse
inglês que trouxera nos braços, por não haver entendido ainda as sutilezas ideológicas da
dominação e das diferenças étnicas e políticas existentes entre o seu povo e os seus “pais”
188
adotivos, sutilezas essas escamoteadas nas estratégias aparentemente democráticas e
igualitárias do discurso religioso do capelão.
Após algum tempo, o homem se recupera e, dada a insistência de Lispeth, promete
casar-se com ela. Mas, na verdade, ele está noivo de uma mulher na Inglaterra, e a esposa do
capelão, que sabia do fato, pede que ele sustente a mentira de que se casaria com Lispeth. Ele
volta para a Inglaterra, mas promete à Lispeth retornar para se casar com ela. Como passa um
longo tempo sem que ele retorne, Lispeth beira o desespero, até que a mulher do capelão lhe
revela que o homem era noivo e que jamais voltará. Em virtude da descoberta de que o casal
de religiosos ingleses que a criou e o homem branco (também inglês) cuja vida ela salvara
mentiram para ela, Lispeth decide deixar a casa do capelão, passa a se vestir como as
mulheres nativas e começa a rejeitar a religião cristã.
Na verdade, por toda a história, Lispeth encontra-se deslocada, ocupando um
entrelugar, mercê da caracterização binária que Kipling faz. Lispeth é tirada das tradições do
seu povo e criada pelo casal. Porém, ela é bonita demais para ser uma doméstica, de forma
que vira uma espécie de babá dos filhos do capelão, gozando de um “status” inferior ao dos
brancos ingleses. Depois desses infortúnios, Lispeth casa-se com um homem da sua aldeia,
que lhe espanca habitualmente. No fim do conto, relata-se que Lispeth morreu bem idosa,
conforme se registra, a seguir: “Era difícil perceber que aquela criatura perturbada e enrugada,
exatamente como um pedaço de molambo esfarrapado, pudesse algum dia ter sido a ‘Lispeth
da Missão Kotgarh’”.91 Além de tudo de negativo que é atribuído ao caráter, à etnia e aos
hábitos de Lispeth, podemos especular que Kipling ardilosamente tenha querido asseverar
mais ainda a noção de subalternidade, falha, erro e pecado, já tão comumente associados aos
colonizados pelo discurso do colonialismo. Na verdade, especulamos aqui acerca da possível
correlação do nome da protagonista, “Lispeth”, com o verbo inglês “to lisp”, que significa
91
No original em inglês: “It was hard then to realise that the bleared, wrinkled creature, exactly like a wisp of
charred rag, could ever have been ‘Lispeth of the Kotgarh Mission’ ” (KIPLING, 1994, p. 8).
189
cometer erros no uso dos sons da fala, utilizando um fonema no lugar do outro (ver
HORNBY, 1974, p. 495). Ora, bastante provavelmente “Lispeth” seria o nome “Elizabeth”,
mal pronunciado pelos nativos e pela própria Lispeth. Então, se nos basearmos na associação
de “to lisp” com a protagonista, resulta disso que há algo de “errado” não apenas com o
nome, mas com ela, com a sua etnia e com a sua condição de subalterna.
As cenas finais do conto revestem-se de aspectos especiais, na medida em que vemos
aí as idéias de Spivak com relação às idealizações negativas do colonizado enquanto mulher:
o único destino de Lispeth no seio do seu povo seria o casamento com um homem que a
oprimiria. Entretanto, tendo contado com a “sorte” de vir a ser “quase” parte da família de um
casal britânico, tal fato não muda muito o seu destino final, na medida em que, como uma
agregada “quase filha” do capelão e sua mulher, a sua subjetividade estava fixa num
entrelugar de (ir)realização pessoal circunscrita numa atmosfera subalternizante. Ou seja, a
velha fórmula cruel elaborada por Spivak se corporifica plenamente no drama da vida de
Lispeth: a mulher colonizada é duplamente excluída. No caso de Lispeth, casada com um
homem da sua comunidade, a razão da opressão seria a de gênero, ao passo que solteira e
agregada na casa do capelão, a razão para a opressão seria a política (por ser uma mulher da
colônia). De qualquer forma, e ainda como Spivak e Ashcroft destacam, fica difícil definir
qual dos dois fatores é o mais relevante na opressão sofrida por Lispeth.
Em vista de tudo isso, há uma passagem emblemática no conto que ilustra o caráter
supostamente “pérfido” e “vicioso”, “intrínseco” ao colonizado. Trata-se da passagem em que
a mulher do capelão se ressente da “ingratidão” que Lispeth demonstra ao abandonar a sua
casa depois de “tantos benefícios” que recebera: “Eu acredito que Lispeth sempre tenha sido,
no fundo do seu coração, uma infiel”
92
. Ora, tendo como certo que ao colocar na boca da
mulher do capelão a palavra “infiel” Kipling reverberava a então difundida e supostamente
92
No original em inglês: “I believe that Lispeth was always at heart an infidel” (KIPLING, 1994, p. 7).
190
insidiosa natureza do colonizado, uma interpretação mais atenta da passagem vai-nos
desvendar uma outra lacuna de significação deixada pelo autor. Assim, se Lispeth foi
cristianizada e iniciada em verdades cristãs do tipo “todos os seres humanos são iguais
perante Deus” e que “a mentira é pecado e desagrada a Deus”, que pecado ou infidelidade
poderiam existir na espontaneidade de Lispeth em declarar seu desejo genuíno, verdadeiro e
real de se casar com o inglês? Ou até mesmo em rechaçar a cultura, a língua e a religião
impostas, uma vez que ela detectara insinceridade dos ingleses com relação aos valores que
eles mesmos lhe haviam ensinado?
Por fim, mesmo abominando a língua do colonizador, há a triste passagem final do
conto em que a atitude de Lispeth prova que o colonizado pode resistir ao encantamento da
língua inglesa (embora a domine muito bem), passando, porém, a utilizá-la para a expressão
mais dolorosa dos relatos das suas desditas (o que já é uma forma de revide). No caso de
Lispeth, trata-se do uso do inglês para a expressão da sua maior decepção amorosa oriunda do
contato desastroso com os colonizadores ingleses, que selaram o seu destino amargo: “Lispeth
era muito idosa quando morreu. Ela sempre teve perfeito domínio da língua inglesa, e, quando
estava suficientemente bêbada, ela podia ser induzida a contar a história do seu primeiro
envolvimento amoroso” 93. Em suma, Lispeth afigura-se aqui como mais uma versão feminina
de Caliban, cujo uso do inglês para xingar e desautorizar o colonizador despótico consitui
uma trincheira de resistência.
Retornando a nossa atenção de novo para Jasmine, podemos ainda afirmar que, além
da importância de saber bem o inglês e dominar o urdu, Mukherjee também direciona o foco
da questão para a influência do livro inglês na vida da sua personagem, e isso nos reporta ao
artigo de Homi Bhabha (1997, p. 29), já referido, sobre o encantamento que o livro inglês
geralmente causa no colonizado. Para Jane Ripplemeyer, o livro inglês, longe de causar o
93
No original em inglês: “Lispeth was a very old woman when she died. She had always a perfect command of
English, and when she was sufficiently drunk could sometimes be induced to tell the story of her first loveaffair” (Ibid, 1994, p. 8).
191
alumbramento de adoração defendido por Bhabha, pode causar “pesadelos” (Alice in
Wonderland) e “desgosto” (Great Expectations e Jane Eyre), como a personagem
categoricamente afirma no capítulo 5 da obra. Pode-se interpretar tal passagem como
altamente subversiva na medida em que desconstrói a visão de supremacia e de dominação
tão comumente associada à literatura inglesa e seu conseqüente “status” de elemento
mesmerizador e subjugador do subalterno iletrado. De outro modo, também podemos encarar
essa passagem como um ataque à hegemonia das obras ditas canônicas, principalmente se
levarmos em conta as críticas que enaltecem e colocam num pedestal toda obra merecedora
desse rótulo e desmerece toda tentativa nova de expressão literária que questionar esses
aspectos.
Agora, antes de abordar brevemente alguns pontos de Alias Grace que dizem respeito
à questão de aquisição da linguagem do dominador para subverter o sistema de dominação,
torna-se oportuno enfatizar algumas informações sobre o Canadá enquanto país de
características pós-coloniais, assim como sobre a Irlanda do Norte como parte do Reino
Unido (e, por conseguinte, sujeita à dominação colonial da Inglaterra). Essas breves
considerações sobre a situação desses dois países, Canadá e Irlanda, tornam-se indispensáveis,
porque elas revelam outras nuances do colonialismo e do pós-colonialismo que não são
freqüentemente discutidas. Linda Hutcheon afirma que tratar o Canadá como um país póscolonial requer algumas explicações elucidativas, por causa da peculiaridade da história do
Canadá e das especificidades dos efeitos psicológicos de um passado colonial de ordem
fragmentada. Ela então nos diz que algumas partes do Canadá, especialmente o Oeste, ainda
se sentem colonizadas. Como resultado disso, afirma que o Canadá nunca se sentiu em
posição “central”, tanto cultural quanto politicamente. Ao invés disso, sempre sentiu o que,
segundo Hutcheon, é muito bem expresso nas palavras de Bharati Mukherjee –“uma profunda
sensação de marginalidade”:
192
Os escritores e escritoras de origem indiana, jamaicana, nigeriana, canadense e
australiana sabem exatamente o que é se sentir um ser humano da periferia cujo
grito se dissipa no ar sem sequer ser ouvido. Eles sabem exatamente o que significa
sofrer a mais absoluta desvalorização emocional e intelectual, morrer incompleto e
ainda isolado do centro do mundo. 94
Quanto à maneira como essas questões aparecem no romance de Margaret Atwood,
nos limitaremos à abordagem de alguns aspectos, por medida prática, uma vez que eles são
tratados de forma descontínua. Porém, para começar devemos relembrar alguns dados sobre
as idealizações acerca do Caliban Shakesperiano. Se, como Lorrie J. Leininger afirma, a
suposta “monstruosidade” de Caliban (também uma idealização negativa recorrente lançada
sobre o sujeito subalterno colonial) for também retratada na sua condição de “Caliban
enquanto figura concupiscente e viciosa”, conforme já citado anteriormente (LEININGER,
1983, p. 61), é possível estabelecer comparações entre Grace Marks e a faceta monstruosa
atribuída ao personagem, pelas seguintes razões: primeiramente, porque Grace Marks
supostamente (pelo menos) foi a mentora do assassinato de Nancy Montgomery e do
fazendeiro Thomas Kinnear, patrão das duas, que era amante da governanta Nancy e era
cobiçado por ela mesma, Grace Marks; segundo, porque os dois homicídios foram cometidos
em nome da luxúria e da paixão (a paixão de Grace por Thomas e a paixão de McDermott por
Grace, uma vez que este último, também empregado da fazenda, concordara em matar Nancy,
a pedido de Grace, em função dos favores sexuais que esta lhe concederia). Um outro fator
altamente relevante aqui é que a situação é sintomaticamente agravada porque Grace Marks é
uma alienígena, uma subalterna imigrante de origem irlandesa (“desprezível”), na sociedade
canadense do século XIX. Em suma, apesar de ser européia, Grace Marks é pobre e vem da
94
É sempre bom lembrar que Mukherjee fala com autoridade sobre a identidade do Canadá, uma vez que é
casada com o escritor canadense Clark Blaise e morou naquele país de 1966 a 1980 (ver FABRUL, 1996, p. xiii).
Segue o original em inglês da passagem em referência: “The Indian writer, the Jamaican, the Nigerian, the
Canadian and the Australian, each one knows what it is like to be a peripheral man whose howl dissipates
unheard. He knows what it is to suffer absolute emotional and intellectual devaluation, to die unfulfilled and still
isolated from the world's center” (MUKHERJEE, in HUTCHEON, 1997, p. 133).
193
Irlanda, um país europeu que tem sido vítima dos devastadores interesses de dominação
política do Império Britânico, do qual o Canadá também faz parte.
Porém, essa pecha de monstruosidade (supostamente) “calibanesca” é lentamente
deixada para trás por Grace Marks, que, apesar de amargar vinte e nove anos entre a prisão e
o manicômio penitenciário (em função de uma alegada loucura, que, no decorrer do romance,
não se conclui se procedente ou não), consegue a simpatia de uma legião de amigos, graças ao
comportamento dócil e ameno que mantém, o que lhe rende empregos como o de doméstica
na casa do chefe da penitenciária, por exemplo.
No capítulo 13, existe uma passagem altamente emblemática da situação de Grace
Marks que se refere a sua confissão do crime. Essa passagem traz à baila questões relevantes a
respeito de (trans)nacionalidade e hibridismo:
O que se lê no começo da minha confissão é de fato verdadeiro. Eu sou mesmo da
Irlanda, embora eu tenha achado bastante injusto quando escreveram nela que
ambos os acusados admitem por livre e espontânea vontade que são irlandeses. Isso
fez com que o fato de ser irlandês soasse como se fosse crime, muito embora eu
sempre tenha visto essa condição ser tratada como tal. Mas, é claro, a nossa família
era protestante, e isso nos fazia diferentes. 95
As condições de ser branco ou de outra etnia não têm nenhuma importância aqui (o
que já não é o caso de Jasmine, no romance de Mukherjee). Nessa passagem, a questão da
alteridade e da diferença se verificam em outro nível. Grace Marks usa o fato de ter vindo de
uma família protestante para justificar que isso a torna um tipo de imigrante menos
indesejável aos olhos dos canadenses e dos ingleses. Além do mais, como protestante, ela
acredita que pertence à parte da Irlanda que é menos diferente da Inglaterra. Nesse caso, de
acordo com a visão de Grace Marks, o reconhecimento da subjetividade do colonizado por
95
No original em inglês: “What it says at the beginning of my Confession is true enough. I did indeed come
from the North of Ireland; though I thought it very unjust when they wrote down that both of the accused were
from Ireland by their own admission. That made it sound like a crime, and I don’t know that being from Ireland
is a crime; although I have often seen it treated as such. But of course our family were Protestants, and that is
different” (ATWOOD, 1996, 103).
194
parte do colonizador, com relação a ela, se processaria nas seguintes bases: “Você é
protestante, você é diferente, você é uma de nós”. Naturalmente, não se pode negligenciar
aqui a ambigüidade corporificada tanto pela repulsa quanto pela atração mutuamente
existentes entre colonizado e colonizador. Isso transparece na citação acima, assim como
corrobora teses nesse sentido defendidas por Homi Bhabha e Leela Gandhi, dentre outros. Ou
seja, ao mesmo tempo em que Grace se queixa de uma sociedade que deixa que se registre
oficialmente em um auto judiciário o fato de que pessoas “confessaram ser irlandesas”, como
se isso fosse crime, ela também sobrepõe a isso um desejo de ser “igual” a quem a oprime. A
esse ponto voltaremos no último capítulo, quando então será mais bem explorado.
Enfim, Grace Marks vai fazendo uma série de afirmações pelo livro afora que endossa
a sua lenta, mas segura aquisição de identidade, mercê das alteridades que apresenta: acaba-se
por não se saber se ela é realmente assassina ou não (há várias confissões e desmentidos
dessas acusações); se Mary Whitney (uma suposta amiga sua, então morta, cujo nome e as
roupas Grace Marks alega usar, de vez em quando) de fato existiu ou é uma criação da mente
supostamente insana de Grace; e se Grace é de fato louca ou não.
Seja como for, Alias Grace oferece-nos a exposição do amadurecimento de um tipo de
sujeito pós-colonial que se torna tão sagaz que chega a manipular intensamente o seu próprio
psiquiatra, “mapeando” as suas ações para “prever” o que ele vai lhe perguntar, assim como
premeditar as frases para responder ao que ele quer ouvir. Dessa forma, é essa protagonista
subalterna que chega ao final do livro livre, pois, depois de quase trinta anos reclusa, obtém o
perdão para o suposto crime cometido, casa-se e muda para a América, onde ela e o marido se
tornam fazendeiros. É também no último capítulo do livro que as seguintes afirmações de
Grace Marks acerca da Bíblia de certo modo desconstroem “os sinais de encantamento” do
colonizado quando entra em contato com o livro inglês:
195
Eu tenho pensado bastante sobre você e a sua maçã, senhor, e do enigma que você
lançou certa vez, bem na primeira vez em que nos encontramos. Eu não o havia
compreendido naquela época, mas acho que você estava querendo me ensinar
alguma coisa, e talvez agora eu tenha entendido tudo. De acordo com o modo que eu
vejo as coisas, é bem possível que as lições bíblicas tenham saído do pensamento de
Deus, porém elas foram escritas por homens. Dessa forma, como acontece com tudo
aquilo que os homens escrevem, como os jornais, por exemplo, eles apreendem a
essência da história de forma correta, porém se equivocam em alguns detalhes
(ATWOOD,1996, p. 459).96
Chegando ao final deste capítulo, em que tratamos de enfatizar as reações dos sujeitos
ditos “subalternos pós-coloniais” à sanha desenfreada de humilhações e opressão que as
forças imperialistas hegemônicas sempre efetivaram contra eles, cumpre que se lance um
olhar retrospectivo para os conceitos teóricos e exemplos de obras de ficção aqui usados para
avaliar a efetividade da premissa de que o aprendizado do inglês, pelo subalterno, para
posteriormente subverter a língua e os efeitos da dominação, acaba por se transformar num
mote que se reduplica e se metaforiza em qualquer outro tipo de ação subversiva empreendida
por ele para esse mesmo fim.
Assim, as idéias de Bill Ashcroft, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Edward Said e Leela
Ghandi, citados no Capítulo 1, por exemplo, servem como pano de fundo e base de
sustentação para a compreensão das ações emancipatórias das personagens das várias obras
mencionadas.
Se, em Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, Sexta-Feira aprende inglês somente para se
comunicar na exata e necessária proporção para continuar em posição de inferioridade em
relação a Crusoé, em Foe, a reescritura pós-moderna do romance de Defoe, Coetzee dá voz a
96
É digno de nota que essa fala de Grace Marks desconstrói a idéia de que o colonizado fica hipnotizado quando
aprende o inglês, conforme se verifica no artigo de Bhabha (1997, p. 29) a este respeito, uma vez que o
deslumbramento que a descoberta do inglês causa se corporifica na utilização prática da língua imposta para ler
os textos bíblicos. Porém é exatamente a relativização do estatuto de verdade inexorável da Biblia que Grace
Marks propõe na citação em destaque. Segue o original em inglês da citação em referência: “I’ve thought a good
deal about you and your apple, Sir, and the riddle you once made, the very first time that we met. I didn’t
understand you then, but it must have been that you were trying to teach me something, and perhaps by now I
have guessed it. The way I understand things, the Bible may have been thought out by God, but it was written
down by men. And like everything men write down, such as the newspapers, they got the main story right but
some of the details wrong” (ATWOOD, 1996, p. 459).
196
Sexta-Feira, reconstrói para ele uma história e insere a figura da mulher, que inexistia na
versão de Daniel Defoe.
Quanto a Caliban, apesar de receber uma grande carga de cognomes pejorativos em A
Tempestade, - fruto das idealizações que infantilizam ou demonizam o Outro enquanto
subjugado (basta lembrar o conteúdo do poema de Rudyard Kipling, mencionado neste
capítulo), ele há de ser visto como um admirável símbolo de resistência, uma vez que lhe foi
também ensinada a língua de Próspero, mas ele também já a utiliza para xingar e dizer
impropérios àquele, o que somente aumenta a sua ira. Além disso, a linguagem e o
pensamento de Caliban são dotados de certa sofisticação, a ponto de ele ter até mesmo um
deus – Setebos. Vale ainda frisar que Caliban desde longa data inspira outros autores, tais
como Robert Browning, que, no século XIX, escreveu um poema baseado na sua
religiosidade – “Caliban Upon Setebos”.
O caso dos escritos de Rudyard Kipling também é emblemático, uma vez que, como
vimos, em “The White Man’s Burden” ele descreve os povos colonizados como verdadeiros
fardos para o homem branco, o qual, por seu turno, detém a nobre missão de salvá-los, educálos, cristianizá-los e civilizá-los, patenteando um claro processo de demonização e
infantilização do Outro, num mais que claro processo de desumanização. Todavia, em
“Lispeth”, mesmo criando uma personagem feminina cercada do exotismo típico da mulher
não-branca da colônia, Kipling acaba mostrando de forma não intencional que o colonizado
não é necessariamente uma tabula-rasa onde o colonizador pode “escrever” o que quer. No
caso de Lispeth, ao ser enganada pelo capelão inglês e sua mulher, assim como pelo homem
inglês que ela salvara nas montanhas, ela decide abandonar de vez a língua, os costumes e a
educação que recebera deles. Como não poderia deixar de ser, a atitude de Lispeth foi tomada
à conta de “ingratidão” e “infidelidade” pela mulher do capelão. De qualquer modo, quando
197
velha e embebedada, Lispeth recontava a sua história de amor frustrada num inglês perfeito,
assim como dizia impropérios também.
Um fator digno de destaque nessa história é que o repúdio de Lispeth à língua inglesa
e aos hábitos “civilizados” dos missionários/colonizadores ingleses reporta-nos ao valor não
expresso e comumente não reconhecido do silêncio e da não enunciação voluntária como
formas de resistência efetivas, conforme defendido por Trinh T. Minh-ha (1997, pp. 415-19).
Já em Jasmine e Alias Grace, há as histórias de duas protagonistas femininas, ambas
imigrantes, que travam verdadeiras batalhas contra um mar de provações para sobreviver e
construir as suas próprias histórias e identidades. Nos dois casos, existe claramente a questão
da aquisição e/ou do uso do inglês como elemento de subversão do quadro de dominação em
que se encontram. Como já se abordou, a forma como isso se efetiva em Jasmine (que inclui o
domínio não só do inglês, mas também do urdu, pela protagonista, o que lhe confere
vantagens em relação aos americanos), resta dizer que, em Alias Grace, isso se dá na medida
em que Grace Marks, apesar da origem humilde, manipula o seu próprio psiquiatra com
histórias truncadas, meias-verdades e referências enigmáticas ao seu passado, manifestando,
desse modo, arguta capacidade de utilização do discurso para a obtenção de fins particulares.
Ademais, tais comportamentos de Grace Marks configuram formas de aquisição de poder por
pelo menos três frentes: a frente da língua, já que o domínio do inglês lhe dá acesso a outras
formas de poder; a frente do ataque sutil ao poder patriarcal, uma vez que, com respeito à sua
relação com Dr. Jordan, quem está no comando é sempre Grace Marks, uma mulher
colonizada e de pouca instrução, mas que é sagaz e possuidora de uma sabedoria não
acadêmica, mas de vida; e, por fim, a frente que diz respeito ao ataque ao discurso (também
masculino) da Medicina e da incipiente Psiquiatria, principalmente em uma época de
definições confusas em que, como afirma Wisker, “as mulheres eram vistas como virgens ou
198
prostitutas, inocentes ou bruxas, ou seres demoníacos” 97. Porém, não se poderia finalizar esta
referência a Grace Marks sem deixar registrado que ela soube como ninguém achar o
equilíbrio entre aquilo que devia ser enunciado e aquilo que devia ser (convenientemente)
silenciado; em suma, Grace Marks nos chama a atenção para o exercício de uma forma de
“silêncio emancipador”, o que mais uma vez nos reporta às idéias de Trinh T. Minh-ha a esse
respeito já anteriormente citadas neste capítulo.
Assim, e já que estamos abordando o silenciamento das mulheres, não se poderia
deixar sem nova citação a novela de Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr. Jekyll
and Mr Hyde, em que as mulheres aparecem pouquíssimo e em situações totalmente
irrelevantes. Porém, há silêncios maiores nessa obra, verdadeiros silêncios “retumbantes”,
para se estabelecer um paradoxo de efeito: trata-se do fato de que exatamente no final do
século XIX, em que a Inglaterra enfrentava sérios problemas de levantes e insurreições em
suas colônias, graças aos primeiros movimentos de emancipação colonial (ou seja, os povos
colonizados não estavam mais somente usando o inglês aprendido para subverter; já estavam
partindo para ações concretas), Stevenson escreve uma novela que absolutamente silencia
sobre as crises externas. Ou seja, inexistem no romance referências diretas ao papel da
Inglaterra como grande centro metropolitano colonizador. No entanto, em contrapartida, o
drama de Jekyll/Hyde acaba por constituir uma metáfora de horror, de decadência e de
ambigüidade de caráter, que extrapola a esfera do drama individual e se amplia, para
representar a decadência não só do pacato e ordeiro cidadão londrino, Dr. Jekyll, mas também
da nação colonizadora e poderosa, que começa a perder o controle sobre as suas colônias, do
mesmo modo como Jekyll começa a perder o controle sobre o trânsito entre as antagônicas
personalidades de Jekyll e de Hyde. Nesse caso, Jekyll seria uma representação da própria
Inglaterra, ao passo que Hyde (é interessante ver a relação desse nome com o verbo “hide” –
97
(...) “the confusions of a period which saw women as either virgins or whores, guiltless and pure, or demonic”
(WISKER, 2002, p. 66).
199
“esconder”) representaria a grande horda de povos colonizados que no momento tentavam
desferir um golpe sobre o antes ferrenho dominador, que então já não detinha todo o controle
sobre o mecanismo de dominação colonial.
Embora tal releitura possa parecer ousada demais, ela acaba se tornando plausível se
relembrarmos as idéias de Edward Said (1991, p.1971), já citadas no início deste capítulo, em
que ele discorre sobre o fato de que o imperialismo e o romance se inter-relacionaram tão
fortemente que praticamente se tornou impossível se referir a um sem que de algum modo não
se esteja lidando com o outro.
Em suma, podemos concluir que as releituras e reinterpretações de textos canônicos
assim como as leituras e as análises de textos pós-coloniais contemporâneos, além de celebrar
o abandono de formas interpretativas binárias e reducionistas, também abrem ensejo para que
o sujeito pós-colonial possa fazer uso da língua do colonizador sem aquela tradicional marca
da inferioridade intelectual irrecorrível, minando, assim, as forças opressoras e construindo a
sua própria voz. Conforme o exposto, todas as personagens ficcionais “subalternas” referidas
neste capítulo dão conta – num estrato metafórico – da gradual representação da aquisição de
voz de Caliban, aqui o ícone primário do nativo que ousa se rebelar contra as injustiças do
colonizador.
200
CAPÍTULO 5
A REPRESENTAÇÃO DA SUPERAÇÃO DA SULBALTERNIDADE DE JASMINE E
GRACE MARKS ENQUANTO SUJEITOS PÓS-COLONIAIS: A REINVENÇÃO DO
POTENCIAL DE CALIBAN NA TRAJETÓRIA DE SUBJETIFICAÇÃO
Na tentativa de compilar vários dos mais significativos pontos comuns entre os
processos de construção identitária de Jasmine e Grace Marks, elegemos como a primeira
interseção perceptível nos dois romances a que estabelece o cruzamento entre feminismo e
pós-colonialismo, o que nos traz à lembrança as palavras de Bill Ashcroft a esse respeito e nos
dá conta da importância da análise da representação literária dos problemas enfrentados pelo
sujeito pós-colonial feminino, uma vez que a mulher, nesse aspecto, tem sido vítima de dupla
exclusão, conforme já fartamente ilustrado anteriormente. Em vista disso, Ashcroft afirma
que:
O feminismo é de crucial interesse para o discurso pós-colonialista por duas razões
principais. Primeiro, tanto a sociedade patriarcal quanto o Imperialismo podem ser
encarados como duas forças que exercem dominação análoga sobre os seus objetos
de dominação. Assim sendo, as experiências femininas no mundo patriarcal e
aquelas dos sujeitos colonizados apresentam diversos paralelos. Em função disso,
tanto as políticas feministas quanto as políticas pós-coloniais oferecem oposição a
esse estado de coisas. Segundo, tem havido um considerável número de debates em
várias sociedades colonizadas, na tentativa de se definir qual o fator político mais
relevante na vida das mulheres – a opressão colonial ou a opressão por razões de
gênero. Isto tem levado a uma separação entre as feministas ocidentais e ativistas
políticos de países pobres e oprimidos; ou, alternativamente, as duas formas de
dominação estão tão intimamente ligadas que a dominação daí advinda afeta
materialmente a posição das mulheres nessas sociedades. Todos esses fatos têm
levado a uma consideração mais profunda da construção e do emprego do gênero
nas práticas do Imperialismo e do Colonialismo. 98
98
No original em inglês: “Feminism is of crucial interest to post-colonial discourse for two major reasons.
Firstly, both patriarchy and imperialism can be seen to exert analogous forms of domination over those they
render subordinate. Hence the experiences of women in patriarchy and those of colonized subjects can be
paralleled in a number of respects, and both feminist and post-colonial politics oppose such dominance.
Secondly, there have been vigorous debates in a number of colonized societies over whether gender or colonial
oppression is the more important political factor in women’s lives. This has sometimes led to division between
201
Conforme já amplamente referido, o questionamento levantado por Ashcroft na
citação acima ecoa a posição bem firme tomada por Gayatri Spivak e Wanda Balzano, nesse
sentido, pois além de reconhecer publicamente a problemática das subjugações múltiplas a
que a mulher tem sido exposta, ela também tenta conscientizar o mundo acadêmico sobre a
questão mais ampla que abarca a problemática do sujeito subalterno, numa macrovisão, e o
aspecto mais específico da mulher nas sociedades coloniais e pós-coloniais.
Desse modo, parece que as afirmações peremptórias de Ashcroft (2002), Spivak
(1997) e Balzano (1996) emitem uma sentença irrevogável para a situação do sujeito póscolonial feminino, ao constatar as condições discriminatórias e de subalternidade a que a
mulher sempre se viu relegada nas mais diferentes sociedades e nas mais variadas épocas.
Entretanto, é exatamente neste ponto que posicionaremos a argumentação sobre Jasmine e
Alias Grace, porque os dois romances oferecem inúmeras oportunidades de se vislumbrarem
novas possibilidades de construção da subjetividade feminina que superam tais condições de
subalternidade no âmbito das relações pós-coloniais. Não queremos com isso dizer que as
palavras de Spivak, Ashcroft, ou de qualquer outro teórico ou teórica dos Estudos Culturais se
desautorizam aqui. Trata-se, exatamente, da situação oposta: através da conscientização de
que tais assertivas contêm argumentações plausíveis, válidas e constatáveis, partimos para o
seu cotejamento com as histórias de resistência à dominação do poder hegemônico que
permeiam as sagas das protagonistas dos dois romances em causa.
Para dar início a essa questão, vale dizer que é possível constatar em Jasmine e Alias
Grace a construção de um tipo de “Bildungsroman” extremamente peculiar, que cria novas
nuances para as trajetórias das protagonistas Jasmine e Grace Marks, se tomarmos como base
Western feminists and political activists from impoverished and oppressed countries; or, alternatively, the two
are inextricably entwined, in which case the dominance affects, in material ways, the position of women within
their societies. This has led to calls for a greater consideration of the construction and employment of gender in
the practices of imperialism and colonialism” (ASHCROFT, 2002, p. 103).
202
as noções sobre o “Bildungsroman” feminino desenvolvidas por Peonia Viana Guedes no
livro Em Busca da Identidade Feminina: Os Romances de Margaret Drabble. Numa
passagem muito esclarecedora, Peonia Guedes afirma o seguinte:
A busca da identidade é o elemento central do Bildungsroman ou romance de
formação da personalidade, que surgiu na Alemanha, no século XVIII, com O
Aprendizado de Wilhelm Meister. No Bildungsroman tradicional, o herói é obrigado a
abandonar o lar – um ambiente tipicamente rural – e fortes laços familiares, saindo
pelo mundo afora. No caminho das provações, ele corre riscos, enfrenta perigos, luta e
mata dragões. O herói também se envolve em relações amorosas, que funcionam
como etapas do seu processo educacional; escolhe uma companheira e profissão;
reexamina seus valores, e, por fim, integra-se na estrutura social. Esse padrão
narrativo de busca de identidade e integração na sociedade constitui o centro do
enredo do Bildungsroman, que se desenvolveu com maiores ou menores variações nos
últimos 200 anos99. O tema da busca, fundamental no Bildungsroman, corresponde
não só à jornada arquetípica descrita por Joseph Campbell e outros críticos que
adotam o enfoque mítico, como também à visão de C.G. Jung sobre o
desenvolvimento interior do ser humano, rumo à maturidade e à integridade
psicológica. (GUEDES, 1997, pp. 17-18).
Entretanto, muitas das características do tradicional “Bildungsroman” do sujeito
masculino, conforme descritas por Peonia Guedes acima e tão bem delineadas por Joseph
Campbell, em O Herói de Mil Faces, não mantêm uma correspondência completa e fiel com
as características do “Bildungsroman” para as mulheres. Embora Peonia Guedes inicialmente
aborde o “Bildungsroman” a propósito dos processos identitários das protagonistas dos
romances de Drabble, as suas idéias aplicam-se de modo geral a processos identitários
femininos representados cultural e literariamente. Assim, essas idéias se coadunam totalmente
com os dramas e percalços experimentados por Grace Marks e Jasmine, bem como
denunciam as necessárias diferenças de que devem ser dotadas quaisquer tentativas de se
representar e conceber a formação dos processos de identidade/subjetificação feminina.
Peonia Guedes afirma o seguinte sobre essa palpitante questão:
99
Peonia Guedes recomenda que os interessados em um estudo mais profundo da tradição do Bildungsroman na
Literatura Inglesa devem consultar os seguintes trabalhos: Jerome Hamilton Buckley’s Season of Youth: The
Bildungsroman from Dickens to Golding (Cambridge: Harvard UP, 1974); e Laura Sue Furderer’s The Female
Bildungsroman in English (New York: MLA, 1990),que oferece uma bibliografia crítica bastante vasta sobre o
assunto, contendo notas muito úteis.
203
Críticas feministas têm mostrado que a estrutura do Bildungsroman pressupõe uma
gama de opções que só se oferecem aos homens 100, e que a sociedade patriarcal
dificilmente encontra as mulheres a enveredarem por um caminho de
autodescoberta. Na verdade a heroína do Bildungsroman dos séculos XVIII e XIX
geralmente se vê obrigada a aceitar o papel social que lhe é adequado – casamento e
maternidade -, ou a se esquivar a esses papéis e pagar o preço da sua rebeldia – a
morte física ou espiritual .101 As escritoras do século XX têm tentado modificar os
finais dos romances – habitualmente episódios de casamento ou morte – criando
narrativas que oferecem uma série diferente de opções à heroína, questionando
assim as imagens tradicionais da socialização da mulher.102 Recentes pesquisas
feministas multidisciplinares também sugerem que a vida das mulheres não segue os
paradigmas 103 masculinos de identidade, experiência e desenvolvimento e, portanto,
precisa ser reexaminada separadamente da vida dos homens (GUEDES, 1997, p.18).
As observações sobre o “Bildungsroman” levadas a efeito por Peônia Guedes acima se
aplicam perfeitamente às estratégias usadas tanto por Atwood quanto por Mukherjee, na
caracterização dos enredos de construção identitária de Grace Marks e Jasmine,
respectivamente, conforme se evidenciará neste último capítulo, um pouco mais à frente,
quando analisarmos os traços da promoção da subjetividade das protagonistas. Bharati
Mukherjee e Margaret Atwood constroem as suas protagonistas, dotando-as de condições
especiais de resistência. Daí uma das razões para a escolha do título da nossa Dissertação de
Mestrado – “From Shadow to Self: Resistance, Survival, and Empowerment of The PostColonial Female Subject in Bharati Mukherjee’s Jasmine”- , cuja expansão propomos com
esta Tese, e onde se percebe a noção de superação das “sombras” a que Spivak se refere na
100
Peonia Guedes comenta que as críticas Elizabeth Abel, Marianne Hirsch e Elizabeth Langland argumentam
que “as heroínas do século XIX raramente recebem uma educação formal. Até mesmo aquelas diretamente
envolvidas com a educação formal, como Jane Eyre e Lucy Stowe, não logram conseguir expandir os seus
horizontes culturais de uma forma de fato significativa…” (no original em ingles: “nineteenth-century heroines
rarely receive a formal education. Even those directly involved in formal education, such as Jane Eyre and Lucy
Snowe, do not manage to significantly expand their possibilities …”) (Ver The Voyage In: Fiction of Female
Development (Hanover: UP of New England, 1983).
101
A esse respeito, Peonia Guedes também recomenda a leitura The Heroine’s Text: Readings in the French and
English Novel, 1722-1782 (New York: Columbia UP, 1980) e The Madwoman in the Attic: The Woman Writer
and the Nineteenth-Century Literary Imagination (New Haven: Yale UP, 1979).
102
Peonia Guedes comenta que o herói, na sua opnião, é o agente ativo no enredo tradicional da busca: a busca
da identidade e da auto-realização são o centro da narrativa. Por outro lado, a heroína pode ser tanto o objeto da
atenção ou de resgate do enredo masculino da busca. Entre os enredos femininos da busca do século XX, os
contidos na obra seriada de Doris Lessing intitulada Children of Violence (de 1952 a 1969) atingiram uma
posição de destaque como os mais genuínos exemplos do “Bildungsroman” feminino da contemporaneidade.
103
Para uma compreensão mais ampla dos paradigmas que distinguem as vidas dos homens das vidas das
mulheres, Peonia Guedes recomenda a leitura do livro The Reproduction of Mothering:Psychoanalisis and the
Sociology of Gender (Berkely: U of California P, 1978), da socióloga Nancy Chodorow, e o livro In a Different
Voice: Psychological Theory and Woman’s Development, da psicóloga Carol Gilligan (Harvard UP, 1982).
204
citação feita em momento anterior, assim como a conquista de agenciamento e voz, que dá
acesso à construção da subjetividade peculiar e vitoriosa do sujeito pós-colonial por via de um
“Bildungsroman” tipicamente feminino. Da mesma forma, o título proposto desta Tese que
principia com “Subvertendo o Legado de Caliban...” visa a utilizar o Caliban shakespeariano
ao mesmo tempo como ícone dos indivíduos oprimidos pela dominação imperialista e como
símbolo da resistência a essa mesma dominação, por meio de um discurso deliberadamente
subversivo e desestabilizador daquela posição hegemônica. Nessa linha de raciocínio, o
desdobramento seguinte constitui-se na tarefa de constatar como as protagonistas femininas
dos livros de Mukherjee e Atwood modulam ou modificam o discurso e as ações de Caliban
para subverterem as forças opressivas, sobreviverem e engendrarem uma rede de estratégias
para conceber as suas identidades híbridas, ricas e multifacetadas.
Chegamos então a uma fase em que se faz necessária um pouco mais de acuidade na
definição de alguns termos, antes de levarmos à frente a avaliação do processo de
subjetificação das personagens em questão. Referimo-nos a termos como “subalterno”,
“subalternidade” e “discurso”, entre outros de inegável relevância para as nossas
argumentações. “Subalterno”, por exemplo, é um adjetivo que significa, grosso modo, “de ou
pertencente a um nível mais baixo” (CHILDERS, 1995, p. 289). Dentre outros sentidos, a
acepção que nos interessa mais de perto tem a ver com os “Estudos Subalternos”, com os
quais um grupo de intelectuais e teóricos envolvidos com o assunto no âmbito das discussões
coloniais e intelectuais tem grande afinidade (ressalte-se que um dos membros mais
renomados desse grupo é Gayatri Chakravorty Spivak). De volta ao vocábulo “subalterno”,
Childers (1995, p. 289-290) complementa que se trata de um termo bastante inclusivo, pois
engloba as designações gerais para os membros de populações subordinadas a outros
indivíduos ou grupos. Dentre eles, destacam-se os colonizados, as mulheres, os negros, as
classes trabalhadoras etc. Também é interessante destacar que a palavra “subalterno”, ainda
205
segundo Childers, tem sido comumente usada para descrever aqueles indivíduos e povos
submetidos especificamente à opressão do colonialismo britânico.
Voltando o enfoque agora para os Estudos Subalternos, o termo pode designar o
próprio nome de um círculo de intelectuais e o jornal que eles publicam em Nova Déli, na
Índia. Porém, quando a expressão é usada num sentido mais amplo (e sem destaque), pode
também se referir aos estudos acadêmicos das vidas e dos escritos dos indivíduos ditos
subalternos. Com claros contornos marxistas, semióticos, feministas e desconstrucionistas, o
objetivo principal desse círculo de intelectuais é a politização do colonizado, conforme Spivak
afirma direta e indiretamente em In Other Worlds, um grande número de vezes. Em vista do
que se expôs sobre as conotações de “subalterno” e de “Estudos Subalternos”, não resta
dúvida acerca da importância desses sentidos para designar a posição e os problemas
vivenciados pelas protagonistas Jasmine e Grace Marks. O mesmo também podemos verificar
quando rememoramos uma definição de “diáspora”, como a de Ashcroft no trecho seguinte:
Derivada da palavra grega que significa “dispersar”, “diáspora”, o movimento
voluntário ou forçado de povos dos seus países de origem para novas regiões,
constitui um fato histórico central do Colonialismo. O próprio Colonialismo na
verdade foi um movimento diaspórico envolvendo a dispersão temporária ou
permanente e o reassentamento de milhões de europeus pelo mundo inteiro.104
A despeito de a definição acima carrear um teor exageradamente eurocêntrico, um
pouco mais à frente Ashcroft desdobra o seu sentido para então abarcar os deslocamentos
diaspóricos de vários indivíduos subalternos de diversas sociedades colonizadas,
principalmente no período áureo do Colonialismo europeu. Nos cenários coloniais e póscoloniais tivemos os deslocamentos dos europeus movidos pelo ímpeto de colonizar, sujeitar
104
No original em inglês: “From the Greek meaning ‘to disperse’. Diasporas, the voluntary or forcible movement
of peoples from their homelands into new regions, is a central historical fact of colonization. Colonialism itself
was a radically diasporic movement, involving the temporary or permanent dispersion and settlement of millions
of Europeans over the entire world” (ASHCROFT, 2000, p. 68-69).
206
e “civilizar” outros povos em outros continentes, mas também no mesmo continente, como foi
o caso da Inglaterra e suas investidas colonizadoras na Irlanda, Escócia e País de Gales.
Assim, a citação acima se aplica diretamente à situação da personagem Grace Marks - uma
européia subalterna que também se engajou numa diáspora da Irlanda para o Canadá, em
busca de melhores condições de vida. E as práticas coloniais são tão variadas que, no caso da
Irlanda, do País de Gales e da Escócia, embora se possa pensar o contrário (pelo fato de os
colonizados serem brancos), os imperativos de diferença étnica também foram decisivos para
a sujeição daquelas nações ao Imperialismo Britânico. Tal confusão se justifica, contudo, se o
entendimento de “etnia” for confundido com “raça”, que é um conceito ultrapassado (dada a
sua limitação a caracteres genéticos). Dessa forma, Ascroft (2000, p. 80) e Schermerhon
(1974, p. 2) defendem a idéia de que “etnia” é um termo que passou a ser usado
crescentemente a partir da década de 1960 em diante para definir uma variação em termos de
cultura, tradição, linguagem, padrões sociais e ancestralidade. O termo “etnia” então passou a
substituir e a transcender as desacreditadas generalizações que o termo “raça” fixava genética
e biologicamente, em períodos anteriores. Enfim, “etnia” refere-se à fusão dos muitos traços
que se inserem na natureza de qualquer grupo; é um conjunto de valores em comum, crenças,
normas, gostos, comportamentos, experiências, memórias, consciência de tipo e de lealdades.
A preocupação com as questões pós-coloniais, os indícios de superação da
subalternidade e os movimentos diaspóricos - que lentamente levam o sujeito pós-colonial a
se engajar num processo de construção da subjetividade -, ou até mesmo a análise da situação
da mulher em contextos pós-coloniais, não estão presentes somente em Jasmine e Alias
Grace. Tanto Bharati Mukherjee quanto Margaret Atwood têm contemplado estes e diversos
outros aspectos na literatura que produzem. A razão da presente opção por Jasmine e Alias
Grace deve-se ao fato de ter-nos parecido que existe um número maior de condições comuns
aos dois romances, que permitem uma comparação mais detalhada e efetiva para a
207
representação dos aspectos de superação da subalternidade do sujeito pós-colonial feminino,
deixando para trás os legados negativos de certa forma herdados de Caliban. Além disso, as
duas obras mantêm e sofisticam as estratégias discursivas de subversão das forças
hegemônicas de opressão, inauguradas emblematicamente por Caliban no campo da literatura
e hoje analisadas à luz do cruzamento interdisciplinar da literatura com as Teorias PósColoniais e Pós-Estruturalistas.
Já que o nosso mote inicial aqui foi problematizar a fala irreverente, o discurso
desestabilizador e o comportamento subversivo de Caliban enquanto ícone ficcional fundador
das estratégias de resistência do sujeito colonial/pós-colonial oprimido, também
procederemos a uma breve consideração teórica acerca do termo “discurso”, para mais uma
vez compararmos o que fazem e falam Jasmine e Grace Marks e a efetividade dos seus
discursos de resistência, assim como para apreciarmos o processo de subjetificação que
resulta das autoconstruções discursivas das duas protagonistas. A esse respeito, Ashcroft
defende idéias e princípios que também encontramos em outros teóricos como Rajan e
Mohanram, Carter e Thompson. Ashcroft pondera que, para além da simples definição básica
e meramente lingüística de “discurso” - tecnicamente, qualquer unidade da fala maior que um
período -, o termo tem um sentido mais complexo, como o que aparece em Foucault:
Para Foucault, um discurso é uma área bastante significativa do conhecimento
social, um sistema de afirmações através das quais o mundo pode ser conhecido. O
ponto-chave desse arrazoado é que o mundo não está simplesmente “lá” para ser
discutido; antes, é exatamente através do discurso que o mundo é trazido à
existência. É também através desse discurso que os falantes e os ouvintes e os
escritores e os leitores atingem a compreensão sobre eles mesmos, as suas relações
uns com os outros e o seu lugar no mundo (a construção da subjetividade) 105.
Enfim, o discurso é o complexo de signos e práticas que organizam a existência e a
reprodução social (ASHCROFT, 2000, p. 71).106
105
O destaque em negrito consta no original em inglês.
No original em inglês: “For Foucault, a discourse is a strongly bounded area of social knowledge, a system of
statements within which the world can be known. The key feature of this is that the world is not simply ‘there’ to
be talked about, rather, it is through discourse itself that the world is brought into being. It is also in such a
discourse that speakers and hearers, writers and readers come to an understanding about themselves, their
relationship to each other and their place in the world (the construction of subjectivity). It is the complex of
signs and practices which organizes social existence and social reproduction” (ASHCROFT, 2000, p.71).
106
208
Ashcroft ainda afirma que existem certas regras não verbalizadas determinando que
tipos de afirmações podem ser feitas e quais as que não podem, dentro de certos discursos.
Dessa maneira, surgem os seguintes questionamentos: Quais são as regras que permitem que
certas afirmações sejam feitas e outras não? Que regras comandam essas afirmações? Que
regras permitem o desenvolvimento de um sistema classificatório? Que regras nos permitem
identificar certos indivíduos como autores? Sejam quais forem, essas tais regras referem-se
todas a coisas como classificação, arrumação e distribuição daquele conhecimento de mundo
que o discurso tanto possibilita quanto delimita ou proíbe, conforme exemplificado na
passagem que se segue:
Um bom exemplo de discurso é a Medicina. Em termos simples, nós simplesmente
pensamos a Medicina como curadora de corpos doentes, porém a Medicina
representa um sistema que se pode constituir sobre os corpos, sobre as doenças e
sobre o mundo. A regras desse sistema determinam como nós vemos o processo de
cura, a identidade do doente e, de fato, abrangem a organização da nossa relação
física com o homem.107
Certos princípios de inclusão e exclusão operam de dentro desse sistema, pois algumas
afirmações e coisas podem ser ditas ou feitas e outras, não. Ainda recorrendo ao exemplo do
discurso médico, não se pode referir a ele sem se fazer uma distinção básica entre a “Medicina
Ocidental” e a “Medicina Chinesa” (ou “Oriental”) (ASHCROFT, 2000, p. 71), uma vez que
muitos métodos de cura da segunda não se coadunam com as idéias e os princípios
positivistas sobre o corpo que a modalidade do discurso médico ocidental considera válidos,
efetivos e “verdadeiros”. Ou seja, antes de muitos dos princípios médicos orientais passarem
pelo crivo “científico” da Medicina Ocidental, práticas orientais como a acupuntura, por
107
No original em inglês: “A good example of discourse is medicine. In mundane terms we simply think of
medicine as healing sick bodies. But medicine represents a system of statements that can be made about bodies,
about sickness and about the world. The rules of this system determine how we view the the process of f
healing, the identity of the sick and, in fact, encompass the ordering or our physical relation to the world”
(ASHCROFT, 2000, p. 71).
209
exemplo, eram tidas à conta de charlatanismo ou superstição e situadas fora do âmbito do que
era entendido como “verdade”, no Ocidente.
Segue-se que um dos dados principais para as teorias coloniais é que a “inclinação
para a verdade” está ligada à “inclinação para o poder”, da mesma forma como o poder e o
conhecimento estão ligados, pois, como lembra Ashcroft:
A inclinação das nações européias para o exercício do controle dominante sobre o
mundo, que levou ao crescimento dos impérios, foi acompanhada de uma
necessidade de confirmar as noções européias de utilidade, racionalidade e
disciplina como “verdades.” 108
Ainda a respeito das noções a que “discurso” nos leva, Sarah Mills (1997) tece
considerações dignas de nota baseadas nas idéias de Foucault. Dentre esses comentários e
conclusões notáveis, destacamos a seguinte passagem:
Para Foucault, a nossa percepção dos objetos é formada dentro dos estritos limites
discursivos: o discurso é caracterizado por uma delimitação de uma categoria de
objetos, pela definição de uma perspectiva legítima para o agente do saber e pela
fixação de normas para a elaboração de conceitos e teorias. (...) A primeira coisa a
se notar é que para Foucault o discurso causa o estreitamento do campo de visão de
um indivíduo, o que exclui a consideração de um largo espectro de fenômenos do
âmbito da realidade, considera-os indignos de atenção, ou até mesmo lhes nega a
possibilidade de existência. Assim, a delimitação de um campo é o primeiro passo
para se estabelecer um conjunto de práticas discursivas. Então, para que um discurso
ou um objeto seja ativado e chamado à existência, o sujeito do saber tem que
estabelecer um direito de fala para si próprio. Assim, a posse do discurso é vista
como inexoravelmente ligada a questões de autoridade e legitimidade.109
108
No orginal me ingles: “The will of European nations to exercise dominant control over the world, which led
to the growth of empires, was accompanied by the capacity to confirm European notions of utility, rationality,
discipline as truth” (Ibid, p. 73).
109
No original em inglês: “For Foucault, our perception of objects is formed within the limits of discursive
constraints: discourse is characterised by a delimitation of a field of objects, the definition of a legitimate
perspective for the agent of knowledge, and the fixing of norms for the elaboration of concepts and theories. (...)
The first thing to notice is that, for Foucault, discourse causes a narrowing of one’s field of vision, to exclude a
wide range of phenomena from being considered as real or as worthy of attention, or as even existing; thus,
delimiting a field is the first stage in establishing a set of discursive practices. Then, in order for a discourse or an
object to be activated, to be called into existence, the knower has to establish a right for him/herself to speak.
Thus, entry into discourse is seen to be inextricably linked to questions of authority and legitimacy” (MILLS,
1997, p. 51).
210
Sarah Mills prossegue com suas ponderações sobre o discurso enfatizando aspectos
aparentemente “menores” dentro das idealizações coloniais até tocar questões mais complexas
e profundas, como as das construções ideológico-discursivas sobre as vidas, as culturas, os
costumes e os cotidianos dos povos colonizados pelos europeus. Uma dessas notáveis e
aparentemente “inocentes” idealizações européias se fez sentir nos limites tênues que sempre
dividiram os seres vivos entre as categorias “animal” e vegetal”, de acordo com períodos
históricos diferentes. Por exemplo, Sarah Mills cita que no século XIX as bactérias eram
enquadradas na categoria “animal”, ao passo que atualmente elas se situam numa nova
categoria específica criada especialmente para elas (MILLS, 1997, p. 52). Ou seja, estamos
lidando com fronteiras discursivas fluidas. Desvelando então um viés ideológico mais
apropriado da questão da Biologia e do Colonialismo, Mills ainda cita que os botânicos
europeus do século XIX costumavam viajar para países distantes com a finalidade de
investigar espécies de plantas não-européias, levando em seu cabedal as categorias
classificatórias anteriormente elaboradas por Lineu e naturalmente originadas na flora
tipicamente européia. Neste ponto, recordamos também alguns pensamentos de Mary Louise
Pratt (1999), que vêm ao encontro do raciocínio de Sarah Mills (1997), quando ela chama a
atenção para o fato de que, assim procedendo, esses botânicos europeus alegavam “descobrir”
novas plantas (como se elas e suas propriedades já não fossem conhecidas das populações
nativas das áreas em que ocorriam) na Índia e na África, por exemplo, passando então a
categorizá-las taxonomicamente de acordo com o sistema classificatório europeu de Lineu,
que esses botânicos advogavam ser um sistema com capacidade global de definir e classificar
todos os seres vivos pertencentes ao reino vegetal. Desse modo, essas plantas eram alijadas
dos sistemas de classificação que as populações nativas já haviam desenvolvido para elas (de
acordo com as suas propriedades, usos e “habitats”) e, com isso, os europeus “as tornavam
parte de um projeto colonial mais amplo que tinha por fim último a exibição da força
211
civilizatória do Colonialismo”
110
. A planta mudava de nome, com a sofisticação conferida
por uma nova denominação em latim e o discurso do colonizado para definir as suas plantas
era então apagado e conseqüentemente tido como “falso”, em vista da preponderância do
discurso científico europeu tido como o “verdadeiro”, nas palavras de Mills:
Assim, esse conhecimento europeu globalizante não renomeava simplesmente
algumas espécies de plantas, mas também aniquilava os conhecimentos nativos
sobre elas. Ou seja, o colonizador passava a “colonizar” o saber nativo sobre as suas
próprias plantas, impondo como válidas as visões discursivas européias. 111
Em suma, dada essa visão de alguns dos sentidos importantes de “discurso” para a
teoria contemporâna, trataremos agora da relevância que o discurso desempenha nas
formações identitárias das nossas protagonistas femininas. Voltando a atenção para o discurso
de resistência de Caliban, percebemos que, além dos impropérios e xingamentos, percebemos
que ele apresenta características queixosas e nostálgicas do tempo em que sua mãe, Sycorax,
dominava toda a ilha, antes da chegada de Próspero. De certa forma, esse discurso constrói
uma identidade problematizadora para o “monstro” da ilha de Próspero, porque situa Caliban
fora do alcance do estereótipo do nativo visto como tabula-rasa, como é o caso de SextaFeira, o nativo da ilha de Robinson Crusoe, ou seja, como o subalterno sem voz, sem direitos,
sem civilização, sem identidade, sem agenciamento etc.
Não obstante já termos desenvolvido algumas considerações acerca de Caliban e do
seu papel subversivo no Capítulo 4, quando abordamos alguns exemplos das teias
intertextuais envolvendo algumas obras literárias coloniais/pós-coloniais das literaturas de
língua inglesa, bem como Jasmine e Alias Grace, retornamos aqui, por mais algum tempo, ao
discurso iconográfico de Caliban, antes de avaliarmos o quanto os discursos de Jasmine e
110
No original em inglês: “(...) and they became part of a wider colonial project which aimed to demonstrate the
‘civilising’ force of colonialism” (MILLS, 1997, p. 53).
111
No original em inglês: “Thus, this global Eurocentric knowledge did not simply rename a few plants species,
but annihilated indigenous knowledge and transformed the knowledge about plants in non-European countries
into colonial knowledge” (Ibid, p. 53).
212
Grace Marks ecoam mais sofisticadamente o legado discursivo e subversivo de Caliban
enquanto ferramenta efetiva nos seus processos de formação identitária. Desse modo,
desviamos o foco agora para uma versão instigante de Caliban introduzida por Annabel
Patterson. Ela começa as suas especulações sobre a figura de Caliban através de uma
estratégia intertextual, pois vai aludir a um episódio do romance Felix Holt, The Radical, de
George Eliot, em que a autora “elabora as suas teorias sobre as estruturas das classes sociais,
as políticas eleitorais e as profundas ligações entre o conservadorismo cultural e político” 112.
Nesse romance, o herói e o narrador citam Shakespeare, e, além disso, dois dos personagens
do livro, o próprio Felix Holt e o Senhor Lyon, têm uma entrevista em que passam a debater
política e ideologia. Patterson, então, comenta a respeito das idéias de Holt, avaliando a sua
opinião acerca da solução revolucionária que ele propõe para os estigmas de Caliban:
Do jeito que Felix vê a questão, nenhuma proporção de liberação política ou de
aumento de conscientização produzirá o mínimo efeito emancipatório enquanto o
homem comum continuar na posição de homem comum... ‘Enquanto Caliban for
Caliban, mesmo o multiplicando por um milhão, ele continuará venerando qualquer
Trínculo que esteja carregando consigo uma garrafa. Eu me esqueço, entretanto, que
o senhor não lê Shakespeare, Senhor Lyon”.113
Os comentários de Felix Holt são de importância crucial porque trazem à tona a visão
preconceituosa das classes mais abastadas que visa a circunscrever “Caliban” a uma esfera
determinista, evidenciadora das suas “más” inclinações, tidas como “naturais” por fazerem
parte do seu caráter subalterno. Porém, nesse ponto, relembramos as idéias de Fernández
Retamar, privilegiando aqui uma visão inversa: aquela que reconhece nesse Caliban referido
por Félix Holt os indivíduos subalternos e feitos “irrecuperavelmente” inferiores pela
112
No original em inglês: “(...) elaborates her theories of class structure, electoral politics and the deep
connections between cultural and political conservatism” (PATTERSON, 1989, p. 154).
113
No original em inglês: “As Felix sees it, no amount of political liberation or consciousness-raising will have
any melioristic effect while the common man remains the common man:...’While Caliban is Caliban, though you
multiply him by a millio, he’ll worship every Trínculo that carries a bottle. I forget, though – you don’t read
Shakespeare, Mr. Lyon” (PATTERSON, 1989, p. 154).
213
consideração opressora das classes que Holt representa, enfim toda aquela massa de
excluídos, pelas mais diferentes razões de dominação, constituída pelos deserdados do planeta
(FERNÁNDEZ, 1997). Segundo as próprias palavras de Holt, a solução para que eles se
livrem desse estigma passa pelo fato de que têm que deixar de “ser” Calibans. Isto equivale ao
engajamento em um processo de empoderamento, aquisição de voz e de conscientização
política (conforme o fazem as protagonistas Jasmine e Grace Marks, embora em graus
diferentes). Patterson ainda nos adverte que a questão não é tão simples e clara quanto querem
alguns, quando afirma que: “Seguindo o foco, embora não as opiniões de George Eliot, eu
acredito que Caliban tenha sempre representado, tanto quanto o Outro elemento racial,
aquelas subclasses sobre cuja baixa inclinação e natureza Felix Holt está certo” 114. Fica então
patente a opinião preconceituosa e desabonadora que Felix Holt emite sobre esses seres
humanos ditos subalternos.
O comentário de Felix é de importância crucial porque explicita o fato de que, se todos
os indivíduos ao redor do mundo que amargam os efeitos do colonialismo ou do póscolonialismo forem vistos como os Calibans contemporâneos, uma possível solução para eles
alcançarem a liberação dos estigmas calibanescos é justamente “deixarem de ser Calibans”,
fato que nós interpretamos aqui como a conquista de agenciamento e voz para a construção de
uma subjetividade positiva e emancipada. Naturalmente, Felix Holt (mesmo falando de dentro
de um texto ficcional) emite opiniões que se aplicam à situação real e trágica das legiões de
pobres e miseráveis existentes pelo mundo afora, da mesma forma que Fernández Retamar
usa Caliban (personagem ficcional shakespeariana, iconográfica do indivíduo colonizado
subalterno) como metáfora dos indivíduos excluídos e miseráveis da terra. Assim, percebemos
que Annabel Patterson nos mostra, mesmo que através da fala de Felix Holt, personagem
ficcional conservador e preconceituoso, uma visão limítrofe e exaustiva de Caliban, ou seja,
114
No original em inglês: “Following the focus, though not the opinions of George Eliot, I assume that Caliban
has always represented, as well as the racial Other, those underclasses of whose low nature and inclination Felix
Holt is certain” (Ibid, 156-157).
214
sugere que, se Caliban não partir para a ação efetiva (agenciamento), ele continuará
amargando as desvantagens de continuar sendo Caliban. O mesmo é fartamente ilustrado por
Fernández Retamar, que também aborda o crescimento em progressão geométrica do efetivo
de Calibans no mundo contemporâneo, o que torna a situação mais tensa e conflitante. Tanto
as idéias de Annabel Patterson quanto as de Fernández Retamar podem ser complementadas
ainda pelas de Ania Loomba, que serão enfocadas mais adiante neste Capítulo.
Todavia, outra avaliação digna de registro sobre Caliban é ainda proposta por
Fernández Retamar, quando ele usa a idéia de Spivak de "metáfora conceitual" para declarar
que "Caliban" não é somente um nome em uma peça teatral, mas uma “metáfora conceitual”
poderosa não exclusivamente aplicável aos excluídos do Caribe e da América Latina. De
acordo com Fernández Retamar, Caliban se refere "aos miseráveis da terra como um todo,
cuja existência alcançou uma dimensão sem igual desde 1492"
115
, a data da descoberta (ou
invasão?) da América, o que claramente nos permite acomodar tanto Jasmine quanto Grace
Marks nessa "metáfora conceitual". No seu famoso de que já tratamos, Fernández Retamar
questiona e reexamina conceitos e idéias como “descobertas/invasões coloniais”, "terceiro
mundo", "países desenvolvidos e subdesenvolvidos", "raça" e "etnia", por exemplo. Porém,
uma das referências mais sintomáticas que ele faz tem a ver com as polarizações
"Ocidente/Oriente" e "Norte/Sul" que correspondiam às noções de "rico/pobre",
"desenvolvido/subdesenvolvido", "dominante/subalterno", respectivamente, enfatizando o
crescimento desmedido que afeta os Calibans históricos, ao afirmar que:
Enquanto eu escrevo este artigo, eles constituem mais de dois-terços dos seres
humanos que vivem agora; no início do século XXI (ou seja, amanhã), eles serão
três-quartos do mundo e, pelo meio daquele século, constituirão nove-décimos da
população mundial.116
115
No original em inglês: “ (...) to the wretched of the earth as a whole, whose existence has reached a unique
dimension since 1492” (FERNÁNDEZ, 1997, p. 163).
116
No original em inglês: “As I write this essay they constitute more than two-thirds of the human beings now
living; by the beginning of the twenty-first century (which is to say, tomorrow), they will be three-fourths of the
world, and by the middle of that century, nine-tenths” (FERNÁNDEZ, 1997, p. 169).
215
Fernández Retamar também diz que Caliban está indo para o Norte (e sentimo-nos
livres para afirmar que ele está indo para o Ocidente, também) quando ele se refere às
migrações volumosas das pessoas de países pobres para os países ricos da parte norte e
ocidental do mundo. Isto é apresentado como um fato irrevogável e gerador de situações
contraditórias e de difícil manejo para os países ricos. Mais uma vez, esses dados históricos
refletem-se nas trajetórias ficcionais de Jasmine e Grace Marks, enquanto imigrantes de países
pobres à procura de melhores condições de sobrevivência em países mais ricos do que as suas
nações de origem. Ao término do artigo, Fernández Retamar elabora uma teoria de tolerância
e de assimilação de “Caliban”, que idealmente deveria ser posta em prática por "Próspero" (os
países ricos das partes setentrionais e ocidentais do globo) como a única possibilidade para a
paz mundial nos próximos anos.
Em vista de todo esse conjunto de conceitos positivos e negativos sobre os excluídos e
miseráveis da terra, onde também identificamos o lugar do colonizado subalterno, podemos
traçar vários paralelos com as situações envolvendo Jasmine e Grace Marks, inclusive
também para detectar as possibilidades de superação das marcas calibanescas negativas.
Assim, se a tentativa de analisar o legado de Caliban (tanto em sua conotação tradicional de
“fardo” quanto em suas visões contemporâneas mais favoráveis do subalterno pós-colonial
que luta para adquirir voz e poder) for uma das estratégias principais aqui para apreciar o
processo de subjetificação e empoderamento de Jasmine e Grace Marks, teremos que abordar
ao mesmo tempo as imposições ideológicas negativas sobre o colonizado e as tentativas de
liberação desses estigmas de opressão. Em outras palavras, é possível achar em Jasmine e
Grace Marks tanto as noções do colonizado visto como “fardo” (conforme ilustrado por
Kipling no poema "O Fardo do Homem Branco”, em que o poeta verbaliza a idealização
negativa do colonizado corrente e tida como “verdadeira” no século XIX), quanto vários
216
indícios de construção identitária mais positiva e problematizadora de uma subjetividade mais
rica e complexa do que sempre concebeu o pensamento colonialista.
Se nós levarmos em conta a monstruosidade alegada de Caliban, como também a sua
condição de "figura luxuriosa, desvirtuada e pecadora", como Lorrie J. Leininger declara, e
tentarmos aplicar isto a Jasmine e a Grace Marks, poderemos nos deparar com uma visão
invertida de “Próspero” como “figura luxuriosa e transgressora”. Em Jasmine,por exemplo,
nos capítulos 15 e 16, Bharati Mukherjee descreve as condições absolutamente terríveis sob
as quais o deslocamento diaspórico de Jasmine aconteceu, como uma imigrante clandestina
para a América, assim como relata a “ajuda” que Jasmine recebeu de “Half-Face”, o capitão
do navio clandestino. Disfarçado de protetor, ele oferece ajuda a Jasmine em suas primeiras
horas em terra americana, mas com intenções de roubá-la e estuprá-la, como é descrito
sutilmente pela autora:
Ele me encarou. As suas mãos estavam tremendo e então ele gritou, "Oh, Deus!" e
tentou me beijar, mas ele estava descontrolado – mãos e rosto movimentando-se
sem cessar. Eu me contorci, retardando somente um pouco o inevitável, fazendo a
coisa ficar pior, mais forçada e mais violenta. Eu tentei manter meus olhos em
Gampati e rezei para que Ele me desse forças para sobreviver àquilo, nem que fosse
para eu mesma pôr fim à minha vida depois que tudo acabasse. 117
Na realidade, este é o primeiro contato traumático de Jasmine com o Outro. Em outras
palavras, pode-se dizer que é "Prospero", sob o disfarce de Half-Face, ainda a figura luxuriosa
querendo estuprar Caliban. Vale notar, embora não haja evidências no texto (é possível que
não tenha sido intencional por parte de Bharati Mukherjee), como o prosaico nome "HalfFace" corresponde às “meias-condições” atribuídas a Caliban em A Tempestade: “meiohomem”, “meio-monstro”, “meio-peixe” etc.
117
No original em inglês: “He stared. His hands were trembling and then he whooped, ‘Oh, God!’ and tried to
kiss me, but he was all hands and face in motion. I twisted, only delaying the inevitable, making it worse
perhaps, more forced, more violent. I tried to keep my eyes on Gampati and prayed for the strength to survive,
long enough to kill myself” (MUKHERJEE, 1991, p. 103-104).
217
A despeito de todos os contornos trágicos da cena do estupro, a narradora do romance
consegue achar espaço para um leve afastamento das questões diretamente envolvidas com o
estupro em si e então abordar outros aspectos referentes à outridade (“otherness”), no que
respeita às diferenças culturais entre a Índia e os Estados Unidos: mesmo traumatizada pelo
estupro, Jasmine consegue incorporar aos seus pensamentos observações de diferenças entre o
seu país de origem e a América, comparando, por exemplo, as condições sanitárias de um e de
outro país. Tudo isso tem lugar quando ela está no banheiro do motel para se lavar, antes de
Half-Face continuar a “segunda fase” do estupro, como se ilustra na seguinte passagem:
Ele parecia achar tudo muito divertido. Eu liguei o chuveiro, procurando ajustar a
ducha para a água quente. O ruído das gotas de água bombardeando a cortina do
“box” levaram-me ao vômito. Então, eu me banhei. Eu nunca tinha usado um
chuveiro ocidental, tendo que me banhar de pé, em vez de ficar de cócoras, com
todo aquele jato d’água automático saindo do esguicho da ducha, em vez de ter que
usar água fria tirada de um balde com um canecão. Aquilo tudo parecia milagroso,
pois como poderia ser possível que num lugar tão deserto, assemelhado a um
hospício ou prisão, onde um dos mais hediondos crimes acabara de ser cometido, a
água pudesse ser quente, os ladrilhos e as porcelanas tão limpas, sem odores e sem
manchas? Aquele era um lugar que tinha uma certa pureza no ar. 118
Outra interpretação importante do estupro de Jasmine por Half-Face é a que vê os
corpos da estuprada e do estuprador como metáforas da colônia e da metrópole,
respectivamente. Se nós pensarmos em termos da Índia como uma colônia/ex-colônia da
Inglaterra como a grande nação colonizadora da Índia, e dos Estados Unidos como o
representante contemporâneo principal das nações neocoloniais superpoderosas, é possível
interpretar Jasmine e Half-Face como metáforas nesse sentido. Para tanto, bastaria que nos
lembrássemos que existem vários registros acerca da época dos primeiros contatos entre os
colonizadores e os colonizados que dão conta de que uma das reações dos colonizados era
118
No original em inglês: “He seemed to find it amusing. I turned on the shower, making it hot. With water
pelting the shower curtain, I vomited. Then I showered. I had never used a Western shower, standing instead
of squatting, with automatic hot water coming hard from a nozzle instead of cool water from a hand-dipped
pitcher. It seemed like a miracle, that even here in a place that looked deserted, a place like a madhouse or a
prison, where the most hideous crime took place, the water should be hot, the tiles and porcelain should be
clean, without smells, without bugs. It was a place that permitted a kind of purity”(MUKHERJEE, 1991, p. 104).
218
ficar sob uma espécie de encantamento ante as diferenças étnicas e culturais e o poder
“tecnológico” dos colonizadores, o que expressa uma certa pureza e inocência em relação aos
reais propósitos destes últimos. De certa forma, essa relação de inocência se reduplica na
inocência e naturalidade com que Jasmine aceita o oferecimento de “proteção” por parte de
Half-Face, com a conseqüente aquiescência em repartir o mesmo quarto do motel com ele.
Esse simples fato permite-nos interpretar a cena do estupro como metafórica da devastação e
dos insidiosos ataques das metrópoles contra as colônias no passado e das potências
neocolonizadoras contra as nações pobres da atualidade. As seguintes palavras de Bonnici
corroboram essa idéia quando ele nos lembra como eram vistas as relações entre a Europa e o
Novo Mundo logo após a “descoberta” (ou “invasão”, segundo Fernández Retamar{1997, p.
164}) das Américas:
A insistência em descrever o Novo Mundo utopicamente não se explica apenas pelo
fascínio de algo não imaginado na Idade Média, mas também pelo descortinamento
da “virgem” (a gravura de Stradanus é emblemática), que necessita ser “deflorada”
pelo europeu para que a possua e dela usufrua para o capitalismo mercantil ora
iniciado (BONNICI, 2000, p. 53).
Naturalmente, poderíamos ter muitas outras interpretações dessa memorável passagem
do livro de Mukherjee sobre o trágico encontro da mulher de cor indiana com o norteamericano branco, metaforizando respectivamente um sujeito pós-colonial feminino e o
representante de uma nação superpoderosa da contemporaneidade, porém nenhuma outra
pode ser mais impactante do que a que eleva o significado do estupro para um nível histórico
de exploração colonial e pós-colonial desmedida. No entanto, não podemos nos esquecer de
que a cena também nos remete mais denotativamente à “representação de uma das mais
esquecidas e suprimidas narrativas do colonialismo: a dos estupros das mulheres colonizadas
219
pelos colonizadores brancos”
119
. A esse respeito, também podemos citar Jenny Sharpe ao
rememorar o Motim Indiano de 1857, em Allegories of Empire, quando ela cita que os corpos
estuprados e mutilados das mulheres inglesas funcionaram como evidências da violação do
colonialismo (SHARPE, 1993, p.4) e eram mencionados veementemente na reconstituição do
poder colonial depois do fim do motim. Todavia, a situação contrária não era digna da mesma
publicidade, ou seja, os corpos violados das inúmeras mulheres que enxamearam o caminho
da Inglaterra para a reconquista do seu poderio e o restabelecimento da sua autoridade
colonial pós-motim jamais figuraram em registros oficiais das ações coloniais inglesas, o que
confirma de certa forma a noção evidenciada por Bonnici de que os territórios coloniais –
assim como os corpos das colonizadas - estão lá para serem “deflorados” pelos colonizadores
brancos.
O estupro de Jasmine, porém, parece apontar para um caminho bem diferente, uma vez
que ela tem uma súbita reação de vingança que inverte totalmente as coisas em seu favor e
passa a determinar seus próximos passos em solo americano, rumo às novas identidades que
se formarão a partir desse episódio.
Num momento seguinte à cena do chuveiro, Jasmine acha uma faca escondida entre os
seus pertences. Primeiramente, pensa em então cometer suicídio, mas como ela não reconhece
a sua própria imagem no espelho (o que será retomado aqui mais à frente), essa idéia
desaparece da sua mente. Na verdade, mesmo não vendo a própria imagem no espelho, ela
passa a enxergar um vulto embrionário de uma criatura que não parece ser ela mesma, mas
uma “sombra”, como se relata a seguir:
Eu não conseguia me ver no espelho, todo tomado de vapor d’água, – mas somente
uma sombra negra bem no centro da superfície úmida. Da mesma forma, eu não
conseguia ver, como eu tinha desejado, um braço se elevando até o pescoço, um
corte suave e o fim da minha missão. 120
119
No original em inglês: “a figuration of one of the forgotten and suppressed narratives of colonialism: the rape
of colonized women by white male colonizers” (WICKRAMAGAMAGE, 1996, p. 73).
120
No original em inglês: “I could not see myself in the steamed-up mirror - only a shadow in the center of the
glass. I could not see, as I had wanted to, an arm reaching to the neck, the swift slice, the end of my mission”
(MUKHERJEE, 1991, p. 104).
220
Na verdade, em vez de se matar, Jasmine estende a língua e a corta em forma de
forquilha (o que provoca o aspecto de língua de cobra), como parte de um inesperado ritual de
transformação em Kali, a deusa hindu da vingança e da morte. A descrição da morte de HalfFace é muito mais trágica do que a narração do estupro de Jasmine, o que é bastante
sintomático em termos da potencial resistência do subordinado em relação ao seu opressor.
Todavia, paira no ar um certo senso de justiça que não nos remete à “monstruosidade”
potencial de Caliban. Na verdade, ocorre uma inversão, pois a alegada monstruosidade e a
luxúria desmedida atribuídas a Caliban estão totalmente representadas no ato vil do estupro
perpetrado por Half-Face contra uma mocinha inocente e “indefesa”. De acordo, com as
novas possibilidades desconstrutivas de interpretação, Jasmine pode ser “lida” como Caliban,
mas como “um Caliban diferente”: um sujeito pós-colonial em processo de aquisição
identitária, que de alguma forma consegue achar o seu caminho seguindo as trilhas dos
entrelugares a que ela sempre esteve sujeita. Em suma, mesmo sob condições extremamente
dolorosas, ela consegue estabelecer um padrão de resistência e sobrevivência. Em
conseqüência disso, reina no romance uma atmosfera positiva, possibilitada pela noção de que
ela vai conseguir impor sua própria voz e minar as forças de dominação.
É exatamente este tipo de comportamento de ruptura da parte da protagonista feminina
que faz o romance de Mukherjee assumir posição de destaque, se comparado a uma série de
outros que representam a construção da identidade de mulheres pós-coloniais do terceiromundo. Em grande parte deles, as personagens femininas têm um comportamento mais tíbio
com relação à conquista de voz e agenciamento. Porém, como Carmen Wickramagamage
afirma “Jasmine recusa-se a permanecer um corpo estuprado mudo. Ela ‘se salva’ porque
221
recusa aquela designação genérica e racista dela mesma que torna o estupro possível”
121
.
Além disso, a inesperada mudança de ação – de suicídio para homicídio – corresponde a uma
mudança radical de comportamento, na medida em que ela pára de se ver como um objeto de
sacrifício passivo (“woman as sati”) para considerar-se numa posição mais privilegiada como
mulher poderosa (“woman as shakti”), representada pela “incorporação” de Kali no momento
da morte de Half-Face. Tal fato é de extrema importância para a caracterização do
empoderamento de Jasmine, sua aquisição de voz e seu agenciamento, porque ele situa a
mulher numa posição singular, tanto na cultura indiana quanto na cultural ocidental, se o
papel de Kali for levado em consideração, conforme afirma Veena Das:
É significante que tanto em nível local e todo o nível da Índia em geral a deusa-mãe
na sua forma “shakti” normalmente aparece sozinha e não é abarcada por um
princípio masculino superior (...) A forma “shakti” da deusa aparece em contraste
com o princípio “sati’, no qual a mulher é apresentada como subordinada ao seu
marido. 122
Vale a pena ressaltar que a argumentação de Veena Das sublinha a aquisição de poder
por parte de Jasmine, já que ela demonstra a sua falta de inclinação para confirmar o
estereótipo normativo da mulher indiana autodestruidora e vítima de sacrifício123, assim como
o da “mulher do terceiro mundo”, de acordo com os parâmetros do discurso dominante. Além
disso, uma outra evidência do empoderamento de Jasmine é que ela inicialmente aceita a
ajuda de Half-Face, porque esse oferecimento parece estar simplesmente imbuído de razões
humanitárias, mas reage violentamente quando é afetada pelas conseqüências das suas reais
121
No original em inglês: “Jasmine refuses to remain a silent raped body. She ‘saves’ herself because she refuses
that racialized and gendered designation of herself which makes the rape possible” (WICKRAMAGAMAGE,
1996, p. 75).
122
No original em inglês: “It is significant that both at the local and all the Indian level, the mother goddess in
her shakti form usually stands alone, and is not encompassed in a higher male principle… The shakti form of the
goddess stands in contrast with the sati principle wherein the woman is represented as subordinated to her
husband” (VEENA DAS, 1998, p. 27).
123
Vale frisar que “sati” é também o nome do tradicional suicídio das viúvas na Índia, em que elas se atiram nas
labaredas da fogueira onde o corpo do marido está sendo cremado.
222
intenções, o que destrói a idéia de “mulher oriental submissa”, conforme lembrado por
Wickramagamage (1996, p. 74). A situação fica até mesmo irônica se recordarmos o fato de
que Half-Face é um herói da Guerra do Vietnã, ou seja, ele esteve na Ásia e aprendeu que a
vontade dos povos subordinados não tem importância. Assim, ele se sente no direito de
possuir o corpo de Jasmine porque ele apenas a vê como um corpo que é produto de
idealizações racistas e de gênero e que está ali para ser possuído. Entretanto, ele é forçado a
experimentar uma realidade trágica, conforme se verifica nas palavras de Jasmine: “Eu desejei
aquele momento quando ele me viu sobre ele no seu último instante de vida, nua, mas então
com a minha boca cheia e depois despejando sangue, com a minha língua vermelha para
fora”. 124
Aproveitando as referências pejorativas de Caliban e antes de partirmos para a tarefa
de pontilhar as instâncias de empoderamento de Grace Marks e o seu conseqüente processo de
formação identitária, decidimos enfocar rapidamente alguns exemplos históricos de, por assim
dizer, duas “versões femininas” de Caliban, sobre as quais os discursos coloniais obliterantes
lançaram tantas idealizações negativas. Referimo-nos aqui a Pocahontas e Malintzin Tenepal
(ou La Malinche). Primeiramente, enfocaremos brevemente a referência a Pocahontas feita
por Paul Brown em um artigo bastante instigante sobre A Tempestade e o discurso do
Colonialismo (1997). Antes de analisar os discursos colonizadores sobre Caliban, Brown
traça alguns paralelos dignos de nota. O primeiro deles dá conta do episódio ocorrido no
início da colonização da América, quando em 1614 (sete anos após a chegada dos primeiros
colonos ingleses em solo americano), o fazendeiro John Rolfe (cultivador do então “ouro
verde” da colônia, o tabaco) escreveu uma carta ao Governador da Colônia, pedindo a sua
bênção e o seu consentimento para que ele se casasse com Pocahontas, filha do Grande Chefe
Powhatan, que comandava várias comunidades indígenas na região costeira da Virgínia. Essa
124
No original em inglês: “I wanted that moment when he saw me above him as he had last seen me, naked, but
now with my mouth open, pouring blood, my red tongue out” (MUKHERJEE, 1991, p. 105-106).
223
carta é na verdade um documento de grande valor para o Colonialismo e as Teorias PósColoniais, pois situa John Rolfe como colonizador e Pocahontas como o “Outro” selvagem. É
aqui que posicionamos a princesa indígena como uma versão feminina do Caliban, uma vez
que ela é descrita como uma criatura “incrédula” e concupiscente, responsável pelo quase
incontrolável desejo de Rolfe. Em virtude disso, pelo bem da Colônia, pela ordem e pela
necessidade de conversão da alma da selvagem (e de todo o seu povo indígena), John Rolfe
resistiu à “tentação” carnal oferecida pela índia até o casamento. Na verdade, o casamento
com a filha do Grande Chefe Powhatan teve também motivações políticas (“o bem da
Colônia”), pois, uma vez casado com Pocahontas, formar-se-ia uma espécie de aliança de paz
com Powhatan. Note-se também que nos registros históricos consta o envolvimento
sentimental de Pocahontas com o fundador da Colônia da Virgínia, John Smith
(O’CALLAGHAN, 1990, p. 13). Vale ressaltar, igualmente, que na carta ao Governador da
Virgínia, Rolfe teria enfatizado o poder do sujeito público (colonizador), representante da
Coroa Inglesa (ele mesmo, no caso) para manter o autocontrole em face da extrema situação
de tentação carnal a que Pocahontas o arrastava. Através desse alegado autocontrole, ele pôde
trazer o “Outro” selvagem para o seu domínio, mesmo sob uma circunstância tão delicada em
que o seu desejo poderia ameaçar a própria condição de mestre (BROWN, 1997, p. 50). O
trecho que se segue dá conta do poder “civilizatório” que o contato com a metrópole pode
proporcionar ao selvagem:
Depois do seu ímpeto inicial de denunciar Rolfe como um traidor da Coroa, o Rei
Jaime I permitiu que a “princesa”, então batizada de Lady Rebecca, fosse recebida
na Corte, como um sinal evidente do poder civilizatório de transformar o Outro.
Pocahontas morreria inesperadamente após nove dias na Inglaterra;125 Rolfe
retornou para a sua plantação de tabaco, para acabar sendo morto no Grande
Levante Indígena de 1622. O mito da Pocahontas estava apenas começando,
entretanto. 126
125
O’Callaghan (1990, p. 15) registra que Pocahontas teve um filho com Rolfe e que o mesmo ficou na
Inglaterra, somente retornando à Virgínia quando adulto, criando um mito recorrente entre os habitantes da
Virgínia de que muitos deles seriam descendentes de Pocahontas. (Esta nota não consta no texto original de
Brown (1997); foi inserida pelo autor desta Tese.)
126
No original em inglês: “After his initial calls for Rolfe to be denounced as a traitor, James I allowed the
‘princess’, newly christened ‘Lady Rebecca’, into court as a visible evidence of the power of civility to transform
the other. Pocahontas was to die in England a nine day’s wonder; Rolfe returned to his tobacco plantation, to be
224
Não resta dúvida de que Pocahontas foi tratada como o Outro selvagem durante todo o
tempo, tanto por Rolfe, como pelos ingleses, o que facilita sua interpretação como uma versão
feminina histórica do Caliban ficcional de Shakespeare.
A outra personagem histórica que também pode ser tida como mais uma versão
feminina do “monstro” shakesperiano é Malintzin Tenepal, que se mitificou com o nome de
La Malinche. Diz-nos Mônica Castello Branco de Oliveira (2005, p. 3) que Malintzin era uma
menina indígena de uma família asteca nobre. Depois que o seu pai morreu, sua mãe casou-se
de novo e teve outro filho. A partir daí, Malintzin foi rejeitada pela própria mãe, que a vendeu
como escrava para a tribo Xicalango, a qual, por sua vez, a vendeu de novo para a tribo
Tlaxalteca. Adveio daí que Malintzin teve contato com diferentes tribos e culturas,
possibilitando-lhe o aprendizado de muitos dialetos. Quando os espanhóis invadiram o
México, Malintzin foi oferecida para eles como um presente. Ela tinha então quatorze anos,
quando se tornou a amante, a tradutora e a intérprete do conquistador Hernán Cortés.
Naturalmente, assim como ocorreu com Pocahontas, ela foi batizada e recebeu o nome de
Doña Marina. Os desdobramentos que se seguiram são apropriadamente expressos pelas
palavras de Mônica Oliveira, abaixo:
Fica claro que a estratégia usada para destruir o Império Asteca dependeu
grandemente da habilidade de Cortés se comunicar com os seus oponentes. Esta é a
razão pela qual Doña Marina, conhecida como ‘la lengua’ entre os soldados
espanhóis, foi de vital importância para o sucesso da conquista espanhola. Doña
Marina não foi simplesmente uma tradutora. Ela costumava dar a Cortés e às tribos
indígenas valorosos conselhos, auxiliando a conquista espanhola e contribuindo para
a formação de uma nova cultura, que era uma mistura das características indígenas e
espanholas. 127
killed in the great uprising of the Indians in 1622. The Pocahontas myth was only beginning, however”
(BROWN, 1997, p. 50)
127
No original em inglês: “It is clear that the strategy used to destroy the Aztec empire depended greatly on
Cortés’s ability to communicate with his opponents. That is the reason why Doña Marina, known as ‘la lengua’
among the Spanish soldiers, was of utmost importance for the success of the Spanish conquest. Doña Marina was
not only a translator. She used to give Cortés and the indigenous tribes pieces of advice, helping the Spanish
conquest and contributing to the formation of a new culture, the one which was a blend of Indian and Spanish
characteristics” (OLIVEIRA, 2005, p. 3).
225
Como já afirmamos, a Malintzin/Doña Marina histórica passou à condição de mito
como La Malinche, considerada uma traidora pelo povo mexicano, de forma que
normalmente a ela se referem como “La Chingada” (“the fucked one”, em inglês), ou como a
mãe que vendeu seus filhos para um povo estrangeiro. Todavia, ela também tem outro papel
relevante que não pode ser negligenciado – ela é considerada a mãe simbólica do povo
mexicano, uma vez que o seu filho com Cortés foi o primeiro “mestizo” mexicano, de forma
que se pode dizer que Malintzin originou uma nova raça – os mexicanos.
Assim, criou-se um mito paradoxal, que acabou virando um importante ícone de
resistência apropriado pelas feministas e escritoras chicanas, que vêem nela um símbolo de
coragem e busca de identidade. A respeito de Malintzin, Donna Haraway afirma que “as
mulheres de cor a transformaram da mãe maléfica dos medos masculinos na mãe alfabetizada
que ensina a sobrevivência”. 128 Já Norma Alarcón (1994, p. 14) mostra como Octávio Paz em
um dos seus ensaios torna-se o primeiro escritor a subverter o tradicional mito de La
Malinche, não a considerando como traidora. Ademais, Alárcon explica também como os
conceitos de “tradutora” e “traidora” se interpenetram na figura de La Malinche.
Enfim, percebe-se tanto na figura de Malintzin quanto na de Pocahontas a situação do
sujeito colonial feminino num entrelugar cultural, lingüístico, emocional e histórico, o que
problematiza as suas identidades e reafirma a necessidade de o colonizador as enxergar como
um Outro, selvagem e domesticável através da cristianização.
Como não poderia deixar de ser, os indivíduos envolvidos nesse complexo
emaranhado de relações, percalços e interpretações de versões históricas distorcidas sobre o
colonizado e o colonizador acabam por não sair ilesos desse processo, como aconteceu com
Pocahontas e Malintzin nos estratos históricos do Colonialismo.
128
No original em inglês: “Women of color have transformed her from the evil mother of masculinist fear into
the originally literate mother who teaches survival” (HARAWAY, 1990, p. 218-219).
226
No nível ficcional, em Jasmine e Alias Grace, essas relações são apresentadas nas
narrativas de uma forma dinâmica e multifacetada, também carregadas de percalços e
dificuldades, mas caracterizando o que Linda Hutcheon chama de descentramento filosófico,
arqueológico e psicanalítico do conceito de sujeito (HUTCHEON, 1992, p. 159), o que já
reduz o indício de vitimização das personagens e aponta para possibilidades mais positivas de
construção identitária. Em virtude da ênfase nas representações peculiares da subjetividade
das protagonistas e na forma das narrativas, que não privilegiam visões e interpretações
monolíticas e, portanto, definitivamente formatadas, o que se verifica, em conseqüência, é o
efeito da reescritura, da reinterpretação de fatos históricos (da vida pública e privada) e a
recriação de gêneros narrativos, em maior ou menor grau, num e noutro romance.
Tendo, então, como premissas básicas para uma leitura comparativa de Jasmine e
Alias Grace algumas das características pós-modernas citadas, percebem-se, de imediato, as
brechas e as lacunas que se evidenciam quando da análise mais detida dos dois romances.
Entretanto, apesar dessas brechas e lacunas, - e usando uma metáfora recorrente em Alias
Grace e amplamente aludida no Capítulo 2 - é possível “costurar” alguns pontos das várias
interseções entre os dois romances, fazendo com que eles se toquem naquilo que têm de mais
comum: as questões relativas às diásporas e à construção/representação das identidades dos
sujeitos pós-coloniais femininos que neles figuram.
Ainda a propósito da metáfora da costura em Alias Grace, deve-se registrar que esse
recurso narrativo pode ser visto por outro ângulo comparativo, pois também dá conta da
ansiedade das protagonistas femininas dos dois romances de juntar os vários pedaços e
fragmentos das suas vidas, emoções e sentimentos, assim como também pode representar as
características pós-modernas de analisar, reinterpretar, reescrever e juntar fragmentos
dispersos, incluindo as margens e corporificando um campo de interpretações extremamente
abrangente.
227
Em Jasmine, por exemplo, o que mais marca a narrativa é o seu alto grau de
fragmentação, uma vez que Bharati Mukherjee não adota uma abordagem linear na
apresentação dos eventos e das várias personalidades da sua protagonista, expostas como se
fossem reencarnações, ou outras vidas, da mesma mulher. Por todos os vinte e seis capítulos
de que o romance é constituído, a protagonista é sucessivamente chamada de Jyoti, Jasmine,
Kali (a deusa Hindu da morte e da vingança), Jazzy, Jase e Jane Ripplemeyer, de acordo com
os seus deslocamentos diaspóricos e os homens que tem.
Para efeito de simplificação, nos concentraremos, a partir de agora, nas interseções
entre Jasmine e Alias Grace que enfocam os deslocamentos diaspóricos e a formação das
identidades dos sujeitos pós-coloniais femininos. Em suma, esta linha de pensamento
desconstrói as noções de identidade fixa e estável do sujeito pós-moderno retratado na
literatura, assim como não lhe reserva um espaço físico contíguo e restrito de movimentação,
delimitado por fronteiras nacionais, graças aos processos diaspóricos a que as condições
colonial e pós-colonial têm submetido esses mesmos sujeitos pós-coloniais.
Embora em Jasmine a questão diaspórica afete a trajetória da protagonista feminina de
uma forma radical, tornando-se uma das forças motrizes a verdadeiramente lançá-la num
turbilhão de deslocamentos geográficos transnacionais e rompimentos emocionais, em Alias
Grace a questão diaspórica aparece minimizada, em função da pujança da metaficção
historiográfica, o gênero narrativo predominante no romance.
Contudo, as menções e caracterizações de Grace Marks a trazem para a mesma
condição de subalternidade que atinge Jasmine, a protagonista do livro de Bharati Mukherjee.
Em conseqüência, por mais paradoxal que possa parecer, as suas condições de sujeitos póscoloniais femininos subalternos vão se alternando e mesclando com os seus respectivos
potenciais de superação dessa pecha, que as oprime e exclui duplamente, por serem sujeitos
pós-coloniais e mulheres.
228
Rememorando o sumário retrospectivo dos dois romances, já efetivado no Capítulo 1,
ressaltamos de início a importância dos deslocamentos diaspóricos nas vidas das duas
protagonistas como fatores enfatizadores da fluidez das suas alteridades e de todos os eventos
que têm relação com as suas vidas. Primeiramente, enfocaremos a situação de Jasmine,
porque a diáspora parece exercer efeito mais contundente nela do que em Grace Marks. Na
verdade, a certa altura, a personalidade e o psiquismo de Jasmine parecem estar tão
fragmentados que se tem a impressão de que ela vai continuar a se desdobrar em outras
personalidades indefinidamente, como se já estivesse tão inexoravelmente envolvida num
processo de assimilação cultural e hibridização que a identidade fixa e a localização
geográfica estável já não mais pudessem fazer parte da sua vida, como se ilustra na seguinte
passagem do romance:
Existem linhas aéreas nacionais voando pelo mundo que não figuram em qualquer
lista ou catálogo oficial. Existem certos vôos fretados que perderam seus rumos e
agora simplesmente voam, improvisando suas tripulações e destinos. Em tais vôos
não se serve comida nem bebida, e sua tripulação parece ser explorada. Existe um
mundo nas sombras aéreas que permanentemente divide as rotas e freqüências de
rádio com a Pan Am, a British Air e a Air-India, embarcando pessoas que coexistem
com turistas e homens de negócios. Mas nós somos refugiados, mercenários e
trabalhadores convidados. Podemos ser vistos dormindo em saguões de aeroportos;
desembrulhando o que sobrou das nossas comidas nativas; estendendo os nossos
tapetes para ajoelharmos e rezarmos; lendo os nossos livros sagrados; abrindo, pela
centésima vez, um telegrama prometendo um emprego ou simplesmente um canto
para dormir; folheando um jornal em nossa língua; olhando uma foto de tempos
mais felizes; segurando um passaporte, um visto (...). 129
A citação acima afigura-se como representativa de uma das passagens que mais
fielmente retratam a condição “hifenada” e híbrida da protagonista, uma vez que descreve
129
No original em inglês: “There are national airlines flying the world that do not appear in any directory. There
are charters who’ve lost their way and now just fly, improvising crews and destinations. They serve no food, no
beverages. Their crews often look abused. There is a shadow world of permanently aloft that share air lines and
radio frequencies with Pan Am and British Air and Air-India, portaging people who coexist with tourists and
businessmen. But we are refugees and mercenaries and guest workers; you see us sleeping in airport lounges,
you watch us unwrapping the last of our native foods, unrolling our prayer rugs, reading our holy books, taking
out for the hundredth time an aerogram promising a job or a space to sleep, a newspaper in our language, a
photo of happier times, a passport, a visa, a laissez-passer” (MUKHERJEE, 1991, p. 90).
229
claramente o fato de estar em um entrelugar (BHABHA, 2003). Ainda segundo Bhabha, essa
condição tão comumente comungada por imigrantes reais e ficcionais gera ansiedades,
confusões e um sentido de desorientação com relação ao que está por vir (aquilo que já está na
esfera do “pós”). Como resultado desse processo, o autor afirma que a consciência das
posições do sujeito (em termos de raça, gênero, lugar institucional, localidade geopolítica e
orientação sexual) passou a se originar do afastamento das singularidades de “classe” e de
“gênero” como categorias conceituais e organizacionais fixas e estáveis. Dessa nova forma de
se encarar e teorizar o sujeito surgem os “entrelugares”, que fornecem o terreno adequado
para a elaboração de estratégias de subjetificação – individual ou coletiva - , e dão início a
novos paradigmas identitários, assim como postos inovadores de colaboração e de contestação
no ato de definir a própria identidade (BHABHA, 2003, p.20). Um bom exemplo dessas
brechas e desse sentido de desorientação, assim como de se estar nos “entrelugares”
identitários e geográficos, é retratado na seguinte passagem de Jasmine:
Eu nunca deveria ter sido Jane Riplemeyer de Baden, Iowa. Eu deveria ter nascido e
morrido naquele vilarejo feudal, talvez fazendo um salto monumental para a
moderna Julundar. O Lorde Yama a deveria ter levado – “Sim”, eu digo a ela, “Eu
acredito mesmo no que você diz”. Nós de fato continuamos a revisitar o mundo. Eu
mesma viajei no tempo e no espaço – isto é possível.” Jyoti de Hasnapur não era a
Jasmine, nem a babazinha de Duff e Taylor, nem a au pair de Willie em Manhattan;
aquela Jasmine não é esta Jane Ripplemeyer almoçando hoje com Mary Webber no
Clube da Universidade. E qual de nós será a criminosa não detectada de um monstro
de meia-face? Qual de nós teve um marido moribundo e agonizante? Qual de nós foi
continuamente estuprada, estuprada e estuprada em barcos, carros e quartos de
motéis? 130
130
No original em inglês: “I should never have been Jane Ripplemeyer of Baden, Iowa. I should have lived and
died in that feudal village, perhaps making a monumental leap to modern Jullundhar. When Jyoti’s future was
blocked after the death of Prakash, Lord Yama should have taken her. “Yes”, I say, “I do believe you. We do
keep revisiting the world. I have also traveled in time and space. It is possible. “Jyoti of Hasnapur was not
Jasmine, Duff’s day mummy and Taylor and Willie’s au pair in Manhattan; that Jasmine isn’t this Jane
Ripplemeyer having lunch with Mary Webber at the University Club today. And which of us is the undetected
murderer of a half-faced monster, which of us has held a dying husband, which of us was raped and raped and
raped in boats and cars and motels rooms?”(MUKHERJEE, 1991, p. 113-114).
230
Como se pode constatar, a passagem acima é de grande importância para as nossas
argumentações por uma série de razões: ela representa uma verdadeira celebração da
alteridade, uma vez que a narradora Jane Ripplemeyer claramente reconhece que ela é várias
mulheres numa só. Além do mais, fica igualmente claro como a autora utiliza o princípio
cultural e religioso da reencarnação, tanto de uma forma factual (como se a protagonista de
fato acreditasse nesse “lugar-comum” para os indianos, de um modo geral), quanto
metafórica, pois se podem interpretar essas falas como altamente irônicas, uma vez que a Dra.
Mary Webber, a interlocutora de Jane na cena, acredita em reencarnação e está falando disso,
ao passo que Jane entende “reencarnação” aqui como as fragmentações identitárias a que ela
está exposta, por conta da condição diaspórica a que é compulsoriamente submetida. A
evidência da incorporação desses valores culturais religiosos também se verifica no desabafo
que a protagonista faz ao lamentar o fato de que o “Lorde Yama” não a tenha levado da vida
carnal, para que ela não tivesse que passar por tantas agruras.
Enfim, a condição de estar em diversos entrelugares parece que simultaneamente
abarca as alteridades, as identidades, a transnacionalidade, os valores culturais e religiosos e a
situação geográfica e territorial que caracterizam e afetam a trajetória do sujeito pós-colonial
feminino. Para finalizar esta série de considerações fragmentárias sobre Jasmine, citamos
também a emblemática passagem: “Eu tive um marido para cada uma das mulheres que eu
fui: Prakash para a Jasmine; Taylor para a Jase; Bud para a Jane; e Half-Face para a Kali”. 131
Essa mesma questão dos entrelugares também afeta a trajetória e o processo identitário
de Grace Marks de variadas formas. Começando a abordagem pela questão da
transnacionalidade, podemos afirmar que o forte preconceito contra os imigrantes irlandeses
na Toronto do século XIX faz com que Grace se ressinta da falta de associações positivas com
tudo o que é de origem irlandesa ou lembre aquela nacionalidade e aquele país. Na verdade,
131
No original em inglês: “I have had a husband for each of the women I have been. Prakash for Jasmine, Taylor
for Jase, Bud for Jane. Half-Face for Kali” (MUKHERJEE, 1991, p. 175).
231
todas as lembranças e reminiscências do seu curto passado irlandês estão repletas de dores e
traumas, a começar pela sua infância – época em que ela e a sua família proletária amargaram
as mais extremas dificuldades, não somente em função da falta de solidariedade étnica que a
família experimentou, mas sobretudo pela extrema pobreza, que no discurso de Grace parece
mais atribuída à opressão inglesa do que às reais condições materiais do seu avô e do seu pai.
A esses fatores desagregadores ainda se soma o fato de que, por se ter separado muito cedo de
ligações familiares, Grace Marks não teve tempo de desenvolver fortes laços identitários com
a Irlanda e a sua cultura, pois a mãe morreu na viagem de navio e ela se separou do pai e dos
irmãos já em terras canadenses, uma vez que passou a trabalhar em casas de família como
doméstica. Isso acaba tendo um efeito devastador para Grace Marks, conforme se revela pelo
seu próprio relato, como por exemplo, quando afirma não se recordar muito bem do lugar de
onde viera, expondo os efeitos disso sobre a sua consciência de lugar e de identidade
nacional:
Eu não me lembro muito bem do lugar, já que eu era uma criança quando saí de lá.
Lembro-me somente de algumas coisas esparsas, como se fossem um prato que
tivesse se quebrado. Há sempre alguns cacos que parecem pertencer a outros pratos,
e há os espaços vazios nos quais não se pode colocar nenhum desses cacos, nem
nenhuma outra coisa que possa preenchê-los. 132
No entanto, há a questão da divisão religiosa entre o catolicismo e o protestantismo na
Irlanda – e isto é uma das poucas heranças culturais da sua terra que Grace Marks vai utilizar
num sentido que pensa ser positivo: como ela veio do norte da Irlanda (a parte protestante do
país) ela acredita que isso lhe dê algum prestígio aos olhos dos canadenses, porém esse dado
tem de fato um efeito inócuo, pois Grace Marks é uma alienígena no seio da comunidade
colonial da Toronto do século XIX. Na verdade o que poderia redimi-la não seria a religião
132
No original em inglês: “I don’t recall the place very well, as I was a child when I left it; only in scraps, like a
plate that has been broken. There are always some pieces that would seem to belong to another plate altogether;
and then there are the empty spaces, where you cannot fit anything in” (ATWOOD, 1996, p. 103).
232
católica ou a protestante do seu país de origem, mas sim a conversão ao ramo protestante do
Metodismo, como abordaremos alguns parágrafos mais adiante.
Mesmo sendo uma colonizada branca e protestante, Grace Marks representa um tipo
de imigrante indesejável, o que expõe outra faceta das relações coloniais e pós-coloniais entre
os povos, uma vez que as questões de raça e etnia “parecem” não ter um papel tão importante
no romance de Margaret Atwood, já que Grace Marks é tão vitimizada e humilhada quanto
um(a) imigrante de aparência não caucasiana e de pele escura, conforme veremos adiante.
Ressalte-se, aqui, que o emaranhado das relações coloniais que vão determinar essas sutilezas
de preconceito e segregação em Alias Grace envolvem a Inglaterra (país opressor da Irlanda
até os dias atuais), a própria Irlanda, que sempre amargou os efeitos das ações colonizadoras
britânicas, e o Canadá, país em si híbrido e dividido, dada a sua história de colonização levada
a efeito tanto pela França, quanto pela Inglaterra, e tendo que lidar com a influência cultural
dos vizinhos americanos até a atualidade, como tão bem se faz retratado em Surfacing,
também de Atwood. De qualquer modo, o Canadá mostrado em Alias Grace aparece como
uma extensão do Império Britânico de além-mar mais do que uma colônia propriamente dita.
Abordando então as questões mais caracterizadoras dos aspectos pós-coloniais da saga
de Grace Marks, enquanto sujeito pós-colonial feminino, destacamos alguns episódios dos
Capítulos 13 e 14 do romance, pois eles não somente dão conta dos entrelugares que
fragmentam as alteridades de Grace, como também evidenciam as agruras e os sofrimentos
que marcam a sua condição de subalternidade. No capítulo 13, por exemplo, Grace Marks
conta um pouco da sua história pregressa e da sua origem obscura, passando as impressões
negativas que sua tia Pauline tinha do seu pai:
Quanto ao meu pai, ele não era nem mesmo irlandês. Ele era do norte da Inglaterra,
e a razão pela qual tinha vindo para a Irlanda nunca ficou clara, uma vez que a
maioria dos que se dispunha a viajar optava pelo trajeto oposto. Marks pode não ter
233
sido o seu verdadeiro nome, ela disse; ele deve ter sido “marca” 133 , provavelmente
a marca de Caim, já que ele possuía uma indefectível aparência de criminoso. Mas
ela somente disse isso mais tarde, quando as coisas já tinham piorado. 134
No capítulo 14, Grace Marks, ainda menina, emigra com a família para o Canadá, e
tem uma viagem cheia de transtornos, desconfortos e tristezas, em que, inclusive, perde a
mãe, que adoece, morre e acaba tendo o mar por sepultura. As agruras narradas nesse capítulo
são tão ou mais inomináveis do que as passadas por Jasmine na sua viagem de navio para os
Estados Unidos. Uma certa passagem desse capítulo dá a exata dimensão do processo
degradante de tratamento a que os passageiros do navio eram submetidos:
O navio estava parado ao longo do cais, (...) mais tarde fiquei sabendo que ele trazia
toras de madeira do Canadá para o Oriente, e levava imigrantes para o ocidente
quando retornava para o Canadá, e tanto toras de madeira quanto pessoas eram
vistas como a mesma coisa, ou seja, cargas a serem transportadas. 135
Porém, o drama de Grace Marks somente estava começando. Ao chegar em Toronto,
ela transita por vários empregos como doméstica até se fixar na casa do fazendeiro Thomas
Kinnear, por quem se apaixona. Nessa casa de fazenda vão se desenrolar os trágicos
homicídios de Thomas Kinnear e da sua governanta/amante Nancy Montgomery, que levarão
Grace Marks à prisão e James McDermott ao enforcamento, conforme já detalhado no
Capítulo 2.
133
É interessante notar como a autora brinca com as palavras: “Marks” (o sobrenome da protagonista) e
“Marks”(como em “a marca de Caim”, a marca do mal), para expressar as idealizações negativas que a
sociedade canadense do século XIX projetava na imigrante irlandesa Grace Marks, de acordo com o que narra
Margaret Atwood.
134
No original em inglês: “As for my father, he was not even Irish. He was an Englishman from the north of it,
and why he had come to Ireland was never clear, as most who were inclined to travel went in the other direction.
Aunt Pauline said he must have been in trouble in England, and had come across to get himself out of the way in
a hurry. Marks may not even have been his real name, she said; it should have been Mark, for the Mark of Cain,
as he had a murderous look about him. But she only said that later, when things had gone wrong” ( ATWOOD,
1997, p. 105)”
135
No original em inglês: “The ship was lying alongside the dock; (...) and later I was told that it brought logs of
wood eastward from the Canadas, and emigrants westward the other way, and both were viewed in much the
same light, as cargo to be ferried” (ATWOOD, 1991, p. 112).
234
Uma vez que as personagens mencionadas são históricas e o crime realmente ocorreu
e chocou toda a sociedade canadense de então, a condição pós-colonial entra em cena,
adicionando novas nuances à história. Grace Marks é um sujeito colonial/pós-colonial
feminino diferente de Jasmine, porque ela também é branca como o colonizador, e, portanto,
tem mais dificuldade de se conscientizar da sua condição de Outro. Entretanto, a seguinte
passagem expõe magistralmente um dos momentos de maior conscientização da personagem
acerca da sua condição subalterna, porém não sem evidenciar uma característica típica do seu
país de origem no que diz respeito à religião, pois, já que não era católica, o fato de ser
protestante a tornava “menos diferente” do colonizador britânico ou canadense, segundo ela
acreditava:
O que se lê no começo da minha confissão é de fato verdadeiro. Eu sou mesmo da
Irlanda, embora eu tenha achado bastante injusto quando escreveram nela que
ambos os acusados admitem por livre e espontânea vontade que são irlandeses. Isso
fez com que o fato de ser irlandês soasse como se fosse crime, muito embora eu
sempre tenha visto essa condição ser tratada como tal. Mas, é claro, a nossa família
era protestante, e isso nos fazia diferentes. 136
Ora, observa-se aqui uma falsa idéia de identificação com o colonizador pela qual
Grace Marks se deixa envolver, mas que na verdade denuncia ainda mais a sua situação de
estar ocupando um “entrelugar” cultural, étnico e social. A esse respeito, as seguintes
considerações de Ania Loomba dão conta da ansiedade meio esquizofrênica do subalterno
quanto à necessidade de se identificar com o colonizador/opressor:
Bhabha volta a Fanon para sugerir que liminalidade e hibridismo são atributos da
condição colonial. Para Fanon, vocês se recordarão, o trauma emocional resulta de
quando o colonizado entende que ele jamais vai atingir a brancura que lhe
ensinaram a desejar, ou até mesmo apagar a cor escura que lhe ensinaram a
136
No original em inglês: “What it says at the beginning of my Confession is true enough. I did indeed come
from the North of Ireland; though I thought it very unjust when they wrote down that both the accused are
from Ireland by their own admission. That made it sound like a crime, and I don’t know that being from Ireland
is a crime; although I have often seen it treated as such. But of course our family were Protestants, and that
is different” (Ibid, p.103).
235
desvalorizar. Bhabha amplia a questão para sugerir que as identidades coloniais
constituem sempre um caso de fluxo e agonia. “Ela é sempre”, escreve Bhabha
sobre a importância de Fanon para o nosso tempo, “em relação ao lugar do Outro
que o desejo colonial é articulado”. A imagem fanônica das peles negras/máscaras
brancas não é, explica Bhabha, uma “divisão limítrofe”, mas antes “uma imagem de
divisão dupla de se estar em dois lugares ao mesmo tempo que torna possível para o
subalterno, o `evolué` insaciável (um abandono neurótico, segundo Fanon), aceitar o
convite para a identificação feito pelo colonizador: - `Você é um médico, um
escritor, um aluno, você é diferente, você é um dos nossos`. Mas é exatamente por
esse uso ambivalente de “diferente” – ser diferente daqueles que são diferentes
fazem o indivíduo ser o mesmo que eles – que o inconsciente fala sobre a forma da
outridade, da sombra subordinada ao adiamento e ao deslocamento (...)”. 137
Porém, Ania Loomba prossegue com seu arrazoado e acaba por lançar mais luz sobre
essa palpitante questão que as argumentações de Grace Marks trazem à tona, esclarecendo
que o que aos olhos de Grace parece constituir uma saída, uma solução para as diferenças
entre ela e os canadenses, na verdade não passa de uma armadilha escondida. Vejamos então
o complemento dessas idéias de Loomba:
Mesmo quando as ideologias imperiais e racistas insistem na questão da diferença
racial, elas catalisam cruzamentos, em parte porque nem tudo o que ocorre nas
“áreas de contato” pode ser monitorado ou controlado, mas também como resultado
de uma deliberada política colonial. Uma das mais impactantes contradições sobre o
colonialismo é que ele tanto precisa “civilizar” os seus outros, como também fixálos em outridade perpétua. 138
A estratégia de Grace então se constitui em sobrepor a sua condição de protestante à
de irlandesa. Vale lembrar que ela põe tal fato em evidência desde muito cedo, na verdade
136 No original em inglês: “Bhabha goes back to Fanon to suggest that liminality and hybridity are attributes of
the colonial condition. For fanon, you will recall, psychic trauma results when the colonized subject realizes that
he can never attain the whiteness he has been taught to desire, or shed the blackness he has learnt to devalue.
Bhabha amplifies this to suggest that colonial identities are always a matter of flux and agony. “It is always”,
writes Bhabha about Fanon`s importance to our time, “in relation to the place of the Other that colonial desire is
articulated”. Fannon`s image of black skins/white masks is not, Bhabha explains, a “near division”, but “a
doubling dissembling image of being in at least two places at once which makes it possible for the devalued,
insatiable evolué (an abandonment neurotic, Fanon explains) to accept the colonizer`s invitation to identity: `You’re a doctor, a writer, a student, you’re different, you’re one of us`. It is precisely in that ambivalent use of
`different` - to be different from those that are different makes you the same - that the Unconscious speaks of the
form of the Otherness, the tethered shadow of deferral and displacement (…)” (LOOMBA, 1998, p. 174).
138
No original em inglês: “Even as imperial and racist ideologies insist on racial difference, they catalyze crossovers, partly because not all that takes place in the ‘contact zones’ can be monitored and controlled, but
sometimes also as a result of deliberate colonial policy. One of the most striking contradictions about
colonialism is that it needs to `civilize` its others, and to fix them in perpetual otherness” (LOOMBA, 1998, p.
173).
236
assim que chega em solo canadense. Um bom exemplo disso se dá na passagem em que ela
tem doze anos de idade e se candidata a uma vaga de doméstica. Pelas próprias palavras de
Grace Marks, percebe-se que a governanta vai agir preconceituosamente quando ela quer
saber: “Se eu era católica, como todos os irlandeses geralmente eram; e, se eu fosse, ela não ia
querer conversa comigo, já que os católicos são supersticiosos e papistas rebeldes que
estavam arruinando o país”.139 Depois dessa passagem, Grace tenta a todo custo desvencilharse de qualquer possibilidade de ser confundida com uma católica, como quando enfatiza
reiteradamente o seu protestantismo de origem, ou quando demonstra desgosto ao ver James
McDermott se benzer e o considera muito “papista” (p. 332). Enfim, embora nunca chegue a
fazer tanto quanto o seu pai – que esteve envolvido em ataques terroristas contra os católicos
irlandeses -, Grace age sempre tão rapidamente quanto possível para livrar o seu nome de
qualquer conexão com o mundo católico. No entanto, apesar de todo esse sacrifício, Grace é
marcada como irlandesa de várias formas diferentes. Em certa passagem, o Dr. Simon “nota”
um “traço do sotaque do norte da Irlanda” 140 na voz de Grace. Além disso, o seu cabelo ruivo
é sempre alvo de comentários desairosos, como nas passagens em que Grace lê nos jornais
descrições da sua própria pessoa como possuidora do mesmo “cabelo ruivo de um ogro”
141
,
ou numa outra em que a governanta que a entrevistara para um outro emprego queria saber se
Grace “é mal-humorada, já que todos os ruivos freqüentemente o eram”. Mais ainda, há outras
duas passagens em que a cor do cabelo denunciava características proibitivas em Grace
Marks: os guardas da prisão acreditavam que ela pudesse estar sexualmente disponível para
eles já que “um pouco de fogo sempre advém da cor ruiva dos cabelos”
142
de uma mulher.
Grace Marks não somente é marcada pela ascendência céltica, pela cor dos cabelos, mas
139
No original em inglês: “If I was Catholic, as those from Ireland generally were; and if so she would not have
nothing to do with me, as the Catholics were superstitious and rebellious Papists who were ruining the country”
(ATWOOD, 1996, p. 128).
140
No original em inglês: “a trace of the Northern Irish accent in her voice” (Ibid, p. 133).
141
No original em inglês: “The red hair of an Ogre” (Ibid, p. 33).
142
No original em inglês: “(...) a little fire comes with the redness of the hair” (ATWOOD, 1996, p. 240).
237
também é identificada como católica quando o seu próprio advogado, identificando-se com as
dificuldades que Simon tinha de chegar ao fundo da história de Grace Marks, subitamente lhe
dá o epíteto de “Nossa Senhora dos Silêncios”
143
. Enfim, Grace Marks nessa passagem é
identificada com uma acepção nova da Virgem Maria, pois a marca “negativa” do catolicismo
parece ser “naturalmente” associada à condição subalterna de irlandesa. De qualquer forma,
essa identificação de Grace Marks com uma acepção da Virgem Maria especialmente criada
para que Grace se “encaixasse” nela aponta para uma certa dose de empoderamento. Ora, se
recordarmos as idéias de Trinh T. Minh-ha sobre o valor subversivo do silêncio das mulheres,
conforme já abordado no Capítulo 4, perceberemos que os silêncios e as lacunas no discurso
de Grace Marks na verdade problematizam e tornam mais complexa a identidade dela. Na
medida em que “quem é Grace Marks” fica mais difícil de ser apreendido por Simon Jordan
ou qualquer outro personagem no romance, mais ricos e problematizados se tornam os
matizes identitários que circundam a protagonista do livro de Atwood.
Voltando à questão do protestantismo de Grace Marks, no livro registra-se que ela era
mesmo metodista e que o seu avô materno tinha sido um pastor que certo dia decidira “fazer
algo inesperado com o dinheiro da igreja”
144
, perdendo então seu prestígio e deixando a
família em situação de dificuldade. Contudo, Grace, quando adulta, mantém a religião do seu
avô materno, talvez menos por devoção do que por uma estratégia de se tornar aceita naquela
sociedade hostil, pois, de acordo com o que argumentam Cecil Houston e William Smyth, as
igrejas protestantes de modo geral, mas especialmente as metodistas - que cresciam
rapidamente -, serviam como fóruns de fusão étnica (1990, p. 169) e eram palcos de
casamentos interétnicos de escoceses, ingleses, colonos norte-americanos e irlandeses. Dessa
forma, a religião anglicana era imediatamente associada à etnia britânica e a presbiteriana à
escocesa, ao passo que a etnia dos membros do Metodismo era difícil de se definir com
143
144
No original em inglês “Our Lady of the Silences” (Ibid, p. 373).
No original em inglês: “had done something unexpected with the church money” (Ibid, p. 104).
238
precisão. De qualquer forma, Houston e Smyth ponderam que as igrejas protestantes
(principalmente as metodistas) são parcialmente responsáveis pelo 'desaparecimento dos
irlandeses’ no Canadá (1990, p. 3), mesmo numa época de grande imigração de irlandeses
(entre 1815 e 1845), pois os casamentos interétnicos e a condição de membros daquela igreja
eram fatores que “transformavam” a etnia irlandesa na canadense. Até mesmo um dos
principais personagens que acreditava na inocência de Grace Marks, o Reverendo Verringer,
era um ministro metodista.
Passando agora para as questões que interligam a personalidade de Grace Marks às
personalidades das outras moças irlandesas que são fundamentais para se entender o processo
de formação da sua identidade, destacamos que as histórias que Grace Marks contava ao
psiquiatra ficcional Simon Jordan envolviam basicamente três personagens femininas – ela
mesma, Mary Whitney e Nancy Montgomery. A primeira interseção que une as três é o fato
de terem sido “seduzidas” ou estarem de alguma forma envolvidas em relações libidinosas.
De algum modo, esse fato precipitou o destino trágico de todas elas e expôs certas falhas
“imperdoáveis” que cometeram – a falha de não conseguir conter a expressão dos seus
impulsos sexuais dentro da esfera doméstica de uma vida de casada. A gravidez foi o
resultado dessa “falha” nos casos de Mary Whitney e Nancy Montgomery, e embora a própria
Grace não tenha engravidado (apesar das sugestões de possível concessão de favores sexuais a
James McDermott, seu suposto cúmplice no assassinato de Kinnear), as gravidezes das outras
moças (que são verdadeiros alter-egos de Grace) marcaram a vida desta para sempre. Note-se
que há muito tempo sua tia Pauline fizera comentários sobre os riscos de gravidez indesejada,
que parecia se ter tornado uma moda, já que “muitas moças novas caíam nessa armadilha” 145.
Na verdade, se a gravidez for vista como uma armadilha em larga escala, pode-se dizer que a
145
No original em inglês: “(...) too many young women were caught in that fashion” (ATWOOD, 1996, p. 105).
239
própria mãe da protagonista foi “vítima do sistema de reprodução”, que gerou pobreza, dores,
doença e morte para a família de Grace Marks.
Um fato marcante na vida de Grace é que após a morte da sua mãe ela achou uma
nova figura materna na mais madura Mary Whitney, com quem passou a trabalhar como
lavadeira no seu primeiro emprego como doméstica. Mary também era órfã e era três anos
mais velha do que Grace. Tornou-se de imediato mãe e amiga da pequena Grace, que
conhecera tão pouco carinho de mãe e quase nenhuma amizade. Assim, é bastante sintomática
a afirmação de Grace de que “Mary colocou-me logo debaixo das suas asas desde o primeiro
momento” 146 e “confortou-me muito melhor do que minha própria mãe poderia ter feito, pois
ela estava sempre muito doente ou muito cansada” 147. Enfim, Mary Whitney ensinou Grace a
trabalhar e a ser uma pessoa respeitável e amada, cumprindo os papéis de mãe e amiga e
orientando Grace na vida sexual – explicou para ela, por exemplo, que não havia nada errado
com o seu corpo e a sua saúde quando teve os sintomas da primeira menstruação. Igualmente,
Mary ensinou a ela que os papéis sociais reservados para as mulheres pobres e as imigrantes
como elas eram os de criada, esposa respeitável, mulher louca (principalmente se houvesse a
opção por um desregamento de conduta sexual) e de prostituta (se ocorresse gravidez fora do
casamento e isso tornasse a mulher uma pessoa “não séria o suficiente” para merecer que um
homem a pedisse em casamento). Enfim, os papéis sociais da mulher apresentados por Mary a
Grace eram os de esposa, criada, louca e prostituta – e de certa forma Grace exerceu todos
esses papéis durante a sua vida: começou como criada, depois ficou nacionalmente conhecida
no Canadá como mulher assassina e de conduta sexual não recomendável, em seguida foi tida
como louca e, por fim, casou-se com Jamie Walsh e acomodou-se a uma vida doméstica numa
pequena propriedade rural nos Estados Unidos.
146
No original em inglês: “Mary took me under her wing from the very first” (Ibid, p. 151).
No original em inglês: “(...) she put her arms around me, and comforted me, better than my own mother could
have done, for she was always too busy or tired dor ill” (Ibid, p. 164).
147
240
Quanto à relação de Grace com Nancy, apesar dos supostos ciúmes que Grace tinha
dela, havia sinais inequívocos de identificação desta com a amante de Kinnear. Até mesmo
um indício de solidariedade entre elas aparece quando Grace desconfia dos primeiros sinais da
gravidez de Nancy e imagina os maus momentos que Nancy enfrentará, inclusive com a perda
da reputação de “moça honesta”, caso Kinnear não a ampare naquele momento tão delicado
da vida de uma mulher.
Todavia, as ligações entre as três mulheres se tornam mais caracterizadoras da
problematização identitária de Grace Marks quando a questão da suposta insanidade dela
entra em cena. A partir daí, os fenômenos polifônicos tornam as vozes narradoras do romance
mais complexas, pois a própria voz de Grace se mistura com as de Nancy e Mary em várias
passagens específicas. Numa delas, a voz de Grace Marks dá lugar à suposta voz do espírito
de Mary Whitney, em uma sessão de hipnotismo em que Jeremiah (um falso hipnotizador e
antigo conhecido de Grace), Dr. Jordan, o Reverendo Verringer e um círculo de simpatizantes
e defensores da inocência da protagonista se reúnem para tentar ver se através daquele tipo de
sessão descobrem a verdade sobre a participação ou não de Grace nos assassinatos de Kinnear
e Nancy. O que sucede então é uma cena primorosa em que se meclam as ondas de
espiritualismo que varriam a América do Norte no século XIX, as supostas novas técnicas de
hipnotismo e a ligeira abertura que alguns psiquiatras tradicionais estavam se permitindo na
tentativa de chegar a conclusões para os complexos efeitos e sintomas das doenças mentais. O
resultado da sessão, no entanto, deixou os assistentes mais perplexos ainda, pois Grace foi
“tomada” pelo espírito de Mary Whitney, que havia morrido em função de um aborto mal
conduzido, e que alegou ter também “entrado” no corpo de Grace no dia dos assassinatos, de
modo que, independemente do que tenha ocorrido, Grace não teria tido culpa nem
participação nos eventos.
241
Além dessa passagem, há a descrição de várias outras em que Grace ouve ou assume
as vozes das outras duas mulheres, tornando inequívoca a identificação de um processo
favorável de construção identitária, apesar das interpretações negativas desse fenômenos
polifônicos que se sugere serem atrelados à possível insanidade da protagonista (registre-se
que a loucura de Grace Marks não é tida como absolutamente inquestionável no romance,
podendo ser interpretada também como uma das estratégias de resistência sutis e inteligentes
de que Grace possivelmente lançara mão para sobreviver às adversidades).
No último capítulo de Alias Grace, após enfrentar uma longa e penosa saga, Grace
Marks finalmente se livra da prisão ao obter o perdão para o seu crime, após ter cumprido
uma pena de vinte e nove anos. Grace é ajudada pelos vários amigos que fez graças ao seu
bom comportamento e acaba aceitando a oferta de casamento feita por Walsh, um homem que
testemunhara contra ela no passado e vê na oferta de casamento a reparação para uma possível
injustiça que tenha cometido. Os dois se casam e viram pequenos fazendeiros nos Estados
Unidos (onde ninguém os conhece e assim Grace não será lembrada como ex-presidiária).
Enfim, Grace Marks parece feliz com a nova vida e descobre que está grávida. Porém, a
questão da alteridade multifacetada continua a pairar sobre a sua subjetividade. Na seguinte
passagem (dos últimos parágrafos do livro), Grace Marks está prestes a concluir a colcha de
retalhos (com a história da sua vida) que de longa data vinha costurando e bordando. Ela
então descreve o padrão de bordado chamado “Árvore do Paraíso”, e a questão problemática
da alteridade se reitera:
Na minha árvore do paraíso, eu pretendo colocar uma borda de serpentes
entrelaçadas; elas parecerão parreiras ou simplesmente um acessório de ligação com
os outros padrões, já que eu farei os seus olhos bem pequenos; mas, para mim elas
serão serpentes, já que sem uma serpente ou duas serpentes a parte central da
história ficaria incompleta (...). A árvore será composta de triângulos (...). Mas três
triângulos da minha árvore serão diferentes. Um será branco, feito de um pedaço do
casaco de Mary Whitney que ainda guardo comigo; outro será amarelo desbotado,
feito de uma camisola de dormir da prisão que eu implorei que me deixassem trazer
como lembrança quando saí de lá. E o terceiro será de um tecido de algodão meio
desbotado, estampadinho de rosa e branco, que era de um pedaço cortado do vestido
242
que Nancy estava usando no primeiro dia em que a vi na fazenda do Sr. Kinnear, e
que eu usei quando estava em fuga na barca para Lewiston. Eu bordarei em volta de
cada um dos triângulos com pontos vermelhos, para uni-los como uma parte do
padrão. E assim nós todas ficaremos juntas. 148
Voltando o foco da atenção para aspectos marcantes e corroboradores da riqueza das
alteridades de Jasmine, destacaremos brevemente pelo menos duas das várias sugestões de
intercâmbio identitário da protagonista do livro de Mukherjee com outras personalidades e
entidades. No capítulo 4, Bharati Mukherjee insere uma passagem bastante emblemática dessa
questão, em que Jane diz o seguinte:
Bud me chama de Jane. Mim, Tarzan, você Jane. Eu não tinha percebido isso de
início. Ele brinca. Jane Calamidade. Jane como Jane Russell, Jane como “Plain
Jane”. Brincar de Jane é o que eu quero fazer. Brincar de Jane é um papel como
outro qualquer. A minha “estrangeirice” assusta Bud. Eu não fico chateada com ele
por isso. Em Baden, eu sou Jane. Quase. 149
Nessa passagem, a narradora expõe questões muito relevantes por revelarem as
diferenças étnicas e culturais entre Jane e Bud, seu marido Americano. Ao mesmo tempo em
que ele se sente atraído pela beleza “exótica” de Jane, aspectos da “estangeirice” e da
“outridade” dela o assombram. A referência também é rica em desvelar paralelos de
alteridade da personagem com a personagem Jane dos memoráveis filmes do Tarzan, a
famosa “vaqueira” (“cowgirl”) norte-americana do século XIX, Jane Calamidade, conhecida
148
No original em inglês: “On my Tree of Paradise, I intend to put a border of snakes entwined; they will look
line vines or just a cable pattern to others, as I will make the eyes very small, but they will be snakes to me; as
without a snake or two, the main part of the story would be missing. (...) The tree itself is of triangles, (...). But
three of the triangles in my Tree will be different. One will be white, from the petitcoat I still have that was Mary
Whitney’s: one will be faded yellowish, from the prison nightdress I begged as a keepsack when I left there. And
the third will be a pale cotton, a pink and white floral, cut from the dress of Nancy’s that she had on the first day
I was at Mr. Kinnear’s, and that I wore on the ferry to Lewiston, when I was running away. I will embroider
around each one of them with red feather-stitching, to blend them in as a part of the pattern. And so we will all
be together”(ATWOOD, 1997, p. 460).
149
No original em inglês: “Bud calls me Jane. Me Bud, you Jane. I didn’t get it at first. He kids. Calamity Jane.
Jane as in Jane Russell, Jane as in Plain Jane. Plain Jane is all I want to be. Plain Jane is a role, like any other.
My genuine foreigness frightens him. I don’t hold that against him. In Baden, I’m Jane. Almost”
(MUKHERJEE, 1991, p. 22).
243
por ser muito valente, violenta e beberrona – ao mesmo tempo o “Diabo Branco de
Yellowstone” e a caridosa enfermeira que cuidou da população do vilarejo de Deadwood num
memorável surto de varíola. Além disso, também há a referência a Jane Russell, a atriz de
Hollywood que em 1948 fez o papel de “Calamity Jane” no filme Paleface e depois se
engajou num vasto programa de amparo a crianças órfãs por toda a América. Enfim, a
protagonista afirma que “brincar de Jane” (“playing Jane”) é o que ela mais quer continuar
fazendo, embora ela já não se sinta a “Jane de Bud” conforme prenuncia com “Em Baden, eu
sou Jane. Quase” (1991, p. 22) 150.
A outra relação identitária digna de nota não é entre Jane e outros seres humanos, mas
sim com as divindades do panteão indiano. Em diversas passagens do romance, a protagonista
alega estar sob a influência de Brahma, Shiva e Vishnu (que formam a Trilogia Trimurti) ou
de Kali (conforme já mencionado na abordagem do assassinato de Half-Face). Com Brahma,
não somente a protagonista, mas também um de seus maridos, Prakash, se identifica. Brahma
representa o princípio criador da vida e de todas as coisas que existem, e a passagem que
indica essa associação diz respeito à idealização da firma que Prakash tinha a intenção de
abrir com a então Jasmine quando emigrassem para os Estados Unidos:
Depois, eu pensei. Nós tínhamos criado vida. Prakash pegou Jyoti e criou Jasmine, e
Jasmine completaria a missão de Prakash. Vijh & Wife. Uma visão tinha se formado.
Havia milhares de rúpias na nossa conta. Ele tinha a sua carta de aceitação da Flórida
e o seu “visa” americano. Eu entreguei tudo aos meus irmãos e lhes contei o meu
plano. Eles ficaram estupefatos. Uma garota interiorana indo sozinha para a América,
sem emprego e sem documentos? Eu devia estar louca! Certamente eu estava. Eu
disse a eles que eu tinha prometido isso a Deus. Era uma questão de dever e de
honra. Eu não ousei contar nada disso a minha mãe. 151
150
No original em inglês: “In Baden, I’m Jane. Almost” (MUKHERJEE, 1991, p. 22).
No original em inglês: “Later, I thought, We had created life. Prakash has taken Jyoti and created Jasmine,
and Jasmine would complete the mission of Prakash. Vijh & Wife. A vision had formed. There were thousands
of rupees in our account. He had his Florida acceptance and his American visa. I turned everything over to my
brothers, along with my plan. They were stupefied. A village girl, going alone to America, without job, husband,
or papers? I must be mad! Certainly, I was. I told them I had sworn it before God. A matter of duty and honor. I
dared not tell my mother” (Ibid, p. 88).
151
244
As outras associações identitárias são com Shiva, - a faceta da divindade responsável
por todo tipo de mudança no universo e nas vidas das comunidades e dos indivíduos –
mudanças essas boas ou ruins, que constituem a metafórica dança de Shiva, divindade
representante do movimento e do dinamismo do universo. Na verdade, este parece o
intercâmbio de alteridades mais presente na trajetória da protagonista, dadas as suas
sucessivas existências como mulheres diferentes. Quando um de seus maridos, – Bud –, leva
um tiro e se torna paralítico, Jane acha que essa mudança para pior na vida dele é um efeito
negativo da influência de Shiva que ela acredita proporcionar. No entanto, de Shiva ela “se
transforma” em Vishnu, a encarnação da misericórdia e do amor para com os seres humanos,
quando passa a cuidar amorosa e devotadamente do marido paralítico, inclusive se
submetendo a sacrifícios físicos para continuar mantendo relações sexuais com ele, sem
externar nenhuma forma de queixa ou revolta.
Assim, em Jasmine, a questão da alteridade, associada à continuação dos
deslocamentos diaspóricos, deixará o romance aberto. Na verdade, Jane Ripplemeyer deixa de
ser Vishnu e abre espaço para Shiva de novo, quando uma força a impele a abandonar Bud e
seguir com Taylor (seu ex-patrão em Nova Iorque, por quem ela se apaixonara na época) e
sua filha Duff (de quem ela fora babá):
Então não há nada que eu possa fazer. O tempo dirá se eu sou um tornado, que reduz
a escombros tudo o que encontra, aparecendo não-se-sabe-de-onde e desaparecendo
numa nuvem. Eu estou fora da casa, no caminho esburacado e ferido pelas rodas dos
carros, intrepidamente seguinte na frente de Taylor, ávida de desejos e repleta de
esperanças. 152
É altamente emblemático notar também como a narradora retoma o episódio do
astrólogo e da predição da sua viuvez, descrita no primeiro capítulo do romance, para
152
No original em inglês: “Then there is nothing I can do. Time will tell if I am a tornado, rubble-maker, arising
from nowhere and disappearing into a cloud. I am out the door and in the potholed and rutted driveway,
scrambling ahead of Taylor, greedy with wants and reckless from hope” (MUKHERJEE, 1991, p. 214).
245
desconstuir a noção de predestinação, sublinhando, em contrapartida, a idéia de aquisição de
poder (pelo menos para “escrever nas estrelas” o seu destino), ao mesmo tempo em que
parece retornar para a sua identidade de Jase (provavelmente a época em que fora mais feliz):
Não é culpa o que eu sinto. É alívio. Eu começo a perceber que já parei de me ver
como Jane. Aventura, risco, transformação; os limites das possibilidades estão do
lado de fora, prestes a arrombar as janelas frágeis e não calafetadas. “Observe-me
reposicionando as estrelas do meu destino”, eu sussurro para o astrólogo que vejo
flutuar de pernas cruzadas acima do meu fogão. 153
Enfim, o que sobressai em Jasmine e Alias Grace – e transcende a problemática das
relações pós-coloniais – é a estatura humana que adquirem tanto Jasmine quanto Grace
Marks, endossando o amadurecimento das suas novas identidades e existências pós-coloniais,
híbridas e transnacionais, caracterizando os dois romances como lídimos representantes da
questão da formação das identidades não fixas e não estáveis, no cenário das relações póscoloniais da contemporaneidade, deixando a impressão nítida de que o legado ruim de
Caliban ficou para trás, irremediavelmente, mercê de uma inexorável atmosfera de resistência
à opressão patriarcal, de gênero e política, de que as ações das protagonistas sempre se
revestiram.
153
No original em inglês: “It isn’t guilt that I feel. It’s relief. I realized I have already stopped thinking of myself
as Jane. Adventure, risk, transformation: the frontier is pushing indoors through uncaulked windows. Watch me
reposition the stars, I wisper to the astrologer who floats cross-legged above my kitchen stove” (MUKHERJEE,
1991, p. 214).
246
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem sombra de dúvida, quando se interrompe a análise das questões referentes à
construção identitária envolvendo personagens tão ricas e multifacetadas quanto as
protagonistas de Jasmine e Alias Grace, pode soar irônico chamar a isso de “conclusão”, uma
vez que se trata de dois romances da contemporaneidade com claros contornos pós-modernos
e, conseqüentemente, sem o fechamento das questões que se discutiram. Daí a razão de haver
optado pelo título alternativo “Considerações Finais”, para esta parte da Tese. Entretanto,
podemos conciliar essa aparente inconsistência com a noção de que todo este trabalho
configura uma grande reflexão sobre o tema das identidades dos sujeitos pós-coloniais
femininos, que também atinge seu término sem, no entanto, definir posições radicais em torno
das questões até aqui analisadas.
Certamente, uma grande parcela das críticas tradicionalistas dirigidas às obras e às
estéticas pós-modernas deriva da generalizada indeterminação e da fluidez características
dessas obras e conceitos e do conseqüente retardamento do(s) seu(s) significado(s), conforme
já discutido anteriormente e endossado pelas posições de vários teóricos, filósofos e
pensadores cujos trabalhos contribuíram para corporificar o repertório das Teorias PósEstruturalistas, tais como Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Homi K.
Bhabha, Edward Said, Stuart Hall, Gayatri Spivak, Linda Hutcheon, Patricia Waugh, Sarah
Mills, Leela Gandhi e Ania Loomba, somente para citar alguns deles.
Foi exatamente em função dessa indeterminação e dessa fluidez que os aspectos
narrativos de Jasmine e Alias Grace fundiram-se em teor e natureza às representações das
alteridades cambiantes das suas duas protagonistas, fazendo as narrativas se transformarem
em um jogo instigante de idas e vindas, falsas pistas, meias-verdades e conclusões dúbias
acerca dos ditos aspectos identitários. Tudo isso nos recordou como os jogos de sentidos
247
textuais de Iser (1999, p. 112), além de representarem esses movimentos das narrativas,
coincidem com os jogos textuais livres da Disseminação e de Desconstrução de Derrida (ver
Cuddon, 1992). E, já que nos referimos a Iser, não poderíamos esquecer de aludir à sua teoria
de que a assimetria existente entre o texto e o leitor (1999, p. 19) produz espaços vazios e
lacunas que precisam ser negociadas. Tal situação reporta-nos, por seu turno, às brechas de
significação que uma leitura de desconstrução pós-estruturalista ocasiona, quando se as usa
para a interpretação de obras literárias contemporâneas, ou para a releitura das obras ditas
“canônicas” do passado. Mais uma vez, tal premissa nos reporta igualmente a outra estratégia
desconstrutiva de que largamente lançamos mão no Capítulo 3: usar os conceitos de James e
Schlegel, para também interpretar obras da contemporaneidade, como os romances-objeto
desta Tese. Enfim, estamos aqui nos referindo a uma grande rede de relações não somente
entre textos literários, mas igualmente entre textos e discursos teóricos do passado e do
presente, também imbricados e envolvidos com as obras literárias. Porém, a rede de interrelações não cessa por aí, uma vez que podemos evocar também as idéias e conceitos
desenvolvidos por teóricos como Coutinho (2003 p.14) acerca da transcendência das relações
entre discursos da mesma área do saber entre si e entre discursos de áreas do saber distintas e,
no passado, tidas até mesmo como incompatíveis. Em uma palavra, referimo-nos aos
conceitos sobre a interdisciplinaridade, que tanto tem contribuído para o enriquecimento das
áreas de abrangência da Literatura Comparada, estabelecendo um papel de destaque no
cenário das teorias contemporâneas ao não somente derrubar fronteiras entre áreas como a
Literatura, o Cinema, o Teatro, a Psicanálise, a Filosofia e a Política – somente para citar
alguns desses domínios -, mas também por questionar e reexaminar noções reducionistas
como a de “literaturas nacionais”.
Enfim, toda a pujança desse cenário de mudanças que se estabeleceu após a metade do
século XX fez com que se exaurissem gradativamente formas renitentes de pensar herdadas
248
do Iluminismo e ainda enraizadas nas estéticas da Modernidade (WAUGH, 1998, p. 177-178).
Abriu-se caminho então para que se levantassem as vozes das minorias, em luta por
agenciamento, voz, direitos e emancipação identitária. De forma similar, imbricaram-se
muitas dessas lutas, como demonstrado pelo cruzamento das Teorias Feministas e das Teorias
Pós-Coloniais, para tornar viável a luta pela emancipação das mulheres colonizadas – vítimas
de opressão dupla, por razões políticas e de gênero. Chegamos, então, ao ponto que nos
concerne mais diretamente: a apropriação das contribuições de várias correntes teóricas da
contemporaneidade (e até de algumas do passado) para se proceder a uma leitura/releitura dos
romances Jasmine e Alias Grace. As metas principais dessa releitura foram a avaliação da
superação dos resquícios dos estigmas do Caliban shakesperiano na configuração das duas
protagonistas femininas e o sub-reptício esquadrinhamento dos estatutos das obras literárias
em questão, pertencentes ao gênero “romance”. Se bastante adequadamente as duas obras
revolucionam o que entendíamos por romance até bem pouco tempo, nada mais natural que
esperar que as representações literárias das subjetividades femininas através delas levadas a
efeito também se situem nesse espaço de subversão, ruptura e de certa vanguarda de alguma
forma abarcada por alguma definição encabeçada pelo prefixo “pós”. E aqui se consubstancia
aquele afastamento de que falam Rita Felski (1989, p. 29) e Eduardo Coutinho (2003, p. 21)
entre a obra literária e a sua antes onipresente e exclusiva aura de esteticidade, como condição
necessária para que a obra de arte literária possa ser vista também “como um produto da
cultura e a literatura como uma prática discursiva como muitas outras” (COUTINHO, 2003,
p. 21), ou até mesmo, para nos lembrar de que a literatura não é um discurso isolado e
fechado, unicamente voltado para si próprio e os processos metafóricos e metonímicos, mas
está “profundamente imbricada com as relações sociais reais, reveladoras das maquinações da
ideologia patriarcal” (FELSKI, 1989, p. 21).]
249
Em vista de tudo que até agora se expôs, afirmamos que foi nesses intervalos que
tentamos posicionar as argumentações sobre as construções identitárias de Jasmine e Grace
Marks. No entanto, devemos deixar claro que sentimos a necessidade da utilização de uma
estratégia que reputamos em consonância com as argumentações desenvolvidas. De início,
tínhamos pensado em concentrar as argumentações “mais fortes” em um capítulo específico
que tratasse “exclusivamente” das questões identitárias, porém isso se provou de certa forma
quase “quimérico”, dada a fluidez, a inter-relação constante e o imbricamento que as questões
identitárias estabeleceram de imediato com todas as questões e as abordagens selecionadas.
Por exemplo, ao escrever o Capítulo 1, sobre as considerações teóricas preliminares,
percebemos que o referido capítulo não comportaria “toda” a base teórica que na Tese se
utilizaria. Assim, a teoria também se “disseminou” – para usar um termo bem derrideano –
por todos os outros capítulos, bem como as questões identitárias propriamente ditas, que já
evocavam o seu imbricamento com muito do que as posições teóricas abordadas pregavam.
Com relação ao Capítulo 2, que propõe explicitamente o imbricamento entre a
estrutura e a “desarrumação” das narrativas e as questões da desconstrução e da fragmentação
das identidades das protagonistas, além de ocorrer a combinação entre a teoria e a ficção, a
pujança e o vigor das identidades pós-coloniais em formação já começou a construir respostas
para as argumentações propostas, de forma que o capítulo não comportou somente
especulações e tentativas de expor as inter-relações entre a estrutura descontínua das
narrativas e o teor fragmentado das identidades femininas em questão, mas também se
mostrou inclusivo e abarcador de argumentações teóricas mais amplas.
Quanto ao Capítulo 3, ele se originou das nossas preocupações anteriores com as
refutações e os conceitos de repúdio e demérito que posições ultraconservadoras comumente
lançam contra obras literárias pós-modernas. Pensamos então que se conseguíssemos utilizar
pelo menos um certo número de conceitos teóricos de críticos e escritores renomados do
250
passado como Henry James e A. W. Schlegel, assim como de outros da contemporaneidade
que não lidassem com os Estudos Culturais de uma forma direta, como Castoriadis e Iser,
para analisar com efetividade alguns aspectos de Jasmine e Alias Grace, estaríamos
contribuindo para colocar por terra noções “engessadas” de que existem incompatibilidades
ou fossos intransponíveis entre os escritos ficcionais e teóricos contemporâneos e aqueles
mais recuados no tempo. O resultado dessa atitude que reputamos desconstrutiva foi
altamente positivo: identificamos algumas brechas significativas nos discursos canônicos
“válidos” de Henry James e de Schlegel onde pudemos explorar aspectos dos nossos dois
romances pós-modernos, assim como prazerosamente achamos uma brecha nas especulações
filosóficas de Castoriadis em que pudemos identificar um chão crítico comum entre as suas
idéias e as teorias pós-estruturalistas, com relação à constatação da insuficiência das filosofias
da subjetividade iluministas para abarcar a complexidade das identidades dos sujeitos póscoloniais, mormente enquanto mulheres. De forma semelhante, também identificamos muitos
fatores em comum entre as concepções de Iser e os postulados da Desconstrução de Jacques
Derrida.
Com o Capítulo 4, a nossa preocupação principal foi verificar o tipo de contribuição
que a rede intertextual de abordagem das questões identitárias em várias obras das literaturas
de língua inglesa poderia conferir para iluminar essa mesma questão com relação a Jasmine e
Alias Grace. Naturalmente, a ênfase recaiu na personagem Caliban de A Tempestade, para
verificarmos que parcelas desse ícone do colonizado subalterno estão “superadas” ou ainda
“presentes” nas idealizações e autoformulações identitárias desses personagens coloniais e em
Jasmine e Grace Marks, naturalmente.
Por fim, com o Capítulo 5, pretendemos unir aspectos relevantes tanto das Teorias
Feministas quanto das Teorias Pós-Coloniais, enfatizando os seus vieses discursivos para
chegarmos mais perto das possibilidades de superação da subalternidade imposta das nossas
251
personagens pós-coloniais femininas e da sua conseqüente aquisição de formas (fragmentadas
que sejam) de identidades mais promissoras e liberadoras do antigo ergástulo da dominação
colonial. Concorreram para esse fim, os interessantes posicionamentos teóricos de Sarah Mills
(com relação aos discursos), Bill Aschroft (com relação aos cruzamentos entre os feminismos
e o pós-colonialismo), Peônia Guedes (com os seus estudos sobre o Bildungsroman
feminino), Fernández Retamar e Annabel Patterson (com relação às suas concepções teóricas
sobre o colonizado utilizando a figura de Caliban).
Enfim, chegamos ao final desta Tese - mas não ao final das especulações sobre as
identidades dos sujeitos pós-coloniais femininos - , com a esperança de termos contribuído
não para definir (nos moldes estruturalistas), mas para ajudar a problematizar mais ainda e
entender um pouco melhor a complexidade que envolve as questões identitárias do sujeito
pós-moderno como um todo. E, por mais paradoxal que possa parecer para alguns, o resultado
parcial de todo esse processo (e, reforçamos, “parcial” porque está “em processo”) é um
enriquecimento das concepções sobre a subjetividade, um enaltecimento da Literatura
enquanto campo do saber com papéis cada vez mais múltiplos, complexos e desafiadores
(estamos questionando também, de certa forma, a “identidade” da Literatura) e um
convencimento cada vez maior de que fórmulas simplistas em vez de contribuírem acabam
por diminuir o nosso entendimento e a nossa recepção dos fenômenos como um todo.
252
BIBLIOGRAFIA
ABDALA, J.R., Benjamin et al, eds. Grande Enciclopédia Larrousse Cultural. 24 vols. São
Paulo: Nova Cultural Ltda, 1998, vol. 7, pp. 1501-1502.
ABEL, Elizabeth, HIRSCH, Marianne & LANGLAND, Elizabeth, eds. The Voyage In: Fictions
of Female Development. Hanover: UP of New England, 1983.
ALARCÓN, Norma. “Traddutora, Traditora: A Paradigmatic Figure of Chicana Feminism”. In:
GREWAL, Inderpal & KAPLAN, Caren, eds. Scattered Hegemonies: Postmodernity and
Transnational Feminist Practices. Minneapolis and London: University of Minnesota Press,
1994, pp. 109-133.
ALLEN, Graham. Intertextuality. New York: Routledge. 2000.
ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism. London: Verso, 2000.
ASHCROFT, Bill, GRIFFITHS, Gareth & TIFFIN, Helen, eds. Post-Colonial Studies – The
Key Concepts. New York: Routledge, 2002.
ASHCROFT, Bill et al, eds. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial
Literatures. London: Routledge, 1991.
ATWOOD, Margaret. Alias Grace. New York: Anchor Books, 1996.
_________________. Surfacing. New York: Fawcett Crest, 1987.
BAKHTIN, Mikhail. “Discourse in the Novel.” Trad.: Caryl Emerson e Michael Holquist. In:
HOLQUIST, Michael, ed. The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press,
1981.
BALZANO, Wanda. “Irishness – Feminist and Post-Colonial”. In: CHAMBERS, Ian &
CURTI, Lidia. The Post-Colonial Question: Common Skies, Divided Horizons. London:
Routledge, 1996, pp. 92-98.
BAMMER, Angelika. Displacements: Cultural Identities in Question. Bloomington and
Indianapolis: Indiana University Press, 1994.
BAROSS, Zsuzsa. “Poststructuralism”. In: MAKARYK, Irena R., ed. Encyclopedia of
Contemporary Literary Theory. Toronto: University of Toronto Press, 1994, pp. 158-163.
BARTHES, Roland. “From Work to Text”. In: Image, Music, Text. Trad.: Stephen Heath. New
York: Hill and Wang, 1977.
BASSNETT, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, 1995.
253
BAYM, Nina et al, eds. The Norton Anthology of American Literature. 2 Vols. New York:
Norton, 1994, vol. 2.
BELSEY, Catherine. Critical Practice. London: Routledge, 1994.
BHABHA, Homi K., “Signs Taken for Wonders”. In: ASHCROFT, Bill et al, eds. The PostColonial Studies Reader. London: Routledge, 1997, pp. 29-35.
________________ . O Local da Cultura. Trad.: Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis
e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
BLOOM, Harold. O Cânone Ocidental. Trad. Marcus Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva,
1995.
BONNICI, Thomas. “A Razão Pós-Colonial”. Gragoatá. Niterói. Vol. X, Número 1, 1996.
________________. O Pós-Colonialismo e a Literatura. Maringá: Editora da Universidade
Estadual de Maringá: 2000.
BOWLES, Paul. “Baptism of Solitude”. In: ___. Their Heads Are Green and Their Hands Are
Blue. Hopewell: The Ecco Press, 1984, pp. 128-144.
BOYCE, Charles. The Wordsworth Dictionary of Shakespeare. Ware/Hertfordshire:
Wordsworth Editions, 1996.
BRISTOW, Joseph. Sexuality. New York: Routledge, 1997.
BRONTË, Charlotte. Jane Eyre. New York: Oxford University Press, 2000, [1a edição: 1847].
BROWN, Paul. “This Thing of Darkness I Acknowledge Mine: The Tempest and the Discourse
of Colonialism. In: DOLLIMORE, Jonathan & SINFIELD, Alan, eds. Political
Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism. Manchester: Manchester University
Press, 1989, pp. 48-71.
BROWER, Reuben. “The Tempest”. In: DEAN, Leonard F., ed. Modern Essays in Criticism.
New York: Oxford UP, 1965, pp. 462-466.
BRUNEL, Pierre, org. Dicionário de Mitos Literários. Trad.: Carlos Sussekind, Jorge Laclette,
Maria Thereza Rezende Costa e Vera Whately. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.
BUCK, Claire, ed. The Bloomsbury Guide to Women’s Literature. New York: Prentice Hall,
1992.
BULLEN, A. Henry, ed. The Works of William Shakespeare Gathered Into One Volume. New
York: Oxford UP, 1965.
BURROUGHS, Edgar R. Tarzan of the Apes. New York/Toronto: Ballantine Books, 1990 [1a
edição: 1912].
254
CAMPBELL, Joseph. O Herói de Mil Faces. Trad.: Adail Ubirajara Sobral. São Paulo:
Cultrix/Pensamento, 1997.
CARRIÈRE, Jean-Claude. Índia: Um Olhar Amoroso. Trad.: Claudia Fares. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2001.
CARTER, M. Voices from Indenture: Experiences of Indian Migrants in the British Empire.
New York: Leicester University Press, 1996.
CARVALHAL, Tânia F. Literatura Comparada. Rio de Janeiro: Ática, 1998.
CASTORIADIS, Cornelius. “Imaginação, Imaginário e Reflexão”. In: ___. Feito e a Ser Feito.
Rio de Janeiro: DP & A, 1999.
CHANDRA, Talpade, RUSSO, Ann & TORRES, Lourdes, eds. Third World Women and The
Politics of Feminism. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
CHATMAN, S. Story and Discourse. Ithaca: Cornell University Press, 1978.
CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain, eds. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro.
José Olympio, 1989.
CHILDERS, Joseph and Gary Hental, eds. The Columbia Dictionary of Modern Literary and
Cultural Criticism. New York: Columbia University Press, 1995.
CHODOROW, Nancy. The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of
Gender. Berkeley: University of California Press, 1978.
CIVITA, Victor, ed. Novo Conhecer. 11 volumes. São Paulo: Abril Cultural, 1977, Vol. VI.
CIXOUS, Hélène. Reading with Clarice Lispector. Trad.: Verena A. Conley. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1990.
COETZEE, J. M. Foe. Harmondsworth: Penguin, 1987.
CONNOR, Steven. Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary.
Oxford: Basil Blackwell, 1991.
CONRAD, Joseph. Heart of Darkness. London: Penguin, 1994, [1ª edição: 1902].
COUTINHO, Eduardo F. & CARVALHAL, Tânia, org. Literatura Comparada – Textos
Fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
COUTINHO, Eduardo F. “Literatura Comparada e Interdisciplinaridade”. In: Revista de Letras
1. Duque de Caxias/RJ: Instituto de Humanidades da Unigranrio, 2003, pp. 13-22.
____________________ . Literatura Comparada na América Latina: Ensaios. Rio de Janeiro:
EDUERJ, 2003.
255
CUDDON, J.A., ed. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. NewYork:
Penguin Books, 1992.
DAS, Veena. “Shakti versus Sati: A Reading of the Santoshi Ma Cult.” Manushi. Delhi,
November-December 1988, No. 49, pp. 26-31.
DE MAN, Paul. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. New York: Penguin, 1998, [1a edição: 1719].
DERRIDA, Jacques. Dissemination. Trad.: Barbara Johnson. Chicago: University of Chicago
Press, 1981, [1a edição: 1972, título original: La Dissémination].
________________. Of Grammatology. Trad.: Gayatri Spivak. Baltimore: Johns Hopkins UP,
1974 [1a edição: 1967, título original: De La Grammatologie].
________________. Writing and Difference. Trad.: A. Bass. Chicago: University of Chicago
Press, 1978 [1a edição: 1967, título original: L’Ecritture et La Difference].
DLASKA, Andrea. Ways of Belonging. Wien: Wilhelm Braumüller, 1999.
DRABBLE, Margaret, ed. The Oxford Companion to English Literature. London: Oxford UP,
1985.
DURANT, Will. Trad.: Laura Alves e Aurélio Barroso Rebello. O Livro de Ouro dos Heróis da
História: Uma Breve História da Civilização, da Antiguidade ao Alvorecer da Era
Moderna. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
ELIADE, Mircea. Images and Symbols – Studies in Religious Symbolism. Trad.: Philip Mairet.
New Jersey: Princeton UP, 1991.
FELSKI, Rita. Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change.
Cambridge: Harvard University Press, 1989.
FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto, “Caliban Speaks Five Hundred Years Later”. Anne
McClintock et al, ed. Dangerous Liaisons – Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, pp. 163-172.
FOUCAULT, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trad.: A. M. Sheridan.
New York: Vintage Books, 1977 [1a edição: 1975, título original: Surveiller et Punir:
Naissance de la Prison].
_________________. History of Sexuality. 3 Vols. Trad.: R. Hurley. New York: Random
House, 1985, vol. 2 [1a edição: 1984, título original: Histoire de la Sexualité].
_________________. History of Sexuality. 3 Vols. Trad.: R. Hurley. New York: Random
House, 1986 [1a edição: 1984, título original: Histoire de la Sexualité].
256
_________________. Madness and Civilization. Trad.: R. Howard. London: Tavistock, 1965
[1a edição: 1961, título original: Histoire de la Folie à l’âge classique: Folie et Déraison].
_________________. The Archaeology of Knowledge. Trad.: A. M. Sheridan. New York:
Pantheon, 1972 [1a edição: 1969, título original: L’archéologie de Savoir].
_________________. The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perceptions. Trad.:
A. M. Sheridan. New York: Vintage Books, 1973 [1a edição: 1963, título original:
Naissance de la Clinique: Une Archéologie du Regard Médical].
_________________. The Order of Things. Trad.: A. M. Sheridan. New York: Vintage Books,
1973 [1a edição: 1966, título original: Les Mots et les Choses].
GALLOP, J. Reading Lacan. Ithaca: Cornell University Press, 1985.
GANDHI, Leela. “After Colonialism”. In: ___. Postcolonial Theory. New York: Columbia UP,
1998, pp. 1-23.
GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan. The Madwoman in the Attic. New Haven: Yale
University Press, 1984.
GRICE, Helena & WOODS, Tim, eds. ‘I’m Telling You Stories’: Jeanette Winterson The
Politics of Reading. Amsterdam: Rodopi, 1998.
GRODEN, Michael & KREISWIRTH, Martin, eds. The Johns Hopkins Guide to Literary
Theory & Criticism. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1993.
GUEDES, Peonia Viana. Em Busca da Identidade Feminina: Os Romances de Margaret
Drabble. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997.
___________________ . “Entre os Discursos da História e da Ficção: Múltiplas Verdades e
Personalidades em Alias Grace, de Margaret Atwood”. In STEVENS, Cristina Maria
Teixeira, org. Cerrados – Revista do Programa de Pós-Graduação em Literatura. Brasília:
Universidade de Brasília, Ano 11, No. 12, 2002, pp. 69-82.
____________________. “Revising Models of Cultural Identity: A New View of Immigrant
America in Bharati Mukherjee’s Fiction”. In Sonia Torres, org. Raízes e Rumos:
Perspectives Interdisciplinares em Estudos Americanos. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001, pp.
230-238.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Trad.:Tomaz Tadeu da Silva e
Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP & A, 2001.
___________. Da Diáspora – Identidades e Mediações Culturais. Trad.: Adelaine La Guardia
Resende, Ana Carolina Escosteguy, Cláudia Álvares, Francisco Rüdiger e Sayonara Amaral.
Belo Horizonte: UFMG, 2003.
HARAWAY, Donna. “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism
in the 1980s”. In: NICHOLSON, Linda J., ed. Feminism/Postmodernism. London:
Routledge, 1990, pp. 190-233.
257
HARRIS, Leila A. & PINHO, Lílian N. “(In)Sanidade em Alias Grace.” In: BRANDÃO, Izabel
& MUZART, Zahide L., eds. Refazendo Nós: Ensaios sobre Mulher e Literatura.
Florianópolis: Editora Mulheres, 2003, pp.383-89.
HARTMAN, G. Saving the Text: Literature, Derrida, Philosophy. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1981.
HAUKES, David. Ideology. New York: Routledge, 1996.
HEKMAN, S. Gender and Knowledge: Elements of a Postmodern Feminism. Cambridge:
Polity Press, 1990.
HOLMAN, C. Hugh & William Harmon, eds. A Handbook to Literature. New York:
Macmillan, 1992.
HORNBY, A. S., ed. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. London & New York: Oxford
University Press, 1974.
HOUSTON, Cecil & SMYTH, William J., Irish Immigration and Canadian Settlement:
Patterns, Links and Letters. Toronto: Toronto University Press, 1990.
HUTCHEON, Linda. A Poetics of Posmodernism - History, Theory, Fiction. New York:
Routledge, 1992.
_________________. “Beginning to Theorize Postmodernism”. In: NATOLI J. &
HUTCHEON, L., eds. A Postmodern Reader. New York: SUNY, 1993, pp. 243-272.
_________________. “Circling the Downspout of Empire”. In: ASHCROFT, Bill et al, eds.
The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1997, pp. 130-135.
_________________. “The Pastime of Past Time: Fiction, History, Historiographic
Metafiction.” In: PERLOFF, Marjorie, ed. Postmodern Genres. Norman: University of
Oklahoma Press, 1989, pp. 54-75.
IRIGARAY, Luce. “Commodities Among Themselves.” This Sex Which is Not One. Trans.
Catherine Porter. Ithaca: Cornell University Press, 1985, pp. 192-97.
ISER, Wolfgang. Trad.: Bluma Waddington Vilar e João César de Castro Rocha. “Teoria da
Recepção: Reação a uma Circunstância Histórica”. J. C. de Castro Rocha, org., Teoria da
Recepção. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999, pp. 19-33.
JAMES, Henry. A Arte da Ficção. Trad.: Paulo Henriques Britto. São Paulo: Ed. Imaginário,
1995.
____________. A Morte do Leão, Histórias de Artistas e Escritores. Trad.; Paulo Henrique
Britto. São Paulo: Cia das Letras, 1993.
JAMESON, Fredric. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act.
London: Methuen, 1981.
258
JOHNSON, Barbara. The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981.
KERMODE, Frank. The Tempest. London: Routledge, 1990.
KIPLING, Rudyard. A Choice of Kipling’s Verse Made by T. S. Eliot. London: Faber and Faber,
1962.
________________. “Lispeth”. In: Plain Tales From the Hills. New York: Penguin Books,
1994, pp. 1-18 [1a edição: 1888].
LAUZEN, E. Sarah. “Notes on Metafiction: Every Essay Has a Title.” In: McCAFFERY Larry,
ed. Postmodern Fiction: A Bio-Bibliographical Guide. New York: Greenwood Press, 1986,
pp. 93-116.
LEININGER, Lorie J. “The Miranda Trap – Sexism and Racism in Shakespeare’s The
Tempest.” In: Carolyn R. S. Lenz et al, eds. The Woman’s Part: Feminist Criticism of
Shakespeare. Urbana: University of Illinois Press, 1983.
LITVAK, Leon. “Canadian Writing in English and Multiculturalism”. English Post-Coloniality.
Connecticut: Greenwood Press, 1996, pp. 130-135.
LOOMBA, Ania. Colonialism/Postcolonialism. (The New Critical Idiom). London: Routledge,
1998.
LYE,
John.
“Deconstruction:
Some
Assumptions.”
http://www.brocku.ca/english/courses/4F70/deconstruction.html, p. 4 , 1999 (ON-LINE) –
Acesso: março/2003.
LYOTARD, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Trans.: Geoff
Bennington and Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984 [1a
edição: 1979, título original: La Condition Postmoderne: Rapport sur le Savoir].
MAKARYK, Irena R., ed. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Toronto: University
of Toronto Press: 1994.
MATHUR, Suchitra. “Ethnic or Post-Colonial?: Gender and Diaspora Politics”. http://www.
Postcolonialweb.org/diasporas/mathur1.html , 2000 (ON LINE), Acesso: março/2003.
McCLINTOCK, Anne. Imperial Leather – Race, Gender and Sexuality in The Colonial
Context. New York: Routledge, 1995.
McLELLAN, David. Ideology. Buckingham: Open UP, 1995.
MELTZER, Francoise. “Unconscious.” Critical Terms for Literary Study. Frank Lentricchia
and Thomas McLaughlin. Chicago: U of Chicago P, 1995.
MILLER, Nancy K., ed. The Heroine’s Text: Readings in the French and English Novel, 1722
– 1782. New York: Columbia University Press, 1980.
259
MILLS, Sarah. Discourse. New York: Routledge, 1997.
MILLS, Sarah and Lynne Pearce. Feminist Readings/Feminists Reading. Hertfordshire:
Prentice Hall, 1996.
MINH-HA, Trinh T. “Not You/Like You: Postcolonial Women and The Interlocking Questions
of Identity and Difference”. In: McCLINTOCK, Anne et al, eds. Dangerous Liaisons:
Gender, Nation and Postcolonial Perspectives. Minneapolis: University of Minnesota Press,
1997, pp. 415-19.
MOHANTY, Chandra Talpade. “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial
Discourses.” In: McCLINTOCK, Anne, MUSTI, Aamir & SHOHAT, Ella, eds. Dangerous
Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives. 1997, pp. 255-277.
MORAGA, Cherríe & ANZALDÚA, Gloria, eds. This Bridge Called My Back – Writings By
Radical Women of Color. New York: Kitchen Table, 1983.
MUKHERJEE, Bharati. Jasmine. New York: Fawcett Books, 1991 [1a edição: 1989].
__________________. The Middleman and Other Stories. New York: Fawcett Crest, 1989.
NABOKOV, Vladimir. Lectures on Literature. New York: Harvest HBJ, 1980.
NORRIS, Christopher. Deconstruction – Theory and Practice. New York: Methuen, 1982.
O’CALLAGHAN, Bryn. An Illustrated History of the USA. Essex: Longman, 1990.
OLIVEIRA, Monica C. B. “Myths and Legends as Strategies of Resistance in Helena Maria
Viramontes’s The Moths and Other Stories”. Revista Eletrônica da Unigranrio. Duque de
Caxias/RJ.
Volume
III,
Número
XII,
2005
–
(http://ww.unigranrio.br/unidades_acad/ihm/graduacao/letras/revista/numero12.html)
Acesso : Abril/2007.
OUSBY, Ian, ed. The Cambridge Guide to Literature in English. New York: Cambridge UP,
1996.
PATTERSON, Annabel. Shakespeare and The Popular Voice. Cambridge: Basil Blackwell,
1989.
PHILLIPS, Jerry. “Cannibalism qua Capitalism: The Metaphorics of Accumulation in Marx,
Conrad, Shakespeare, and Marlowe”. In: BAKER, Francis; HULME, Peter & IVERSEN,
Margaret, eds. Cannibalism and The Colonial World. Cambridge: Cambridge University
Press, 1998.
PRATT, Mary Lousie. Os Olhos do Império: Relatos de Viagem e Transculturação. Trad.:
Jézio Hernani Bonfim Gutierre. Bauru: EDUSC, 1999.
PROCTER, Paul, ed. Cambridge International Dictionary of English. London: Cambridge UP,
1995.
260
RAJAN, G. & MOHANRAM, R., eds. Postcolonial Discourse and Changing Cultural
Contexts: Theory and Criticism. Westport CT: Greenwood Press, 1995.
RIMMON-KENAN, S. Narrative Fiction. London: Methuen, 1983.
SAID, Edward W. Beginnings: Intention and Method. New York: Basic Books, 1975.
______________. Cultura e Imperialismo. Trad.: Denise Bottman. São Paulo: Cia das Letras
1999 [1a edição: 1993].
______________. Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography. Cambridge: Harvard
University Press, 1966.
______________ . Orientalismo. Trad.: Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Cia das Letras, 2001
[1ª ediçao: 1978].
SCASE, Richard. Concepts in Social Science. Buckingham: Open UP, 1996.
SCHERMERHORN, R. A. Comparative Ethnic Relation: A Framework for Theory and
Research. New York: Random House, 1974.
SHAKESPEARE, W. The Tempest. In: BULLEN, A. H., ed. The Works of William
Shakespeare Gathered into One Volume. New York: Oxford Univesity Press, 1965.
SHAKESPEARE, W. The Tempest. In: KERMODE, Frank, ed. The Arden Edition of the Works
of William Shakespeare. London: Methuen, 1961.
SCHLEGEL, A.W. “Carta sobre o Romance”.Trad.:Victor-Pierre Stirnimann. In: Conversa
sobre a Poesia. São Paulo: Iluminuras, 1988.
SHARPE, Jenny. Allegories of Empire: The Figure of Woman in The Colonial Text.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
SILVERMAN, K. Acoustic Mirror. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
SPARSHOTT, Francis E. “The Case of the Unreliable Author”. Philosophy and Literature.
Volume 10. Número 2, 1986, p. 145-167.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” ASHCROFT, Bill et al, eds. In:
The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1997, pp. 24-28.
_________________________. In Other Worlds. NewYork: Methuen, 1987.
_________________________. “Three Women’s Text and a Critique of Imperial.” In:
BELSEY, Catherine & MOORE, Jane, eds. The Feminist Reader. New York: Blackwell,
1989.
STEVENSON, Robert Louis. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. New York:
Penguin Books, 1994 [1a edição: 1886].
261
SWIFT, Jonathan. Gulliver’s Travels. London: Longman, 1971 [1a edição: 1726].
THOMPSON, V. B. The Making of the African Diaspora in the Americas. Harlow, Essex and
New York: Longman, 1987.
TOOLAN, Michael J. Narrative – A Critical Linguistic Introduction. London: Routledge, 1988.
UTTAR-KANDA. “A Few Peculiarities of Kaliyuga (Selected Texts from Sri
Ramacharitamanasa of Saint Tulasidas)”. http://www.hinduism.co.za/kaliyuga.htm p. 1-2,
1999 (ON LINE) , acesso em março/2003.
WALKER, Alice. “Everyday Use”. In: BAYM, Nina et al, eds. The Norton Anthology of
American Literature. Volume 2. New York: Norton, 1994, pp. 2240-46.
WALKER, Barbara, G. The Women’s Encyclopedia of Myths and Secrets. New York: Harper
Collins, 1983.
WAUGH, Patricia. “Postmodernism and Feminism.” In: JACKSON, Stevi & JONES, Jackie,
eds. Contemporary Feminist Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998, pp.
177-193.
WHEELER, Kathleen. A Guide to Twentieth Century Women Novelists. Oxford (UK):
Blackwell, 1997.
WICKRAMAGAMAGE, Carmen. “The Empire Writes Back”. In: BACCHILEGA, Cristina
and Cornelia Moore, eds. Constructions: Changing Representations of Women and
Feminisms, East and West. Hawaii: University of Hawaii, 1996, pp. 63-87.
WISKER, Gina. “Canadian Women’s Writing”. In: Post-Colonial and African American
Women’s Writing – A Critical Introduction. St. Martin’s Press: New York, 2000, pp. 25472.
____________. Margaret Atwood’s Alias Grace – a Reader’s Guide. New York: Continuum,
2002.
_____________. Post-Colonial and African American Women’s Writing – A Critical
Introduction. New York: St. Martin’s Press, 2000.
WOOLF, Virginia. “Modern Fiction.” In: ABRAMS, M. H. et al, eds. The Norton Anthology of
English Literature. New York: Norton, 1993, pp. 1921-26.
YAEGER, Patricia. Honey-Mad Women: Emancipatory Strategies in Women’s Writings. New
York: Columbia University Press, 1988.
YOUNG, Robert J. C. Post-Colonialism – A Historical Introduction. Oxford (UK): Blackwell,
2001.
262
SÍTIO DA INTERNET REFERIDO SEM AUTORIA DEFINIDA
http://www.boondocksnet.com./ai/kipling/kipling.html Acesso em dezembro de 2003.
Baixar