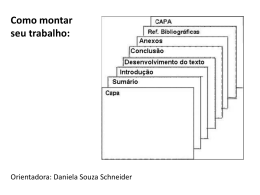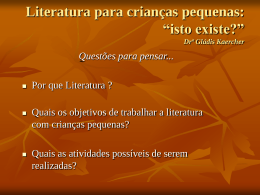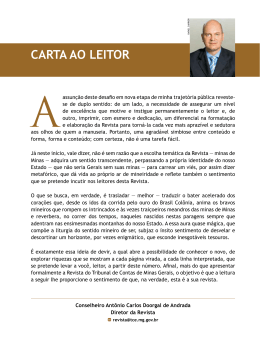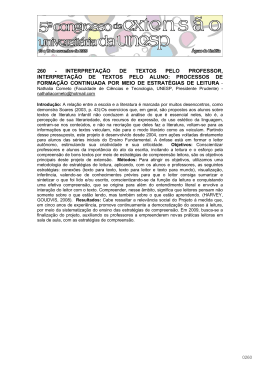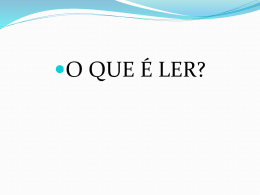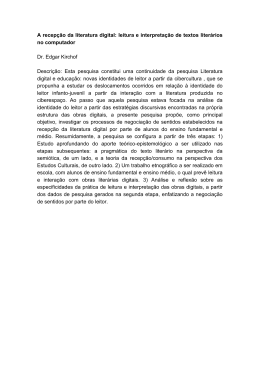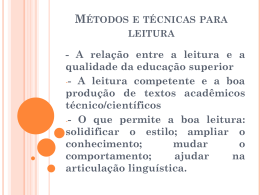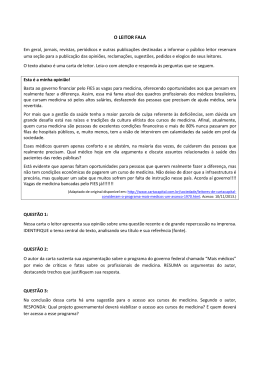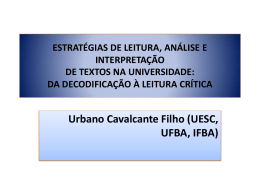Leitura de textos versus leitura de dados: A armadilha está na escola! Leandro Nunes da Silva [email protected] Universidade de Sorocaba – Uniso/SP SOARES, Maria Lucia de Amorim [email protected] Universidade de Sorocaba – Uniso/SP Definindo a leitura O processo de leitura pode ser delineado por duas concepções claramente dicotômicas. Na primeira, tem-se a leitura como decodificação, onde o processamento de informação é centrado na estrutura da linguagem, ou seja, o texto é o único portador dos sentidos e ao leitor cabe, apenas, descobrir o significado do texto que, por sua vez, já está dado no escrito. Para Kato (1985), este tipo de processo baseia-se numa concepção estruturalista, onde se vê a leitura como um processo instantâneo de decodificação de letras em sons, e a associação destes com o significado (p.62). Em contrapelo a esta definição, Guimarães (1995) centra o processo de leitura na formação do conhecimento por parte do leitor. Desta forma, a leitura pode ser entendida como a construção de significados e, a partir deste ponto, o portador dos sentidos é o leitor que, em sua função, não só decodifica o que está escrito, mas também analisa, interpreta e fornece o significado. A leitura, por sua vez, ultrapassa a mera decodificação porque é um processo de (re) atribuição de sentidos (p.08). É seguindo a definição de Guimarães (1995) que se enxerga o processo de leitura intrinsecamente relacionado às praticas sociais as quais os sujeitos são condicionados e condicionantes. Com isso, levantamos as seguintes questões para reflexão: O processo de leitura que se dá em um ambiente real concreto é igual ao que se dá em um ambiente real virtual? Ler um livro impresso exige o mesmo procedimento de se ler um livro eletrônico? Existem armadilhas a serem desarmadas entre estes dois processos? Caso positivo, onde elas se encontram? Nossa pesquisa tem demonstrado de maneira parcial, que a resposta não se faz tão simples. Recorrendo aos trabalhos realizados por Santaella (2004) e Kerchove, (1997) sobre alterações de perfis cognitivos no decorrer do amadurecimento cultural da civilização, que encontramos indícios que podem fornecer possíveis respostas para a questão levantada. A leitura do impresso O psicólogo americano Julian Jaynes, afirmou que a mente bicameral é um desenvolvimento tardio da evolução humana. Especializada na leitura silenciosa, esta pode ter sido despertada como uma percepção aural e não visual. As palavras, na Idade Média, escritas em uma página, eram os sons que se pronunciavam, ou seja, ler era uma habilidade oral. Os escritores supunham que seus leitores iriam escutar, em vez de simplesmente ver o texto, tal como eles pronunciavam a palavra à medida que as compunham (MANGUEL: 2001:63). Desta forma, o processo de escrita era contínuo, não havia separação fonética. Com a instauração do silêncio obrigatório, o processo de leitura deixa de ser contínuo e oral e passa, então, a ser visual e contemplativo. Os escritos ganham pontuação, os escribas passam a isolar partes do discurso e a constituir pontuação e sinais gramaticais. Para facilitar ainda mais a tarefa do leitor silencioso, as primeiras linhas das seções principais de um texto (os livros da Bíblia, por exemplo) eram comumente escritas em tinta vermelha (p.67). Sendo a leitura silenciosa uma norma, observou-se, então, a passagem da cultura oral para a cultura escrita, esta, formadora do leitor, definido por Santaella (2004) como Contemplativo/Meditativo. O desenvolvimento da mente bicameral faz com que este tipo de leitor se concentre e contemple o que está sendo lido, isto porque, a leitura de um livro é, por fim, essencialmente contemplação e ruminação, leitura que pode voltar as páginas, repetidas vezes, que pode ser suspensa imaginativamente para a meditação de um leitor solitário e concentrado. [...] Esse tipo de leitura nasce da relação íntima entre o leitor e o livro. (p.24). Foi em 1455, com a revolução da imprensa que a leitura deixa de ser ato exclusivo do clérigo e da alta corte e passa, então, a ser disseminada entre a população. Os efeitos da invenção de Gutenberg foram instantâneos e de alcance extraordinário, pois quase imediatamente muitos leitores perceberam suas grandes vantagens: rapidez, uniformidade de textos e preços relativamente baratos. (MANGUEL: 2001:158). É o inicio da comunicação em massa, a entrada do impresso no cotidiano da população. Através desse fato, os indivíduos tiveram esse cotidiano e, consequentemente, sua realidade social e psicológica alterada, isto porque, as viagens, os círculos de reuniões e as discussões de estudantes, já não se faziam sem a inferência ou interferência dos livros. Para descrever essa alteração, Kerchove (1997:33) desenvolveu o conceito de Tecnopsicologia, onde demonstra que a realidade psicológica não é uma coisa natural e que esta depende parcialmente da forma como o nosso ambiente, incluindo as próprias extensões tecnológicas, nos afeta. Enxerga-se com isso, o processo de amadurecimento cultural através do aperfeiçoamento do processo de leitura com a formação de uma malha cultural densa, onde a oralidade, a escrita e o impresso constituem e configuram as práticas sociais até a atualidade. A leitura de Imagens Com a chegada da eletricidade, o crescimento das cidades, e principalmente, com o surgimento do cinema e a tv, a demonstração visual deixou de ser exclusividade do livro e o homem passou a mover-se entre o texto do livro impresso e a imagem proporcionada pelo jornal ou apresentada pelo cinema, hodiernamente na tv. Kenski (2006:20) nos demonstra esta mudança ao dizer que: Antigamente as pessoas saíam as ruas ou ficavam na janela de suas casas para se informarem sobre o que estava acontecendo na região e no mundo.[...] Na atualidade, a “janela é a tela”, pela televisão é possível saber tudo o que está acontecendo em todos os cantos. Neste contexto, o movimento entre a leitura do texto impresso e a leitura da imagem propiciou condições para que o leitor Contemplativo/Meditativo se tornasse, conforme define Santaella (2004), em Movente/Fragmentado. Isto porque, ao moverse entre textos e imagens o leitor aprende a transitar entre linguagens, passando dos objetos aos signos, da imagem ao verbo, do som para a imagem com familiaridade imperceptível. (p.31) Este processo de mudança no perfil cognitivo do leitor não significa a substituição da forma de compreender a realidade, através da leitura, por outra, mas sim, a complexificação do homem como sujeito em decorrência do avanço e do amadurecimento cultural. Kerchove (1997), ao desenvolver o conceito de Tecnopsicologia, leva em conta o fato de que os avanços tecnológicos não são apenas decorrentes da evolução humana, mas também, geradores dessa evolução. Ao descrever sua participação na pesquisa de Rob e Kline, realizada no laboratório de análise das mídias da Universidade da Simon Fraser, em Vancouver, no Canadá, Kerchove (1997) constata que a imagem fala, primeiramente, ao corpo e não a mente (p.38) e que a leitura de imagens é feita subliminarmente. Kerchove (1997) revela como o ligaram a um computador através de vários dispositivos destinados a medir as reações na pele (p. 37) e colocaram em sua mão direita um controle para que respondesse, através de uma indicação para frente ou para trás, se gostava, ou não, das imagens que estava vendo (notícias, esportes, sexo, shows) num período de vinte minutos. Foi essa a sua reação: Estava totalmente frustrado, não tendo conseguido exprimir movimentos pouco convincentes do pulso de aprovação ou desaprovação. Em muitos dos seguimentos não se tinha tido, sequer, tempo de exprimir fosse o que fosse. [...] Para meu completo espanto, verifiquei que a cada corte, cada movimento, cada mudança no plano, tinham sido percebidos por um ou outro sensor e registrados no computador. [...] Fiquei espantado. Enquanto lutava para exprimir uma opinião, o meu corpo inteiro estava a ouvir e a ver e a reagir instantaneamente. (p.38) Os resultados da pesquisa ao qual Kerchove foi submetido são de suma importância para percebermos como a imagem, enquanto fenômeno da comunicação cultural produz sentidos complexos, sutis, conflitantes, carregados de ideologia, e passa a ocupar o lugar de grande produtora de mitos. Com isso, a TV constitui-se no local das “verdades” e da “sabedoria” ditando, desta forma, todo movimento e conseqüente transformação social, rompendo a associação entre conhecimento e informação. A leitura de dados A partir do surgimento da comunicação em massa, exige-se do homem uma sensibilidade incomum, a tecnologia e a mudança. Kerchove (1997) utiliza-se do conceito de Piscotecnologia para explicar como o telefone, o radio, a televisão e os computadores tornam-se responsáveis pelo domínio informacional e, consequentemente, constituem-se numa “imaginação coletiva projetada fora do corpo, combinando-se numa teledemocracia consensual eletrônica” (p.34) que circula livremente no interior dos indivíduos e da sociedade. As circulações de informações se dão não mais em texto ou em imagem, pois ambos convergem em dados. Com isso, percebe-se um novo procedimento de leitura, ou seja, uma mudança no perfil cognitivo do leitor e uma conseqüente alteração comportamental. Para exercitar a leitura, o leitor encontra a sua frente um mar de informações codificadas em 0 e 1 e, um território virtual que se define pela ausência de tempo e/ou espaço. A aceleração contínua, crescente e instantânea em velocidade, denomina esse novo espaço de ciberespaço, lugar onde o leitor se vê obrigado, através de um terminal de conexão, como o computador ou um celular com acesso a rede mundial de informações, a mergulhar num mar de dados tornando-se, conforme descreve Santaella (2004) em leitor Imersivo/Virtual. O perfil cognitivo do leitor Imersivo/Virtual pode ser delineado pela interação com os dados digitais disponibilizados no ciberespaço. A leitura do impresso e a leitura da imagem cedem lugar à leitura dos hipertextos. Neste sentido, a mudança no perfil cognitivo do sujeito fica clara se considerarmos que: “O hipertexto informatizado nos dá condições de atingir milhares de dobras imagináveis através de uma palavra ou um ícone, uma infinidade de possibilidade de ação” (FREITAS, 2004:16). O hipertexto favorece uma leitura interativa onde a habilidade principal necessária é uma atitude exploratória diante do material a ser assimilado. “A fronteira entre escritor e leitor é mais imprecisa, pois o leitor navegador não é um mero consumidor passivo, mas um produtor do texto em que está lendo, um co-autor ativo, capaz de ligar os diferentes materiais disponíveis ligando seu próprio itinerário de navegação” (COSTA, 2005:24). Coscarelli (2006) exemplifica bem o perfil do leitor Imersivo/Virtual ao constatar que: “Os leitores da web apenas escaneiam o texto, isto é, correm os olhos pela página, tentando entender algumas palavras ou frases que os levem até a informação desejada” (p.78). Desta forma, novas estratégias de escrita são desenvolvidas com o objetivo de alcançar a interlocução entre a produção e a recepção dos dados disponíveis no ciberespaço. “A escrita passa a ser constituída basicamente de emoticons (carinhas ou caretas), abreviações, reduções de palavras, acrônimos e neologismos a partir da língua materna ou estrangeira” (COSTA, 2004:25). A leitura do impresso x A leitura de dados: A armadilha está na escola! Neste trabalho pode-se observar que o processo de ensino-aprendizagem já não se realiza sem a interferência das mídias, o que implica em dizer que os meios de comunicação, com sua capacidade de influenciar e persuadir ganham mais notoriedade do que o docente que se coloca, ainda, como detentor do sacrossanto entre o quadro negro e os alunos na sala de aula. A digitalização do impresso e da imagem, faz com que estes se transformem em dados e, por decorrência, percebe-se um novo procedimento de leitura, com uma mudança no perfil cognitivo do leitor, que tem à sua frente um mar de informações codificadas em 0 e 1 e, um território virtual que se define pela ausência de tempo e/ou espaço e pela aceleração contínua, crescente e instantânea da velocidade – o ciberespaço. Nesse lugar o leitor se vê obrigado, através de um terminal de conexão, como o computador ou um celular com acesso a rede mundial de informações, a mergulhar nos dados, que é o ciberespaço, se tornando, conforme descreve Santaella (2004) num leitor “Imersivo/Virtual”. Constata-se, também, ao voltar o olhar para o quadro exposto, que a escola pouco avançou em suas práticas de ensino de leitura. Esta, não se atenta para as mudanças que o avanço tecnológico provocou no perfil cognitivo do indivíduo e a leitura, dentro das escolas, se fez e se faz ainda de maneira contemplativa como no inicio da Idade Média, tornando-se, desta forma, um local de armadilhas para o sujeito da atualidade. A inércia perante as alterações do comportamento humano coloca a escola em contraste com a sociedade atual já que o mundo contemporâneo vive uma transformação acelerada na percepção do tempo, visto que não vivemos mais o tempo das horas e dos minutos (SILVA, 2001:22). Temos, como marca do tempo em que vivemos, a convergência das mídias e das telecomunicações, o que configura um novo mundo real insólito. Referências COSCARELLI, C. V. (2006). Entre textos e Hipertextos. In: COSCARELLI (Org.) Novas tecnologias, novos textos e novas formas de pensar. Belo horizonte: Autêntica. COSTA, S. R. (2005). “Oralidade, escrita e novos gêneros (hiper)textuais na Internet”. In: FREITAS, M. T. A. & COSTA, S. R. (Orgs.) Leitura e escrita de adolescentes na Internet e na escola. Belo horizonte: Autentica. FREITAS, S. R. (2004).”Da tecnologia escrita à tecnologia da Internet”. In: FREITAS, M. T. A. & COSTA, S. R. (Orgs.) Leitura e escrita de adolescentes na Internet e na escola. Belo Horizonte: Autêntica. GUIMARÃES, E. (1995). A articulação do texto. São Paulo: Ática. 4ª ed. KATO, M. (1985). No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística. São Paulo: Ática. KENSKI, V. M. (2006). Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. São Paulo: Papirus, 3. ed. KERCHOVE, D. (1997). A Pele da cultura – Uma investigação sobre a nova realidade eletrônica. Lisboa: Relógio D´agua editores. MANGUEL, A. (2001). Uma história da leitura. Trad. Pedro Mais Soares. São Paulo: Cia das Letras. 2ª ed. SILVA, M. L. (2001). “A Urgência do tempo: novas tecnologias e educação contemporânea” In: SILVA, M. L. (Org.).Novas tecnologias: educação e sociedade na era da informação. Belo Horizonte: Autentica. SANTAELLA, L. (2004). Navegar no Ciberespaço: O perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus.
Download