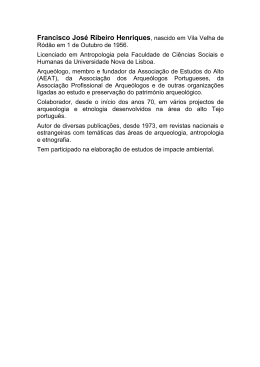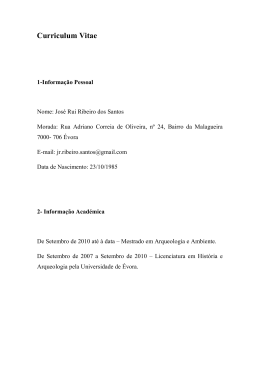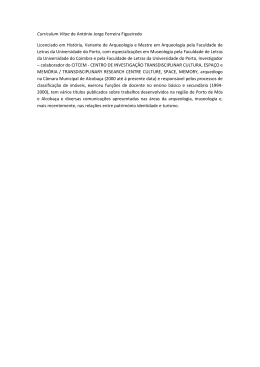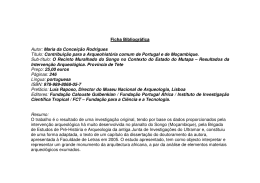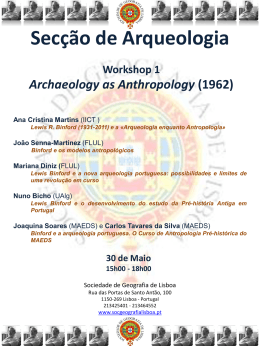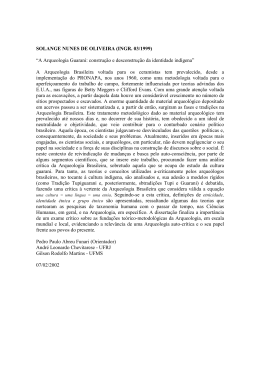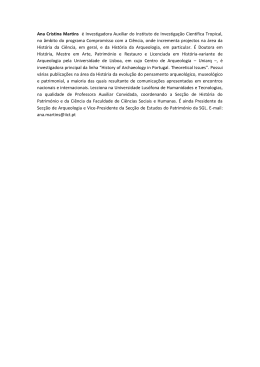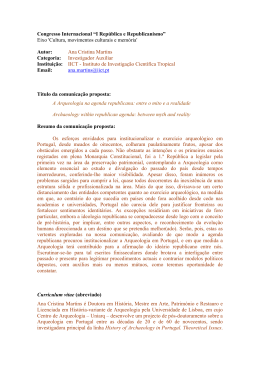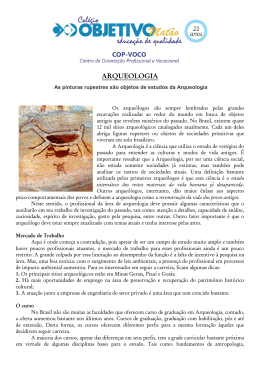Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Programa de Pós Graduação em Antropologia / PPGAN Das ostras, só as pérolas Arqueologia pública e arqueologia subaquática no Brasil Bruno Sanches Ranzani da Silva Belo Horizonte Abril de 2011 1 Bruno Sanches Ranzani da Silva Das ostras, só as pérolas Arqueologia pública e arqueologia subaquática no Brasil Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Antropologia (concentração em arqueologia). Orientador: Prof. Dr. Andrés Zarankin Co-orientador: Prof. Dr. Gilson Rambelli Belo Horizonte Abril de 2011 2 306 Silva, Bruno Sanches Ranzani da S586d Das pérolas, só as ostras [manuscrito] : arqueologia pública e arqueologia 2011 subaquática no Brasil / Bruno Sanches Ranzani da Silva. – 2011. 237 f. Orientador:Andrés Zarankin Co-orientador:Gilson Rambelli Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. . 1. Antropologia – Teses. 2. Arqueologia – Teses. I. Zarankin, Andrés. II. Rambelli, Gilson.III. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título 3 4 To whom it may concern 5 Agradecimentos A ordem dos tratores não altera a rodovia. Fui escrevendo à medida que minha cabeça foi lembrando. À minha família, por tudo. Aos meus orientadores, Andrés Zarankin e Gilson Rambelli, por toda a confiança, paciência e instrução deste jovem padawan. Espero ter-lhes feito valer o esforço. Aos professores Carlos Magno Guimarães e Pedro Paulo Funari, pela leitura atenta deste e de diversos outros trabalhos. Além dos professores citados, gostaria de agradecer aos outros docentes que também me acompanharam nas aulas do mestrado. Daniel Simião, Andrei Isnardis, Cristóbal Gnecco e Mary Beaudry. Obrigado por ampliarem meus caminhos entre antropologia e arqueologia. Aos entrevistados e quase-entrevistados para esta pesquisa. Obrigado pela paciência e interesse em meu trabalho. Peço desculpas por eventuais inconvenientes e desencontros. Além do Andrés, gostaria de agradecer sua família, Marcia e Lika, por terem me recebido, e continuar me recebendo, com todo o afeto em BH. Aos meus queridos colegas de turma, pesquisa, morada e salinha: Elis, Igor, Evelyn, Roger, Loulou, Luis, Flávia, Fela, Barbi, Diogo, Ju, Fabiano, Marianinha, Dani-socio, Carol, Xande, Nanda, João e Fernando. Obrigado por me receberem tão calorosamente neste Belo Horizonte de Minas, com muita cerveja, pão-de-queijo, bagunça, carinho e arqueologia. Ao quarteto fantástico (eu incluso): Rui, Dani-Arq e Camila. Forever Young! (rsrs). Aos queridos calouros de antropologia, com quem já comecei minhas ambições de orientação: Amanda, Dudu, Ciro, Gustavo. 6 Aos meus irmãozinhos adotivos (aquela parte da família que a gente pode escolher): Lalo, Lau, Galu, Bibico, Chopp e Fer. Aos queridos amigos sulistas (natos ou incorporados), Loredana, Xico, Lucio, Diniz, Iago, Edivânia, Ro e Paulinho. Obrigado pelas leituras atentas, comentários, diversão, oportunidades, churrascos e doces portugueses. À galerinha de Blu! Seus ítalo-alemãezinhos sapecas! À Aninha, Angela e Alessandro, pela dezenas de vezes que me salvaram o couro neste grande mundo burocrático. Ao PPGAN e Capes pelo financiamento e apoio institucional desta pesquisa. 7 Los libros que leí, las teorías que frecuenté, Se debieron a mis propios tropiezos con la realidad Ernesto Sábato, “Antes del fin” 8 Resumo Os conflitos entre a prática arqueológica e o público leigo se tornaram importante ponto de discussão dentro da disciplina nos últimos 30 anos. Minha proposta é buscar na arqueologia pública experiências e abordagens que reconheçam o viés político do conhecimento arqueológico, pensar sobre a responsabilidade social do profissional e promover a interação entre este profissional e seus distintos públicos. Além de uma breve revisão da literatura internacional sobre o tema, proponho-me a discutir sua aplicabilidade ao contexto nacional. Particular atenção será dada ao caso da arqueologia subaquática brasileira, cujos embates entre mergulhadores recreativos e arqueólogos, mediados por uma precária legislação nacional de proteção ao patrimônio cultural submerso, têm chamado a atenção de quem se interessa pela preservação e pela pesquisa. Palavras chaves: Teoria Arqueológica; Arqueologia pública; Arqueologia Subaquática. Abstract Conflicts between the archaeological practice and the lay public have become central issues to the archaeological discipline over the last 30 years. My proposal is to search for experiences and approaches, following the public archaeological perspective, that clarify the political bias of the archaeological knowledge, its responsibility towards society and promote ways of interactions between the discipline and its many different publics. I’ll conduct a brief review of the international literature on public archaeology and discuss its applicability to the Brazilian context. Particular attention will be paid to Brazilian underwater archaeology case, since it has been long concerned with its conflicting relationship with recreational divers, mediated by a weak legislation for the protection of the underwater cultural heritage. Key-words: Archaeological Theory; Public Archaeology; Underwater Archaeology. 9 Sumário Indice de Ilustrações ................................................................................................ 11 1. Antecedentes – A fome antes do bolo ............................................................. 12 1.2. Patrimonium, Patrimônio, Patrimônios .......................................................... 14 1.3. Arqueologia Subaquática no Brasil ............................................................... 22 1.3.1. As primeiras braçadas ........................................................................... 23 1.3.2. A consolidação da pesquisa submersa .................................................. 27 1.4. Patrimônio civil rumo às profundezas ........................................................... 34 2. Introdução .......................................................................................................... 36 3. Capítulo 1 - Arqueologia Pública Internacional ............................................... 39 3.1. Entre o civil e o Estado ................................................................................. 40 3.2. Pós-processualismo e novos olhares............................................................ 52 3.3. Arqueologias Públicas .................................................................................. 60 3.3.1. Imagens e expressões de arqueologia .................................................. 62 3.3.2. Alcance e Educação .............................................................................. 83 3.3.3. Antropofagia arqueológica ..................................................................... 97 4. Capítulo 2 - Arqueologia pública e colonialismo no Brasil.............................. 110 4.1. O “gingado” brasileiro ................................................................................. 113 4.2. Elegendo identidades ................................................................................. 122 4.3. Arqueologia pública no Brasil ..................................................................... 134 4.4. Síntese ....................................................................................................... 156 5. Capítulo 3 - The final showdown: arqueologia subaquática, mergulhadores e comunidades .......................................................................................................... 157 5.3. Arqueologia subaquática – desafios e estratégias de atuação pública........ 182 5.4. Comunidades costeiras, arqueologia e o impacto do turismo ..................... 198 5.5. Ao território dos lugares .............................................................................. 210 6. Conclusão – Das pérolas, só as ostras ............................................................. 213 7. Referência bibliográfica .................................................................................. 217 10 Indice de Ilustrações Figura 1: No original o artigo diz, “Lei da selva - Lula na comemoração da demarcação da Raposa Serra do Sol, que feriu o estado de Roraima” (Coutinho et alii 2010). Foto: Manoel Marques. ...........................................................................Erro! Indicador não definido. 11 1. Antecedentes – A fome antes do bolo A iniciativa deste trabalho partiu de meu interesse pela arqueologia subaquática, tema que havia começado a acompanhar ainda na graduação. Com tal preocupação, meu objetivo inicial foi pensar as estratégias de atuação do profissional de arqueologia frente ao conflito que envolve a prática subaquática no país. Gilson Rambelli (2009) resume de maneira precisa os problemas que assolam a prática subaquática da arqueologia nacional. Primeiro, a ação de caçadores de tesouros (brasileiros e estrangeiros) com forte influência lobista nos altos escalões do governo (envolvendo o planejamento legislativo nacional); segundo, a atribuição de salvaguarda e cuidados do patrimônio cultural submerso à Marinha, ao invés do Ministério da Cultura (órgão de competência pela proteção e manejo do patrimônio cultural “emerso”); terceiro, a indiscriminação (possivelmente por influência legislativa) entre o resgate de material para conservação e divulgação pública, e o resgate para leilão das peças. A meu ver, havia três “instâncias” que se envolviam com vestígios humanos submersos e chocavam-se quanto a que destino dar a esses vestígios. O Estado Nacional (1), em posição ambígua pela preservação do patrimônio nacional, mas influenciável pelo lobby da “caça ao tesouro”, os mergulhadores recreativos (2) interessados mais em aventuras e belas paisagens do que em retóricas de pesquisa, e o(a) pesquisador(a) arqueológico(a) (3), tomando parte de uma política internacional pela preservação do patrimônio arqueológico submerso como patrimônio da humanidade. As comunidades costeiras (moradores locais próximos aos sítios submersos) estavam ausentes no meu plano inicial, mas posteriormente discuti alguns casos referentes aos impactos que as atividades arqueológicas e turísticas podem exercer sobre estas populações e sua relação com os vestígios humanos submersos. 12 Nessa situação clara de conflito, as discussões sugeridas pela arqueologia pública me pareceram pontuais. Em suas acepções mais contemporâneas, a arqueologia pública tem como principal ponto de interesse a relação entre a disciplina e o público não acadêmico. A medida que caminhava minha pesquisa, fiquei cada vez mais interessado em suas propostas e amplitude temática. Entre as polêmicas que o conceito tangencia, dei-me conta (em especial depois do prolongado contato com diversos arqueólogos durante as aulas, congressos e botecos do mestrado) que o relacionamento entre o público não-arqueológo e a disciplina não se resumia apenas à arqueologia subaquática. Tratava-se de um movimento geral da disciplina no país, cuja entrada no mercado cultural tem gerado questionamentos, sobre sua legitimidade, seus deveres, seus direitos e sua ética. Foi assim que este trabalho mudou um pouco suas dimensões. Ao mesmo tempo em que não conseguia me desligar do tema subaquático, por interesse próprio e por vê-lo como um exemplo central do que se passava na arqueologia nacional, acabei me exaltando no interesse pelas diferentes acepções da arqueologia pública no mundo e como esse conceito tem sido usado no Brasil. Meu foco central dirigiu-se à compreensão da arqueologia pública, tendo a arqueologia subaquática nacional como um estudo de caso. Antes de dar início às delimitações e argumentos mais precisos do trabalho (seus ingredientes e medidas), me foi sugerido (tomei-a de muito bom grado) a redação desse pequeno “prólogo”, com os pontos fortes que me levaram à concatenação desta produção: patrimônio e arqueologia subaquática brasileira. Em respeito à constante menção dos termos “patrimônio cultural e arqueológico subaquático”, farei primeiro algumas considerações sobre o conceito de patrimônio. Mais adiante (primeiro e terceiro capítulos) entrarei nos aspectos legais da gestão patrimonial. Aqui, no entanto, me pareceu necessário, inicialmente, uma breve reflexão sobre o significado histórico e filosófico daquilo que a arqueologia tanto luta por defender. Em seqüência, 13 pretendo descrever uma breve história, justamente, da arqueologia subaquática brasileira e sua defesa do patrimônio cultural submerso. Desde o final dos anos de 1990, os embates entre representantes da comunidade científica e líderes do Poder Público têm marcado a prática arqueológica submersa nacional. As perguntas que fiz à este “prólogo” foram: o que tratar como patrimônio? E como a arqueologia subaquática brasileira tem tratado o patrimônio? 1.2. Patrimonium, Patrimônio, Patrimônios O conceito de patrimônio merece, antes de tudo, uma breve discussão. Considera-se, em princípio, a origem do termo patrimônio: a raiz provém do latim, patrimonium, que conjuga o substantivo pater (pai) e o verbo moneo (levar a pensar, lembrar; mesma raiz na palavra monumentum), ou seja, uma linhagem material (que carrega consigo algo de mnemônico) transmitida pelo chefe familiar da aristocracia romana (FUNARI e PELEGRINI 2006). Sua origem epistemológica nos sugere dois aspectos. Em primeiro lugar, sugere a linhagem privada na qual se insere o patrimonium, relembrando a origem aristocrática do termo e que ainda vemos sendo reproduzida, muitas vezes, nos critérios de seleção do patrimônio nacional. Esse primeiro aspecto gera a dúvida que deve ser constante, a meu ver, nos estudos sobre patrimônio arqueológico: quem esse patrimônio representa? Em segundo lugar, sugere uma conseqüência hereditária carregada de ancestralidade, a transmissão dos caracteres sociais adquiridos e a preservação da memória das origens. A ancestralidade tem gerado calorosas discussões em nossos dias por relegar para segundo plano uma qualidade inerente às sociedades: sua dinamicidade. Apesar de considerar a abordagem etimológica apenas como uma pequena parte da argumentação conceitual, acredito que ela pode trazer, como é o caso, importantes reflexões sobre os usos e abusos do termo em questão. Pretendo desenvolver ao longo do texto essas duas reflexões sobre o patrimônio, uma vez que se tornam essenciais na discussão sobre patrimônio arqueológico, sua proteção e qual sua importância para os diversos grupos que vivem e interatuam através dele. 14 Para além de sua etimologia, lidar com a questão patrimonial em caráter individual e familiar não é, em definitivo, a mesma coisa que lidar com a questão patrimonial em caráter coletivo. A coletividade não é a simples soma de indivíduos, assim como o todo não é a mera junção das partes, como afirmou, há 2.500 anos, o filósofo Platão. (...) As coletividades são constituídas por grupos diversos, em constante mutação, com interesses distintos e, não raros, conflitantes (FUNARI e PELEGRINI 2006, p. 9-10). Nesse aspecto, concordo com o argumento dos autores sobre o surgimento dos Estados Nacionais modernos e uma verdadeira revolução encaminhada ao conceito de patrimônio. A revolução francesa, marco essencial na história dos direitos humanos e do iluminismo, acaba com a noção familiar e privada do patrimônio, dando frente ao patrimônio hereditário social e coletivo da nação. A Revolução Francesa viria a destruir os fundamentos do antigo reino. Ao acabar com o rei, toda a estrutura do Estado perdia sua razão de ser. A República criava a igualdade, refletia na cidadania dos homens adultos (FUNARI e PELEGRINI 2006, p. 15). Uma outra autora, a arqueóloga espanhola Margarita Díaz-Andreu parte de uma perspectiva muito interessante em que duas formas de coletividade são derivadas desse processo revolucionário do final do século XVIII e começo do XIX. A Revolução francesa de 1789 primeiramente politizou o conceito de nação1, uma “soberania” considerada “como a união de indivíduos governados por uma única lei, e representados pela mesma assembléia legislativa” (Kedourie 1988:5 apud Díaz-Andreu 2000, p. 40). Esse nacionalismo, DíazAndreu chama “cívico”; Para o nacionalismo cívico ou político, o conceito “nação” estava ligado a conceitos herdados do Iluminismo neoclássico, que ora se associaram intimamente com a nação: cidadania, território, direitos e deveres iguais para todos os cidadãos, 1 Do latim nascor, éris – “nascer” (HOUAISS 2007). Também encontramos os vocábulos natio, ónis – “raça, espécie, povo” (GLARE 2006). 15 educação universal e ideologia cívica (Smith, 1991: 9-10 apud Díaz-Andreu 2002, p. 8). A segunda forma seria aquela atribuível aos movimentos de unificação da Alemanha e Itália, carregando a soberania nacional com pressupostos étnicos. Ou seja, uma nação que fosse, em primeiro lugar, culturalmente coesa, com “costumes semelhantes e/ou uma língua compartilhada” (Díaz-Andreu 2002, p. 10); E, em segundo lugar, uma descendência comum. “Para tudo isso, a História própria de cada nação tinha um papel fundamental legitimador” (Díaz-Andreu 2002, p. 10). A queda do Regime absolutista e a criação dos Estados Republicanos alteram a sensibilidade sobre a participação da coletividade no encaminhamento político do território, da economia e da história. Por um lado, a conquista do acesso à direitos políticos por uma maioria não-aristocrática e não-nobre é um dos grandes avanços das diretrizes iluministas e humanistas, e permitem, a princípio, a maior proximidade ao que seria uma justiça social. “Liberdade, igualdade e fraternidade”. Por outro, o surgimento do Estado não mais centrado na figura do Monarca, mas sim na figura de seu coletivo constituinte exige a unidade e o fundamento desse coletivo ao território em distinção. “O líder da unificação Massimo D’Azeglio, constatou que ‘feita a Itália, é preciso fazer os italianos’” (Funari & Pelegrini, 2006, p. 17). Na constituição das novas nações étnicas é fundamental elencar os monumentos que serão receptáculos da memória coletiva. A experiência do nacionalismo étnico que começara na Europa no final do século XIX culminaria nos horrores das duas Grandes Guerras e com o Holocausto. A seqüência foi o desmantelamento das nações imperialistas, a descolonização da África e Ásia e o realce das liberdades e direitos cívicos garantidos pelo iluminismo, bem como o convívio e respeito às diversidades (Funari & Pelegrini, 2006). Essas novas ideologias sobre a coletividade convocam mudanças nas atribuições dos Estados Nacionais, que procuram formular um novo enquadramento da identidade nacional, pautada basicamente em dois pontos: 1) A demarcação do território geopolítico continua sendo a fronteira dentro da qual o nascimento do indivíduo, ou seu grau de 16 descendência de um nascido, determina seu pertencimento ao país (nacionalidade). 2) A tentativa, pós-holocausto, de ampliar o reconhecimento da diversidade étnica dentro do território nacional e garantir seus direitos cívicos através de políticas de estado. Essa diferença entre Estado “cívico”, resultante de um coletivo heterogêneo, e “étnico”, homogeneizante do coletivo, me parece essencial na compreensão da atual condição dos Estados Nacionais Latino-Americanos. Como no caso do Brasil, onde o direito e promoção da diversidade tem sido carro-chefe das políticas públicas governamentais, dentre o que tange à distinção, nomeação, preservação e aclamação do patrimônio nacional. Dentro desse novo panorama das nações européias, o trato do patrimônio foi movido por três características básicas: sua materialidade e monumentalidade, sua beleza e exemplaridade, e sua regência por Instituições Públicas (Funari & Pelergini 2006). Portanto, tratava-se de eleger, entre os edifícios e objetos atribuídos à vivencia histórica nacional, quais seriam os maiores, mais belos, e mais típicos do caráter único e grandioso da Nação. A criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1945 dão respaldo a essa empreitada nacional de respeito aos direitos do cidadão e à diversidade cultural, direitos que são antes considerados humanos que territoriais. Em termos internacionais, as diferentes nações interagiam mais do que nunca, o que também contribuiu para a dissolução dos conceitos nacionalistas, apesar de os órgãos internacionais, como a ONU e a UNESCO, serem aglomerados de Estados nacionais e defenderem, em muitos casos, a nação como uma suposta unidade, sem contrastes internos. De toda forma, a convivência levou à eleição da diversidade humana e ambiental, como valor universal a ser promovido (Funari & Pelegrini, 2006, p. 23). Assim, entre o final da 2º Guerra Mundial e os anos 1990, a ONU e diversas nações investiram na construção de um aparato legislativo de proteção patrimonial. 17 A primeira Conferência Internacional para a Preservação dos Monumentos Históricos aconteceu em 1931 em Atenas. Embora sua “internacionalidade” tenha se resumido à presença de países europeus (Choay, 2001), a Carta de Atenas, documento gerado desse encontro, tornou-se referência base à filosofia de preservação, valoração e conservação de monumentos históricos e artísticos. Cita, inclusive, monumentos de interesse arqueológico (parte da carta é dedicada aos trabalhos de restauro e conservação da Acrópole Ateniense) (Sociedade das Nações, 1931). No entanto, seu texto prezava demasiado por quesitos estéticos, recomendando a derrubada de possíveis cortiços ao redor do monumento e enfatizava que nada fosse construído em estilo semelhante ao monumento para não roubar-lhe a atenção (Pelegrini 2006). Posterior à Segunda Guerra-Mundial, as recomendações da ONU começam a referenciar atenção cada vez maior à diversidade das acepções e importâncias sociais do patrimônio. A Carta de Veneza de 1964 contou com a participação de três países não europeus: México, Peru e Tunísia (Choay, 2001). Esse documento, conseqüente da II Conferência Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos do ICOMOS, trata de normas para a conservação e restauro de monumentos históricos, definindo-os como (...) criações arquitetônicas isoladas assim como o conjunto urbano ou rural de testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa, ou de um acontecimento histórico. Refere-se não somente às grandes criações, mas também às obras modestas que tem adquirido com o tempo uma significância cultural (ICOMOS 1964, p. 10). Dando devida atenção às “obras mais modestas” que possuem significado cultural e ao envolvimento da sociedade, a Convenção de 1964 já inaugura uma nova postura política frente ao poder de representatividade social do patrimônio. Da mesma forma, a Declaração de Amsterdam (1975) reforça a inserção de conjuntos nas categorias de patrimônio e a viabilização de “políticas de conservação integradas” (Pelegrini 2006, p. 4), bem como “aconselha o envolvimento da população residente nos processos de 18 preservação, de modo a evitar a evasão dos habitantes em virtude de processos especulativos” (Pelegrini 2006, p. 5). Esse cenário internacional será muito ativo na redação de leis, normas e recomendações de proteção e salvaguarda do patrimônio mundial. Algumas são de extrema importância para a definição e gestão do patrimônio arqueológico. Exemplos: (i) a 13ª Conferência Geral da Unesco em Paris, no dia 19 de novembro de 1964, faz “recomendação sobre medidas destinadas a proibir e impedir a exportação, importação e a transferência de propriedade ilícitas de bens culturais” (Unesco, 1964 apud Funari; Domínguez, 2005, p. 13), que exigem a proteção, dentre outros “bens culturais”, daqueles de “interesse histórico, artístico ou arqueológico” (Unesco, 1964 apud Funari; Domínguez, 2005, p. 14); (ii) a “Recomendação acerca da Preservação de Propriedade Cultural Ameaçada por trabalho Público ou Privado” (Chih-Hung, 2004)2, em dezembro de 1968; (iii) a “Convenção sobre os Meios de Proibição e Prevenção da Importação Ilícita, Exportação e Transferência de Posse de Propriedade Cultural” (Chih-Hung, 2004), assinada em 14 de novembro de 1970 em Paris, que trata da “propriedade cultural” como aquela que “por estatuto religioso ou secular, é especificamente designada por cada Estado como sendo de importância para a arqueologia, pré-história, história, literatura, arte ou ciência” (Unesco, 1970, p. única); (iv) a “Recomendação de Paris sobre Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural”, de 1972, que define como patrimônio cultural, em seu Artigo 1º, “elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas (...)” e “lugares arqueológicos, que tenham valor universal do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 1972)3. Não somente cartas com propostas gerais, mas também alguns encontros entre Nações Latino Americanas buscaram suprir as demandas específicas de suas identidades e conjuntos patrimoniais, como a Carta de 2 Todas as traduções dos originais em lingua estrangeira são de minha autoria. 3 Mais documentos estão acessíveis gratuitamente do site da Unesco: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 19 Machu Picchu em 1977, A Convenção de Tlaxcala em 1982 e a Declaração do México de 1985 (Funari & Pelegrini, 2006). As convenções de Tlaxcala e do México reforçaram o caráter popular do patrimônio e sua forma imaterial (ritos, festas, danças) (Pelegrini 2006, p. 5), enquanto a Convenção de Machu Picchu propunha a (...) reintegração entre a arquitetura e as cidades em todos os seus elementos constitutivos, buscando a manutenção de sua vitalidade e significado contemporâneo, manifestando ainda preocupações com o impacto social gerado pela sobrevalorização das áreas restauradas e/ou revitalizadas e com os danos ao meio ambiente, anteriormente abordados na Convenção de Estocolmo (1972) (Pelegrini 2006, p. 5-6). Em 1985, o reconhecimento do patrimônio arqueológico como um bem que necessita de cuidados e medidas específicas para sua gestão levou à criação de uma instância dentro do ICOMOS, o Comitê Internacional para Gestão do Patrimônio Arqueológico (ICAHM, sigla do original em inglês4) (Elia, 1993 p. 97). O primeiro documento internacional a tratar especificamente do patrimônio cultural arqueológico, a Carta da Lausanne, foi redigida por esse órgão em 1990. Seu texto define o patrimônio arqueológico como “a porção do patrimônio material a qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários” (ICAHM 1990, Art. 1). Seu texto engloba também vestígios “sob as águas”. A abrangência oferecida por essa carta coloca a arqueologia em foco na definição e manejo de um bem cultural “Patrimônio cívico”: O conceito de patrimônio tem tomado formas distintas no decorrer dos anos, e finalmente se transformou em uma parafernália jurídica de importância vital no manejo da memória e do espaço nacional. específico. A condição ontológica que liga esse patrimônio à disciplina garante o direito de participação do público em sua gestão (de proteção à integração nas atividades de pesquisa e gerência), e conclama igualmente o Estado ao dever de manejo e respeito à memória pública (ICAHM 1990). Finalmente, no ano de 2001, durante a 31º Convenção Geral da UNESCO em Paris, é redigida a “Convenção sobre a Proteção do Patrimônio 4 No original, International Committee on Archaeological Heritage Management. 20 Cultural Subaquático”. Em seu texto, fica definido o “Patrimônio cultural subaquático” como Todos os traços de existência humana tendo um caráter cultural, histórico ou arqueológico, que tenham estado parcialmente ou totalmente debaixo de água, periódica ou continuamente, durante pelo menos 100 anos, tais como: i) ii) iii) Sítios, estruturas, edifícios, artefatos e vestígios humanos, em conjunto com o seu contexto arqueológico e natural; Navios, aeronaves, outros veículos, ou qualquer parte deles, a sua carga ou outro conteúdo, em conjunto com o seu contexto arqueológico e natural; e Objetos de caráter pré-histórico (UNESCO, 2001). A Convenção da Unesco de 2001 igualmente estabelece a prioridade da preservação do patrimônio material subaquático in situ (Art. 2, nº5) e a proibição de sua valoração comercial (Art. 2, nº 7 e Regra 2, Anexo). Essa convenção consagra os esforços da arqueologia subaquática mundial (nascida nos anos 1960). Infelizmente, o Brasil ainda não ratificou a Convenção. Não somente a ignora como aprova uma lei, um ano anterior à Convenção, que viabiliza a atribuição de valor do patrimônio submerso de acordo com as demandas do mercado (Rambelli 1997, 1998, 2002, 2004). Apesar da curta explanação sobre cada uma das leis, algumas considerações de âmbito geral que dizem respeito à minha argumentação podem ser deduzidas. Primeiro, todas as cartas coroam a necessidade de atuação dos Estados Nacionais signatários na gestão e proteção do patrimônio cultural, bem como sua cooperação internacional através da UNESCO e de alianças com outros países. Segundo, a importância da especialização e profissionalização dos gestores desse patrimônio. Terceiro, a indicação de um patrimônio depende da sua valoração pelos órgãos competentes e pelo Estado. A promulgação de leis e recomendações sobre a gestão do patrimônio arqueológico constitui a sedimentação de um grande e complexo aparato jurídico através do qual as entidades especializadas, com respaldo de órgãos públicos nacionais e supranacionais, irão atuar na determinação e gestão dos espaços e vestígios materiais classificados como “patrimônio arqueológico”. Ou 21 seja, fica a cargo da disciplina arqueológica um papel imensurável na construção de espaços de memória nacionais. Isso não significa que esse papel seja uma novidade na agenda da disciplina. Tanto os textos citados de Margarita Díaz-Andreu (2000, 2002) quanto outros autores (Cf. Trigger 1984, Fowler 1987, Arnold 1996, Lima 2007) trabalharam com o importante papel que a arqueologia teve na construção das nações européias “étnicas”, através da descoberta de vestígios materiais do purismo ariano nazista e da gloriosa ascendência romana do fascismo, para citar alguns exemplos. Com a desestruturação dos nacionalismos étnicos, a arqueologia é redirecionada para a gestão do patrimônio cívico focado em um desenvolvimento da cultura humana, global e local. As argumentações que aqui se tecem enxergam esses gigantes regimentares como uma das respostas às demandas dos movimentos sociais e um meio de abrir espaço oficial para as minorias. Assim, acredito na importância da proteção desse “patrimônio cívico”, veículo de expressões de diversas memórias sociais. Ao mesmo tempo, nesse momento de credenciamento do poder da arqueologia na participação dessa sociedade em luta, devemos prestar atenção à responsabilidade que recai sobre nossas resoluções e relatórios. É nesse momento que se começa a exigir a responsabilidade sobre seu papel como mediador entre o público e essa parafernália jurídica encabeçada por políticas humanistas internacionais. 1.3. Arqueologia Subaquática no Brasil A questão do patrimônio submerso brasileiro me pareceu um excelente caso para se pensar as políticas de proteção patrimonial, sua relevância social e o papel da arqueologia neste cenário. Localizado em um espaço extremamente ambíguo aos olhos do ser humano, envolvendo mistério e morte, a apreciação do público pelos vestígios humanos submersos se misturam com interesses particulares em grandes tesouros perdidos e entram em conflito com profissionais da arqueologia que prezam pela proteção deste patrimônio 22 material. Esse relacionamento conflituoso entre público leigo e arqueólogos desenvolve-se pelas tramas confusas da legislação nacional específica desse patrimônio e as posturas evasivas do IPHAN e da Marinha. Entremeando a discussão sobre o patrimônio arqueológico submerso, tratarei brevemente da história da arqueologia subaquática no país com especial atenção à sua participação na preservação da cultura material imersa. 1.3.1. As primeiras braçadas O primeiro resgate de material arqueológico submerso acompanhado de um arqueólogo foi realizado na costa baiana em 1977. O Galeão Sacramento foi escavado na Baia de Todos os Santos sob coordenação do arqueólogo Ulysses Pernambucano de Mello Neto. O Galeão Sacramento e uma embarcação holandesa não identificada foram apontados por um pescador baiano em 1973 (Cf. Jornal da Tarde. 29 de setembro de 1977), na mesma época em que fora encontrado por dois mergulhadores recreativos (Cf. Jornal da Tarde. 22 de setembro de 1976)5. A meu ver, a importância do Sacramento não apenas reside em sua excepcionalidade, mas também em sua exemplaridade da situação que na qual se encontra a gestão dos vestígios materiais submersos. Várias notícias de jornais já apresentam um dos lados do panorama conflituoso que identifiquei no início do texto. Até o início dos trabalhos da Marinha no fim de 19756, o Galeão Sacramento passou por alguns anos de depredação por parte de mergulhadores recreativos e caçadores de tesouro. Algumas atividades viraram motivo da imprensa local e nacional, com manchetes relatando um verdadeiro esquema de contrabando de antiguidades. Os próprios descobridores da embarcação, José Rebelo e Francisco Gordilho (“Chico Diabo”) venderam um canhão holandês no Recife por CR$ 190 mil antes que a Marinha pudesse intervir (Faustino, 1976). “Chico Diabo” também 5 O Jornal do Brasil oferece a data de 1973 (Faustino, 1976). 6 Carta do Comando do 2º Distrito Naval de Salvador, 20/09/1976. Material pesquisado e cedido pela amiga Beatriz Bandeira, a quem muito agradeço. 23 fez alguns bons negócios com pratos de faiança, os quais vendeu por US$ 1.000,00 a peça (Cf. O Globo. 13 de dezembro de 1976). Ambos haviam difundido a presença de tubarões ao redor do naufrágio, como tentativa “salvaguardar” sua descoberta (Cf. Jornal da Tarde. 22 de setembro de 1976). Outra notícia que apareceu em diversos jornais da época foi a apreensão de material arqueológico retirado do Sacramento. Seis canhões de bronze 7 foram apreendidos no Recife pela Superintendência Regional da Polícia Federal, em um ferro velho no aguardo de um carregamento que os levaria a São Paulo, onde teriam já compradores (Cf. O Estado de São Paulo. 22 de setembro de 1976) e outros três estavam sendo procurados pela Polícia Federal de Pernambuco (Cf. Jornal da Tarde. 27 de setembro de 1976). A apreensão somente foi possível, como argumentarei mais adiante no terceiro capítulo, devido à legislação já existente desde 1961 que determinam a posse direta de “bens e sítios arqueológicos” à União. Além da legislação que rege a posse sobre bens encontrados em costa nacional. No entanto, a falta de regulamentação específica sobre a situação do material arqueológico encontrado, levou (e ainda leva) a desentendimentos entre os órgãos competentes. O Jornal da Tarde informou que o comandante do 2° Distrito Naval, vice-almirante Fernando Ernes to Carneiro Ribeiro, “um dos responsáveis diretos pela seriedade com que agora, afinal, está sendo encarada atualmente a descoberta” (Cf. Jornal da Tarde. 27 de setembro de 1976) descobrira que há meses antes a Marinha permitira a remoção de material submerso por mergulhadores e pescadores. E que somente tomou ciência da situação quando vizinhos de um dos pescadores que guardava consigo um torpedo, vieram reclamar o medo constante de uma explosão (Cf. Jornal da Tarde. 27 de setembro de 1976). Em cartas trocadas entre o comando do Serviço de Documentação Geral da Marinha e o 2º Distrito Naval, existem informações sobre os trabalhos 7 O Jornal da Tarde diz que o Vice-Almirante Fernando Ernesto Carneiro Ribeiro anunciou que foram 9 canhões (Cf. Jornal da Tarde. 27 de setembro de 1976). 24 da Marinha desde 1975 e as pilhagens de material vendido à colecionadores nacionais e estrangeiros 8 . No entanto, não nega que tenham sido essas descobertas de grande valor histórico e inclusive lamenta que pouco do material retirado do fundo tenha sido doado ao Museu Naval9. Após esses casos notórios de depredo e pilhagem do patrimônio nacional, a Marinha, orientada pelo Serviço de Documentação Geral da Marinha sobre o rico acervo que jazia no fundo do mar, começou a realizar etapas de intervenção e retirada de material ainda em 197510, logo antes da contratação do “jovem arqueólogo” Ulysses Pernambucano (Cf. Jornal da Tarde. 27 de setembro 1976). O acordo entre a Marinha, através do 2º Distrito Naval, e do Ministério da Educação e Cultura, através do Conselho Federal de Cultura (Cf. Jornal do Brasil. 15 de novembro de 1976) permitiu que os trabalhos arqueológicos no Galeão começassem. A primeira etapa tem início em setembro de 1976 e foi concluída em maio de 1977. Mobilizou 24 mergulhadores, o NSS (Navio de Socorro Submarino) e mais duas corvetas (Purus e Caboclo) e duas embarcações auxiliares (Juruá e Javari) (Cf. O Estado de São Paulo. 22 de setembro de 1976; O Globo. 22 de setembro de 1976). Do navio holandês, pouco se sabe além de sua localização próxima à ilha de Itaparica. O vice-almirante Fernando Ernesto Carneiro Ribeiro, comandante do 2º Distrito Naval que coordenou pessoalmente as atividades do Projeto de arqueologia supôs que o casco soçobrado em Itaparica fosse de uma nau holandesa que fora destruída durante um ataque feito por Maurício de Nassau à Bahia em 1637 (Cf. O Globo. 13 de dezembro de 1976), afirmando 8 Carta do Contra-almirante Paulo Guilherme Brandão Padilha ao Serviço de Documentação Geral da Marinha. 07/04/1976. Material pesquisado e cedido pela amiga Beatriz Bandeira. 9 Carta do Contra-almirante Paulo Guilherme Brandão Padilha ao Serviço de Documentação Geral da Marinha. 07/04/1976. 10 Carta do Comando do 2º Distrito Naval de Salvador, 20/09/1976. Arquivo do Serviço de Documentação Geral da Marinha, 1º Distrito Naval – Rio de Janeiro/RJ. Material pesquisado e cedido pela amiga Beatriz Bandeira. 25 que dos 20 canhões retirados, e que permitiram a identificação da nau como holandesa, faltavam ainda 3. Apesar da crítica concreta ao depredo por mergulhadores recreativos, os trabalhos de arqueologia no Sacramento se limitaram à retirada de materiais do fundo do mar como “ilustração da história trágico marítima”, nas palavras de Gilson Rambelli, arqueólogo subaquático da Universidade Federal de Sergipe (informação verbal)11. Apesar da notoriedade dos trabalhos no Sacramento, e das apreensões de venda ilegal de material, não foram levados adiante esforços pela reformulação das confusas políticas de manejo do patrimônio cultural submerso. Outra crítica feita aos trabalhos de Pernambucano foi sua opção por não mergulhar. Ele acompanhou o trabalho de 24 mergulhadores (Cf. O Estado de São Paulo. 22 de setembro de 1976; Jornal da Tarde. 22 de setembro de 1976; Reportagem 1976a, Reportagem 1976b) desde a superfície. Já na década de 1960, início da arqueologia subaquática mundial, a importância do arqueólogo em campo é reforçada. Luiz Octavio de Castro Cunha foi outro arqueólogo que se envolveu com arqueologia subaquática na década de 1980. Formado em arqueologia pela Universidade Estácio de Sá em 1986, Castro Cunha cursou, no ano de 1988, pós-graduação em História e Cultura Contemporânea, cuja conclusão se deu com a redação de sua monografia “Arqueologia subaquática no Brasil e no mundo: diferentes tecnologias” (Cunha, 2009). Como chefe da Seção de Arqueologia Subaquática do Museu Histórico e Oceanográfico entre 1991 e 2003, tem publicado alguns poucos trabalhos em arqueologia subaquática (C.f. Cunha 2009), entre eles um texto sobre o Galeão Sacramento, onde relata sua participação na segunda etapa dos trabalhos em 1987 (Cunha, 1990). 11 Informação fornecida por Gilson Rambelli durante aula em 2008. 26 1.3.2. A consolidação da pesquisa submersa No Brasil, Gilson Rambelli e o Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática (CEANS, hoje vinculado ao Nucleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade Estadual de Campinas – NEPAM/UNICAMP) têm sido a principal militância pela revisão dessa legislação e pela proteção do patrimônio submerso nacional. Desde o final dos anos 1990, eles têm publicado textos sobre a necessidade de mantermos compasso com a legislação e parâmetros internacionais de proteção patrimonial (Rambelli 1997, 1998, 2002, 2004; CEANS 2004). Existe uma depredação contínua, sobretudo dos naufrágios marítimos, provenientes da pouca importância dada a esses bens culturais por parte dos órgãos responsáveis pela gestão patrimonial nacional. (...) Com um litoral que se estende por mais de 8.500 km, palco de milhares de naufrágios em quase 500 anos de história trágico marítima, com águas interiores que representam uma das maiores redes fluviais do mundo, temos uma certeza: O Brasil desconhece os bens culturais submersos em suas águas (Rambelli 1997). Já em 1993, durante a VII Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira em João Pessoa, Gilson Rambelli e Maria Cristina Scatamacchia 12 sentaram-se com autoridades da Marinha e do IPHAN para discutir a arqueologia subaquática no Brasil (Rambelli 2008, p. 18). Maria Scatamacchia treinou uma nova geração de arqueólogos subaquáticos no MAE/USP, todos engajados na proteção do patrimônio submerso através da atuação do CEANS. Em 1999 Paulo Bava de Camargo começa seu mestrado no MAE sobre as fortificações de Cananeia (Camargo 2002). Na tentativa de compreender como se formou o sistema defensivo do Baixo Vale do Ribeira durante o Segundo Reinado e na eventualidade da Guerra Cisplatina, Camargo pretende 12 Arqueóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP). 27 ir além dos vestígios dos fortins emersos, já bastante degradados ou de construção menos resistente às intempéries do tempo (Camargo 2002). Os canhões foram alguns dos poucos instrumentos de defesa que sobreviveram, e parte hoje se encontra submersa. Além da busca pelos vestígios, considerar o ambiente aquático foi um dos meios encontrados para entender a formação desses sítios costeiros e ribeirinhos. Flavio Rizzi Calippo iniciou também seu mestrado em 2000 sob orientação de Scatamacchia com o tema de sambaquis com interface entre os ambientes aquáticos e secos. Seu projeto é igualmente um experimento bem sucedido da aplicação das metodologias de campo da arqueologia subaquática a casos brasileiros. Uma adaptação do vibracoring, instrumento de coleta sedimentar, para as necessidades do estudo dos componentes estratigráficos de alguns sambaquis em Cananéia. A metodologia foi aplicada a sítios tanto fora como dentro d’água, com o objetivo de “compreender a ocorrência desses sambaquis e de contextualizá-los espaço-temporalmente em meio às flutuações holocênicas do nível do mar” (Calippo, 2004, resumo). Em 2000, a equipe composta por esses pesquisadores do MAE, Gilson Rambelli, Paulo Bava de Camargo e Flávio Rizzi Calippo criaram o Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática, objetivando o levantamento, estudo, divulgação, conscientização, gestão, proteção e preservação do patrimônio cultural náutico e subaquático brasileiro e internacional (CEANS, 2010). Já em 2002, Leandro Domingues Duran começa a freqüentar o Museu em uma disciplina de Introdução à arqueologia subaquática e, em 2003, começa seu doutorado em arqueologia subaquática no MAE, também sob orientação da Scatamacchia, com um estaleiro baleeiro. Gloria Tega, jornalista especializada em divulgação científica pela Universidade de São Paulo tem contribuído desde o início dos anos 2000 com os projetos de arqueologia subaquática e com o CEANS. Não somente com a divulgação das atividades levadas a cabo pelos integrantes, mas também 28 agindo dentro dos meios midiáticos, na tentativa de entender estratégias de conversão entre interesses do jornalismo e da divulgação científica (Tega 2004; 2010 – informação verbal13). Em 2002, o CEANS passa a existir oficialmente como Centro de Estudos vinculado ao Instituto Gaia, e em 2004 muda sua locação para o Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Estadual de Campinas (NEE/UNICAMP). No ano seguinte, membros do Centro de Estudos passaram a ministrar aulas no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da mesma Universidade (NEPAM/UNICAMP) relacionadas à “cultura material, relações sociais, políticas públicas e meio ambiente” (CEANS, 2010). Hoje, o CEANS está locado no NEPAM. Sua atuação na luta pela proteção do patrimônio cultural subaquático será marcante na arqueologia brasileira. Uma vez oficializado, o Centro de Estudos passa a ser a Primeira Unidade de pesquisa especializada no tema com apoio do Comitê Internacional sobre o Patrimônio Cultural Subaquático, vinculado ao Comitê Internacional de Monumentos e Sítios (ICUCH/ICOMOS/UNESCO) e com respaldo da Sociedade de Arqueologia Brasileira (CEANS, 2010). Ele publicou em 2004 o “Livro Amarelo: manifesto pró-patrimônio cultural subaquático brasileiro” (CEANS 2004) documento gerado como repúdio às práticas de caça ao tesouro em águas nacionais e à atual legislação (já promulgada em 2000) que transgride os interesses públicos pelo patrimônio submerso, dando prioridade a interesses privados. Deste modo, preocupado com as atividades que ameaçam o patrimônio cultural subaquático no Brasil e ciente da necessidade de medidas mais rigorosas e urgentes para impedir essas atividades, o CEANS/NEE apresenta este documento informativo – Manifesto – em defesa deste patrimônio cultural tão digno de atenção e respeito quanto sua contrapartida terrestre. O objetivo é contribuir com a sociedade brasileira munindo-a com informações pertinentes sobre o tema e chamando atenção para a necessidade da rediscussão da 13 Entrevista concedida por Glória Tega a Bruno S. R. da Silva via Skype Belo Horizonte-São Paulo, agosto 2010. 29 atual legislação que trata do patrimônio arqueológico subaquático em águas brasileiras (CEANS, 2004, p. 1-2). Como parte das empreitadas do CEANS estão cursos de extensão sobre mergulho consciente em escolas especializadas, disciplinas acadêmicas em Universidades estaduais (no caso do NEPAM/UNICAMP) e particulares, bem como presença militante em encontros da comunidade arqueológica buscando respaldo de sua atuação em prol do patrimônio arqueológico submerso. Em 2005 os participantes do I Simpósio Internacional de Arqueologia Subaquática, evento organizado dentro o XIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, apelam à assembléia geral da Sociedade com uma Moção (...) para que a mesma interceda junto às instituições públicas brasileiras envolvidas com esta temática com vistas a pleitear a reformulação da legislação aplicável ao patrimônio arqueológico subaquático, bem como a ratificação da referida Convenção da UNESCO para a proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, como meio de promover uma proteção efetiva dos bens culturais submersos em nossas águas (Rambelli, 2005, p. 2). Essa Moção levou adiante a proposta da Equipe e, em 2006, a deputada maranhense Nice Lobão levou ao Congresso o Projeto de Lei nº 7.566 cuja fórmula carrega os termos sugeridos no Livro Amarelo (Tega 2007). Ou seja, visa derrubar a lei 7.594, bem como suas alterações da lei 10.166, permitindo que o Brasil assine a convenção da UNESCO de Proteção do Patrimônio Submerso. Durante o XIV Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira em Florianópolis, do dia 30 a 4 de outubro, a comunidade arqueológica subaquática se reuniu mais uma vez com um Simpósio de Arqueologia Subaquática. Na programação, dividida em duas partes, há exposição de trabalhos que estudam o patrimônio cultural subaquático em diferentes formas, como naufrágios, paisagens marítimas, gravuras rupestres submersas, vestígios arqueológicos submersos no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (localizado no meio do oceano atlântico, a 1100 km de Natal) e 30 até a ocupação ao longo dos anos de uma ilha do litoral sul de São Paulo (Tega, 2007a). No mesmo mês, entre os dias 27 e 28 de outubro de 2007, o Brasil sediou uma reunião do Comitê Internacional sobre o Patrimônio Cultural Subaquático (ICUCH/ICOMOS) por conta do II Simpósio Internacional de Arqueologia Subaquática, cujo tema “Arqueologia Marítima nas Américas: ocupações litorâneas, barcos e navios, portos e áreas portuárias” reuniu pesquisadores de todas procedências nacionais e internacionais. O evento pretende estabelecer novas perspectivas de pesquisas no Brasil e fortalecer a cooperação entre os países nos trabalhos sobre essa temática. O Simpósio vem impulsionar o recém criado Núcleo de Estudos Avançados de Pesquisa em Arqueologia e Etnografia do Mar, em Itaparica, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia (MAE/UFBA) (Tega, 2007b). Ao final desse evento, o Comitê Internacional se reuniu e redigiu a Carta de Itaparica, documento oficial recomendando ao Brasil à adoção da Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Arqueológico Submerso (Tega, 2008). Esse extenso – e tenso – debate sobre a proteção do patrimônio arqueológico subaquático teve suas repercussões positivas junto ao poder legislativo com o Projeto de Lei 7566. Desde 2008, o Projeto foi reestruturado por discussões entre a Marinha do Brasil, o IPHAN e a comunidade arqueológica e foi reapresentado ao Congresso pelo Senado como Projeto de Lei nº 45/08 (Guimarães 2010 - informação verbal14). A PL 45/08 é a melhor opção que temos até o momento para uma nova redação que dê respaldo à proteção do patrimônio As publicações em arqueologia subaquática nacional mostram uma maior dedicação em dois aspectos: defesa do patrimônio cultural e sedimentação da prática entre os pares. arqueológico subaquático nacional. Enquanto 14 Entrevista concedida por Ricardo Guimarães a Bruno Sanches no Rio de Janeiro, dia 27 de abril de 2010. 31 isso, vale pensarmos em outras maneiras pelas quais a arqueologia pode atuar pela defesa do patrimônio e pela representatividade social. Além da equipe do CEANS, outros arqueólogos brasileiros têm trabalhado com arqueologia subaquática na entrada do novo milênio. Francisco Silva Noelli também é um arqueólogo brasileiro que se aventurou no campo da arqueologia subaquática. Em 2004 ele passou a coordenar as atividades da ONG Programa de Arqueologia Subaquática (PAS), uma empreitada sem fins lucrativos que visava a pesquisa e a proteção do patrimônio cultural subaquático em águas catarinenses (Viana et alii. 2004). Em 2002 a equipe formada por Alexandre Viana, Marcelo L. Moura e Narbal Correa fundaram a ONG PAS com o propósito de gerenciar a pesquisa de uma embarcação encontrada por Alexandre Viana em 1989, na praia dos ingleses (Florianópolis/SC) (PAS 2006). Essa era a embarcação à qual se dedicava o Programa quando do ingresso de Chico Noelli à equipe. Aceitei colaborar com a ONG PAS – Projeto de Arqueologia Subaquática -, após ver: 1) que o sítio sofria lenta destruição pelo impacto ambiental e antrópico; 2) que era uma área de pesca artesanal de arrasto; 3) que era área de interesse turístico que afetaria seu contexto no futuro; 4) a autorização da Marinha do Brasil; 5) o projeto da pesquisa; 6) o financiamento público da FAPESC fiscalizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina; 7) as instalações; 8) os tipos de registro; 9) o trabalho de conservação; 10) o destino dos artefatos, a serem integrados a um museu público que se procura estabelecer em Florianópolis; 11) que havia uma exposição permanente na base de pesquisa da Praia dos Ingleses que, sem nenhuma propaganda, foi visitada por mais de 22 mil pessoas (incluindo inúmeras escolas e cursos universitários) (Noelli, 2010)15. Sob coordenação de um arqueólogo, o Projeto conseguiu a anuência da Marinha e do IPHAN, e em 2004 publicam sua primeira nota na Revista do MAE/USP (Viana et alii. 2004). Os autores, ao mesmo tempo em que aderem aos preceitos metodológicos e teóricos propostos pela academia para o desenvolvimento de um trabalho arqueológico, fazem questão de demonstrar 15 Entrevista concedida por Francisco Silva Noelli via e-mail. Pelotas e São Paulo/Belo Horizonte. Junho de 2010. 32 sua origem de fora da academia como um ponto fundamental das políticas atuais de gestão de bens culturais. A pesquisa de naufrágios, como alternativa à preservação, é assegurada pela Declaração de Sofia: “A Arqueologia é uma atividade pública, todos têm o direito de indagar sobre o passado para enriquecer suas próprias vidas, e qualquer ação que restrinja esse conhecimento é uma violação da autonomia pessoal” (Viana et alii 2004, p. 388). Na mesma nota, o Programa já anuncia um segundo projeto de mapeamento de sítios arqueológicos submersos na costa de Santa Catarina. “Primeiro serão mapeados os naufrágios localizados pelas autoridades marítimas, por pescadores e pela equipe do PAS” (Viana et alii 2004, p. 388). Para o prosseguimento desse segundo projeto, os autores já apresentam uma lista detalhada, baseada em leituras sobre a história naval no Brasil, de 13 categorias de sítios, mais que de naufrágios, que poderão ser encontrados na costa brasileira e catarinense (Viana et alii 2004). Hoje o projeto já conta com mais outro artigo publicado na Revista do MAE sobre os trabalhos realizados entre 2004 e 2009 (Noelli et alii 2009), de igual rigor acadêmico, bem como criação de revistas e educação patrimonial (que serão comentadas no terceiro capítulo), publicações conjuntas sobre a história marítima de Santa Catarina (PAS 2006) e convênio com a Universidade do Vale do Itajaí (Noelli et alii 2009). Na cidade do Rio Grande, o arqueólogo Rodrigo de Oliveira Torres vem atuando em arqueologia subaquática desde 2003, inclusive com propostas e atividades de sítios escolas sobre arqueologia subaquática com excelentes resultados. Randal Fonseca é outro membro do CEANS com ampla experiência em mergulho. Desde 2004 participa como estagiário em projetos de pesquisa no NEPAM/UNICAMP, dentre os quais está o Projeto de Arqueologia Subaquática no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Em seu artigo publicado em 2004 (Fonseca 2004), faz uma crítica muito pontual e consciente ao mergulho recreativo, à arqueologia subaquática e à relação de ambos com a cultura material submersa. Por um lado, defende a prática do mergulho autônomo, não 33 somente o recreativo, e sua relevância à sociedade moderna e à história técnica da humanidade. Por outro, lembra que o mergulho recreativo tem sido muitas vezes irresponsável com o patrimônio subaquático, e que instrutores devem dialogar com seus alunos e equipe para o desenvolvimento de um turismo responsável e para que uma prática tão cara ao mundo contemporâneo não se torne danosa à história da humanidade. Carlos Rios é um arqueólogo pernambucano, inicialmente formado em ciências biológicas, mas que, posteriormente, seguiu carreira na marinha e no estudo de arqueologia naval. Desde 2005 tem trabalhado com a temática. Ingressou no mestrado em arqueologia de um naufrágio na costa pernambucana, em Recife. 1.4. Patrimônio civil rumo às profundezas Os Estados Nacionais hoje começam a utilizar esse aparato jurídico como ferramenta para gerenciar a propriedade do espaço e da memória, em um contexto social que exige sua atuação cada vez mais atenta às reivindicações da diversidade. Como instrumento de execução da legislação o Estado confia na palavra das ciências específicas a cada tipo de setor da sociedade moderna. No caso do patrimônio arqueológico, cabe à arqueologia trabalhar para sua indicação, preservação e representatividade, o que lhe concede um papel fundamental nas políticas nacionais da memória e territorialidade. O papel social e político da arqueologia e as contribuições da arqueologia pública a essa discussão serão argumentadas durante este trabalho. As publicações em arqueologia subaquática nacional mostram uma maior dedicação em dois aspectos: defesa do patrimônio cultural e sedimentação da prática entre os pares. O Centro de Pesquisas em Arqueologia Náutica e Subaquática, encabeçado por Gilson Rambelli, tem marcado presença fundamental na campanha pela mudança da Lei e por uma proteção efetiva do patrimônio arqueológico subaquático. Paralelamente, outros pesquisadores têm buscado realizar trabalhos com caráter mais 34 científico e de representatividade pública, a revelia do descaso Estatal. Como anunciado no início desta apresentação, alguns desses trabalhos, bem como outras possibilidades, serão resgatados no último capítulo, dedicado à pensar sobre a arqueologia pública no caso subaquático. Eis a situação na qual nos encontramos de profundis. 35 2. Introdução A situação da arqueologia subaquática brasileira, tal como apresentada, me levou a buscar como objeto de pesquisa a relação que a disciplina e seus profissionais têm desenvolvido com o público não arqueológico, em particular com os mergulhadores recreativos. As arqueologia pública, com sua proposta de auto-crítica, reflexiva da responsabilidade social do profissional e abertura para temas relativos à sensibilidade para alteridade à disciplina, pareceu-me a abordagem ideal para o problema em questão. À medida que o estudo do tema se aprofundava, comecei a me interessar cada vez mais pela arqueologia pública e o resultado foi que o texto final da minha pesquisa ganhou corpo na revisão conceitual da arqueologia pública no exterior, no Brasil e, conseqüentemente, sua aplicação na arqueologia subaquática como estudo de caso. O cerne da minha preocupação, e que me levou a buscar cada vez mais exemplos de trabalhos de arqueologia pública, pode ser resumido em uma troca de e-mails com Francisco Noelli (Silva 2010), um dos arqueólogos entrevistados para este trabalho. Em conversa sobre o significado da arqueologia pública e sobre o papel que cabia ao arqueólogo entre a preservação patrimonial e os interesses sociais no presente, Noelli afirma que não vê o arqueólogo como “negociador”, pois o patrimônio cultural não é negociável, defendendo que, justamente aí, no momento em que a arqueologia se insere no debate sobre os diferentes significados do patrimônio, é que exercemos nosso papel social. Apesar de estar em pleno acordo com essa perspectiva, e com a idéia de que podemos contribuir com os significados do patrimônio através das histórias e narrativas que criamos (Hilbert 2006, Bezerra 2009), não consegui fugir à problemática do uso do espaço anterior à sua transformação em patrimônio. Como tentei argumentar na apresentação, “patrimônio cultural” é tanto um conceito científico quanto ferramenta jurídica, e sua etiqueta pode ou não ser de interesse social, dependendo de quem seja esse social. A 36 arqueologia, em suas atribuições consultivas sobre a história, deve também refletir sobre sua atuação na construção de lugares da memória (Nora 1984). O objetivo deste trabalho pode ser definido como buscar na arqueologia pública, conceito de gênese internacional, sugestões e exemplos que possam levar à reflexão da prática arqueológica em contexto nacional, tendo como estudo de caso a arqueologia subaquática nacional. Rumo ao desenvolvimento desse tema, meu texto ficou dividido em três capítulos. O primeiro visa construir um campo conceitual do termo “arqueológica pública” e buscar dificuldades e soluções apresentadas por essa abordagem em trabalhos cujo foco seja a relação entre arqueologia e o público leigo. Meu entendimento da arqueologia pública fica bem marcado pela perspectiva que ganha nos anos 1980, sob influência da arqueologia interpretativa. O segundo capítulo tenta abordar, primeiramente, a relação de filiação da disciplina arqueológica com o Estado nacional brasileiro e o uso que o conhecimento arqueológico pode adquirir como consultoria para políticas públicas, em especial, após a publicação da Resolução CONAMA nº 001/86, que obriga a execução de estudos de impacto sobre o patrimônio arqueológico em processos de licenciamento ambiental. Em sequência, faço uma breve análise de alguns trabalhos de arqueologia pública, com o propósito de refletir sobre a aplicação desse conceito no contexto nacional. O terceiro e último capítulo pretende pensar os conflitos que cercam a arqueologia subaquática nacional, através das propostas da arqueologia pública. De início, discuto a legislação específica para a preservação do patrimônio submerso nacional e seu caráter quase predatório sobre o mesmo patrimônio que deveria proteger. Em seguida, uma breve análise de artigos escritos por mergulhadores recreativos e publicados em periódicos direcionados ao mergulho recreativo, me permitiu tecer argumentos sobre o interesse desse público específico em vestígios materiais submersos. Finalmente, uma discussão sobre os modos encontrados por profissionais da área para concatenar os esforços preservacionistas e a apreciação desses vestígios no mergulho recreativo, com especial atenção ao turismo 37 arqueológico submerso. Finalmente, tentei esboçar como o turismo submerso e a prática arqueológica pode impactar na vida de comunidades costeiras, tema que está praticamente ausente da literatura especializada em arqueologia subaquática. Cabe lembrar que essa mesma lacuna na literatura me levou a entrevistar vários arqueólogos subaquáticos em busca de suas experiências não publicadas. Essas entrevistas aparecem, em sua grande maioria, na “Apresentação” e no capítulo final. 38 3. Capítulo 1 - Arqueologia Pública Internacional Na apresentação procurei argumentar em especial sobre dois pontos. O primeiro é sobre a responsabilidade social do arqueólogo auferida pelas novas políticas do patrimônio sugeridas nas convenções e recomendações internacionais. Não podemos esquecer de que essas políticas são fruto de mudanças ocasionadas por movimentos sociais posteriores à Segunda-Guerra, como argumentarei brevemente neste capítulo. O segundo ponto foi o percurso da arqueologia subaquática nacional, com especial atenção em sua luta pela preservação do patrimônio subaquático brasileiro. Seu discurso de proteção de um patrimônio civil em nome do aproveitamento coletivo, e conflito com as partes que tendem a usufruí-lo como um bem privado (exploração de seu valor de mercado) me levaram a pensar a arqueologia pública como conceito fundamental para refletir sobre sua atual situação. Encontrei na arqueologia pública um campo de debates rico para ponderar sobre a atuação social da arqueologia e a necessidade de diferentes estratégias para atuar em prol do patrimônio e da diversidade cultural. Meu propósito com esse capítulo foi fazer da arqueologia pública um objeto de estudo crítico, analisar suas possibilidades, aplicações e significados, antes de poder usá-la como carro chefe em reflexões posteriores. A medida que comecei a atentar para a concepção de arqueologia pública que preponderava na arqueologia brasileira (educação patrimonial e aproveitamento econômico do sítio arqueológico), fui tomado pelo interesse de aprofundar minhas leituras sobre a arqueologia pública e suas referências conceituais no exterior. Por fim, encontrei usos e aplicações do termo que vão muito além do que se costuma ver no Brasil. Assim como espero contribuir para a prática da arqueologia subaquática nacional, este primeiro capítulo e sua seqüência foram pensados a fim de contribuir com o estudo geral da arqueologia pública em nosso país. Espero fazer jus aos esforços dos pesquisadores que me antecederam na aplicação deste conceito ao caso nacional. 39 As perguntas que me guiaram pelo texto que segue foram basicamente: O que seria exatamente arqueologia pública? Qual a extensão de seu sentido? Como ela tem sido usada fora do Brasil? Esse capítulo percorre três pontos principais. Primeiro fui à busca da antiguidade do conceito e suas primeiras acepções, para seguir pelas diferentes influências sofridas através dos anos, terminando com uma análise de suas acepções modernas. Em segundo lugar, dedico um item à influência da arqueologia interpretativa na virada conceitual da arqueologia pública, como aproveito para deixar expressa minha afinidade com essa corrente. Finalmente segue um item mais longo sobre diferentes acepções de arqueologia pública. Apesar de ter dado preferência pela bibliografia de língua inglesa, por ser o espaço de origem e de maior aplicação do conceito, alguns textos e comentários sobre experiências na America Latina ou Brasil não foram deixados de lado. Pretendo, no entanto, explorar mais a bibliografia sobre arqueologia pública brasileira no próximo capítulo. 3.1. Entre o civil e o Estado O atual interesse pela arqueologia pública surgiu de suas atribuições mais recentes, entre as quais se vê que O campo da arqueologia pública é relevante porque estuda os processos e resultados através dos quais a disciplina de arqueologia se torna parte de uma cultural pública mais ampla, onde contestação e dissonância são inevitáveis. (Merriman, 2004, p. 5). A arqueologia pública me chamou atenção como ferramenta teórica e postura política frente a situações que são inevitavelmente encontradas na carreira do arqueólogo: conflito. A profissão do(a) arqueólogo(a) o(a) coloca em uma posição delicada, pois tange realidades materiais que são sempre repletas de vivências e significados sociais. O que para nós é um sítio arqueológico, para grupos indígenas pode ser um lugar de valor espiritual e que garante o clamo à terra, um incômodo para proprietários rurais não indígenas; possibilidades de lucro para operadoras de turismo, paisagem para um bom piquenique ou para o tédio; uma fonte de inspiração artística ou de estudo 40 colegial; um furo jornalístico ou empecilho para o desenvolvimento de empreendimentos de engenharia (Colley 2002). O propósito da arqueologia pública – ao menos a vejo dessa forma – não é aniquilar a disciplina tendo em vista sua presença como “estrangeira”, e muitas vezes ameaçadora, ao espaço onde trabalha. Mas sim reconhecer essa posição particular como mais uma dentre as diversas outras possíveis sobre a mesma paisagem16, e pensar como pode se relacionar com elas, de modo a cumprir seu objetivo (seja um licenciamento ambiental ou uma pesquisa sobre a ocupação indígena do Brasil) conjuntamente com os objetivos alheios. Essa abordagem nos permite trabalhar com a multiplicidade de enfoques que se vinculam ao termo em questão: divulgação, melhores relações com meios midiáticos, sítios arqueológicos e revitalização econômica, valorização de culturas ditas tradicionais, arqueologia e turismo, gestão de patrimônio arqueológico, arqueologia e legislação, quebra de cientificismo da disciplina... Enfim. Em vista dessa multiplicidade, dessa diversidade de regras que estão sendo propostas para se praticar a arqueologia, acreditei que seria interessante iniciar pela exploração conceitual dessa peculiar combinação de vocábulos. De fato, trata-se um questionamento que partiu não somente de minha curiosidade, mas de curiosidades alheias. Em todas as ocasiões que me perguntaram de que tratava minha dissertação, costumava responder “trabalho com arqueologia pública e arqueologia subaquática”. Interessante foi observar que a expressão de dúvida aparecia tanto no rosto de arqueólogos quanto de não arqueólogos. “Como assim arqueologia pública, arqueologia do Estado?”, “Arqueologia dos espaços comuns?” Também por essa razão coube-me iniciar por esse capítulo, respondendo às demandas mais freqüentes. Segundo Tim Schadla-Hall, (...) o termo ‘arqueologia pública’ primeiramente recebeu ampla atenção com a publicação de Charles R. McGimsey III, Arqueologia Pública em 1972. Esse volume, que recebeu 16 Considero como paisagem “a arena na qual e através da qual a memória, identidade, ordem social e transformação são construídas, encenadas, reinventadas e transformadas” (Knapp & Ashmore 1999). 41 algum reconhecimento no Reino Unido e Europa na época, foi escrito ‘com dois públicos em mente... colegas de profissão... e o crescente número de legisladores e demais cidadãos que estão se tornando cada vez mais preocupados com a proteção dos sítios arqueológicos de seus estados’ (McGimsey1972: xiii) (Schadla-Hall, 1999, p. 147-8). Do apontamento feito por Schadla-Hall, podemos, primeiramente, atentar para sua origem nacional. O termo “arqueologia pública” surgiu do inglês “public archaeology”. Como qualquer tradução, as tramas a serem cruzadas de um significado ao outro sempre trazem seus perigos. Pedro Paulo Funari e Erika Robrahn-González já chamaram a atenção para um desses perigos: No Brasil, a expressão Arqueologia Pública, surgida em âmbito anglo-saxão, ainda é nova e pode levar a confusão. De fato, público, em sua origem inglesa, significa “voltada para o público, para o povo” e nada tem a ver, stricto sensu, com o sentido vernáculo de público como sinônimo de estatal (Funari & Robrahn-González, 2006, p.3). Essas diferenças não aparecem tão marcantes nas definições fornecidas pelos dicionários. O vocábulo em inglês “public”, visto como um adjetivo (referente ao substantivo “arqueologia”): 1. pertencente a, ou relativo a população ou a comunidade como um todo: fundos públicos; incômodo público. 2. feito, construído, provindo de ação, etc., para a comunidade como um todo: acusação pública. 3. aberto a todas as pessoas: uma reunião pública. 4. da, pertinente a, ou estando a serviço da comunidade ou nação, especialmente um oficial do governo: um oficial publico. 5. custeado por financiamento publico e sob controle publico: uma biblioteca pública; uma estrada pública17. 17 Para tentar ser um pouco mais profícuo frente aos problemas de tradução supra-citados, coloco aqui o original em inglês da bibliografia: “1. of, pertaining to, or affecting a population or a community as a whole: public funds; a public nuisance. /2. done, made, acting, etc., for the community as a whole: public prosecution. /3. open to all persons: a public meeting. /4. of, pertaining to, or being in the service of a community or nation, esp. as a government officer: a public official. /5. maintained at the public expense and under public control: a public library; a public road. /6. generally known: The fact became public. / 7. familiar to the public; prominent: public figures. / 8. open to the view of all; existing or conducted in public: a public dispute. / 9. pertaining or devoted to the welfare or well-being of the community: public spirit. / 10. of or pertaining to all humankind; universal”. 42 6. de conhecimento geral: o fato tornou-se público 7. familiar ao público; proeminente: figuras públicas 8. aberto a vista de todos; que existe ou é conduzido em público: uma disputa publica 9. pertencente ou dedicado ao bem-estar da comunidade: espírito público 10. de ou pertencente a toda a humanidade; universal. (Dictionary.com 2010). Enquanto que o vocábulo em português, “público”: 1. relativo ou pertencente a um povo, a uma coletividade 2. Relativo ou pertencente ao governo de um país, estado, cidade etc. Ex.: poder p., funcionário p. 3. Que pertence a todos; comum. Obs.: p. 43pôs. A privado. Ex.: lugar p. 4. Que é aberto a quaisquer pessoas. Ex.: conferência p., audiência p. 5. Sem caráter secreto; manifesto, transparente. Ex.: debate p. 6. Universalmente conhecido. (Houaiss 2010). De fato, as semelhanças entre as entradas para cada um dos vocábulos nessas duas línguas diferentes não dão conta das sutilezas que nossa percepção cotidiana pode trazer desses termos. Por exemplo, se eu citar “interesse público pela arqueologia”, a impressão transmitida seria de “interesse do Estado pela arqueologia”, “questões políticas envolvendo a arqueologia”, enquanto que, em diversos textos em inglês, essa expressão (public interest for archaeology) faz referência aos interesses leigos que cercam a disciplina. A segunda observação que pode ser feita sobre sua origem é no aporte conceitual. Schadla-Hall defende que o cerne desse novo termo que passa a existir vem de outros existentes ainda hoje, mas que já haviam feito sua aparição anteriormente ao termo “arqueologia pública”. McGimsey estava, acima de tudo, preocupado com o manejo dos recursos arqueológicos, e a possibilidade de uma legislação combinada com programas de preservação, bem planejados e sérios, que pudessem proteger os recursos arqueológicos para o futuro. Desde o final dos anos 1960, o termo CRM18 (Manejo de Recursos Culturais) tornou-se cada 18 Do original em inglês “Cultural Resource Management”. 43 vez mais freqüente – e consequentemente os termos ARM19 (Manejo de Recursos Arqueológicos) e AHM 20 (Manejo de Patrimônio Arqueológico) passaram a ser mais usados. (Schadla-Hall, op. Cit., p. 148). Cabe aqui um breve esclarecimento. De acordo com Ricardo Elia (1993), a principal diferença entre Manejo de Recursos Culturais e Manejo de Recursos Arqueológicos é basicamente sua amplitude e nacionalidade. O termo “Cultural Resources” (Recursos Culturais) e “Cultural Resource Management” são mais utilizados nos Estados Unidos como referente aos sítios arqueológicos e patrimônio edificado (monumentos, edifícios). Enquanto que o termo “Archaeological Heritage” (Herança/Recursos Arqueológica(os)) e “Archaeological Heritage Management” são mais comuns na Inglaterra e abordam com um viés predominantemente, embora não necessariamente, arqueológico, deixando de lado o patrimônio arquitetônico (Elia 1993). A arqueologia pública, afinal, nasce no contexto norte-americano como uma referência às políticas de governo para a preservação do patrimônio arqueológico. Não como ironia à sua compreensão de “voltada para o povo”, pois se trata de uma postura em que a atuação do Estado como protetor do patrimônio cultural é guiada pela ideologia de que ele próprio representa os interesses gerais da população (Merriman 2004a). Sua voz fala por todos. Da mesma maneira, o contexto arqueológico americano dos anos 1970 lida com o passado (e presente) humano deixando de lado as diferenças entre homens e mulheres de todo mundo, como uma postura condizente com o capitalismo globalizante do país mais poderoso do mundo (Zarankin 2010 – com. pessoal) e como uma postura filosófica de repulsa aos genocídios do Holocausto (Colley 2002). Na busca de mais leituras, encontrei alguns poucos artigos americanos, australianos e ingleses das décadas do final dos anos 1970 que fizessem alguma menção ao termo “arqueologia pública”, numa tentativa de melhor compreender qual sua situação conceitual no momento em que, como foi 19 20 Do original em inglês “Archaeological Resource Management”. Do original em inglês “Archaeological Heritage Management”. 44 colocado por Tim Schadla-Hall, “arqueologia pública” teria recebido “ampla atenção”. Brian Fagan possui um artigo publicado em 1977 na American Antiquity entitulado “Teaching archaeology to the great loving public”. Seu enfoque está na educação e acusa de incapacidade o atual sistema de formação de profissionais, que não consegue desvincular a disciplina arqueológica das fantasias da “arqueologia alternativa”. O que aqui tomo como “arqueologia alternativa” será tratado com um pouco mais profundidade adiante, inclusive por se tratar de um fenômeno que perdura até a contemporaneidade, e reflete a separação que existe entre a prática acadêmica da arqueologia e as distintas visões do passado que são produzidas pelo público leigo, ou, no caso, “amador”. “(...) o interesse público pela arqueologia ainda está entre nós, e de fato está levantando, numa onda de escapismo, sérias indagações intelectuais, caçada de potes e loucuras absolutas.” (Fagan 1977, p. 119). A relação entre o público não acadêmico e arqueologia sempre foi uma preocupação existente e constante. Mas o que está em jogo no artigo de Fagan parece ser uma simpatia pelo público leigo ao mesmo tempo em que toma uma postura paternalista frente à “arqueologia amadora”. Por um lado, ele faz clara sua crítica de que (...) a maioria deles [cursos introdutórios de arqueologia] são um convite ao estudante para adentrar um “grupo seleto” que sabe sobre arqueologia, a se tornar membro de um clube fracamente exclusivo, e demasiado especializado. (Fagan 1977 p. 121). Por outro, menciona as “porcarias que os ingressantes devem ter lido na National Geographic” (Fagan 1977, p. 120) e afirma que “o que é importante, contudo, é que o conhecimento arqueológico que você ganhou com sua experiência de pesquisa ajude-o a formar uma perspectiva intelectual sobre a pré-história que seja útil para seus alunos.” (Fagan 1977, p. 123). O texto de Brian Fagan não trata o público leigo de modo desrespeitoso, mas de modo, talvez, infantil. A visão de arqueologia com a qual ingressam na academia os estudantes, pode ser um pouco deturpada ou mesmo perigosa de 45 ser mantida dentro da cabeça de futuros pensadores, mas não deve ser ignorada. É partindo dessa ideologia inicial que a arqueologia deve fazer-se mais instigante e mais interessante, pois só o excitamento do exercício intelectual pode levar os iniciados ao caminho dos mestres. Ao fim, o propósito do esforço de Fagan parece estar bem explícito na passagem: Mas será que concentramos suficientemente nosso entusiasmo em nossa clientela última – o público e o estudante leigo? Não deveriam eles também compartilhar de nosso entusiasmo? Esse sempre permanecerá como um dos derradeiros desafios da arqueologia, um dos quais poucos de nós temos considerado com o devido cuidado e tempo que o futuro de nossa disciplina necessita. (Fagan 1977, p. 124) Nesse artigo, fica marcada a necessidade apresentada por Fagan de desenvolvimento de uma relação mais compreensiva entre o arqueólogo e o público leigo, interessado em suas práticas. Afinal, é justamente desse público que vêm os interessados que irão continuar as obras de seus tutores. O número crescente de estudantes nos cursos de introdução à arqueologia em seu tempo está repleto de indivíduos que pretendem na arqueologia um engrandecimento de sua experiência intelectual (Fagan 1977, p. 120). A meu ver, essa “experiência intelectual” é extremamente relevante pois tange em um ponto que me parece claro sobre essa proposta relacional entre arqueólogos e não-arqueólogos: nem todo mundo quer ser arqueólogo; muitos apenas se interessam pelo que fazem os arqueólogos. Como afirma Fagan, o Clube é seleto, e nem todos possuem o desejo de ingressar. No entanto, não significa que não existam desejos individuais e coletivos sobre o que o arqueólogo faz, sobre o passado, sobre vestígios humanos, sobre aventura. Gostaria antes de trazer dos textos de McGimsey e Fagan as razões pelas quais partem para o questionamento da prática arqueológica de seu tempo: a destruição maciça de sítios arqueológicos. Hester Davis foi também uma importante antropóloga americana, com diversas publicações na década de 1970 sobre o perigo de destruição do patrimônio material indígena nacional. Em 1972, publicou um pequeno artigo na revista Science (ainda hoje um dos mais prestigiados e populares periódicos científicos do mundo) em que pretendia sintetizar as principais aflições da 46 arqueologia americana. De acordo com ela, “a crise atual possui duas causas paralelas: (i) o ritmo de destruição, considerando que o número absoluto de sítios que são destruídos continua a crescer, e (ii) fundos para resgate de dados essenciais não estão aumentando.” (Davis, 1972, p. 267). No mesmo ano da publicação de McGimsey, Hester Davis apresenta essa crítica contundente ao ritmo acelerado de crescimento dos projetos de “desenvolvimento” que destroem, em sua passagem, vestígios arqueológicos importantes para a compreensão do passado indígena americano, para não dizer de toda a humanidade. Segundo Davis, nos anos 1920 e 1930 já era percebido pela arqueologia o ritmo com que eram destruídos os sítios arqueológicos por atividades “não arqueológicas” (Davis 1972 p. 267). No entanto, somente nos anos 1960 o governo começou a criar políticas de gestão e leis de proteção do patrimônio arqueológico. John Jameson Jr. possui um artigo na edição de Nick Merriman (Public Archaeology), não dos anos 1970, mas que trata do mesmo problema, o crescimento da preocupação pública da arqueologia no cenário americano. De acordo com ele, a idéia de Manejo de Recursos Culturais teria surgindo nos anos 1930, quando da implementação de trabalhos arqueológicos na gestão de grandes empreendimentos. O fluxo de informação advindo projetos de licenciamento21 dos anos 1930, junto com os ambiciosos programas das bacias fluviais dos anos 1940 e 1960, alertou tanto o público quanto a comunidade científica para a magnitude de pesquisa e o potencial de informações perdidas pela construção descontrolada e desenvolvimento (Jameson Jr. 2004, p. 30). São dessa época: (i) o Ato de Resgate de Represas22 de 1960; o Ato Nacional de Preservação Histórica 23 de 1966, alegando que aos vestígios 21 No original, relief projects. Pelo contexto, pode-se inferir que tratem de projetos de licenciamento e análise de potencial natural e cultural, bem como de impacto, num momento em que esses projetos não eram necessariamente de obrigatoriedade do Estado. 22 23 Do original em inglês “Reservoir Salvage Act”, lei 86-523. Do original em inglês “National Historic Preservation Act”. 47 materiais elegíveis pelo Registro Nacional deve ser prestado os devidos cuidados; (ii) o Ato de Política Ambiental Nacional24 em 1969, exigindo a devida atenção à vestígios arqueológicos frente a uma situação de impacto ambiental; (iii) uma ordem presidencial, “Proteção e melhoramento do ambiente cultural”25, de 1972, estabelecendo a demanda de que em todas as terras do Estado sejam verificadas a presença de vestígios arqueológicos (Davis 1972, p. 268; Raab et alii 1980, p. 540-541); e (iv) o Ato de Preservação Histórica e Arqueológica 26 de 1974, estabelecendo um mecanismo de salvamento de vestígios arqueológicos sob eminente destruição por obras federais (Raab et alii 1980, p. 541). Jameson Jr. coloca essas leis como de extrema relevância para a constituição do aparato jurídico de preservação do patrimônio arqueológico nacional, e suas criações aumentaram consideravelmente o investimento em trabalhos arqueológicos e manejo de recursos culturais (Jameson Jr. 2004). Em especial, o Ato Nacional de Preservação Histórica que cria as fundações para um sistema de proteção de recursos centrado no Registro Nacional de Lugares Históricos, autorizou a criação do Conselho Consultivo do Presidente em Preservação Histórica, permitiu o estabelecimento de Marcos Históricos Nacionais, e proveu um mecanismo para o desenvolvimento de programas de preservação a nível estadual (Jameson Jr. 2004, p. 30). O Registro Nacional de Lugares Históricos seria o “Livro do Tombo” para a preservação de recursos culturais nos EUA. Como lembra a arqueóloga americana Mary Beaudry, “Se você não está nele [Registro Nacional], você é irrelevante” (Beaudry 201027, com. pessoal). Em 1966, o governo americano aprova o Ato do Departamento de Transportes que prevê a realização de prospecções e trabalhos de campo em 24 Do original em inglês “National Environmental Policy Act”. Do original em inglês “Protection and enhacement of the cultural environment”, ordem exectuiva nº 11593, 13 de maio de 1972) 26 Do original em inglês “Archaeological and Historical Preservation Act”. 25 27 Informação fornecida por Beaudry durante curso em Belo Horizonte, em 2010. 48 propriedades listadas no ou elegíveis para o Registro Nacional (Jameson Jr. 2004). Vimos, já na apresentação anterior, como os anos 1960 e 1970 foram igualmente um momento de expansão das leis internacionais pela preservação do patrimônio edificado e arqueológico. Enquanto a Europa enfrentava um momento de reconstrução de sua estrutura devastada por duas guerras mundiais, a América passava por um momento de expansão urbana e modernização, tanto no Norte quanto no Sul (como a construção de Brasília durante os anos 1950). Hester Davis aponta para três maneiras de destruição dos sítios arqueológicos: construção de obras de grande porte, preparo de terra na agricultura e “caça ao tesouro” (Davis 1972). Em uma de suas edições do “Fórum de arqueologia pública” no periódico Journal of Field Archaeology, apresenta o caso Venezuelano que nos fornece também outros casos no Uruguai, Argentina e Brasil (Wagner 1987). Sua principal crítica é ao desenvolvimento acelerado de grandes empreendimentos irresponsáveis do patrimônio arqueológico nesses países. Assim como em Davis, esses empreendimentos, combinados com a “huaquería” 28 , formam os principais problemas de preservação do patrimônio arqueológico latino-americano. Retomando a ressalva de Funari e Robrahn-González (2006), quanto às sutilezas que cercam os significados deste mesmo significante, no inglês e no português, percebe-se que, na bibliografia arqueológica da época de seu surgimento, em especial nas nações de sua concepção, a referência feita à arqueologia pública é a de um grito às políticas públicas de governo para a preservação de um patrimônio material que pertence ao público, a todos, e que se vê ameaçado por grandes empreendimentos e por traficantes ou colecionadores de antiguidades. Mais adiante, veremos que a mudança do conceito de “arqueologia pública” acompanha variações na compreensão de quem é esse “público” é como o Estado nacional com suas políticas públicas podem representá-lo. Até esse momento, penso que a principal contribuição da 28 Termo em espanhol para se referir aos traficantes de antiguidades. 49 comunidade arqueológica em relação ao patrimônio cultural e sua representatividade social é a oposição feita, e conquistada na lei, entre o “público” e o “privado” (Sennet 1989). De fato, volto à referência feita à Tim Schadla-Hall sobre a pouca reflexão que faziam os “arqueólogos públicos” das necessidades de outros grupos sociais que não estavam necessariamente representados nos direitos cívicos. “Embora o propósito é servir o público, ele parece não ter nenhum papel definido no processo – a visão do arqueólogo aparece como supremo.” (Startin, 1995 apud Schadla, op. Cit., p. 149). Existem autores que mencionam a importância da luta patrimonial em nome dos povos indígenas. Mark Raab et alii (1980) escrevem sobre os problemas de uma prática arqueológica surgida nesse período de intensificação de obras públicas, “arqueologia de contrato”. Informação científica trocada como mercadoria dentro dos limites de estreitas relações comerciais ou profissionais também ignora o interesse específico dos Nativo-Americanos (Johnson, 1977; Grady 1977:263-264) e de outros segmentos do público. A maior parte dos registros arqueológicos sendo investigados é de origem indígena. É incongruente que a história de um povo seja vista como informação passível de propriedade, especialmente por antropólogos. NativoAmericanos têm um poder cada vez mais forte para barrar uma investigação arqueológica caso não estejam entre os beneficiários. Alternativamente, eles podem ser adeptos muito úteis da arqueologia de contrato se lhes for permitido o aproveitamento dos resultados arqueológicos. (Raab et alii, 1980, p. 548-549) Na Austrália, R. P. Robins e G. L. Walsh fazem um comentário similar quando defendem a devida tomada de iniciativa governamental para a necessária alteração da legislação de defesa do patrimônio arqueológico. Enquanto arqueólogos ao redor da Austrália estão cientes de suas responsabilidades com os sentimentos Aborígenes sobre seus parentes falecidos, em áreas onde não há mais Aborígenes para falar por ou proteger os enterramentos de casca de árvore uma política efetiva de manejo é necessária. (Robins; Walsh, 1979, p. 70). 50 Sarah Colley menciona que a arqueologia australiana, nascida dos estudos do passado indígena anterior ao contato com os europeus29, entra em choque com reivindicações indígenas desde os anos 1960 e 1970, quando a luta por maior representatividade política e direito à terra começa a ter respaldo na publicação de políticas de proteção ao patrimônio indígena e de respeito à seus modos de vida (Colley 2002). Veremos mais exemplos dessa situação mais adiante no trabalho. A arqueologia pública até começo dos anos 1980 era compreendida como uma luta pela preservação do patrimônio arqueológico material como um bem cívico30, pelo qual deveriam zelar as forças políticas do Estado. Mais uma vez, retomo os questionamentos articulados no primeiro capítulo sobre a representatividade e hereditariedade do patrimônio arqueológico. Quem é exatamente a conformação desse corpo cívico? Como as políticas públicas representariam os interesses dos diversos grupos humanos englobados, em teoria, pela representatividade Estatal? O patrimônio arqueológico deve ser protegido também pelo bem dos Nativo-Americanos, mas qual o interesse específico desses Nativo-Americanos e Australianos pelo sítios arqueológico? Como eles interpretam esses sítios arqueológicos? Seria a mesma coisa que os arqueólogos? Em suma, nos anos 1960 e 1970 diversas leis internacionais e nacionais (como vimos o caso dos EUA e veremos o caso brasileiro no capítulo seguinte) foram promulgadas, e deve-se muito ao esforço de comunidades profissionais sobre respectivos governos. Esses questionamentos não representavam ainda o peso necessário dentro das discussões de patrimônio arqueológico, entendido em seu princípio como um bem de caráter humanista e global. Posteriormente, esse caráter global começará a ser destrinchado e indagado sobre seu poder de alcance das diversidades étnicas e sociais. Vale ressaltar, mais uma vez, a importância que esse aparato jurídico atribui á disciplina 29 Como também o foi nos EUA (Jameson Jr. 2004; Bahn & Renfrew 1998). 30 Vale lembrar da distinção entre cívico e étnico feito por Díaz-Andreu anteriormente. Nesse caso, uso o termo “cívico” para referir-me à postura do Estado como “gestor de bens comuns”, e não mais aquele “pai de uma etnia nacional”. 51 arqueológica e define-lhe um novo espaço dentro das políticas de estado contemporâneas. 3.2. Pós-processualismo e novos olhares Os anos 1980 representaram, para a arqueologia, uma etapa no surgimento de novas propostas, sugestões e revoluções interpretativas da cultura material. De origem inglesa, o chamado pós-processualismo inseriu-se na Academia com novas propostas teóricas e amplitudes temáticas anteriormente inexistentes ou suprimidas: gênero, identidade, simbolismo, colonialismo, oprimidos e poder (Trigger 2004; Johnson 2000). O retorno às perspectivas históricas e a adoção de abordagens marxistas advindas do revisionismo da Escola de Frankfurt marcaram fortemente os trabalhos da nova trupe anglo-americana que encabeçou a arqueologia pós-processual (Trigger 2004). “Nos anos 1980 a arqueologia viu a emergência gradual de estudos preocupados em interpretar significados culturais no passado que envolvessem questões de poder e dominação, história e gênero.” (Hodder, 1999, xiii). As discussões sobre a episteme, legitimidade e multiplicidade dessa nova perspectiva são inúmeras, e não me cabe aqui colocá-las em tamanha totalidade. Meu interesse em relevar as propostas interpretativas, como são hoje mais evocadas, é em buscar a abertura temática e teórica rumo às discussões da responsabilidade social do arqueólogo, de seus impactos sobre o presente e ética profissional. O início dos trabalhos ditos pós-processuais foi marcado por uma oposição forte de autores britânicos aos trabalhos da arqueologia antropológica americana denominada “Nova Arqueologia” (bem como a arqueologia analítica do britânico David Clarke). As propostas da Nova Arqueologia, ou arqueologia processual, foram construídas em contraponto ao excessivo historicismo e seriação que preponderava na arqueologia européia até os anos 1960 (conhecida como histórico-cultural) (Trigger, 2004). O processualismo, metodologia embasada nas “hard sciences”, considerando a sociedade como homogênea e a cultura material como seu fiel reflexo, propunha a possibilidade 52 de conhecer com precisão processos humanos de comportamento no passado que fossem passíveis de certa generalização (Shanks & Hodder 1998). Certamente, a arqueologia processual possui seus méritos metodológicos. No entanto, me aproximo mais da arqueologia pós-processual pois ela “não precisa mais ser ‘nova’ e unidirecional, apresentando uma frente unificada. Ela possui a maturidade para permitir o desvio, a controvérsia e a incerteza” (Hodder 1999). Assim, um dos rompimentos que mais me atrai no pós-processualismo é justamente a frente que faz ao cientificismo do processualismo. Em sua afronta, o pós-processualismo inaugura a liberdade das subjetividades dentro da arqueologia. As doutrinas e valores da “nova” arqueologia estão sob processo de desmantelamento; para muitos eles nunca foram aceitáveis. Livros tais como Symbols in Action de Ian Hodder (1982b), The Evolution of Social Systems (Friedman and Rowlands (eds.) 1978), Symbolic and Structural Archaeology (Hodder (ed.) 1982), e Ideology, Power and Pre-history (Miller and Tilley (eds ) 1984) tem demonstrado o valor e importância de novas orientações de pesquisa para a análise das relações entre práticas sociais e padrões de cultura material. (Shanks; Tilley 1992, p. 1). Dentre as inúmeras influências que agiram sobre o pós-processualismo, vou me resumir à citação de algumas que me parecem as mais centrais. Bruce Trigger defende que o retorno às perspectivas históricas e a adoção de abordagens marxistas advindas do revisionismo da Escola de Frankfurt marcaram fortemente os trabalhos da nova trupe anglo-americana que encabeçou a arqueologia pós-processual (Trigger, 2004). De acordo com Mark P. Leone, Parker Potter Jr. e Paul Shackel (1987), “arqueólogos são convidados a considerar a teoria crítica, entre outros motivos, pelo fato de que interpretações arqueológicas apresentadas ao público podem adquirir significados não intencionados pelo arqueólogo e não encontrados nos dados” (p. 284). Entre as diversas propostas da arqueologia crítica está a desmistificação do trabalho arqueológico, encarado como ideologia, através da exposição aberta de todos os seus processos, deixando à clara vista os métodos de análise e construção do conhecimento (Leone et alli 1987). 53 A influência do pós-modernismo e do pós-estruturalismo francês também foi marcante nas novas propostas da arqueologia dos anos 1980. Matthew Johnson nos dá um excelente panorama das propostas revisionistas apresentadas pela “condição pós-moderna”. A “condição pós-moderna” foi definida pelo filósofo francês François Lyotard como de incredulidade às metanarrativas. Lyotard sugere que a condição pós-moderna é o que caracteriza o conhecimento nas sociedades capitalistas ocidentais. Uma metanarrativa é um discurso sério que se apresenta como reivindicação à posse de uma verdade absoluta. (Johnson, 2000, p. 201). Ela visa à desconstrução dessas metanarrativas que “se apresentam” como detentoras da verdade absoluta e, conseqüentemente, do poder de manejo das realidades sociais. A ciência é uma dessas metanarrativas e na Academia segue-se o questionamento da disciplinaridade como produtora de visões oficiais e superiores sobre as realidades sociais no presente e no passado (Johnson, 2000). Cabe aqui assinalar três concordâncias entre o pósmodernismo e o pós-processualismo essências para minha argumentação. Primeiro, “a perda de confiança na Ciência, a crítica ao essencialismo, a ênfase na diversidade de leituras e a dificuldade de fixar-se em um significado” (Johnson 2000, p. 206). Segundo, o questionamento sobre a segurança metodológica da disciplina: seria a arqueologia uma disciplina com métodos tão específicos, distinta de suas similares nas ciências humanas? E terceiro, O pós-modernismo sugere que exista um comprometimento com outras formas de conhecimento fora da esfera do que tradicionalmente se conhece como “arqueologia” ou “ciência”. (…) Não podemos simplesmente continuar escrevendo sobre o passado como “pensamos que deve ter ocorrido”, independentemente do presente. De fato, devemos atender ao contexto social, político e cultural da arqueologia (Johnson 2000, p. 206-207). Essa preferência por uma posição política ao invés de uma suposta neutralidade científica é uma das contribuições que mais me interessam do pós-modernismo. A possibilidade de abrir a caixa-preta e mostrar seu complexo funcionamento (Latour 2000) permitindo aí a inclusão de outros discursos no fazer arqueológico é um meio de lidar com as situações de conflito, de 54 democratizar as formas oficias de construção de conhecimento, de dar voz a setores sociais antes silenciados. O pós-processualismo parte do pressuposto de que a ciência não nos traz a verdade, mas sim uma das possíveis perspectivas sobre o objeto estudado, sendo assim subjetiva e aberta a revisões (Shanks & Hodder 1995, p. 3). No final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, a arqueologia pósprocessual assume uma nova postura. Em 1995, Michael Shanks e Ian Hodder publicam um texto em que tentam remanejar a imagem do pós-processualismo, de maneira que passe a evocar mais as “maneiras correntes de pensar em arqueologia” do que a oposição entre duas tendências. Assim, sugerem o conceito “arqueologias interpretativas”, já que o interesse do artigo é pela “interpretação em arqueologia” (SHANKS & HODDER 1998, p. 3). O passado, mesmo quando foi presente, nunca se apresentou de maneira homogênea, assim como tampouco se apresenta padronizado nos dias de hoje. “A história é uma bagunça” (SHANKS & HODDER 1998, p. 9), o cotidiano do passado é polissêmico, defendem os autores, e, portanto, cheio de incertezas, conflitos e possibilidades. Citarei aqui apenas dois exemplos de como a arqueologia interpretativa traz preocupações que são características da arqueologia pública. Um deles me foi indicado e pode ser encontrado numa obra igualmente marcante entre as produções de arqueologia na pós-modernidade. Janet Spector possui um artigo no livro Engendering Archaeology (“Colocando gênero na arqueologia”), editado por Margaret W. Conkey e Joan M. Gero. Nesse texto (What this Awl means – “O que este furador31 significa?”) (Spector 1991), a autora nos apresenta, como define, o desenvolvimento de seu método de escrever arqueologia: de seus questionamentos sobre uma possível arqueologia feminista aos questionamentos sobre uma arqueologia demasiado colonialista. 31 Em inglês, o termo “awl” significa “um instrumento com ponta para perfurar pequenos buracos em couro, madeira, etc.” (Dictionary.com 2010). 55 Seu primeiro interesse foi tentar descobrir a que ponto podemos enxergar, e a que ponto se pode preservar, relações de gênero na cultura material. Para isso, partiu de dados etnográficos e etnohistóricos, além do desenvolvimento do que chamou de Task differentiation system (“Sistema de diferenciador de tarefas”), que aparenta ser uma tábula que identifica primeiramente as relações de gênero e funcionalidades a elas atreladas e, em segundo lugar, as expressões que essas relações deixam na cultura material. A continuação de sua proposta era tentar identificar os resultados dessa tábula em um sítio arqueológico. Durante os trabalhos de campo, encontrou um furador decorado de maneira peculiar. O trabalho com descendentes dos indígenas que viveram em Little Rapids (comunidade de seu trabalho de campo), com outros indígenas Wahpeton e em contato com bibliografia sobre o assunto, a autora começa a se questionar sobre a forma como deveria escrever as interpretações dos dados arqueológicos: “Enquanto o diferenciador de tarefas chama atenção para o gênero ele não altera o modo como apresentamos conhecimento sobre o passado” (Spector 1991, p. 393). Sentindo o peso do eurocentrismo na prática arqueológica contraposto à alternativa interpretativa que lhe fora ficando clara durante seu trabalho (pela etnografia, etnohistória, contato pessoal com descendentes) a autora elege uma forma diferente de condensar seus dados e apresentar seu trabalho. Ela cria uma narrativa centrada em uma garota indígena de grande importância em sua aldeia, cujo furador é um elemento de expressão de suas habilidades manuais na juventude e representa sua capacidade em tornar-se uma mulher central na vida comunitária. Através do mesmo foco, ela tenta alcançar a imagem ridícula de um missionário que tenta ensinar aos Wahpeton como plantar. Primeiro, Riggs [o missionário] ofereceu-se para ensinar aos homens como arar como se eles nunca tivessem considerado a idéia, ou como se as mulheres estivessem dispostas a abandonar seus campos de milho. Suas idéias sobre o trabalho adequado que cabia a homens e mulheres lhes apreciam espantosas, e suas sugestões de ferir a terra, cortando-a com um arado era incompreensível. Finalmente, Riggs insultou-lhes inconscientemente ao sugerir que poderia substituir Mazomani como líder espiritual da comunidade. 56 (...) Uma noite, enquanto guardavam o resto do milho colhido elas [mãe e filha] riram juntas, lembrando do “rezador” Riggs e suas idéias sobre homens plantando milho (Spector 1991, p. 398; 401). De fato, a narrativa apresenta relações de gênero expressas nas condutas cotidianas (resgatadas por documentação e oralidade) e marcadas na cultura material (o furador decorado, peça central, mas não única, da narrativa). Em contraponto ao seu próprio trabalho, ela nos dá detalhes da análise de outro pesquisador, bem mais tradicional, do mesmo tipo de furador. A análise tradicional se debruça mais sobre os dados quantitativos na formulação de suas propostas. No entanto, o resultado é um discurso que trata a presença de metal em aldeias indígenas, a exemplo, como prova de aculturação. Por exemplo, um tema dominante em suas apresentações é que os furadores de metal produzidos pelos europeus são mais significativos que os instrumentos produzidos pelos indígenas. Essa história é incorporada as suas classificações, títulos de tabelas, e freqüentemente enfatizado ao longo do texto. Finalmente é reforçada quando os autores reiteram a significância dos de pontas de metal como marcadores de influências européias sobre indígenas e a desintegração da cultura nativa em suas discussões. Imagino que para mulheres Dakota (e certamente de outras tribos) essa história teria soado divertida, irritante, ou simplesmente errada, especialmente aquelas que inscreviam seus instrumentos de osso ou chifre como um modo de visualizar e expressar publicamente suas realizações (Spector 1991, p. 402). Antes de uma arqueologia que fale sobre quantidades levando a um perigoso estamento de aculturação, uma que fale de qualidades e se abra a expressão de outras histórias e discursos. Sua proposta, condizente com a corrente interpretativa, abarca questionamentos diretos sobre o rumo da disciplina acadêmica. Que tipo de arqueologia queremos? Aquela que responda às questões do colonizador branco ocidental ou dos povos colonizados a lutar ainda hoje por seu passado? Seria melhor adotarmos uma perspectiva mais metódica e, no entanto, mais excludente ou uma narrativa diferenciada e, no entanto, menos precisa? Seria possível uma visão metódica e includente? O texto da autora apresenta uma boa alternativa, a meu ver, para essas questões. Pode ser que alguns ainda não aceitem tão bem a 57 fragmentação da Verdade, mas parece interessante, em nossos dias, que aprimoremos propostas multivocais. Veremos um caso similar sobre a “cor” dos antigos egípcios quando for comentar as propostas de “alcance e educação”. O segundo exemplo é da arqueologia da repressão, presente na produção, por exemplo, do arqueólogo Andrés Zarankin. Um de seus textos conta sobre os trabalhos desenvolvidos em um Centro Clandestino de Detenção (CCD), o Clube Atlético (na verdade, codinome para Centro Antisubversivo, CA), que funcionou de fevereiro a dezembro de 1977, em Buenos Aires. Esse artigo, escrito com um sobrevivente de um CCD, deixa bem claro seus objetivos: Por um lado, buscamos entender a lógica de funcionamento e organização do espaço e a arquitetura deste dispositivo desaparecedor de pessoas. O segundo objetivo foi contribuir à construção de uma memória material. Ou seja, transformá-la em algo físico, para assim poder ser percebida de maneiras diferentes à palavra (falada ou escrita). Uma memória que possa ser tocada, cheirada, experimentada (Zarankin & Niro 2006, p. 179). Nesse trabalho, participaram outros sobreviventes de CCD’s. Além de atrelar indivíduos à reconstrução de um passado marcante em suas vidas, oferece novas possibilidades interpretativas à cultura material, como vemos no trabalho de Janet Spector, contemplando significações profundas aos signos materiais de momentos extremamente carregados. Usando métodos de análise espacial provenientes da arquitetura, os autores propõem uma compreensão dinâmica do funcionamento do porão do CA. A aplicação destes modelos permite observar como elemento como organizativo do espaço, um parâmetro de maximização e operacionalidade dos procedimentos repressivos. Funciona como base desta estrutura, uma circulação restringida e controlada, além de um profundo isolamento dos ambientes. (...) Existe também um elemento simbólico associado à organização do espaço. Assim, a medida que se avança em direção ao interior do CCD, o nível do suplício vai aumentando. Imaginemos que o prisioneiro não pode ver, mas sim experimentar esse espaço através dos sentidos. Os odores de 58 corpos e fluidos humanos, a umidade e a falta de ventilação, o calor e o frio, os gritos e lamentos de outros detidos, a dureza das paredes e do piso – onde era colocados - (Zarankin & Niro 2006, p. 175). Como podemos ver, o espaço não é um mero conjunto de materiais construtivos, mas uma estrutura erigida em aspectos formais que dialogam com nosso corpo, sem palavras a serem lidas, apelando para os demais sentidos. Os trabalhos de Zarankin em arqueologia da arquitetura e arqueologia da repressão mostram como os métodos e parâmetros analíticos da arqueologia podem ser adotados para a compreensão do conflito na sociedade contemporânea, através da demonstração sobre os mecanismos de repressão. Não somente de compreensão, mas também de atuação na sociedade contemporânea, na medida em que essa reificação das memórias dos sobreviventes é artifício para o “não-esquecimento” e para a reivindicação de justiça. Não poderia me esquecer da importância do World Archaeological Congress – WAC (Congresso de Arqueologia Mundial) nesse movimento de “humanização” da disciplina. O WAC surgiu em 1986 como dissidência do International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences - IUPPS (União Internacional de Ciências Pre-históricas e Proto-históricas), devido a um desentendimento interno sobre as posturas da instituição frente à liberdade acadêmica e o regime do apartheid na África do Sul (Funari 2006). Desde seu inicio, a proposta do WAC tem sido aproximar a prática e o conhecimento arqueológico daqueles das populações vivas: aproximar-se do outro não como um objeto de estudo, mas como indivíduos e grupos humanos que vivem o mundo de acordo com suas próprias normas. Além de incorporar o outro leigo, reforça a unidade e proximidade da ciências européia com os demais continentes, bem como entre esses próprios continentes. WAC é o resultado dessa luta, rompendo com a tradição ao incluir na Organização, representantes de todos os continentes e de povos indígenas. Pela primeira vez, a arqueologia teve chance de libetar o mundo ao invés de explorá-lo (Funari 2006, p. 75). 59 Em suma, meu propósito com essa rápida passagem pelo pósprocessualismo foi mostrar como “nos anos 1980 a arqueologia viu a emergência gradual de estudos preocupados em interpretar significados culturais no passado que envolvessem questões de poder e dominação, história e gênero.” (Hodder, 1999, xiii). Nos anos 1990 a perspectiva pósprocessual começa a tomar sua independência da dicotomia criada com o processualismo e volta-se cada vez mais às múltiplas possibilidades que criou dentro da teoria arqueológica. É nesse contexto que o conceito de arqueologia pública começa a ampliar suas fronteiras e ir além da batalha jurídica e legislativa, embora esse tipo de atuação nunca tenha se esgotado (e não creio que deva). 3.3. Arqueologias Públicas A diversidade de publicações e discussões que estão sob a ampla denominação de “arqueologia pública” me levaram a pensar em uma maneira de discerni-las, mais que classificá-las. Meu propósito com essa divisão não é menosprezar determinadas práticas em benefício de outras, mas apenas distingui-las de modo que possa melhor pensar sobre as possibilidades que oferecem. Por um lado, a prática da arqueologia pública como uma de manejo de recursos culturais (CRM) e beneficiamento de um conhecimento como um serviço público ainda é uma realidade cotidiana. Assim, por um lado temos a noção de que o Estado assume o papel de estar falando em nome do publico e de agir “no interesse publico”. Isso pode incluir a provisão estatal de instituições e serviços públicos como arqueologia, museus e educação. O pressuposto do Estado de que ele atua pelo interesse geral do público significa que interesses menores podem não ser efetivamente representados, e uma abordagem despótica pode significar uma perda do contato com os desejos de um público diverso (Merriman 2004a, p. 1-2). A arqueologia continua sendo um mecanismo institucional, e muitas vezes torna-se mediador entre o estado nacional e o público. Vimos na apresentação como o conceito de patrimônio cultural e arqueológico passou a 60 ser solidificado por uma legislação internacional específica, uma legislação que carrega consigo a arbitrariedade dos interesses públicos da humanidade. Entre as normas do Estado que se pretende como servidor dos interesses públicos cívicos, e os parâmetros de conduta dos tratados internacionais que se dedicam ao respeito da humanidade do indivíduo universal, a arqueologia é posta como identificadora e mediadora de relações entre essa parafernália jurídica e o interesse social, através da memória materializada. Como atuar nessa situação? Quais as pendências que ficam no caminho ao atuar em benefícios da lei? E em benefício da sociedade? E em prol somente de determinados grupos? Além dessas indagações, fica uma mais central: quem é esse público? Nick Merriman (2004a) já nos lembra que, além de ser “não-arqueológico”, nada mais necessariamente conecta esses indivíduos que estamos genericamente chamando de “público”. Com uma compreensão tão pequena das atitudes, concepções e crenças dos receptores da informação arqueológica, arqueólogos tem, portanto, se comunicado cegamente com uma audiência que não entendem, e não é de se surpreender que tantas tentativas de comunicar arqueologia resultam em tédio ou incompreensão. Em termos de compreender o publico, enfim, a arqueologia tem muito o que aprender sobre o entendimento publico da ciência. (Merriman, 2004a, p. 8). Enfim, acredito que essas são as principais questões levantadas pela arqueologia pública contemporânea, e as sequências propõem uma discussão através da revisão de leituras encontradas em coletâneas e livros cujo enfoque está justamente nessas problemáticas. Escolhi por fazer uma divisão em três pequenas partes que representassem de certa forma as propostas que encontrei nas leituras e que me levaram a fazer as reflexões acima desenvolvidas. 1) Imagens e expressões de arqueologia, contemplando o que se fala da arqueologia e, ao mesmo tempo, o que pode a arqueologia contribuir no que é falado. As argumentações desenvolvidas neste trecho serão extremamente relevantes para a leitura de artigos e revistas de mergulho sobre o patrimônio cultural submerso brasileiro. 2) Alcance e educação, buscando reflexões sobre a postura da arqueologia frente ao outro na tentativa de 61 mostrar-se útil. No Brasil, a educação patrimonial tem sido o principal modo de alcance do público não arqueológico, e pretendo aplicar as reflexões desenvolvidas aqui no caso nacional (inclusive no caso subaquático). 3) Antropofagia arqueológica; analisando casos em que a arqueologia procura questionar seus métodos e perspectivas, muitas vezes sendo ela mesma tomada pelo público como forma de conquista institucional. 3.3.1. Imagens e expressões de arqueologia No Brasil, diversos jornais regionais apresentam regularmente, apesar da pouca freqüência, notícias sobre arqueologia nacional e internacional. Não se trata de jornalismo somente impresso, mas também de algumas edições do Globo repórter (programa televisivo de sexta-feira no horário nobre e alcance nacional) e desenhos infantis durante o dia (Jackie Chan tem feito muito sucesso). Esses programas apresentam relíquias, profissionais e aventureiros que carregam consigo o poder do saber, o poder de conhecer os cálculos certos e as imagens apropriadas para relevar os mistérios do passado. Vários profissionais da nossa área também se interessam por esse fenômeno comunicativo de apreciação da estética da revelação através da escavação. Inglaterra, Alemanha, Suécia e EUA, são apenas alguns exemplos de lugares onde programas de TV, propagandas em outdoors e filmes trazem, e trouxeram desde o início das atividades comunicativas massivas (Clack & Brittain 2007), a arqueologia ao alcance do cotidiano da gente comum (Holtorf 2007a, Faulkner 2004), dos “desempoderados”, aqueles que nunca foram detentores dos métodos de reprodução oficial de sua história. Apesar de acompanharmos essa apresentação, a nosso ver, um tanto crua da arqueologia, e nos sentirmos no direito de exigir mais respeito às nossas atividades e às comunidades com as quais nos relacionamos (Pyburn 2008), talvez possamos olhar a presença da arqueologia na mídia com outros olhos. De uma perspectiva mais crítica, a mídia pode nos apresentar uma faceta diferente da que costumamos ver de nossa própria profissão, permitindo uma reflexão sem parcimônia (Taylor 2007). Pode também vir a ser, como 62 apontamos acima, uma possibilidade de compartilhamento de conhecimento e mesmo construção de um novo conhecimento. Talvez até uma maneira de abordarmos o público não arqueológico, um link entre nós e eles, muito mais efetivo (porque afetivo) do que partir do zero (Holtorf 2007a). Todas estas propostas são interessantes e direcionam a interpretação da mídia como parte da expressão pública do fenômeno arqueológico. A meu ver, estas propostas são modos de reflexões consigo mesmo (auto-avaliação) e com grupos sociais e profissionais diferentes de nós, mas que nem por isso deixam de apreciar monumentos, paisagens, ruínas, relíquias... Mais importante do que isso, é o exercício de sairmos de nossas preocupações e observarmos o que os outros apreciam na cultura material, ou mesmo o que consideram como vestígios físicos do homem, vestígios físicos da natureza, ou imagens indistintas da vida. Afinal, a “ubiqüidade da arqueologia televisiva (...) é uma medida da popularidade do assunto” (Faulkner 2004, p. 1-2). Finalmente, a presença constante da arqueologia nos meios de comunicação de massa é um alerta importante para o fato de que os fins em nosso trabalho não são apenas de apreciação acadêmica. O que falamos e produzimos deixa nosso breve nicho e circula fora de nosso controle direto, sujeito às mais diversas interpretações. A imagem de arqueólogos, arqueólogas e como nossos discursos são interpretados pela mídia é também um motivo de preocupação social, cerne da arqueologia pública. Como já assinalei em capítulo anterior, a relação entre uma disciplina engendrada nas “Ciências Humanas” com as “Humanas” fora das “Ciências” é uma necessidade que tem sido levada a cabo desde a década de 1960, com uma série de movimentos sociais que atingiram um estágio global e pediram uma reorganização do espaço de realizações e da posse do conhecimento. Retomando Nick Merriman (2004a), para compreender o público é preciso antes entender como o público compreende ciência (Merriman, 2004a, p. 8). Podemos advogar à arqueologia pública, o papel de reflexão sobre o que tem sido produzido do arqueológico fora do meio disciplinar. “O significado da 63 arqueologia na cultura popular é um tópico que nasceu daquele mesmo processo de abertura da disciplina arqueológica, manifestando uma tendência rumo a uma verdadeira arqueologia pública” (Holtorf 2007a, p. 2). Como temos feito a leitura até o momento, o princípio da arqueologia pública é participar da cena conflituosa em que o arqueólogo encontra-se durante seu trabalho. Procurar entender as dissonâncias e diversidades de modos de compreensão do passado. A obra editada por Timothy Clack e Marcus Brittain, Archaeology and the media (Arqueologia e a mídia) de 2007, bem como a edição de Julie Schablitsky, Box office archaeology (Arqueologia em Bilheteria) do mesmo ano, trazem diversos trabalhos sobre essa peculiar mediação entre arqueologia e seu público não arqueológico. Talvez um dos autores mais polêmicos e centrais nessa discussão seja Cornelius Holtorf, cuja produção conta não somente com artigos publicados em revistas e livros, como conta com duas obras de sua autoria: From Stonehenge to Las Vegas: archaeology as popular culture (De Stonehenge à Las Vegas: arqueologia como cultura popular), de 2005, e Archaeology is a brand! (Arqueologia é uma marca!), de 2007. Assim, pretendo fazer uma pequena revisão crítica da relação entre arqueologia e mídia a partir de algumas das leituras proporcionadas por esses autores. Antes de continuar com a discussão, dois breves apontamentos. Primeiramente, quando digo “relação entre mídia e arqueologia” me refiro à dois aspectos que são tratados nessa literatura especializada: 1) as avaliações das imagens construídas do fenômeno arqueológico nos veículos de mídia; 2) uma avaliação de como a arqueologia promove e pode contribuir com a compreensão popular do passado através da mídia. Em segundo lugar, essa “revisão crítica” que menciono no parágrafo anterior não consiste em uma completa “revisão bibliográfica” do tema, mas sim numa observação sobre o tratamento oferecido por alguns autores (a seleção foi necessária, levando em conta o que me pareceu mais relevante) tema da arqueologia pública como cultura popular e como nossa disciplina se posiciona frente ao público nãoarqueológico através da mídia. 64 Acredito que há dois comentários de Cornelius Holtorf que definem de maneira precisa a afinidade desse tema dentro da perspectiva pública da arqueologia. Baseada em visão de outros autores (cf. Holtorf 2005), ele diz que “Cultura popular refere a como as pessoas escolhem viver suas vidas, como elas percebem e moldam seus ambientes locais e suas ações, e o que elas crêem atrativo ou interessante” (Holtorf 2005, p. 8). Igualmente, assume que sua obra não pretende construir uma ponte entre o presente e o passado, mas a perspectiva profissional/acadêmica da arqueologia com aquela apreciação popular sobre o passado, ambos no presente (Holtorf 2005). Em nosso cotidiano capitalista e consumista, a arqueologia torna-se igualmente produto de consumo, uma “marca” (brand) de etiqueta. Talvez isso possa explicar, pelo menos em parte, porque o “produto” arqueologia desfruta de tamanha popularidade. Ela oferece e é esperada a oferta, experiências válidas para muitos. Visitar um museu arqueológico ou sítio de escavação pode ser sobre arte antiga e educação sobre o passado, sobre reconstruções geralmente idílicas da vida cotidiana no passado e reassegurar a existência de um lar, ou pode tratar de tecnologia computacional moderna e buscas por tesouros no espírito de Indiana Jones que é provavelmente o melhor conhecido arqueólogo no mundo hoje (Bahn 1989:59). Em cada caso, é uma experiência particular no presente que conta no interesse das pessoas pelo passado (Holtorf 2007a, p. 4) Acredito que a importância de considerarmos os estudos da arqueologia na mídia condiz não somente com nossa curiosidade pelas peripécias dessa engenharia comunicativa, mas também na busca desses interesses no presente que são direcionados aos vestígios do passado. Certamente, vale a pena destacar a relevância dessa perspectiva dentro deste trabalho. Em minha monografia de conclusão do curso de graduação, trabalhei com a leitura de alguns artigos da revista Mergulho, um periódico de extenso alcance nacional sobre mergulho recreativo. Os artigos escolhidos para análise foram aqueles que falavam de vestígios humanos submersos. Meu propósito com essa leitura foi tentar aproximar-me dos interesses dos mergulhadores recreativos pelo patrimônio submerso. Como me pareceu uma questão central neste trabalho (inclusive foi meu ponto de partida para o mestrado), decidi retomar algumas leituras e apontamentos. Para tanto, 65 acredito que as novas leituras sobre arqueologia e suas expressões na mídia me possibilitarão uma análise mais interessante. Primeiramente, a pergunta: O que é mídia? Em busca de raízes etimológicas, deparei-me com algo mais próximo da mediação: Medium, i – 1) a parte do meio, centro; 2) o espaço interior ou intermitente, meio32; 3) o meio (como um local visível), o aberto, vista, publico, in medium proferre ou in medio ponere tornar público, de medio partindo da cena; 4) in medio disponível a todos, ao alcance, in medium reserva comum33; 5) O meio de um período de tempo, medio temporis, no meio tempo; 6) Um estágio ou curso intermitente, algo que age entre duas coisas, um intermediário, um meio34. (GLARE 2006). Timothy Clack e Marcus Brittain trazem um significado mais contemporâneo, ao qual podemos agregar sua acepção latina. Mídia, em sua forma mais básica, são os meios de comunicação, ou uma agência pela qual aquela comunicação é transmitida, transferida ou conduzida35. “A mídia” pode ser vista como uma entidade em si mesma, um corpo de jornalismo com valores de transmissão que intersectam mercados e comercio, perfis de audiências, fronteiras do espaço discursivo, e conhecimento disciplinar. Pode ser igualmente compreendido como um processo de tradução ou engajamento incorporado na materialidade da forma midiática. Mídias diferentes transmitem 36 diferentes mensagens de maneiras variadas, tendo tanto impacto sobre os contextos de interpretação quanto enquadrando e reenquadrando os contextos de consumo (Clack & Brittain 2007, p. 12). 32 No original, midst. cuja definição dada pelo Dictionary.com seria: 1. the position of anything surrounded by other things or parts, or occurring in the middle of a period of time, course of action, etc./2. the middle point, part, or stage (Dictionary.com 2010). 33 No original, the common stock. 34 No original, medium, que pode também carregar o sentido de médium. 35 No original, conveyed. Cuja definição dada pelo Dictionary.com seria: 1. to carry, bring, or take from one place to another; transport; bear/2. to communicate; impart; make known/3. to lead or conduct, as a channel or medium; transmit/3. to lead or conduct, as a channel or medium; transmit (Dictionary.com 2010). 36 No original, convey. 66 Desses trechos, acredito que podemos ver quatro etapas sobre a discussão midiática contemporânea e suas conseqüências sobre a arqueologia. Primeiro, uma maneira prática de lidar com a mídia como “tudo o que comunica” (Tega 2010)37. De fato, isso nos permite o alcance necessário trabalhar com a construção da imagem arqueológica em diversos meios comunicativos: filmes, fotos, revistas, livros, TV, outdoors, propagandas... Enfim. Aproveitar da amplitude veicular do conceito “mídia” para visitarmos diversos campos onde o discurso arqueológico e do público se encontram. Em segundo lugar, ser e estar na mídia significa tomar a posição de um intermediário entre partes conectadas pelo enunciado midiático. No caso, o jornalismo pode mediar a arqueologia com o público não arqueológico. Mas também, a arqueologia, ao se apoderar dos veículos midiáticos, pode se tornar o mediador entre o passado e o presente, entre o sítio e o público, entre o território e o Governo. Um oficial dos estudos acadêmicos que in medio ponet. Em terceiro lugar, a “vida própria” com que Clack e Brittain definem mídia, permite-nos diferenciar as livres exposições dos fazeres e saberes arqueológicos do público das tentativas dos arqueólogos de usar algumas mídias (internet e livros de grande tiragem e circulação) para comunicarem-se com o público não-acadêmico (as quais apresentarei no próximo item). Ainda, posso acrescentar, podemos observar a comunicação entre diferentes indivíduos do público não-arqueológico para tentar perceber quais são suas impressões sobre o fenômeno arqueológico. O que me leva ao último ponto, que é tomarmos parte de uma discussão que vejo indissociável desse encontro entre o acadêmico e o leigo, é a cultura de massa. Ou seja, encarar a mídia “como uma entidade em si mesma, um corpo de jornalismo com valores de transmissão que intersectam mercados e comércio, perfis de audiências, fronteiras do espaço discursivo, e conhecimento disciplinar” (Clack & Brittain 2007, p. 12). A industrialização da comunicação, controlada por conglomerados empresariais, e as mazelas da 37 Entrevista concedida por Glória Tega a Bruno S. R. da Silva via Skype. Belo Horizonte-São Paulo, agosto 2010. 67 massificação cultural. São exatamente esses pontos que os arqueólogos mais atacam. Nas palavras de Anne Pyburn, Então arqueologia pública e sua versão local – arqueologia comunitária – acontecem nesse contexto de uma curta hype38, e arqueólogos muitas vezes tentam usar esse ângulo para engajar as pessoas em seu trabalho. É claro que arqueólogos não acham bonito murais do segundo século como os de San Bartolo, então se torna necessário inflar a significância de dados mais ordinários para ir ao encontro dos parâmetros de Indiana Jones (Pyburn 2008, p. 203). Ao mesmo tempo, a própria autora afirma que Mas se o público não está interessado, então o que estamos fazendo? Qual é exatamente o propósito de escavar os vestígios materiais do passado, agora que sabemos que não vamos mais coletar a verdade que irá nos libertar, nem irão nossos esforços acrescentar muito para o “bem de toda a humanidade”? (Pyburn 2008, p. 202). Justamente esse é o ponto dialético em que se encontra o arqueólogo na discussão sugerida nesse trabalho. Onde ficar e onde expressar-se entre o apocalipse da norma disciplinar e a submissão aos veículos de massa. Na tentativa de me socorrer em autorias fora do meio arqueológico, procurei uma das imagens mais interessantes, a meu ver, do campo comunicativo, justamente por circular igualmente pelos corredores da Universidade mais antiga do mundo e pelas prateleiras de Best Sellers a cada publicação de um romance: Umberto Eco. Apologias a parte, seus comentários sobre a cultura de massa na obra Apocalipticos e Integrados (Eco 2001) vem a calhar nesse impasse ético em que nos encontramos. Por um lado, a cultura de massa é acusada de configurar uma estrutura capitalista de mau gosto, produtora de soluções simples que inibem a 38 No original seria hype, cuja definição segundo o Dictionary.com: 1. to stimulate, excite, or agitate/2. to create interest in by flamboyant or dramatic methods/3. to intensify (advertising, promotion, or publicity) by ingenious or questionable claims, methods, etc./4. to trick; gull. Optei por deixar o vocábulo original por ser usado em diversos meios em território nacional (seu surgimento, inclusive, de maneira hype). 68 criatividade, reproduzem aquilo que já conhecemos através de fórmulas já conhecidas que se adéquam facilmente às necessidades de difusão do mercado, ao mesmo tempo em que impõe “símbolos e mitos de fácil universalidade” e muitas vezes “sugere o que este [o espectador] deve desejar” (Eco 2001, p. 41). Em outras palavras, morte à Indiana Jones, Lara Croft, Jacky Chan, Múmia e todas as entidades arqueológicas espalhadas pelo planeta! Por outro lado, Eco nos lembra que a massificação da cultura não é tão própria do capitalismo, mas sim “nasce inevitavelmente em qualquer sociedade do tipo industrial” (Eco 2001, p. 44). Inclusive, parece ser muito mais emergente em regimes ditos democráticos populares: A cultura de massa é própria de uma democracia popular como a China de Mao, onde as grandes polêmicas políticas se desenvolvem por meio de cartazes de histórias de quadrinhos; toda cultura artística da União Soviética é uma típica cultura de massa, com todos os defeitos de uma cultura de massa, entre os quais o conservantismo estético, o nivelamento do gasto pela média, a recusa das propostas estilísticas que não correspondem ao que o público já espera, a estrutura paternalista da comunicação de valores (Eco 2001, p. 44). Não sendo apenas um fenômeno capitalista, a mídia massificada é um fenômeno consumista, tampouco atribuível apenas ao regime do capital, se pensarmos que “desde que o mundo é mundo, as multidões amaram os circenses (...)” (Eco 2001, p. 45), com a diferença de possuir hoje um panorama macroscópico realmente nunca visto antes. Indo mais além, é cabível lembrarmos que esse fenômeno em gigantescas proporções ter sido realizado também como uma faceta democrática, seja pela homogeneização do gosto, eliminando uma das barreiras entre castas, seja através mídia macerada pela indústria cultural (Eco 2001). Finalmente, é de uma consciência pobre acreditar que todas as informações que cheguem à audiência sejam interpretadas da mesma maneira planificada com que são pretensiosamente dispostas em seu momento de codificação. Os mass media oferecem um acervo de informações e dados acerca do universo sem sugerir critérios de discriminação; mas, indiscutivelmente, sensibilizam o homem contemporâneo face ao mundo; e na realidade, as massas submetidas a esse tipo de informação parecem bem mais sensíveis e participantes, no 69 bem e no mal, da vida associada, do que as massas da antiguidade, propensas a reverências tradicionais face a sistemas de valores estáveis e indiscutíveis. Se esta é a época das grandes loucuras totalitárias, também não é a época das grandes mutações sociais e dos renascimentos nacionais dos povos subdesenvolvidos? Sinal, portanto, de que os grandes canais de comunicação difundem informações indiscriminadas, mas provocam subversões culturais de algum relevo 39 (Eco 2001, p. 48). Desconfio seriamente que a mass media ofereça um acervo de dados “sem sugerir critérios de discriminação”. Não vejo como se pode criar um discurso das normas de consumo através da transmissão, sem sugerir critérios de discriminação. Aliás, vejo como essa mesma a razão do despertar das sensibilidades no público, que se sente tocado ou não pelas imagens transmitidas pela mídia. De qualquer maneira, os apontamentos de Umberto Eco servem para me munir de algumas idéias com as quais é possível passar “pelo bem e pelo mal” de maneira ressabiada para ambos. Além de, certamente, apontar para a condição da mídia de massa como resultado igualmente importante de uma época de “grandes mutações sociais” e de “subversões culturais” (Eco 2001). A relação entre arqueologia e a mídia não é recente, vindo desde os anos 1840, com um grande boom entre 1920’s e 1950’s (em especial devido a desenvolvimento de mídias elétricas) e rompimento entre 1960s e 1980’s (Kulik 2005 apud Clack & Brittain 2007). Inclusive, nos anos 1950 Mortimer Wheeler e Glyn Daniel foram eleitos personalidades televisivas por dois anos seguidos (1954 e 1955) por seu programa Animal, Vegetable, Mineral? (Animal, Vegetal, Mineral?) (Holtorf 2007a). Entre os anos 1946-55, a revista americana Life, que atingiu em apenas um quarto do ano de 1953 cerca de 73 milhões de leitores nos EUA, listou 34 artigos sobre arqueologia (Ascher 1960, p. 402). O retorno das relações, posterior à 1980, é justamente o período de uma reviravolta na tendência arqueológica mundial, com pós-processualismo (Clack & Brittain 2007). 39 Assistam a alguns episódios de House:MD, seriado americano, e vejam sua alegre reação aos pacientes que se auto-diagnosticam através da internet. 70 De acordo com os Timothy Clack e Marcus Brittain (Clack & Brittain 2007), a desconfiança que a arqueologia apresenta em relação à mídia vem de tempos mais distantes, desde a década de 1930, quando intelectuais como Huxley, Horkheimer, Adorno começaram a questionar a validade dos avanços tecnológicos, vistos mais como uma força ideológica de massa para a domesticação social. Traduzindo o termo mass media por “indústria cultural”, assinalavam seu propósito de produção de entretenimento fútil em larga escala para silenciar as massas. Hoje, acredito que a comunicação indiscriminada e industrial gera outra tendência que é o ceticismo coletivo e a insensibilidade frente aos desastres sociais. Antes do ceticismo público, talvez uma das maiores preocupações dos arqueólogos é como a presença da mídia pode irromper problemas éticos dentro da disciplina. Ainda dentro do texto de Clack e Brittain, os autores apresentam uma proximidade entre a arqueologia e o jornalismo. Ambas profissões possuem apreço (mesmo que teórico) pela análise crítica das informações a serem postas em jogo e um respeito mínimo pelo que liberam dessas informações ao público. Embora nos alerte Glória Tega sobre situação do jornalismo brasileiro atual. Mas vejo que, no geral, os jornalistas não sabem o que é arqueologia. Nesse meio em que venho trabalhando, tenho feito muito contato entre cientistas e jornalistas, e os últimos não sabem o que é arqueologia, não sabem o que é uma escavação, não sabem que podemos contar uma história diferente através de objetos. Eles tem na cabeça a idéia de que transmitem fatos reais. Para mim isso já é o grande problema de tudo, pois se acreditam nisso a situação fica bem mais complicada. (...) Do jeito que o jornalismo funciona hoje no Brasil, não há tempo para que os profissionais corram atrás dessas coisas específicas, não tem tempo de fazer cursos. Quem está no mercado, com jornalismo diário, em revistas, não se atualiza nem faz cursos, pois não tem tempo. Apesar de achar que isso não justifica a falta de diálogo (Tega 2010)40. 40 Entrevista concedida por Glória Tega a Bruno S. R. da Silva via Skype. Belo Horizonte-São Paulo, agosto 2010 71 Eis uma das críticas mais ferozes que a arqueologia atira sobre o jornalismo: a compreensão errada da mensagem pelo desconhecido e, podendo chegar ao ponto do desvirtuamento da imagem da disciplina, esbarrando em questões éticas. Tomothy Clack e Marcus Brittain trazem um caso específico em que a banalidade midiática trouxe sério descrédito à arqueologia japonesa. É o caso de Fujimura Shinichi, arqueólogo nipônico cujas descobertas controversas recuaram a presença humana no Japão para quase 600.000 anos. No entanto, em 5 de novembro de 2000 foi capturado por câmeras de jornais plantando um artefato arqueológico cuja descoberta igualmente fenomenal fora anunciada por ele mesmo no dia seguinte (Clack & Brittain 2007, p. 36). As repercussões internacionais foram de certa maneira catastróficas, com “um artigo no jornal britânico Science intitulado ‘Fraude japonesa destaca ética de pesquisa influenciada pela mídia’ culpando a infiltração da mídia na arqueologia pelo fracasso da descoberta precoce dessa fraude” (Normile 2001 apud Clack e Brittain 2007, p. 36). Um dos ataques ao caso Shinichi foi justamente a necessidade de repercussão midiática e de grandes manchetes jornalísticas para que o público reconheça a arqueologia. A pressão governamental e acadêmica pela promoção da imagem nacional sobrepôs-se à ética profissional e levaram à sua corruptela através da mídia. Peter Fowler traz uma argumentação semelhante sobre sua experiência com veículos de comunicação em massa. Apesar de iniciar seu artigo com a afirmação de que a mídia, se entendida de maneira geral como “comunicação”, é o sangue da arqueologia, suas experiências e conseqüente postura frente a imagem arqueológica na mídia são basicamente negativas. “(...) se você quer jogar o jogo Televisivo, você deve jogá-lo de acordo com as regras da TV, que, como outras profissões (notavelmente medicina e direito), aprenderam a seus custos e nossa alegria” (Fowler 2007, p. 91). Alguns seriados de TV são constantemente citados por diversos arqueólogos europeus. Por vezes de maneira positiva, por vezes de maneira negativa. Hidden Treasure (Tesouro Escondido), Meet the Ancestors (Conheça 72 os ancestrais), Horizons (Horizontes), Time Team (Time do tempo), são alguns dos programas de emissoras britânicas (BBC2, Channel 4, Channel 5) de maior audiência na Europa. Tais programas, na visão de Fowler, somente contribuem para a estereotipização da disciplina, trazendo imagens de diversão, trivialidade, sagacidade e antiguidade, diluindo, como havia notado Anne Pyburn em seu artigo já citado, a relevância social que a arqueologia possui. Afinal, de maneira simples, podemos dizer que arqueologia na realidade não é sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro; seu papel é mediar entre todos os três. Apenas tente dizer isso à mídia: rapidamente você será dito que “ISSO não é arqueologia” (Fowler 2007, p. 107 – ênfase no original). Sobre essa questão, podemos tirar alguns comentários interessantes de Cornelius Holtorf. O objetivo de suas duas obras é a compreensão da arqueologia na cultura popular contemporânea (Holtorf 2005, 2007a). Em Archaeology is a Brand! (Arqueologia é uma marca!), ele apresenta o caso da presença arqueológica na TV em três países de sua familiaridade: Alemanha, Inglaterra e Suécia, com comentários esporádicos sobre os EUA. Na Suécia ele cita o caso de Göran Burenhult (Holtorf 2007a). Burenhult é um arqueólogo da Universidade de Gotland, autor do mais importante manual de arqueologia disponível em sueco, bem como de livros ilustrados para o grande público e documentários entre os anos 1980 e 1990, que o tornaram o arqueólogo profissional mais conhecido do país. Não menos interessantes são os casos conduzidos por nãoarqueólogos, como na Alemanha onde os maiores sucessos arqueológicos na TV foram escritos por uma jornalista, Gisela Grainchen. Seu programa C 14 agregava a metodologia de datação comum à arqueologia com revelações sobre o passado feitas através dessa e de outras tecnologias. Seu outro programa Schliemann’s Heirs (Os Herdeiros de Schliemann, fazendo alusão ao conhecido arqueólogo aventureiro do XIX, Heinrich Schliemann) cruzou as fronteiras nacionais, e alcançou outros países da Europa (Horltof 2007a). As estimativas de audiência do C 14 são de que “até 1,7 milhões de espectadores ligavam seus aparelhos de TV para cada episódio, correspondendo cerca de 10% do mercado adulto vital” (Holtorf 2007a, p. 34). Igualmente fascinantes são 73 os números do programa britânico, Time Team (Time do Tempo), com uma audiência regular de aproximadamente 3,4 milhões de espectadores em 2003 (algo entre 15-20% do mercado adulto, sendo 51% masculino e 56% entre 16 e 54 anos) (Holtorf 2007a – dados fornecidos para o autor pelo Channel 4). São números assustadores, especialmente se você considerar que a série Big Brother do Channel 4, agora com a promessa de sexo real ao vivo (transmissão após as 22 horas), atraiu em maio de 2004 um numero similar de 3,3 milhões de espectadores, ou uma fatia do mercado de 15%! (Holtorf 2007a, p. 39). A espantosa importância que a imagem arqueológica possui nessas produções está, como afirma Holtorf, atrelada à sua imagem de exotismo, aventura e descobrimento. Em um de seus artigos, o autor parece diagnosticar que, antes de culpar a mídia por uma veiculação insana de nossa realidade, devemos atentar para como nós mesmos estamos mostrando essa realidade. Em “Um show de moda arqueológico” (Holtorf 2007b), ele fala sobre a imagem televisiva do arqueólogo através de suas roupas. Geralmente, partimos do princípio que alguns setores da vida acadêmica, a arqueologia inclusa, permitem uma maleabilidade estética, ou seja, a moda fica a critério de cada um. No entanto, ele constrói seus argumentos para mostrar que nem mesmo nosso guarda-roupa é neutro. Basicamente, seis são os modelos mais atuais: a seriedade acadêmica/empresarial vestida de terno e gravata; o divertimento tatuado, com piercing e roupas velhas; arqueólogos de contrato, “policiais da herança” vestidos com capacetes de segurança e coletes protetores; e, claro, os clássicos retro, explorador colonial (roupas e chapéu cáqui), aventureiro sensual (jaqueta de couro, chapéu cowboy, shorts agarrados e corpos voluptuosos) e cientista (terno, gravata, barba, cabelo emplastado, barba e óculos). Esses modelos podem ser encontrados geralmente nas passarelas da Academia ou na empoeiradas transectas no campo. O autor não nega o certo fascínio e furor que os modelos de campo causam na mídia. Ele apresenta o exemplo do seriado britânico Time Team, já mencionado anteriormente como 74 um dos mais famosos seriados arqueológicos na Europa: uma ode à lama e sujeira, mas que direciona a atenção do público à etapa de campo, de maneira atrativa (aventureira e científica), mas de real validade cognitiva, já que os proprietários e trabalhadores dos campos onde trabalham deixam de perguntar por “ouro” e passa a perguntar por “geofísica” (Holtorf 2007a,b). Finalmente, acredito que a idéia central desse breve desfile é argumentar que arqueólogos não são simples vítimas de um mundo onde a moda está sempre a espreita por novos desfiles temáticos, eles são atores, construtores e reprodutores de um estereótipo de sua profissão, e isso deve ser mantido em mente quando se trata de aparecer nas câmeras (Holtorf 2007b). Arqueólogos, através do seu estilo se identificam (e são identificados) mais com partes do processo arqueológico do que com os resultados de suas pesquisas. Inclusive o público parece mais interessado no processo de descobrimento do que no descobrimento. E acredito que o destaque à agencia do arqueólogo na construção dessa imagem é verdadeira. Por experiência pessoal, já compareci a reuniões com diretores de empresas contratantes vestido à caráter de campo, pois acabávamos de sair do trabalho e, de fato, não havia tempo de retornar ao alojamento para vestirme como manda o figurino empreendedor. No entanto, durante vários campos já fomos (eu fazendo parte da equipe) para restaurantes e cafés imundos dos pés à cabeça. Uma escolha baseada no “estamos com preguiça de voltar para o alojamento e estamos com muita fome”. Claro, sensato. Mas não teríamos nunca nos permitido romper com certos parâmetros de etiqueta se não houvesse uma boa justificativa para tal: somos arqueólogos e tínhamos acabado de sair do trabalho. Não somente essa conjuntura “emporcalhada” era suficiente para convencer a mim e meus colegas: sabíamos que caso sofrêssemos uma tentativa de escamoteamento, poderíamos dizer que “somos arqueólogos e acabamos de sair de campo” para sermos salvos. Confiávamos na imagem empoeirada e suada do arqueólogo. Cabe ainda lembrar que, na perspectiva de Holtorf, muito do que surge nessa imagem pop do arqueólogo é resultado de uma retroalimentação de 75 romances e experiências arqueológicas do século XIX e começo do XX. Veja o caso de Heinrich Schlieman e Howard Carter. Dois dos mais famosos, prestigiados e históricos personagens de nosso ramo, cujas vidas arqueológicas foram notoriamente, e realmente, exóticas! O achado de Troia e a maldição da múmia! Mesmo se olharmos para nosso mais comportado exemplo de personalidade arqueológica do começo do século XX, Mortimer Wheeler, veremos que escavações se fazem no Oriente Médio, com dezenas de auxiliares vestidos em roupas arábicas, trazendo a tona todos os tipos de matérias de um passado longínquo e estético. São praticamente os modelos de Alfred Kider, hairy chested (peito peludo) e hairy chinned (queixo peludo) (Kider 1949:XI apud Holtorf 2005, p. 42). Diversas romances escritos foram produzidos a partir desse imaginário arqueológico construído no final do XIX. Famosos romancistas como C. W. Ceram (1949), autor de Deuses, Túmulos e sábios; Geoffrey Bibby (1957), dinamarques, que escreve sobre sítios pré-históricos ao norte do Mediterrâneo, o jornalista alemão Rudolf Pörtner (1959), pré-história e história da Alemanha, bem como seu conterrâneo Phillip Vanderberg que recontou histórias de descobertas na Grécia, Egito e Oriente Médio (Holtorf 2005, p. 56) A idéia de cumplicidade não é necessariamente pecaminosa, no entanto, mas sim uma tomada de frente aos perigos e vantagens dessa imagem. Como extremo oposto ao caso Shiniche, os Timothy Clack e Marcus Brittain apresentam um caso no qual o consumo da arqueologia pela mídia e pela imagem pública criada também através de visitações, permitiram não só o financiamento de pesquisas, mas também a revisão de um período préhistórico até então visto com preconceito. É o caso de novas descobertas no sítio Jomon de Sanmai Maruyama, em 1994 que chamaram considerável atenção da mídia jornalística. Com a abertura do sítio à intensa visitação e de chamadas televisivas e jornalísticas, o Projeto conquistou financiamento governamental para sua manutenção e estudos mais avançados do período Jomon (até então mal-visto como nomadismo bárbaro) (Clack & Brittain 2007, p. 37). 76 Inclusive, Neil Ascherson aponta que a arqueologia, é muitas vezes mais perspicaz no uso da mídia do o contrário (Ascherson 2004). Uma velha prática já estabelecida é o patrocínio de jornais e outras mídias de expedições e escavações. Isso é barganha especulativa: nós financiamos nossas operações em retorno de direitos exclusivos para publicação de histórias e fotos que a escavação oferece. Em 1920, Mortimer Wheeler vendeu cobertura exclusiva de sua escavação no anfiteatro legionário romano em Caerleon para o Daily Mail, e alguns anos depois fez um acordo similar com Pathé Newsreels para financiar seu trabalho em Verulamium. No final dos anos 1960, The Observer era pelo menos um dos participantes no financiamento nas espetaculares escavações de Yagin Yadin em Massada, e colocou dinheiro da escavação de Cadbury Castle. The Sunday Times assinou embaixo e cobriu as sensacionais descobertas no sítio romano de Vindolanda e Fishbourne. A rede BBC investiu na escavação de um túnel investigativo embaixo de Silbury Hill, no complexo de Avebury, mas – para a irritação dos patrocinadores – praticamente nada ‘visual’ foi encontrado para justificar seus gastos (Ascherson 2004, p. 156). Partindo dessas mesmas argumentações, vale nos estendermos ao seu lado oposto: como a arqueologia e seus profissionais se portam quando de sua responsabilidade sobre o discurso da mídia? Não devemos esquecer que a arqueologia em sua história disciplinar já fez parte de movimentos de suporte a movimentos nacionalistas e regimes totalitaristas, exercendo cargo de reificador do heróico e mítico passado ancestral, dos genes das nações de seu tempo (Arnold 1996, Fowler 1987, Trigger 1984). E continuam sendo usadas, como argumento aqui. A presença regular em jornais e revistas das novas descobertas da arqueologia continuam sedimentando o papel da disciplina como viabilizadora da postura nacionalista: “arqueólogos descobrem o mais antigo”, “o maior”, “o mais valioso”, “tal qual nunca visto antes” (Ascherson 2004). Timothy Clack e Marcus Brittain abrem seu livro justamente no ponto paternalista e hierárquico através do qual a arqueologia teria se relacionado com sua audiência (Clarke; Brittain, 2007, p. 12). E com o passar dos anos e o advento de novas propostas teóricas, a diferença entre o popular e o educativo não mais se guiam por suas configurações e objetivos sobre as quais são 77 preparados cada tipo de comunicação. O problema, ressaltam os autores, está na pausa que a produção do conhecimento faz quando chega ao público. A questão deve tomar outro rumo, na medida em que a diferença na história que contamos a nós mesmos e que contamos aos outros não está no tipo, mas no nível da história. Quanto a isso, concordo com a continuidade do conhecimento, mas discordo sobre onde exatamente está a distinção entre arqueológico e não arqueológico. A meu ver há sim uma diferença de tipo talvez mais do que nível entre o discurso acadêmico e os demais. Ou pelo menos em distintos casos. Se encararmos a mídia como espaço comunicativo através do qual até mesmo as imagens mais banais podem despertar emoções subversivas no espírito humano (Eco 2001), não acredito ser possível assistir ao ato comunicativo como simples nivelação, quando ele pode estar sendo apreendido de uma maneira completamente distinta daquela que o enunciador pretendia. Vejo que seu nível só pode ser identificado dentro de um enunciado entre indivíduos ou grupos que fazem parte de um mesmo sistema comunicativo. Ou seja, a meu ver, para que um enunciado seja distinguível por nível ele deve ser primeiramente emitido por uma parte e compreendido pela parte interlocutora dentro do mesmo tipo. Retomando a argumentação de Timothy Clack e Marcus Brittain, concordo que a produção do conhecimento arqueológico não deve parar no momento em que chega ao público. Primeiro, esse é um meio através do qual problemas criados pela demarcação Popperiana entre o que constitui a ciência e a não-ciência são evitados. Segundo, as fronteiras entre campos disciplinários ficam alocadas de maneira fluida para intersecções entre considerações multidisciplinares e abordagens de questões específicas. Terceiro, a natureza recursiva da comunicação arqueológica está aberta para analise e consumo (Clack & Brittain 2007, p. 33). Timothy Taylor (2007) possui uma interessante provocação nesse sentido. Seu artigo faz uma comparação entre televisão e arqueologia referente à suas diretrizes banais. A TV, com suas novelas, seriados e personagens quase mitológicos, pretende mostrar-nos uma parcela do cotidiano tal como 78 gostaríamos que ela fosse: o bem triunfando sobre o mal (ambos reconhecíveis por caráter bem definido), as provas de amor, o rico generoso, o rico avarento, pobre feliz, o pobre ambicioso. Não diferentemente, a arqueologia também trabalha para criar uma experiência do cotidiano do passado. E da mesma forma, se constrói sobre um banal que enquadra não o passado como poderia ser, mas um passado que parece confortável à nossas próprias visões de mundo forjadas pela parcimônia científica. Seu desgosto com essa parcimônia científica aparece quando suas propostas interpretativas sobre o canibalismo em tribos Citas durante a ocupação dos arredores do Mar Negro é rechaçado por diversas revistas científicas. Ao contrário, espera-se que acenemos com a cabeça em sábia concordância nesse ponto, aliviados que o autor não nos exigiu dar esse salto desconfortável em nosso convencional e caseira compreensão de nós mesmos como humanos (Taylor 2007, p. 198). A chamada de Timothy Taylor está mais para a possibilidade que a TV pode nos oferecer a uma visão do passado de um tipo diferente daquela prerrogativa parcimoniosa da academia. Não que a TV seja livre de preconceitos, mas são, enfim, outros preconceitos. O que o autor faz é exatamente nivelar o discurso televisivo ao acadêmico, deixando claro que, no entanto, cada um traz consigo uma posição interpretativa diferente sobre o mundo, e que atentar para a visão do outro pode nos abrir muitas portas. Não se trata de uma questão de diferentes níveis, mas sim de diferentes tipos. Comecei esse artigo dizendo que a banalidade era provavelmente o ponto de similaridade mais interessante entre arqueologia e televisão. Despe o banal de suas conotações pejorativas e ele se torna o que a sociedade normalmente espera – seu lugar comum. (...) Certamente há universalidades (ou quase universalidades) no que é verdadeiro sobre as pessoas, mas o que é mais interessante na arqueologia – tanto para nós praticantes quanto para o público em geral – é a patente e inegável diferença que ela continuamente revela (Taylor 2007, p. 200). Talvez seja o caso de buscarmos o meio-termo, não por clichê, mas pela mediação. O meio-termo não seria o nirvana, o perfeito equilíbrio entre A e B, 79 entre o anti e o pró, mas sim o termo de onde podemos nos articular entre antis, prós, contras, semi-contras, semi-antis, semi-prós, indefinidos, redefinidos e assim por diante. Mais uma vez busco auxílio nos argumentos de Umberto Eco (2001), que considera que o pecado não reside na mídia de massa em si, mas na permissividade de um “livre cambismo” cultural. Retomando as acepções brevemente levantadas sobre apocalípticos e integrados, Eco direciona seu olhar crítico à ambos. O erro dos apologistas é afirmar que a multiplicação dos produtos da industria seja boa sem si, segundo uma ideal homeostase do livre mercado e não deva submeter-se à uma crítica e a novas orientações. O erro dos apocalípticos-aristocráticos é pensar que a cultura de massa seja radicalmente má, justamente por ser um fato industrial, e que hoje possa ministrar uma cultura subtraída ao conhecimento industrial. (Eco 2001, p. 49). Retomando a crítica de Peter Fowler à sede midiática pelo fantástico, é recorrente a situação na qual o arqueólogo se posiciona como um pesquisador/indivíduo subjetivo e esperando que suas interpretações mostrem apenas uma possível diversidade no passado ao invés de uma verdade inalienável, e acaba sendo rechaçado com o comentário de que “isso não é arqueologia”. Ou seja, estando a cultura popular imersa nessa realidade irreverente da qual a arqueologia faz parte, fica difícil nos posicionar como indivíduos ativos na sociedade. Em alguns momentos, a própria mídia é inflexível ao diálogo com a arqueologia. Tente dizer que a arqueologia faz-se desde o presente. Que não existe verdade sobre o passado, e que a arqueologia tem se esforçado, na realidade, com maneiras de mostrar que o próprio passado era tão diverso quanto o presente. Tente mostrar o quanto podemos contribuir para um presente mais tolerante através de imagens do passado mais múltiplo. Enfim, tente dizer que Palmares era um espaço de multiplicidade étnica, e não só um Estado Negro41. 41 Retomarei o tema no próximo capítulo. 80 Mas, não acredito que a provável falta de ouvidos do jornalismo deva impedir que o arqueólogo tome essa posição, e tente expor sua pesquisa e postura social da maneira mais coerente possível (não se esquecendo do público ao qual se direciona). Responder com birra a qualquer falha de comunicação ou má vontade pessoal não parece uma solução que leve a algum lugar. Afinal, se mudar um paradigma social sobre a realidade fosse fácil, não seriam necessário movimentos internacionais nem uma grande área conhecida como “Ciências Humanas”. Além disso, o jornalismo é apenas umas das formas de comunicação em grande escala. O cinema, os livros, as artes visuais, as artes plásticas, todas oferecem formas diferentes de expressão, comunicação e construção de conhecimentos baseados nos dados arqueológicos. Eco faz o certeiro apontamento de que o erro está, a seu ver, em imaginar que possamos lidar com uma realidade diferente que a de cultura de massas. A falha está em formular o problema nesses termos: “é bom o mau que exista cultura a de massas?” (...) Quando, na verdade, o problema é: “do momento em que a presente situação de uma sociedade industrial torna ineliminável aquele tipo de relação Nem apocalípticos, nem comunicativa conhecido como conjunto dos integrados. O público nãomeios de massa. Qual a ação cultural possível a arqueológico irá re-interpretar e fim de permitir que esses meios de massa se re-apropriar do conhecimento possam veicular valores culturais” (Eco 2001, p. arqueológico. Abordar o público 50). através das visões criadas pela mídia, sem fugir da crítica que a ética profissional nos encarga, pode ser uma maneira muito mais efetiva (justamente porque é afetiva) de conectar-se ao público. Para dar um exemplo de filmes, talvez um dos mais interessantes já feitos sobre arqueologia seja O Corpo (2001), filme de Jonas McCord estrelado por Antonio Banderas e Olivia Williams. Apesar de seu final um tanto apaziguador (ficou clara a intenção de evitar atritos com o Catolicismo), o filme apresenta mais a força política do trabalho arqueológico do que um clichê aventureiro (explosões e assassinatos a parte). Sim, a arqueóloga possui uma personalidade tensa, 81 nervosa, bruta e judia, e finalmente é domesticada e acalmada pelo bom padre romano. Mas a imagem da arqueologia em campo não segue o necessário movimento épico colonialista (repito, a arqueólogA é judia) e apresenta etapas bem próximas à realidade arqueológica: exploração de diversos métodos científicos para a compreensão da materialidade envolvida, as dúvidas envolvidas na interpretação, as relações políticas envolvidas no processo, o proprietário do terreno escavado francamente insatisfeito e um antropólogo físico americano nada sexy, mal acostumado à trabalho fora do seu laboratório. Concordo com Yamin e Cook quando dizem que arqueólogos não podem competir com o drama das telas, nem podemos corrigir o que supostamente seria a verdade literal, para começar. O que de fato temos é a habilidade de comunicar a complexidade do passado que derivamos da arqueologia (Yamin & Cook 2007, p. 173). A proposta que tem sido levantada pela literatura mais crítica sobre arqueologia e mídia, e que acho mais proveitosa para a arqueologia pública, é que própria arqueologia tem uma imagem a oferecer. Isso talvez possa explicar, pelo menos em parte, porque o “produto” arqueologia goza da popularidade que possui. Ela oferece, e é vista como ofertadora, experiências valorizadas por muitos. Visitar um museu arqueológico ou um sítio de escavação pode ser sobre arte antiga e educação sobre o passado, sobre construções geralmente idílicas do cotidiano no passado e reassegurar-se sobre sua terra natal 42 , ou sobre tecnologia computacional moderna, e caça ao tesouro no espírito de Indiana Jones (...). Em cada caso, é uma experiência particular no presente que conta sobre o interesse das pessoas no passado (Holtorf 2007a, p. 4). Apesar de não haver modo direto de controlar o destino figurativo de nosso discurso fora de nosso meio (controle do qual nos vemos privados muitas vezes dentro de nosso próprio meio), o discurso que é gerado a partir do trabalho arqueológico ainda é nossa responsabilidade. Ignorar o que é dito sobre nós nos veículos de comunicação é dar as costas para as possibilidades 42 No original, home village, “Vila natal”, “vila na qual nasceu”, “considerada como casa”. 82 que temos de saber como esse discurso está sendo reaproveitado e como está impactando paradigmas sobre a realidade social. Se de fato o arqueólogo quer tomar o controle da imagem que se constrói sobre ele fora de suas bordas disciplinares, não adianta negar ou condenar uma prática inevitavelmente existente e corrente. A alienação não altera a equação: “o silencio não é protesto, é cumplicidade; o mesmo ocorrendo com a recusa do compromisso” (Eco 2001, p. 52). Já está na boca do povo há muito tempo: “Quem cala, consente”. 3.3.2. Alcance e Educação Nesse item, minha preocupação foi tentar entender uma das nuances pelas quais se esboçam os trabalhos de arqueologia pública na contemporaneidade, o que me parece muito bem definido na literatura em língua inglesa como public outreach (alcance público, atingir as pessoas). Muitos trabalhos denominados de arqueologia pública envolvem projetos em que a arqueologia procura divulgar seu conhecimento para o público leigo. Nesse processo, a disciplina se mantém como referencial de produção do conhecimento, mas procura ao máximo aproximar-se do público com o objetivo de democratizar o conhecimento produzido. Essa abordagem envolve atuações que poderíamos definir como de “extensão”: abertura de espaço para trabalho voluntário, produção de bibliografia específica para um grupo não acadêmico, educação patrimonial, cursos de treinamento e capacitação de professores e público em geral, exposições museológicas. Uma das principais críticas a essa perspectiva, é à sua maneira de proceder. Muitas vezes, o aproximar-se do público nada possui de cuidadoso, sendo apenas mais uma maneira de disseminar o conhecimento arqueológico como paradigma histórico e perpetuar sua preocupação com a preservação apresentados patrimonial. como Em realmente contrapartida, preocupados vários em trabalhos contribuir têm-se com as necessidades do público na medida de suas demandas. 83 A escolha pela abordagem dessa expressão da arqueologia pública foi feita pela polêmica de sua aplicação. Não poderia esquecer que essa perspectiva tem aparecido muito em trabalhos de licenciamento arqueológicos no Brasil, conhecidos como “educação patrimonial”. Os trabalhos de educação patrimonial no Brasil são obrigatórios por lei em todas as consultorias de licenciamento ambiental (que veremos com mais detalhes no próximo capítulo). As discussões sobre educação patrimonial no Brasil têm seguido a mesma linha que se pretende analisar aqui: quais os benefícios e impactos do conhecimento arqueológico para a população local, e como esse conhecimento está sendo transmitido ao público. De fato, parte da bibliografia sobre o tema dedica-se à postura de arqueologia pública como as discussões relativas aos melhores métodos de fazermos o público entender o valor da arqueologia na vida cotidiana através da educação patrimonial (McManammon 2002) e sua importância na autenticação e no fornecimento de interpretações válidas do passado (Little 2002a, 2002b; Lipe 2002). A divulgação de todos os benefícios da disciplina arqueológica e o estudo de como fazê-la mais eficiente pelo bem da disciplina e da proteção patrimonial não me parecem ser um caminho que vá muito além de publicidade. Não pretendo menosprezar a importância da propaganda para a arqueologia, a exposição da própria disciplina e de seu funcionamento, bem como resultados para a sociedade. No entanto, não me parece caso de discussão sobre postura política e promoção da diversidade social tanto quanto discussões sobre as melhores maneiras de vender seu próprio peixe. Acompanhando minha argumentação sobre a origem da arqueologia pública, cito John Jameson Jr. (2004) sobre a educação arqueológica e programas de alcance público que começaram com força nos Estados Unidos entre os anos 1980 e 1990, quando os profissionais perceberam que não mais poderiam se ausentar de “mecanismos e programas que tentassem transmitir informação arqueológica para o público leigo” (Jameson Jr. 2004, p. 50). Já Karolyn Frost argumenta que a arqueologia saiu de seu casulo quando percebeu que não mais poderia “nem fazer sozinha, nem forçar com a ajuda da legislação – a preservação de vastas quantidades de recursos culturais que 84 estão tanto acima quando abaixo da terra por todo o continente” (Frost 2004, p. 60). Essa perspectiva educacional surge após o aumento considerável de políticas estatais (e internacionais) para a preservação do patrimônio arqueológico dos anos 1960 e 1970. Foi um momento em que a arqueologia se deparou com a dificuldade de, sozinha, zelar pela integridade dos recursos agora disponíveis. Igualmente, foi o momento em que muitos governos começaram a colocar em pauta a dúvida sobre financiar trabalhos que não trariam benefícios econômicos diretos (Colley 2002). No entanto, penso que antes de fazer da sociedade polícia do patrimônio arqueológico, existem outras propostas de aprendizagem e intercâmbio de conhecimento que se aproximem da afinidade que o público não arqueológico desenvolva com determinado lugar. De acordo com Ana Maria R. Gomes (2006), nos anos 1970 a antropologia da educação ingressava como setor acadêmico nos Estados Unidos e tiveram como estímulo determinante a necessidade de contrapor-se ao modelo explicativo prevalente na época sobre os problemas de escolarização das minorias étnicas, ou seja, contrapor-se ao modelo da privação cultural, à noção de déficit cultural e aos desdobramentos em termos de uma pedagogia compensatória (Gomes 2006, p. 317). A proposta adotada pela autora visa a resolução de problemas na análise do desempenho escolar de minorias étnicas, com particular atenção aos Xakriabá. Gomes defende a importância da antropologia da educação no reposicionamento da escola dentro de um sistema educativo: ela deixa de ser o único contexto de aprendizagem e, portanto, deve ser estudada em conexão com as demais instituições e processos associados às dinâmicas educativas de diferentes grupos sociais (Gomes 2006). Isso nos abre uma possibilidade fundamental na discussão sobre diversidade de saberes, pois antes de falarmos em dificuldades individuais (déficit cultural), teremos que falar “no campo das diferenças coletivas na forma de viver e interpretar a experiência social” (Gomes 2006, p. 318). E somente aí, a meu ver, podemos fazer da educação uma ferramenta de libertação (Freire 1987). Buscar a compreensão dos mecanismos de aprendizado do outro, suas necessidades e interesses, e 85 por quais movimentos nossos parâmetros cognitivos podem se comunicar é a única maneira de romper com a barreira entre educador e educando. A partir daí, penso que teremos atividades de educação patrimonial que não pretendam apenas conquistar adeptos e criar guardas patrimoniais, mas que respeite a diversidade de experiências. Tim Copeland escreve sobre a aplicação do método construtivista em um caso arqueológico, partindo do pressuposto de que o aprendizado é um veículo muito mais eficaz quando ocorrem “dissonâncias cognitivas”, ou seja, quando há conflito entre o que se considerava fato estabelecido e uma nova informação (Copeland 2004, p. 134). Tomando parte da proposta educativa, o autor acredita que o construtivismo é um meio muito adequado de abordagem justamente por considerar o conhecimento prévio do interlocutor, opondo, no caso, a “perspectiva do visitante” à “perspectiva da exibição” que seria a interpretação arqueológica (Copeland 2004, p. 135). Seu texto é uma excelente reflexão sobre esses dois processos cognitivos e aborda uma questão básica sobre trabalho de campo. Como a visita ao sítio arqueológico deveria ser encarada pelo arqueólogo? Opondo-se à idéia que julga positivista em que a arqueologia deve apresentar de maneira clara e precisa qual é seu ponto de vista, ele opta por pesquisas que apóiam reflexões fenomenológicas e construtivistas. Os resultados apresentados em alguns casos que tem mostrado como uma recepção dialógica do visitante não é uma experiência vazia. Encorajar e aceitar iniciativa de visitantes (...); Usar fontes primárias junto com materiais manipuláveis (...); Usar interpretações que peçam ao visitante para classificar, analisar e criar (...); Usar as respostas dos visitantes como motores de interpretação (...); Perguntar sobre a compreensão que o próprio visitante possui de conceitos antes de apresentar sua interpretação (...); Encorajar visitantes a dialogarem tanto com os especialistas quanto entre si (...); Encorajar visitantes fazendo perguntas atenciosas, de mente aberta e encorajando os visitantes a fazerem perguntas entre si (...); Procure elaborações das reações iniciais dos visitantes à evidência (...); Engajar visitantes em experiências que possam gerar contradições às suas hipóteses iniciais e encorajar discussões (...); Permita espaços de tempo para a formulação de questões e para a construção de relações e metáforas por parte dos 86 alunos (...) (Brooks & Brooks 1993 apud Copeland 2004, p. 140-142). Em poucas palavras, a proposta é abrir mão da autoridade cognitiva sobre o sítio e tomar a postura de mais um dos interessados em pensar sobre ele. Não se trata de um pedido de abandono do conhecimento arqueológico, mas de abertura a outras propostas que não tenham vindo necessariamente do mesmo background. É uma experiência que pode terminar em lugar nenhum, com o visitante entediado e cansado do sol e da poeira sem haver conquistado o menor apreço por fazer buracos no chão (seja lá qual for a razão dos buracos no chão). Mas a proposta não é convencer o público de que arqueologia é a melhor atividade do mundo, mas sim dar abertura para outras interpretações do passado e outras experiências no momento presente daquele espaço. Devemos levar em conta, no entanto, que ter montado um sítio arqueológico já é em si uma forma de interpretar o passado e de influenciar a percepção da paisagem. De qualquer maneira, uma vez já aberto, a proposta apresentada por Copeland permite uma construção mais democrática do passado e uma experiência mais diversificada do processo arqueológico. Abrir-se para uma experiência fenomenológica não é só fornecer bom entretenimento ao público, é abrir-se para o questionamento do público, permitir que ele se insira (veja bem, “ser inserido” é diferente de “inserir-se”) na metodologia e processo cognitivo usado pela arqueologia em suas interpretações: abrir a caixa-preta. Isso exige um reconhecimento de que a experiência e conhecimento do(a) arqueólogo(a) diferem da experiência e conhecimento do visitante, ao contrário de abordá-lo como um estranho ao processo, cujo nível de apreciação científico é inferior ao seu e, portanto precisa ser suprido. Neil Faulkner defende que o trabalho voluntário na arqueologia pode ir além de uma proposta de alcance do público, sendo a real saída para uma arqueologia que venha de baixo (Faulkner 2004). As diversas experiências que antecedem os participantes levam a interpretações múltiplas sobre as mesmas descobertas feitas em campo e, se permitido pelo arqueólogo responsável, podem ser a faceta de uma arqueologia socialista (Faulkner 2004). 87 Em 2006 durante o estágio de licenciatura no meu curso de História, fomos (eu e uma colega) falar sobre arqueologia para uma classe de 5ª série, ensino fundamental de um colégio particular dos mais prestigiados de Campinas/SP (do tipo que se esperava produzir os políticos da próxima geração). Em uma sala de aula com 30 alunos, começamos a falar sobre a arqueologia nos tempos de hoje, sobre a importância de que o arqueólogo seja conectado com o mundo presente e não se afogue apenas em suas coleções e peças, a importância de que seus achados sejam expostos ao público, não ficando apenas fechadas em prateleiras de reservas técnicas. Tamanha foi nossa surpresa quando uma das apresentações dos alunos sobre arqueologia, ao reproduzir nosso discurso quase em sua integridade, apresenta uma foto de peças arqueológicas em prateleiras de uma reserva técnica como atitude reprovável. Tanto eu quanto minha colega, ficamos perplexos com a tomada literal de nossa tão “inocente” metáfora. Se olharmos para essa situação pelo viés de uma diferença de nível, poderemos resolver a questão simplesmente entendendo que houve uma falha de comunicação entre o nível acadêmico do qual partimos e o nível fundamental da educação infantil na qual se encontravam nossos interlocutores. Nós, que já sabíamos que usávamos uma linguagem figurada e que, mesmo ressaltando a importância da exposição pública, as reservas técnicas são parte do trabalho arqueológico, deveríamos ter deixado mais claro nosso ponto de vista metafórico às crianças. Afinal, estamos em níveis diferentes. Inclusive, podemos pensar que esse foi o ponto de partida dos infantes quando tentaram ao máximo reproduzir na íntegra nosso discurso: “eles são alunos de faculdade, estão mais avançados nos estudos e temos que aprender o que vier deles para um dia também estar no mesmo patamar”. Aqueles alunos estão todos em fase de preparo para a vida adulta, e pretendem seguir passos comuns aos professores e estagiários: arranjar um emprego, passar no vestibular, escolher uma área de atuação, tornar-se um membro de grupo social específico, ser um cidadão ativo. Ou seja, há uma relação de nível se partirmos do pressuposto que, em determinada relação, um dos indivíduos possui certo conhecimento que o outro indivíduo almeja (seja lá qual for a razão): um aprendizado. 88 No entanto, não acredito que a visão sobre o passado possa ser colocada nesse mesmo patamar. Ou melhor, nosso interesse aqui é para a atenção a diferentes formas de ver o passado, e não de formas “mais ou menos evoluídas” de ver o passado. Se observarmos pelo detalhe de que o enunciado foi praticamente o mesmo em ambos os pronunciamentos, a perspectiva aparenta ser mais interessante. Enquanto pronunciávamos uma metáfora, eles compreenderam uma imagem literal. E quando pronunciaram sua mensagem literal, ficamos confusos e fomos forçados a pensar no que seria possível apreender desse diferente tipo de interpretação do enunciado. De fato, após a aula, ficamos discutindo sobre o papel das reservas técnicas em um a arqueologia preocupada com a interpretação e com o acesso público. Ou seja, para que continuar a aumentar coleções fechadas? Seria melhor pararmos de escavar? Não seria melhor trabalhar com exposições e contato direto com o público nos sítios? Não seria melhor levar adiante as sugestões da arqueologia paisagística e chamadas sócio-ambientais para escavar o menos possível? Será que já estamos tomando essa postura? Foi uma interessante volta para casa. O despertar de dúvidas não seria possível em uma relação de distinção nivelar, pois a aproximação tenderia para certo paternalismo: “eles estão num nível mais baixo, por isso não entenderam”; ou até mesmo “precisamos tomar cuidado com o que falamos, pois eles estão em um nível diferente”. Agora, “Será que estamos mesmo indo por esse caminho? Mas os museus e reservas não estão cada vez mais cheios? Não seria melhor passar a adotar condutas menos intervencionistas?” só seria possível se reconhecêssemos naquele discurso um nível similar, de igual patamar de consciência e preocupação com a realidade, uma diferença de tipo; uma outra opinião a ser levada em conta. Repito, tanto no nivelamento quanto na tipologia é possível o reconhecimento do estranhamento discursivo. E mesmo a tentativa de correção desse estranhamento para que ambas as partes possam se entender melhor. No entanto, o reconhecimento e validade da alteridade só é possível se encararmos falhas na comunicação, antes do nível, como um possível 89 problema de tipo. Retomando as argumentações de Ana Gomes (2006), devemos reconhecer uma distinção cultural antes de um déficit a ser suprido. Por mais que as crianças estejam matriculadas numa cadeia de ensino progressiva, não devemos ignorar suas sensibilidades e perspectivas. O exemplo de Copeland (2004) caminha na mesma direção, quando reconhece que diferentes indivíduos (sejam adultos ou crianças) possuem modos distintos de entender, reconhecer e sentir o presente e o passado. Talvez esse seja o principal problema da educação patrimonial aplicada em projetos arqueológicos. Não se encara o público não-arqueológico como observador consciente de seu entorno; Pelo contrário, há o costume de encarálo como um deficitário da mirada precisa do arqueólogo. No entanto, me parece óbvio que nem todos possuam a mirada precisa do arqueólogo. O que pode vir a ser um grande equívoco, como vimos no item anterior: o público muitas vezes possui um conhecimento arqueológico tal qual divulgado na mídia, podendo ou não ter alguma compatibilidade com o discurso arqueológico acadêmico. Ou mesmo não ter interesse algum em adotar a mirada do arqueólogo, como argumentou Brian Fagan (1977). Voltando ao texto de Tim Copeland, um esquema por ele apresentado Copeland (2004, p. 136) parece desencontrar em parte de sua postura construtivista. Tal esquema mostra com perspicácia a complexidade da interação entre ciência e público, e como essa interação pode contribuir não só para o conhecimento leigo do processo de produção científica, mas também para a própria ciência que, sob os olhos do outro sofre uma crítica externa. No entanto, penso que seja errôneo partir do princípio de que é apenas através da arqueologia que o público toma contato com o lugar que passa a tratar como sítio arqueológico. Não há dúvidas de que é unicamente através da arqueologia que o leigo toma contato com o sítio arqueológico, já que este é uma criação arqueológica. Mas antes de ser sítio, retomo meu argumento, o espaço pode ser qualquer outra coisa com a qual a comunidade já teve contato e com o qual pode ter desenvolvido algum tipo de relação. Relação da qual o público se torna especialista, e não leigo. 90 Não é incomum, pelo contrário é quase norma, a freqüência que sítios arqueológicos são encontrados ao acaso por agricultores, jardineiros, veranistas em passeio ao campo, mergulhadores. Tanto é que o Reino Unido, a modo de exemplo, sentiu a necessidade de criar políticas de registro e portabilidade Seja qual for a proposta de alcance público, enxergar os nãoarqueólogos como culturalmente diferentes, ao invés de culturalmente deficitários, é a única maneira de criar uma educação libertária e produzir uma experiência do passado e presente que responda às necessidades do(a) arqueólogo(a) e do público. legal de antiguidades e vestígios arqueológicos encontrados por uma horda de “detectoristas de metal” que fizeram moda no lazer dos anos 1990 (Bland 2004)43. Meu ponto é que não há porque esperarmos que o público entenda arqueologia como entendemos. Tampouco há razões para forçarmos nossa compreensão da realidade antes de procurarmos entender qual a bagagem que eles possuem. Tanto por uma questão de ética e respeito à diversidade cultural quanto pelo proveito que a interdisciplinaridade na qual se baseia a arqueologia: Sempre vale a pena conferir se há algo mais entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Nick Merriman (2004b) possui um texto no livro de sua edição em que apresenta uma série de temas relativos à musealização e o contato com o público. Sua primeira observação é de que no Reino Unido, “visitar museus e galerias como um todo é uma atividade mais popular que assistir a jogos de futebol ou qualquer outro evento esportivo ao vivo” (MORI/Resource 2001:7 apud Merriman 2004b, p. 85). Não só por ser uma atividade de entretenimento, mas Museus são representações midiáticas poderosas porque elas lidam com o próprio material sobre os quais repousam reivindicações de identidade e verdade. Sua concretude, sua posse da “evidência”, seu status oficial e sua associação com a Academia44, dão ao Museu maior autoridade e reivindicações à verdade que qualquer outra mídia. (Merriman 2004b, p. 86). 43 Veremos um caso similar à arqueologia subaquática no último capítulo. 44 No original, Scholarship, definido pelo Dictionary.com (2010) como 1. learning; knowledge acquired by study; the academic attainments of a scholar./2. a sum of money or other aid granted to a student, 91 Os museus possuem a materialidade do passado, assumindo assim um papel muito semelhante ao sítio arqueológico: o receptáculo dos vestígios do passado, das provas de outrora, da verdade agora revelada. Sua importância tem sido atribuída muito mais ao seu “papel simbólico como repositórios da matéria-prima sobre a qual a identidade é fundada” (Merriman 2004, p. 86-87) do que em seu valor educacional. Além da difusão via web, uma das pedagogias mais comuns é mostrar o que está “por trás da cena”. No Museu Nacional de Gales, uma atividade específica consiste em vestir um de seus funcionários como um indivíduo préhistórico, descrever à audiência suas roupas e acessórios. Os mesmos espectadores ajudam a “enterrá-lo” numa caixa com fundo falso. Uma vez dentro da “tumba”, o protagonista é trocado por um verdadeiro esqueleto, e a audiência é convidada a discutir sobre alterações que o tempo causou à cultura material associada ao enterramento (Merriman 2004b, p. 92). Seguindo uma metodologia semelhante de contato direto, as “mãos no passado” representam outra tentativa de inovação museológica. Basicamente, é a tentativa de apresentar a materialidade a crianças e adultos através da experiência táctil (tocando os objetos). Como não poderia ficar de fora, Nick Merriman cita algumas propostas em que o material arqueológico deixa o espaço do Museu e destina-se ao contato mais distante. As loan boxes, conhecidas por nós como “kits arqueológicos”, são bens muito requisitados que propiciam uma vivência com o objeto fora do espaço do Museu. Existem também meios de levar o museu até o público através da movimentação das coleções por outros espaços, como Shoppings, aeroportos, pubs ou mesmo escritórios erguidos em sítios arqueológicos (Merriman 2004b). Alguns museus do Reino Unido apresentam os Museums on the move (Museus em movimento), caso dos Serviços de Museu de Shropshire, Herefordshire e Worcestershire. because of merit, need, etc., to pursue his or her studies. /3. the position or status of such a student./4. a foundation to provide financial assistance to students. Optei por uma tradução que mantivesse o peso institucional do conhecimento. 92 A primeira exibição, ‘Munch! 45 : uma curta história da comida através dos anos’, incluiu material arqueológico, e apresentou material arqueológico real manuseável e replicas de objetos, ‘caixas de pegar’ e ‘caixa de cheiro’, fitas, vídeos, e um interprete a bordo que poderia responder perguntas (Merriman 2004b, p. 96). Essas estratégias de alcance público pelos museus passam por uma discussão crítica em seu texto. Em primeiro lugar, o entretenimento e estética de apresentação sugeridos logo no início dos anos 1960 e 70 e levada a cabo em Museus como o de Londres e Jorvik Centre, são criticadas por proporcionar uma visão muito confortável e nostálgica do passado, geralmente a favor de uma perspectiva histórica das classes dominantes (Merriman 2004b). Inclusive, já na virada da arqueologia pós-processual Michael Shanks e Christopher Tilley fazem um ataque muito feroz a esse tipo de exposição museológica pela “cobertura estética” que coloca sobre o processo de construção do conhecimento arqueológico, já que a exposição apresenta nada mais que o resultado pronto (Shanks & Tilley 1992). Em segundo lugar, a iniciativa digital promove de fato um alcance fenomenal inerente à condição conectiva da internet, como já foi argumentado. No entanto, questiona-se se essas ilustrações virtuais provêem uma acessibilidade à coleção maior do que as velhas imagens em livros (Merriman 2004b, p. 91). Em terceiro lugar, nos exemplos “dos bastidores”, nada é argumentado a não ser o suposto processo de decomposição do material que vestia o guerreiro escapulido pelo fundo falso. Projetos de “mão na massa” não podem ir muito além se tudo o que fazem é dar objetos para que o público passe a mão. Além disso, não há uma real medida sobre o quão instrutivo esses modelos de abordagem pública possam ser (Merriman 2004b). Como um exemplo diferenciado de atividade museológica, Merriman cita a exposição do Museu de Londres que entre 1993 e 1994 desenvolveu um projeto chamado “O Povoamento de Londres”, cujo mote era a diversidade 45 Optei por deixar o original por falta de vocábulo em português que mantivesse o sentido e a estética monossilábica da chamada do projeto. De acordo com o Dictionay.com (2010), munch é definido como 1. to chew with steady or vigorous working of the jaws, often audibly. 93 étnica que teria constituído o povoamento da cidade, a partir de fontes materiais e escritas. Quase 100.000 pessoas visitaram a exibição durante seus seis meses, e pesquisas junto com outras técnicas de avaliação demonstraram que a exibição conseguiu atrair uma nova audiência para o Museu, com 20% dos visitantes descrevendose como pertencentes à uma minoria étnica, comparado com os 4% anteriores à exibição. (Merriman 1997 apud Merriman 2004b, p. 98). O estudo apresentado por Sally McDonald e Catherine Shaw sobre o interesse do público nos temas egípcios foi em decorrência de uma pesquisa feita pelo Museu Petrie da UCL apresenta questões, grupos focais e resultados muito interessantes. A pesquisa consistiu em questionários aplicados a grupos determinados de acordo com um critério de “público conhecido”, “público potencial”, “entrevistas selecionadas” e “grupos focais”. Aos dois primeiros foram aplicados questionários sobre temas de interesse em egiptologia, diferente dos “entrevistados selecionados” e dos grupos focais (que participam de discussões). Os primeiros foram os “amigos dos museus”, associação de freqüentadores e seguidores das atividades do museu; o segundo grupo eram escolas do ensino fundamental próximas à Londres Central (local do Museu), dos quais responderam professores e não alunos; o terceiro grupo representou uma soma de 24 indivíduos entrevistados que possuíam conhecido interesse em egiptologia, sendo três egípcios, cinco negros não egípcios e os demais brancos; o quarto foi composto por jovens mochileiros e adultos que já haviam ido ao Egito através de cruzeiros, e outros dois grupos de indivíduos entre 25 e 45 anos que nunca haviam ido ao Egito. Entre as diversas questões feitas e da variedade de tratamentos às respostas, Cito aqui apenas alguns pontos que concernem à minha argumentação. Como uma instituição universitária pública, o interesse principal do Museu era em conhecer as “bases comuns” de seus visitantes, fossem profissionais ou amadores (McDonald & Shaw 2004, p. 112). No entanto, levam a cabo reflexões que tocam em temas polêmicos, como a “cor dos antigos egípcios” e a relação entre o Egito moderno e Egito antigo. Inclusive a relação entre egípcios modernos e o Antigo Egito. 94 De início, é constatado através de uma pesquisa de órgão nacional (English Heritage) que “três de cada quatro pessoas acreditam que ‘a contribuição de povos negros e asiáticos na provisão patrimonial para nossa sociedade não é totalmente representativa’” (MORI 2000 apud McDonald & Shaw 2004, p. 112). Observam também que visitantes ao Museu que se definem como negros é um número muito baixo, da mesma maneira que o número de egípcios que visitam o Cairo é menor que 5% do público total, e o quadro de estudantes conta apenas com 1 egípcio em cada 20, e que dos “Amigos do Museu” apenas 1% é egípcio. Ou seja, de quem e para quem é a história Egípcia exposta no Museu? O Egito é um território Africano ou branco? Qual a relação entre o Antigo Egito e a vida egípcia contemporânea? Essas perguntas fizeram parte das entrevistas e das discussões com os grupos focais. Sobre a cor egípcia, “adultos brancos acharam questões sobre a cor de pele dos antigos egípcios ‘profundamente perturbadora e inesperada’. Havia evidência de um desejo de manutenção de uma identidade egípcia branca” (Fisher 2000: chart 35 apud McDonald & Shaw 2004, p. 111-112). Entretanto, se olharmos pelo outro lado “Correspondentes não brancos se mostraram apaixonados ao invés de ameaçados pela pergunta. Era-lhes claro que a o Antigo Egito havia sido tomado como parte da história branca” (Fisher 2000: chart 37 apud McDonald & Shaw 2004, p. 122). Podemos observar, do mesmo modo, que “pessoas brancas pareceram despreocupados pela mistura de fantasia e fato em sua versão do antigo Egito, enquanto correspondentes não brancos eram mais conscientes de distorções” (Fisher 2000: chart 33 apud McDonald & Shaw 2004, p. 121), em parte porque essa fora uma fantasia criada pela própria sociedade branca ocidental; E como vimos no item anterior, imagem construída pelos próprios arqueólogos que participavam da empresa colonialista européia desde o final do século XIX (diga-se de passagem, a maior parte da coleção do Museu Petrie vem de escavações durante a presença Britânica no Egito). Dentre todos os correspondentes, apenas um foi contra a política de manutenção do material arqueológico em seu país de origem (McDonald & Shaw 2004, p. 125). 95 Esse exemplo me pareceu interessante por duas razões. Primeiro, para lembrar-nos de que o público atendido pela arqueologia e seus museus é heterogêneo e não está necessariamente de acordo sobre a “cor” do passado. Segundo, pelo papel que a institucionalidade e credibilidade da informação arqueológica possui. Se, por um lado, seu conhecimento pode ser aplicado como pressão normativa sobre a história da sociedade, pode ser usado, por outro lado, para fornecer subsídios de luta para romper paradigmas excludentes. De fato a decisão final sobre o que será exposto nas prateleiras do museu está a cargo da equipe técnica (McDonald & Shaw 2004, p. 110). Mas essa decisão pode ser tomada em prol da diversidade cultural. A coesão desse discurso de utilidade pública da arqueologia se perde no momento em que ela tenta lidar com o outro de maneira arrogante, posicionando-se em nível mais alto: quando a educação e o alcance públicos se tornam sinônimos do “modelo do déficit”, do público ignorante que deve ser esclarecido (Merriman 2004a). A meu ver, as relações nas quais a arqueologia se envolve devem ser vistas, de início, através de uma distinção de tipo (discursos paralelos que se encontram) do que de nível (um único discurso em estágios evolutivos diferentes). Como argumentou Ana Gomes (2006), antes uma distinção resultante de variáveis culturais do que uma de deficiência individual. Minha idéia não é, repito, evitar o conflito que me parece sempre inevitável seja qual for seu grau. Minha proposta é fazer um esforço mínimo para entender o outro antes de forçar-lhe a aceitar uma verdade, pura e simples. Por fim, penso que os breves exemplos explorados nesse trecho deixam claros que a arqueologia esforça-se como pode para mostrar-se útil à sociedade. A arqueologia pública como luta pela preservação do patrimônio arqueológico (Frost 2004, p. 80) implícita nas propostas de alcance público, educação patrimonial e gestão de recursos culturais é demonstração clara disso. A depender da postura do profissional, seu conhecimento científico pode também contribuir para a defesa da diversidade social. 96 Agora, o que fazer quando a arqueologia se torna um entrave na expressão da diversidade? 3.3.3. Antropofagia arqueológica Um dos mecanismos cognitivos que sempre esteve atrelado fortemente às formas de construção do passado é a memória. Segundo Jacques Le Goff, “tal como o passado não é a história, mas seu objeto, também a memória não é a história, mas um de seus objetos e, ao mesmo tempo, um nível elementar de elaboração histórica” (Le Goff 2003, p. 49). A memória não é em si uma construção disciplinar do passado, tampouco sua única fonte. Ela é, antes de tudo, uma capacidade humana de resguardo identitário, de identificação cósmica e de interpretação contextual. A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas (Le Goff 2003, p. 419). E são essas impressões que mais nos importam individualmente como objeto histórico e como dispositivos de identidade sócio-cultural. Não apenas as memórias ditas voluntárias, produções de um regime oficial de verdade (Seixas 2004), mas também (...) a dimensão afetiva e descontínua relegada pela memória voluntária é a dimensão que parte das ciências humanas tem buscado precisamente integrar, com o estudo dos mitos, das sensibilidades, das paixões políticas, da imaginação e do imaginário na história (Seixas 2004, p. 48). De fato, a arqueologia julga-se, acredito que justamente, na posição de produzir subsídios para o desenvolvimento de uma memória mais abrangente do que a memória oficial, dita voluntária nas palavras de Seixas. Como vestígios involuntários, inconscientes do cotidiano, a cultura material torna-se o palpável daquilo ao qual nem sempre estamos atentos. Vestígios que podem falar sobre as vidas deixadas de lado pelas odes, pelas leis, pelos escribas. A memória e a afetividade são ferramentas essenciais para a transformação de um espaço vazio em um lugar de referência individual ou social (Tilley 2006). 97 Em quais momentos, então, a disciplina pode contribuir com essa memória? Em quais momentos ela a sufoca? A proposta desse trecho do capítulo é dupla: 1) Analisar como o público toma posse do discurso, das práticas, dos vestígios e das memórias das quais a arqueologia se julga dona; 2) Ver alguns exemplos em que a autoridade arqueológica torna-se um incômodo à diversidade de interesses. Em suma, observar como o público pode responder à presunção arqueológica. Sarah Colley (2002) argumenta que para vários grupos indígenas a arqueologia é negada e julgada desnecessária: porque deveriam eles escutar o que os brancos têm a dizer sobre os indígenas e sobre seu passado? Isso cabe, antes de qualquer um, aos próprios indígenas. E eles têm os meios e referências para tal. Em outro momento do livro, Colley coloca em questão o caráter gerencial que sempre recai sobre o patrimônio: algo que tem sido pouco discutido “é o conceito de que o patrimônio deva ser gerido, ao invés de cuidado, estudado, estimado, deixado desaparecer ou apodrecer, vendido ou destruído” (Colley 2002). A repatriação de vestígios materiais e humanos, a exemplo, tem sido uma das questões mais polêmicas entre arqueólogos, governos nacionais e diferentes grupos étnicos de nações pós-coloniais, desde a repatriação de vestígios materiais pelas autoridades egípcias à exigência de re-enterramento de esqueletos indígenas na Austrália (Colley 2002, Jameson Jr. 2004, Raab et alii 1980, Byrne 2004). John Jameson Jr. cita o caso do homem de Kennewick, que gerou fortes controvérsias sobre as questões de propriedade intelectual e territorial entre pesquisadores e comunidades indígenas sob os auspícios do NAGPRA. Encontrado em 1996, o homem de Kennewick foi datado em torno de 9000 anos, entrando assim dentro dos critérios do NAGPRA de “Nativo Americano”. No entanto, o mesmo pesquisador que o descobriu creditou o esqueleto com “feição facial longa e estreita”, sugerindo que fosse um europeu. Imediatamente, começaram discussões sobre quem teria a posse da resolução sobre o destino dos restos humanos. Reivindicações foram feitas por tribos indígenas, oficiais locais, e alguns membros da comunidade científica. A Corporação de 98 Engenheiros da Armada Americana, agência responsável pela terra os vestígios foram encontrados, tomou posse (Jameson Jr. 2004, p. 46). Em 1999, outras datações por C14 (carbono 14) foram feitas, e atestaram a mesma antiguidade de 1996. A análise de DNA mitocondrial e por proteína de colágeno até o momento não foram confiáveis devido ao teor de contaminação das amostrar retiradas do esqueleto. Até 2004, o esqueleto estava ainda em posse de uma equipe de cientistas, posterior à um processo judicial contra o enterramento do esqueleto, para continuação dos estudos (Jameson Jr. 2004). Essa posição indígena de resgate dos bens considerados como ancestrais é parte de um movimento não apenas cultural, mas político. Eu sugiro que povos aborígenes possam ver a presença de seus vestígios culturais em museus e outros repositórios não só, em seus próprios termos, impróprio e ofensivo, mas estrategicamente debilitando sua reivindicação moral à terra. Devemos ter em mente que, na história, o conceito de identidade racial ou étnica coalesce no pensamento europeu com a idéia de nação. Nesses termos não há como ter identidade sem terra (Byrne 2004, p. 248). Os povos indígenas não separam o interesse pelo patrimônio cultural e sua história de outros elementos de suas vidas, pois a posse de sua propriedade cultural está intrinsecamente ligada com reivindicações pela posse da terra, luta por justiça social, auto-determinação e soberania (Colley 2002, p. 65). Denis Byrne defende que essa relação de propriedade estabelecida com a materialidade dos vestígios humanos pode ser resultado de uma interação com os invasores brancos que, desde o século XIX, vem promovendo um encadeamento político entre vestígios>ancestralidade>nação>direitos civis. Para perseguir essa linha de pensamento, a visibilidade desses sítios arqueológicos para os brancos tem se tornado uma parte crucial de sua significância para povos aborígenes. Nessa medida os vestígios são fetichizados por povos aborígenes de uma maneira que eles indubitavelmente jamais teriam feito em tempos pré-contatos. A diferença vital é que prévio ao contato povos aborígenes não teriam que lutar com essa doutrina de terra nullius (terra inocupada), ‘a fantasia fundacional das colônias australianas’ (Jacobs 1996:105). (Byrne 2004, p. 251). 99 Um caso com final mais feliz para os interesses comunitários trazido pelo mesmo autor é o famoso Cemitério Africano em Nova Iorque. Descoberto em 1993, durante as investigações de licenciamento, tais como exigidas pelo Ato Nacional de Preservação Histórica, para a construção de um complexo do escritório federal. “Os vestígios de 427 indivíduos foram, ao final, removidos do sítio antes que a construção do projeto de 300 milhões de dólares fosse interrompida frente aos protestos da comunidade local e científica” (Jameson Jr. 2004, p. 49). Os esqueletos, após serem estudados em Washington, foram retornados à Nova Iorque e novamente sepultados no Memorial do Cemitério Africano46, designados com um Marco Histórico Nacional em outubro de 2003 (Jameson Jr. 2004, p. 50). A relação entre a materialidade como expressão da memória e da identidade local, como se os vestígios materiais fossem as verdadeiras “raízes” ao solo natal, faz parte do pensamento ocidental. Tão forte, que nações fruto do colonialismo buscam construir laços com a “ancestralidade” da terra em momentos de secessão com a metrópole. Por volta dos anos 1880 na Austrália os colonos 47 brancos estavam reinventando-se como os “novos nativos” e os traços de ocupações aborígenes anteriores, junto com a flora e fauna indígenas, tornaram-se vetores de contato ou conexão com os ‘espíritos da terra’. Por fim, ao redor dos anos 1960, esses traços seriam apropriados como parte do patrimônio nacional. Como Benedict Anderson (1991) ter argumentado, a própria idéia de estado nação está atrelada ao ato de coleção: o museu, o censo, e o inventário patrimonial, todos contribuem substancialmente para essa elusiva entidade geopolítica (Byrne 2004, p. 248). 46 No original, African Burial Ground Memorial Site. 47 No original, settler, definido pelo Dictionary.com como 1. Designar, fixar ou resolver definivamente e conclusivamente; concordar sobre/2. Colocar em um local desejado ou em ordem/5. Migrar para e organizar (uma área, território, etc.); colonizar/6. Levar a tomar residência (Cf. Dictionary.com 2010 – settle) 100 Veremos no próximo capítulo como essa situação acontece de forma semelhante no Brasil, como um dos exemplos da nação mestiça latinoamericana construindo suas políticas de manejo da nova identidade nacional. A pressão da história colonialista ainda transparece em algumas situações nas quais os arqueólogos, em sua maioria brancos, são vistos com suspeita. O artigo de Bertram Mapunda e Paul Lane mostram tal situação com um caso na Tanzânia. Apesar desse trabalho começar pela demonstração de métodos sobre aproximação com o público, o que me pareceu mais interessante foi sua conclusão, que fornece pistas sobre os antecedentes de Bertram Mapunda. Ele havia deixado sua comunidade para estudar arqueologia e retornou para ali realizar o campo de seu mestrado. Como uma conseqüência direta de sua escolha de campo, uma necessidade de compartilhar a informação coletada com a população local surgiu como um resultado da pressão vinda de ambos os lados – os moradores que sentiram possuir certo direito de perguntar ao ‘seu garoto’ que explicasse o que ele estava fazendo e o que ele descobriu, e a obrigação que ‘o garoto’ sentiu de informar seus companheiros e parentes o que ele estava planejando fazer (Mapunda & Lane 2004, p. 219) Os métodos apresentados para interação com o público são basicamente os mesmos usados por arqueólogos “entre si”, sem muitas alteraçõe: i) recrutar trabalhadores entre os membros das comunidades (selecionados por eles mesmos), ii) exibir planos de trabalho (objetivos, métodos, o que procuram, como o fazem), iii) conversar sobre as perspectivas dos próprios moradores sobre o trabalho, o passado e os materiais e iv) aconselhamento de figuras centrais da comunidade como informantes. A própria posição dos autores se coloca inflexível, como de praxe, à necessidade de preservação e conscientização para o não depredo dos sítios (Mapunda & Lane 2004). No entanto, os antecedentes que o artigo apresenta, tanto a procedência de Mapunda quanto a suspeita constante que as comunidades rurais possuem da arqueologia e sua vinculação com o Governo, deixam a impressão de que a arqueologia se presta muito mais ao esclarecimento do público sobre si mesma do que absorve o público para sua empreitada. Ou seja, 101 ela abre sua prática à vista pública não para tentar seduzi-la ou silenciá-la, mas para prestar contas. Já o caso de Mike P. Pearson e Ramilisonia vai muito mais além. Assumem que seu trabalho na região malgaxe de Androy não seria possível sem a presença do arqueólogo tandroy Retsihisaste. E mesmo assim, o vínculo que o “arqueólogo indígena” possuía com as comunidades locais nem sempre era amplo o suficiente. Trabalhando em territórios de comunidades muito desconfiadas de estrangeiros, onde não existem meios “midiáticos” suficientes para transportar a imagem (deturpada ou não) do arqueólogo e seu trabalho, eles são não mais que estranhos e possíveis “caçadores de cabeça” 48 . “Nossos piores problemas, tais como sermos feitos reféns, aconteceram quando estávamos distantes da aldeia natal de Retsihisatse, em áreas onde ninguém conhecia ou tinha escutado falar dele e de sua família” (Pearson & Ramilisonia 2004, p. 233). Em South Uist, nas Ilhas Híbridas Exteriores 49 as comunidades conheciam e já reconheciam o indivíduo arqueológico, “São os turistas ideais porque são previsíveis, relativamente gastadores e são conhecidos da comunidades” (Pearson & Ramilisonia 2004, p. 228). No entanto, continuam sendo estrangeiros que necessitam estar em contato com a realidade local, que não possui arqueólogos “indígenas”, mas possui uma Sociedade Histórica local que tem acompanhado os trabalhos por décadas. A antropofagia do arqueológico pode chegar ao caso de Bertram Mapunda e Ramilisonia, membros de sociedades exteriores à mainstream dos estudantes de arqueologia que escolheram fazer parte desse mundo. “Membros de sociedades exteriores” é um termo um pouco vazio, mas reflete a certa dificuldade em lidar com essa oposição entre “arqueólogos” e “não48 A suspeita que pesa sobre os estrangeiros teria originado diversos rumores sobre sua vinda, em especial de brancos, para roubar-lhes os fígados, corações e pulmões dos tandroy. Em 1993, os autores descrevem que um rumor sobre “caçadores de cabeças” que as queriam para tirar-lhes o cérebro para pesquisas pela cura da AIDS (Pearson & Ramilisonia 2004). 49 No original, Outer Hybrid. 102 arqueólogos”. Uma vez que o indivíduo passou pelo processo de formação de um profissional da área, a distinção é mais clara (amadorismos a parte). Mas, como definirmos os aspirantes, quando seus antecedentes estão tão distantes? Um arqueólogo indígena terá as mesmas carcterísticas que o arqueólogo urbano? Não questiono as vias do mérito profissional de pesquisadores de diferentes ascendências, mas me pergunto sobre as vias de posturas políticas e interesses. A reflexão sobre o conceito de indígena é colocada para além das entradas propostas pelo dicionário 50. Ao mesmo tempo em que “indígena” se refere ao nativo de alguma terra, quando usado pelo arqueólogo, abrange também o peso colonizador. Ou seja, o indígena é aquele que estava na terra (afinal, a depender do período cronológico que formos adotar, todos são “estrangeiros” à terra) no momento em que alguma força estrangeira toma posse (por paz ou por guerra) do território ocupado por aquele povo. Não se sabe ao certo como aquele povo veio a firmar morada ou quais suas diferenças internas. Ele passa a ser o indígena porque não é “branco” ou “romano” ou “inglês”. Conseqüentemente, os descendentes desses indígenas serão também indígenas, e assim continuarão sendo enquanto forem reconhecidos como descendentes desse povo conquistado e oprimido. De qualquer maneira, não pretendo me estender muito nessa questão. O que vale observar aqui é a diversidade que compõe o público não arqueológico. Ratsihisaste era um tandroy, mas isso não quer dizer que ele ou sua família sejam conhecidos por todo o território. Os moradores de South Uist que deixaram a região, mas retornam com frquencia como turistas, são ou não são locais? As Ilhas Híbridas, por exemplo, são conhecidas por sua alta taxa de emigração ao mesmo tempo em que os emigrados mantém um forte apego e sentimento de pertença ao local (Pearson & Ramilisonia 2004, p. 228). 50 De fato, em busca ao Dictonary.com, o conceito de indígena faz referência somente ao seu vínculo com uma terra natal, um nativo (Cf. Dictionary.com 2010 – indigenous). 103 Não apenas sobre a heterogeneidade do público, os últimos três artigos citados lidam com a problemática territorial mais que discursiva do trabalho arqueológico. A presença de um indivíduo estrangeiro deve ser esclarecida, e as devidas contas prestadas à comunidade local. A prática, método e resultados da pesquisa arqueológica podem ser úteis para os propósitos da população local. Como no caso das Híbridas, a arqueologia que se prestou a estabelecer laços com a população local e seu trabalho foi encarada como uma tecnologia para fomentar a identidade indígena local (Pearson & Ramilisonia 2004, p. 229). No caso de Androy a utilidade da arqueologia fica um pouco mais difusa e incerta. Poderíamos pensar que noções dos Tandroy já existentes sobre o passado, manifestadas em genealogias, tradições orais e a presença de ancestrais, fazem da arqueologia uma forma intrusiva e desnecessária de entender o passado (Pearson & Ramilisonia 2004, p. 229). (...) Nossa missão é primeiramente arqueológica e pode prover somente benefícios pouco tangíveis. Acreditamos que nosso trabalho é apreciado por duas razões. As pessoas gostam de nos contar o que elas sabem sobre sua história em termos dos lugares, tradições, genealogias e histórias sobre o passado. Talvez nosso mais papel significante seja na validação do patrimônio de Tandroy (Pearson & Ramilisonia 2004, p. 233). Lembremos da argumentação de Sarah Colley sobre os momentos em que o conhecimento arqueológico é preterido em favor das próprias referências locais sobre o passado. Vale perguntar o que impediria, dentro dessa nova arqueologia pública, que a indígena Hopi Leigh (Jenkins) Kuwanwisiwama se tornasse uma arqueóloga com o propósito de modificar suas percepções através da pertença aos dois mundos. Os Hopis querem ser tratados como iguais nos projetos de pesquisa arqueológica, para que nossos conhecimentos, valores e crenças sejam vistos com o mesmo respeito que arqueólogos se concedem uns aos outros quando há diferenças em métodos e de interpretações do registro arqueológico. Os Hopis não querem, no entanto, sobrepor conhecimento sagrado de forma indiscriminada sobre o registro arqueológico. Nem queremos restringir conhecimento arqueológico injustamente. Não temos nenhum desejo de 104 censurar as idéias de arqueólogos, nem desejamos impor moldes de pesquisa sobre os arqueólogos (Kuwanwisiwama 2002, p. 46). O que era antes o outro cultural, objeto de estudo, é agora o pesquisador. A metodologia científica do arqueólogo é apropriada e desenvolvida, dentro de seus próprios moldes, pelo outro cultural. Que deixa de ser outro para ser parte do seleto clube que detém o poder jurídico de defender o patrimônio. Mas será que Leigh Kuwanwisiwama deixou de ser Hopi para ser arqueóloga? Seu discurso não aparenta. De qualquer maneira, seria aprofundar desnecessariamente em questões de identidade. Qual a autoridade de um arqueólogo de origem não-indígena para dizer se Leigh Kuwanwisiwama é, não é ou deixou de ser Hopi a partir do momento em que se torna arqueóloga? Ela diz: “conduzimos [ela e sua equipe] nossas próprias revisões arqueológicas e investigações; temos fornecido argumentos. Agora estamos produzindo nossos próprios relatórios em história e etno-história da tribo Hopi no Grand Canyon” (Kuwanwisiwama 2002, p. 47). Parte da negociação entre a arqueologia e os demais públicos pode terminar na deglutição da “cosmologia arqueológica” pelas outras partes envolvidas. Retomando Spector: seria a posição essa de Janet Kuwanwisiwama “arqueologizada” um sinal de submissão ao sistema? Prefiro entender sua postura como uma escolha em aprender a técnica e a cosmologia acadêmica para seus próprios propósitos, e àqueles de sua tribo. Mais uma antropofagia do arqueológico que uma submissão a ele. A proposta da chamada “arqueologia comunitária” parte da própria disciplina e encara o contato com o público de maneira mais atenta aos conflitos inerentes ao processo que à tentativa de arrebanhar adeptos. A arqueologia comunitária abraça a participação ativa do público em projetos de pesquisa, na construção e interpretação dos dados e na entrega de parte da gestão do projeto à comunidade local (Marshall 2002). De acordo com Stephanie Moser et alii (2002), a condução dos trabalhos e a negociação dos diversos interesses envolvidos na interpretação do passado, e de sua relevância no presente, são assaz desafiadoras e muitas vezes frustrantes, 105 fruto do inevitável desentendimento entre algumas das partes da equipe sobre o andamento do projeto. No entanto, a experiência da arqueologia comunitária surge da inevitabilidade do exercício anti-colonial da profissão, uma prática que não mais se limita a explorar os vestígios do passado alheio sem que o próprio “Outro” tenha acesso aos seus benefícios (Moser et alii 2002). Siân Jones (Jones 2010a, 2010b) atenta para o fato de que os significados e relações que os diferentes públicos desenvolvem com o patrimônio arqueológico, no entanto, não são óbvios e, de modo geral, são perdidos por olhares desatentos. Métodos etnográficos como observação participante e entrevistas têm se tornado uma prática recorrente para ajudar a entender os valores locais e memórias não oficiais que são construídas sobre o patrimônio histórico (Jones 2010a, 2010b). A realização de etnografias em projetos de arqueologia não só tem permitido um olhar mais atento ao outro, mas também a prática do(a) arqueólogo(a) e sua relação com os diversos públicos e com a construção de conhecimento sobre o passado (Hamilakis & Anagnotopoulos 2009). Os choques e acertos entre a disciplina arqueológica e grupos indígenas não são as únicas vias de negociação existentes pela propriedade do passado e suas interpretações. A exemplo da arte, que muitas vezes nos apresenta propostas inovadoras de como observar a realidade através de suas representações estéticas. Um dos projetos do artista plástico Mark Dion partia da intenção de coletar restos de diferentes lugares do mundo, processá-los, classificá-los, limpá-los e colocá-los em estantes, tal qual o método arqueológico. Sua quarta “escavação” foi em 1999 em Londres, nas margens do Tâmisa. Os participantes de seu projeto eram moradores das comunidades, a quem foram designados os “trabalhos de campo”, processamento e exposição do material. A coleta foi feita em sua maioria nas margens do Tamisa próximas ao Museu Britânico Tate, e o tratamento e exposição do material, feitos sob um tenda no pátio do Museu. “De fato isso foi um tipo de projeto de arqueologia comunitária, no qual metade dos participantes eram de minorias étnicas (...)” (Merriman 2004, p. 99). 106 A arqueologia costuma rotular todos esses exemplos de “arqueologia amadora”, como vimos, no início desse capítulo, no texto de Brian Fagan. Como o próprio nome diz, trata-se de situações nas quais indivíduos não enquadrados como profissionais da área arqueológica tomam em mãos trabalhos, leituras e vozes compatíveis com o credenciamento profissional. A centralidade da polêmica gerada pelos arqueólogos amadores é o fato de que sua prática começa a transpor limites entre o profissional e o não-profissional. De acordo com Sally McDonald e Catherine Shaw, a distinção não é muito clara porque, como disse, ambos lêem praticamente as mesmas coisas e muitas vezes andam pelos mesmos círculos sociais (McDonald & Shaw 2004). No entanto, colocam uma definição da equipe do Museu Petrie de Egiptologia da UCL, de que os profissionais são aqueles que ganham a vida, ou aspiram à ganhar sua vida, do assunto; A maioria possui relevantes qualificações de educação superior. Os amadores são aqueles para os quais o assunto é um interesse, mais que um trabalho (McDonald & Shaw 2004, p. 110). O reconhecimento desse público pela arqueologia profissional gira em torno do “espiritualismo New Age, aqueles que acreditam em reencarnação ou o poder místico de pirâmides e cristais” (Roth apud McDonald & Shaw 2004, p. 111). Tim Schadla-Hall, por outro lado, prefere fazer referência a esse tipo de arqueologia, de uma maneira mais discreta, como “arqueologias alternativas” já que são alternativas “para o que poderia de modo neutro ser descrito como arqueologia corrente” (Schadla-Hall 2004, p. 255). Os temas considerados de arqueologia alternativas são aqueles que se constroem sobre as práticas e discursos arqueológicos de maneira mais direta, utilizando-se das descobertas e publicações arqueológicas para construir interpretações não aceitas pela Academia. Tim Schadla-Hall apresenta uma série de temas que são comuns a esse tipo de produção, como: i) a origem da civilização em continentes perdidos (Atlântida, Mu) ou nas antigas civilizações orientais e a difusão de seus conhecimentos para as Américas, ii) a tecnologia extremamente avançada que essas populações possuíam e que hoje pode ser revelada através da arqueologia, iii) a origem extraterrestre dessas civilizações, 107 iv) o difusionismo do conhecimento entre elas provado por associações lingüísticas e de elementos artísticos encontrados em diferentes pontos do mapa e v) a verdade sobre as origens religiosas e os movimentos neopaganistas e New Age (Schadla-Hall 2004). Alguns nomes são muito famosos por seus bestsellers, Erich Von Däniken, autor de “Eram os Deuses Astronautas” e Graham Hancock autor de Fingerprints of the Gods (Impressões digitais dos Deuses), são alguns exemplos (Schadla-Hall 2004; Colley 2002). Não à toa, suas obras são consideradas como pseudo-científicas e fraudulentas, pois com frequencia embasam seus argumentos em “citações fora de contexto” e pensam antes no improvável (Schadla-Hall 2004). Meu ponto de vista sobre a questão é contra a proposta de Brian Fagan e Tim Schadla-Hall de que o crescimento das arqueologias alternativas é devido à lacuna deixada pela arqueologia acadêmica (Fagan 1977; Schadla-Hall 2004). Inclusive se constatamos que, nos Estados Unidos e Inglaterra, muitos estudantes universitários acreditam nas proposições de Von Däniken (Fagan 1977; Schadla-Hall 2004). A meu ver, as arqueologias alternativas são escolhas por maneiras distintas de interpretação do passado, não tentativas leigas de preencher um espaço vazio. Essa seria uma maneira de encarar seus leitores de forma passiva. Apesar de não serem bestsellers, a obras arqueológicas acadêmicas estão nas estantes das livrarias e nas bibliotecas. Comprá-las e lê-las é uma questão de escolha. E o fato da arqueologia acadêmica não alcançar as estantes de Best-sellers é o que a afasta da arqueologia amadora: seu preciosismo técnico e abstração teórica não é apreciado pelo mesmo público que prefere a literatura alternativa. Tomar à força os leitores do “excêntrico” significa deixar de ser acadêmico e tornar-se alternativo. A meu ver, as arqueologias alternativas existem como modos de expressão do arqueológico, um modo que toma seus meios e resultados para pensar outras possibilidades para a realidade atual e do passado. Concordo com Schadla-Hall sobre os possíveis perigos das discussões amadoras. Muitas delas são baseadas em concepções muito ocidentais da história e tomam parte de discussões difusionistas e de superioridade entre 108 civilizações que são hoje descartadas pela academia devido ao seu forte apelo racista e evolucionista (Schadla-Hall 2004). Voltamos ao questionamento sobre o papel social do arqueólogo e a liberdade discursiva do público. Nessa situação, torno a repetir, uma das melhores maneiras pelas quais a arqueologia pode contribuir é mostrando a diversidade que seus estudos nos permitem conceber. Em casos como esses não vejo como a arqueologia poderia deixar de acrescentar à discussão, mostrando que as possibilidades difusionistas podem ser plausíveis. Ela poderia orientar para um certo cuidado com os efeitos provindos do difusionismo e para outros modos de pensar esses passados tão plausíveis quanto o difusionista. Essa contribuição, no entanto, só pode acontecer se o arqueólogo estiver disposto a dialogar com essas outras perspectivas, e não subjugá-las como “amadoras” e, portanto, insuficientes. A prática arqueológica, no complexo contexto descrito, pode ser reconhecida como protetora de um conhecimento estratégico para os interesses de grupos locais, ser relevada como detentora de um conhecimento inútil e de uma prática irrelevante, pode, ainda, ser rechaçada como braço de ferro das políticas de governo a pretender furtar-lhes o usufruto do espaço e do passado (que se torna “bem cultural”), ou pode ser aceita como mensageira das necessidades dessas comunidades às distantes políticas públicas. Cada caso será um caso. O que se pressupõe como prática legítima de produção de conhecimento é uma tomada clara de posição, para cada caso específico. São situações que exigem da arqueologia o reconhecimento de sua posição estrangeira e sua tentativa de negociar seu espaço com populações específicas. Parte da negociação pode significar a “deglutição” do arqueológico por outras formas de conceber o mundo. Seria bom saber que a arqueologia ainda tem um sabor que vale a pena. 109 4. Capítulo 2 - Arqueologia pública e colonialismo no Brasil Em 5 de maio de 2010, foi publicada na Revista “Veja”, um artigo intitulado “A farra da antropologia oportunista”. Versava, em suma, sobre os “critérios frouxos” que a antropologia supostamente vinha utilizando em processos de demarcação de terras de povos indígenas e comunidades tradicionais. Acusava o governo brasileiro (um governo associado à esquerda política já por oito anos) de cúmplice do processo, como mostra a figura 1. 110 Figura 1: No original o artigo diz, “Lei da selva - Lula na comemoração da demarcação da Raposa Serra do Sol, que feriu o estado de Roraima” Roraima (Coutinho et alii 2010). Foto: Manoel Marques. Desde meu ponto de vista, o que podemos ver na imagem não parece uma forma de “cumplicidade” (ainda mais se pensarmos no atual interesse do Estado na construção da Usina Belo Monte – Marcello 2010, Brito 2011), 2 mas sim uma questão de conjunção de interesses, uma das diversas modulações das políticas de governo para abrigar, abrigar sob o nacional, as minorias étnicas, artifício que tem se tornado interessante para as políticas de Estado contemporâneas. Ou seja, a questão central nesse caso me parece ser a relação com o outro. Uma interpretação possível, nessa imagem, é uma tentativa do governo em tornar-se o outro e,, ao mesmo tempo, trazer o outro para si. Além da atuação política governamental, o tema da reportagem nos remete à atuação política da disciplina antropológica e o poder que ela tem conquistado em questões de território e cultura tradicional onal no Brasil. O artigo publicado na Veja, a meu ver, é francamente arbitrário, com argumentos embasados em dados distorcidos sobre a quantidade de territórios 111 tradicionais e reservas indígenas. 51 Uma compreensão progressista da economia nacional e um entendimento pobre da identidade indígena. No entanto, o artigo é um produto (ao mesmo tempo em que “produz”) do cenário atual, no qual o conhecimento antropológico (embora não possa inviabilizar por si só a execução de um projeto de engenharia como uma usina hidrelétrica de grande porte) tem aumentado sua relevância nas análises de impactos sócioambientais gerados por esses empreendimentos. Nessa mesma direção (do fortalecimento político do saber antropológico), com a publicação da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº001/86, o conhecimento arqueológico tornou-se referência oficial sobre o patrimônio material, com conseqüente impacto na construção da Memória Nacional, durante processos de licenciamento. Os Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) previstos pelo CONAMA devem contemplar a pesquisa sobre os possíveis danos ao patrimônio cultural nacional. À arqueologia é atribuído o poder técnico de identificação e valorização (ou desvalorização) do patrimônio material encontrado nos terrenos sobre licitação. Nesse capítulo, tentarei ver como as propostas da arqueologia pública têm sido usadas no país para refletir sobre esse novo cenário da arqueologia no Brasil. Até o momento, abordei o cenário internacional e, de maneira breve, a contribuição dos anos 1960 e 1970 à produção de um aparelho jurídico de gestão do patrimônio cultural, conseqüente responsabilidade que relega ao arqueólogo um papel de técnico patrimonial. Dediquei-me a rever algumas propostas apresentadas sob a alcunha “arqueologia pública”, também internacional, e como elas têm sido usadas para lidar com a relação entre arqueólogos e a alteridade fora da disciplina. Relações que envolvem 51 “Áreas de preservação ecológica, reservas indígenas e supostos antigos quilombos abarcam, hoje, 77,6% da extensão do Brasil. Se a conta incluir também os assentamentos de reforma agrária, as cidades, os portos, as estradas e outras obras de infraestrutura, o total alcança 90,6% do território nacional” (Coutinho et alii 2010, p. única). Dados obtidos com a simples soma dos territórios marcados, sem o cuidado de averiguar se as áreas demarcadas representavam diferentes tipos de reserva ao mesmo tempo. 112 profissionais do ramo, políticas de Estado, empreendimentos privados e comunidades impactadas por trabalhos em seus locais de moradia e vivência. Virando o rumo do trabalho ao caso brasileiro, a Resolução CONAMA, ao mesmo tempo em que representa a conquista de uma luta pela preservação do patrimônio material (Fernandes 2008), trouxe novos desafios à prática da disciplina, em especial à relação com públicos desvinculados da Academia e o papel social do profissional. Esse panorama no qual se insere a arqueologia brasileira no final dos anos 1980, continua a me levar pelas questões: como a arqueologia se relaciona com o outro? Qual sua função social? O que é que fazem os arqueólogos? O que podemos fazer com esse poder que temos em mãos? Nesse capítulo, portanto, proporei alguns apontamentos sobre a relação entre o Estado nacional brasileiro e a arqueologia, numa breve perspectiva histórica, e, ainda, quais os debates e desafios que a Resolução CONAMA nº001/86 trouxe à profissão no Brasil. E finalmente, como essa relação prestigiosa e perigosa pode ser democratizada pelas sugestões práticas que têm sido desenvolvidas no estrangeiro sobre a alcunha de “Arqueologia Pública”. Já existem alguns trabalhos dessa natureza no Brasil, e, ao final do capítulo, farei uma pequena revisão crítica de alguns deles. 4.1. O “gingado” brasileiro Segundo Lucio Ferreira (2010), as ciências no Brasil já estavam consolidadas na transição do Império para a República, incluindo-se a arqueologia. Três dos mais importantes centros de pesquisa em ciências naturais no país, e ainda importantes centros de referência em nossos dias, O Museu Paulista (São Paulo), Museu Nacional (Rio de Janeiro) e o Museu Paraense (Belém), surgiram entre o final do XVIII e início do XIX (Barreto 19992000, Souza 1991). A arqueologia, em particular, não só encontrava-se consolidada como participava enfaticamente das estratégias políticas de definição de fronteiras étnicas e geográficas do Império e República. A Arqueologia, como ciência geográfica, equacionava-se a uma geoestratégia. Servia a uma estratégia de anexação de 113 territórios. Em primeiro lugar, porque os artefatos arqueológicos eram passíveis de serem marcadores do espaço, delimitadoras de fronteiras geopolíticas, instrumentos para moldar as raias do território nacional em construção. Em segundo lugar, porque, solidificando estereótipos sobre os indígenas como grupos sociais fossilizados, “degenerados” ou “primitivos”, desencadeou representações coloniais e legitimou projetos de colonização. A Arqueologia, em suma, foi uma ferramenta colonizadora (Ferreira 2010, p. 18). De maneira similar à Europa, o Brasil do século XIX passava por um momento semelhante ao do nacionalismo étnico europeu, com a particularidade do processo de independência de Portugal. Norbert Lechner (Lechner 2000) adentra o tema da construção da memória nacional da América Latina, atentando, em princípio, para duas questões de valor à argumentação que aqui se tece. Assim como na Europa, a construção da ordem independente na América Latina toma forma de Estado-Nação, ou seja, o Estado é também o escolhido [por uma elite revolucionária] para sustentar e manejar a consistência social da Nação (Lechner 2000, p. 68). Em segundo lugar, a modelagem da unidade nacional funda-se numa pequena, mas necessária, incoerência: passado glorioso, mas futuro promissor. Ao mesmo tempo em que as independências realizam-se em nome do futuro, rompendo com a temporalidade herdada (no caso colonial), a cultura e a história são de particular interesse na hora da construção de um “eu mesmo”, da memória nacional (Lechner 2000, p. 69). O passado evocado como mãe/pai fundadores de um grande povo é selecionado em sacralizações de personagens, práticas, tradições e edificações. Dito de outro modo: como índice da formulação da autoimagem de uma nação ou de um grupo étnico, o patrimônio cultural é periodicamente selecionado, re-selecionado, revisado, dispensado e, muitas vezes, intencionalmente destruído. Daí ele ser um poderoso símbolo dos conflitos sociais (Ferreira 2008, p. 84). Era necessário “selecionar” as etnias que poderiam ou não fazer parte da criação do brasileiro. Enquanto colônia, é fácil para a elite crioula identificarse com a Europa e fugir da herança indígena. No entanto, a partir do momento 114 em que se nega o vínculo com a pátria metrópole, nega-se também com a pátria mãe. Como, então, ser crioulo? Ser nativo? Ser misto? Ser europeu perdido nos trópicos? Há que selecionar quem faz e quem não faz parte da história e memória da nova nação crioula. Assim, concordo com a argumentação de Lucio Ferreira de que a construção discursiva sobre as pretensas “raízes” culturais indígenas é em si um posicionamento político. Tal discursividade aciona automaticamente os mecanismos de construção identitária do momento de secessão política com a Europa e mecanismos de exclusão social remanescentes do pensamento colonial. Scientia et potentia – tratava-se, para a Arqueologia imperial, de melhor conhecer o indígena para melhor dominá-lo e civilizá-lo, para aproveitá-lo como mão-de-obra e como colonizador do interior do país, para amansá-lo como sujeito econômico e de direito, para abrigá-lo sob a égide de um contrato social (Ferreira 2005a, p. 144). Os Museus são as propostas de preenchimento da lacuna entre passado e presente, conectar os saltos históricos da canonização de alguns eventos em detrimento de outros, e trazê-los como continuum anunciador do futuro brilhante da nação (Lechner 2000, pp 71-72). Vários foram os argumentos arqueológicos sobre o indígena, como também nos mostra outro trabalho de Lucio Ferreira (2005b): para alguns, possuíam uma ascendência gloriosa, virtuosa e promissora. Gonçalvez de Magalhães, importante intelectual do Império, defendia uma antiga superioridade indígena que se poderia averiguar em sua honra a um único deus (Tupã), o resguardo da virgindade até a puberdade, a proteção a família e as regras de matrimônio. Incluindo os rituais antropofágicos, possuíam uma “dignidade viril” (Ferreira 2005b, p. 142). Para outros, não era mais que uma raça de eternos condenados desde seu princípio. Para Francisco de Varnhagen, o passado civilizado dos indígenas, reconhecido como fora por outros intelectuais, não mais era uma realidade, e a única alternativa possível para integrá-los aos planos nacionais de desenvolvimento era através da força (Ferreira 2005b). Gonçalves Dias, no entanto, também sentia que o passado 115 dos indígenas civilizados se havia perdido para sempre, mas seu histórico de dignidade e pacifismo os garantiria um lugar na nação e a possibilidade de assimilação, não pela guerra, mas pelo trabalho rural e industrial (Ferreira 2005b). Seja partindo de uma ancestralidade indígena gloriosa, virtuosa e promissora ou de uma raça eterna de condenados, as argumentações arqueológicas sobre o passado indígena do território brasileiro confluíam no mesmo presente: tribos degeneradas que necessitavam de manejo e reestruturação. Ou seja, os heróis e inimigos do passado selecionados e superpostos na tentativa de sacralização de um passado nacional, rumo à exclusividade/inclusividade do povo moderno. A domesticação dessas tribos significa a organização da população brasileira (Ferreira 2005b). A mesma finalidade da ciência arqueológica continuará durante os primeiros anos da república e, depois, com o movimento modernista das décadas de 1920-1930. Não mais se tratava de extirpar a raça mais baixa de um país em civilização, mas de absorver a massa indígena no corpo civil republicano. Antes, tempo imperial, indígenas eram medidos pelos aspectos biológicos. No início do XX, “o indígena” torna-se uma categoria humana como qualquer outra, e sua integração à “brasilidade normal” seria apenas uma questão de mudança em seu comportamento cultural. Alterando-se as práticas, teríamos um civilizado como qualquer outro (Sequeira 2005). Nesse processo, a educação cívica substituía a evangelização na efetiva pacificação e introdução do indígena à população civil através da recategorização das diversas etnias que povoavam o território nacional em uma única parcela de potenciais trabalhadores urbanos. A partir de uma perspectiva positivista, a integração de populações indígenas era parte de um avance inevitável à civilização. Assim, o indígena era visto como “não-índio”, i.e., um futuro brasileiro, um trabalhador em potencial, um ser a transformar-se em cidadão cedo ou tarde (Sequeira 2005, p. 356). Ainda segundo Sequeira, não a o Serviço de Proteção do Índio e Locação de Trabalhadores (nome sugestivo) criado em 1910, mas o próprio 116 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)52, criado em 1937, e a proposta legislativa de preservação patrimonial de Mário de Andrade também da década de 1930, são frutos dessa posição sócio-política de integração do indígena à identidade nacional, elementos da “brasilidade” excêntrica e distinguível das nações européias. A idéia de preservação e inclusão da população indígena no presente e futuro da nação brasileira necessariamente evocava outro eixo temporal – o passado – através da incorporação da memória deles [indígenas] à da nação. Portanto, o conceito de herança e a existência de uma legislação para a preservação da herança, existem como aspectos complementários da modalidade discursiva engajada num processo de construção da nação que é imaginada e projetada pelo discurso republicano (Sequeira 2005, p. 357). De acordo com Tania Andrade Lima e Regina Coeli Pinheiro da Silva (Andrade Lima & Pinheiro da Silva 1999 apud Lima 2007), uma análise dos livros didáticos de história do Brasil mostrou que, entre 1898 e 1998, dois foram os momentos em que a pré-história brasileira foi usada com veemência para a construção da identidade nacional: no final do século XIX e ao longo do governo de Getúlio Vargas (Lima 2007, p. 17). O índio passou a ser um elemento fundamental na arquitetura do mito da democracia racial, fundado na caracterização do povo brasileiro como uma “raça de mestiços”, expressão aglutinadora de qualidades positivas, morais e sociais (Lima 2007, p. 19). O argumento de Tânia Andrade Lima nos remete à divisão conceitual de um nacionalismo cívico apresentada por Margarita Díaz-Andreu. Não mais a defesa de uma única raça pura a compor as fronteiras nacionais, mas um nacionalismo embebido na mestiçagem e na aglutinação de toda a diversidade sob as asas do Estado. De fato, Sandra Pelegrini argumenta que a “linhagem modernista” buscara a identificação de uma proposta cultural nacional através do “mapeamento 52 das manifestações culturais consideradas genuinamente Atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 117 brasileiras” (Pelegrini 2006, p. 11). Entre as manifestações tidas como “genuinamente brasileiras”, os processos de tombamento deram grande atenção à arquitetura colonial, em especial àquela representativa de setores da elite nacional, mas também a obras de caráter mais singelo como o “Museu dos Caixeiros Viajantes do Rio Grande do Sul, sambaquis, coleções arqueológicas” (Girão 2001:120 apud Pelegrini 2006, p. 11). No entanto, a autora comenta que essas políticas seguiam, em essencia, os critérios da Carta de Atenas sobre a visibilidade e viabilidade para apreciação de tais monumentos. Política que não estaria isenta, certamente, de interesses sobre a constituição da nova nação moderna sob o Estado Novo. Tal tática de preservação subtrai da paisagem as imagens não concatenadas com o modelo escolhido para reafirmar a brasilidade considerada adequada àquele contexto histórico, qual seja um momento histórico em que se forjavam novas representações da nação e moldava-se um outro perfil para o cidadão brasileiro: limpo, ordeiro e trabalhador. A adoção desse tipo de prática intervencionista mostrava-se conveniente, pois somadas às medidas saneadoras das moradias populares, resultava na demolição de habitações coletivas consideradas desabonadoras da imagem nacional (Pelegrini 2006, p. 12). Apesar de concordar com a argumentação das autoras, é também importante salientar o peso jurídico dessa legislação modernista. Em primeiro lugar, Mário de Andrade e os intelectuais modernistas defendiam a mudança de vetores da história e política nacionais, da herança europeizada ao antiheroísmo de Macunaíma; inverte as linhas de troca, colocando o pólo humano no estandarte tropical, fazendo da antropofagia, da deglutição de Fernão Sardinha, o novo marco da Era, invertendo a fagocitose cultural (Andrade 1928). Em segundo lugar, alguns especialistas consideram a criação do SPHAN e o Decreto-Lei 25/37 como os primeiros mecanismos oficiais de proteção patrimonial no país (Cf. Pelegrini 2006, p. 10). Apesar de o Golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1937, o projeto de lei 511/36 que havia sido proposto por Mário de Andrade foi outorgado pelo presidente como o DecretoLei nº 25/37, “que ainda está em vigor” (Funari & Robrahn-González 2008, p. 17). E foi conseqüente dessa lei que “um novo código penal também foi emitido 118 em 1940, pela primeira vez punindo a destruição de bens culturais, incluindo os arqueológicos” (Funari & Robrahn-González 2008, p. 17). Se observarmos a definição de “patrimônio histórico” explícita no corpo textual do Decreto-Lei, Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Brasil 1937). Apesar da “vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil”, a consagração do patrimônio histórico fica também a cargo de seu “excepcional valor arqueológico ou etnográfico” (Brasil 1937). Da mesma maneira que os intelectuais modernistas tiveram forte poder de veto e decisão sobre o que seria considerado como de grande valor na identificação da brasilidade, a arqueologia e demais ciências humanas possuem igual peso na definição do que é “excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. Mais uma vez, voltamos ao ponto instável entre as conveniências e inconveniências da normatização da identidade. Por um lado, a proposta dos modernistas arrasta a tarefa crioula de construção de uma imagem peculiar do Brasil, materializando a história pretensiosa e centralizadora do Estado Novo através dos bens tombados (Rodrigues 1996, p. 196). Por outro, esse aparelho jurídico que se cria para a proteção do patrimônio arqueológico e cultural nacional permite que a disciplina tenha espaço para dar sua opinião e colocar em prática sua distinta capacidade técnica e interpretativa. É uma questão de escolha: defender Peri ou Macunaíma? Mais uma vez para tomar as palavras de Tânia Andrade Lima, Em se tratando do Brasil, uma arqueologia a serviço da construção da identidade nacional precisa marchar no sentido contrário ao da perspectiva homogeneizante, unificadora, bem como refugar a erosão das diferenças. Antes, tem que trabalhar para resgatar e revelar, na profundidade temporal em que opera, a diversidade étnica e cultural que se instalou desde os primórdios da presença humana em nosso território, e que 119 se intensificou ao longo de milênios, até a conquista (Lima 2007, p. 21). O conhecimento arqueológico no Brasil, como no exterior, sempre foi usado para legitimar políticas Estatais de identidade nacional. Assim, concordo com Ana Piñon Sequeira quando afirma que podemos falar “de valores sociais e ideológicos, mais que princípios científicos e teóricos, como pilares da arqueologia e, por extensão, da identidade indígena” (Sequeira 2005, p. 359). Com o retorno do regime democrático, a arqueologia brasileira vê a atuação de um de seus mais importantes intelectuais, Paulo Duarte. Sua militância pela proteção do patrimônio arqueológico nacional foi responsável pela aprovação da primeira lei brasileira sobre patrimônio arqueológico, a lei 3924 de 1961. Como vimos no primeiro capítulo, essa lei é base legislativa da proteção do patrimônio arqueológico nacional. Essa lei não só dá posse à União das jazidas arqueológicas, livres das normas da propriedade privada (Brasil 1961, Art.1) como penaliza qualquer atuação de valoração econômica desse patrimônio (Brasil 1961, Art. 3 a 5). Cabe lembrar que, apesar da denominação de “jazidas arqueológicas” ser hoje já considerada insuficiente (atem-se principalmente aos sítios pré-históricos), seu artigo 7º retifica que As jazidas arqueológicas ou pré-históricas de qualquer natureza, não manifestadas e registradas na forma dos Artigos 4° e 6° desta lei, são consideradas, para todos os efeitos, bens patrimoniais da União (Brasil 1961, Art. 7). Outro parâmetro fundamental estabelecido por essa legislação foi a atribuição ao IPHAN da responsabilidade de gestão sobre esse patrimônio e também de prover as permissões para intervenção arqueológica (Brasil 1961, Art.11). O mesmo personagem criou o Instituto de Pré-história, baseado no Musée de l’Homme de Paris, influenciado também por sua amizade com seu diretor, Paul Rivet (Funari & Robrahn-González 2008, p. 15-16). Por essa mesma aliança franco-brasileira, chega, entre 1954 e 1955, o casal Joseph e Annette Laming-Emperaire, cuja contribuição para o início da pesquisa 120 científica no país é ressaltada até os dias de hoje. Joseph realizou a primeira datação radiocarbônica (C14) no Brasil, e o casal lecionou um curso de métodos e técnicas de campo e laboratório para aplicação em sambaquis, a convite de José Loureiro Fernandes do Centro de Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná (Souza 1991). Assim, entre os anos 1950 e 1970 inicia-se uma nova fase de formação de profissionais da área arqueológica, profissionais brasileiros sob tutoria e trabalhos com pesquisadores estrangeiros (Soares 1991). Em 1964 o exercito brasileiro toma o poder no governo federal através de um Golpe de Estado, instaurando uma ditadura militar que duraria até final dos anos 1980. No mesmo ano do golpe de estado, começa o Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica (PRONAPA) coordenado por dois arqueólogos americanos do Instituto Smithsonian sediado em Washington, Betty Meggers e Clifford Evans (Funari & Robrahn-González 2008), que já haviam trabalhado no Brasil desde os anos 1950 (Soares 1991). O propósito do Programa foi colocar em vigor uma estratégia tipológica para a cerâmica brasileira, capaz de reconhecer processos de ocupação Préhistóricos e a aplicação de datações relativas (Soares 1991). Apesar do sucesso dessa estruturação tipológica (primeira disponível na arqueologia brasileira, e ainda usada em nossos dias), o Programa foi criticado por diversas razões. Dentre elas, sua vinculação ao regime militar brasileiro que inviabilizou trabalhos arqueológicos com vieses mais críticos. Esse fato criou profissionais preocupados somente com questões de método (Funari & Robrahn-González 2008), produzindo aquartelamentos em diversos estados do país. Em função disso, o SPHAN passou a confiar nos pesquisadores do Programa como extensões de sua vontade nos cantos do território de mais difícil acesso (Soares 1991), além de criar um vício que até hoje atormenta a arqueologia brasileira, que é o reconhecimento imediato de grupos indígenas à tipos cerâmicos (Oliveira 2006). 121 Com o fim do regime militar e a volta do regime democrático nos anos 1980, a arqueologia no Brasil volta a buscar outras influências nos trabalhos desenvolvidos na Europa e Estados Unidos (Funari & Robrahn-González 2008). São três pontos, portanto, que a descrição acima suscita: i) a filiação estatal da arqueologia e o caso brasileiro, que não se afasta do contexto internacional da história da disciplina; ii) o fato de que essa filiação estatal tem demandado da arqueologia sua participação na construção da etnicidade que definiria o panorama nacional e, por fim, iii) o processo pelo qual o Brasil passou na construção de seu próprio aparato jurídico para a proteção do patrimônio arqueológico nacional. 4.2. Elegendo identidades Com o retorno do regime democrático, o Brasil ingressa, em teoria, na era das liberdades individuais e diversidade cultural, seguindo uma necessidade profunda de reafirmar os direitos civis que haviam sido suprimidos pela ditadura militar. Nesse momento, as políticas de gestão da diversidade, e conseqüentemente do patrimônio, parecem ser guiadas por duas pautas principais: o multiculturalismo e o desenvolvimentismo. Através de sua postura política, como a atual ânsia por Belo Monte (Marcello 2010, Brito 2011), o Brasil transparece com freqüência a idéia de um país que se vê sempre atrasado, programando um futuro que o leve à completude. Norbert Lechner mais uma vez é evocado por conta de um conceito que me pareceu precioso sobre esse argumento: sutura. A idéia de que o progresso serviria como sutura contemporânea nos rasgos da formação nacional Latino Americana (Lechner 2000). Discordo, entretanto, quando afirma que o progresso tenha surgido como resposta à perda de fronteiras sócioculturais na pós-modernidade. Pelo menos no Brasil, o positivismo republicano já inaugura o progresso como nova diretriz das políticas nacionais, substituindo apenas em título o antigo mote “civilizador”. Apesar de ser clara a erosão das fronteiras nacionais (Achugar 2001), dos gêneros, do estranho e do conhecido, como temos visto na tal “pós-modernidade”, parece-me, pelo contrário, que o 122 progresso seja uma amostra contínua de uma distância sempre existente entre as Américas coloniais e a Europa colonizadora, entre o Terceiro e o Primeiro mundo. O progresso, transformado hoje em desenvolvimento, acompanha nossa história como marco essencial de políticas governamentais sobre a sociedade, economia e cultura e podemos vê-lo como um constante palimpsesto (Achugar 2001, p. 90) que se reescreve a cada rasura auto-conferida (falhas nas propostas nacionalistas) ou a cada pichação dos movimentos sociais (modernista, feminista, diversidade sexual). É dessa sutura, desse palimpsesto do programa “civilizador” nunca terminado, que surge a nova modalidade do desenvolvimento sustentável, que marca a época de negociação entre a imensidão Amazônica ameaçada e o contexto mitigatório do Protocolo de Kyoto. Assim, entre os novos desafios enfrentados pela arqueologia, há aquele que resulta de sua relação com o Estado e comunidades indígenas e tradicionais (quilombolas, ribeirinhas, caiçaras) que se tem moldado por esse novo parâmetro desenvolvimentista. Nesse mundo novo, o aparato tradicionalista do Estado tem que lidar com reconfigurações de identidades sociais, fruto dos movimentos das décadas de 1960, 1970 e da queda dos regimes militares na América Latina. O que se tem passado, sob essa nova configuração das diversidades sociais intra-nacionais é o que Cristóbal Gnecco chama de “Multiculturalismo” (Gnecco 2009). O Estado, comprometido pela pós-modernidade, tenta encontrar a essência de cada uma das diversidades como vetor de identificação e, conseqüentemente, manejo. O Estado Nacional não mais de etnia homogênea, procura trabalhar a heterogeneidade através de categorias fixas de reconhecimento, tomando para si o poder de definição e de pertença desses grupos ao território nacional. Cristóbal Gnecco acredita que o Estado toma as dores dos grupos recém re-descobertos, e permite-lhes a voz através das duas ferramentas essenciais para sua existência dentro da sociedade nacional: a autonomia e o reconhecimento. Ou seja, o paternalismo nunca morreu. O Estado mantém-se íntegro ao aceitar (afinal, só aceita quem tem o poder de 123 recusar) as novas identidades que surgem em seu seio (e que haviam sido esmagadas em seu nome). O multiculturalismo é visto por Cristóbal Gnecco como uma ferramenta de manejo social e reestabelecimento da ordem através da domesticação dos grupos rebeldes, ao mesmo tempo que segregador (pois são culturas diferentes e, portanto, impossíveis de serem partícipes dos processos gerais da nação) e apaziguador (desestrutura motes de união comum contra o Estado) (Gnecco 2009). É possível identificar em nossos dias políticas de governo que ainda trazem a ideologia de averiguação da identidade indígena, de avaliar seu exotismo e seu pertencimento ao país. Vejamos na Constituição Federal, promulgada em 1988, em um capítulo intitulado Dos indígenas; Art. 231 § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bemestar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (Brasil 1988 – grifo meu). Parece-me que o artigo, parte do suposto respeito pelas sociedades indígenas ao reconhecer a subjetividade de suas “necessidades e reprodução física e cultural, de acordo com seus costumes e tradições”, e os prende no conceito de “ancestralidade” ao anunciar que “são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente” 53 . Se considerarmos todos os séculos de extermínio e deslocamento destes povos, essa determinação não se faz compreensível. Ou seja, os indígenas foram considerados irreversivelmente primitivos no séc. XIX, depois feito iguais a todos os brasileiros no início do XX, e agora lhes estão garantindo 53 O Ato da Disposição Constitucional Transitória (ADCT) art. 68 da Constituição Federal reafirma mais detalhadamente a necessidade de comprovação de vínculo ancestral com o território. Ver http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm Artigo 68. 124 reconhecimento e autonomia, uma vez que tenham sobrevivido a anos de sofrimento e segregação durante o processo civilizatório. Gostaria de retomar as palavras de Cristóbal Gnecco sobre as mudanças do projeto de integração nacional. Na AL [América Latina] esse projeto foi variado e adquiriu cores particulares de acordo com os antecedentes coloniais, a marca do catolicismo e as relações raciais em cada país; no entanto, uma característica comum básica (a marca de fábrica da lógica moderna) foi a criação de uma comunidade nacional definida por critérios morais de igualdade e identidade. Este projeto foi irremediavelmente destruído faz umas duas décadas pelo multiculturalismo, uma retórica mundial que busca organizar as sociedades em marcos de diferença mais rígidos e circunscritos durante a modernidade, esta vez definindo a igualdade pela distancia (Gnecco 2009, no prelo, p. 02). O projeto nacional no qual se baseou a criação de uma identidade étnica e que decidiu muitas vezes a pertença de populações indígenas (ou pior, decidiu por seu extermínio) foi “reciclado” pelo contexto atual de novas demandas sociais. O Estado, numa tentativa de tornar-se menos obsoleto, promove o apoio e sustento à diversidade. Retomando o exemplo que nos interessa: durante os processos de licenciamento ambiental, nos quais estão incluídos o trabalho arqueológico, os conselhos entre empreendedores, comunidades afetadas, figuras políticas e representantes institucionais, constroem-se outros processos que podem ser considerados interessantes para o exercício da “boa governança” e do consenso entre a diversidade de interesse das diversas partes (Zhouri 2008). Além do imbricamento de sociedade civil, mercado e Estado na prática [da democracia], outro aspecto relevante a considerar é que a sociedade civil chamada a participar desta governança é aquela “organizada”, e organizada nos moldes eleitos pelos segmentos dominantes da sociedade (Zhouri 2008, p. 99). E as comunidades, ao defenderem seus direitos e interesses atropelados pelo setor “organizado” da sociedade, acabam por ser consideradas e tratadas como inimigas da democracia (Zhouri 2008). Assim, acabam entrando em confronto “duas nacionalidades”: a daquelas comunidades que resguardam a terra como patrimônio coletivo e familiar, 125 território de compartilhamento de recursos, e a do Estado (e seus empreendimentos públicos) unido aos empreendimentos privados sob a ótica de mercado em que o território é um bem passível de compra e venda (Zhouri & Oliveira 2005, p. 49-50). Esta é a situação que a arqueologia brasileira tem enfrentado em processos de licenciamento ambiental. Em 1986, o esforço da comunidade arqueológica por uma regulamentação da Lei de proteção de sítios arqueológicos, promulgada em 1961, finalmente obteve resultado (Fernandes 2008). A Resolução CONAMA nº 1 publicado no Diário Oficial da União que exige a elaboração dos EIA/RIMA’s já referidos. Na execução destes EIA/RIMA, os impactos sociais sobre comunidades viventes nas proximidades da área sob licitação e o impacto sobre o patrimônio cultural nacional foram também considerados como elementos de investigação durante o processo de licenciamento. Art. 6º O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: (...) c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos (Brasil 1986). Na história da arqueologia brasileira, os anos 1960, 1970 e 1980, de maneira similar ao que se passava em outros países da America Latina e América do Norte (Davis 1972, Wagner 1987, Vidal 2010), foram muito importantes para a solidificação de uma proteção do patrimônio arqueológico, em níveis federais, estaduais e municipais, que os tratava como patrimônio da união e não simplesmente submetidos a regulamentos de propriedade privada 126 (Funari & Robhran-González 2008). Inclusive, para o exercício da prática arqueológica em licenciamento (igual aos projetos acadêmicos), é necessária a Portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A Portaria que regulamenta os procedimentos tidos como adequados para a execução do EIA e para a elaboração do RIMA. Entre os detalhes dos três momentos do trabalho arqueológico, que seguem três momentos de implantação dos projetos, coloco abaixo alguns parágrafos que me parecem centrais como pontos que destacam o poder social atribuído ao técnico arqueológico. Fase de obtenção de licença de instalação (LI) (…) Artº 5. (…) § 2º - O resultado final esperado é um Programa de Resgate Arqueológico fundamentado em critérios precisos de significância científica dos sítios arqueológicos ameaçados que justifique a seleção dos sítios a serem objeto de estudo em detalhe, em detrimento de outros, e a metodologia a ser empregada nos estudos. (…) Fase de obtenção da licença de operação (…) Artº 6. (…) § 1º - É nesta fase que deverão ser realizados os trabalhos de salvamento arqueológico nos sítios selecionados na fase anterior, por meio de escavações exaustivas, registro detalhado de cada sítio e de seu entorno e coleta de exemplares estatisticamente significativos da cultura material contida em cada sítio arqueológico. § 2º - O resultado esperado é um relatório detalhado que especifique as atividades desenvolvidas em campo e em laboratório e apresente os resultados científicos dos esforços despendidos em termos de produção de conhecimento sobre arqueologia da área de estudo. Assim, a perda física dos sítios arqueológicos poderá ser efetivamente compensada pela incorporação dos conhecimentos produzidos à Memória Nacional (Brasil 1986). Fica clara a relação de autoridade que a arqueologia conquista sobre a valoração do patrimônio arqueológico e nos mecanismos que definem a “Memória Nacional”. E espera-se que ela o faça dentro do “bom senso” daquilo 127 que cabe à boa imagem da História Nacional. No processo de reconhecimento do que é digno de participar da identidade da nação, e de ser resgatado, o arqueólogo profissional presta um serviço ao Estado da mesma maneira em que o fazia desde o século XIX. Com a diferença de que, agora, não mais distingue o bárbaro do civilizado, mas busca distinguir o verdadeiro tradicional da cultura corrompida. De acordo com o relato de Jorge Eremites de Oliveira (2006), (...) desde a década de 1990 especialistas em arqueologia têm sido intimados pela justiça federal a elaborarem laudos periciais para averiguarem se determinadas áreas em litígio são ou não de ocupação tradicional indígena, conforme determina a legislação brasileira (Oliveira 2006, p. 35). No licenciamento de grandes obras de engenharia, os trabalhos arqueológicos e antropológicos possuem muita força nos argumentos contrários e a favor da presença indígena na área em discussão. Ou seja, a necessidade de provar o vínculo ancestral dos indígenas com suas terras põe a arqueologia em situação de jurado, com o poder de determinar quem é e quem não é indígena. A questão tem criado intensos debates entre profissionais do setor. Jorge Eremites de Oliveira apresenta um texto pontual sobre essa questão, em que questiona a aplicação de metodologia arqueológica em casos de comprovação de ocupação ancestral indígena à terra. Suas críticas recaem sobre um “laudo pericial sobre a Terra Indígena Sucuri’y, cujo relatório foi apresentado por um arqueólogo à 1ª Vara da 1ª Seção Judiciária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, conforme consta nos autos do Processo n° 97.0864-9” (Oliveira 2006, p. 35). Segundo Jorge Oliveira, o uso de métodos interpretativos da pré-história para a investigação de processos territoriais é incoerente e descabida, pois dá preferência a processos ocupacionais imemoriais. Isso ignora os processos históricos de deslocamentos forçados de indígenas durante o processo colonial, além de ignorar por completo a dinâmica cultural inerente a qualquer sociedade humana. 128 O autor defende sua posição através de argumentos sobre a impropriedade do método arqueológico para a questão. O cerne do problema está no vício da imemorialidade. O perito criticado por Jorge Oliveira apega-se em demasia às leituras sobre os processos pré-históricos de ocupação da área, a busca por datações absolutas de material arqueológico e a aparente irrelevância do real significado que esse material possa ter para a comunidade local. O vínculo ancestral com a terra poderia ter sido observado em outras evidências materiais mais recentes, “como ‘latas velhas’, ‘sola de sapato’, ‘entulho de lixo’, locais de importância simbólica para atividades de caça (como o registrado como ogatawa), “alto topográfico” onde teria existido uma oga pysy etc.” (Oliveira 2006, p. 41). A memória social transmitida pela oralidade (fonte rica para diversas das ciências humanas) e a historiografia local conservam inclusive as experiências de um processo de esbulho pelo qual passaram os Kaiowá nos anos 1980, em sua maioria ignorada pelo autor preocupado com a ancestralidade imemorial (Oliveira 2006). O próprio Jorge Oliveira possui um trabalho sobre o mesmo processo de territorialização/desterritorialização na região de Sindrolândia, no sul do Mato Grosso. Trata-se dos grupos Terena, envolvidos na Guerra do Paraguai durante o século XIX (Oliveira & Pereira 2007). Uma história um tanto irônica, por sinal. Mesmo com o abandono de algumas famílias devido a iminência da invasão paraguaia, muitos terena ficaram na terra e inclusive prestaram auxílio às tropas brasileiras locadas na região, quando não contribuíram com resistência armada à entrada das tropas paraguaias. No entanto, na entrada do século XX, terras indígenas não registradas foram passadas para terceiros ainda no XIX e as famílias remanescentes foram reterritorializadas a uma área de 2000 ha no começo do XX (muito menor que sua área de ocupação original) (Oliveira & Pereira 2007). Essa história está presente nas fontes orais que não são levadas tão a sério quanto deveriam, além de as entrevistas terem sido conduzidas na presença de outros técnicos envolvidos no litígio. Conseqüente desse uso 129 descuidado das fontes, o trabalho arqueológico foi levado a cabo de forma desrespeitosa com os indígenas por intervir com escavações em sepultamentos. E com que propósito? Seria realmente necessário tudo isso [datar os esqueletos e comparar DNA antigo com contemporâneo] para dar crédito à memória social coletiva de uma comunidade indígena, às evidências materiais encontradas in loco e às fontes textuais conhecidas? (Oliveira 2006, p. 43) Ao fim, Jorge Oliveira acusa o trabalho arqueológico de excessivamente “passadista”, incoerente com a dinâmica histórica das populações indígenas e da ocupação colonial do território brasileiro. Por este motivo principal é que se faz necessário superar um antigo paradigma histórico-cultural, qual seja, a de que a etnicidade ou a identidade étnica deve ser tratada como um fenômeno estático, fossilizado no tempo e no espaço e que surge de fora para dentro dos grupos étnicos. Pelo contrário, é um fenômeno dinâmico que emerge do interior dos grupos étnicos para a exterioridade, em situações de contatos interculturais (Oliveira 2006, p. 47). Em uma passagem de seu artigo, transcreve uma interessante menção da antropóloga assistente técnica do Ministério Público, em que afirma o papel da lei (Art. 231 da Constituição de 1988) em “amparar direitos étnicos de povos abstratos, situados em algum lugar do passado. [A lei] Busca, sim, amparar direitos de povos vivos e contemporâneos” (Carreira 2000 apud Oliveira 2006, p. 38). De fato, é interessante observar que, apesar de exigir a “ocupação ancestral da terra”, ela não define com precisão qual o grau de ancestralidade e como essa ancestralidade pode ser definida. Jorge Oliveira acusa os métodos aplicados à arqueologia pré-histórica de serem impróprios para essa situação por nortearem os resultados de acordo com um passado inalcançável por qualquer processo de ocupação dos últimos 500 anos. Ele apresenta sim momentos em que o estudo da cultura material mais recente torna-se proposta válida de reconhecimento social da ocupação do espaço: entre os pertences, enterrados com seus mortos pelos Kaiwoá, podem constar colares de contas ou bicicletas (Oliveira 2006). Durante seu texto, o autor parece defender que a 130 antropologia, etnologia, etno-história e história local podem prover, não só uma variedade maior de fontes, como uma variedade maior de métodos. E, por que não, de cosmovisões ao arqueólogo? Mais uma vez, retornamos aos méritos da ética arqueológica. Não se trata de criminalizar a arqueologia como serva do Estado, mas de repreender a arqueologia por ignorar a situação política na qual se encontra e de abusar de maneira indiscriminada de seus recursos técnicos para emitir pesados julgamentos. No entanto, cabe situar outro caso marcante nas discussões de ética profissional do arqueólogo em que essa liberdade parece ser tolhida e necessita de respaldo jurídico e institucional. Entre 2004 e 2007, uma séria discussão ao redor dos resultados de avaliações antropológicas e arqueológicas sobre a localização exata de um local sagrado às etnias do Parque Indígena do Alto Xingú. Em 2004, os povos do Xingu foram surpreendidos pela construção de uma barragem no rio Culuene. Os índios invadiram o canteiro de obras e solicitaram sua paralisação, alegando, de um lado, que o local é sagrado, pois seria o sítio em que o primeiro Quarup foi realizado; e, de outro, que o impacto ambiental causaria prejuízos às populações do Parque Indígena do Xingu, que vivem basicamente do consumo do pescado (Fausto 2006, p. 2). O forte embate entre laudos e contra-laudos foi marcante da polêmica e do conflito com os quais a arqueologia tem se deparado em processos de licenciamento (Ver: Fausto 2006 e Robrahn-González 2006a). Longe de me propor como juiz dos méritos dos pesquisadores, me parece apenas interessante citar a observação de Carlos Fausto sobre a relação entre o arqueólogo (como autônomo ou como representante de uma empresa arqueológica) e a companhia contratante: De todo modo, acho que é hora de começarmos a discutir a legislação e as condições em que são realizados estes estudos de maneira geral: a quem cabe a indicação da empresa de consultoria ou do profissional que vai realizar estudos arqueológicos e antropológicos para esses empreendimentos? Quem protege os arqueólogos e antropólogos que, porventura, cheguem a conclusões que contrariam os interesses do empreendedor? Quais os mecanismos públicos que visam 131 impedir a produção de um círculo vicioso entre empreendedores e empresas de consultoria? Qual deve ser o papel dos órgãos públicos e das associações científicas nesse processo? São estas as questões que devemos juntos, antropólogos e arqueólogos, enfrentar de modo a aperfeiçoar a legislação, garantir o livre exercício da profissão, proteger o patrimônio cultural nacional e defender a sociedade civil, em particular as populações minoritárias que são as mais afetadas por nossa atuação (Fausto 2006, p. 8 – grifos no original). Estou seguro de que o propósito dos trabalhos de licenciamento não é a produção de laudos de liberação de obra, mas sim de trabalhos científicos mesmo que sob a forte pressão do tempo (Robhran-González 2006). Para que isso seja possível, a atuação profissional precisa de um respaldo jurídico sobre A Resolução CONAMA nº 001/86 marca um momento na reavaliação da prática profissional na arqueologia e de sua responsabilidade social. o qual possa sustentar a validade daquele aparato técnico e, inclusive, moral para evitar seu “sucateamento” ao sofrer as pressões do mercado (Fernandes 2008, p. 65). Não só dependente da legislação, a atuação profissional necessita de um respaldo associativo, em que seus pares possam apoiar uma postura ética comum. Voltamos à discussão sobre a filiação estatal da arqueologia e sua base científica. Ambas são partes ontológicas da disciplina arqueológica e são suas fontes de legitimidade. A pergunta foi feita no capítulo anterior: “Será que a arqueologia deveria abandonar sua filiação ao Estado”? A resposta depende de situações específicas. Não acredito que a arqueologia possa abandonar sua filiação com o Estado Nacional. No Brasil, a exemplo, isso significaria o fim da arqueologia como cargo público no IPHAN e no Ministério Público, órgãos que têm lutado pela preservação do patrimônio arqueológico e pela responsabilidade profissional do arqueólogo. Pela mesma lógica, significaria o fim da arqueologia como disciplina acadêmica, uma vez que a maior parte dos grandes centros de pesquisa arqueológicos são instituições públicas. Aliás, podemos observar um franco fortalecimento nos laços que unem a disciplina arqueológica à base estatal, através do surgimento de novos cursos de graduação em arqueologia; Sua maioria em Universidades públicas através do Pro-Uni (programa do governo federal de incentivo à 132 criação de novos cursos de graduação). Cursos que têm surgido para suprir a demanda de pesquisadores, tanto na área de licenciamento, quanto na área acadêmica. No Brasil, a arqueologia continua sendo, em boa parte, prole do Estado Nacional. Sua filiação a legitima através dos regulamentos de proteção e manejo do patrimônio nacional, enquanto sua associação à produção científica garante a autenticidade e autonomia de seu discurso. No entanto, tendo em vista os limites de alcance das políticas de Estado (ou os não-limites), o profissional deve, uma vez com esse suporte, decidir sobre a melhor maneira de direcionar sua atuação. A situação na qual se encontra a arqueologia de contrato no Brasil é particularmente perigosa por ser uma profissão não regulamentada perante os órgãos oficiais, não gozando assim daqueles benefícios jurídicos oferecidos por Conselhos Regionais, bem como de parâmetros obrigatórios para garantir a mínima qualidade e ética dos trabalhos. Sua força associativa também deixa a desejar se observarmos o próprio Código de Ética da Sociedade de Arqueologia Brasileira reafirma seu dever de. Reconhecer como legítimos os direitos dos grupos étnicos investigados à herança cultural de seus antepassados, bem como aos seus restos funerários, e atendê-los em suas reivindicações, uma vez comprovada sua ancestralidade (SAB 2007, p. 3 – grifo meu). A arqueologia brasileira tem se posicionado de modo condizente com a política “multiculturalista” do Estado. Ou melhor, parece estar “tirando o corpo de fora” ao reproduzir as palavras da Constituinte sem maiores detalhes sobre suas obrigações com o mundo social dinâmico que a envolve. Em 1996, dez anos após a publicação da Resolução CONAMA nº 001/86, arqueólogos e arqueólogas se reúnem em Goiânia para a avaliação de métodos e procedimentos de trabalho desenvolvidos e aplicados em processos de licenciamento (Simpósio sobre política nacional (...) 1996). Um “Documentosíntese” apresentado ao final das Atas do Simpósio faz importantes recomendações sobre os procedimentos legais e metodológicos cabíveis aos 133 arqueólogos e ao IPHAN, sobre os direitos autorais dos trabalhos técnicos produzidos, bem como sobre a responsabilidade dos empreendimentos impactantes na transparência de seus métodos de intervenção e de conhecimentos prévios sobre o local (Simpósio sobre política nacional (...) 1996). No entanto, tanto os trabalhos presentes nas Atas do Simpósio quanto o Documento-síntese, não fazem qualquer menção à participação pública e das populações impactadas nos processos de construção do conhecimento histórico dos lugares sob licitação. O conhecimento arqueológico é entendido meramente como os vestígios materiais de populações mortas. Não espanta, assim, o fato de que uma das maiores dificuldades para a preservação do patrimônio nacional seja sua irrelevância para grande parte da população nacional (Funari 2001) viva e não arqueológica. Nesse contexto, as discussões e questionamentos trazidos pela arqueologia pública se tornam essenciais para levar a cabo modificações na ética profissional e nas propostas de pesquisa arqueológica no país. 4.3. Arqueologia pública no Brasil Grande parte dos trabalhos de “arqueologia pública” no Brasil vem desses projetos de trabalhos de licenciamento. Como exigido pela Portaria nº 230/2002 do IPHAN, qualquer trabalho de licenciamento arqueológico deve ser acompanhado de um projeto de educação patrimonial § 7º - O desenvolvimento dos estudos arqueológicos acima descritos, em todas as suas fases, implica trabalhos de laboratório e gabinete (limpeza, triagem, registro, análise, interpretação, acondicionamento adequado do material coletado em campo, bem como programa de Educação Patrimonial), os quais deverão estar previstos nos contratos entre os empreendedores e os arqueólogos responsáveis pelos estudos, tanto em termos de orçamento quanto de cronograma (Brasil 2002, Art.6). As demais portarias do Instituto exigem o desenvolvimento de alguma forma de reaproveitamento e redirecionamento público do que foi produzido pelo arqueólogo. A permissão para realizar trabalhos arqueológicos, de acordo com a Portaria nº 7/88 só será concedida mediante aprovação do projeto de 134 intervenção que deve obrigatoriamente conter uma “proposta preliminar de utilização futura do material produzido para fins científicos, culturais e educacionais” (Brasil 1988b, Art.5.IV.1). Assim, apesar dos acalorados debates sobre ética profissional, muito do que tem sido produzido no país sobre o nome de “arqueologia pública” recorre aos métodos de uma educação ou alcance público, conhecido como educação patrimonial. Como assinalam Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho (2009), embora a legislação de 1961 já tivesse sido aprovada foi apenas com a abertura política dos anos 1980 que estados e municípios puderam colocar em vigor as normas nacionais e promover normas internas de proteção de seu patrimônio local. Nesse contexto foi-se desenvolvendo discussões sobre a importância da divulgação do trabalho arqueológico e da educação patrimonial (Funari & Carvalho 2009). “Através da educação patrimonial o cidadão torna-se capaz de entender sua importância no processo cultural em que ele faz parte, cria uma transformação positiva entre a relação dele e do patrimônio cultural” (Bastos e Funari, 2008: 1131 apud Funari & Carvalho 2009, p. única). Como vimos no capítulo anterior, a importância de buscar meios através dos quais o mecanismo de proteção patrimonial e de pesquisa arqueológica ganhem significado para a sociedade é a semente da arqueologia pública, e até hoje representa parte essencial dos trabalhos desenvolvidos sob essa alcunha. Pedro Paulo Funari coloca em boas palavras “os desafios da destruição e conservação do patrimônio cultural no Brasil”. Devemos lutar para preservar tanto o patrimônio erudito, como popular, a fim de democratizar a informação e a educação, em geral. Acima de tudo, devemos lutar para que o povo assuma seu destino, para que tenha acesso ao conhecimento, para que possamos trabalhar, como acadêmicos e como cidadãos, com o povo e em seu interesse. Como cientistas, em primeiro lugar, deveríamos buscar o conhecimento crítico sobre nosso patrimônio comum. E isto não é uma tarefa fácil (Funari 2001, p. 25) A arqueologia de contrato foi a introdutora das principais problemáticas na discussão de arqueologia pública no Brasil. Como vimos no item anterior, os processos de licenciamento tem sido os primeiros a chamar atenção da 135 disciplina não apenas a necessidade de ferramentas jurídicas para a proteção de um patrimônio que se destruía com o avanço da industrialização rumo ao interior do país. Foi também um ponto de choque entre aqueles que viviam nestes territórios impactados, que viviam perto de sítios arqueológicos, que os usavam de outra maneira, que os viam de outra maneira, não necessariamente de acordo com “os interesses da nação”. A arqueologia de contrato trouxe à tona a relevância que a voz disciplinar ainda possui na declaração de pertença social e de manejo da diversidade cultural através da cultura material. Entre essa diversidade de diálogos própria da arqueologia pública, gostaria de discutir aqui alguns exemplos de trabalhos produzidos no Brasil sob esse conceito. De inicio, vale atentar para o conceito de “educação patrimonial”, tal como definido pelo “Guia Básico de Educação Patrimonial” do IPHAN (Horta et alii 1999). Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo (Horta el alii 1999, p. 6 – grifos no original). O Guia deixa claro sua intenção de manter uma relação interativa entre “agentes responsáveis pela preservação e estudo dos bens culturais” e “comunidades”, tendo em perspectiva a criação de um ambiente em que adultos e crianças sejam envolvidas em um “processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural” (Horta et alii 1999, p. 6). No entanto, deixa também explícito que esse processo ativo visa capacitá-los para um “melhor usufruto destes bens”, e declara abertamente que “a Educação Patrimonial é um instrumento de ‘alfabetização cultural’ que possibilita o indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia” (Horta et alii 1999, p. 6). E, como consequência, que a educação patrimonial reforça a auto-estima dos indivíduos e comunidade. Fica clara a referência ao público “não-agente-responsável-pelapreservação-e-estudo-dos-bens-culturais” como deficitários de cultura 136 (Merriman 2004a), como simples recipientes vazios a serem preenchidos com o conhecimento superior dos educadores (Freire 1987). A meu ver, autores e IPHAN tomam uma postura lamentável quando publicam tal assertiva, uma vez que me parece impossível que qualquer ser humano possa viver despossuído de cultura e incapaz de ler o mundo que o rodeia. O texto só faz sentido uma vez que tomemos “cultura” como sinônimo de uma cosmovisão erudita e acadêmica, onde a ciência é a única capaz de desvendar as leis que regem o universo e seu funcionamento. Como vimos no capítulo anterior, conforme proposição de Ana Maria Gomes (2006), não se trata de déficit cultural ou incapacidade individual, mas de estar “no campo das diferenças coletivas na forma de viver e interpretar a experiência social” (Gomes 2006, p. 318). Diferentes grupos sociais e indivíduos interpretam o mundo de maneiras diferentes, de acordo com suas diferentes vivências e experiências. A “leitura do mundo que o rodeia” é indissociável da relação que o indivíduo, com sua bagagem social e abstrações pessoais, estabelece com o espaço. Já argumentei isso anteriormente: a transformação de um espaço qualquer em lugar, referencial cultural, depende da relação afetiva que esse indivíduo estabelece com o espaço (Tilley 2006). Aproximar-se de uma comunidade buscando preenchê-la com as modalidades cognitivas que se acredita serem as únicas possíveis é caminhar para o que Pedro Paulo Funari argumenta sobre o patrimônio nacional: grande parte da população simplesmente não se identifica com ele (Funari 2001). Quando não o depredo voluntário, pois o patrimônio, além de conceito jurídico, torna-se sinônimo de imposição e desrespeito ao “lugar” local. Para dar continuidade à argumentação deste trabalho, escolhi a leitura mais profunda de teses e dissertações nacionais que abordassem o termo “arqueologia pública”, com o propósito de ver como a Academia tem contribuído com a reflexão sobre esse conceito e com a discussão sobre os desafios contemporâneos da prática da arqueologia no país. Reconheço que existam mais trabalhos interessados no estudo das relações entre pesquisadores e a alteridade fora da academia, e discutir diferentes formas de compreensão do passado, dos que aqui discutidos (e.g. Stuchi 2010, Pouget 137 2010, Carvalho 2009). Devido às dimensões desta dissertação, no entanto, reservei-me a comentar trabalhos que se identificassem sob a alcunha de “arqueologia pública”. Alguns poucos trabalhos acadêmicos têm sido produzidos sob essa guia. O Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP) foi responsável por uma dissertação e uma tese na área. Em 2008, Tatiana Costa Fernandes defendeu sua dissertação sobre uma experiência de arqueologia pública em um sítio arqueológico em Guararema no interior de São Paulo, decorrente de um trabalho com a Scientia Consultoria Científica Ltda (Fernandes 2008). A primeira frase da introdução parece deixar muito clara a proposta da autora. O presente estudo versa sobre as potencialidades e abrangências de uma Arqueologia Pública no Brasil. Mais do que um estudo delineado academicamente trata-se da possibilidade de reflexão sobre os profissionais e pesquisadores ligados à chamada ‘Gestão de Recursos Culturais’, mas também, ao campo de atuação do arqueólogo nas mais diferentes formas de intercepção do trinômio ciênciapatrimônio-sociedade (Fernandes 2008, p. 1). A autora define o que entende por arqueologia pública, tomando sua postura voltada para a Gestão de Recursos Culturais. A partir daí, constrói uma interessante trajetória desde o surgimento do conceito na década de 1970 até os dias de hoje. Apesar de sentir a ausência de alguns pontos relativos ao caráter conflituoso da arqueologia pública (em especial da literatura sobre os conflitos territoriais indígenas), a autora percorre o histórico do tema de maneira sólida para o sustento de sua conceituação. Ainda no primeiro capítulo, ela deixa claro seu interesse pela educação patrimonial como parte essencial da Gestão de Recursos Culturais e, conseqüentemente, da arqueologia pública (Fernandes 2008). Passando para o segundo capítulo, ela aposta em uma definição mais pontual sobre arqueologia pública com a qual me identifico. “Arqueologia pública como campo científico da Arqueologia destinado a discutir, intervir e rever a relação dialética entre a ciência arqueológica e a sociedade” (Fernandes 2008, p.33). Dessa forma, ela passa a defender de maneira 138 condizente uma educação patrimonial que seja capaz de prover o público com mecanismos culturais de libertação, mecanismos que possam ser apropriados pelo público para defesa de seus interesses, seguindo a linha de Paulo Freire na pedagogia da libertação. Tendo definido esse conceito de arqueologia pública, é possível dizer que o cerne de sua proposta é construído na tentativa de aplicação da educação patrimonial como possibilidade de Gestão de Recursos Culturais (Fernandes 2008, p. 70) Dando seqüência a seus argumentos, Tatiana Fernandes avança com seu posicionamento teórico sobre sua proposta de trabalho. Nesse ponto ela identifica a arqueologia em uma situação necessariamente vinculada ao contexto social, que não pode se eximir de sua responsabilidade como Ciência Social. Assim, ela deve encarar a situação atual em que se encontra, definida pela periculosidade com que avança o desenvolvimento do setor urbano e consumo de recursos naturais (sugerindo um maior controle de atividades industriais, extrativistas e de descarte) ao mesmo tempo em que não se concebe o retraso do desenvolvimento dos setores primários e secundários da economia nacional (o que sugere uma condição desenvolvimentista que temos enfrentado desde que nos conhecemos como colônia, ou pelo menos como nação independente). Assim, temos os conceitos de “desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade”, entre outros que tentam congregar essas duas situações em uma. E a arqueologia está situada nesse meandro (Fernandes 2008). Nesse processo “desenvolvimentista com os devidos cuidados”, não só questões ambientais têm sido colocadas em pauta, mas o custo que o avanço do capital tem sobre comunidades que antes quase não usavam o dinheiro. E, desde a resolução CONAMA, como vimos, as análises de impacto social e cultural exigem o trabalho do arqueólogo para avaliar qual será esse impacto sobre os sítios arqueológicos. No mesmo espírito com que começara o trabalho, Fernandes (2008) avalia as possibilidades conceituais da “Educação nãoformal” para contribuir com um processo educativo em que se promova a democracia de oportunidades e conhecimento entre populações que, antes de serem afetadas por um empreendimento, são afetadas pela marginalidade 139 social. Sua aposta na educação não-formal é a de que ela permite explorar processos educativos que ocorrem fora da escola. No entanto, acredito que a aplicação de sua proposta teórica não foi realizada em sua totalidade. Seu trabalho foi orientado, em suma, para três tipos de público: estagiários da Universidade de Santos, estudantes de colégios locais (fundamental e médio) e os auxiliares de campo. Sua atuação com os interesses locais me pareceu desviar um pouco de sua proposta inicial. Podemos ver um exemplo nos critérios de relevância dedicados aos sítios arqueológicos: “Diversidade intrínseca (variabilidade cultural de um sítio); diversidade regional (variabilidade cultural comparativa entre sítios); quantidade e qualidade dos materiais; presença de estruturas arqueológicas, perceptibilidade do registro; localização e acesso e; entorno ambiental” (Fernandes 2008, p. 81). São critérios de caráter unicamente arqueológicos. Por fim, ela considera que a determinação desses atributos e sua pontuação (Alta, média, baixa, etc) deve ser a mais ‘livre’ possível, aberta à opinião pública e à crítica científica, de forma que seja constantemente renovada e contrastada, em interação dinâmica, jamais estática (Fernandes 2008, p. 81). Ou seja, caberia apenas ao público dar sua opinião uma vez que as regras do jogo foram definidas. Nenhum dos critérios apresentados foi proposto pelo público (sua fonte para os critérios foi a dissertação de L. L. Brochier, defendida em 2004). Apesar de, ainda assim, afirmar em diversas etapas do texto que os conceitos de preservação e relevância a serem credenciados ao sítio devem ser dinâmicos e sempre consultados com a opinião pública e cientistas. Mais uma vez, não me parece algo muito relevante que a opinião pública opine em métodos e parâmetros que nem foram feitos em seus termos. Ou seja, a opinião pode ser pública, mas as regras do jogo continuam sendo apenas científicas. Vale adicionar que, nos objetivos da pesquisa arqueológica (p. 85) e nos critérios de relevância do sítio “Topo do Guararema” (p. 84), não há pontos dedicados ao interesse da comunidade nem definidos por eles. 140 A atuação do projeto junto aos estudantes do ensino fundamental e médio tampouco leva em conta sua discussão sobre “empoderamento” social. Os alunos do fundamental são inseridos no trabalho do arqueólogo através de som ambiente e, palestras e da cartilha explicativa. As questões feitas aos alunos no final da visita são para averiguar a retenção do conteúdo: “O que são vestígios?”, “O que são vestígios materiais?”, “Alguém sabe o nome da ciência que estuda o homem através de seus vestígios materiais?”, “A arqueologia estuda ruínas de menos de 100 anos de idade?”. Certamente meu conhecimento sobre paradigmas educacionais são ínfimos e não possuo parâmetros para julgar níveis de aprendizagem dos diversos estágios do desenvolvimento do indivíduo. Mas, repito, porque não tentar ver primeiro as diferenças de tipos de aprendizagem. Não testar só o teor de absorção da criança, mas também a diversidade de observações que elas colocam sobre o ambiente e seu entorno. Talvez, ao invés de perguntar “o que você entendeu?” seria mais válido partir da questão “o que você entende?”, “O que acha que estamos fazendo aqui?”, “Você já veio aqui antes?”, “O que acha daqui?”. Ou mesmo deixar que as crianças façam as perguntas, já que a proposta é atendê-las em seus interesses enquanto parte do público. Isso foi muito bem conduzido quando a autora apresenta sua experiência com estudantes do ensino médio. Aos alunos foi dada maior liberdade de questionamento e intervenção no trabalho arqueológico. Apesar do fato da liberdade de questionamento ser dada aos estudantes após ter sido apresentada a interpretação do arqueólogo (Fernandes 2008). A autora cita inclusive o trabalho de Tim Copeland, citado aqui no capítulo anterior (Copeland 2004) sobre a interação contínua entre a interpretação do arqueólogo e a interpretação do público. Mais uma vez, retomo a crítica feita ao trabalho de Copeland: parece-me errôneo imaginar que a arqueologia é a primeira a revelar o passado e o espaço à comunidade local. A população local deve estar ligada àquele sítio próximo, não por sensibilidade científica, mas por seus parâmetros de concepção do espaço, mesmo que seja o de um espaço que nunca demonstrou importância alguma. Não cabe à arqueologia abrir a interpretação, pois ela nunca esteve fechada (Cabral & 141 Saldanha 2008). Cabe a ela abrir-se a si mesma à tolerância de outras interpretações e à crítica sobre seus métodos e atuação. A tese de Marcia Bezerra de Almeida apresenta também uma experiência de educação arqueológica, desta vez dentro da escola (2002). Sua postura quanto à educação segue linhas semelhantes às expostas na discussão do texto de Tatiana Fernandes, tomando Paulo Freire como principal referência de uma educação que supere o medo ideológico e apresente-se como campo de liberdade das expressões individuais e do conhecimento nãooficial (Bezerra de Almeida 2002). Para definir o conceito de arqueologia pública, toma as palavras de Pedro Paulo Funari, argumentando que arqueologia pública é “mais do que a conotação tradicional de ‘alcance público’. De uma maneira crítica, é entendida como uma investigação: cui bono, ‘quem se beneficia’ da prática e teoria arqueológica, do discurso arqueológico? (...) (Funari 2001a, p. 239 apud Bezerra de Almeida 2002, p. 9). A aproximação de Bezerra de Almeida ao interesse e entendimento público de arqueologia foi feita através de entrevistas semi-estruturadas com os alunos da turma participante. O Projeto “Descobridores Mirins” foi desenvolvido em 2001 com alunos da 5º série do ensino fundamental do Colégio Marista São José, situado na Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. O Projeto foi desenvolvido à convite dos professores de história do colégio. De modo geral, as entrevistas foram conduzidas de maneira a permitir a liberdade dos alunos nos comentários e reflexões sobre o que conheciam de arqueologia e se a relacionavam com algum aspecto de suas vidas atuais. Após as entrevistas, o trabalho foi seguido de aulas sobre arqueologia e uma simulação de escavação em um sítio arqueológico. Findas as escavações, os alunos deveriam produzir relatórios interpretativos sobre o material encontrado, que foram então analisados pela autora a fim de observar o que havia mudado na compreensão de arqueologia dos alunos (Bezerra de Menezes 2002). A completa liberdade interpretativa durante as escavações e as entrevistas que precederam as aulas, a meu ver, são os pontos mais fortes do trabalho de Marica Bezerra. A abordagem inicial através de entrevistas semi142 estruturadas é uma maneira de diálogo direto com cada indivíduo, reconhecer suas perspectivas e reações ao ambiente escolar do qual a própria arqueóloga estava inserida naquele momento. A gravação das entrevistas com câmera de vídeo ao invés de gravador de voz foi escolhida de modo a captar a reação corporal às perguntas e a comunicação gestual que acompanha a comunicação verbal. Apesar de ser um aparelho que causa certo desconforto inicial (ou durante toda a entrevista para alguns indivíduos), a autora afirma que muitas das crianças se “soltavam” em pouco tempo, algumas inclusive se sentiam a vontade com a “teatralização” da situação (Bezerra de Almeida 2002). A linguagem corporal das crianças durante as entrevistas, no entanto, não foram exploradas com profundidade na tese. A liberdade de expressão durante a interpretação dos vestígios permitiu uma verdadeira revisão da construção cognitiva dos alunos resultante das exposições em aula e da experiência de escavação, que envolve esforço físico, trabalho conjunto, muita criatividade e estudo (Bezerra de Almeida 2002). A leitura das expressões físicas, escritas e orais das crianças sobre arqueologia foi feita através da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici (Bezerra de Almeida 2002, p. 94), interpretando essas expressões como construções simbólicas sobre o mundo que as cerca, baseadas em suas sensibilidades sociais. A leitura do contexto social e, em especial, relações de gênero dos alunos apresentada pela autora foram muito bem conduzidas por esse caminho. A proposta da autora visa entender as crianças como seres sociais que possuem sua bagagem cognitiva e que, através dela, reconhecem o funcionamento do mundo. Através desse conhecimento será possível levar a cabo uma educação libertadora, que disponibilize as possibilidades que a arqueologia possui para interpretação da realidade (Bezerra de Almeida 2002). Finalmente, o ultimo estágio do Projeto foi uma segunda etapa de entrevistas sobre a compreensão de arqueologia dos alunos após as aulas e a experiência em “campo”. A proposta de Marcia Bezerra carrega consigo muito de sua intenção denotada no inicio do trabalho: executar uma arqueologia pública que vá além do “alcance público”, respeitando a alteridade fora da Academia e 143 disponibilizando o conhecimento arqueológico como uma ferramenta distinta para a interpretação do passado. No entanto, algumas lacunas e confusões me chamaram a atenção no trabalho. Primeiro quanto às referências ao tema da “memória”, que em diversos momentos do texto, em especial durante o primeiro capítulo que trata da noção de Patrimônio Cultural, parece confuso: ora como domínio da história oficial e deficitária em alguns setores da sociedade que destroem o patrimônio (como no primeiro trecho), ora como ferramenta subjetiva, individual ou coletiva, de interpretação do passado sempre a serviço da criação identitária, opressora ou libertadora (como no segundo exemplo). A este respeito, a relação do povo brasileiro com o seu patrimônio arqueológico é bastante esclarecedora. Como vimos, o patrimônio arqueológico é parte da memória do povo e um dos seus símbolos de identificação. O cidadão, contudo, não reconhece e não se reconhece neste patrimônio (Bezerra de Almeida 2002, p. 18). Não se vive uma história que não é a sua. Esse vazio faz com que a memória individual e a memória social sejam invadidas “(...) por outra ‘história; por uma outra memória que rouba das primeiras o sentido, a transparência e a verdade” (Chauí, 1999, p.19). É preciso lutar contra a espoliação da memória, é preciso lutar contra a invasão cultural (Freire,2002) (Bezerra de Almeida 2002, p. 20 – grifos no original). Junto com essa confusão da memória, ora campo realidade de todos, ora realidade de poucos, está a confusão d’ “o povo” que tem posse dessa memória. Quem seria o “povo brasileiro” que não se identifica com o patrimônio arqueológico? Como pode o mesmo povo ter a identidade definida pelo patrimônio arqueológico e não se reconhecer nele? E, mesmo não reconhecido no patrimônio, ter sua memória invadida? De quem é o patrimônio, afinal, e qual memória é invadida? Apesar dessa confusão, o referencial teórico e a postura adotada pela autora de respeito ao conhecimento prévio dos alunos deixa clara sua concepção da relação de poderes entre as “memórias”. A lacuna que me pareceu maior no trabalho foi a “irreversibilidade” do processo cognitivo: como as perspectivas e atuações das crianças fizeram com que os membros do Projeto e a própria autora refletissem sobre a prática 144 arqueológica? A notada criatividade dos alunos poderia ter sido discutida com mais profundidade: será que a concepção delas está tão “distorcida” quanto se pensava? Aliás, por que entender essa concepção como “distorcida”? As práticas interpretativas que adotamos são tão diferentes de um exercício criativo? Ou, de fato, fica evidente que a formação arqueológica distingue um pesquisador amador de um profissional? Parece-me que o aprendizado do educador a partir da visão de mundo do educando, como propõe Freire, poderia ter sido mais explorada. Retornando ao trabalho de Tatiana Fernandes, penso que temos um exemplo interessante e bem conduzido para refletirmos uma relação particular da arqueologia de contrato no Brasil: o emprego de mão-de-obra contratada, mas sem qualificação arqueológica. De acordo com a descrição da autora, a situação de choque inicial entre pesquisador e trabalhador foi-se transformando em cumplicidade e em real contribuição do conhecimento arqueológico com o interesse dos trabalhadores. De início, a equipe contratada não via qualquer razão para o trabalho que estava sendo desenvolvido ali (C.f. Fernandes 2008, p. 127). No entanto, durante o convívio, alguns dos trabalhadores começaram a se interessar pelo conhecimento arqueológico e um deles inclusive pediu referências de leitura para a equipe. Ao final, a cada trabalhador foi oferecido um certificado de especialização arqueológica com a quantidade de horas de trabalho em campo. De fato, Tatiana Fernandes se pergunta se esse certificado poderá ou não servir para o credenciamento profissional, mas me pareceu uma excelente contribuição ao pedido da equipe: usar o conhecimento científico da disciplina para a qualificação profissional da equipe, atendendo a uma preocupação da própria equipe com as possibilidades do mercado. Ao final, pareceu-me que seu trabalho contribui através de sua deglutição pelo público não-arqueológico (no caso, a equipe de auxiliares contratados) que pela tentativa de alcance e educação patrimonial. A mesma experiência foi conduzida em 2010, após a conclusão dos trabalhos de campo na “Antiga Fábrica de Fogões Wallig” em Porto Alegre/RS (Vidal 2010). Se bem que esse certificado “conferia-lhes a condição: ‘Auxiliares da arqueologia’” (Vidal 2010, p. única – grifo meu). O uso da proposição “da” no 145 lugar de “de” me deixa em dúvida se estamos vendo uma condição de especialização de mão-de-obra ou de uma marginalização no processo cognitivo. Enfim, todo cuidado é pouco. A Educação Patrimonial é parte obrigatória dos trabalhos de consultoria arqueológicos, pelo menos os executados a cargo da Resolução CONAMA nº 001/86. A educação entendida como o aprendizado de algo interessante, mas cuja arte ainda não é dominada pelo indivíduo, não me parece um fim a ser temido por si mesmo. O conhecimento arqueológico é uma forma de interpretação da realidade que pode ser usada para atender os interesses de grupos sociais ou indivíduos que ainda não dominem seus métodos (Zanettini 2009). Os métodos e interpretações usados na arqueologia não são, no entanto, as únicas formas de compreensão da realidade e tampouco são “a” cultura da qual o público carece. Eis o contato que devemos tomar: os meios são importantes tanto quanto os fins. O trabalho de Fernando Alexandre Soltys (2010) é outra das recentes produções sobre o tema da arqueologia pública brasileira. Com a mesma proposta de análise crítica da postura autoritária da produção científica arqueológica, acredito que sua principal contribuição fora a leitura de cartilhas educativas feitas como parte dos projetos de educação patrimonial para distribuição entre o público infanto-juvenil. As cartilhas patrimoniais são muito comuns e nenhum estudo foi feito sobre seu real impacto no público não arqueológico. De acordo com o autor, embora algumas cartilhas adotem conteúdo interativo e mesmo façam um esforço para conectar o conhecimento arqueológico com o referencial mais próximo ao senso comum regional, a maior parte ainda reproduz um discurso escolar antiquado em que as crianças escutam os adultos e arqueólogos (quando aparecem arqueólogas) e, não apresentam nenhuma reflexão crítica sobre os métodos de produção do conhecimento arqueológico, apenas dando continuidade às, muitas vezes preconceituosas, visões sobre o passado indígena pré-colombiano (Soltys 2010). 146 Mais uma vez, penso que o principal ponto de defasagem de alguns trabalhos de educação patrimonial na arqueologia brasileira seja o problema já levantado no capítulo anterior do nivelamento do conhecimento do fenômeno arqueológico e dos espaços específicos aos quais a disciplina se dedica. Retomando minha referência principal, o problema reside quando a arqueologia adota o “modelo do déficit” tentando corrigir imprecisões no conhecimento do público (Merriman 2004, p. 5). Ou seja, quando a educação patrimonial é encarada como uma “alfabetização cultural” (Horta el alii 1996, Vidal 2010, Bastos 2006). Supõe-se que aquele que Apesar de alguns trabalhos no Brasil estarem discutindo arqueologia pública sob diversas perspectivas, a “Educação Patrimonial”, encarada como “alfabetização cultural” ainda fazse presente em diversas publicações e projetos. necessita de alfabetização cultural seja aquele que não conhece a cultura. Se existe algo que a antropologia já deixou claro há muito tempo é que ninguém sabe com precisão o que é cultura, mas todos a possuem. Por fim, vimos que “patrimônio” é um status conferido sobre a paisagem, o espaço ou o vestígio material por entidades especializadas. Nesse ponto, o ensino sobre o patrimônio e sua importância para a constituição da memória nacional conduzidos com o devido reconhecimento da condição artificial desses conceitos, parece-me fazer um pouco mais de sentido. Ou seja, não estamos ensinando o leigo sobre sua própria cultura: algo que me parece tão absurdo quanto um brasileiro gritando em alta voz a pronúncia correta do japonês em uma esquina de Tóquio. Mas sim, seríamos profissionais ensinando sobre o funcionamento da nossa disciplina, dos regimentos da lei e quais os impactos (e benefícios) que essa parafernália burocrática poderia ter para a comunidade. No entanto, acredito que deveríamos confiar mais na presença e estudos de educadores quando se trata de educar, e aproveitar mais nossas bases antropológicas para interagir com o outro a fim de compreendê-lo e fazer-nos igualmente compreensíveis. Um dos espaços acadêmicos que gerou discussões dentro da arqueologia pública brasileira foi o Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade Estadual de Campinas (NEE/Unicamp). Entre suas atividades, as 147 que mais lhe deram presença sobre o tema foram: a gestão do arquivo de Paulo Duarte (sob custódia da Unicamp), e publicação do periódico “Arqueologia Pública”, editorado por Pedro Paulo Funari e Erika M. RobrahnGonzález. A Revista, já em seu terceiro número, traz artigos brasileiros e latinoamericanos sobre a prática do arqueólogo de nossos dias, e as possibilidades de uma mudança frente às novas necessidades sociais. Entre os temas propostos, estão: i) a configuração do espaço em museus e suas impressões sobre o público (Castaña 2006; Tamanini e Peixer 2007; Quesada, Moreno & Gastaldi 2007); ii) o discurso e a criação de interpretações públicas do passado (Reis 2007; Schan 2006; Dominguez 2007; Cabral e Saldanha 2008); iii) projetos multidisciplinares de manejo de recursos econômicos e culturais (Berón & Guastavino 2007; Castro et alii 2007; Robrahn-González 2006b; Sempé, Salceda & Martínez 2007); iv) educação patrimonial e o intercâmbio de conhecimentos (Cury 2006; Lima & Francisco 2006; Moreira et alii 2008); v) a ética e jurisdição em trabalhos de contrato (Robrahn-González & Migliacio 2008, Caffa 2008); vi) arqueologia e mídia (Zapatero & Castaño 2008; Cândido 2008) e vii) a arqueologia comunitária (Ferreira 2008). Vale fazer breves comentários de alguns artigos de maior interesse para este trabalho. Sobre a divulgação da arqueologia e sua re-apropriação pelo público, o trabalho de Denise Schann analisa o interessante caso da cerâmica marajoara, cujo estilo decorativo entre artesãos paraenses foi apropriado parcialmente por discursos produzidos pelos arqueólogos (Schann 2006). Seu caso me parece bem conduzido, pois leva em conta a dinamicidade da memória social e a flexibilidade do conhecimento científico, nunca restrito às barreiras das publicações acadêmicas. Nos últimos anos, a produção, venda e circulação crescente desses produtos [réplicas de cerâmicas arqueológicas], impulsionada por órgãos governamentais, não-governamentais, associações de classe e a mídia tem estado associada com a uma valorização do exótico, do antigo e do regional, o que se poderia chamar de uma busca das “raízes” ou da “origem” da cultura (Schann 2006, p. 20). Sua discussão circula a divulgação do conhecimento arqueológico entre o público não especialista e como este reconfigura os interesses do 148 pesquisador, baseado em seus próprios interesses e necessidades. Seu caso de estudo é a apropriação e modificação de motivos decorativos retirados de cerâmicas arqueológicas. Os modelos cerâmicos da chamada “civilização marajoara” difundiram-se como imponente valor de mercado entre ceramistas locais e turistas. Não apenas como fator de importância no comércio, mas também como fator de marca identitária entre os artesãos do estado e sua produção que excede as fronteiras estaduais, alcançando grande parte do território nacional e estrangeiro. Schann cita o caso do Mestre Raimundo Saraiva Cardoso que, durante uma visita ao Museu Emilio Goeldi impressionou-se com a beleza da cerâmica indígena, e pensou que, se poderiam fazer algo tão bonito apenas com materiais da região, ele poderia também. “Começou aí sua história de mais de 30 anos de pesquisa sobre a cerâmica marajoara e tapajônica, tempo durante o qual leu todos os livros, artigos e matérias de revistas que pudesse obter” (Schann, 2006, p. 23). A partir daí, tornou-se referência na confecção de artefatos em barro com motivos marajoara. Esses motivos, no entanto, foram certamente reconfigurados e não seguem mais os parâmetros definidos pelas publicações arqueológicas. A autora contempla em seu trabalho a perspectiva de que “A representação do “outro” no passado deveria então ser um ponto de reflexão dentro de projetos que colocam frente a frente cientistas sociais e comunidades” (Schann, 2006, p. 27). José Alberione dos Reis (2007) vai pela mesma perspectiva de análise discursiva. Sua discussão levanta questionamentos sobre a autoria da produção dos arqueólogos através da leitura de pronomes utilizados em dissertações e teses de três grandes centros de pós-graduação em arqueologia no Brasil: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Seu propósito era argumentar sobre a “quarta pessoa” científica, aquela que dava respaldo a todas as atitudes do pesquisador e que permitia o uso dos “nós”, “ele”, “se”: ou seja, “eu e a ciência”. 149 A arqueologia do Outro convoca e inclui alteridades, diferenças, identidades – a multivocalidade das pessoas engajadas na construção dos passados, inclusive a dos cientistas da Arqueologia. Aqui a subjetividade explícita é desafiada a sair da toca e correr riscos de se opor (Reis, 2007, p. 36). O artigo de Mariana Cabral e João Saldanha convoca, do mesmo modo, para essa reflexão de múltiplas interpretações. Não podemos falar em “abrir” um sítio à interpretação, simplesmente porque é impossível fechá-lo à interpretação. Todos nós, arqueólogos ou não, estamos interpretando sítios quando os visitamos. O que nós precisamos não é abrir os sítios à interpretação; o que nós precisamos é abrir nossos projetos a outras interpretações (Cabral & Saldanha 2008, p. 12). O sítio AP-CA-18, um sítio de megalitos encontrado no Amapá, no município de Calçoene, foi envolvido por uma diversidade de interesses. O Governo estadual tomou o sítio como bandeira de identidade histórica e de possibilidade de desenvolvimento, pois já contava com o turismo como atividade econômica importante na região. Como estratégia política (afinal era também época de eleição), o governo estadual, em 2006 investiu na propaganda televisiva e impressa do sítio: desde TV Globo à revista Seleções (Cabral & Saldanha 2008, p. 10-11). Essa política bem sucedida, tanto como propaganda eleitora quanto como fomento do orgulho da população local. Surge um orgulho por participar daquele projeto, por ter tamanho monumento em seu território, “orgulho por conhecer de perto, de ser um pouco dono daquilo” (Cabral & Saldanha 2008, p. 11). Interessante observar como a arqueologia tornou-se um depositário de importante referencial comunitário, não necessariamente do passado, mas do presente: o ponto onde Calçoene concatena sua existência com o resto do mundo. Como argumentei no capítulo anterior, a mídia é um espaço de interação, discussão e, mais importante, de reconfiguração discursiva. A mídia é um espaço onde a liberdade de expressão conquistada por jornalistas, cineastas e demais artistas, permite o surgimento de diferentes tipos de reflexões sobre os mais diferentes temas. Nesse caldeirão de possibilidades, algumas das interpretações presentes nos meios de comunicação sobre a arqueologia 150 podem ou não podem alimentar o orgulho do arqueólogo quanto a seu trabalho. Como no caso de Calçoene, não sabemos pelo texto o que esteve presente nas telas e folhas de papel. Provavelmente esteve próximo das palavras do governador, seu maior propagandista, sobre a “importância histórica e reconstituição das raízes” (Cabral & Saldanha 2008, p. 9). No entanto, a repercussão foi a democratização tanto do conhecimento científico que ali estava sendo produzido quanto da posse do que estava sendo produzido: um patrimônio de Calçoene, do Amapá e de todos os seus moradores. Não só arqueologia ao alcance da gente comum (Holtorf 2007a, Faulkner 2004), mas também de reconhecida posse comum: um bem público. Além de exemplos relativos à arqueologia e mídia, e discursividade, profissionais brasileiros têm argumentado sobre a musealização arqueológica e suas possibilidades de produção integrada de conhecimento. O artigo de Marília Cury é um exemplo dessa preocupação. “Não é possível, para um museu, prescindir de um acervo, mas o acervo não o torna museu, o que só é possível com a comunicação e, especialmente, com a exposição” (Cury, 2006, p. 33). Seu texto divulga as atividades do Museu Água Vermelha, em Ouroeste interior de São Paulo. Seu foco central parece ser o do público como gourmets culturais. Com esse arsenal conceitual o educador pode trabalhar-se e trabalhar com o público na perspectiva de tornarem-se “gourmets” culturais (Garcia Canclini 1999: 2), pessoas habilitadas a transitar entre culturas distintas, viajando pelos repertórios simbólicos alheios, saboreando as diferenças e criando pontos de compreensão entre culturas. E por quê não? (Cury 2006, p. 45). A idéia de compartilhar a alteridade através de ambientes cativantes parece atender muito bem aos princípios de uma disciplina cujo propósito é defender a diversidade. No entanto, poderia argumentar sobre a razão pela qual a interpretação do público, tão cara ao processo museológico (Cury 2006, p. 33) faz parte só do último estágio do processo de musealização do material. O público está ausente da elaboração orçamentária, discussão do programa arquitetônico, planejamento e instalação da reserva técnica. Somente a partir do treinamento para as tarefas de conservação e educação é que funcionários 151 da prefeitura local foram chamados. Alunos e demais tiveram contato apenas com o acervo e com o museu depois de aberta a exposição. Como vimos nos argumentos de Nick Merriman, raras são as situações em que as práticas “por trás dos bastidores” são postas às vistas do público de maneira que permita sua intromissão e participação do que está sendo produzido. Por que não apreciar, além da diversidade, a maneira como ela é construída? Poder inferir nessa construção de modo a deixar a exposição ainda mais diversa? Sobre essa participação do público no desenvolvimento de projetos e seu acompanhamento, a proposta de Erika Robrahn-González e Maria Clara Migliacio é ousada. Seu artigo transcreve uma Moção escrita como resultado do “I Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Arqueológico PanAmazônico” promovido em Manaus, novembro de 2007 pelo IPHAN (RobrahnGonzález & Migliacio 2008). O documento foi discutido, formulado e relatado durante na Sessão Temática “Preservação do Patrimônio Arqueológico em Terras Indígenas”, que contou com a participação de Maria Clara Migliacio (coordenadora), Erika M. Robrahn-González (relatora), Fabíola Andrea Silva, Bonifácio José Baniwa, Afukaká Kuikuro, Mutuá Mehinaku (lideranças do Parque Indígenas do Xingú) e Michael J. Heckemberger. As recomendações da Moção dão um grande passo nos referenciais de gestão do patrimônio arqueológico. Sua primeira preocupação foi conceituar terra indígena ao ponto de reconhecer mesmo “as áreas consideradas tradicionais pelas populações indígenas, demarcadas ou não, em especial seus locais de significância simbólica/ sagrada/ cultural” (Robrahn-González & Migliacio 2008, p. 16). A definição é fundamental no que reafirma a validade da auto-definição indígena de seu território e de seu “espaço vital”. No entanto, não vai além do que já está previsto pela constituição54, pelo código de ética da 54 Art. 231, §1, São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (Brasil 1988 – grifo meu). 152 Sociedade de Arqueologia Brasileira 55 . O que me parece mais significativo dessa Moção são suas recomendações e propostas de ações. As primeiras prezam, de maneira sumária, a inserção das populações indígenas nas decisões de acessibilidade, condução, priorização e manejo dos recursos culturais em questão (recursos cuja definição e seleção deve atentar aos interesses dos próprios indígenas). Podemos dizer que a preocupação central da Moção é “considerar áreas de significância cultural, simbólica e sagrada das comunidades, não necessariamente abrangendo vestígios materiais de sua ocupação” (Robrahn-González & Migliacio 2008, p. 16). As ações propostas contemplam a criação de Grupos de Trabalho para a realização interdisciplinar das recomendações feitas no mesmo documento, bem como atuação para a implementação de novas portarias do IPHAN no Brasil, e de outros instrumentos normativos em cada país amazônico, objetivando normatizar a realização de pesquisas patrimoniais em terras indígenas tradicionais, a partir das especificidades técnicas, éticas e operacionais que lhe são intrínsecas (Robrahn-González & Migliacio 2008, p. 18). Vale observar a atenção prestada pela Moção às normas e operações realizadas em países vizinhos do Brasil, com igual paisagem amazônica. Essa postura permite o reconhecimento de territórios indígenas que transpassem limites dos Estados Nacionais. Por certo, as recomendações e ações propostas por essa Moção representam uma proposta de Arqueologia comunitária tal como proposto por Marshal em texto visto no capítulo anterior. Reconhecer que não há como esquivar-se do conflito e que nos cabe confrontar o passado de modo crítico junto com as comunidades (Ferreira 2008). Ao contrário, na arqueologia comunitária, nem mesmo a metáfora do teatro é pertinente. Não há protagonistas e coadjuvantes, diretores e platéia. Existem arenas, sítios de disputa e negociação de identidades. As representações e 55 Reconhecer como legítimos os direitos dos grupos étnicos investigados à herança cultural de seus antepassados, bem como aos seus restos funerários, e atendê-los em suas reivindicações, uma vez comprovada sua ancestralidade (SAB 2007, p. 3 – grifo meu). 153 desejos das comunidades sobre seu próprio patrimônio são consideradas no fulcro das interpretações arqueológicas (Ferreira 2010, p. 7). Para mencionar um caso prático e emblemático na arqueologia brasileira, cito um ícone da histórica nacional, o Quilombo de palmares, nomeado “Angola Janga” (Pequena Angola) por seus antigos habitantes. Hoje é um marco da resistência à escravidão no Brasil. O estudo de quilombos e arqueologia da escravidão no Brasil começou nos anos 1980, no estado de Minas Gerais com os trabalhos de Carlos Magno Guimarães e Anna Lucia Lanna (Ferreira 2009). A temática tem ganhado visibilidade internacional com os trabalhos de Charles Orser Jr, Pedro Paulo Funari e Scott Joseph Allen nos anos 1990 com Palmares (Ferreira 2009). O sítio havia sido transformado em espaço de celebração do Dia da Consciência Negra. Os trabalhos arqueológicos que começaram nos anos 1990 foram levados a cabo não apenas com a participação da comunidade e do Movimento Negro, mas seu início foi devido a um pedido do Movimento Negro, com o propósito de dar maior visibilidade para o Quilombo e a história de brava resistência contra o domínio do branco. Os resultados dos trabalhos, no entanto, não foram aceitos com o mesmo ânimo por todos os setores do público. O sítio apresentava muitos materiais de europeus e indígenas, bem como africanos. Para um grupo de pesquisadores, “essa diversidade de tipos cerâmicos atestaria tanto a originalidade da cultura material utilizada no quilombo como suas múltiplas origens – africana, indígenas, ibéricas, coloniais (Funari & Carvalho, 2005, p. 49). Nesse contexto, a força do quilombo estaria tanto na resistência escrava, quanto na resistência de distintos grupos em sua luta para sobreviver em um sistema que os excluía. Palmares seria o estandarte da resistência contra a opressão colonial (Funari et alii, 2009). No entanto, para outros, inclusive para parte do Movimento Negro, “o quilombo é um símbolo da resistência africana contra a opressão branca, considerando que a presença de potes nativos e europeus poderia colocar a africanidade do estado em questão (Allen, 2001 apud Funari et alii, 2009, p. 133). Em decorrência dessa assimilação do Quilombo como espaço multiétnico, 154 o Movimento Negro decidiu fechá-lo para os arqueólogos, e apenas em tempos recentes Scott Joseph Allen, arqueólogo da Universidade Federal de Pernambuco, pôde regressar a campo e continuar projetos arqueológicos no sítio. Este exemplo não é só importante pela centralidade do sítio na história nacional, mas também pelo peso da opinião pública e movimentos sociais na decisão sobre o destino dos trabalhos arqueológicos. O impacto do discurso arqueológico foi tomado com tão profundo ressentimento que o parque, sob pressão do Movimento negro, foi fechado à presença arqueológica. Poderíamos, entretanto, argumentar por um viés talvez opressor dessa atitude tomada pelo Movimento. Se, por um lado, a arqueologia pública é uma tentativa de atender as necessidades sociais de grupos não-arqueológicos que possuem uma relação mais afetiva que científica com determinados espaços, por outro não creio que o caminho seja silenciar outros grupos sociais em nome dos primeiros. O caso de Palmares também me parece particular por mostrar o cuidado, não só com os “outros” da arqueologia, mas também com a relação que estes “outros” estabelecem entre si. Mais uma vez, voltamos à questão de ética. Acredito que a arqueologia pública seja, antes de uma submissão aos desejos do público ou uma tentativa desesperada pela absorção desse público em seus trabalhos, é uma abordagem auto-crítica e reflexiva sobre a responsabilidade social da arqueologia. Nesse caso particular, os interesses da comunidade eram avessos aos da arqueologia. Mas a arqueologia se encontrava em situação de ser acusada de mostrar o passado através de uma abordagem multivocal. Que fazer nesse caso? Dar vez ao interesse comunitário e suprimir uma imagem heterogênea do passado? Partir do princípio em que a principal contribuição social da arqueologia para uma sociedade democrática seja o levantamento da diversidade que habitou o passado, e que pode igualmente habitar nosso presente, ou tomar as dores de um Movimento social que suprime possíveis alteridades em nome de seu passado oprimido? 155 4.4. Síntese Dois são os principais sujeitos sobre os quais esse capítulo tentou jogar sua principal atenção. O Primeiro, o Estado. Qual, enfim, é o papel do Estado e das Instituições Públicas nesse mundo de fronteiras borradas, de identidades diversas e de sensibilidades perplexas? O primeiro passo seria reconhecer esses movimentos como existentes e profundamente significantes para milhares de indivíduos dentro do espaço administrado pelo Estado. O Estado Nacional moderno tenta suportar o impacto desestruturador da heterogeneidade social, através do controle de uma política multiculturalista (Gnecco 2009). A arqueologia brasileira, semelhante ao surgimento da arqueologia em outros países, é filha de um Estado Nacional imperialista e colonialista. Mesmo com a virada de dois séculos ela ainda é chamada à seu serviço, na definição do que pertence ou não à Memória Nacional. No entanto, como toda prole, ser filha do Estado não significa ser o Estado. A arqueologia como disciplina científica independente pode buscar sua legitimidade social no Estado, sedimentada na lei e na Instituição Pública (IPHAN e Universidades). Legitimidade inclusive necessária para defendê-la frente aos perigos de sua entrada no mercado econômico neo-liberal. Mas sua atuação conta com o status de veracidade científica, conferindo aos relatórios e laudos o real poder no qual o Estado se instrui para o manejo de uma nação em “des-homogeneização”. Nossa disciplina é legitimada ao mesmo tempo em que legitima o Estado. Assim, os trabalhos de consultoria arqueológicas trazem à frente a importância das discussões de arqueologia pública no Brasil por sua explicita razão política e econômica. Ao mesmo tempo em que preocupa boa parte dos profissionais, temerosos dos efeitos que o “capitalismo selvagem” pode ter sobre um trabalho essencialmente de pesquisa científica, foi o “capitalismo selvagem” que mostrou a faceta mais cruel que a pesquisa científica pode portar. 156 Por fim, a arqueologia pública no Brasil aflora nesse meandro de conflito e disputas territoriais. Seu nome começa a ser mencionado no início desse novo século como auspício de uma nova demanda à disciplina, agora reconhecidamente contextual e inevitavelmente bélica. Diversos trabalhos sob a alcunha do “público” têm procurado de diversas maneiras responder à pergunta: “O que fazemos?” 5. Capítulo 3 - The final showdown: arqueologia subaquática, mergulhadores e comunidades A proposta desse capítulo é seguir as orientações da arqueologia pública desenvolvidas nos capítulos anteriores para lidar com a questão proposta no início sobre a proteção do patrimônio cultural subaquático. Meu propósito é argumentar sobre os interesses envolvidos nos vestígios materiais 157 submersos, e como a proposta da arqueologia pública pode contribuir com a postura da arqueologia frete a diversidade de interesses nesses vestígios. Foi apontada a fraqueza legislativa que rege o patrimônio cultural subaquático, e neste capítulo sua incoerência será discutida com um pouco mais de detalhes. Da mesma maneira que venho tratando o Estado Nacional e as políticas públicas sobre o patrimônio, cabe aqui uma crítica sobre a eficiência (no caso ineficiência) e representatividade da legislação de proteção do patrimônio cultural submerso. A proposta da arqueologia pública frente à agressão do patrimônio civil propõe dois movimentos: pressão sobre a alteração da lei, e atuação junto ao público não acadêmico para buscar e fazer valer outras vozes que estejam sendo suprimidas pela atual legislação e que possam contribuir com a preservação do patrimônio. Dando seqüência à discussão jurídica, pretendo retomar alguns argumentos sobre as imagens e expressões dos vestígios humanos em duas revistas especializadas no mergulho recreativo, a revista Mergulho (http://www.mergulho.com.br/) e a revista Scuba, de modo a refazer as leituras através da nova retórica desenvolvida nesse trabalho sobre a relação entre arqueologia e mídia. Minha intenção com essa leitura é tentar perceber qual o interesse que ronda o mergulho recreativo. Uma vez argumentado sobre as impressões do arqueológico pelo público mergulhador, pretendo passar à alternativa que muitos arqueólogos, com respaldo de políticas públicas, têm escolhido para preservar esse patrimônio ao mesmo tempo em que o preserva: o turismo arqueológico. Finalmente, através de algumas leituras distintas, tentarei abordar os problemas que envolvem as comunidades litorâneas e sua relação com os vestígios humanos submerso, tema que ainda foi pouco tocado pela arqueologia subaquática nacional e internacional. 5.1. Lex Rhodia, Lex Brasilis – Patrimônio, legislação e arqueologia subaquática brasileira 158 A discussão sobre patrimônio e as políticas de Estado não poderiam ser conduzidas neste capítulo sem comentários à legislação brasileira que gere o patrimônio subaquático: a Lei 7.542/86 e sua modificação 10.166/00. Seu descaso pela preservação dos vestígios materiais submersos atribui ao material retirado do mar valor de mercado, indo por completo na contramão das políticas internacionais sobre esse tipo de patrimônio, além de mostrar postura contrária à principal lei nacional de proteção ao patrimônio arqueológico em geral. Como já vimos na apresentação, uma das primeiras campanhas da arqueologia subaquática nacional desde o final dos anos 1990 é a preservação do patrimônio cultural submerso – luta que ainda não está terminada. O projeto de Lei 7566/06 (agora como PL 45 do Senado Federal) cuja redação pode reverter o atual quadro de permissividade à caça ao tesouro, é a condição pela qual a legislação entrará em acordo com os parâmetros da UNESCO. E foi considerando esse enclave jurídico sobre o patrimônio arqueológico subaquático, o conflito entre arqueólogos e mergulhadores recreativos condicionado por esse descaso estatal, e o contínuo depredo do patrimônio pelo mergulho recreativo e empresas de salvatagem me levaram a procurar nas propostas da arqueologia pública (disposta a lidar com o conflito) a chave para pensar sobre essas questões. No que concerne à defesa da soberania da costa nacional, nossa legislação é bastante complexa e extensa. Para os propósitos deste trabalho, não me cabe mais que trabalhar com a Legislação dedicada ao patrimônio material submerso. Entre os anos 1000 e 600 a.C., a ilha grega de Rhodes possuía larga frota naval, postos coloniais em diversos pontos da costa mediterrânica e uma Lei cuja data de redação poderia ser entre os anos 900-800 a.C., que versava sobre comportamento de tripulação, passageiros, movimentações navais e portuárias, bem como garantia pagamento de recompensa a mergulhadores que fossem corajosos e habilidosos o suficiente para resgatar cargas perdidas em naufrágios de navios (Duhaim 2010, Camargo 2002, Rambelli 2002). O 159 documento original dessa lei nunca foi encontrado, mas foi referida em obras posteriores como Lex Rhodia (Lei de Rodes). Um dos argumentos centrais que ronda as discussões suscitadas neste trabalho é a legislação vigente sobre a proteção específica ao patrimônio cultural submerso que confunde a arqueologia subaquática com resgate de peças e caça ao tesouro, assemelhando-se à Lex Rhodia de séculos atrás (Camargo 2002, p. 27). Promulgada em 26 de setembro de 1986, a Lei nº 7.542 dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar (Brasil 2000) Em uma primeira leitura desse texto, vemos que a redação preocupouse em relevar a importância cultural do patrimônio submerso. Art 18. A Autoridade Naval, no exame de solicitação de autorização para pesquisa, exploração ou remoção de coisas ou bens referidos no art. 1º desta lei, levará em conta os interesses da preservação do local, das coisas ou dos bens de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, a segurança da navegação e o perigo de danos a terceiros e ao meio ambiente. Parágrafo único. A autorização de pesquisa não dá ao interessado o direito de alterar o local em que foi encontrada a coisa ou bem, suas condições, ou de remover qualquer parte (Brasil 1986). Sua redação havia sido uma conquista, já que a legislação que define um sítio arqueológico (Lei nº 3.924/61) não menciona sítios submersos que ficavam, pela legislação, passíveis de adjudicação em 80% aos exploradores e 20% à União (Rambelli 2002). Apesar do Art. 21 atribuir pagamento de contratos de intervenção nos bens submersos, em dinheiro calculado sobre o valor dos bens resgatados (inciso II, Art. 21) ou com parte dos bens (inciso III, Art. 21), todos os bens submersos são, a princípio, patrimônio da União não sendo passíveis de apropriação prévia por terceiros. Em 27 de dezembro de 160 2000, o Congresso aprova a Lei nº 10.166 que altera a 7.542 e piora a situação, introduzindo parágrafos irresponsáveis e atribuidores de valor de mercado ao patrimônio nacional submerso. Abaixo, o Art. 20 da Lei 7.542: Art 20. As coisas e os bens resgatados, de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, permanecerão no domínio da União, não sendo passíveis de apropriação, adjudicação, doação, alienação direta ou através de licitação pública, e a eles não serão atribuídos valores para fins de fixação de pagamento a concessionário (BRASIL 1986 – grifos meus). Segue, agora, as alterações feitas pela Lei 10.166: "Art. 20. As coisas e os bens resgatados de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico permanecerão no domínio da União, não sendo passíveis de apropriação, doação, alienação direta ou por meio de licitação pública, o que deverá constar do contrato ou do ato de autorização elaborado previamente à remoção." (NR) "§ 1º O contrato ou o ato de autorização previsto no caput deste artigo deverá ser assinado pela Autoridade Naval, pelo concessionário e por um representante do Ministério da Cultura." (AC) "§ 2º O contrato ou o ato de autorização poderá estipular o pagamento de recompensa ao concessionário pela remoção dos bens de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, a qual poderá se constituir na adjudicação de até quarenta por cento do valor total atribuído às coisas e bens como tais classificados." (AC)* "§ 3º As coisas e bens resgatados serão avaliados por uma comissão de peritos, convocada pela Autoridade Naval e ouvido o Ministério da Cultura, que decidirá se eles são de valor artístico, de interesse cultural ou arqueológico e atribuirá os seus valores, devendo levar em consideração os preços praticados no mercado internacional." (AC) "§ 4º Em qualquer hipótese, é assegurada à União a escolha das coisas e bens resgatados de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, que serão adjudicados." (AC) (BRASIL 2000 – grifos meus) A viabilização de comercialização dos bens submersos, de pagamento de recompensa pelo resgate do “patrimônio perdido” é uma tremenda 161 irresponsabilidade social (Rambelli 2006) e na qual se vê envolvido o Ministério da Cultura. Devido a minha inexperiência na área do direito, fui buscar alguma leitura que pudesse me guiar na compreensão da legislação sobre o patrimônio subaquático. Felizmente, foram-me passados alguns textos de Inês Virgínia Prado Soares, Procuradora da República em São Paulo, que possui parte de sua formação em direito dedicada à tutela jurídica do patrimônio arqueológico no Brasil. Nesse trajeto, ela publicou alguns trabalhos sobre a legislação brasileira de proteção ao patrimônio subaquático, que me ajudaram muito na leitura direcionada a coerência interna do complexo corpo legislativo que rege a gestão e pesquisa sobre o patrimônio arqueológico nacional. O primeiro ponto é a cobertura dada ao patrimônio submerso pela legislação referente ao patrimônio arqueológico nacional. De acordo com Inês Soares (2010) o “sistema normativo de proteção do patrimônio arqueológico no Brasil” é constituído por leis e decretos específicos (DecretoLei nº 25/37, Lei nº 3.294/61, Lei nº 7.542/86 e Portarias do IPHAN), além de estar sob o amparo do sistema jurídico ambiental, “especialmente a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente e a Lei de Crimes Ambientais, as Resoluções CONAMA (em especial, as Resoluções 001/86 e 237/97)”. Recebe também cuidados do sistema processual de defesa dos bens difusos e coletivos (Soares 2010, p. 3). Dentro desse grande aparato jurídico, Inês Soares faz uma observação que me parece central nas questões aqui levantadas. O conceito de sítio arqueológico não faz distinção entre sítios submersos e sítios emersos (Soares, 2010). O artigo 2º da lei 3.942/61 estabelece as definições de um sítio arqueológico. a) - as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias ou quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico, a juízo da autoridade competente. 162 b) - Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; c) - Os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeiamento, "estações" e "cerâmicos", nos quais se encontrem vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico; d) - As inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade paleoameríndios (Brasil, 1961). Pela leitura do artigo podemos ver que, em primeiro lugar, não há distinção entre sítios emersos e imersos. Em segundo lugar, Inês Soares aponta bem, “não existe nenhuma predominância de importância entre os mais antigos ou mais recentes” (Soares, 2010, p. 2-3). A definição de um local ou agrupamentos de vestígios como sítio arqueológico é definido por seletividade e segue critérios de relevância e representatividade (Soares, 2010, p. 3). No caso dos sítios arqueológicos submersos, a seletividade e a representatividade devem vir de parâmetro para os órgãos envolvidos na sua tutela. A autorização da exploração para fins que não sejam de pesquisa sobre os bens culturais submersos deve ter como pré-requisito a comprovação da realização de pesquisas no sítio e a existência de um plano de manejo, que contemple, obviamente, a possibilidade de realização de atividades não científicas (Soares 2007, p. 3). Antes que os bens submersos sejam declarados próprios de adjudicação ou realização de quaisquer atividades que não sejam voltadas à pesquisa, é necessário que o sítio no qual esses bens foram encontrados passe por uma “revisão de perícia” de maneira a revelar seu potencial “artístico, histórico ou arqueológico” e possível interesse da União na preservação desse material. É necessário que seja feita uma pesquisa prévia, de caráter investigativo do potencial cultural do sítio, ou mesmo para sua definição como sítio, antes de qualquer atitude de exploração do espaço submerso. Passo ao segundo apontamento: a propriedade sobre os bens materiais submersos. Inês Soares (2007, p. 5) aponta que no inciso X do artigo 20 da Constituição Federal de 1988 consta ser bem da União “as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos” (Brasil, 1988). 163 Igualmente, no artigo 17 da lei 9.324 também define que quaisquer achados fortuitos de bens de natureza arqueológica ou pré-histórica são de posse, a princípio, da União (Soares, 2007, p. 5). Assim, temos por um lado a lei 3.924 que não faz distinção entre sítio emerso e submerso, mais antigo ou mais recente, que caracteriza um sítio arqueológico por sua relevância à memória nacional. Nesse contexto, um sítio arqueológico definido pelo corpo técnico como tal já o suficiente para adentrar as redes normativas de proteção patrimonial (considerado como patrimônio da União). Ainda dentro dessa argumentação, Soares cita o Código Civil em alguns artigos sobre o direito de propriedade. O Art. 1230 diz que “A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais” (Brasil, 2002). Esse artigo vem precedido pelo Art. 1228, cujo §1º explicita que O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas (Brasil, 2002). A autora ainda faz uma consideração interessante sobre a posse e destino dos bens arqueológicos. Seu conferido atributo de importância para a memória e história nacional, bem como para a produção de “dados e informações” sobre os modos de vida antigos, faz do patrimônio arqueológico um bem “afetado” (Sousa, 2010). Trata-se de um “ônus que recai sobre um bem para garantir uma obrigação; ato que dá destino a um bem público” (Houaiss, 2007). Além do caráter de bem afetado, o patrimônio submerso ainda carrega a especificidade de encontrar-se sob terreno de posse da União (águas nacionais). Essa especialidade faz com que a apropriação privada dos bens submersos seja inconstitucional até que passe por um processo de “desafetação”, ou seja, “ato pelo qual se desfaz um vínculo jurídico, inerente à natureza de alguma coisa, à propriedade ou à posse, fazendo desaparecer a affectatio, isto é, o poder ou o direito sobre ela” (Houaiss, 2007). E essa ação 164 só é possível uma vez que tenham sido considerados todos os interesses envolvidos no direito fundamental de posse da União e no direito fundamental ao acesso público do patrimônio cultural (Sousa, 2010). Desse modo, é absolutamente inconcebível juridicamente, que a União trate os bens arqueológicos subaquáticos como recursos econômicos passíveis de apropriação privada, sem um procedimento de desafetação. Mais absurdo ainda é que exista uma lei que, enviesadamente, respalde a atuação da União na gestão dos bens arqueológicos subaquáticos que, vale repetir, são afetados (Soares, 2010). Chegamos ao terceiro ponto que é a responsabilidade de gestão e salvaguarda do patrimônio arqueológico submerso. Uma vez considerados como bens afetados, sua tutela torna-se “supraindividual e intermediada por uma pessoa jurídica de direito público federal (atualmente pelo IPHAN, autarquia federal com atribuições para a gestão desses bens)” (Soares, 2010, p. 6). O IPHAN seria a única autoridade federal com poder sobre a gestão e tutela do patrimônio cultural subaquático nacional, pois é a única autoridade federal competente para lidar com o patrimônio arqueológico brasileiro em seu âmbito geral. Mesmo que a Marinha seja a competência sobre a jurisdição, proteção e defesa do mar cabe só ao IPHAN descartar o interesse arqueológico dos bens. No entanto, a lei 7.542 (e suas alterações pela lei 10.166) parece desconsiderar essa questão tutelar ao suprimir a autoridade do IPHAN no artigo 16, parágrafo 5 como indica Inês Soares. Art. 16 § 5º. Poderá ser concedida autorização para realizar operações e atividades de pesquisa, exploração, remoção ou demolição, no todo ou em parte, de coisas e bens referidos nesta Lei, que tenham passado ao domínio da União, a pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira com comprovada experiência em atividades de pesquisa, localização ou exploração de coisas e bens submersos, a quem caberá responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval (Brasil, 2000 – grifo meu). No entanto, a situação parece ser pior quando o próprio IPHAN dá sinais de abandono de sua autoridade e responsabilidade desse patrimônio quando divulga através da Portaria Interministerial nº 69 de 1989 que: 165 4.1 – A autorização para exploração de áreas ou locais que contenham coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos em terrenos marginais em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar, será de competência do Ministário da Marinha, ouvido o Ministério da Cultura (Brasil 1989 – grifos meus) É notório que o próprio IPHAN parece se eximir de sua tutela jurídica do patrimônio submerso, que é um patrimônio arqueológico. E suas portarias, em especial a Portaria 007/88, regulamentam os métodos a serem tomados quando da identificação de sítios arqueológicos. O propósito desses apontamentos legislativos foi tentar compreender de que maneira as leis atuais que sugerem tutela dos bens arqueológicos submersos estão em inconstitucionalidade com a normatização ainda corrente sobre bens arqueológicos de O patrimônio arqueológico submerso é regido por uma lei fruto de lobby de empresas de caça ao tesouro e insconstitucional que exige revisão urgente. quaisquer atribuições. Não somente essa incoerência legislativa fere a preservação e fruição pública desse bem público, mas também a posição do IPHAN perante essa incoerência legislativa. É certo que o IPHAN não precisa recuperar a responsabilidade e gestão sobre o patrimônio cultural subaquático porque nunca a perdeu. A Lei nº 3.294/61 está vigente e não faz distinção entre bens emersos e submersos para o exercício do poder de política deste órgão e a prática de todos os atos inerentes a este poder (fiscalização, expedição de autorização, etc.) com a finalidade de proteção do patrimônio arqueológico no país (Sousa, 2010, p. 14). Com a existência dessa legislação incompatível com os parâmetros já existentes de proteção do patrimônio arqueológico nacional o Governo Federal mostra-se permissivo a um lobby ganancioso de pessoas físicas e jurídicas (nacionais e estrangeiras) pelo acesso permeável aos bens submersos nacionais, vistos como potenciais fontes de riquezas (Rambelli 2002). Sobre esse aspecto jurídico de proteção do patrimônio arqueológico subaquático, o Brasil está em defasagem e mostra-se, além de tudo, confusa, já que assinou em 1982 a “Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 166 Mar”, cujos artigos 149, 303 e 33 estabelecem proteção ao patrimônio cultural subaquático, que está sob responsabilidade do Estado (Rambelli 1998). Desde 2001 vigora no meio internacional a “Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático”, cujos itens 7 do Art. 2 e a Regra 2 do Anexo da Convenção citam explicitamente a proibição da valoração do patrimônio cultural submerso (UNESCO, 2001), proibição baseada na Carta Internacional do ICOMOS (Comitê Internacional de Sítios e Monumentos) sobre o referido Patrimônio (ICOMOS 1996; RAMBELLI 2002, p. 108). Como discuti na apresentação, o Projeto de Lei do Senado nº 45 é a melhor opção que temos até o momento, e sua tramitação no Congresso Nacional é uma esperança para a gestão do patrimônio subaquático nacional. No entanto, como venho argumentando, acredito que a legislação é apenas o primeiro passo para a proteção do patrimônio civil arqueológico, pois ainda cabe à arqueologia, e à sociedade interessada, fazer da lei mais que letra morta. 5.2. Apenas algumas léguas submarinas Na procura pelos interesses que cercam os vestígios humanos submersos, acredito que o interesse do mergulho recreativo é essencial na compreensão dos embates que regem o espaço em questão. Já passei pela arqueologia subaquática brasileira e pela legislação nacional. O enfoque nos mergulhadores como seqüência da argumentação se deu a interesse anterior pessoal. Em minha monografia de conclusão de curso de graduação (Silva 2007) havia feito uma análise de alguns artigos publicados em revistas especializadas em mergulho recreativo, com o propósito de traçar algumas linhas de compreensão do interesse do mergulhador em vestígios físicos da presença humana embaixo d’água. Neste capítulo, pretendo retomar esses artigos e parte das argumentações então formuladas e desenvolvê-las sob os pontos levantados no segundo capítulo sobre a relação entre a arqueologia e a mídia. De igual importância me parece retomá-los aqui pelo fato de estar argumentando em 167 prol de uma atenção especial aos interesses e necessidades do público nãoarqueológico. Meu interesse não é operar numa análise do discurso; acredito que lingüistas, jornalistas e filósofos possam fazê-lo melhor do que eu. Trata-se muito mais de um exercício de compreensão do outro através de sua escrita. Basicamente, uma leitura atenta e comentada. O mergulho recreativo atrai uma diversidade muito grande de interesses e indivíduos. No entanto, devo aqui agrupá-los, devido a limitações deste trabalho, como indivíduos oriundos da cidade com interesse comum pelo mergulho recreativo, atividade que elegem como prática em momento de descanso e lazer. Como já havia posto, os mergulhadores recreativos constituem grande parte desse público que desenvolve contato direto com os vestígios humanos submersos. Inclusive, e já toquei nessa questão, muitos dos sítios submersos são antes encontrados por mergulhadores e relatados em sequência à Marinha ou entidades públicas municipais e estaduais. No Brasil o licenciamento de obras em portos e áreas costeiras ainda é novidade, e não pode ser considerado relevante como força tarefa de localização e registro de sítios submersos. Felizmente, desde o surgimento da arqueologia subaquática no Brasil, programas de mapeamento da costa tem sido prioridade em muitos projetos de pesquisa. No entanto, a dependência em achados fortuitos por mergulhadores recreativos é uma realidade com a qual sempre teremos que lidar (como ainda lida a arqueologia de ambientes emersos). O estado Norte-Americano da Carolina do Sul, a exemplo, possui o Ato de Antiquidades Submersas da Carolina do Sul (South Carolina Underwater Antiquities Act), publicado em 1991 (Harris 2002). Esse ato permite pequenas retiradas de materiais em sítios submersos por mergulhadores devidamente licenciados e registrados pelo Instituto de Antropologia e Arqueologia da Carolina do Sul (South Carolina Institute of Anthropology and Archaeology SCIAA). De acordo com Lynn Harris, o controle dos vestígios encontrados é feito por relatórios quadrimestrais, contatos com dive shops e dive centers, e encorajando projetos que envolvam o mergulho recreativo (Harris 2002). 168 Relatórios quadrimestrais de descobertas são avaliados pela equipe do Programa de Manejo de Arqueologia de Mergulho Esportivo e acompanhado por visitações de sítio, documentação de coleções, e finalmente a submissão de dados dos sítios à Divisão de Informação do SCIAA para serem incluídos nos Arquivos de Sítios do Estado da Carolina do Sul (Harris 2002, p. 60). A própria autora relata a desconfiança com que essa atividade é vista por seus pares, mas diz ser um risco pelo qual as políticas de gestão do estado escolheram correr (Harris 2002). Não sei se essa, de fato, seja a melhor política de preservação a ser aplicada. Muitas das cartas internacionais, tanto sobre sítios imersos como emersos, prezam pela permanência in situ do material que, sem as condições adequadas de preservação, irá degradar-se de maneira irreversível. Outro fator de importância tem a ver com as razões da retirada de materiais estarem mais associadas à pilhagem do que a evidenciar perante as autoridades a presença de um sítio arqueológico. Ou seja, trata-se de um prazer e interesse pelo troféu pessoal, como veremos mais adiante. Acredito que, ao prezar pela preservação dos sítios arqueológicos submersos, a educação patrimonial em moldes mais construtivistas (Copeland 2004) seja a melhor opção. Além das reportagens, escolhi pensar sobre aqueles artigos entre 1997 (primeiro número da revista) até 2004. Meu foco principal eram textos sobre as impressões causadas por vestígios humanos submersos, mas meu interesse por uma “auto-imagem” do mergulhador me levou a selecionar um texto sobre a complexidade do apetrecho SCUBA e um segundo artigo dessa revista sobre apreciação do submerso. A seleção dos artigos não foi feita de maneira metódica. Fui selecionando artigos de revistas que encontrava em bancas de jornais e “sebos”, e que me chamaram a atenção pelo conteúdo em um momento em que eu começava a pesquisar o tema. Inclusive, acredito que o levantamento sistemático de artigos sobre arqueologia subaquática possa ser levada adiante como tema de pesquisa56. Acredito, no entanto, que a falta de 56 Muito me alegrou a conversa com Glória Tega (Entrevista concedida por Glória Tega a Bruno S. R. da Silva via Skype Belo Horizonte-São Paulo, agosto 2010.) sobre sua pesquisa de mestrado que envolve o tema arqueológico em revistas brasileiras de história com grande tiragem. 169 rigor quantitativo não determine a rigor qualitativo dessa breve análise, considerando a atualidade das reportagens e o fato de ter visto muitos dos autores desses artigos entre os presentes do II Simpósio Internacional de Arqueologia Marítima nas Américas, em Itaparica/BA (24 a 26 de outubro de 2007), o que mostra o interesses desses mergulhadores pelo tema. No primeiro capítulo, havia esclarecido que, ao passar a trabalhar com a “relação entre mídia e arqueologia”, fazia referência “às avaliações das imagens construídas do fenômeno arqueológico nos veículos de mídia” e também “uma avaliação de como a arqueologia promove e pode contribuir com a compreensão popular do passado através da mídia”. Na leitura dos artigos de mergulhadores, me dei conta de que antes de pensarmos sobre as imagens construídas do fenômeno arqueológico, muitas vezes nos deparamos com imagens de paisagens que são definidas de várias maneiras, menos como arqueológicas. De fato, pego em minha própria observação, o indivíduo distante do círculo acadêmico e profissional específico da arqueologia, estabelece relações particulares com os espaços que visita; relações que dependem de seus antecedentes pessoais, que podem ou não terem passado próximos da arqueologia. A maior parte dos textos não reconhece naufrágios ou estruturas submersas como sítios arqueológicos, e acredito que essa seja o primeiro ponto a ser observado se pensamos na preservação do patrimônio arqueológico: não existe o patrimônio arqueológico. Minha idéia já na monografia, e que aqui reitero, é tentar ver o que existe nos vestígios humanos submersos pelo olhar do mergulhador. Estariam tão em contradição com o olhar do arqueólogo? Além da contradição, representam caminhos tão distintos e conflituosos? De certa maneira, não vemos aqui o fenômeno arqueológico em expressão dissonante com nossa própria. Mas antes, vemos uma dissonância sobre a ontologia do espaço, pois os vestígios humanos submersos não são caracterizados necessariamente como arqueológicos. Já argumentei no primeiro capítulo sobre esse ponto: o sítio arqueológico é uma criação do arqueólogo, uma delimitação territorial e normatização conceitual que envolve o espaço em questão numa série de mecanismos jurídicos para sua gestão. Não 170 considero a identificação de um sítio arqueológico uma atitude danosa; pelo contrário, venho aqui defendendo o patrimônio arqueológico como ferramenta importante para a preservação de um espaço social contra os avanços do desenvolvimento econômico desmedido. E por essa mesma razão acredito que a arqueologia não deveria se abster da compreensão de como pensa o público sobre determinado espaço. Toquei nesse ponto no primeiro capítulo: acredito que a arqueologia direcionada para a leitura de suas impressões na mídia é antes de tudo uma maneira de buscar os interesses públicos no presente que são direcionados aos vestígios do passado. Para levar a cabo essa tarefa, acredito que as leituras dos artigos aqui propostas tem muito a contribuir. Por um lado, algumas empresas particulares tratam naufrágios como fontes fáceis de fortuna, e nesse caso defendo que façamos da presença arqueológica algo além do fantasioso; uma realidade de pesquisa e respeito aos interesses locais sobre o mesmo espaço (Pyburn 2008). Por outro, muitos mergulhadores, como veremos aqui, enxergam beleza e memória em ruínas humanas submersas. E talvez essa concepção afetiva do espaço seja um bom ponto de partida para criar laços entre arqueólogos e o público (Holtorf 2007a). Dando inicio aos comentários, todos os textos possuem certos parâmetros em comum: apontam locais de mergulho (points) e possuem uma “ficha técnica” sobre o local (como chegar, distância dos principais centros urbanos, locais de estadia – preço e conforto – companhias que fazem o mergulho, melhores horários e períodos do ano para se visitar), assim como dados de importância para apreciação e segurança do mergulho (campo de visibilidade, profundidade do point, temperatura da água, presença de correntes marítimas). A imersão não é um processo simples, por condições naturais, e o mergulho exige um preparo anterior. As técnicas e tentativas de permanecer submerso sempre foram dignas de atenção, desde o mergulho em apnéia até os sinos de mergulho (Bass 1971, Rambelli 2002, Diegues 1998, Martin 1978). Veio, então, a invenção da SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus – Aparato para Respiração 171 Submersa Auto-Contido) na década de 1940 por Jacques Cousteau e Emile Gagnan, um equipamento constituído de tanques de ar comprimido e reguladores de pressão possibilitando que o indivíduo se mantenha submerso sem conexão direta com uma fonte de ar externa, criando o mergulho autônomo (tal qual o chamamos na atualidade) e mais confortável (já que a produção de seus acessórios entrou no mercado). Primeiro seria interessante o reconhecimento de que o mergulho recreativo pode ser uma atividade amadora do ponto de vista de um mergulhador cuja ocupação é consertar plataformas de petróleo em alto-mar, por exemplo. Existem, ao certo, aqueles mergulhadores eventuais que não vislumbram na submersão algo além de um entretenimento ocasional. Mas a elaboração técnica envolvida em mergulhos mais profundos e mais longos exige um nível de atenção e especialização que chega quase ao profissional. Um dos artigos menciona o mergulho como “verdadeiro estilo de vida; essas pessoas mergulham para fazer novos amigos, estar em contato com a natureza, viver novas experiências e conhecer lugares diferentes” (Werneck & Henriques 1998, p. 52). Esse “estilo de vida” condiciona a uma profunda “dedicação para aumentar as habilidades técnicas e os conhecimentos teóricos, termina transformando o ‘recreativo’ em ‘técnico’” (Werneck & Henriques 1998, p. 52). Na visita a cavernas profundas e pouco conhecidas, descidas de “4 horas ou mais, é comum o caverneiro recorrer a mais de um seis cilindros extras para estágios de descompressão” (Werneck & Henriques 1998, p. 54). Não sei ao certo quantos dos leitores estão familiarizados com os procedimentos de segurança e riscos envolvidos no mergulho autônomo. O termo “estágios de descompressão” mencionado por Marcus Werneck e Maurício Henriques se refere a uma medida de segurança adotada em mergulhos muito profundos para evitar uma condição clínica conhecida como “diabarismo” ou “doença descompressiva”. Quando em submersão, o corpo humano sofre os efeitos da pressão atmosférica (valor equivalente de 1 atm) e começa a sofrer os efeitos da pressão da massa de água marinha. A densidade da água do mar, muito maior que a densidade do ar, faz com que 172 poucos metros de submersão sejam o equivalente ao efeito de mais 1 atm. Ou seja, à medida em que aumentamos a profundidade durante o mergulho, nosso corpo começa a sofrer os efeitos do aumento da pressão. O termo diabarismo, ou doença descompressiva, refere-se aos sintomas de uma queda muito súbita da pressão do ambiente, ou seja, quando subimos rapidamente de uma grande profundidade. O gás nitrogênio não é metabolizado com eficácia e se acumula nos tecidos sanguíneo, adiposo e ósseo, podendo provocar dor nas juntas, coceira e até paralisia temporária (Guyton & Hall 2006, p. 549). De fato, a submersão não é uma prática fácil e exige um aprendizado. Para alguns mergulhadores esse aprendizado alcança níveis de maestria técnica. Muito menos Rambo, e muito mais McGhyver (Werneck & Henriques 1998, p. 54). Nesses casos, não estamos lidando com “leigos”, mas com verdadeiros conhecedores sobre as técnicas de submersão. O domínio da técnica consagra o domínio do espaço: um espaço que não é para todos. Tendo em vista essas condições, podemos chegar a situações em que, como descrevem muitos arqueólogos, não somos vistos como capazes de penetrar nesses mundo de maravilhas porque não detemos o conhecimento sobre o mergulho. São casos onde a arqueologia é vista como amadora. Aliás, se percorrermos a história do mergulho autônomo, poderemos ver que muitos desses mergulhadores, inclusive, foram os “iniciadores da arqueologia subaquática” (Rambelli 2010 – informação verbal; Noelli 2010 – informação verbal)57, intervindo em naufrágios afundados e resgatando peças submergidas. O argumento da arqueologia a contraponto, é que ela nunca negou a participação de mergulhadores recreativos nos trabalhos de campo. Sua presença é reconhecida e sempre bem-vinda. A arqueologia entra em conflito com o mergulho recreativo e profissional quando mergulhadores optam pela retirada dos vestígios submersos sem os devidos cuidados para sua 57 Entrevista concedida por Gilson Rambelli a Bruno S. R. da Silva em Aracajú, julho/agosto 2010. Entrevista concedida por Francisco Silva Noelli via e-mail. Pelotas e São Paulo/Belo Horizonte. Junho de 2010. 173 conservação, além de inviabilizar por completo o estudo in situ do material; dado essencial para realização de qualquer estudo arqueológico. No entanto, não devemos nos esquecer de que há mais do que o domínio técnico envolvido no mergulho profissional. A conquista da técnica leva à conquista do espaço, sua domesticação e territorialização pelo mergulho desbravador. Talvez esse seja o principal cuidado quando do contato com o mergulho e seus praticantes fora da academia. Cuidar para que nossa empreitada não seja vista de início como uma arrogância acadêmica, pois nesses casos somos vistos como estrangeiros. Retomando os artigos, o domínio técnico é o meio através do qual o mergulho possibilita uma experiência sensitiva e corporal. Em uma visita à Cuba, uma das atrações principais foi o mergulho em uma embarcação russa naufragada especificamente para uso turístico, ou seja, mantinha muitas de suas estruturas intactas e a localização planejada, “não é preciso dizer que a sensação do grupo foi de delírio total” (Luca Jr. 1999, p. 31). O autor também nos descreve sua sensação de “puro êxtase ao mergulhar em uma temperatura de 32° C era homogênea pela coluna d’água, impressi onante água azul” (Luca Jr. 1999, p. 33). Esse caso também nos convoca a refletir sobre a relevância ou irrelevância da historicidade associada ao naufrágio. Como já apontei, o que para o arqueólogo é um vestígio material que revela parte das relações sociais do tempo de sua confecção, para o público pode ser um espaço paisagístico, uma pintura em três dimensões cuja interpretação repousa no sublime da experiência estética. Ou seja, trata-se mais de uma valorização da sensibilidade do que da autenticidade histórica, a experiência no presente que pode vir a alimentar um interesse pela arqueologia (Holtorf 2007a). Podemos considerá-lo, também, como a cultura material em seu pleno uso social. Outro autor conta que a visita ao Parcel Manuel Luis no Maranhão não tem as condições de mar maravilhoso do Caribe e tampouco o conforto do turismo caribenho. Aqui a conversa é outra: aventura. A navegação é longa, a estadia em mar aberto, cansativa e o lugar, selvagem, imprevisível. Mas ao olhar em 174 volta e não ver nenhum outro barco, ao encontrar os grandes peixes de fundo ainda desacostumados aos mergulhadores, ao nadar acompanhado por barracudas que se aproximavam batendo os dentes, por tudo isso, confesso que o Parcel Manoel Luís já se tornou inesquecível (Amarante 1998, p. 33). Em outro artigo, os desafios têm origem “divina”, pois fora a “exigência que Poseidon, o Deus dos Mares, impôs aos mergulhadores para que pudessem aproveitar as águas cristalinas e frias da ilha de Mykonos” (Lembo 1998, p. 20), como brinca o instrutor: Fechamos o cinto de lastro. Colocamos o equipamento de mergulho autônomo. A máscara e as nadadeiras ficaram em nossas mãos. Foi com esse aparato completíssimo – incluindo o cilindro nas costas -, que atravessamos a pé 50 m. de uma praia de areias escaldantes, até o embarque em um barco inflável. O calor de 35 graus, por sí só, já seria um agravante. Imagine – se debaixo de um sol desses, dentro de um roupa de neoprene de 5 mm! Para complicar, havia um incômodo adicional; a praia estava lotada de nudistas, de todas as faixas etárias e preferências sexuais. (Lembo 1998, p. 20) A dificuldade técnica, física e moral são barreiras que agem como desafios suficientemente abrasadores, na medida em que permitem sua superação e, por consequencia, a conquista de mais um ambiente: todo o esforço é compensado pelas maravilhas vistas no submerso e pelo exótico fim de dia, acompanhado de histórias de mergulho, contadas em varias línguas pelos divemasters e instrutores, generosas doses de ouzo – a bebida nacional, um destilado com sabor de aniz, e o ‘tira-gosto’ eram fatias de queijo de cabra, o fetta, deliciosa especialidade grega (Lembo 1998, p. 24). Podemos enxergar um elemento da cultura popular de grande semelhança entre a paisagem submersa e a arqueologia emersa: o exotismo da descoberta (Holtorf 2007a, 2005). A aventura se encontra na transgressão dos obstáculos e na premiação pela coragem do transgressor. As águas de Poseidon guardam maravilhas destinadas apenas aos poucos bravos que forem capaz de transgredir os obstáculos. O prêmio pela coragem: histórias e fartura de iguarias. 175 Muitas dessas referências gloriosas à apreciação do mergulho estão inclusive imbuídas de carga histórica. No mesmo artigo o autor transcorre sobre o prazer proporcionado na “mitológica ilha de Mykonos”, que fora mantida afastada dos mergulhadores por guardar “riquezas milenares”. Entretanto, essa carga histórica parece estar mais associada com sonhos de riqueza que com potencial cultural. “A idéia de que alguma coisa venha a ser velha, interessante e sem valor simplesmente não é aceitável” (Ascherson 2004, p. 104). Assim, muitas das referências históricas são apelativas à fantasia de muitos que já pensaram sobre arqueologia e mergulho: caça ao tesouro. Vimos na apresentação deste trabalho o caso do Galeão Sacramento. Outro exemplo que posso mencionar é o da Nau Santa Rosa que naufragara em 1726 em Pernambuco, carregando “6,9 toneladas de ouro em lingotes, mais uma grande quantidade de pedras preciosas, segundo registros oficiais” (Lima 2001, p. 39). Em dezembro do ano passado [2000], a Rede Globo levou ao ar em horário nobre, durante o Jornal Nacional, a notícia de que a legendária fragata Santa Rosa, carregada de ouro e jóias, havia sido localizada perto de Serrambi, litoral de Pernambuco (Lima 2001, p. 38). Comparada à preciosa carga avaliada em US$ 700 milhões de reais, o autor afirma que “no mínimo, o naufrágio tem um valor histórico” (Lima 2001, p. 38). Vale lembrar que no dia 26 de dezembro do ano anterior, a lei 10.166 foi aprovada. Nesse artigo, vemos uma das principais desconfianças da arqueologia nos meios de comunicação: o sensacionalismo. Ao reproduzir, localizar e confirmar um sonho de “horário nobre, durante o Jornal Nacional”, a mídia reproduz um discurso que, longe de possibilitar uma realização subjetiva de todos os praticantes (afinal não existem muitas fragatas com a carga da Santa Rosa), acarreta sérias conseqüências à conservação do patrimônio histórico submerso. Apesar de estarem cientes os mergulhadores da baixa probabilidade de encontrar tamanha fortuna, o naufrágio visitado torna-se sinônimo de tesouro com “no mínimo, um valor histórico”. Nesse caso, os receios de Peter Fowler (2007) se concretizam: a mídia não procura entre a 176 multiplicidade de perspectivas que a academia tem a oferecer sobre o passado. Seu olfato é direcionado para o sensacional, o tesouro e a aventura. E daí o medo de que a arqueologia venha a submeter-se às ganâncias da empresa do áudio-visual e tente burlar sua própria ética em nome da fama e do financiamento (Cf. caso Shinichi em Clack & Brittain 2007). Muitos arqueólogos subaquáticos que possuem vivência no mergulho e constante contato com mergulhadores recreativos apontam para a atitude destrutiva com que muitos mergulhadores têm conduzido a prática. Segundo Paulo Bava de Camargo, são vários os casos em que o mergulho é cercado por algo de “machodiverismo”, posse do que reside no submerso porque foi encontrado “por mim” (Camargo 2010 – informação verbal58). Leandro Duran também descreve o mesmo tipo de situação, Muitos são profissionais bem estabelecidos que tem isso como hobby, e defendem isso abertamente em encontros da sociedade civil, encontros de mergulho... Por exemplo, no São Paulo Boat Show você vê palestras desse pessoal. Eles têm uma voz ativa na comunidade e que, direta ou indiretamente, suporta o posicionamento político danoso (Duran 2010 – informação verbal59). Inclusive a retirada de placas informativas de trilhas de turismo (Duran 2010 – informação verbal). Por outro lado, muitos mergulhadores reconhecem nos vestígios materiais resquícios de humanidade. Em uma das embarcações que afundara no Parcel Manoel Luís em 1984, as “gavetas dos camarotes” com “objetos pessoais” realmente chama a atenção do mergulhador (Amaranates 1998, p. 31). Para citar um caso familiar para ambos arqueólogos e mergulhadores, Gilson Galvão coloca a história do Galeão Sacramento em evidência tanto através de seu valor histórico quanto natural e arqueológico. 58 Entrevista concedida por Paulo Bava de Camargo via skype. São Paulo/Belo Horizonte. Maio de 2010. 59 Entrevista concedida por Leandro Duran a Bruno Sanches via skype. São Paulo/Belo Horizonte. Abril de 2010. 177 O grande encanto do Sacramento é imaginar que se está entrando em um quebra-cabeças vivo, de mais de três séculos de idade que deixou poucas peças. É preciso mergulhar o tempo todo resgatando um pouco da sua importância histórica, lembrando que todo este cenário submarino, hoje lar de peixes e corais, um dia transportou mais de 800 pessoas, entre nobres, oficiais, soldados, marinheiros, mulheres prometidas aos donos de terras e o futuro governador-geral do Brasil, Francisco Correa da Silva, morto na tragédia antes de tomar posse (Galvão 2004, p. 18). Como extensão dessa particular beleza histórica e natural, o Museu Náutico da Bahia em Salvador apresenta os demais vestígios recuperados e “dão embasamento teórico e estimulam as emoções” (Galvão 2004, p. 18) dos interessados em mergulhar no sítio. É certo que a arqueologia pode contribuir com “embasamento teórico e estímulo de emoções” quando essas são estimuladas pelo referencial histórico e humano atribuído à cultura material. São casos em que acredito que a educação patrimonial, sabendo informar ao mesmo tempo em que explora a sensibilidade dos mergulhadores (Copeland 2004), é uma opção de abordagem pública fundamental. Carlos Lima publica duas reportagens sobre mergulhos em points de especial apelo histórico que também preza pela preservação. Em um deles, nos conta sobre a visita à Trunk Lagoon, na Micronésia, onde o Japão fizera ancoragem de parte gigantesca de sua frota naval que fora afundada por caças americanos (em retaliação à Pearl Harbour). A região se tornou um verdadeiro museu submerso da II Guerra Mundial. Hoje, as máquinas da morte criam vida e contam em imagens impressionantes a história de um período que jamais será esquecido pela humanidade (Lima 1999, p. 39). Em outro artigo, Carlos Lima (1998) enaltece a transformação da área em que se encontrava o naufrágio da embarcação australiana Yolanga em parque nacional marinho. O Yolanga partia da Austrália com uma tripulação enriquecida pela descoberta de ouro na Austrália, e isso teria levado caçadores de tesouros nos anos 1950 a retirarem das profundezas um cofre encontrado na embarcação (Lima 1998). A medida protecionista tomada pelo governo australiano em respeito às famílias dos que foram vítimas do acidente no final do século XIX (ainda existem esqueletos dos náufragos entre os destroços), 178 “evitou também que aventureiros depenassem o navio” (Lima 1998, p. 34). “Essa preservação torna o mergulho não apenas um espetáculo marinho, mas também uma volta ao passado” (Lima 1998, p. 34) O artigo de Carlos Lima nos apresenta um argumento pela preservação que tenho usado desde o início do trabalho. A indicação de um sítio arqueológico pode viabilizar sua proteção como patrimônio civil que possui representatividade e peso de diferentes formas para diferentes setores da sociedade. Para os parentes das vítimas, é um local de homenagem à memória familiar; para os mergulhadores, é um “espetáculo marinho e uma volta para o passado”. Aliás, o caso do SS Yolanga talvez fosse mais difícil para os arqueólogos já que toca em questões éticas de escavação de enterramentos contemporâneos e pontos com forte significado pessoal ainda nos dias de hoje. José Eduardo Galindo mergulha em uma embarcação de naufrágio recente, ainda presente na memória de moradores da localidade que a presenciaram e movimentaram-se como puderam para salvar os embarcados: “A memória das horríveis condições climáticas e do desespero do resgate provavelmente originam todas as histórias fantásticas que envolvem o vapor” (Galindo 2000, p. 32). As condições propícias ao mergulho produzidas pelo horrível da tragédia parecem atuar, como há um século atrás (Corbin 1989), à apreciação do simulacro da própria destruição, uma observação do que pode acontecer a cada um de nós (tão instigante quanto assistir a um filme de acidente aéreo). Assim, uma equipe de mergulho explora as salas de uma hidrelétrica que foi submergida pelas águas de outra hidrelétrica. “Quem diria que aquilo tudo teria sido erguido pelas próprias mãos do homem? Subimos em êxtase” (Meurer & Rodrigues 1999, p. 22). Aumentado as imagens de morte no ambiente, um cemitério (exumando antes da enchente) está presente na paisagem, trazendo também a nostalgia da perda. Carlos Lima descreve uma impressão semelhante do mórbido no naufrágio do Yolanga, que ainda possui esqueletos dos náufragos (Lima 1998). Percorrer corredores, agora desertos, que foram povoados de vidas humanas faz-se enxergar o patético da atitude racional; Como uma atuação por binômios, frente è morte, o homem revê sua 179 vida: Das cinzas extintas do alheio, o observador pode ressignificar sua própria existência. Dentre as reportagens lidas, encontrei duas da revista SCUBA que tratavam da legislação de proteção dos vestígios submersos e do patrimônio arqueológico. Uma delas foi o editorial de outra edição onde o autor faz referência ao absurdo da legislação (que na época ainda era a de 1986, sem a alteração de 2000) e, defendendo ambas as partes, investidor da exploração e preservação patrimonial, comenta da riqueza histórica sob as águas da Baía de Todos os Santos, em uma edição que comemora os 450 anos da cidade de Salvador (Falanghe 1999). Um segundo artigo da mesma edição inclusive proclama o “Banco da Panela”, também em Salvador, como um dos maiores sítios arqueológicos subaquáticos do mundo (Zanardi, Vitória & Falanghe 1999). Em 2004, Gloria Tega publica uma reportagem na revista Mergulho em que promove a proteção do patrimônio arqueológico subaquático (Tega 2004). A autora trata da inconstitucionalidade da lei 10.166, lembrando que sítios submersos já estão sob custódia da União pelo artigo nº 216 da Constituição de 1988. Suas entrevistas prezam pela preservação do patrimônio in situ, e pelo reconhecimento do potencial cultural que os sítios submersos podem prover; potencial muito maior do que os ganhos individuais feitos por pequenas pilhagens (Tega 2004). Glória Tega entrevista diversos membros da equipe do CEANS e faz questão de deixar claro que não se trata de proibir e criminalizar o mergulho em naufrágios e sítios considerados arqueológicos. Mas sim, é uma questão de evitar o depredo e destruição, levando em conta que essas atividades inviabilizam outras muito mais vantajosas para o mergulho recreativo, como o turismo consciente, o aprendizado histórico e a preservação de belezas naturais. Sua posição fica clara na chamada da reportagem: “Diversos países realizam o turismo sub-cultural em seus sítios arqueológicos. Por que isso não acontece no Brasil?” (Tega 2004, p. 20). A idéia dessa abordagem mais qualitativa que quantitativa de reportagens escritas por mergulhadores foi seguir uma das tendências da arqueologia pública, atinar a sensibilidade para as experiências presentes que 180 parecem estar por trás da escolha do público pelo contato direto com vestígios físicos do ser humano e, conseqüentemente, que os possa levar à arqueologia com maior ou menos interesses (Holtorf 2007a). Retomo minha conclusão (Silva 2007) de que nem todos os interesses dos mergulhadores entram em choque com aqueles dos arqueólogos. Pelo menos, não em aparência. As imagens transcritas e razões pelo apreço dos sítios submersos aparecem tal como as experiências apontadas por Cornelius Holtorf (2007a, p. 4). Sejam quais forem, trata-se de experiências no presente que determinam o interesse das pessoas pelo passado. E podemos ver nesse interesses, pelo menos a princípio, razões que justifiquem a preservação mais que motivos de pilhagens impróprias. Assim, me parecem ser interesses e sensibilidades através dos quais o arqueólogo pode conjugar seus interesses A sensibilidade que envolve o mergulho recreativo muitas vezes mostra um interesse que pode ser atrelado ao do protecionismo arqueológico. pela preservação patrimonial. O exercício de gestão patrimonial do Estado através antecedente da são lei tanto 10.166 e sua inconstitucionais quanto irresponsáveis, pois elas viabilizam a exploração comercial dos vestígios submersos, permitindo que um bem coletivo passível de interpretações e relações das mais diferentes formas, seja apropriado por empresas privadas (em sua grande maioria estrangeiras). Sob os bens submersos, o Estado brasileiro caminha para o extremo oposto de uma postura “multiculturalista”, retornando aos primórdios em que os bens e paisagens culturais ficavam a cargo dos interesses da propriedade privada (Funari & Robrahn-González 2008) O mergulho recreativo, em geral praticado por uma população urbana, é uma das poucas saídas encontradas por muitos para a revitalização da sensibilidade destroçada pelo cotidiano pesado e conturbado dos grandes centros urbanos (Silva 2007). A preservação dos sítios arqueológicos subaquáticos conflui facilmente com a imagem já consagrada da preservação natural. “Preservação para apreciação”, não resumir-se ao gosto egoísta da conquista pessoal de pequenos troféus, mas permitir que esses espaços de 181 escape, entretenimento e memória permaneçam para regozijo da coletividade. “E nessa acessibilidade podemos argumentar ‘não destrua, venha visitar e aproveitar’” (Rambelli 2010 – informação pessoal60). Enquanto a posição política do Estado frente ao patrimônio cultural subaquático da União não mudar, a própria arqueologia tem que conduzir seus esforços e seu trabalho tanto pela alteração da legislação vigente quanto pela valorização e preservação do patrimônio cultural. Para essa tarefa, ter em conta as sensibilidades que envolvem a experiência submersa fora da arqueologia pode ser crucial. E muitos arqueólogos subaquáticos estão já partindo dessa preocupação. 5.3. Arqueologia subaquática – desafios e estratégias de atuação pública Neste trecho, procuro observar o mesmo que já foi observado nos capítulos anteriores: as alternativas que a arqueologia tem buscado para melhorar sua relação com o público, fazer-se mais presente às demandas sociais ao mesmo tempo em que se preocupa em não deixar desaparecer seus próprios interesses. É possível utilizar estratégias que são usadas em outras áreas da arqueologia com considerável sucesso, como convidar o público (no caso, o (a) mergulhador (a)) à inserção direta em projetos arqueológicos como voluntários (Jameson Jr. 2004; Frost 2004; Faulkner 2004), ou através de ações educativas (Copeland 2004) em points litorâneos e escolhas de mergulho. A alternativa a qual dedicarei mais tempo é a do turismo arqueológico, muito polêmica dentro da academia. Basicamente duas são as razões por essa escolha. Primeira, não podemos esquecer que a intenção do mergulho recreativo é “recreação”, entretenimento. Isso não significa que nosso foco deve ser uma “atividade pastelão”, mas não vale deixar em segundo plano o fato de que este público em particular toma em contato com os vestígios submersos num momento de seu cotidiano que reserva a atividades lúdicas, ao 60 Entrevista concedida por Gilson Rambelli a Bruno S. R. da Silva em Aracajú, julho/agosto 2010. 182 descanso e aos hobbies. Em segundo lugar, muitas das empreitadas do turismo arqueológico submerso terminam por misturar a participação voluntária em atividades de campo e palestras sobre arqueologia. De início, podemos retomar o caso apresentado por Lynn Harris no estado Norte Americano da Carolina do Sul para abordar o que chamamos no Brasil de “educação patrimonial”. Como já deixei claro nos capítulos anteriores, confio na transmissão de conhecimento e na aprendizagem. A questão central e como, para quem e com qual objetivo estamos “educando”. Em 1989, o Instituto de Antropologia e Arqueologia da Carolina do Sul criou o Programa de Manejo Arqueológico de Mergulhadores Esportivos (SDAMP), junto à Divisão de Arqueologia Subaquática do Instituto (Harris 2002). O Programa foi criado especialmente para discutir o papel dos mergulhadores esportivos e ir ao encontro de necessidades de manejo de acordo com a legislação do estado, inventário de material submerso, e objetivos de pesquisa. O programa dedica todo o seu tempo à educação pública (Harris 2002, p. 59) Sua execução não se limita a atividades esporádicas de educação patrimonial e registro de mergulhadores como “portadores de antiguidades” licenciados. Sua dedicação abarca um curso de formação técnica em arqueologia, credenciados pelo SCIAA. O curso se divide em quatro partes: 1) introdução aos princípios básicos da arqueologia, seus conceitos, técnicas, registro, prospecção não-interventiva e políticas de preservação, bem como legislação estadual sobre o patrimônio arqueológico e que tipos de sítios podem ser encontrados. 2) e 3) são etapas de workshops de identificação de material, fotografia e desenho, arquitetura naval, marcação e catalogação de material, conservação, pesquisa histórica; atividades de campo como estabilização do sítio, uso de equipamentos de sensoriamento remoto, escavação e uso de quadras. 4) última parte, exige que os mergulhadores participem de uma etapa de campo de 14 dias em um projeto do SCIAA ou dirigir um projeto subaquático pelo mesmo tempo (C.f. Harris 2002, p 62-63 para mais detalhes). 183 Os cursos têm recebido não só mergulhadores recreativos do estado, mas diversos profissionais e estados vizinhos que não contam com esse tipo de formação. Os projetos encorajam a participação também de não mergulhadores em sítios de zonas pantanosas ou intersticiais, além da pesquisa histórica em arquivos e trabalhos de conservação em laboratório (Harris 2002). A formação complementar e técnica do público em trabalhos arqueológicos me parecem uma idéia, a princípio, formidável. As experiências do “certificado dos auxiliares de campo” sugerida por Tatiana Fernandes (2009) e Viviane Vidal (2010) mostram que o aparato metodológico e científico do arqueólogo pode ser sim de interesse do público mais do que o romantismo que desperta. Além da educação patrimonial, cursos de formação técnica colocam a ciência a disposição do público leigo, desmistificando-a e democratizando-a. Quando digo “a princípio” é devido à nunca ter participado de tal experiência para sentir como os interesses em jogo (mergulhadores e arqueólogos) estariam sendo atendidos. Por um lado, temos a proposta de democratização do conhecimento atende ao apelo da arqueologia pública. Por outro, existe a possibilidade de que o conhecimento nas mãos dos mergulhadores treinados siga caminhos próprios, e que muitos deles venham a interessar-se pela execução de projetos por si mesmos, sem a presença necessária de um arqueólogo. Há também a possibilidade de que esse conhecimento não seja “democratizado”, mas “imposto” pela arqueologia como forma de criação de uma “patrulha patrimonial” que nunca será permitida ir além da sombra de uma “grande disciplina”. Ponderar sobre essas possibilidades é colocar em questão a legitimidade de uma disciplina, a diferença hierárquica entre patamares de uma escala evolutiva profissional. Uma vez entrosado às normas e métodos da arqueologia, o olhar do mergulhador aproxima-se muito mais daquele do arqueólogo. No entanto, ainda resta a questão sobre as dedicações e tempos de estudo: Em outras profissões, seria aceito que técnicos fizessem as 184 mesmas coisas que graduados? Mas será que deveríamos colocar essa diferença sendo que a maior parte dos arqueólogos no Brasil ainda não são os formados por graduações específicas (e que até dez anos atrás havia pouquíssimas graduações no país)? Ou ainda, a formação técnica não impede que o indivíduo continue perseguindo a passagem definitiva para a profissionalização arqueológica, ou impede? Não sei com exatidão até que ponto essa discussão pode levar a planos de conflito e conciliação válidos. A especialidade e grau de formação sempre apresentaram um papel importantíssimo na profissionalização social brasileira. Por vezes, até em demasia, visto que nos tornamos um país incapaz de reconhecer o valor do trabalho manual. No entanto, não acredito que uma formação técnica em arqueologia venha a colocar em risco o papel do arqueólogo e mesmo a preservação do patrimônio. E tampouco acredito que isso deva se tornar uma desculpa para evitar projetos que disponibilizem a arqueologia ao alcance de todos. Tal como o arqueólogo, cabe ao mergulhador ou mergulhadora estarem conscientes de suas atividades uma vez que de posse da técnica. Chico Noelli levanta algumas dessas perguntas. Porque não atuar a partir de uma ação iniciada por um grupo da sociedade civil organizada? Porque deixar a oportunidade de incentivar a criação de um movimento local para proteger o patrimônio cultural? Porque não ajudar com a transmissão dos conteúdos corretos da Arqueologia, na direção da pesquisa e da preservação do patrimônio cultural? Porque não incentivar um grupo de amadores a buscar a formação específica da Arqueologia? (Noelli 2010 – informação pessoal)61 O Projeto de Arqueologia Subaquática da praia dos ingleses, ao qual já fizemos referência na apresentação (Viana et alii 2004), partiu de mergulhadores amadores que, interessados e preocupados com um naufrágio que se degradava pela ação marítima e de pilhagens eventuais, iniciou um movimento de pesquisa para poder levar a cabo trabalhos de arqueologia 61 Entrevista concedida por Francisco Silva Noelli via e-mail. Pelotas e São Paulo/Belo Horizonte. Junho de 2010. 185 subaquática. Sua preocupação com a qualidade e efetividade dos trabalhos os levou a procurar um arqueólogo que pudesse coordenar o projeto. Não podemos esquecer do ponto também relativo ao debate anterior, que é norma do IPHAN que projetos arqueológicos sejam coordenados por arqueólogos reconhecidos. Ainda sobre a experiência do PAS, vale apontar que entre seus objetivos está “criar as bases necessárias para a construção de um Museu de Arqueologia, História e Cultura Marítima de Santa Catarina, dedicado à pesquisa e a preservação da cultura material e das tradições locais” (Noelli et alii 2009, p. 198). A Musealização do acervo arqueológico tem sido uma questão central nas discussões de arqueologia subaquática brasileira. Um dos principais motivos apregoados pelos mergulhadores que emergiam material arqueológico era de “trazer os vestígios da história ao alcance daqueles que não podem mergulhar”. A resposta dos arqueólogos tem sido “Sim, mas a retirada sem os devidos cuidados de conservação levam o material à ruína, além de descontextualizá-lo e impedir a produção de qualquer conhecimento mais profundo”. Esse debate certamente deixa claro alguns dos problemas do acesso público aos bens culturais submersos. Apesar do crescimento do mergulho autônomo, essa ainda é uma atividade cara e não praticada por todos os apreciadores do litoral e do mar. Como fazer a “história contada a partir dos vestígios” chegar até o público não mergulhador? O Museu do PAS recebeu 12.000 visitantes até 2006 (PAS 2006), número considerável de interessados. Como contraponto, cabe lembrar as críticas feitas no primeiro capítulo. O que se quer mostrar com um museu? Qual história é tocada por aqueles materiais: pirataria? Cotidiano naval? História comercial? Qual a participação das “tradições locais” na elaboração e construção desse museu? Lembremos que a conservação é um problema central para a arqueologia subaquática (Cf. Bass 1971, Godfrey et alii 2002, Hamilton 1996, Hermanson 2004, Rambelli 2002) e as responsabilidades envolvidas na conservação do material 186 arqueológico (Johnson 1993, 1994). O que conservar e porque conservar? Que tipo de informação pode ser retirada do material estabilizado? O processo de musealização exige uma profunda responsabilidade. Não é apenas uma exibição descompromissada de objetos para “ilustrar a história trágicomarítima”, mas a criação de mais um lugar de narrativa sobre o passado. Um lugar profundamente disciplinar e cuja arquitetura transmite idéias sobre o passar do tempo e o funcionamento da sociedade. Não se trata de um ataque direto à exposição citada de organização do PAS, apenas apontamentos já discutidos sobre a responsabilidade envolvida na elaboração de uma exposição museológica. O acesso público de material arqueológico é uma premissa apontada pelas principais cartas sobre o patrimônio arqueológico (ICAHM 1990, UNESCO, 2001). Esse acesso, entretanto, deve ser pensado e planejado, tanto pela seriedade do discurso histórico presente em uma exposição quanto pela condição delicada que envolve a conservação do material proveniente de ambientes encharcados. A profissionalização da arqueologia brasileira é um ponto central também em trabalhos subaquáticos, pois o desafio de institucionalizar-se como parte da disciplina, ou seja, ganhar valor entre seus pares, tomou tempo e esforço dos profissionais da área no Brasil (Duran 2010). O trabalho inicialmente desenvolvido por Maria Cristina Mineiro Scatamacchia e Gilson Rambelli, seguido por outros profissionais dentro e fora do MAE/USP, como vimos na apresentação, conferiram à prática subaquática nacional visibilidade e credenciais sobre sua viabilidade. Nos últimos anos, mais duas teses de doutorado são defendidas no MAE/USP, também sob orientação de Scatamacchia, que deixam clara a potencialidade que oferece a prática subaquática. Flávio Calippo (2010) e Leandro Duran (2008) trabalharam, respectivamente, com as populações sambaquieiras do litoral paulista e com uma armação baleeira também no litoral sul do estado de São Paulo. Essas publicações cruzam temas caros à arqueologia nacional, como a ocupação préhistórica do continente e comportamento social das sociedades sambaquieiras, em Calippo, e a vivência do sistema capitalista na América colonial e imperial, em Duran. Seus trabalhos são excelentes exemplos da consolidação da 187 arqueologia subaquática no Brasil, junto com a criação de uma nova vaga para arqueólogo subaquático na Universidade Federal de Pernambuco (Duran 2010; Guimarães 2010; Rambelli 2010). Voltando à questão da exposição e musealização, uma alternativa considerada primordial a conservação do patrimônio subaquático e seu aproveitamento público é a preservação in situ (UNESCO 2001). Um deles é o “Proyecto lugares de memória en el corregimiento de Tierra Bomba” (Projeto lugares de memória no corregimento de Terra Bomba), em quatro ilhas do corregimiento de Tierra Bomba, na Colombia, desde 2008. Este projeto foi a sequencia do “Programa de sensibilización para al protección del patrimônio cultural subacuático” (Programa de sensibilização para a proteção do patrimônio cultural subaquático) cujo propósito foi identificar sítios arqueológicos e a ligação das comunidades locais a eles (Fundación Terra Firme 2011). O projeto “Lugares de Memória” teve como objetivo a seleção pela população de lugares que consideravam dignos de memória, de modo a desenvolver atividades de conservação e musealização (Fundación Terra Firme 2011). Ao fim das atividades do projeto se estruturaram duas fundações sem fins lucrativos conformadas por membros das comunidades do corregimiento: um centro histórico cuja função é “incentivar a cultura de nossa comunidade e dar a conhecer ao mundo que nessa ilha se guarda um grande tesouro deixado pelos espanhóis”; A segunda, a “Mergulhadores da história dos canhões”, fundação com a proposta de “ser protetores e cuidadores dos canhões e dos sítios históricos debaixo do mar, e narradores da história dos sítios antigos que se encontram no mar e dos canhões” (Fundación Terra Firme 2011). Logo depois, surgiu o “Museu de Tierrabomba”, com um percurso montado pelos próprios moradores, que também guiam o percurso. A proposta do Projeto parece interessante e motivadora, em especial por conjugar dois interesses, o preservacionista arqueológico e o mnemônico local. Embora o nome do “Programa de Sensibilização” nos sugira a idéia de 188 “inculcar” na população local uma ideologia de conservação e beneficiamento econômico do lugar, não podemos esquecer que a relação entre comunidades locais e instâncias ligadas ao governo central pode ser guiada por um interesse local em aproveitar economicamente de recursos culturais em seu entorno e do conhecimento introduzido pela arqueologia de modo a inserir-se com maior eficacia no cenário nacional como possuidoras, e manipuladoras, de saber oficial. Mais uma vez, a diferença entre aproveitamento do conhecimento arqueológico e imposição de um discurso sobre o passado depende da atuação e das sutilezas das relações pessoais no cotidiano do contato. A Bahia de Todos os Santos tem-se mostrado um reduto muito rico para o desenvolvimento de atividades públicas de arqueologia subaquática. Recentemente desenvolve-se um projeto que, nos moldes da liberdade criativa que vimos em alguns casos de arqueologia pública, toma o patrimônio como objeto de apreciação estética como medida de apelo à preservação. O Projeto Maraldi, de criação e execução da artista plástica baiana Lica Moniz de Aragão, “apropria-se” do patrimônio submerso através de “poéticas visuais” (PROJETO MARALDI 2010). Inserido no contexto das poéticas visuais contemporâneas e constituído por uma apropriação artística submarina site specific, o projeto Maraldi promove discussões e reflexões entre arte e arqueologia de naufrágios, dilatando a dimensão estética das poéticas líquidas e incentivando a preservação dos bens culturais que constituem nossa história. Por se apresentar em um ambiente vivo, o mar, a obra conta com efeitos instáveis que emanam do próprio espaço. O encontro entre arte, natureza e patrimônio gera imagens fluidas e híbridas, como meios para uma possível comunicação (PROJETO MARALDI 2010). Indo ao encontro dos interesses do público recreativo de mergulhadores, tal como argumentei acima, o Projeto Maraldi vislumbra o apreço aos vestígios submersos por sua beleza e historicidade. Tal como vimos o exemplo do artista plástico britânico Mark Dion (Merriman 2004), a arte parte de outros preceitos sobre a expressão do real, e parece ser uma forma riquíssima de trabalho inter(trans/multi) disciplinar. 189 A Bahia é também palco de atividades desenvolvidas pelos pesquisadores universitários. O Projeto “ARCHEMAR – Centro de Pesquisa e Referência em Arqueologia e Etnografia do Mar” está sob administração do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia (MAE/UFBA) e da Prefeitura de Itaparica, tem sido igualmente uma bandeira dessa preocupação (Rambelli 2009), com uma proposta de trabalhos etnográficos concomitantes aos trabalhos arqueológicos e trabalhos de turismo arqueológico, promovendo não só a construção de trilhas turísticas, mas também a participação de mergulhadores nos trabalhos de campo. Apesar de existirem atividades de Educação Patrimonial e turismo em Arqueologia subaquática (I Simpósio Internacional de Arqueologia Marítima nas Américas 2007; Rambelli et alli 2004), o Projeto Archemar é pioneiro nessa empreitada no país, por sua amplitude. Por fim, uma das estratégias na qual a arqueologia subaquática no mundo parece estar apostando seu esforço preservacionista e público é o turismo arqueológico. Desde o início do capítulo, estive discutindo os interesses envolvidos na prática do mergulho recreativo, considerando os mergulhadores como público não arqueológico com o qual a arqueologia subaquática tem mantido relações conflituosas quando se trata do interesse sobre o patrimônio submerso. E uma das tentativas que os arqueólogos têm encontrado para unir a apreciação do mergulhador esportivo com as políticas de preservação é pelas portas já abertas do turismo. Antes de mais nada, uma definição de turismo é necessária. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o conceito em questão compreende em atividades de indivíduos viajando para ou ficando em lugares além de seu ambiente usual, por não mais de um ano consecutivo, por motivos de lazer, negócios e outros propósitos (WTO 1995). O mergulho recreativo é, de acordo com essa definição, turismo. A saída de seu “ambiente usual” durante períodos de recesso escolar e profissional por 190 “motivos de lazer”. E uma das tentativas que os arqueólogos têm encontrado para unir a apreciação do mergulhador esportivo com as políticas de preservação é pelas portas já abertas do turismo. Talvez, o turismo arqueológico submerso mereça atenção mais por inevitabilidade e existência já arraigada na tradição brasileira e internacional do turismo litorâneo. Mesmo que não seja uma atividade de resultados que mereçam sua aplicabilidade ao caso arqueológico, o conhecimento de seu funcionamento e causas me parece necessário como por razões de interação e manejo do que já está instalado. É fundamental lembrar que essa movimentação de indivíduos por “lazer, negócios e outro propósitos” envolve, também, movimentações financeiras: Alojamento, alimentação, transporte, lazer, cultura, atividades esportivas, compras (OMT 1994). Seja um turismo de pequeno porte, como uma viagem de fim de semana de famílias de classe média - baixa, ou de grande porte em resorts ou Cruzeiros, não podemos negar que as movimentações de pessoas e dinheiro fazem do turismo uma indústria cuja previsão de rentabilidade pode chegar a 8 trilhões de dólares americanos em 2010 (12,5% do PIB mundial), segundo a Organização mundial do turismo (Goeldner et alii, 2002 apud Veloso & Cavalcanti 2007). Não podemos ignorar, então, que o turismo é antes de tudo uma indústria, e que isso implica na prioridade lucrativa. Como toda indústria, seu propósito final é o lucro e isso exige uma disposição das partes envolvidas para que o produto final seja consumido pelo cliente de maneira satisfatória e, de preferência, que o encoraje a voltar a consumi-lo. A grande problemática surge no momento da organização dessas disposições, ditadas pelas normas do mercado capitalista exterior aos lugares que receberão o turismo, e no peso que cada uma das partes terá na execução dessas disposições e no usufruto real dos benefícios. A proposta desta parte do capítulo é ver quais poderiam ser os resultados do turismo arqueológico como mecanismo de interação de diferentes setores sociais em conflito pelo mesmo espaço. Ou seja, que grupos se façam perceber uns aos outros em suas diferenças, e que possam, dessa experiência, reavaliar suas próprias visões de mundo (rever-se e revê-los). O espaço de interação seria aquele 191 sobre o qual a arqueologia se debruça e define como patrimônio arqueológico. No caso mais específico desse capítulo, o patrimônio arqueológico subaquático. Ainda neste preâmbulo conceitual, entendo o termo “turismo arqueológico” como uma delimitação temática, referindo-nos à estadia ou passagem por paisagens que contenham vestígios de atividades humanas62. Conseqüentemente, o turismo arqueológico submerso seria a passagem por paisagens imersas que tivessem vestígios materiais humanos. Partindo do principal consumidor do turismo, Doris Ruschmann defende que o turista dos novos tempos, Além de considerar apenas os aspectos naturais, o turista deseja integrar-se plenamente aos fenômenos culturais e considerar a dimensão humana das comunidades receptoras. Trata-se, atualmente, de uma clientela que deseja compreender uma paisagem, reconhecer nela os valores culturais; uma clientela sensível às noções de intercâmbio e ao encontro cultural (Ruschmann 1997, p. 147). Se tomarmos essa premissa em nossa argumentação, podemos sim pensar em excelentes possibilidades relacionais entre arqueologia, turistas e comunidades. E isto não é uma tarefa fácil e que se relaciona, de forma menos distante do que se poderia imaginar, com o Turismo, pois o lazer turístico, centrado numa das mais importantes indústrias da economia mundial, permite integrar pessoas de diferentes origens e pontos de vista, que se enriquecem, culturalmente, pela interação. O Turismo constitui parte de um esforço universal pela preservação da diversidade natural e cultural, tal como propugnada pela UNESCO, face à globalização que tende a tudo uniformizar (Funari 2004, p. única). 62 Turismo arqueológico: “processo decorrente do deslocamento e da permanência de visitantes a locais denominados sítios arqueológicos, onde são encontrados os vestígios remanescentes de antigas sociedades, sejam elas pré-históricas e/ou históricas, passíveis de visitação terrestre ou aquática” (Manzato, 2005 apud Manzato 2007, p. 100). 192 Nesse extrato, Pedro Paulo Funari faz um belo, e otimista, apontamento à capacidade relacional da atividade turística. De fato, o Código de Ética da Organização Mundial do Turismo, em seu primeiro artigo, prega pela “contribuição do turismo ao entendimento mútuo e respeito entre povos e sociedades” (WTO 2001, p. 4). No entanto, o extrato de Doris Ruschmann deixa claro que se trata de suprir as necessidades de uma “clientela”, ávida pelo consumo de bens culturais. Seria possível uma aproximação cultural com benefícios mútuos para local e estrangeiro através do consumo? Vimos, no começo do capítulo que existem diversos elementos envolvidos na apreciação do mergulho, concomitante às diferenças dos mergulhadores: há a reafirmação da virilidade através da conquista de um ambiente inóspito e da coleta de troféus profundos (atividade criticada neste trabalho), o exercício da auto-estima ao percorrer barreiras quase intransponíveis, o delírio das cores da água e dos seres vivos, o medo de cruzar o limite da capacidade humana ao respirar embaixo d’água, a estética do terror na apreciação de naufrágios e estruturas engolidas pelas águas salgadas ou doces (Silva 2007). O mergulho recreativo é o consumo dessas imagens e sonhos. A pergunta é se a arqueologia poderia argumentar pela preservação do patrimônio submerso por essa estética à venda. Como vimos, a arqueologia subaquática tem lutado pela preservação de sítios arqueológicos submersos em nome de um interesse humanitário mundial, e, apesar do receio em lidar com as ferramentas de seu próprio inimigo, tem conseguido bons resultados quando atrela arqueologia subaquática e turismo. O arqueólogo português Francisco Alves mostra uma série de exemplos bem sucedidos do estabelecimento de “trilhas arqueológicas”, que seriam, basicamente, roteiros de exploração submersa ao redor de vestígios materiais (naufrágios em especial) (Alves 2009). Exemplos nos Estados Unidos, Sicília, Croácia e Portugal tem tido ótimos resultados quanto à preservação dos sítios submersos ao passarem pelo tocante da “preservação para apreciação”. 193 “Recentemente (…) comentei que turistas mergulhadores estão procurando pelos vestígios de embarcações que tenham sido preservadas, não naufrágios que foram destruídos por pilhagem” (Alves 2009, p. 88). O Programa de Manejo de Arqueologia de Mergulho Esportivo da Carolina do Sul, que discutimos, obteve os mesmos resultados positivos quanto à experiência (Harris 2002). O caso da Croácia apresentado por Jasen Mesic (2009) é interessante por abordar a dificuldade estrutural de manter diversos “Museus” de material arqueológico retirado do fundo do mar. Apesar do aumento nos esforços para a promoção da arqueologia subaquática no país, ainda há os meios de conservação de todo material proveniente dos trabalhos arqueológicos. Ao mesmo tempo, a intensidade com que a costa croata é visitada por mergulhadores exige uma ação imediata pela preservação do patrimônio imerso. Assim, o turismo aparece como opção adequada para lidar com a questão. Através de um processo peculiar, o governo croata parece ter conseguido promover o turismo consciente em sua costa. A instalação de redomas de malha metálica ao redor dos naufrágios, abertas pelos guias de mergulho só no momento da visita, tem garantido a integridade física dos vestígios, evitando pilhagens fortuitas e mantendo o material in situ como é o mais recomendável, e tem permitido o contato entre os mergulhadores e o patrimônio (há espaço suficiente para a circulação do visitante dentro das redomas) (Mesic 2009). Situação similar a de cercar um sítio arqueológico ou uma reserva natural. O autor afirma que os custos não são tão elevados. Mas além do custo existe a questão de cercamento ser visualmente e espacialmente impactante, podendo prejudicar a experiência do mergulho além de, é claro, indisponibilizar por completo o espaço para aqueles que não estejam acompanhados de equipes de mergulho: a comunidade local de pescadores. O turismo arqueológico pode ser uma empresa tão interessante para o Estado quanto para os turistas, mesmo que ele ainda não tenha se dado conta, 194 como no caso brasileiro (Rios 2010 – Informação verbal63). Tatiana Zamora (2009), ao falar do descaso governamental que atinge o patrimônio subaquático de muitos países da América Latina, termina seu texto com uma citação de George Bass. George Bass, o pai a arqueologia subaquática, diz: ‘ninguem consegue nomear um único país que enriqueceu trabalhando com caçadores de tesouros. Em contraposição, arqueologia subaquática gera milhões de dólares todos os anos em países que adotam uma abordagem conservativa do seu patrimônio cultural submergido, tais como Suécia ou Turquia, onde ambos Vasa e o Museu de Bodruem são atrações turísticas mundialmente conhecidas.’ (Zamora 2009, p. 28). O arqueólogo brasileiro Carlos Rios faz o mesmo apontamento sobre o caso brasileiro, lembrando que nossas águas apresentam condições muito melhores que as de muitos países para apostarmos no turismo subaquático (Rios 2010 – Informação pessoal64). Em 2007, durante um workshop sobre mergulho, tentamos implantar o Turismo Arqueológico Subaquático, onde o mergulhador assistiria palestras explicando que embarcação é aquela (tipo, emprego), qual a sua importância para a evolução da arquitetura naval (material e técnica construtiva), história naval pertinente a mesma, bem como a causa do naufrágio, distribuição dos vestígios arqueológicos, dentre outros assuntos, ou seja, tornando o mergulho “arqueológico-históricocultural”. Infelizmente, possivelmente em face ao grande número de mergulhadores que frequentam o estado de Pernambuco e o seu distrito (Fernando de Noronha), o trabalho não surtiu o efeito desejado. Até a presente data, as operadoras de mergulho poderiam ganhar muito se tivessem uma visão empresarial mais ousada. Ou seja, perde o empresário e perde a população também, pois o estado poderia arrecadar muito mais com todo o valor agregado ao mergulho (hotéis, restaurantes, locadoras de veículos, companhias aéreas, guias de turismo, artesanato etc) (Rios 2010 – informação pessoal). 63 Entrevista concedida por Carlos Rios a Bruno Sanches via e-mail. Recife/Belo Horizonte. 23 de setembro de 2010. 64 Entrevista concedida por Carlos Rios a Bruno Sanches via e-mail. Recife/Belo Horizonte. 23 de setembro de 2010. 195 Gilson Rambelli apresenta também pontos interessantes sobre o turismo arqueológico. Primeiro, se coloca em desacordo quando o turismo arqueológico é rechaçado por certo “ciúme” do pesquisador. Ou seja, quando o pesquisador nega qualquer tipo de atividade sobre o sítio terá importância distinta da sua pesquisa (Rambelli 2010 – informação pessoal65). E que, em segundo lugar, o turismo arqueológico pode sim ser encarado como uma possibilidade nas relações entre a arqueologia e as comunidades locais, através de um discurso que envolva a sustentabilidade. Como as outras pessoas vão se interessar pelo patrimônio submerso, como envolver o pescador de lagosta de uma comunidade do Espírito Santo que vivia próximo de um navio onde trabalhei logo quando comecei a me envolver com o tema no Brasil, em 1993? Essa embarcação era um Clipper inglês onde se pescava lagosta. Mergulhavam com compressor de ar e pescavam lagostas que ficavam nos cascos. Aí chega o arqueólogo dizendo que “isso é agora um patrimônio, vamos estudá-lo, aqui está nossa Portaria do IPHAN e não podem mais mergulhar para pescar lagostas”. Como fazer? Uma vez, estávamos de barco e encostamo-nos à embarcação de uns pescadores que estavam sobre o sítio e dissemos que tínhamos autorização para efetuar a pesquisa. Os pescadores se tivessem armas, certamente teriam atirado. Quer dizer, não é uma situação tão simples. O turismo pode ser uma opção de negociação (Rambelli 2010 A arqueologia subaquática – informação pessoal66). Gilson aponta um dos debates centrais deste trabalho que é a negociação, não do internacional e brasileira tem buscado diferentes maneiras de se relacionar com mergulhadores recreativos, entre elas o turismo. patrimônio como bem alertou Chico Noelli, mas do espaço e como podemos “patrimonializá-lo” também em prol dos interesses locais. Lucio Ferreira lembra que A maioria das comunidades brasileiras é marcada pela pobreza e opressão. Assim, se a arqueologia, conjugada com a Educação Patrimonial, é capaz de fomentar, por exemplo, o desenvolvimento auto-sustentável e o turismo, isso pode colaborar para a melhora das comunidades (Ferreira 2010, p. 6). 65 66 Entrevista concedida por Gilson Rambelli a Bruno S. R. da Silva em Aracajú, julho/agosto 2010. Entrevista concedida por Gilson Rambelli a Bruno S. R. da Silva em Aracajú, julho/agosto 2010. 196 Gilson Rambelli prossegue com o exemplo de Randal Fonseca, mergulhador profissional, cuja experiência de gerenciamento turístico em Fernando de Noronha construiu em pareceria com a comunidade local, restauro e uso dos próprios barcos, além de constituírem a equipe de trabalho e de guias de mergulho. Muitos arqueólogos não consideram o turismo como a melhor opção para o desenvolvimento de uma abordagem pública da arqueologia, pelo menos não da maneira que tem sido conduzido no Brasil. Seu interesse primordial em atender o mercado e sua finalidade lucrativa não se escondem no caso brasileiro, e o turismo submerso, em sua maioria, não tem tomado outro rumo além daquele que favorece as operadoras de mergulho (Duran 2010 – informação pessoal 67 ; Noeli – informação pessoal 68 ; Rios 2010 – informação pessoal 69 ). Por fim, podemos ver nos comentários de Ricardo Guimarães, arqueólogo subaquático da Marinha, e Chico Noelli uma resolução geral entre os profissionais da área: o investimento arqueológico no turismo deve entendê-lo como parte de um projeto cultural maior, de modo que o turismo seja regido por um interesse cultural maior e não que o projeto cultural se submeta cegamente às regras do mercado (Noelli 2010 – informação pessoal 70 ; Guimarães 2010 – informação pessoal 71 ). Além do mais, a implementação do turismo, seja em sítios arqueológicos seja em Museus, é 67 Entrevista concedida por Leandro Duran a Bruno Sanches via skype. São Paulo/Belo Horizonte. Abril de 2010. 68 Entrevista concedida por Francisco Silva Noelli a Bruno Sanches via e-mail. Pelotas e São Paulo/Belo Horizonte. Junho de 2010. 69 Entrevista concedida por Carlos Rios a Bruno Sanches via e-mail. Recife/Belo Horizonte. 23 de setembro de 2010. 70 Entrevista concedida por Francisco Silva Noelli a Bruno Sanches via e-mail. Pelotas e São Paulo/Belo Horizonte. Junho de 2010. 71 Entrevista concedida por Ricardo Guimarães. Rio de Janeiro. Abril de 2010. 197 muito mais do que a instalação de cordas, placas e disposição de material sobre mesas (Bava de Camargo 2010 – Informação pessoal72). É necessário um planejamento de aproveitamento cultural, de estudo sobre os possíveis impactos que o aumento do fluxo de turistas, respeito às necessidades das comunidades locais que podem ou não querem fazer parte do turismo (desacordo que poderia inclusive inviabilizar a empreitada), além de movimentação dos turistas em prol de um aproveitamento consciente da visita. 5.4. Comunidades costeiras, arqueologia e o impacto do turismo A proposta turística de interação social em larga escala possui seus atrativos. Por ele, podem encontrar-se no mesmo espaço o Estado Nacional através de políticas públicas de preservação e manejo, empreendedores particulares interessados em participar dos jogos do mercado, consumidores dos empreendimentos públicos e particulares (os turistas) sedentos por novidades e pesquisadores com projetos em idílicos paraísos. O questionamento que aqui proponho é sobre o impacto da industrialização da imagem e do contato sobre as comunidades receptoras. É uma indagação que não dista muito do que já venho refletindo neste trabalho a respeito da visibilidade e representatividade das comunidades locais em atividades exteriores ao seu cotidiano. Por um lado, a arqueologia durante o licenciamento; Por outro, o turismo: “Onde estão as comunidades locais? Os caiçaras, pescadores tradicionais, quilombolas, pequenas comunidades que vivem nesses “idílicos paraísos”, últimos redutos da vida pouco urbanizada? No contexto de um Estado multicultural que pende fortemente para o apoio do selvagem jogo do capitalismo, tendendo a satisfazer em primeiro lugar os consumidores diretos do mercado, seria o turismo de fato a melhor opção para as comunidades receptoras? E como o trabalho do arqueólogo pode pesar sobre o cotidiano dessas comunidades? 72 Entrevista concedida por Paulo Bava de Camargo via skype. São Paulo/Belo Horizonte. Maio de 2010. 198 Os habitantes da costa estão quase ausentes da literatura arqueológica subaquática no Brasil e no exterior. A meu ver, isso se deve ao momento em que se encontra a prática da arqueologia submersa, em especial no Brasil. A preocupação com os reveses de uma disciplina sobre o público não acadêmico fica difícil quando os próprios pares ainda tem dificuldade de reconhecê-la como parte da disciplina. Junto com essa constatação, pude ver que havia uma extensa bibliografia em arqueologia, turismologia e antropologia sobre o impacto do turismo nas comunidades receptoras, com alguns casos em comunidades litorâneas. Assim, o turismo mais uma vez veio a calhar como um intermediário entre as atividades sociais no espaço litorâneo e submerso. Apesar da relação indireta estabelecida aqui entre a disciplina arqueológica e as comunidades receptoras, a proposta deste trecho é que caso a arqueologia venha se envolver na proposição e gestão de um projeto de turismo arqueológico é imprescindível que ela devote tempo e atenção ao impacto que poderá ser exercido sobre as comunidades locais. Um pouco mais além, transmitir também a sugestão de que os interesses dessas comunidades sejam considerados em posteriores trabalhos arqueológicos, independentemente do turismo. Ao falar do impacto que o turismo pode exercer sobre essas comunidades locais receptoras, Alexandra Campos Oliveira as define como: Trata-se sim de localidades cujas populações são ditas tradicionais e que vivem (ou viviam, anteriormente ao processo de desenvolvimento turístico), basicamente, da pesca e da agricultura de subsistência, bem como municípios interioranos que não se inserem tão amplamente, em termos relativos, na economia global. Estes locais (municípios ou regiões de um município) correspondem à grande parte dos destinos "descobertos" pela atividade turística, por suas peculiaridades naturais e culturais preservadas, representando uma alternativa de fuga do cotidiano aos indivíduos dos conglomerados urbanos (que, por sua vez, correspondem em grande medida ao mercado consumidor de turismo) (Oliveira 2005, p. 76). A antropologia possui muito mais a dizer sobre comunidades tradicionais, mas acredito que o turismo apresenta um conceito interessante e mais abrangente para o caso em questão. “Comunidade receptoras” faz referência 199 às populações que vêem o turismo chegar-lhes às portas sem aviso prévio e ameaça modificar completamente seu estilo de vida. Preocupada com o que chama de “turismo sustentável”, Doris Ruschmann aponta para as vantagens e desvantagens que o turismo ecológico exerce sobre as comunidades receptoras. A Valorização do artesanato, da herança cultural, do orgulho étnico e a preservação do patrimônio histórico são contrapontos das possibilidades de descaracterização do artesanato, da banalização das manifestações, arrogância cultural (transformação do turismo em show de esquisitices e excentricidades) e destruição do patrimônio histórico (Ruschmann 1997). O manual de introdução ao turismo da Organização Mundial do Turismo (OMT 2001) atenta para a mesma fragilidade do sistema turístico. (...) ao contrário de outras empresas, o turismo leva os consumidores ao produto e não o produto aos consumidores. Isso faz do turismo uma indústria particularmente frágil, vulnerável às mudanças do entorno natural, cultural e econômico, assim como a qualquer variação e incidente que aconteça nos limites de uma região. Por exemplo, a poluição de uma praia ou um ato criminal de grande cobertura jornalística podem ter conseqüências devastadoras sobre o próprio local (OMT 2001, p. 243). O perigo do turismo é seu próprio consumo, capaz de atingir níveis desmesurados até esgotar a capacidade de fornecimento de seu próprio produto e da exaustão dos habitantes locais. O impacto do turismo arqueológico sobre comunidades receptoras tem sido motivo de intenso debate dentro do turismo, da antropologia e da arqueologia. Alexandra Campos Oliveira dedica alguns trabalhos ao tema, argumentando com uma série de problemas gerados a essas populações por conta do turismo excludente. Seu caso é a vila de Trindade em Paraty/RJ: problemas imobiliários (deslocamento das populações, que dão lugar a hotéis, resorts e espaços recreativos), inflacionários (o comércio é impulsionado pelo turismo, mas a população não 200 tem meios para sustentar-se na nova realidade dos preços), ambientais (esgotos despejados no mar pelos hotéis é apenas um dos exemplos que a autora cita, e as comunidades, negligenciadas pelos recursos municipais, são as mais atingidas pela devastação), sócio-econômicos (dependentes da sazonalidade do turismo, impossibilitados de manter seu modo de vida tradicional, e de recursos do subemprego, prostituição e tráfico de drogas), cultural (reproduções baratas de seus ritos e festejos), paisagísticos (o espaço costeiro transforma-se num litoral paradisíaco artificial que, no entanto, perde vida, pois perde viventes), renda (mutação do modos vivendi tradicional de maneira expressa e sem conteúdo funcional, apenas uma necessidade de se aproximar do conforto e luxo ao qual os turistas tem acesso) (Oliveira 2005). O consumo turístico não se resume apenas a imagens e paisagens. Como nos advertiu Doris Ruschmann. O turista dos novos tempos espera apreciar o contato cultural como parte da experiência lúdica e construtiva, de seu otium cum dignitate (Corbin 1989). E justamente o consumo do contato pode gerar graves desconcertos. A atividade turística está sujeita as inter-relações entre os habitantes locais e os próprios turistas com interação nos dois sentidos. Os turistas podem causar impacto negativo nas culturas que visitam (se vêm em grande número) e, de outro lado, o próprio crescimento turístico pode levar os habitantes do lugar a uma certa recusa das atividades turísticas devido ao incômodo a que vêem submetida sua vida diária (OMT 2001, p. 244). Em outro texto sobre a Vila de Trindade, Oliveira nos apresenta mais relatos dos moradores da vila que, desde que percebem a forte presença em suas praias de turistas estrangeiros vindos de Paraty, passam a tomar frente na demanda pelo manejo das atividades turísticas em seu espaço. No entanto, dizem que a prefeitura pouco atende a suas exigências, e toma atitudes que valorizam sempre a intervenção de empresas de fora na estruturação da Vila para receber o turista. Como foi o caso do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Paraty, criado por uma empresa de São Paulo a pedido da prefeitura de Paraty, e que nunca chegou a dialogar com a população da Vila na implementação do Projeto. Em uma das entrevistas feitas 201 por Alexandra Oliveira a Guadalupe Lopes, presidente da ONG local Caxadaço Bocaina Mar, Guadalupe conclui que a Prefeitura, ao invés de oferecer apoio à população, só a prejudica: "[a Prefeitura] quando quer ajudar, só atrapalha. E sempre pega na coisa pior que é o lixo e o esgoto. Não deixa a gente resolver, não dá uma força pra gente conseguir fazer isso". Ainda, Guadalupe conclui: "até onde eles vão querer chegar? Acho que eles vão querer dar mais um tempo para destruir as comunidades, porque quem fica aqui somos nós. A população começa a ficar enfraquecida, doente, começa a vender suas terras e pronto. Há um interesse por parte de Paraty em Trindade, mas não é com a comunidade que está presente (...)” (Oliveira 2004, p. 39). Nesse contexto, não é de se estranhar que surjam embates entre moradores das comunidades receptoras e turistas (quando não temos a interferência do poder público em nome dos turistas), como o caso descrito por Rosane Prado em Ilha Grande/RJ (Prado 2003). A partir da década de 1970, a dinâmica turística na ilha aumentou sem precedentes, e, atrelado à queda da prática artesanal da pesca, empregou a maior parte de seus habitantes. Nesse momento começam a surgir enfrentamentos entre os moradores e os não moradores pelo controle do território, visto de maneiras diferentes por cada uma das partes. Os turistas e empresários do turismo recém chegados na região, consideram-na como um paraíso a ser preservado e estruturado para a visitação e exposição dessa grande beleza natural. Assim, sendo Ilha Grande um enorme domínio natural, lhe restam dois destinos: Conservação ambiental ou turismo ecológico sustentável, comandados, respectivamente, por técnicos do meio ambiente e empresários das grandes cidades. A visão paradisíaca é reforçada hoje pela mídia moderna que vende a ilha como símbolo do natural, do primitivo e do único. Ela se torna cada vez mais o domínio do que é sonhado, idealizado, como o espaço de liberdade, de prazer da aventura para o homem moderno, alienado e pressionado pela sociedade urbano-industrial (Diegues 1998, p. 110-111). Vemos, nesse caso, que mesmo a apreciação natural pode ser motivo de conflito, na medida em que essa visão idílica pode extrapolar a realidade local, exigindo uma negação da “intrusão humana” em prol da construção de uma imagem de “natureza intocada”. 202 Ou seja, além da desestruturação do modo de vida pelo qual as populações locais garantiam sua sobrevivência, o turismo pode ter um impacto enorme sobre as configurações do ambiente em que vivem essas comunidades, afetando seus referenciais paisagísticos e estratégias de compreensão do mundo e seus fenômenos. Se, inicialmente, o espaço desempenhava, para a população local, o papel de "mediador para a vida e as coisas acontecerem (...); de referências geográficas, psicológicas (lúdicas, afetivas), informativas (...) e, sobretudo, de alimento a memória social" (idem, p. 33), pode, a partir do turismo, passar a exercer os papéis de mero receptáculo para o turista e de lucros para alguns (Oliveira 2005, p. 76). Francisco Gil fala sobre o caso, não submerso, mas que toca no ponto que aqui desenvolvo, da região de Lípez (Bolívia) em que vemos posta em ação de um Plano para reorganização do turismo local em favor das comunidades receptoras. Nesse caso, ele aponta para o irreversível da ambiguidade que se gerou quanto à significação de seu próprio patrimônio paisagístico. O turismo marca um antes e um depois na concepção dos sítios arqueológicos por parte do pensamento local. A partir da perspectiva tradicional (ou melhor, tradicionalista) as ruínas constituíram contornos liminares, localizando as fronteiras espaços-temporais da comunidade e habitados por formas extremas de alteridade selvagem pertencentes ao passado; no entanto, não podemos deixar de observar como hoje em dia os locais mantêm uma atitude ambígua em relação às ruínas e outros vestígios arqueológicos, ao invés de respeito (inclusive, com remanescentes desse terror tradicional) e de dessacralização utilitária em benefício de sua exploração turística (Gil 2009 apud Gnecco 2009, p. 8, nota 5). Por um lado, acredito que não podemos simplificar as vidas dessas comunidades num módulo de execução de atividades diárias e compreensão cósmica estática que perde sua pureza no contato com qualquer vulto da contemporaneidade. Inclusive, tentei argumentar no capítulo anterior pela dinamicidade como elemento intrínseco à sociedade, que deve ser considerada nos momentos de reivindicação de território ancestral. Ou seja, dizer que o turismo “descaracteriza” remete a uma tentativa única de definir a essência de 203 uma população através de parâmetros que nós atribuímos como típicos e, pior, estáticos. Por outro lado, o “impacto” do turismo que se insere nesse trabalho refere-se, não à “descaracterização”, mas à completa desestruturação dos modos de sobrevivência e de referências espaço temporais da população, pois a maneira como o turismo se desenvolveu nos casos citados não foi à maneira do contato, mas da intrusão simples e bruta. O turismo subaquático pode gerar os mesmo problemas, pois contribui com o inchaço estrutural das comunidades receptoras e com a transformação do espaço subaquático e litorâneo na reprodução do Oasis predileto do(a) mergulhador(a) (Diegues 1998). O resultado extremo das impressões idílicas que mais atraem no mergulho é a transformação de um espaço social em espaço paradisíaco individual e egoísta (a mesma situação fantasiosa que leva ao depredo do patrimônio cultural). O conceito do Território do Vazio é argumentado por Alain Corbin como relativo à apreciação litorânea pela população urbana européia desde o final do século XVIII, até meados do século XIX (Corbin 1989). A intensidade do processo de urbanização nos preâmbulos da revolução industrial atinge o íntimo do indivíduo que habita o cerne desse turbilhão de novas experiências. A intensidade com que vive as novidades é tamanha que chega a comprometer a sanidade da sensibilidade individual. O spleen73, de acordo com Corbin, é o cansaço, a supressão das emoções provocada pela explosão de atividades que circundam a vida urbana. A cura para os excessos da vida privada e contida da burguesia urbana encontra-se em seu oposto, no território onde não há nem propriedade nem vida urbana; para curar os males do território excessivamente civilizado, só o território isento de domínio humano (Corbin 1989). “Esse território do vazio, onde a propriedade é abolida, onde o objeto readquire sua disponibilidade original, aparece nesse domínio também, como o lugar de uma legítima colheita” (Corbin 1989, p. 241). 73 Spleen em inglês significa baço, órgão ao qual a medicina atribuía a libração do humor da melancolia. Por vezes também associado com a alegria em excesso. Podemos assim compreender a referência ao spleen como momento de tédio a partir do fim do século XVIII, e mesmo como uma alegria exacerbada, podendo saturar os nervos e levar à uma insensibilidade extrema (Corbin 1989). 204 Podemos ver o stress como a nova modalidade do spleen das sociedades urbanas na atualidade. O caos, poluição dos carros, o calor do asfalto e a impessoalidade dos vidros e aços confinam o espírito humano, e o indivíduo urbano busca desesperadamente um entorno que o livre do cotidiano mecanizado. Só a ausência da cidade pode curar os males tão profundos criados por sua presença. Para recuperar as emoções feitas inelásticas pelos excessos da civilização, apenas a ausência da civilização. Eis que vemos a natureza, a pureza que conseguiu sobreviver ao avanço da civilidade, a primordialidade em liberdade. É desse paradoxo que vem o turista de nossos tempos. Assim, como a atividade turística e o meio ambiente apresentam um relacionamento paradoxal, que é o uso turístico de um espaço, protegendo-o, também o comportamento do turista de espaços naturais se mostra contrastante. Ele deseja ver uma natureza intocada, mas quer tocar os animais; quer “viver a natureza”, porém com conforto e segurança; quer a natureza “pura”, porém acessível (Ruschmann 1997, p. 147). É o desejo irrestrito do contato, a curiosidade despertada pelo desconhecido, o medo suscitado pelo desconhecido, de sentir algo pela primeira vez depois de meses em clausura. Enfim, a eternidade insaciável da civilização, sendo a desapropriação de populações tradicionais, especulação imobiliária de terras caiçara e a pilhagem de sítios submersos alguns exemplos da faceta mais desagradável dessa sede civilizatória. “‘Viver a natureza’, porém com conforto e segurança” (RUSCHMANN 1997, p. 147) só pode significar domesticar a natureza e o espaço, para que ela seja selvagem só enquanto bela e civilizada só quando tiver já prestado seu encanto. O exemplo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (Maranhão) apresentado por Álvaro Oliveira D’Antona (2000) trata dessa situação. Aqui estou entrando pelos meandros que não dizem respeito diretamente à arqueologia, mas que revelam problemas derivados de uma situação similar à arqueologia: a “patrimonialização da natureza”. A criação do Parque Nacional não levou em conta os meios de vida da população das diversas localidades ao redor e no cerne do que viria a ser o parque. Na mesma direção que venho 205 argumentando, a necessidade de encontrar espaços que permitam a reconstituição da pretensa “originalidade” da natureza é uma atitude da vida urbana moderna que se vê desesperada pelos excessos do vidro e concreto. O modelo de preservação em parques deve ser entendido como uma conseqüência da Modernidade; de um padrão peculiar de degradação e preservação ambiental. O parque é aquele lugar da natureza distante que compensa a aceleração do ritmo de vida pois, nos devidos tempos, as pessoas podem se deslocar fisicamente até ele ou evocá-lo em suas memórias para atenuar a insatisfação da vida urbana (D’Antona 2000, p. 125). Esse modelo de cercamento territorial tem mostrado inúmeras facetas negativas, “tais como a expulsão de moradores; reassentamentos inadequados que tiram das populações os elementos de subsistência material e cultural; instalação de infra-estrutura para o turismo” (Ghimire 1992 apud D’Antona 2000, p. 125). A situação criada por um Parque Nacional mal planejado e mal estruturado leva ao conflito entre a comunidade local, os órgãos de gestão do Estado e o turista. Por um lado, a população não se vê representada nem ouvida pelas instâncias governamentais de gestão do Parque, pois ela é proibida de fazer coleta de material da reserva. “No ano passado até a madeira seca, se tivesses a canoa cheia, eles tava pegano. Agora eu quero sabê porque que eles queria aquela madeira seca. Se ela tava dentro do mangue, seca...” (interlocutor – informação pessoal apud D’Antona 2000, p. 13174). Por outro, o próprio IBAMA não tem estrutura suficiente para impedir atuação dos principais destruidores da reserva, os grandes barcos de pesca de camarão que vêm de todo país ao litoral maranhense (D’Antona 2000, p. 131, nota12). Finalmente, a criação do parque força a interação entre turistas e moradores, sempre em constante descompasso de interesses pela terra. Na superficialidade do turista (por exemplo), assim como na intensidade do residente, se patenteia a desigualdade de relacionamento com o lugar onde se instala o parque. O turista coleciona imagens, aprecia paisagens, enquanto o morador 74 Transcrição de entrevista concedida a D’Antona por interlocutor (morador da região) não identificado. 206 manifesta profundo apego à terra e um conhecimento da natureza (D’Antona 2000, p. 126) específico Para lembrar o caso dos pescadores de lagosta colocado por Gilson Apesar da preocupação com o uso público do patrimônio submerso preservado, a literatura especializada, internacional e nacional, tem dado pouco espaço para reflexões sobre o impacto do turismo e do trabalho arqueológicos sobre comunidades costeiras. Rambelli, a condição imposta pela posse patrimonial do Estado pode ser motivo de sérios conflitos com grupos sociais que, em geral, são excluídos das decisões democráticas da nação. Como vimos no capítulo anterior, a inserção dos espaços dentro de categorias de manejo sociais impostas pelo Estado correm o risco de ignorar os modos de vida de populações alheias à vida capitalista e urbana, suplantando-as pelos valores de mercado e sustentabilidade em nome da “nação”. O problema é que tais significados construídos localmente chocam-se com os princípios da ideologia desenvolvimentista anunciada pelo Estado. A pluralidade de sentidos atribuídos ao território no local contrasta, portanto, com a concepção uma e homogeneizante de desenvolvimento formulada, na maioria dos casos, em nome de uma entidade englobante representada genericamente pela idéia de nação (Zhouri & Oliveira 2005, p. 55). Voltamos ao receio dos capítulos anteriores de retomarmos o colonialismo. Como bem lembrou Gilson Rambelli e os demais entrevistados, as populações costeiras vivem uma realidade marítima, social e econômica diferente da nossa, e não podemos simplesmente chegar e dizer “isso agora é patrimônio, não mergulhem, não mexam”. Há a necessidade de negociação do espaço, entre o patrimônio e seu uso social. O turismo neste caso é apenas um dos problemas que vem desestabilizar as comunidades receptoras, mas temos que atentar para os resultados de nossas posturas durante a realização de nossas pesquisas, pois vimos alguns casos em que não somos bem vindos. Acredito que a distinção entre um turismo que permita seu aproveitamento pelas comunidades locais e um turismo que as transforme em parte inerte do quintal de veraneio do indivíduo urbano é o poder. Quem tem o controle do andamento da situação. A intrusão do turismo interfere na 207 estruturação social das populações, e tira-lhes, assim, o controle sobre suas atividades (concepção de tempo, técnicas de subsistência, produção de conhecimento, dinamismo social), o que vai além da simples “descaracterização”. Os ideais do paraíso perfeito são supervalorizados pelo mercado, e, se não tomarmos cuidado, sua execução pode arrastar pelo asfalto qualquer paisagem indigna de sua benevolência. Alexandra Oliveira atenta para a força com a qual a comunidade de Vila da Trindade vem buscando retomar a posse das atividades em seu território através do controle do aparelho turístico que lhe fora imposto. Axel Nielsen, Justino Calcina e Bernardino Quispe, apresentam o caso de populações indígenas do Altiplano Sul, região de Lípez, na Bolívia (divisa com Argentina, Chile – o mesmo citado na argumentação de Francisco Gil). O projeto Lakaya foi uma tentativa de atender às demandas de valorização de sítios locais feitos aos arqueólogos pela comunidade local, que sofria com as atividades turísticas vindas de fora. O turismo na região desenvolveu-se nas décadas de 1980 e cresceu muito em 1990, como atividade exterior às comunidades, sendo que até o momento elas possuíam pouca participação no manejo da atividade. Ele surgira de maneira “espontâneo” (ou seja, sem planificação alguma e como resultado de iniciativas privadas isoladas) e “exógeno” (ou seja, não foi escolhido pela população local, que tampouco tem a oportunidade de intervir em seu desenho, desenvolvimento e administração) (Nielsen et alli 2003, p. 372). Desse modo, o turismo estava atingindo de maneira negativa as comunidades por criarem desigualdades entre elas, pois apenas as mais próximas das estradas eram chamadas pelas agências de turismo para participarem do esquema de alojamento durante a trilha. Quanto ao patrimônio arqueológico, o turismo o impactava diretamente (depredo por parte dos turistas) e indiretamente (fomento do mercado de antiguidades por parte da população local). 208 Percebendo a marginalidade em que se encontravam em relação ao turismo que acontecia em suas próprias terras, as comunidades locais dirigemse aos arqueólogos, “estrangeiros” mais presentes com maior regularidade no território com suas pesquisas, na demanda pela maior participação no turismo local, ou melhor, pelo controle das atividades desenvolvidas em seu espaço (Nielsen et alli 2003). Durante o desenvolvimento do “Projeto Lakaya”, os autores definem como duas as estratégias principais de ação: a “auto-gestão” e a “interculturalidade”. O primeiro pressupõe a participação ativa da comunidade ou seus líderes “em todas as instâncias de desenvolvimento do trabalho, desde sua planificação e desenho à investigação e execução das tarefas, criação de organizações e avaliação de resultados” (Nielsen et alli 2003, p. 374). A interculturalidade parte do princípio da “busca de um equilíbrio entre as lógicas culturais da comunidade local, da equipe técnica e de outros agentes que participem no processo (turistas, agências e turismo, instituições de financiamento, etc.)” (Nielsen et alli 2003, p. 374). Os autores apresentam o início do trabalho como muito positivo. Os sítios arqueológicos a serem estruturados para visitação, os rituais a serem apresentados aos visitantes, os alojamentos destinados aos turistas, foram selecionados pela população local. Além disso, o Projeto direcionou esforços para que a maior parte possível de recursos fosse destinada à população local, bem como a restrição das áreas em que os turistas podem circular, a quantidade de pessoas que podem visitar o local por ano, bem como um plano de controle de resíduos e a tentativa, junto ao Estado, de transformar a área em um Parque Arqueológico com administração entregue as comunidades locais (Nielsen et alli 2003). Além de atender as reivindicações da comunidade de participação no mercado turístico, visando aproveitar os benefícios de um fluxo humano existente em sua área, o turismo proporcionou uma revalorização do patrimônio arqueológico local (embora não possamos esquecer a argumentação de Francisco Gil - Gil 2009 apud Gnecco 2009) e a construção de uma estrutura 209 de auto-afirmação frente aos estrangeiros visitantes. As festas e ritos a serem apresentadas aos visitantes não caracterizaram uma simples etapa estética para ambos, comunidade receptora e grupos visitantes, mas um momento de vivência conjunta, de encenação social perante o estrangeiro perplexo, atrair os olhares e a compreensão do outro no reconhecimento de si, uma dramatização social de reafirmação e reconhecimento. Enfim, será que o turismo arqueológico serve ou não serve? 5.5. Ao território dos lugares Finalmente, cabe retornar ao envolvimento da arqueologia nessas tramas sócio-políticas. Meu propósito nesse item não foi desencorajar a luta pela identificação e preservação do patrimônio arqueológico. Retorno à postura que havia tomado no início desse trabalho de acreditar, como estudante de arqueologia, que a luta pela preservação dos vestígios arqueológicos, emersos ou submersos, vale a pena. Em primeiro lugar: posicionar determinado espaço sob a tutela jurídica do patrimônio cultural e arqueológico é sim um exercício de poder do Estado, mas é uma medida que torna o espaço público – em seu sentido mais simples de oposto ao espaço privado/individual (Sennet 1989). A principal lei de manejo e salvaguarda do patrimônio arqueológico brasileiro, a Lei 3924/61, retira o patrimônio arqueológico das políticas dedicadas à propriedade privada e criminaliza seu uso comercial (Funari & Robrahn-González 2008). Ou seja, o bem cultural passa a ser de propriedade da União, inalienável ao indivíduo privado e de usufruto coletivo. O que me leva ao segundo ponto que é “como fazer desse patrimônio um usufruto coletivo?” Apesar de uma origem patriarcal e hereditária, o conceito de patrimônio tem sofrido intensas alterações desde o final das guerras mundiais, e começa a abrir suas acepções às diversidades que clamam por representatividade perante as fontes oficiais de história e de memória. As principais cartas internacionais sobre o patrimônio cultural e arqueológico, a exemplo, apontam como essencial a participação do público – 210 agora com o sentido mais restrito de “grupos sociais quaisquer além do técnico científico” – na identificação e gestão do patrimônio cultural. O caso mais específico da legislação brasileira, como vimos, ainda não reforça essa importância, mas deixa clara a necessidade de que o patrimônio seja “representativo da história e memória da nação”. Ora, e quem avalia o caráter nacional e representativo da memória, paisagem, expressão cultural? Nós, os técnicos sobre o passado e sobre a cultura: historiadores, antropólogos, arqueólogos, indigenistas, arquitetos, sociólogos... Enfim, os “cientistas humanos”. O que me leva ao terceiro ponto sobre a patrimonialização? Nos dois capítulos anteriores pudemos ver como as políticas de Estado e atuação de profissionais fortemente atrelados às entidades governamentais têm o poder de definir quem faz e quem não faz parte do jogo, quem é e quem não é representado. A arqueologia possui uma articulação fundamental na transformação desses espaços em patrimônio de uso coletivo. Os últimos 20 anos têm sido de intensos debates, tanto no Brasil quanto no exterior, sobre o reconhecimento do papel social do arqueólogo e da necessidade de uma ética profissional que atenda às demandas por uma postura política. A arqueologia pública é uma das respostas a esses debates, apresentando-se, a meu ver, como um conceito-chave que abre as portas da disciplinas para questões de cunho ético e questionadores de sua autoridade e papel social. Vimos como seu termo expressa diversas tendências de pesquisa, desde a arqueologia no cinema à arqueologia do conflito armado. Essas diversas tendências são a justa expressão da potencialidade que nossa disciplina possui para lidar com conflito, a diferença e sugerir perspectivas diversas sobre o passado. Quanto ao turismo, acredito que seu principal problema é sua inevitabilidade. Em especial no caso subaquático. O litoral é um dos principais atrativos turísticos do nosso país, seja para o brasileiro seja para o estrangeiro. Ao mesmo tempo, é um espaço que congrega anos de naufrágios e de história de um pedaço de terra que foi invadido pelo mundo moderno através da navegação. Além, logicamente, dos milhares de anos em que fora habitado por diversas populações antes do início da colonização européia. O mergulho 211 recreativo é uma atividade, se não completamente estrangeira, caracteristicamente urbana e essencialmente de lazer. Ou seja, o vínculo que esse público estabelece com os vestígios humanos submersos é através de uma atividade turística. Talvez o investimento em projetos de pesquisa que envolva alcance desse público específico sejam uma das melhores propostas para tornar o lazer mais instrutivo. Mais uma vez, volto a dizer que não vejo descrédito nos projetos de alcance e educação. Acredito que a arqueologia, como no caso do mergulho recreativo, pode prover o público com abordagens da realidade e do passado que possam ser-lhes úteis (Zanettini 2009). O problema advém de quando a arqueologia confunde aprendizado com imposição. Quanto às populações tradicionais, acredito que a patrimonialização pode sim contribuir com a salvaguarda de um ambiente cujo risco de alienar-se do interesse público e passar a mãos privadas é cada vez mais forte. A arqueologia subaquática brasileira e internacional tem se preocupado, desde seu surgimento nos anos 1960, com a efetivação da patrimonialização para o coletivo, em transformar os vestígios humanos submersos em lugares de memória e apreciação social, ao invés de jazidas de riquezas a serem exploradas. No entanto, a literatura especializada parece ter deixado de lado um outro setor da sociedade, aquele que recebe os mergulhadores e que vive constantemente nas regiões costeiras. Através de conversas com pesquisadores do Brasil e exterior, fui informado, muitas vezess de ações e projetos que envolvem as comunidades costeiras mais próximas aos sítios. Mas essas experiências não são publicadas e, quando muito, são expressas em encontros e congressos. Qual seria a razão da não publicação? Descaso? Receio de não ser um tema acadêmico? A preocupação com o envolvimento do público não arqueológico é recente no mundo e no Brasil. Mas apesar das diversas razões que possam ter levado a essa omissão, acredito que teremos que começar a expandir nossa percepção do outro para além dos mergulhadores e das empresas de salvatagem. Trata-se, também, de uma questão de legitimidade de nosso discurso de proteção, mostrar que existem outros interessados naquele mesmo espaço e que sua destruição pode 212 interromper uma importante fruição comunitária. Acredito que a mudança da legislação venha a contribuir muito para essa postura, legitimando o patrimônio civil e coletivo, e a necessidade de sua proteção contra o depredo. Mas cabe à arqueologia e às demais disciplinas consagradas mestras do conhecimento humanista fazer desse patrimônio algo mais que casas de barões do café (Funari & Pelegrini 2006). Não que a arqueologia possa resolver os problemas da sociedade moderna, mas me parece sensato atuar na medida do que nos é referência: pessoas e suas coisas. 6. Conclusão – Das pérolas, só as ostras Minha proposta com essa pesquisa foi buscar exemplos e maneiras de conduzir o trabalho arqueológico através da perspectiva da arqueologia pública, e tentar comparar esses exemplos ao contexto nacional na tentativa de refletir sobre debates e embates surgidos do choque entre interesses do arqueólogo e do público leigo. Foi dada especial atenção ao caso da arqueologia subaquática no Brasil, contexto que de início direcionou a realização deste trabalho. Uma das conclusões é sobre o campo normativo da lei. A legislação e as políticas públicas são as principais maneiras de exercício de poder do Estado nacional e a principal forma de legitimidade da atuação arqueológica perante à sociedade. No entanto, isso não significa que elas sejam nosso porto seguro. Vimos que a seleção, julgamento e gestão das coisas e pessoas públicas é um papel inerente ao Estado Nacional. E a pressão exercida sobre a sociedade durante o exercício dessa gestão pode suprimir diversos de seus setores com os quais o Estado simplesmente não sabe com qual categoria rotular. Ao mesmo tempo, as brechas na legislação e normas de conduta fornecidas pelas 213 entidades governamentais exigem que o arqueólogo possua uma postura própria, com respaldo de seus pares e uma ética condizente com seu papel social. Num país cuja constituição é aclamada como uma das mais democráticas do mundo e que, ainda assim, é um dos mais desiguais países do planeta, devemos ter claro que a lei não é tudo. Ainda preocupado com o caráter normativo do conhecimento arqueológico, vale lembrar que a arqueologia é filha do colonialismo e do imperialismo. E o Brasil não é exceção dessa gênese. Ainda hoje, somos convocados a participar das políticas públicas e da construção da memória oficial através de trabalhos de consultoria. Esse vínculo com políticas de Estado não só nos legitima, como legitima a atuação do próprio Estado na gestão de seus cidadãos: a arqueologia é de fato um setor estratégico (Funari & Carvalho 2009) na gestão da diversidade social, e não podemos esquecer do impacto de nossas decisões e discursos. Por essa razão, não podemos mais abordar o público leigo através de uma “alfabetização cultural”, quando nos cabe, a meu ver, lutar pela expressão da multivocalidade através do patrimônio arqueológico. A abordagem que chamo de “arqueologia pública”, interessada em contextos de conflito e dissonâncias (Merriman 2004a), tem abraçado essas reflexões sobre a responsabilidade social da disciplina e sua relação com os diversos públicos. De maneira ampla, busquei formas pelas quais a arqueologia poderia se relacionar com os públicos leigos, sempre tendo em vista a necessidade de abrir-se às demandas sociais e, muitas vezes, negociar o uso dos espaços antes de se tornarem patrimônio (Silva 2010). Entre os temas evocados pelo termo “arqueologia pública”, estão o manejo de recursos culturais (Davis 1972), a arqueologia como cultura popular (Holtorf 2005, 2007), a arqueologia e a mídia (Pyburn 2008), a democratização do conhecimento científico (Faulkner 2004), as utilidades públicas da arqueologia (Little 2002), o empoderamento de grupos subordinados (Shackel 2004), a arqueologia em meio a conflitos de interesses pelo passado (Merriman 2004) e a arqueologia comunitária e colaborativa (Marshall 2002). Há muito mais além da “alfabetização cultural” a ser pensado. 214 O desenvolvimento da arqueologia subaquática no Brasil, seguindo uma tendência internacional, tem defendido fortemente a reconfiguração da política nacional em prol da preservação do patrimônio cultural subaquático. Frente à minha argumentação sobre o “patrimônio” como um conceito jurídico, acredito que a luta dos profissionais da área rumo à patrimonialização adequada dos vestígios submersos garante a segurança de usos desse espaço que atendem a um interesse público muito maior que a apropriação privada desses vestígios (Funari & Robrahn-González 2008). Cabe, no entanto, o devido cuidado na construção desse lugar da memória (Nora 1984) específico que é o patrimônio arqueológico, uma vez que a atual postura “multicultural” do Estado brasileiro pode abusar desse patamar jurídico para fagocitar setores extraviados das políticas estatais, ou forçar a imersão desses setores extraviados dentro de processos estranhos ao seu cotidiano. Talvez o caso mais perigoso na arqueologia subaquática seja o do crescimento desestruturado do turismo subaquático. A própria disciplina se vê envolvida nessa empreitada, pois tem imergido no turismo patrimonial como forma de interagir com um público nãoarqueológico específico, o mergulhador recreativo. A arqueologia como proposta de inserir-se nas necessidades sociais envolvidas em seu espaço de interesse de pesquisa não pode eximir-se de certos grupos sociais em favor de outros. Que seja ela rechaçada por determinado grupo, trata-se de uma situação. Mas que faça vista grossa às necessidades e interesses alheios me parece apenas uma recaída colonialista. Defendo, aqui, que há mais que pérolas nas ostras, e isso implica numa visão mais ampla da paisagem submersa na qual está inserido o patrimônio. Felizmente, as entrevistas, simpósios e projetos mais recentes desenvolvidos por profissionais da área mostram que esse cuidado e preocupação não está ausente da empreitada cada vez melhor sucedida rumo à preservação efetiva do patrimônio arqueológico submerso. Finalmente, penso terminar este trabalho com duas citações. A primeira, uma importação atrevida de Eduardo Viveiros de Castro sobre o papel que a antropologia tem assumido desde as políticas do governo militar de cadastramento e definição de identidades de grupos indígenas (Viveiros de 215 Castro 2006). “Não cabe ao antropólogo definir quem é índio, cabe ao antropólogo criar condições teóricas e políticas para permitir que as comunidades interessadas articulem sua indianidade” (Viveiros de Castro 2006, p. 16). Da mesma maneira, acredito que não cabe ao arqueólogo definir quem é descendente de indígenas, de quilombolas, de caiçaras, ou dizer qual é a verdadeira história de algum lugar e qual deve ser a importância que comunidades locais devam dar ao “sítio arqueológico” recém-criado. Cabe ao arqueólogo tentar entender, quais as relações que determinado grupo VIVO e HABITANTE de um espaço estabelece com o entorno material e imaterial. Não seremos, nem devemos ser, acredito, os estandartes da verdade sobre o rumo de uma comunidade ou mesmo sobre o rumo de uma nação. Justamente porque não há verdade única sobre o rumo de uma comunidade ou de uma nação. A segunda citação é de Marcia Bezerra de Almeida, defendendo a perspectiva de Klaus Hilbert (2006) sobre o compromisso social do arqueólogo: Acusados de contar [descrever] histórias, de contar [quantificar] histórias, de contar [inventar] histórias, contudo, nunca deixaram de contar [transmitir] histórias, o que, segundo Hilbert [2006], constitui o compromisso social do arqueólogo (Bezerra 2009, p. 208). É aí, nesse caos indelével de narrativas, inerente ao convívio humano, que está nosso propósito. Cabe-nos a oportunidade de fazer valer, com nosso aparato e uma nova política, mais vidas do que se costuma pensar. 216 7. Referência bibliográfica • ACHUGAR, H. Ensayo sobre la nación a comienzos del siglo XXI. In: MARTÍN- ANDRADE, O. Revista de Antropologia. Nº 1, 1928. Disponível em http://www.antropofagia.com.br/manifestos/antropofagico/. Acessado em 18 fev. 2011. • ASCHER, Robert. Archaeology and the public media. American Antiquity, Vol. 25, No. 3, 1960, pp. 402-403. • AMARANTES, A. Armadilha Fatal. Mergulho, Ano II, n° 24, 1998, pp. 26-33. • _______________. Que barco é esse? Mergulho, Ano IV, n° 57, 2001, pp. 36-39 • ANGELO, D. “Espacios indiscretos: reposicionando La mesa de La arqueologia acadêmica”. In: GNECCO, C. & AYALA, P. (ed.). Pueblos indígenas y arqueología en Latino America. Universidad de los Andes-FIAN: Bogotá, 2007. • ARNOLD, Bettina. The past as propaganda: totalitarian archaeology in Nazi Germany, In: Preucel, R. & Hodder, I., Contemporary Archaeology in Theory, Blackwell Publishers, 1996. • ASCHERSON, Neal. Archaeology and the British media. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. 217 • BASS, George F. Arqueologia Subaquática. Cacim (Portugal): Ed. Verbo. 1971. • BAHN, P., RENFREW, C. Arqueologia: teorias, métodos y practicas. Akal: Madrid, 1998. • BARBERO, J. (Ed.). Imaginarios de nación. Pensar en medio de la tormenta. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2001. p. 75-92. • BARRETO, Cristina. A Construção de um passado pré-colonial. Revista USP, nº 4, 1999-2000 , pp. 32-51. • BASTOS, Rossano Lopes. Arqueologia pública no Brasil: novos tempos. In: MORI, Victor Hugo; SOUZA, Marise Campos de; BASTOS, Rossano Lopes; GALLO, Haroldo (org.). Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: 9ª SR/IPHAN. 2006. • BERÓN, M.; GUASTAVINO, M. Manejo de recursos culturales y puesta en valor de historias regionales. Arqueologia Pública, São Paulo, n.2, 2007 , p. 45-56. • BEZERRA, Marcia. Da arqueología circular e dos arqueólogos sem artefatos. In: FUNARI, Pedro Paulo; DOMINGUEZ, Lourdes; CARVALHO, Aline Vieira de; RODRIGUEZ, Gabriella Barbosa. Desafios da Arqueologia. Depoimentos. Erechim: Ed. Habilis. 2009. Pp. 206-214. • BEZERRA DE ALMEIDA, Marcia. O Australopiteco corcunda. As crianças e a arqueologia em um projeto de arqueologia pública na escola. 180f. Tese (Doutorado em Ciências, area de concentração em Arqueologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 2002. • BLAND, Roger. The Treasure Act and the Portable Antiquities Scheme. A case study in developing public archaeology. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. • BYRNE, Denis. Archaeology in reverse-the flow of Aboriginal people and their remains through the space of New South Wales. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. • BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002. Disponível em: 218 http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=337. Acessado em: 19 set. 2010. • BRASIL. Portaria Interministerial nº 69 Marinha/MinC, de 23 de janeiro de 1989. Aprova normas comuns sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens de valor artístico (...). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 1989. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=332. Acessado em: 21 set. 2010. • BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988a. • BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional. Portaria nº 7, de 1 de dezembro de 1988b. Disponível http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=319. em: Acessado em: 19 set. 2010. • BRASIL. Lei nº 10.116, de 2000. Altera a Lei no 7.542, de 26 de setembro de 1986 (...). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 dez. 2000. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/fraWeb?OpenFram eSet&Frame=frmWeb2&Src=%2Flegisla%2Flegislacao.nsf%2FViw_Iden tificacao%2Flei%252010.166-2000%3FOpenDocument%26AutoFramed. Acessado em: 1 nov. 2009. • BRASIL. Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 1986a. Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados (...). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L7542.htm. Acesso em: 1 nov. 2009. • BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 001, de 17 de fevereiro de 1986b. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23. Acessado em: 08 set. 2010. • BRASIL, Lei nº 3.942/61, Dispões sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-históricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 nov. 1961. 219 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950- 1969/L3924.htm. Acessado em: 20 set. 2010. • BRASIL. Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=284 Acessado em: 26 out. 2010. • BRITO, Agnaldo. Ibama libera licença para instalação no canteiro de obras de Belo Monte. Folha de São Paulo. 26 jan. 2011. • CABRAL, Mariana Petry; SALDANHA, João Darcy de Moura. Um sítio, múltiplas interpretações: o caso do chamado “Stonehenge do Amapá”. Arqueologia Pública, nº 3, 2008, pp. 07-14. • CAFFA, Irina Capdepont. ¿Actividad liberal o libertinaje? La práctica laboral en la Arqueología de Contrato en Uruguay. Arqueologia Pública, nº 3, 2008, pp. 49-64. • CALIPPO, F. R. Sociedade sambaquieira, comunidade marítima. Tese (Doutorado em Arqueologia). Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2010. • CALIPPO, F. R. Os sambaquis submersos de Cananéia: um estudo de caso de arqueologia subaquática. Dissertação (Mestrado em Arqueologia). Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2004. • CAMARGO, P. F. B. de. Arqueologia das Fortificações Oitocentistas da Planície Costeira de Cananéia/Iguape. Dissertação (Mestrado em Arqueologia). Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo: São Paulo. 2002. • CÂNDIDO, Manuelina Maria Duarte. Arqueologia e público: pesquisas e processos de musealização da arqueologia na imprensa brasileira. Arqueologia Pública, nº 3, 2008, pp. 33-48. • CASTAÑO, A. M. M. A divulgação do patrimônio arqueológico em Castilla y Leon (Espanha): o desafio dos espaços divulgativos. Arqueologia Pública, n° 1, 2006, pp. 07-18. 220 • CASTRO, A. et alii. Sitio arqueologico carsa (Puerto Deseado, Patagonia, Argentina): Reflexiones sobre la práctica de una arqueologia social y publica. Arqueologia Pública, n° 2, 2006, pp. 7-22. • CARVALHO, Aline Vieira de. Entre ilhas e correntes: A criação do ambiente em Angra dos Reis e Paraty, Brasil. 269f. Tese (Doutorado em Ambiente e Sociedade) - Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2009. • CENTRO de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática. LIVRO Amarelo: Manifesto pró-patrimonio cultural subaquático brasileiro. Campinas, Unicamp, 2004. • _________________________________________________. Disponível em: http://www.arqueologiasubaquatica.org.br/index.html. Acessado em 22 set. 2010. • CHIH-HUNG, Ronald Lin. UNESCO Conventions, Recommendations and Declarations concerning the Protection of the Cultural Heritage. Conservation and Management of Archaeological and Eastern Structures and Sites, Otrat, 2004. Disponível em: http://acdc.arch.rwthaachen.de/workshop.html. Acessado em: 10 jun. 2010. • CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Estação Liverdade, Editora Unesp, 2001. • CLACK, Timothy; BRITTAIN, Marcus. Introduction – Archaeology and the media. In: _______________________________ (eds). Archaeology and the media. Walnut Creek: Left coast, 2007. • COMITE Internacional de Sítios e Monumentos (ICOMOS). “Convenção sobre o Patrimônio Cultural Subaquático”, trad. Francisco J. S. Alves, 2001. In: FUNARI, P. P. A.; DOMINGUEZ, L. As Cartas Internacionais sobre o Patrimônio. Textos didáticos, nº 57. Campinas: IFCH/UNICAMP, 2005. • COUTINHO, Leonardo; PAULIN, Igor; MEDEIROS, Júlia. A Farra da antropologia oportunista. Veja, Ed. 2163, 2010. Disponível em: http://veja.abril.com.br/050510/farra-antropologia-oportunista-p154.shtml. Acessado em: 13 jun. 2010. 221 • COLLEY, Sarah M. Uncovering Australia: Archaeology, indigenous people and the public. Crows Nest: Allen & Unwin. 2002. • COPELAND, Tim. Presenting archaeology to the public – constructing insights on-site. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. • CUNHA, Luiz Octavio de Castro. Manual de Arqueologia Subaquática. Rio de Janeiro: Nova Razão Cultural, 2009. • CUNHA, Luiz Octavio de Castro. De volta ao passado, Mergulhando sobre o Galeão Sacramento. Revista da Marinha Brasileira. 1990. • CURY, M. X. Para saber o que o público pensa sobre arqueologia. Arqueologia Pública, n° 1, 2006, pp. 31-48. • DAVIS, Hester A. The crisis in American archaeology – an increase in destruction and decreased funding for salvage has created an archaeological crisis. Science, Vol. 175, 1972, pp. 267-272. • DÍAZ-ANDREU, M. Nacionalismo e arqueologia: O contexto político da nossa disiciplina. Revista Aulas. Nº 2, outubro/novembro 2002. • _____________, “Archaeology and nationalism in Spain”. In: KOHL, P. & FAWCETT, C. (Ed.) Nationalism, politics and the practice of archaeology. Cambridge; New York; Melbourne; Madrid: Cambridge University Press. 2000. • DICTIONARY.COM. Dictionary.com Unabridged. Random House, Inc, 2010. Disponível em: http://dictionary.reference.com/browse/public. Acesso: 7 de jun. 2010. • DIEGUES, Antônio Carlos. Ilhas e mares: simbologia e imaginário. Hucitec: São Paulo. 1998. • DOMINGUEZ, Lourdes. S. Guanabacoa como una ‘experiencia’ india en nuestra colonización: los retos de la arqueologia publica. Arqueologia Pública, n° 2, 2007, pp. 89-98. • DUHAIM, Loyd. “Lex Rhodia: The Ancient Ancestor of Maritime Law 800 BC”. Law Museum – Duhaim.org. 2010. Disponível em: http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-383/Lex-Rhodia-The- 222 Ancient-Ancestor-of-Maritime-Law--800-BC.aspx. Acessado em: 16 set. 2010. • DURAN, L. D. Arqueologia marítima de um Bom Abrigo. Tese (Doutorado em Arqueologia). Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2008. • ELIA, Ricardo J. “ICOMOS Adopts Archaeological Heritage Charter: Text and Commentary”. In: DAVIS, Hester. Public Archaeology Forum. Journal of Field Archaeology. Boston, Vol. 20, nº 1, 1993, pp. 97-104. • FAGAN, Brian M. Genesis I.1; Or, Teaching archaeology to the great archaeology-loving public. American Antiquity, Vol. 42, Nº 1, pp. 119 – 125. 1977 • FALANGHE, A. Editorial. Scuba, Ano III, n° 36, 1999, p. 1. • FAUSTINO, L. O século XVII (personagens, tesouros e crimes) no fundo do mar. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 15 nov. 1976. • FAUSTO, Carlos. Da responsabilidade social de antropólogos e arqueólogos: sobre contratos, barragens e outras coisas mais. Ensaio. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social MN/UFRJ. Novembro de 2006. • FERREIRA, Lúcio Menezes. Arqueología Comunitária, Arqueología de Contrato y Educación Patrimonial en Brasil. 2010. No prelo. • FERREIRA, Lúcio Menezes. Arqueologia da Escravidão e Arqueologia Pública: Algumas Interfaces. Vestígios, Vol. 3, nº 1, 2009. • FERREIRA, Lúcio Menezes. Sob Fogo Cruzado: Arqueologia Comunitária e Patrimônio Cultural. Arqueologia Pública, nº 3, 2008, pp. 81-92. • FERREIRA, Lúcio Menezes. Solo civilizado, chão antropofágico: a arqueologia imperial e os sambaquis. FUNARI, Pedro Paulo Abreu; ORSER Jr., Charles E.; SCHIAVETTO, Solange Nunes de O. (org.). Identidades, discursos poder: estudos da arqueologia contemporânea, São Paulo: Annablume, FAPESP, 2005a. • FERREIRA, Lúcio Menezes. Footsteps of American Race: Archaeology, Ethnography and Romanticism in Imperial Brazil. FUNARI, Pedro Paulo 223 Abreu; ZARANKIN, Andrés; STOVEL, Emily. (Org.). Global Archaeology Theory: Contextual Voices and Contemporary Thoughts. 1 ed. New York, Springer, 2005b, p. 137-156. • FERNANDES, Tatiana Costa. Vamos criar um sentimento? Um olhar sobre a arqueologia pública no Brasil. 212f. Dissertação (mestrado) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. • FONSECA, Randal. Uma abordagem prospectiva do patrimônio submerso. História e-história. 2004 Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=newsletter&ID=2. Acessado em: 30/12/2010. • FUNARI, Pedro Paulo Abreu; OLIVEIRA, Nanci Vieira; TAMANINI, Elizabete. Arqueologia Pública no Brasil e as novas fronteiras. Praxis Arqueológica, Vol. 3, 2009, pp. 131-139. • FUNARI, Pedro Paulo A.; CARVALHO, Aline Vieira de. As possibilidades da Arqueologia Pública. História e-História. 24 de março 2009. Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=31. Acessado em: 31 out. 2010. • FUNARI, Pedro Paulo Abreu; ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erica Marion. Ética, Capitalismo e Arqueologia Pública no Brasil. História, vol. 27 nº 2, Franca, 2008. • FUNARI, Pedro Paulo Abreu; ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erica Marion. Editorial. Arqueologia Pública, n° 1, 2007, p. 03. • FUNARI, P. P. A. & PELEGRINI, S. de C. A. Patrimônio histórico e cultural, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2006. • FUNARI, Pedro Paulo Abreu; ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika Marion. Editorial. Arqueologia Pública, São Paulo, n° 1, p. 03, 2006. • FUNARI, Pedro Paulo Abreu; DOMÍNGUEZ, Lourdes. As Cartas Internacionais sobre o Patrimônio. Campinas: IFCH/UNICAMP, 2005. • FUNARI. P. P. A. “Lazer, patrimônio e turismo: algumas considerações”. Patrimônio: Lazer e Turismo. Santos, Novembro 2004. Disponível em: 224 http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/artigos_menu.php?ano=20 04. Acessado em: 31 out. 2009. • FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Os desafios da destruição e conservação do patrimônio cultural no Brasil. Trabalhos de Antropologia e Etnologia. Porto, Vol. 41, nº ½, 2001. Pp. 23-32. • FUNDACIÓN TERRA FIRME. Proyecto Lugares de Memoria en el corregimiento de Tierra Bomba, 2011. Disponível em: http://www.fundacionterrafirme.com/cms/index.php?option=com_content &view=article&id=71&catid=71. Acessado em: 27 jan. 2011. • FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. • FROST, Karolyn E. Smardz. Archaeology and public education in North America: view from the beggining of the millenium. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. • FOWLER, Dan. Uses of the past: archaeology in the service of the state. America Antiquity, Vol 52, nº 2, 1987, pp. 229-248. • FOWLER, Peter. Not archaeology and the media. In: CLACK, Timothy; BRITTAIN, Marcus. Archaeology and the media. Walnut Creek: Left coast, 2007. • GARDNER, Andrew. The past as playground: the ancient world in video game representation. In: CLACK, Timothy; BRITTAIN, Marcus. Archaeology and the media. Walnut Creek: Left coast, 2007. • GALINDO, J. E. Japurá: o navio fantasma. Mergulho, ano IV, n° 49, 2000, pp. 30-34. • GALVÃO, G. Viagem no tempo. Mergulho, Ano VIII, n ° 96, 2004, pp. 16-19. • GOMES, Ana Maria R. O processo de escolarização entre os Xakriabá: explorando alternativas de análise na antropologia da educação. Revista Brasileira de Educação. Vol. 11, nº 32. 2006. • GNECCO, C. Existe una arqueologia multicultural? In: ANGELO, D. Arqueologia y Política. 2009. No Prelo. • GLARE, P. G. W. Oxford Latin Dictionary. Oxford: Claredon, 2006. 225 • GONZALEZ et alli. "Hunting for free and bound chloride in the wrought iron rivets from the american civil war submarine H. L. Hungley". Journal of the American Institute for Conservation, Vol. 43, No. 2. 2004. • GODFREY et alli, “The Analysis of Ivory from a Marine Environment”. Studies in Conservation, vol. 47, nº 1. 2002. • GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Textbook of medical physiology. Philadelphia: Elsevier. 2006. • HAMILAKIS, Yannis; ANAGNOSTOPOULOS, Aris. Public archaeology: archaeological ethnographies, Vol. 8 No. 2–3, 2009, pp. 65–87. • HAMILTON, D. L. Basic Methods for conserving underwater archaeological material culture. U.S. Department of Defense/Legacy Resource Management Program: Washington D.C. 1996. • HARRIS, Lynn. Underwater heritage and the diving community. In: LITTLE, Barbara (Ed). Public Benefits of Archaeology. Gainsville: University Press of Florida. 2002. • HERMANSON, P. M. “La conservación in situ en la arqueologia subacuática”. In: GLANTZ, R. S. (comp.) Conservación in situ de material arqueológico. México D.F.: INAH, 2004. • HILBERT, Klaus. Qual o compromisso social do arqueólogo brasileiro?. Revista de Arqueologia. Vol. 19. 2006, pp. 89 – 101. • HODDER, Ian. Reading the Past: current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge University Press, 2º ed. 1999. • HODDER, Ian; SHANKS, Michael. Processual, postprocessual and interpretive archaeologies. In: Hodder et alii, Interpreting archaeology: finding meaning in the past, London; New York: Routledge, 1995. • HOLTORF, Cornelius. Archaeology is a Brand! Oxford: Archeopress, 2007a. • HOLTORF, Cornelius. An archaeological fashion show. In: CLACK, Timothy; BRITTAIN, Marcus. Archaeology and the media. Walnut Creek: Left coast, 2007b. 226 • HOLTORF, C. From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as popular culture. Oxford: Altamira, 2005. • HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Museu Imperial. 1999. • ICOMOS (Conselho Internacional de Sítios e Monumentos). Carta de Sofia, 1996. Disponível em: http://www.international.icomos.org/charters/underwater_e.pdf. Acessado em: 02 jan. 2011. • ICOMOS (Conselho Internacional de Sítios e Monumentos). Carta de Venecia, 1964. In: FUNARI, P. P. A.; DOMINGUEZ, L. As Cartas Internacionais sobre o Patrimônio. Textos didáticos, nº 57. Campinas: IFCH/UNICAMP, 2005. • INSTITUTO Antônio Houaiss 2007. Dicionário Houaiss da Língua portuguesa, Disponível em: http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm. Acessado em: 21 set. 2010. • JAMESON JR, John. Public archaeology in the United States. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. • JOHNSON, Matthew. Teoría Arqueológica: una introducción. Barcelona: Ariel S.A., 2000. • JOHNSON, J. S. “Consolidation of archaeological bone: a conservation perspective”. Journal of Field Archaeology, Vol. 21, No. 2. 1994, pp. 221-233. • JOHNSON, J. S. “Conservation and archaeology in Great Britain and the United States”. Journal of the American Institute for Conservation. Vol. 32, nº 3, 1993. Pp. 249-269. • JONES, Siân. Monuments, memory and identity: exploring the social value of place. Conservation Bulletin. Issue 63. 2010a. Pp. 22-24. • ___________. “Sorting stones”: monuments, memory and resistance in the Scottish highlands. BEAUDRY, M. C.; SYMONDS, J. (eds). 227 Interpreting the Early Modern World. New York/London: Springer. 2010b. • KNAPP, B.; ASHMORE, W. Archaeological Landscapes: constructed, conceptualized, ideational. In: ASHMORE, W; KNAPP, B. (ed.). Archaeologies of landscape. Malden/Oxford – Wiley/Blackwell, 1999. • KUWANWISIWAMA, Leigh (Jenkins). Hopi Understanding of the past. A collaborative approach. In: LITTLE, Barbara (Ed). Public Benefits of Archaeology. Gainsville: University Press of Florida. 2002. • LATOUR, Bruno. Introdução: abrindo a caixa-preta de Pandora. Ciência como ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Editora Unesp. 2000. • LECHNER, N. Orden y Memória. In: SÁNCHEZ, G.; WILLS, M. E. (eds). Museo, Memória y Nación. Museo Nacional: Bogotá, 2010. • LEMBO, F. Descida dos deuses. Mergulho, Ano II, n° 27, 1998, pp. 1827. • LEONE, Mark P. et alli. Toward a critical archaeology [and comments and replies]. Current Anthropology, Vol. 28, nº 3, 1987, pp. 282-302. • LITTLE, Barbara. Preface. In: _____________ (Ed). Public Benefits of Archaeology. Gainsville: University Press of Florida. 2002a. • _____________. Archaeology as a shared vision. In: LITTLE, Barbara (Ed). Public Benefits of Archaeology. Gainsville: University Press of Florida. 2002b. • LIMA, C. O Titanic do Pacífico. Mergulho, Ano II, n° 13, 1998, pp. 30-34. • _______. A Frota Fantasma de Trunk Lagoon. Mergulho, Ano III, n° 42, 1999, pp. 34-40. • LIMA, E. In: AMARANTES, A. Que barco é esse? Mergulho, Ano IV, n° 57, 2001, pp. 36-39. • LIMA, L. P.; FRANCISCO, G. da S. O que é isso? Para que serve? Quem são vocês? O que fazem? Uma experiência de Arqueologia Pública em Paranã – TO. Arqueologia Pública, n° 1, 2006, pp. 49-62. • LIMA, Tânia Andrade. Arqueologia na construção da identidade nacional. Canindé, Xingo, nº 9, 2007. 228 • LIPE, William D. Public benefits of archaeological research. In: LITTLE, Barbara (Ed). Public Benefits of Archaeology. Gainsville: University Press of Florida. 2002. • LUCA Jr., A. Cuba é puro êxtase. Mergulho, ano III, n° 42, 1999, pp. 2833. • MARTINS, G. R. A Justiça é para todos: Arqueologia Forense e a questão fundiária dos índios Terena em Sidrolândia/MS. Anais do XIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, 2005, Campo Grande. Sociedade de Arqueologia Brasileira, 2005, pp. 112-118. • MARTIN, R. C., The deep sea diver: yesterday, today and tomorrow. Cornell Martin, Cambridge; Maryland. 1978. • MARCELLO, Maria Carolina . Para Lula, seria “insano” descartar potencial de Belo Monte. O Globo. 26 abr. 2010. • MARSHALL, Yvonne. What is community archaeology? World Archaeology. Vol. 34. Nº 2. 2002, pp. 211-219. • MEUER, E. & RODRIGUES, R. M., colaboração, PIMENTEL, S. O naufrágio da hidrelétrica. Mergulho, Ano III, n° 40, 1999, pp. 18-24. • MCMANAMON, Francis P. Heritage, history, and archaeological educators. In: LITTLE, Barbara (Ed). Public Benefits of Archaeology. Gainsville: University Press of Florida. 2002. • MELLO NETO, Ulisses P. de. O Galeão Sacramento. Navigator, Rio de Janeiro, n° 13, 1978. • MERRIMAN, Nick. Introduction. Diversity and dissonance in public archaeology. _______________ (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004a. • MERRIMAN, Nick. Involving the public in museum archaeology. _______________ (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004b. • MCDAVID, Carol. Towards a more democratic archaeology? The internet and the public archaeological practice. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. 229 • MCDONALD, Sally; SHAW, Catherine. Uncovering Ancient Egypt: The Petrie Museum and its public. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. • MCGUIRRE, Randall H., “A Arqueologia como ação política: o projeto guerra do carvão do Colorado”, trad. Solange Nunes de Oliveira, Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia – Universidade de São Paulo, Suplemento 3, 1999, PP. 387 – 397. • MOREIRA, Daniel Fernandes; GESSONI, Haroldo Paes; SANCHES, Sonia Maria. Projeto Cultural e Educação: uma nova proposta museológica regional na dimensão do museu histórico e geográfico de Poços de Caldas/MG. Arqueologia Pública, nº 3, 2008, pp. 65-81. • MOSER, Stephanie; GLAZIER, Darren; PJILLIPS, James E.; EL NEMR, Lamya Nasser; MOUSA, Mohammed Saleh; AIESH, Nascha Nasr; RICHARDSON, Susan; CONNER, Andrew; SEYMOUR, Michael. Transforming Archaeology through Practice: Strategies for Collaborative Archaeology and the Community Archaeology Project at Quseir, Egypt. World Archaeology, Vol. 34, No. 2, 2002, pp. 220-248 • MULLINS, Paul. Imagining blackness. Schablitsky, J. (ed) Box Office Archaeology. Walnut Creek: Left Coast, 2007. • NOBLE, Vergil E. When the legend becomes fact. In: SCHABLITSKY, J. (ed) Box Office Archaeology. Walnut Creek: Left Coast, 2007. • NOELLI, F.S.; VIANA, A.; MOURA, M.L. Praia dos Ingleses 1: Arqueologia subaquática na Ilha de Santa Catarina, Brasil (2004/2005/2009). Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 19, 2009, pp.179-203. • NORA, Pierre. Les Lieux des memoire. Paris: Gallimard. 1984. • OLIVEIRA, J. E.; PEREIRA, L. M. Duas no pé e uma na bunda: da participação Terena na guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança à luta pela ampliação dos limites da Terra Indígena Buriti. Revista Eletrônica História em Reflexão. Vol. 1, nº 2, 2007. Disponível em: http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/vie w/377. Acessado em: 22 nov. 2009. 230 • OLIVEIRA, J. E. Cultura material e identidade étnica na arqueologia brasileira. Revista de Arqueologia, Vol. 19, 2006, pp. 29-49. • OMT (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO). Introdução ao turismo. Tradução por Dolores Martin Rodriguez Corner. São Paulo: Rocca, 2001. • PROJETO de Arqueologia Subaquática. Raridades Submersas. Arqueólogos de Santa Catarina decifram mistério de embarcação que naufragou no final do século XVII. Nossa História. Ano 3, nº 27, 2006, pp. 32-36. • PROJETO MARALDI, 2010. http://projetomaraldi.blogspot.com/ • PELEGRINI, S. C. A. O patrimônio cultural no discurso e na lei: trajetórias do debate sobre a preservação no Brasil. Patrimônio e Memória (UNESP), CEDAP - Unesp, v. 2, n. 2, p. 1-24, 2006. • POUGET, Frederic M. C. Práticas arqueológicas e alteridade indígenas. 131f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010. • PYBURN, Anne. “Public Archaeology, Indiana Jones and Honesty”. Archaeologies, Vol. 4, nº 2. Springer: New York, 2008. • QUESADA, M.; Moreno, E.; GASTADI, M. Narrativas arqueológicas publicas e identidades indígenas en Catamarca. Arqueologia Pública, n° 2, 2009, pp. 57-72. • RAAB, L. Mark.; KLINGER, Timothy. C.; SCHIFFER, Michael. B.; GOODYEAR, Albert. C. Clients, contracts, and profits: conflicts in public archaeology. American Anthropologist, Vol. 82, No. 3, pp. 539-55, 1980. • RAMBELLI, G. Safeguarding the underwater cultural heritage of Brazil: legal protection and public archaeology. Museum International. v. 240, 2009, p. 70-80. • RAMBELLI, G. MEMORIAL e CURRICULUM VITAE apresentados para Concurso Público de Provas e Títulos (...). Salvador. Dezembro de 2008. • RAMBELLI, G., Moção do I Simpósio de Arqueologia Subaquática. Campo Grande: Sociedade de Arqueologia Brasileira. 7 set. 2005. 231 Disponível em: http://www.arqueologiasubaquatica.org.br/downloads/index.html. Acessado em: 22 set. 2010. • RAMBELLI, G., “Os desafios da Arqueologia Subaquática no Brasil”. História e-História. Campinas. 1 set. 2004. Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=artigos&ID=7. Acessado em: 22 set. 2010. • RAMBELLI, G., Arqueologia até debaixo d’água. São Paulo: Maranta, 2002. • RAMBELLI, G. Notícias sobre o patrimônio cultural subaquático internacional. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia São Paulo, n. 8, pp. 334-335, 1998. • RAMBELLI, G. O abandono do patrimônio arqueológico subaquático no Brasil: um problema para a arqueologia brasileira. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia São Paulo, n. 7, pp. 177-180, 1997. • REIS, José A. Lidando com as coisas quebradas da história. Arqueologia Pública, n° 2, 2007, pp. 33-44. • REPORTAGEM. Galeão Sacramento entrega sua carga 289 anos depois. A Tarde. Salvador. 1 mar. 1977. • REPORTAGEM. Estavam a séculos no fundo do mar. A Tarde. Salvador. 25 fev. 1977. • REPORTAGEM. Marinha recupera peças históricas de naus afundadas no litoral baiano. O Globo. Rio de Janeiro. 13 dez. 1976. • REPORTAGEM. Para salvar os tesouros abandonados no Mar da Baia. Jornal da Tarde. São Paulo. 27 set. 1976. • REPORTAGEM. Revelando o saque a navios históricos. O Estado de São Paulo, São Paulo, 22 set. 1976. • REPORTAGEM. À venda, num ferro-velho, canhões dos navios afundados. Jornal da Tarde. São Paulo, 22 set. 1976. • ROBRAHN – GONZÁLEZ, Erika Marion; MIGLIACIO, Maria Clara. Preservação do patrimônio arqueológico em terras indígenas. Arqueologia Pública, nº 3, 2008, pp. 15-18. 232 • ROBRAHN – GONZÁLEZ, Erika Marion. Nota de esclarecimento – Programa de diagnóstico antropológico e de patrimônio cultural da PCH Paranatinga II. 2006a. • ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika Marion. Arqueologia e sociedade no município de Ribeirão Grande, sul de São Paulo: ações em arqueologia pública ligadas ao Projeto de Ampliação da Mina Calcária Limeira. Arqueologia Pública, n° 1, 2006b, pp. 63-122. • RODRIGUES, Marly. De quem é o patrimônio? Olhar sobre a prática preservacionista em São Paulo. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Nº 24, 1996, pp. 195-203. • RUSCHMANN, D. V. de M. Turismo e Planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente. Campinas: Papirus, 1997. • SAUDERS, B. Meu barco por uma garrafa. Mergulho. Ano III, n° 40, 1999, pp. 34-37. • SCHABLITSKY, Julie M. The way of the archaeologist. In: ____________ (ed) Box Office Archaeology. Walnut Creek: Left Coast, 2007. • SCHADLA-HALL, Tim. The comforts of unreason. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. • SCHADLA-HALL, Tim. Editorial: Public Archaeology. European Journal of Archaeology, Vol. 2, pp. 147-158, 1999. • SCHAAN, Denise P. Arqueologia, publico e comodificação da herança cultural: o caso da cultura Marajoara. Arqueologia Pública, n° 1, 2006, pp. 19-30. • SEQUEIRA, A. P. Brazilian Archaeology – Indigenous identity in the early decades of the Twentieth century. FUNARI, Pedro Paulo Abreu; ZARANKIN, Andrés; STOVEL, Emily. (Org.). Global Archaeology Theory: Contextual Voices and Contemporary Thoughts. 1 ed. New York, Springer, 2005, pp 353-363. • SEMPÉ, M. C.; SALCEDA, S. A.; MARTÍNEZ, S. Desarrollo de un modelo productivo para la recuperación sociocultural de poblaciones 233 marginales de la provincia de catamarca: Azampay una experiencia piloto. Arqueologia Pública, n° 2, 2007, pp. 73-88. • SENNET, Richard. As Mudanças no domínio público. In: O Declínio do Homem Público, trad. Lygia Araujo Watanabe, Cia das Letras, São Paulo, 1989. • SILVA, Bruno S. Ranzani da. Entrevista concedida por Francisco Silva Noelli a Bruno Sanches Ranzani da Silva. Campinas. 2010. Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=entrevistas&id=10. Acessado em: 20 fev. 2011. • ______________. Baú de Tesouros: cultura material e o sublime das profundezas. 2007. 54 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em história) – Insituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. • SHANKS, M. & TILLEY, C. Re-constructing archaeology. London and New York: Routledge, 1992. • SOARES, Inês Virgínia Prado. Patrimônio arqueológico subaquático no Brasil e a necessidade de uma tutela jurídica efetiva. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2010. • SOCIEDADE de Arqueologia Brasileira. Código de Ética. 1997. Disponível em: http://www.sabnet.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id =30&Itemid=43 Acessado em: 13 jun. 2010. • SOCIEDADE das Nações. Carta de Atenas. Atenas. 1931. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=232. Acessado em: 24 set. 2010. • SOLTYS, Fernando A. Caleidoscópio, narrativas e subjetividade na Arqueologia Pública. 159f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2010. • SOUZA, Alfredo Mendonça de. História da Arqueologia Brasileira. Pesquisas, São Leopoldo, (Antropologia) nº 46, 1991. 234 • SPECTOR, J. D., What this awl means: Toward a feminist archaeology. In: GERO, J.; CONKEY, M. (eds). Engendering archaeology. Oxford: Blackwell, 1991. • STUCHI, Francisco Forte. A Ocupação da terra indígena Kaiabí (MT/PA). História indígena e etnoarqueologia. 333f. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010. • TAMANINI, E.; PEIXER, Z. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura: educação popular e herança cultural no século XXI. Arqueologia Pública, n° 2, 2007, pp. 23-32. • TAYLOR, T. Screening biases: archaeology, television, and the banal. In: CLACK, Timothy; BRITTAIN, Marcus. Archaeology and the media. Walnut Creek: Left coast, 2007. • TEGA, G. M. V. Comitê Internacional faz sugestões ao Brasil, Revista Eletrônica História e História. Campinas. 2008. Disponível em: http://www.historiahistoria.com.br/materia.cfm?tb=reportagens&id=30. Acessado em: 4 abr. 2008. • TEGA, G. M. V. Florianópolis sedia Simpósio de Arqueologia Subaquática. Revista Eletrônica História e História. Campinas. 2007a. Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=reportagens&ID=29. Acessado em 22 set. 2010. • TEGA, G. M. V. Bahia terá Simpósio internacional de arqueologia marítima. Revista Eletrônica História e História. Campinas. 2007b. Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=reportagens&id=28. Acessado em: 29 set. 2010. • TEGA, G. Patrimônio Submerso. Mergulho. Ano VIII, n° 96, 2004, pp. 20-22. • THOMAS, Roger. Archaeology and authority in the twenty-first century. In: MERRIMAN, Nick (ed). Public archaeology. Routledge: London/New York, 2004. 235 • TRIGGER, Bruce. História do Pensamento Arqueológico. Trad. Ordep Trindade Serra. São Paulo: Odisseus, 2004. • TRIGGER, Bruce. Alternative Archaeologies: nationalist, colonialist, imperialist. Man, Vol. 19, n.3, 1984, pp. 355-370. • UNESCO. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972. Paris: Unesco, 1972. Disponível em: http://portal.unesco.org/en/ev.php- URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Acessado em: 10 jun. 2010. • UNESCO. Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970. Paris: Unesco, 1970. Disponível em: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Acessado em: 10 jun. 2010. • UNESCO. Recomendação sobre as medidas destinadas a proibir e impedir a exportação, a importação e a transferência de propriedade ilícitas de bens culturais, 1964. In: FUNARI, P. P. A.; DOMINGUEZ, L. As Cartas Internacionais sobre o Patrimônio. Textos didáticos, nº 57. Campinas: IFCH/UNICAMP, 2005. • VELOSO, T. P. G. & CAVALCANTI, J. E. A. O Turismo em sítios arqueológicos: modalidades de apresentação do patrimônio arqueológico. Revista de Arqueologia. Nº 20, 2007. Pp. 155-168. • VIANA, Alexandre; CORREA, Narbal de Souza; MOURA, Marcelo Lebarbechon. Projeto de arqueologia subaquática: o patrimônio cultural marinho do estado de Santa Catarina. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Vol. 14, 2004, pp. 387-391. • VIDAL, Viviane. Arqueologia de Resgate e seu Papel Social: A Educação Patrimonial como “Alfabetização Cultural”. História e-História. 10 de agosto de 2010. Disponível em: http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=38 (Parte 1); 236 http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=37 (Parte 2). Acessado em: 02 nov. 2010. • WAGNER, Erika. The future of the past. In: DAVIS, Hester. A. Public Archaeology Forum. Journal of Field Archaeology,Vol.14, Nº 1, pp. 107111, 1987. • WERNECK, M. & HENRIQUES, M. Eles não são loucos. Mergulho, Ano II, n° 24, 1998, pp. 52-55. • (WTO) WORLD TOURISM ORGANIZATION. Global Code of Ethics for Tourism. Santiago, 2001. • _________________________________. United Nations Recommendations on Tourism Statistics. Madrid, 1995. Disponível em http://www.world-tourism.org/facts/eng/methodological.htm#2. Acessado em 18 nov. 2009. • YAMIN, Rebecca; COOK, Lauren J. Five Points on film: myth, urban archaeology and Gangs of New York. In: ______________(ed) Box Office Archaeology. Walnut Creek: Left Coast, 2007. • ZANARDI, T. & VITÓRIA, M. & FALANGHE, A. Salvador: um fascinante mergulho na história. Scuba, ano IV, n° 36, 1999, pp. 22-29. • ZANETTINI, Paulo. Arqueologia pública, de contrato e empreendedorismo. In: FUNARI, Pedro Paulo; DOMINGUEZ, Lourdes; CARVALHO, Aline Vieira de; RODRIGUEZ, Gabriella Barbosa. Desafios da Arqueologia. Depoimentos. Erechim: Ed. Habilis. 2009. pp. 215-219. • ZAPATERO, Gonzalo Ruiz; CASTAÑO, Ana Maria Mansilla. Arqueologia e cinema, uma história em comum. Arqueologia Pública, nº 3, 2008, pp. 19-32. • ZHOURI, A. “Justiça ambiental, diversidade cultural e accountability”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 23. Nº 68. Outubro 2008. Pp. 97-107 • ZHOURI & OLIVEIRA - 'Paisagens industriais e desterritorialização de populações locais'. In: ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, K.; PEREIRA, D. B. (org.). A insustentável leveza da política ambiental – desenvolvimento e conflitos socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 237 238
Download