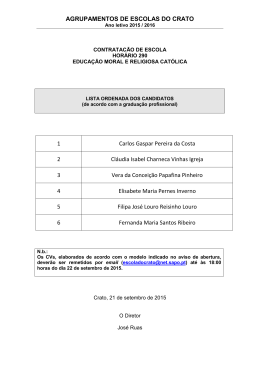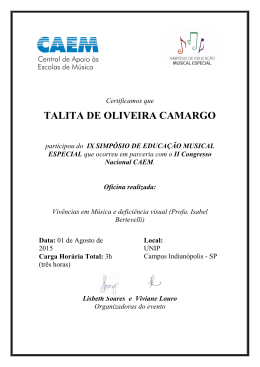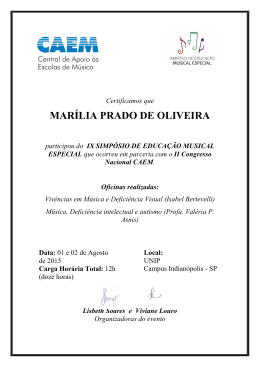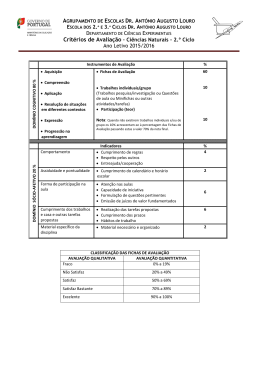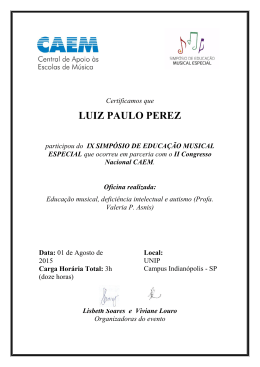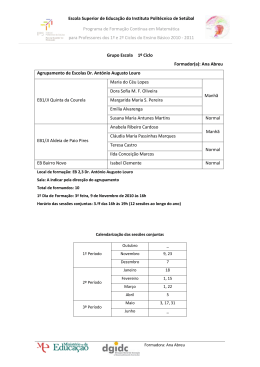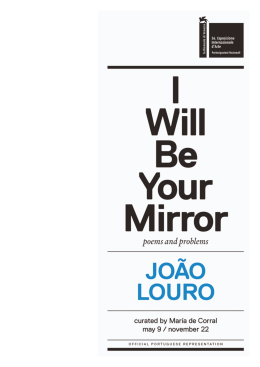O signo e a revolução David Santos Como efeito de despedida e sintoma de uma reflexão atualíssima, a última exposição do ciclo de arte contemporânea “The Return of the Real” fica assinalada, desde logo, por uma insinuante peça de néon que invade o espaço do átrio do Museu do NeoRealismo. “Revolution”, a palavra, resplandece a azul-turquesa, como signo de uma intensa ambiguidade deceptiva, onde o sentido se esbate num caleidoscópio de ecos e reminiscências. Será que comunica ainda um conceito político, uma vontade de ação, um slogan, ou antes uma ideia de consumo, uma marca registada? Aliás, esta questão é obrigatória e incontornável, pois a palavra “revolution”, com as letras desenhadas a lâmpadas fluorescentes, remetendo assim para os painéis publicitários do século passado, é ladeada não pelo “r” de marca registada, mas pelo seu sucedâneo, esse “c” minúsculo inserido num pequeno circulo que “garante” os direitos de autoria, como se a ideia de “revolução” pudesse ser atribuída a um só autor ou proibida a sua propagação no tempo e no espaço. O que um exímio manipulador de signos, como João Louro, nos propõe com esta palavra simultaneamente flagrante, estranha e familiar, é a experiência de interrogação sobre a sua aparente mas paradoxal irrelevância, o seu atual desgaste ao nível do significado, apesar do contexto efervescente ditado pela crise económica da Europa e do mundo ocidental. Será que a expressão “Revolution” se converteu ao longo dos tempos num alvo macio e à mercê de interpretações apropriacionistas de carácter duvidoso, transformando-se por fim num território verbal de exploração exaustiva, displicente ou mesmo arbitrária? A resposta é complexa e exige uma reflexão sem esperanças conclusivas. E se o artista parece aqui usar o mesmo método de invasão e transformação abusiva dos significados de uma palavra como “revolução” – para alguns ainda “poderosa”, mobilizadora ou, pelo menos, capaz atear rastilhos – fá-lo com o objetivo de nos questionar, de despertar uma necessidade específica, isto é, de nos confrontar com o desvio desse sentido fundador que hoje balouça entre a inócua integração no sistema capitalista e o esgar de uma vontade de ação concreta, determinada, como sempre acontece, pelo desencadear descontrolado dos acontecimentos. Porém, quando nos deixamos envolver pela “proposta” de “revolution” assumida por João Louro, confirmamos sobretudo um jogo de sedução visual e marketing, e menos o seu hipotético conteúdo original, de apelo à rebeldia ou à transformação política. Apesar da palavra “revolution” não ter sido verdadeiramente obliterada, mantendo-se completa na sua frontalidade comunicativa, promove de imediato uma decepção inconveniente mais inevitável, isto é, um distanciamento difuso entre o significado e a sua manifestação estética e objetual. Por outro lado, a ambiguidade da palavra apresenta-se ou revela-se ainda em diversos níveis. Repare-se como “revolution” assume a mesma grafia em duas das línguas mais faladas no mundo ocidental (inglês e francês, neste último caso sofrendo apenas uma acentuação diferenciada). Ou seja, a expressão internacional da palavra provavelmente mais importante dos últimos duzentos anos, que evoca momentos tão decisivos como a Revolução Francesa de 1789, paira hoje na constelação do nosso universo comunicativo como uma figura de estilo sem rumo nem orientação mínima, deixando-se equivaler em muitos aspetos à palavra qualquer, diluída na amálgama informe da “sociedade do espetáculo” como alertou Guy Debord. Hoje, já quase não sabemos qual o lugar e o sentido possível de uma palavra histórica como “revolução”, quando foi usada e abusada em muitos outros contextos (ex: revolução sexual; revolução cultural: revolução musical…) que lhe trouxeram inevitavelmente novos significados, mas ao mesmo tempo também o sentimento de que a força da sua invocação original entretanto se perdera com a sistematização desse exercício parasita que envolve a maioria das palavras mais influentes. É neste exercício de alteração deliberada dos diferentes níveis de significação que a obra de João Louro, iniciada no princípio dos anos 90, tem vindo a desenvolver-se com a acuidade e desassombro, procurando desestabilizar o sentido, as convenções imagéticas e conceptuais, como estratégia de provocação sobre a passividade que nos rodeia. No essencial, o trabalho de João Louro busca um observador capaz de aprofundar o seu sentido crítico perante o mundo inebriante da comunicação de massas e o seu tendencial efeito anestésico. Recorde-se que o próprio artista assume a sua estratégia de intervenção pós-moderna como uma possibilidade apenas de confronto com o real, de reequacionamento do lugar social da arte e da sua receptividade. O título da exposição “Bind Runner – Artist Under Surveillance”, apresentada em 2004 no CCB, remete precisamente para essa autoconsciência. Ou seja, o artista sabe situar o alcance residual da comunicação artística, e com isso procura trabalhar o paradoxo das pretensões do marketing, da política, da teoria e das práticas sociais que nos caracterizam neste início de milénio. Basta lembrar que para João Louro não se trata nunca de encarar a “imagem como um facto”, mas como “um pacto” ou um “combate”, ao mesmo tempo que qualquer exercício de comunicação ganha e perde significados no percurso que realiza, como “erreur de transcription”, “lost in translation”, algo que transforma e reenvia outros efeitos, outros contornos de significação. As surpresas que daí advêm recolocam esta arte no domínio da reflexão sobre os cruzamentos entre palavra e imagem, símbolo e signo, significado e significante. Muitas séries de trabalhos, produzidas pelo artista desde os anos 90 até hoje confirmam este aspeto central, desde os desvios de sentido e significado de uma série de palavras do nosso dicionário (série “História do Crime”, 1995, ex: “ELITE, s.f. (fr. élite). 1. Med. Enfermidade comum aos habitantes de uma região”), passando pelas literárias pinturas “Bridges, Ways and Crossroads” (2002) ou ainda pela “filosófica subversão” de placas de informação de trânsito, na série “Dead End” (200102), para terminar nas muitas variantes da série “Bind Image”, iniciada em 2003 e que tem na atual exposição uma das suas mais recentes adaptações. Em todos esses trabalhos, João Louro perscruta a capacidade de confrontação, de matriz duchampiana, que existe entre o significado original das palavras e a sua reconfiguração perante outras associações iconográficas, ou mesmo perante o vazio monocromático que nos devolve, a nós receptores, a responsabilidade imagética da própria arte. Sob o título de um lema soixante-huitarde, Sous le Trottoir la Plage, a presente exposição explora visualmente os dilemas gráficos da palavra “revolução”, o seu uso titubeante, indiscriminado e quase indecoroso. Como se de um modo subterrâneo se erguesse uma vontade inaudita de revolver a ação, de voltar a uma situação de conflito aberto entre poderosos e oprimidos. Resta saber se as palavras, apesar do seu uso e desgaste significacional, podem ainda manter-se como veículos de comunicação e sentido. De Platão a Nietzsche, de Freud a Wittgenstein, de Foucault a Derrida ou Chomsky, outra coisa não fez a filosofia do que buscar uma confiança na linguagem verbal, uma base que pudesse traduzir um ponto de partida para edificar as relações entre o saber e a humanidade. Ora, o que João Louro nos revela é, antes de mais, a complexidade do roteiro dos significados e a sua estridente manipulação na atualidade, produzida afinal por todos os intervenientes autorizados, isto é, os poderes públicos e privados, os detentores do “laborioso” domínio económico-financeiro e outros protagonistas que exercem o controlo, ou a sua ilusão, sobre a máquina significante que nos envolve. Nesse sentido, o artista recorta e volta a colar aqui novos sentidos em torno da palavra “revolução”, sugerindo ainda, para lá do néon da entrada do museu, um efeito “explosivo” a partir de uma particular leitura, letra a letra, com o trabalho “Se juntar as letras certas faço magia”, 2012. São dez pequenas obras em papel onde o alfabeto se repete de cada vez e de onde é retirada (pintada a vermelho) apenas uma letra diferente em cada uma dessas peças. Ao juntar-se todos os alfabetos pode ler-se a palavra “Revolution”. Como a revelação da leitura soletrada, progressivamente silabada pelas crianças, Louro parece querer dizer-nos que repetindo o seu exercício de descoberta e leitura podemos finalmente recuperar o seu sentido primeiro e mais fecundo. “One Ride with Yankee Papa 13”, 2012, é título específico de quatro trabalhos da série “Blind Image” que resultam agora justapostos, constituindo um mosaico compósito, muito formal e sedutor em termos estéticos. Porém, as legendas, que antes apareciam nas próprias imagens pictóricas, surgem desta vez mais discretas, em tabela, promovendo todavia o mesmo efeito de cruzamento radical com a monocromia, pois remetem para a descrição de violentas fotografias de guerra (Vietnam) publicadas numa revista de época. O significado das palavras que em tabela se revela exerce assim, mais uma vez, um poder de condução do sentido, de reenvio à imagem que nos reflete o corpo dos visitantes ou o espaço da galeria. Nesse turbilhão de imagens que o nosso cérebro desenvolve a partir das poderosas legendas, perdemos o prazer estético que a exuberante monocromia pictórica nos comunicava. Isto é, somos levados à “decepção” da imagem pelo poder descritivo das palavras e dos seus significados sobre uma violência que não se vê em termos visuais, mas que se desenha em termos imagéticos no enquadramento “pós-pictórico” desse conjunto. Por isso, poderemos continuar a afirmar que estas pinturas são cegas, como o título sugere desde o início, ou fornecem antes as pistas para a nossa capacidade de decisão crítica perante o jogo e o combate significacional que nos propõe? Já “Utopia” (1995), apresenta um conjunto constituído por oito obras, colagens em pequeno formato, onde se cruza uma panóplia de logótipos com elegantes grafias da palavra utopia, denunciando, uma vez mais, a sua adaptação, proposta aqui pelo artista, ao mundo da publicidade. Apesar de produzidos em 1995 para a “Bienal da Utopia” (Cascais), estes trabalhos nunca chegaram a ser apresentados, aparecendo agora numa parede verde e inclinada que formata a sala de arte contemporânea de um modo inesperado. Por último, João Louro grafitou uma das paredes da galeria com grandes letras que esmagam o espetador, tanto pela sua escala como pelos escorridos de pintura revelados na sua dimensão informe e aparentemente inadequada ao espaço museológico. O que aí se lê é, afinal, a mensagem que dá título à exposição: “Sous le Trottoir la Plage”, um dos slogans mais reproduzidos durante as convulsões do Maio de 68, em Paris. Na sua tradução para língua portuguesa, “sob o pavimento, a praia”, podemos adivinhar mais uma vez o sentido deceptivo e ambíguo proposto por João Louro. Recordemos então que, no final da década de 60, muitas ruas do centro de Paris eram ainda pavimentadas com paralelepípedos de face cúbica, unidos uns aos outros apenas por uma fina camada de areia. Vendo aí os jovens contestatários uma promessa de praia, soterrada sob o pavimento: “Sous les pavés, la plage”. Com essa apropriação metafórica procurava-se sublinhar que a praia está em todo o lado, aos nossos pés, debaixo das edificações da civilização. Por outro lado, a praia era a expressão mais lúdica, não-hierárquica e insurrecional, à mercê dos revoltosos que respondessem ao apelo de retirar o pavimento para ocupar esse espaço antes subterrâneo e agora revelado no seu potencial lúdico e socializante. Não esqueçamos, porém, que o pavimento representava aí, precisamente, a França gaullista e tédio asfixiante dessa época. Nesse contexto, muitos outras palavras de ordem andaram de boca em boca: “É proibido proibir”, “A imaginação no poder”, “O sonho é realidade”, “Numa sociedade que aboliu todas as aventuras, a única aventura que resta é abolir a sociedade”, “A revolução é incrível porque é real”, “Vamos banir o aplauso, o espetáculo está por toda parte”, ou “Trabalhadores de todo o mundo, divirtam-se”. O objetivo dessa marcha de contestação era então unir contestação radical e criatividade, o que levou à ruptura com espaços convencionais de oposição (o Partido Comunista fancês e os Sindicatos). O que os estudantes do Maio de 68 exigiam sobretudo era a definição de novas formas de organização política e de ação coletiva. O espírito coletivo desses tempos era o de suprimir a separação e as fronteiras entre as esferas do “trabalho” e do “lazer”, da “vida” e da “arte”, para dar relevo a uma nova ideia de liberdade, autonomia pessoal e internacionalismo. O que ficou desse espírito ou o que se perdeu na sua constante transformação até aos nossos dias é algo que João Louro devolve a uma receptividade responsável e necessariamente mais consciente da função da arte mas também da sociedade e de cada um de nós nestes “tempos sombrios”, parafraseando aqui uma expressão de Hannah Arendt que volta ressoar na nossa contemporaneidade.
Baixar