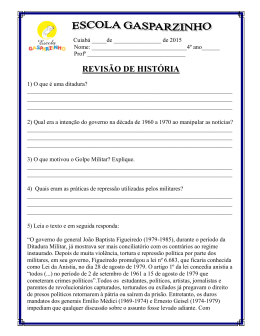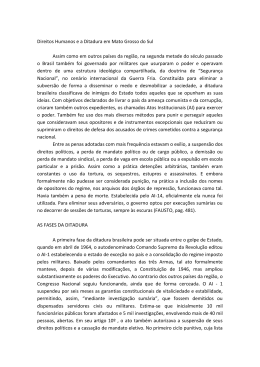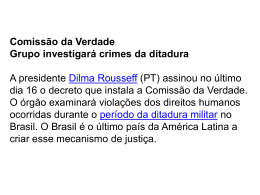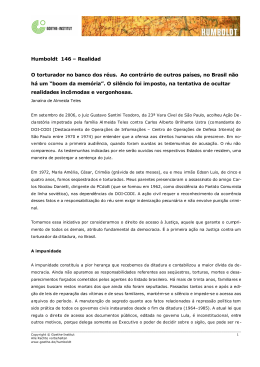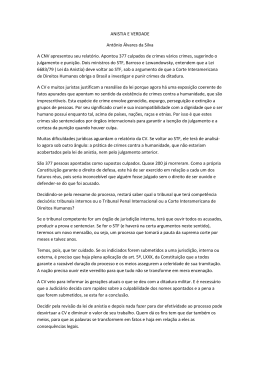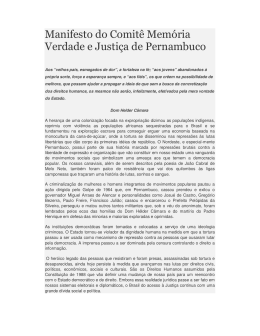UNIJUÍ – UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Departamento de Economia e Contabilidade Departamento de Estudos Agrários Departamento de Estudos da Administração Departamento de Estudos Jurídicos LUCAS GOULART DA SILVA AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DURANTE A DITADURA MILITAR Ijuí (RS) 2012 LUCAS GOULART DA SILVA AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DURANTE A DITADURA MILITAR Dissertação apresentada ao Curso de PósGraduação Strictu Sensu em Desenvolvimento, Área de Concentração: Direito, Cidadania e Desenvolvimento, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre. Orientador: Prof. Dr. Doglas Cesar Lucas Ijuí (RS) 2012 Catalogação na Publicação S586v Silva, Lucas Goulart da. As violações aos direitos e garantias fundamentais durante a ditadura militar / Lucas Goulart da Silva. – Ijuí, 2012. – 119 f. ; 29 cm. Dissertação (mestrado) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Campus Ijuí). Desenvolvimento. “Orientador: Doglas Cesar Lucas”. 1. Ditadura militar. 2. Violação dos direitos. 3. Garantias fundamentais. I. Lucas, Doglas Cesar. II. Título. CDU: 321.64 342.1 Tania Maria Kalaitzis Lima CRB 10/ 1561 UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento – Mestrado A Banca Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DURANTE A DITADURA MILITAR elaborada por LUCAS GOULART DA SILVA como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento Banca Examinadora: Prof. Dr. Doglas Cesar Lucas (UNIJUÍ): __________________________________________ Prof. Dr. Adalberto Narciso Hommerding (URI): ___________________________________ Prof. Dr. Gilmar Antonio Bedin (UNIJUÍ): ________________________________________ Ijuí (RS), 03 de abril de 2012. AGRADECIMENTOS A criação de uma dissertação de mestrado jamais ocorre de forma individual, o autor conta sempre com a ajuda de pessoas próximas e comprometidas com esse objetivo. Por isso, agradeço aos meus pais, Veneza e Antonio, sempre dispostos a financiar a realização dos meus sonhos. Agradeço o apoio incondicional da minha esposa Karla Schwerz, que ao meu lado decide pelo nosso futuro. À professora Dra. Luciene Dal Ri, responsável por despertar o meu interesse em pesquisar sobre a ditadura militar. Ao professor Dr. Doglas Cesar Lucas, que mesmo à distância sempre esteve a minha disposição. Obrigado a todos. “Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos” (Zé Geraldo). RESUMO A presente dissertação tem como objetivo abordar a gênese e a evolução histórica dos direitos fundamentais, as conquistas e retrocessos ao longo dos tempos e a inserção destes direitos perante a Constituição Federal de 1988. De forma crítica serão estudadas as violações aos direitos e garantias fundamentais durante a ditadura militar de 1964 a 1985. Serão analisados os principais Atos Institucionais, dando-se ênfase ao AI-1, AI-2 e AI-5, meios utilizados pelos militares na implantação e manutenção do poder vigente. Comparativamente serão abordados os tratamentos dados por outros países sulamericanos aos envolvidos com suas respecitvas ditaduras militares, estabelecendo-se um paralelo com a tentativa brasileira de revisão da Lei de Anistia através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundametal nº 153. Ação judicial proposta pelo Conselho Nacional da OAB e negada pelo Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a validade da lei. Será analisada a condenação sofrida pelo Brasil no caso Gomes Lund vs. Brasil, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual o Estado brasileiro restou obrigado a reparar os danos causados às vítimas pelas atrocidades cometidas durante a Guerrilha do Araguaia. Palavras-chave: Direitos e Garantias Fundamentais. Violação de Direitos. Ditadura Militar. ABSTRACT This dissertation aims to address the genesis and historical evolution of fundamental rights, achievements and setbacks over the years and the inclusion of these rights under the Constitution of 1988. Will be critically studied violations of fundamental rights and guarantees during the military dictatorship from 1964 to 1985. We will analyze the principal institutional acts, giving emphasis to the AI-1, AI-2 and AI-5, the means used by the military in establishing and maintaining in power. Comparison will consider the treatment given by other South American countries to those involved in their respecitvas military dictatorships, establishing a parallel with the Brazilian attempt to revise the Amnesty Law by invoking a Violation of Precept Fundametal nº 153. Legal action filed by the National Council of the Bar Association and denied by the Supreme Court, which reaffirmed the validity of the law. Consideration will be given the sentence in the case suffered by Brazil vs Gomes Lund. Brazil, before the Inter-American Court of Human Rights, in which the Brazilian government remains obligated to repair the damage caused to the victims for atrocities committed during the Araguaia guerrilla movement. Keywords: Fundamental Rights and Guarantees. Violation of Rights. Military Dictatorship. SUMÁRIO INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 1 DIREITOS FUNDAMENTAIS: aspectos conceituais .............................................. 12 1.1 Gênese e evolução histórica ............................................................................... 14 1.2 Classificação dos direitos fundamentais ............................................................. 25 1.2.1 Direitos fundamentais de primeira geração ...................................................... 26 1.2.2 Direitos fundamentais de segunda geração ..................................................... 28 1.2.3 Direitos fundamentais de terceira geração ....................................................... 30 1.2.4 Direitos fundamentais de quarta geração ......................................................... 32 1.3 Os direitos fundamentais e a Constituição Federal de 1988 ............................... 33 2 A DITADURA MILITAR E OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ......... 37 2.1 O contexto histórico que precedeu a ditadura militar .......................................... 38 2.2 As Constituições Federais que vigoraram durante a ditadura militar .................. 49 2.2.1 A Constituição Federal de 1946 ....................................................................... 49 2.2.2 A Constituição Federal de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de 1969 ...... 54 2.3 Os Atos Institucionais e a autoconcessão de poder ............................................ 58 2.3.1 O Ato Institucional nº 1 e as condições para impor o novo regime .................. 59 2.3.2 O Ato Institucional nº 2 e o fim da Constituição Federal de 1946 ..................... 65 2.3.3 O Ato Institucional nº 5 e a consolidação de uma ditadura .............................. 68 2.4 As principais violações aos direitos fundamentais durante a ditadura militar ...... 75 3 OS REFLEXOS DAS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DURANTE A DITADURA MILITAR .............................................. 78 3.1 A abertura política e a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79)........................................ 82 3.2 A tentativa de revisão da Lei de Anistia através da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 ................................................... 94 3.3 A condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos ................................................................................................................. 100 3.4 A criação da Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação ............... 107 CONCLUSÃO.......................................................................................................... 110 REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 112 INTRODUÇÃO A evolução dos direitos fundamentais, cujo nascimento se deu na Antiguidade, culminou na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em âmbito americano na Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) e no Brasil na Constituição Federal de 1988. Influenciadas por declarações históricas de direitos, apresentam neste princípio de século problemas que questionam a efetividade de suas normas. Como país membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA), o Brasil compromete-se a cumprir as normas estabelecidas, distanciando-se gradativamente dos períodos de violações de direitos iniciados principalmente com o golpe militar de 1964. Oriunda do temor socialista que dividia o mundo do pós Segunda Guerra Mundial, a ditadura militar teve início no golpe/revolução militar que culminou na deposição em 1964, do Presidente João Goulart. Apoiados pelos Estados Unidos e por parcelas da sociedade civil, os militares tomaram o poder e elegeram o primeiro presidente do regime militar, o General Humberto Alencar Castelo Branco. A involução democrática iniciada nesse período culminou na edição de dezessete Atos Institucionais, decretos que possibilitaram as mais diversas violações aos direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal de 1946 então em vigor. Alternaram-se no poder outros quatro presidentes militares, responsáveis pela revogação da Constituição Federal de 1946 e a outorgação da Constituição Federal de 1967. Considerada um dos maiores retrocessos da história política do país, suprimiu muitos direitos fundamentais, como a liberdade de publicação de livros e periódicos, restrição ao direito de reunião e criou a pena de suspensão dos direitos políticos. Sofreu forte influência da “Guerra Fria”, que no contexto internacional pregava a “teoria da segurança nacional”, combatia os inimigos internos rotulados de subversivos, no caso, os opositores de esquerda. A decretação por parte dos ministros militares da Emenda Complementar nº 01 praticamente outorgou uma nova Constituição Federal em 1969. Conforme César Caldeira e Marcos Arruda, “intensificou a concentração de poder no Executivo dominado pelo Exército e, junto com o AI-12, permitiu a substituição do presidente por uma Junta Militar, apesar de existir o vice-presidente (na época, Pedro Aleixo)” (1986, p. 40). Já no fim do década de 70, sob o governo de João Figueiredo, diante da pressão exercida pela sociedade civil e também por militares contrários à manutenção da ditadura, iniciou-se o processo de redemocratização do país. Neste cenário foi promulgada a Lei nº 6.693/79, popularmente conhecida por Lei de Anistia, que tinha o objetivo de preparar a sociedade do pós-ditadura militar e anistiar exilados e presos políticos, bem como todos os brasileiros que cometeram crimes políticos ou conexos com estes, favorecendo assim os militares e seus agentes. Porém, a controvérsia causada pela interpretação ampla da Lei motivou a interposição da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), ajuizada pelo Conselho Federal da OAB perante o Supremo Tribunal Federal. Ferramenta jurídica trazida pela Constituição Federal de 1988 que visa evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), incluídos atos anteriores à promulgação da própria Constituição. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em 29 de abril de 2010, decidiu pela improcedência da demanda (ADPF nº 153), negando a possibilidade de revisão da questionada Lei de Anistia, que, segundo Fábio Konder Comparatto, tinha por objetivo “recuperar a honorabilidade das Forças Armadas, após os atos de arbitrariedade – terrorismo, sequestro, assalto, tortura e atentado pessoal – praticados por integrantes da corporação contra opositores do regime militar” (2010). Na prática, a procedência da demanda possibilitaria a investigação por abusos cometidos durante os “anos de chumbo”, punindo os envolvidos pelos crimes cometidos e não responsabilizados. Possibilidade que gera revolta no meio militar brasileiro, que se julga amparado pelo direito anteriormente adquirido. Internacionalmente a busca pela reparação dos danos decorrentes de ditaduras militares, principalmente em âmbito americano, tem ocorrido de forma mais incisiva. Neste sentido a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão integrante da Convenção Americana de Direitos Humanos, já proferiu cinco acórdãos contra diferentes países considerando inválidas suas leis de autoanistia. Nessa situação encontra-se o Brasil, que, em 24 de novembro de 2010, teve julgado contra si demanda referente às atrocidades cometidas durante a Guerrilha do Araguaia (Caso Gomes Lund e Outros vs. Brasil). Evento ocorrido às margens do Rio Araguaia entre os anos de 1972 e 1975, onde cerca de 70 guerrilheiros opositores ao regime, membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses da região, foram torturados e assassinados, sendo que vários corpos jamais foram localizados. Os argumentos defensivos não foram aceitos, ocasionando a condenação de forma unânime do Brasil pelo desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal, à liberdade pessoal e à liberdade de pensamento. Entenderam os juízes da Corte que o Estado brasileiro descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à Convenção Americana de Direitos Humanos, incluindo neste item a controversa Lei de Anistia. De forma conclusiva, entenderam os julgadores que as medidas adotadas pelo Brasil, como a Lei de Anistia e a política de indenizações e benefícios, não se constituíram em uma "reparação suficiente" às violações de direitos alegadas pelas vítimas e seus familiares. Destacaram ainda que a intervenção ocorrida no Brasil produziu eficácia em países vizinhos, que revisaram suas leis de autoanista e puniram seus agentes que abusaram do poder durante suas ditaduras militares. Entendem os julgadores que essa condenação repercutirá na evolução democrática do país, solidificando a cultura de respeito aos direitos humanos fundamentais. Para tanto, no primeiro capítulo deste trabalho serão abordadas questões referentes à gênese e à evolução histórica dos direitos fundamentais, as conquistas e retrocessos ao longo do tempo, as revoltas e revoluções que contribuíram na consolidação de direitos. Após a análise histórica serão estudadas as classificações dos direitos fundamentais e a sua inserção perante a Constituição Federal de 1988. O segundo capítulo destinar-se-á ao estudo dos retrocessos aos direitos fundamentais ocorridos a partir do golpe militar de 1964, o contexto histórico que precedeu a tomada do poder pelos ditadores militares. Cronologicamente serão analisadas as Constituições Federais que vigoraram durante o período de exceção, além das violações aos direitos fundamentais proporcionadas pelos Atos Institucionais editados pelos governos militares. Por fim, o último capítulo tem como objeto a abordagem dos reflexos que o fim da ditadura militar proporcionou ao Brasil, culminando na tentativa de revisão da Lei da Anistia e na condenação do Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Serão analisadas as recentes criações da Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação, imposições que o Estado brasileiro deverá adotar para a consolidação de sua democracia. Nesta pesquisa adotar-se-á o método indutivo, o qual possibilita o desenvolvimento de enunciados gerais sobre observações acumuladas de casos específicos ou proposições que possam ter validades universais. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos trata-se de uma pesquisa de documentação indireta, especificamente bibliográfica, elaborada a partir da literatura já publicada sobre o tema. Os métodos de procedimentos adotados são o histórico e o comparativo. O primeiro consiste na investigação dos acontecimentos, processos e instituições do passado, para verificar a sua influência na sociedade de hoje. O segundo realiza comparações com a finalidade de verificar semelhanças e explicar divergências. É um método usado para comparações de grupos no presente e no passado, entre sociedades de iguais ou diferentes estágios de desenvolvimento. 1 DIREITOS FUNDAMENTAIS: aspectos conceituais Os direitos fundamentais são considerados um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito. Ao lado dos princípios da legalidade e da separação dos poderes, formam a proteção constitucional do indivíduo contra os abusos de poder por parte do Estado. Apesar da vasta produção teórica, as definições convergem no sentido de proteção da dignidade da pessoa humana, destacando-se o conceito proferido por José Afonso da Silva, o qual afirma serem os direitos fundamentais “aquelas prerrogativas e instituições que o Direito Positivo concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas” (2003, p. 562). Na respeitada opinião do jurista português José Joaquim Gomes Canotilho: Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa) (1995, p. 507). Embora uníssona na definição do conceito, a doutrina ainda busca o consenso para a nomenclatura adotada quando se refere a esta categoria de direitos. A utilização de expressões como “direitos individuais”, “liberdades públicas”, “direitos naturais”, “direitos civis”, vem sendo rechaçada progressivamente, restando aceita, conforme opinião de Ingo Wolfgang Sarlet, apenas a dicotomia entre os termos “direitos fundamentais” e “direitos humanos”, por se referirem aos mesmos direitos, porém, inseridos em contextos jurídicos diversos. Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos fundamentais”) comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direitos internacional, por referirse àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional) (2010, p. 29). Com a teoria de “direitos humanos internacionais” e “direitos fundamentais constitucionais” concorda Helenice Braun. Porém, defende a expressão “direitos humanos fundamentais”. Destaca a ideia de que as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” não são excludentes uma da outra, mas expressões que dão a ideia de interação, isto é, que se inter-relacionam (2001, p. 98). Essa formatação contrapõe o conceito de Canotilho, para quem as expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais”, apesar de utilizados como sinônimos, por sua origem e significado podem ser distinguidos da seguinte forma: [...] direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta (1995, p. 505). Segundo o jurista português, além da existência de direitos fundamentais formalmente constitucionais, há direitos fundamentais inseridos em leis e regras aplicáveis de direito internacional, e, por isso, considerados direitos materialmente fundamentais. Reforçando sua teoria que extrapola a dicotomia entre direitos fundamentais constitucionais e direitos humanos internacionais. Contrapondo essas teorias e conjugações, destaca-se a opinião de Raimundo Panikkar, teórico indu, que afirma serem os Direitos Humanos apenas um conceito ocidental, negando seu caráter de universalidade. Esta teoria não nega a existência de uma natureza humana universal, embora esta natureza não seja totalmente específica e distinta da natureza dos demais seres vivos (1983). A própria Constituição Federal de 1988 utilizou diferentes expressões ao se referir aos direitos fundamentais, contribuindo para a não resolução das divergências. Exemplo dessa heterogeneidade está na própria Constituição brasileira de 1988, que utiliza diversos termos ao tratar dos direitos fundamentais, tais como: direitos humanos no artigo 4º, inciso III, direitos e garantias fundamentais na epígrafe do Título II e artigo 5º, inciso LXXI, e direitos e garantias individuais, no artigo 60, § 4º, inciso IV, do seu texto constitucional (BRAUN, 2001, p. 97). Independentemente das expressões utilizadas pela doutrina, a proteção aos direitos fundamentais e aos direitos humanos ganhou relevância no pós Segunda Guerra Mundial e mais recentemente após a ditadura militar de 1964, períodos marcados por constantes violações desses direitos, o que estimulou a criação e o aperfeiçoamento desses meios de proteção social. 1.1 Gênese e evolução histórica A difícil tarefa de determinar a origem precisa dos direitos fundamentais explica a dissonância entre os conceitos. Porém, parte da doutrina concorda que as primeiras declarações de direitos surgiram durante a Idade Antiga, período entre os anos 4.000 a.C e 476 d.C. Consideram esses pesquisadores que até o fim da PréHistória a humanidade não havia evoluído o suficiente para respeitar normas previamente estabelecidas, tampouco criá-las, vivendo ainda de forma nômade e pelas atividades de caça e de coleta, respeitando tão somente a “lei do mais forte.” Porém, a teoria jusnaturalista, atribuída a Aristóteles, questiona essas origens, julgando haver leis eternas, superiores às normas positivadas, dentre as quais, as primeiras declarações de direitos escritas da humanidade. Conforme afirma Ricardo Castilho: Já na Roma Antiga, Cícero, no seu livro Da república, formulava a doutrina do direito natural, segundo a qual existem leis estabelecidas pelos deuses e que se antepunham à vontade dos governantes. Assim o direito natural seria eterno, imutável, superior e mais válido do que o direito positivo de natureza política (2010, p. 19). Ingo Wolfgang Sarlet ressalta a difícil constatação teórica acerca do surgimento dos direitos fundamentais, comparando a influência exercida pelas teorias do Direito Natural na positivação de direitos na Idade Antiga: Ainda que consagrada a concepção de que não foi na antiguidade que surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a constatação de que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, legou-nos algumas das idéias-chaves que, posteriormente, vieram a influenciar diretamente o pensamento jusnaturalista e a sua concepção de que o ser humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais inalienáveis, de tal sorte que esta fase costuma também ser denominada, consoante já ressaltado, de “pré-história” dos direitos fundamentais (2010, p. 38). Nesse sentido, Ricardo Castilho, afirma, mesmo isoladamente, que a origem deste pretenso constitucionalismo ocorreu através do Código de Hammurabi de 1780 a.C, na Antiga Babilônia (atual Irã), o qual em seus 282 artigos introduziu um início de ordem na sociedade (2010, p. 23). Contrapondo essa opinião, Bruno Galindo, de forma mais específica, qualifica o Código de Hammurabi como o primeiro catálogo, mesmo que insipiente de direitos fundamentais. Rejeita, porém, a característica de uma pretensa carta Constitucional. [...] que é considerado por muitos como a primeira codificação a consagrar um catálogo de direitos fundamentais aos homens. Ainda não era uma constituição, mas um corpo legislativo genérico que regulava indistintamente as condutas humanas e impunha-se como legislação limitadora do poder governamental (2005, p. 34). O pioneirismo da Lei de Talião e suas severas punições baseadas na ideologia do “olho por olho, dente por dente” foi sucedido, na cadeia evolutiva das normas de organização da sociedade, pelo Código de Ur-Nammu, editado por este soberano assírio por volta de 1.200 a.C. Foi o primeiro a aplicar penas pecuniárias para punir delitos cometidos, considerado por Ricardo Castilho “a primeira notícia referente a um constitucionalismo, ainda tosco” (2010, p. 23). Ainda que de forma primitiva, esses códigos de conduta inauguraram a busca pela consolidação de direitos humanos, havendo outros povos do Oriente Médio, como os hebreus, que igualmente foram precursores na abordagem desse tema. Nesses códigos a influência de uma religião monoteísta era bastante acentuada, e também o humanismo judaico servia de fundamento para as autoridades enfrentarem problemas concretos no campo dos direitos fundamentais. No entanto, foi na Grécia Antiga que ocorreu o maior desenvolvimento de um humanismo racional, apesar do caráter excludente por se voltar apenas aos seus cidadãos, excluindo as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Teve na pessoa de Aristóteles seu expoente (GALINDO, 2005). Mas o grande exemplo veio mesmo dos gregos. Um dos mais representativos exemplos de reflexão sobre a necessidade de normas para uma sociedade política é um ensaio sobre a Constituição de Atenas, cujos fragmentos originais foram descobertos no Egito no final do século XIX. Escrito provavelmente entre os anos 322 e 332 a.C., foi atribuído a princípio – e falsamente – a Xenofonte. Hoje se reconhece a autoria da peça com segurança: é de Aristóteles, considerada a segunda obra mais importante do pensador estagirita sobre política. O livro historia as experiências constitucionais da Cidade-Estado de Atenas, conforme seus principais legisladores (Drácon, Sólon, Pisítrato, Clístenes e Péricles), e também pode ser lido como uma história política da cidade. [...] São Tomás de Aquino complementaria o pensamento aristotélico falando da “ordem que fundamenta e substantiva as leis” (CASTILHO, 2010, p. 24-25). A partir do surgimento do Cristianismo no final da Idade Antiga e por toda a Idade Média, os direitos humanos ganharam destaque, mesmo que intimamente vinculados à religião, conquistas que culminaram na Reforma Protestante, período em que surge a democracia moderna ligada aos direitos fundamentais do homem (SARLET, 2010). A evolução para Idade Média marcou o surgimento de declarações de direitos inseridos nos Forais e nas Cartas de Franquia, documentos outorgados pelos reis portugueses e espanhóis, que, segundo Ricardo Castilho, “dava foro jurídico próprio aos habitantes medievais de uma povoação que quisesse libertar-se do poder feudal” (2010, p. 27). Essas declarações de direitos antecederam a Magna Charta Libertatun de 1215, “principal documento referido por todos que se dedicam ao estudo da evolução dos direitos humanos” (SARLET, 2010, p. 41). Considerada por grande parte da doutrina o marco inicial dos direitos fundamentais. Eficaz ou não, a Magna Carta de 1215 foi um marco na história, tornando-se o início da monarquia constitucional inglesa e um primeiro passo para o constitucionalismo no mundo ocidental. Foi redigida em latim medieval (chamado latim bárbaro), em pergaminho, e outorgada no dia 15 de junho de 1215 (CASTILHO, 2010, p. 30). Apesar de ser considerada o primeiro passo para o constitucionalismo ocidental, a Carta Magna firmada pelo Rei João Sem-Terra e pelos bispos e barões ingleses, não teve por objetivo garantir direitos às classes menos favorecidas da sociedade. Conforme ensina Ingo Wolfgang Sarlet: Este documento, inobstante tenha apenas servido para garantir aos nobres ingleses alguns privilégios feudais, alijando, em princípio, a população do acesso aos “direitos” consagrados no pacto, serviu como ponto de referência para alguns direitos e liberdades civis clássicos, tais como o habeas corpus, o devido processo legal e a garantia da propriedade (2010, p. 41). Houve tão somente a tentativa por parte dos nobres e religiosos de limitar o comportamento despótico do rei, que, conforme Bruno Galindo, restou assim definida: A Magna Charta Libertatum de 1215 foi o marco medieval da limitação do poder pelo respeito a alguns direitos fundamentais. Apesar de consagrar tais direitos apenas para os senhores feudais, a Carta inglesa, nascida das controvérsias entre esses nobres e o Rei João Sem Terra, teve o condão de colocar, em um plano normativo, as limitações ao poder de tributar, a proporcionalidade entre delito e sanção, o devido processo legal, o livre acesso à Justiça, e a liberdade de locomoção. Essa luta pela limitação do poder monárquico foi o principal fator influenciador das teorias democráticas da Idade Moderna, que defenderam um Estado onde predominasse a pluralidade em termos de participação popular na formação da vontade estatal e onde os direitos fundamentais pudessem ser garantidos com maior efetividade possível, teorias que culminaram nas Declarações de Direitos dos séculos XVII, XVIII e XX (2005, p. 36). Embora a destacada importância das declarações de direitos e privilégios medievais, suas outorgas pelas autoridades reais ocorreram em um contexto social e econômico marcado pela desigualdade, excluindo grande parcela da população de seus benefícios. Entretanto, a evolução dos direitos fundamentais se manteve constante ao longo da transição da Idade Média para a Idade Moderna, destacandose as conquistas ocorridas através de eventos como a Reforma Protestante (século XVI), que levou à reivindicação e ao gradativo reconhecimento da liberdade de opção religiosa e de culto em diversos países da Europa (SARLET, 2010, p. 42). As declarações de direitos de origem inglesa do século XVII, como a Petição de Direitos (Petition of Rights) de 1628, evento que a História considera responsável pelo início do constitucionalismo moderno (CASTILHO, 2010, p. 41), o Habeas Corpus Act, de 1679, o Bill of Rights, de 1689 e o Establishment Act, de 1701, que, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, “foram direitos e liberdades reconhecidos aos cidadãos ingleses resultantes da progressiva limitação do poder monárquico e da afirmação do Parlamento perante a corte inglesa” (2010, p. 42). As conquistas europeias de direitos fundamentais se difundiram para a América do Norte, onde, em 12 de junho de 1776, o povo da colônia de Virgínia, atual estado americano, divulgou a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Escrita por Thomas Jefferson, precedeu a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América ocorrida em 4 de julho do mesmo ano. Evento fortemente influenciado pela Magna Carta inglesa, conforme ensina Ricardo Castilho: Os colonos norte-americanos, ao se rebelarem contra o governo britânico, usaram como argumento a mesma filosofia que norteava os dominadores desde a Magna Carta: a concepção liberal de que o povo não deve ficar sujeito a um governo arbitrário, mas, sim, ser protegido pela lei e controlar o Executivo por meio do Poder Legislativo livremente eleito (2010, p. 54). Inovadora por inserir o “direito à vida” como norma a ser respeitada, a Declaração de Independência americana, aliada à Declaração dos Direitos da Virgínia, contribuíram para a edição da primeira e única Constituição dos Estados Unidos da América. Também considerada a primeira Carta Constitucional do mundo, foi promulgada em 4 de março de 1789, treze anos após a Declaração dos Direitos da Virgínia. “Nessa carta, as dez primeiras emendas são chamadas Bill of Rights, porque enumeram os direitos básicos dos cidadãos norte-americanos perante o poder do Estado” (CASTILHO, 2010, p. 60). A evolução da humanidade determinou a derrocada do período moderno e a entrada na Idade Contemporânea. O marco de transição entre estes períodos foi a Revolução Francesa de 1789, evento que Ingo Wolfgang Sarlet classifica como a “primeira que marca a transição dos direitos de liberdade legais ingleses para os direitos fundamentais constitucionais” (2010, p. 43). Marcou também o surgimento da expressão “direitos do homem”, que, segundo Fernando Barcellos de Almeida, “foram a conquista de uma classe emergente como dona de poder econômico e que se torna dona também do poder político, como ocorreu mais significativamente com a classe burguesa na Revolução Francesa” (1996, p. 45). A edição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fruto da revolução que provocou a derrocada do antigo regime e a instauração da ordem burguesa na França, conforme ensina Sarlet, sofreu forte influência das declarações de direitos americanas, as quais reciprocamente foram influenciadas pela doutrina iluminista francesa: A influência dos documentos americanos, cronologicamente anteriores, é inegável, revelando-se principalmente mediante a contribuição de Lafayette na confecção da Declaração de 1789. Da mesma forma, incontestável a influência da doutrina iluminista francesa, de modo especial de Rousseau e Montesquieu, sobre os revolucionários americanos, levando à consagração, na Constituição Americana de 1787, do princípio democrático e da teoria da separação dos poderes. Sintetizando, há que reconhecer a inequívoca relação de reciprocidade, no que concerne à influência exercida por uma declaração de direitos sobre a outra [...] (2010, p. 44). O surgimento desta marcante declaração de direitos ocorreu de forma atrelada à Revolução Francesa, mais propriamente após a Tomada Bastilha, marco que simboliza as conquistas burguesas e a derrocada do absolutismo monárquico francês. Conquistas que influenciaram o mundo através dos ideais de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” e marcaram a evolução da humanidade para a Idade Contemporânea. Alçados ao poder, os revolucionários convocaram a Assembléia Nacional Constituinte francesa para que se redigisse a primeira Constituição do país e, consequentemente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já o preâmbulo da Carta restou redigido em paralelo por um conjunto seleto de deputados reunidos na casa de Thomas Jefferson. Conforme ensina Ricardo Castilho: Em paralelo, uma comissão de deputados decidiu escrever um preâmbulo para a Carta francesa, com uma síntese dos ideais da revolução. Reuniramse na casa de Thomas Jefferson, então embaixador norte-americano em Paris. Os principais membros dessa delegação eram o marquês de La Fayette, que havia participado da guerra de independência dos Estados Unidos, Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, grande orador e ativista da revolução, e o jornalista e escritor Honoré-Gabriel Victor Riqueti, conde de Mirabeau, este responsável pelo texto final. A declaração foi aprovada em sessão da Assembléia Constituinte de 26 de agosto de 1789 (2010, p. 67). Apesar das conquistas alcançadas a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, bem como a reconhecida importância das mulheres na Revolução Francesa, a referência ao termo “Homem” no título que caracteriza a declaração francesa de direitos ocorreu por ser dedicada tão somente aos representantes do sexo masculino. Fato retratado pela autora teatral Marie Olympe de Gouges, que, em repúdio, escreveu e publicou em 1791 o manifesto chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A História registra que as mulheres tiveram participação ativa na Revolução Francesa. No entanto, a Declaração é inteiramente dedicada aos representantes do sexo masculino. Uma autora teatral, Marie Gouze Olympe de Gouges, de certo destaque na época, escreveu e publicou em 1791 o manifesto chamado Declaração dos direitos da mulher e da cidadã, usando a mesma linguagem que o documento original, reivindicando que os direitos fossem estendidos às mulheres da França (CASTILHO, 2010, p. 69). O manifesto não teve o poder de incluir direitos às mulheres no texto original. Porém, no mesmo ano em que os incomodados revolucionários prenderam e guilhotinaram Marie Gouze Olympe de Gouge, 1793, o documento foi revisado e nele incluída “a concepção de liberdade aos negros, e pela primeira vez eram proclamados os direitos econômicos e sociais, que incluíam direito à instrução, ao trabalho e à assistência” (CASTILHO, 2010, p. 69). Constituída de XVII enunciados, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão ficou marcada por seus avanços sociais ao garantir direitos iguais para todos os cidadãos, além do pioneirismo em permitir a participação política do povo. Restou sucedida somente em 10 de dezembro de 1948 com a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Esse evento Flávia Piovesan caracteriza como a “verdadeira consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos surge em meados do século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial” (1997, p. 139). O surgimento da Declaração dos Direitos Humanos em 1948 marcou a evolução dos direitos conquistados através das revoluções do século XVIII. Teve por objetivo dar proteção aos povos do planeta, baseando-se no princípio fundamental de que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Para que se possa compreender o processo de discussão até a promulgação da Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, é necessário fazer referência a outros momentos relevantes da história que contribuíram para sua criação. Destacam-se as declarações de direito norte-americana, de 1776, e a declaração francesa, de 1789, as quais marcaram a emancipação histórica do indivíduo perante os grupos sociais, como a família, entidades religiosas e outros segmentos, dando em troca a segurança da legalidade, com garantia da igualdade de todos perante a lei (BRAUN, 2001, p. 130-131). Formalizada em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos contou com a aprovação unânime de 48 países, havendo apenas 8 abstenções. A inexistência de qualquer questionamento ou reserva feita pelos Estados aos princípios da Declaração, e a inexistência de qualquer voto contrário às suas disposições conferem à Declaração Universal o significado de um código e plataforma comum de ação. Consolida a afirmação de uma ética universal, ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos Estados (PIOVESAN, 1997, p. 155). Precedida de um preâmbulo e composta por trinta artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos formalizou os objetivos declarados e defendidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Embora não possua obrigatoriedade legal, foi redigida após o final da Segunda Guerra Mundial e durante um princípio de Guerra Fria, pretendendo o alcance global de respeito aos direitos e liberdades fundamentais. Em janeiro de 1946, a Assembléia Geral das Nações examinou um projeto de declaração sobre os direitos e liberdades fundamentais e o remeteu ao Conselho Econômico e Social, que, por sua vez, transmitiu-o à Comissão de Direitos Humanos e esta recebeu-o como subsídio a uma carta internacional de Direitos Humanos. Em 1947, a Comissão autorizou os membros de sua Mesa Diretora a formular um projeto preliminar, tarefa essa que depois foi assumida por um Comitê de Redação, integrado por membros da Comissão, representava oito Estados e que foram escolhidos em função de uma equânime distribuição geográfica (ALMEIDA, 1996, p. 108). Importante destacar a proclamação solene inserida pela Assembleia Geral no corpo do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Parágrafo em que o Órgão plenário e deliberativo, composto por todos os países membros, expressou de forma didática os objetivos e intenções dos artigos que precede: A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição (DUDH, ONU, 1948). O respaldo alcançado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos acabou por influenciar a elaboração e a formalização de tratados regionalizados de proteção de direitos. Seus princípios passaram a balizar os julgamentos dos tribunais internacionais e nacionais, servindo de referencial teórico para a elaboração de cartas constitucionais e infraconstitucionais. Porém, dentre as importantes normas que a compõem, Helenice Braun destaca a “concepção de que o único regime político que respeita efetivamente os direitos do homem é o regime democrático, único caminho legítimo para a organização do Estado” (2002, p. 140). Normativa inserida no artigo XXI, que, de forma implícita, impõe a soberania do voto na organização política dos Estados: “A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto” (D.U.D.H., 1948). Dentre os tratados surgidos a partir da Declaração Universal, destaca-se, em âmbito americano, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Também influenciada pelo Pacto Interamericano de Direitos Civis e Políticos de 1966, é composta por órgãos ativos e regida por normas de efeito vinculante, impondo aos países integrantes o respeito às decisões de sua Corte de julgamentos. Aprovada na Conferência de São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969, a Convenção reproduz a maior parte das declarações de direitos constantes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966. Quanto aos órgãos competentes para supervisionar o cumprimento de suas disposições e de julgar os litígios referentes aos direitos humanos nela declarados, a Convenção aproxima-se mais do modelo da Convenção Européia de Direitos Humanos de 1950 (COMPARATO, 2001, p. 364). Igualmente conhecido por Pacto de São José da Costa Rica, tem por integrantes os países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA). Diferentemente da Declaração Universal de Direitos Humanos, possui um órgão competente para o julgamento dos processos de eventuais violações, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Similar ao sistema da ONU, o sistema da OEA é composto de uma Declaração, equivalente a uma recomendação e uma Convenção – A Convenção Americana sobre Direitos Humanos – equivalente ao Pacto da ONU, mas mais particularizado do que este -, também conhecida por “Pacto de San José”, por ter sido elaborada e assinada nesta localidade em 1969 (ARAÚJO; ANDREIUOLO, 1999, p. 73). O caráter vinculante das decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos conferiu à Convenção o respaldo necessário para o respeito às suas normas. As eventuais transgressões expuseram os demandados às punições impostas pela Corte, formando ao longo do tempo a jurisprudência de proteção aos direitos humanos em âmbito americano. Desde a sua primeira sentença, no caso Velásquez Rodriguez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que a obrigação de garantia estipulada no artigo 1º da Convenção. [...] Esse conceito foi reiterado sistematicamente pela jurisprudência da Corte, que o precisou definindo que o Estado é o organizador do respeito aos direitos humanos, inclusive nas relações interindividuais, quando por sua aquiescência, ação ou omissão, contribuiu para sua violação (NIKKEN, 2009, p. 258-259). Composta por 82 artigos, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi ratificada pelo Brasil somente em 1992 por meio do Decreto 678/92, pois, quando da sua subscrição, o país vivenciava um período de regime militar, inviabilizando a aplicação de seus preceitos de proteção e garantia aos direitos humanos. No que se refere à posição do Brasil em relação ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos, observa-se que somente a partir do processo de democratização do país, deflagrado em 1985, é que o Estado Brasileiro passou a ratificar relevantes tratados internacionais de direitos humanos (PIOVESAN, 1999, p. 126). Destaca-se a preocupação dos legisladores da Convenção Americana de Direitos Humanos em combater a impunidade dos signatários na garantia dos direitos humanos, como confirma Pedro Nikken; “a Corte Interamericana salientou que os Estados Partes na Convenção devem erradicar a impunidade” (2009, p. 261). Diretriz que impôs aos países a obrigação de responsabilizar seus agentes por crimes cometidos contra os direitos humanos no âmbito de suas ditaduras militares. Esse procedimento maximizou a importância da Convenção Americana de Direitos Humanos, alçando-a à condição de guardiã dos direitos humanos no período de consolidação democrática pós ditaduras militares sul-americanas. 1.2 Classificação dos direitos fundamentais A Constituição Federal de 1988 e as doutrinas modernas que tratam dos Direitos Fundamentais divergem quanto às suas classificações e nomenclaturas. De acordo com a Constituição Federal, o Título II, os direitos e garantias fundamentais subdividem-se em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos políticos e partidos políticos. Dessa forma, ressalta Alexandre de Moraes que a classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu cinco espécies ao gênero direitos e garantias fundamentais; direitos políticos; e direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos (2004, p. 61). Já a classificação apresentada por T. H. Marshall, proposta em 1950, classificou os direitos em civis (afirmados no século XVIII), políticos (conquistados no século XIX) e sociais (conquistados no século XX) (MARSHALL apud BESTER, 2005, p. 587). Ainda, de acordo com a autora, todas as classificações de direitos realizadas depois desta, de algum modo, desta se serviram. Porém, a classificação por gerações feita pelo jurista italiano Norberto Bobbio em sua obra A era dos direitos encontrou simpatizantes na doutrina brasileira, dentre eles, Paulo Bonavides e José Afonso da Silva. No entanto, apesar desta consolidação teórica, o termo “gerações” também encontra oposição, conforme destaca Ingo Wolfgang Sarlet, que adota o termo “dimensão”, por afastar a compreensão de substituição de direitos por gerações futuras, complementando-se em dimensões coexistentes. Num primeiro momento, é de se ressaltarem as fundadas críticas que vêm sendo dirigidas contra o próprio termo “gerações” por parte da doutrina alienígena e nacional. Com efeito, não há como negar que o reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um processo cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o uso da expressão “gerações” pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual há quem prefira o termo “dimensões” dos direitos fundamentais, posição esta que aqui optamos por perfilhar, na esteira da mais moderna doutrina (SARLET, 2010, p. 45). Superadas as divergências, relativizam-se as opiniões no sentido de agrupar os diferentes direitos fundamentais constitucionais ou direitos humanos internacionais em três ou quatro grupos; direitos de primeira, segunda, terceira e quarta gerações ou dimensões. 1.2.1 Direitos fundamentais de primeira geração Surgidos preliminarmente no âmbito da Magna Carta Libertatum de 1215, os direitos de primeira geração visavam à proteção das liberdades individuais em detrimento ao poder do Estado, que deveria respeitar e garantir a liberdade, a vida, a propriedade, a manifestação, a expressão, o voto, entre outros direitos dos cidadãos. Reconhecidos desde as primeiras Constituições escritas, são, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, “o produto peculiar do pensamento liberal-burguês do século XVIII, de marcado cunho individualista, surgindo e afirmando-se como direitos do indivíduo frente ao Estado [...]” (2010, p. 46). Os fundamentos do Estado Absolutista começavam, lentamente, a desabar, principalmente diante das pretensões da emergente burguesia urbana, que buscava espaço para crescer economicamente. Com estas influências históricas e políticas, surgiram os direitos fundamentais de primeira geração (SCHÄFER, 2005, p. 19). Segundo Paulo Bonavides, apesar de atualmente pacificados constitucionalmente, a consolidação dos direitos de primeira geração ocorreu de forma diversa entre os países, fato que demonstra as peculiaridades e as necessidades de cada sociedade. Os direitos de primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. Se hoje esses direitos parecem já pacificados na codificação política, em verdade se moveram em cada país constitucional num processo dinâmico e ascendente, entrecortado não raro de eventuais recuos, conforme a natureza do respectivo modelo de sociedade, mas permitindo visualizar a cada passo uma trajetória que parte com freqüência do mero reconhecimento formal para concretizações parciais e progressivas, até ganhar a máxima amplitude nos quadros consensuais de efetivação democrática de poder. [...] os direitos e da primeira geração – direitos civis e políticos – já se consolidaram em sua projeção de universalidade formal, não havendo Constituiçlão digna desse nome que os não reconheça em toda a extensão (2003, p. 563). Por definirem um não fazer do Estado em prol do cidadão, caracterizam-se como uma prestação negativa. Conforme refere Sarlet, “são por esse motivo, apresentados como direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a uma abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos [...]” (2010, p. 47). [...] essas idéias encontravam um ponto fundamental em comum, a necessidade de limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Estado moderno e contemporâneo (MORAES, 2000, p. 19). Segundo refere Jairo Schäfer, “o estudo da evolução dos direitos fundamentais confunde-se com a própria história do Estado de Direito” (2005, p. 14). Interpretação que ressalta a importância dos direitos fundamentais de primeira geração, que de forma precursora viabilizaram a criação de instâncias de controle dos poderes do Estado. Sarlet exemplifica quais são os direitos considerados de primeira geração: Assumem particular relevo no rol desses direitos, especialmente pela sua notória inspiração jusnaturalista, os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. São, posteriormente, complementados por um leque de liberdades, incluindo as assim denominadas liberdades de expressão coletiva (liberdades de expressão, imprensa, manifestação, reunião, associação, etc.) e pelos direitos de participação política, tais como o direito de voto e a capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a íntima correlação entre os direitos fundamentais e a democracia. Também o direito de igualdade, entendido como igualdade formal (perante a lei) e algumas garantias processuais (devido processo legal, habeas corpus, direito de petição) se enquadram nesta categoria (2010, p. 47). Apesar de corresponderem à fase inicial do constitucionalismo ocidental, os direitos eminentemente de cunho civil e político estabelecidos pelos direitos fundamentais de primeira geração comprovam sua importância ao integrarem desde o surgimento a totalidade das Cartas Constitucionais. 1.2.2 Direitos fundamentais de segunda geração Os problemas sociais e econômicos decorrentes do processo de industrialização do século XIX, aliados às doutrinas socialistas e à constatação de que somente a liberdade e a igualdade dos cidadãos não seriam garantidas por sua mera consagração formal, geraram, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, “amplos movimentos reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de direitos” (2010, p. 47). Direitos que necessitaram ser garantidos pelo Estado, contrapondo os direitos de primeiro grau e sua característica de prestação negativa. Esta posição ativa do Estado na garantia de direitos representou o nascimento de um pretenso Estado de bem-estar social, que, conforme Rodrigo César Rebello Pinho “significam uma prestação positiva, um fazer do Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem social e econômica” (2005, p. 69). A utilização da expressão direitos sociais consolidou o processo histórico de formação do Estado Social, conforme destaca Jairo Schäfer: A expressão direitos sociais, segundo Baldassarre, não era de utilização comum no âmbito do discurso político e jurídico antes do advento do Estado Contemporâneo, sendo que o reconhecimento dos direitos sociais resultou do processo histórico de formação e virtude da superveniência de dois relevantes eventos da época contemporânea, quais sejam, a industrialização e a democratização do poder político. Isso porque se, de um lado, a industrialização estimulou as diferenças entre classes sociais, separando radicalmente trabalho de capital, por outro a democracia permitiu o exercício de pressões políticas dialéticas (2005, p. 26). Surgiram, conforme Rodrigo César Rebello Pinho, “em um segundo momento do capitalismo, com o aprofundamento das relações entre capital e trabalho. As primeiras Constituições a estabelecer a proteção de direitos sociais foram a mexicana de 1917 e a alemã de Weimar em 1919” (PINHO, 2005, p. 69), porém, pondera Sarlet, o fato das inserções anteriores. Estes direitos fundamentais, que embrionária e isoladamente já haviam sido contemplados nas Constituições Francesas de 1793 e 1848, na Constituição Brasileira de 1824 e na Constituição Alemã de 1849 (que não chegou a entrar em vigor), caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc” (2010, p. 48). Destaca Sarlet, a característica de certos direitos considerados de segunda geração dissociados da prestação positiva por parte do Estado, as denominadas liberdade sociais, “liberdade de sindicalização, do direito de greve, bem como do reconhecimento de direitos fundamentais dos trabalhadores, tais como o direito a férias e ao repouso semanal remunerado, a garantia de um salário mínimo e a limitação de jornada de trabalho” (2010, p. 48). O vasto rol de direitos de segunda geração e seu caráter de bem estar social dificultam sua efetivação plena. Assim, enfatiza Paulo Bonavides “que os direitos de segunda geração passaram por um ciclo de baixa normatividade, tendo inclusive, sua eficácia posta sob suspeita” (2003, p. 565). A necessidade de recursos financeiros públicos, por vezes, inviabiliza a efetivação desses diretos. 1.2.3 Direitos fundamentais de terceira geração Diferentemente dos direitos fundamentais de primeira e segunda geração, os direitos fundamentais de terceira geração possuem a coletividade humana como destinatário em detrimento ao indivíduo. Destinam-se, conforme Ingo Wolfgang Sarlet, “à proteção de grupos humanos (família, povo, nação), e caracterizam-se, consequentemente, como direitos de titularidade coletiva e difusa” (2010, p. 48). Ainda considerados novos direitos, surgiram em razão dos processos de industrialização e urbanização do século XX, em que os conflitos não mais eram adequadamente resolvidos dentro da antiga tutela jurídica do homem-indivíduo. Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado (BONAVIDES, 2003, p. 596). São direitos que a coletividade impõe ao Estado, principalmente no que se refere a realizar ações concretas para garantir-lhes um mínimo de igualdade e de bem-estar social. Conhecidos também por Direitos de Fraternidade e Solidariedade, referência ao lema revolucionário francês do século XVIII, “liberdade, igualdade e fraternidade”, englobam, segundo Ingo W. Sarlet: Dentre os direitos fundamentais de terceira dimensão consensualmente mais citados, cumpre referir os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, bem como o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e o direito de comunicação (2010, p. 48). Segundo José Afonso da Silva, os direitos de terceira geração dividem-se em dois tipos: Relativos ao homem trabalhador – assim considerado o produtor de bens e partícipe de uma relação empregatícia. Estes, por sua vez, podem englobar direitos individuais e direitos coletivos, de participação nas negociações coletivas de trabalho, de representação classista, de substituição processual etc. Relativos ao homem consumidor – referem-se especialmente ao homem como sujeito que consome bens e serviços públicos, tais como: direito à seguridade social; direito à educação; direito à habitação; direito a cultura, direito ao lazer; direito ao meio ambiente; direitos sociais para as crianças e os idosos (2005, p. 592). Por serem atuais, o surgimento de novos direitos de terceira geração pode e tende a ocorrer, principalmente em virtude das novas formas de comunicação que universalizaram as relações e potencializaram as necessidades. 1.2.4 Direitos fundamentais de quarta geração Não reconhecidos pela totalidade da doutrina, “a existência de uma quarta dimensão, que, no entanto, ainda aguarda sua consagração na esfera do direito internacional e das ordens constitucionais internas” (SARLET, 2010, p. 50), possui íntima relação com a globalização e o neoliberalismo. Dessa forma, visam à dissolução do Estado nacional, “afrouxando e debilitando os laços de soberania e, ao mesmo passo, doutrinando uma falsa despolitização da sociedade” (BONAVIDES, 2003, p. 571). Por se tratar de direitos de caráter internacional, conforme refere Gisela Maria Bester: “[...] constituem-se na condição de possibilidade do surgimento das Declarações, Pactos e Cartas Internacionais para a proteção da humanidade fora do âmbito dos Estados Nacionais e tem como marco o ano de 1948, sendo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada pelas Nações Unidas naquele final da primeira metade do século XX o mais importante documento dentro desta categoria de direitos (2005, p. 593). Portanto, possuem caráter supranacional, tendo como destinatário não somente o cidadão de um país, mas o gênero humano como um todo, incluindo-se o direito à democracia, à informação e ao pluralismo. Segundo Bester, os direitos de quarta geração compreendem: Direito ao desenvolvimento – é uma conquista bastante recente, referindose ao fenômeno contemporâneo denominado subdesenvolvimento, sendo este justamente um dos maiores entraves ao reconhecimento e ao respeito pelos direitos humanos, notadamente dos econômico-sociais, eis que gera, por um lado, uma legião de excluídos e marginalizados e, por outro, um Estado geralmente autoritário, ineficaz e dependente de países ricos. Direito ao meio ambiente sadio – necessário porque o crescimento urbano e o desenvolvimento tecnológico têm causado profundos danos ao habitat natural dos seres humanos, a ponto de podermos falar inclusive em uma espécie de vingança da tecnologia. [...] Esse direito é recente, passando a ser reconhecido a partir da década de 1960. Direito à paz – quanto à paz, todos a queremos e todos sabemos o que ela significa, mas todos temos também o conhecimento a respeito da dificuldade de se fazer respeitar este direito amplamente reconhecido em vários textos jurídicos internacionais [...] Direito à descolonização – intimamente associado ao direito à autodeterminação dos povos, pleiteado para evitar que alguns países, de forma reiterada, interfiram nas políticas internas dos demais, como o fizeram os Estados Unidos em relação ao Brasil e a muitos outros países na década de 1990, com seu Consenso de Washington (2005, p. 594). Além destas quatro gerações de direitos, há ainda um grupo de direitos recentes, classificados de Novíssimos Direitos. Também conhecidos por direitos fundamentais de quinta geração, não são reconhecidos pela totalidade dos autores. Encontram-se em fase de reivindicações, como os direitos relativos à inteligência artificial e à informática; à bioética, posse de patrimônio genético de pessoas, clonagem etc. 1.3 Os direitos fundamentais e a Constituição Federal de 1988 O retorno do Brasil ao Estado Democrático de Direito após a ditadura militar, que perdurou de 1964 a 1985, influenciou diretamente a elaboração da Constituição Federal de 1988. O movimento legislativo constitucional que desencadeou no vasto rol de direitos e garantias fundamentais preconizados por esta Carta Constitucional possui semelhança ao ocorrido no pós Segunda Guerra Mundial com a edição de inúmeros tratados internacionais para proteção dos direitos humanos. Conforme destaca Ingo Wolfgang Sarlet: No que concerne ao processo de elaboração da Constituição de 1988, há que fazer referência, por sua umbilical vinculação com a formatação do catálogo dos direitos fundamentais na nova ordem constitucional, à circunstância de que esta foi resultado de um amplo processo de discussão oportunizado com a redemocratização do País após mais de vinte anos de ditadura militar (2010, p. 63). Neide Maria Carvalho de Abreu destaca a influência exercida pelo pós Segunda Guerra na elaboração das declarações de direitos e também nas cartas constitucionais. Os direitos fundamentais foram inseridos de maneira explícita nas constituições, há bem pouco tempo, precisamente após a 2ª Guerra Mundial, quando todos os povos intuíram que a preocupação internacional deveria estar voltada para uma proteção aos direitos da pessoa humana, após as violências cometidas pelos regimes fascista, stalinista e nazista, como também pelo perigo de ameaça à tranquilidade universal decorrente da instabilidade das relações entre diversos países (2006, p. 09). Porém, importante enfatizar que a Constituição Federal de 1988, apesar de inovadora ao tratar dos “direitos fundamentais antes de tratar da organização do próprio Estado, bem como ao incorporar junto à proteção dos direitos individuais e sociais a tutela dos direitos difusos e coletivos” (PINHO, 2005, p. 72), não pode ser considerada pioneira e tampouco exclusiva ao tratar de direitos individuais, conforme relembra Rodrigo César Rebello Pinho: Todas as Constituições brasileiras contiveram enunciados de direitos individuais. A de 1824, em seu art. 179, garantia “a inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade”. A Constituição de 1891 destinava uma seção à declaração de direitos, assegurando a “brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade” (art. 72). A de 1934, editada após a Constituição alemã de Weimar, continha, ao lado de um título denominado “Das Declarações Direitos”, um outro dispondo sobre a ordem econômica e social, incorporando ao Texto Constitucional diversos direitos sociais. A tutela a essa nova modalidade de direitos, os sociais, permaneceu em todas as demais Constituições. A Carta de 1937 consagrava direitos, mas o art. 186 declarava “em todo o país o estado de emergência”, com a suspensão de diversas dessas garantias. [...] A Constituição de 1946 destinou o Título IV à declaração de direitos. Esse enunciado permaneceu nas Constituições de 1967 e 1969 [...] (2005, p. 71). No entanto, inegáveis as inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988, resultado de um período de amadurecimento e de consolidação do direito constitucional em âmbito nacional e internacional, representando o marco do processo de redemocratização do Estado. “Traçando-se um paralelo entre a Constituição de 1988 e o direito constitucional positivo anterior, constata-se, já numa primeira leitura, a existência de algumas inovações de significativa importância na seara dos direitos fundamentais” (SARLET, 2010, p. 63). A inclusão de um vasto rol de direitos e garantias fundamentais preconizados pela Constituição Federal de 1988 foi o meio adotado pelo legislador na proteção contra o retorno de períodos de desrespeito democrático. Três características consensualmente atribuídas à Constituição de 1988 podem ser consideradas como extensivas ao título dos direitos fundamentais, nomeadamente seu caráter analítico, seu pluralismo e seu forte cunho programático e dirigente. [...] Este cunho analítico e regulamentista reflete-se também no Título II (dos Direitos e Garantias Fundamentais), que contém ao todo sete artigos, seis parágrafos e cento e nove incisos, sem se fazer menção aqui a diversos direitos fundamentais dispersos pelo restante do texto constitucional (SARLET, 2010, p. 64). Merecem destaque as inegáveis conquistas alcançadas a partir da Constituição Federal de 1988 no que se refere à construção da cidadania e à preservação da dignidade da pessoa humana. Méritos alcançados a partir das inovações legislativas que concederam aos direitos fundamentais tratamento especial. O texto constitucional de 1988 incluiu um rol de direitos fundamentais os direitos civis, políticos e sociais, sendo os últimos a grande inovação, já que as constituições anteriores tratavam dos direitos sociais dentro da ordem econômica e social e esses não eram, até então, consagrados como direitos e garantias fundamentais (BRAUN, 2002, p. 101). Ingo Wolfgang Sarlet destaca características da Constituição Federal 1988 responsáveis pelo êxito na proteção dos direitos fundamentais. Em primeiro lugar, destaca a amplitude do catálogo dos direitos fundamentais, tendo o artigo 5º 78 incisos, sendo que o art. 7º consagra, em seus 34 incisos, um amplo rol de direitos sociais dos trabalhadores. Porém, ressalta o autor que a inovação mais significativa está inserida no art. 5º, § 1º, da CF, de acordo com a qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, apesar da efetivação prejudicada pela própria amplitude do catálogo (2010, p. 66). No entanto, apesar de todas as características positivas que acompanham os direitos fundamentais no âmbito da Constituição Federal de 1988, a inclusão no rol das “cláusulas pétreas” (ou “garantias de eternidade”) do art. 60, § 4º, da Carta, expressa a grandeza e a importância destes direitos, responsáveis pelo virtuoso cognome de Constituição Cidadã. 2 A DITADURA MILITAR E OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS O histórico de violações aos direitos e garantias fundamentais durante a ditadura militar de 1964 confirma a dificuldade de um governo totalitário em manter o respeito pelas normas constitucionalmente protegidas. A deposição de João Goulart, presidente legalmente constituído durante a vigência da Constituição Federal de 1946, confirma esta situação. A própria Constituição Federal de 1967, semioutorgada por um Congresso Nacional composto por políticos filiados ao Exército, apesar dos retrocessos democráticos, trazia um singelo rol de direitos e garantias fundamentais. A controvertida Emenda Constitucional de nº 1, também conhecida por Constituição Federal de 1969, outorgada por uma Junta Militar fortemente influenciada pelo Ato Institucional nº 5, apesar de ter ampliado as restrições da Constituição de 1967, manteve certos direitos e garantias fundamentais e direitos sociais. Tais contradições evidenciam o fato de que as Constituições que vigoraram durante a ditadura militar não resultaram de uma verdadeira revolução social, o que esclarece a não efetividade das normas de caráter voltado ao desenvolvimento e bem-estar do cidadão. A história das nossas Cartas Magnas resulta da alternância cíclica no poder de setores autoritários ou liberais do capitalismo. Em todos os casos, as forças dominantes geraram Constituições que visavam ou manter o sistema sócio-político-econômico, ou modificar aspectos dele a fim de mantê-lo como um todo (CALDEIRA; ARRUDA, 1986, p. 4). Em períodos de consolidação constitucional de um Estado Democrático de Direito, a simples inserção de normas de direitos e garantias fundamentais em uma Constituição não significa sua efetividade. Durante um período de ditadura militar ocorre o distanciamento ou mesmo a ruptura entre a efetividade e o rol de direitos formalmente positivados. No Brasil, de 1964 a 1985, o poder constituinte teve o cuidado de elencar ou manter direitos que somente convenciam a opinião pública internacional e os órgãos de proteção aos direitos humanos vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU), internamente, a efetividade de tais direitos jamais fora prioridade dos militares. 2.1 O contexto histórico que precedeu a ditadura militar A queda do nazismo alemão e o fim da Segunda Guerra Mundial originaram a bipartição do globo terrestre em Socialistas e Capitalistas. Respectivamente liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e pelos Estados Unidos da América, proporcionaram ao mundo uma forma de disputa não declarada entre si, oficialmente intitulada de “Guerra Fria”. Resultou na hegemonia capitalista como forma econômica, social e cultural a ser seguida pelos países ocidentais, além da dissolução em 1991 da União Soviética em diversos países independentes (COTRIM, 1999, p. 443). Estavam ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria e concordavam com as bases filosóficas do seu capitalismo. Supunham ter um parceiro no aliado, mas não conheciam a extensão do seu interesse pela expansão industrial brasileira. Capturado pelo conflito ideológico, esse pensamento associou-se a um projeto americano que lhes oferecia qualquer tipo de solidariedade, menos a industrialização acelerada (GASPARI, 2003, p. 131). Influenciado pelo capitalismo norte-americano, o Brasil manteve-se como um importante parceiro nessa campanha contra o socialismo/comunismo. Porém, com a inesperada renúncia de Jânio Quadros, subiu ao mais importante cargo político do país o Sr. João Belchior Marques Goulart. Gaúcho de São Borja, que tinha no seu currículo o título de “líder da república sindicalista”, o que imediatamente alarmou a classe empresária e também os americanos (BUENO, 2010, p. 371). Apesar de Jânio Quadros já ter adotado postura independente com relação à política externa, com João Goulart o Brasil “reatou relações diplomáticas com a União Soviética, ainda em 1961, e na reunião da Organização dos Estados Americanos, em janeiro de 1962, divergiu da posição norte-americana, abstendo-se na votação que aprovou a expulsão de Cuba da organização” (ABREU, 1988, p. 202). Conforme refere Eduardo Bueno, tais características o aproximavam das teorias comunistas, inclusive sendo este um dos motivos apontados pela doutrina como estratégia de renúncia de Jânio Quadros: Como se não bastasse as acusações que militares e udenistas havia anos lhe faziam, no momento em que Jânio Quadros renunciou, o então vicepresidente João Goulart estava na China Comunista. Embora se tratasse de uma viagem oficial, eram tempos de guerra fria e Jango sempre fora visto como o “líder da república sindicalista”, um comunista travestido de democrata. O próprio Jânio parecia compartilhar dessa opinião e tentou o blefe da renúncia por achar que nem os militares nem o Congresso entregariam o país “a um louco que iria incendiá-lo” (2010, p. 371). Porém, ao retornar da China, em 05 de setembro 1961, João Goulart deparou-se com uma crise política, pois a sociedade civil manteve-se inerte a tal situação, não esboçando a reação almejada e esperada por Jânio Quadros. A expectativa com a posse do vice-presidente gerou o imponderável encontro entre Jango e o general Ernesto Geisel, futuro presidente militar, que, à época, exercia o cargo de chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Responsável pela segurança do então presidente no retorno do aeroporto até a Granja do Torto, em diálogo informal, estimulou o presidente a assumir pelo bem da paz nacional, encontro minuciosamente narrado por José A. Fogaça de Medeiros: Quando entraram no carro que os levaria à Granja do Torto, Rainieri Mazzilli perguntou a João Goulart sobre o horário em que gostaria de ser empossado no dia seguinte, ao que Jango respondeu com indisfarçada hesitação: “Não sei de devo assumir. É um momento difícil para mim. Precisamos conversar”. No mesmo automóvel, viajava um militar graduado, que imediatamente levou a sua mão crispada ao braço do vice-presidente e disse com uma voz grave e severa: “Este é um momento difícil para todos nós e para todo o país. Já enfrentamos inúmeras dificuldades para V. Exa. assumir, mas esse é o único modo de conduzir o país pacificamente”. Em dois dias, no dia 7 de setembro de 1961, Jango era empossado perante o Congresso Nacional. E o homem que o havia convencido tão energicamente a assumir o governo em nome da paz nacional era o general Ernesto Geisel, então chefe do Gabinete Militar da Presidência da República (1978, p. 31). Apesar do repúdio ao nome de João Goulart, Jango, como também era chamado, com apoio de seu cunhado e governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e do general Augusto Lopes, chefe do 3º Exército (com sede no Rio Grande do Sul), declaram-se dispostos à guerra armada pelo cumprimento da Constituição vigente, movimento que ficou conhecido de “Campanha da Legalidade”. Porém, apesar de empossado e seguindo os ditames da Constituição de 1946, de setembro de 1961 a janeiro de 1963 a República viveu o seu mais longo período de indefinição política desde o início da década de 1890, com consequências paralisantes do ponto de vista da tomada de decisões no terreno econômico (ABREU, 1990, p. 200). A disputa política somente teve fim com a criação de uma comissão no Congresso que propôs a diminuição de poderes do presidente, numa forma indireta de alteração do sistema de governo, retornando o Brasil ao parlamentarismo, fato anteriormente ocorrido na fase final do Império (1847-1889). Esta situação expôs o repúdio ao nome de João Goulart, que, apesar de Presidente da República, teve seus poderes limitados pela presença de um primeiro ministro, no caso Tancredo Neves. A implantação do parlamentarismo em boicote ao nome de Jango ocorreu por meio de emenda constitucional parlamentarista (Emenda Constitucional nº 4, de 2 de setembro de 1961), perdurou somente até 23 de janeiro de 1963, quando a Emenda Constitucional nº 6 estabeleceu um plebiscito que reconduziu o país ao presidencialismo, devolvendo os amplos poderes a João Goulart (BARROSO, p. 30, 1996). Em julho de 1962, Tancredo renunciou e houve nova crise quando Jango quis nomear San Tiago Dantas (favorável ao afastamento dos Estados Unidos e à aliança com nações socialistas). No final, o gaúcho Brochado da Rocha, do PSD, assumiu o cargo. Em janeiro de 1963, um plebiscito deu ampla vitória ao presidencialismo (9 milhões de votos) sobre o parlamentarismo (2 milhões). Só então João Goulart virou presidente de verdade (BUENO, 2010, p. 372). A experiência parlamentarista não foi bem sucedida, conforme relembra Hélio Silva: Frente ao dilema de desobedecer à Constituição, não empossando o substituto legal do Presidente renunciante, ou dar posse sob a ameaça da guerra civil, que seria outra forma de desrespeito à Constituição, achou-se uma fórmula de modificar o texto constitucional, implantando o Parlamentarismo que nunca funcionou, com um plebiscito – que restaurou as condições do impasse inicial (1978, p. 199). O retorno ao presidencialismo com a recondução de João Goulart ao cargo de presidente da República contrariou a oposição. Porém, outro não poderia ser o desfecho para a situação, acalmando a população e afastando o perigo de uma possível guerra civil. Após o plebiscito, Goulart assumiu plenamente o poder presidencial, reforçando, a partir de então, sua linha de governo nacionalista e a política externa independentemente. Sua estratégia socioeconômica foi formalizada através do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, organizado por Celso Furtado, ministro do Planejamento. Esse plano tinha como objetivos: a) promover melhor distribuição das riquezas nacionais, atacando os latifúndios improdutivos para defender interesses sociais; b) encampar as refinarias particulares de petróleo; c) reduzir a dívida externa brasileira. d) diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar exclusivamente os trabalhadores (COTRIM, 1999, p. 433). 1963 seria um ano de agonia. Iniciara-se com o Referendo, que devolvera a Goulart os poderes do presidencialismo, e daí por diante se desconhecera um período de calma (FILHO, 1975, p. 12). O resultado do plebiscito acabou aproximando a oposição vencida nas urnas, composta principalmente por grandes empresários que seriam atingidos pelas reformas idealizadas pelo presidente através do Plano Trienal, aos militares, temerosos de uma possível guinada à esquerda nos rumos do país. A partir daquele momento passaram a arquitetar um projeto de revolução política que culminaria na queda de João Goulart. Até então a idéia de uma ditadura militar não era o objetivo dos opositores, imaginando os revoltosos, tanto civis quanto militares, que a manutenção da democracia era algo indiscutível, apesar da clara intenção de desrespeitarem a Constituição de 1946, vigente naquele período. A situação política passou a chamar a atenção dos Estados Unidos que, objetivando a manutenção e consolidação do capitalismo, passaram a investir milhares de dólares na campanha contra o governo. Com esse objetivo foram criadas diferentes associações políticas de oposição, como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e o Instituto de Pesquisas Sociais (IPES), financiados pelos empresários e pelo governo americano. Porém, o principal órgão articulador do golpe contra o constitucionalismo em vigor foi a Escola Superior de Guerra (ESG) (ALVES, 1984, p. 35). Localizada no Rio de Janeiro, a ESG foi criada pela Lei nº 785/49 como um Instituto de Altos Estudos de Política, Estratégia e Defesa. Integrante da estrutura do Ministério da Defesa, tornou-se importante aliado americano em solo brasileiro no combate ao suposto viés de esquerda que o governo João Goulart externava através de sua plataforma de governo. Não obstante tudo isso, a ESG permaneceu a instituição-chave responsável pela sistematização, reprodução e disseminação do corpus oficial da Doutrina de Segurança Nacional e seu relacionamento com a polis. Assim, embora não fosse um centro de iniciativa, era a fonte autorizada da ideologia militar para os militares enquanto instituição. Torna-se, portanto, extremamente importante estudar a evolução da doutrina da ESG durante a abertura, porque todo o sistema de ensino e socialização militar, as agências estatais, como o SNI, e o sistema legal, dominado pelos militares, que produziu as Leis de Segurança Nacional usaram os documentos oficiais da ESG como base doutrinária (STEPAN, 1984, p. 58). A sistematização, reprodução e disseminação da Doutrina de Segurança Nacional sofreu forte influência da doutrina americana de combate ao comunismo. Surgida durante a Guerra Fria, foi inserida nos países neutros e aliados ao capitalismo por meio do financiamento de áreas estratégicas. A Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento foi formulada pela ESG, em colaboração com o IPES e o IBAD, num período de 25 anos. Trata-se de abrangente corpo teórico constituído de elementos ideológicos e de diretrizes para infiltração, coleta de informações e planejamento político-econômico de programas governamentais. Permite o estabelecimento e avaliação dos componentes estruturais do Estado e fornece elementos para o desenvolvimento de metas e o planejamento administrativo periódico (ALVES, 1984, p. 35). Num clima extremamente desfavorável, João Goulart e o seu partido PTB presidiram o país do dia 07 de setembro de 1961 ao 01 de abril 1964, apenas 02 anos 06 meses e 25 dias à frente do Poder Executivo nacional. Durante esse período, Jango foi fortemente acusado de comunista, inclusive tendo seu nome associados aos partidos políticos de esquerda da época. As críticas sofridas aproximaram a imagem do presidente ao comunismo. Apesar dessa repercussão negativa, João Goulart jamais se empenhou em mudar este rótulo, mesmo quando acusado de ser um agente enviado pela URSS como forma de difusão do comunismo. O poder continua sólido, e tê-lo-ia sido desde a reação de 1935, quando da intentona comunista, não fosse o presidente João Goulart um agente de Moscou instalado, pelo voto popular, no poder, que só não transferiu para seus mestres soviéticos, por não contar ele com as forças armadas (SCATIMBURGO, 1971, p. 367). Com o fracasso do Plano Trienal, o presidente acompanhado por aliados políticos e por sua esposa Teresa Goulart, subiu ao palanque e anunciou em um grande comício no Rio de Janeiro em frente à Estação de Ferro Central do Brasil, em 13 de março de 1964, suas “reformas de base”. Transmitido pela televisão e acompanhado in loco por cerca de 300 mil pessoas, tal evento ficou marcado na história política do país como o “início do fim” do governo de Jango (BUENO, 2010, p. 376). O governo de Goulart promovera uma série de restrições aos investimentos multinacionais, configurados, entre outras medidas, numa severa política de controle das remessas de lucros, de pagamentos de royalties e de transferências de tecnologia, assim com em legislação antitruste e em negociações para a nacionalização de grandes corporações estrangeiras. Adotou também uma política nacionalista de apoio e concessão de subsídios diretos ao capital privado nacional, sobretudo aos seus setores não vinculados ao capital estrangeiro (ALVES, 1984, p. 21). Com o objetivo claro de demonstrar a força política do presidente contra o suposto golpe que já se sabia em andamento, a estratégia populista, herança do “padrinho político Getúlio Vargas”, de favorecimento às classes menos abastadas, conforme evidenciado nas “reformas de base” parecia o suficiente para sua manutenção no poder. Além da necessidade dos opositores em respeitar a Constituição em vigor, respaldando o plebiscito que reconduziu o país ao presidencialismo (GASPARI, 2002). Ancorado por políticos de respaldo social, como Leonel Brizola (Governador do Rio Grande do Sul) e Miguel Arraes (Governador de Pernambuco), João Goulart subestimou a força dos opositores, que, em repúdio aos ditames comunistas e principalmente às reformas que se apresentavam extremamente prejudiciais aos seus interesses, realizaram uma pacífica passeata em 19 de março de 1964, com a participação de cerca de 500 mil pessoas, organizada pela União Cívica Feminina (UCF) e pela Campanha da Mulher pela Democracia (Camde), ambas patrocinadas pelo IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais), anteriormente referido como importante instituto de oposição ao governo. A importância das mulheres neste evento, que restou intitulado de Marcha da Família com Deus pela Liberdade, deveu-se também à participação das esposas e das empregadas domésticas dos empresários contrários as idéias de Jango. Aliadas ao grande contingente de oposição, foram às ruas munidas de faixas com dizeres contrários ao governo de Jango. Comparação feita por Eduardo Bueno expôe a importância desses dois eventos, até então democráticos, no curso do golpe que estava prestes a ocorrer: Se o Comício das Reformas fora uma poderosa manifestação de força do movimento sindical, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi um sinal ainda mais impressionante de que a classe média e as “forças reacionárias” estavam unidas, temerosas e, acima de tudo, prontas para a ação (...). Organizada pela União Cívica Feminina e pela Campanha da Mulher pela Democracia, com apoio do deputado conservador Cunha Bueno e do governo de São Paulo, a Marcha da Família reuniu em torno de 500 mil pessoas, no dia 19 de março. A manifestação saiu da praça da República e, duas horas depois, chegou à Praça da Sé, onde foi rezada uma missa “pela salvação da democracia” (2010, p. 377). Após a grande passeata realizada pelas ruas de São Paulo, os opositores rezaram na Praça da Sé uma missa organizada pelo padre americano Patrick Peyton, considerado um dos braços religiosos de apoio aos militares. O sucesso do evento acabou por convencer a cúpula do Exército de que a sociedade civil brasileira seria, no mínimo, condescendente com a deposição do presidente eleito (BUENO, 2010, p. 378). Sabedor dos trâmites de um golpe em seu desfavor, João Goulart passou a tomar atitudes que buscavam desmoralizar e enfraquecer o poder político dos militares. Conforme relata Eduardo Bueno, Jango acabou por soltar e anistiar marinheiros que, reunidos no Rio de Janeiro, reivindicavam melhores salários e, principalmente, elegibilidade. Esse fato provocou a revolta dos militares, que viram nessa atitude a tentativa de quebra de hierarquia de poder por esses militares não integrarem o corpo de oficiais (SILVA, 1978). Outro fato marcante na controversa estratégia adotada pelo presidente na tentativa de manutenção do poder, ocorreu nas dependências do Automóvel Clube do Brasil no dia 30 de março de 1964, véspera do dia do golpe militar. Depois de desafiar abertamente o comando militar ao anistiar, em 27 de março de 1964, os participantes da Revolta dos Marinheiros, Jango decidiu – apesar dos conselhos contrários – discursar numa assembléia de sargentos, no Automóvel Clube do Brasil, no dia 30. O movimento lutava pela elegibilidade dos sargentos. Ao contrário do tenentismo – um dos pilares da Revolução de 30 -, a reivindicação dos sargentos era vista como uma quebra da hierarquia militar (já que dava igualdade política a não oficiais) (BUENO, 2010, p. 377). Alguma dissonância existe na delimitação da data do efetivo golpe militar. Apesar de considerado pela doutrina o dia 30 março a véspera do golpe, a imprensa nacional, grande vítima dos “anos de chumbo”, expressão cunhada pela truculência dos atos de poder e limitação dos direitos à liberdade de imprensa, batizou o nascimento do golpe/revolução militar como sendo o dia 01 de abril de 1964, fazendo clara alusão ao peculiar “dia da mentira”. Embora a irônica tentativa de diminuir ou ridicularizar a atitude dos militares, importante destacar que, após o pretensioso discurso realizado nas dependências do Automóvel Clube do Brasil, no qual o presidente saíra do texto escrito e moderado que a parte não radical de sua assessoria havia preparado, os militares passaram a efetivamente a pôr em prática o golpe que culminou com a deposição do Presidente João Goulart (CHAGAS, 1985, p. 14). Apesar de conhecidos, jamais houve consenso quanto ao local e ao mentor das estratégias adotadas pelos revolucionários militares na tomada de poder, porém os conspiradores civis que articulavam contra o presidente, agiam abertamente. Evidentemente almejavam cargos políticos de destaque em um futuro governo militar. Neste sentido, esclarece Eduardo Bueno: Apesar de vários segmentos da sociedade civil – dos quais faziam parte empresários do Rio de Janeiro e São Paulo, uma boa parcela das classes médias urbanas e a maioria do patronato rural – estarem dispostos a apoiar um complô para derrubar o governo constitucional de Jango, foi o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, quem se escalou para “assumir a liderança civil do movimento anti-Goulart”. No dia seguinte à Revolta dos Marinheiros, três representantes do governador mineiro procuraram o general Humberto Castelo Branco – cientes de que ele era o “coordenador-geral dos grupos militares da conspiração” – para comunicar a decisão de Magalhães Pinto (2010, p. 379). A movimentação iniciada pelos militares após o discurso proferido por Jango contou com a intensa troca de informações entre as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Brasília. “Era a conspiração em marcha para se tornar sedição ou revolução, nas barbas do governo, ainda desconhecida da opinião pública” (CHAGAS, 1985, p. 13). Além da comunicação telefônica entre os grandes centros do poder nacional, passou a haver a movimentação de tropas militares, conforme relata Eduardo Bueno: Às 3 horas da manhã de 31 de março, porém, depois de passar noite em claro, Olímpio Mourão Filho partiu com suas tropas de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro. [...] Supreendido pelo golpe no Rio, Goulart voara para Brasília na tarde do dia 1º. Seguiu para o Rio Grande do Sul na mesma noite, deixando o chefe do Gabinete Civil, Darcy Ribeiro, com a incumbência de comunicar ao Congresso o fato de que o presidente permanecia em território nacional (2010, p. 382). Apesar de ainda encontrar-se em solo nacional, o Congresso Nacional, de forma inédita e inconstitucional, declarou vaga à Presidência da República. Não havendo vice-presidente para assumir, condição ocupada por Jango quando da sua chegada ao poder, restou empossado Presidente da República o Deputado Federal e Presidente da Câmara, Rainieri Mazzili. Intimidado com a situação, João Goulart refugiou-se em Porto Alegre, desistindo de qualquer “contragolpe”, exilando-se, em 04 de abril de 1964, no Uruguai. Duvida-se, hoje, de como foi possível que tudo aquilo acontecesse nas barbas do governo e o governo nada fizesse, primeiro para abortar a conspiração, depois para tentar esmagar os revoltosos, eles mesmos duvidando do sucesso final. Terão contribuído a perplexidade e a hesitação do presidente João Goulart, como a ausência de um ministro de Guerra, mais o despreparo das forças sindicais, boas de discurso mas ineficazes em tática. Perdera a classe média e não soubera arregimentar a classe proletária, a não ser retoricamente. Radicalizara mas se vira radicalizado em grau muito superior (CHAGAS, 1985, p. 35). O apoio americano aos militares foi fundamental para o sucesso do golpe. Desde a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a aproximação entre os dois países passou a ocorrer, fato evidenciado na parceria firmada durante a Guerra Fria. Segundo afirma Hélio Silva, “não foi a primeira vez que se ligou um fato político brasileiro à influência dos Estados Unidos. Quando Vargas se suicidou, a mesma acusação foi feita” (1978, p. 27). A deflagração do golpe, apesar de parecer atabalhoada, foi eficiente e rápida. Tudo havia sido previsto e funcionou de modo a não permitir a resistência. O apoio dos EUA foi dado de forma prática, com aproximação de navios da Frota do Atlântico Sul, com desembarque de armas nas costas de Santa Catarina com submarinos sem identificação e com o fornecimento de informações do serviço secreto aos golpistas (SILVA, 2009, p. 39). Às 12h30min daquele longo dia 1º de abril, e a cinco minutos a pé de onde reside o governador carioca, está o presidente da República, ou melhor, está deixando de estar. João Goulart abandona o palácio Laranjeiras sem avisar ninguém (CHAGAS, 1985, p. 46). Naquele momento o Brasil adentrava formalmente em um período de exceção, iniciado por um golpe militar que destitui o poder constitucionalmente eleito. Derivou rapidamente a uma ditadura militar com a cassação e suspensão de importantes direitos e garantias fundamentais do cidadão, e perdurou por 21 anos até o retorno do país à democracia em 15 de janeiro de 1985, data da eleição indireta de Tancredo Neves à Presidência da República. 2.2 As Constituições Federais que vigoraram durante a ditadura militar O número de Constituições Federais que vigoraram durante a ditadura militar não possui definição uníssona da doutrina. A democrática Constituição de 1946 manteve-se em vigor durante os três anos iniciais da ditadura militar, quando em 1967 restou derrogada pela Constituição semi-outorgada pelo governo dos militares. Porém, a divergência reside no reconhecimento da Emenda nº 1, de 17 de outubro de 1969, como simples Emenda Constitucional ou como a Constituição Federal de 1969. Apesar da não compreensão pacífica, convergem os doutrinadores na opinião de que as normas constitucionais foram hierarquicamente inferiores às normas editadas pelos militares, intituladas de Atos Institucionais e Emendas Complementares. Essas ferramentas jurídico-políticas foram adotadas pelo governo para adequar as Cartas Constitucionais em vigor às reais intenções de manutenção e usurpação do poder. 2.2.1 A Constituição Federal de 1946 A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil promulgada em 18 de setembro de 1946 sofreu forte influência das correntes liberalizantes do pós Segunda Guerra Mundial. O retorno dos combatentes brasileiros (pracinhas) em julho de 1945, os quais, juntamente com os aliados, combateram e derrubaram os regimes ditatoriais da Alemanha e da Itália, evidenciou a contradição pelo fato de terem defendido a democracia, porém, em seu país ainda estavam sob a égide do regime ditatorial de Getúlio Vargas desde o golpe de Estado de 1937. José Afonso da Silva relembra o momento constitucional pelo qual Brasil e outros países passaram com o fim da Segunda Guerra Mundial: Terminada a II Guerra Mundial, de que o Brasil participou ao lado dos Aliados contra as ditaduras nazi-fascistas, logo começaram os movimentos no sentido da redemocratização do país: Manifesto dos Mineiros, entrevista de José Américo de Almeida etc. Havia, também, no mundo do pós-guerra, extraordinária recomposição dos princípios constitucionais, com reformulação de constituições existentes ou promulgação de outras (Itália, França, Alemanha, Iugoslávia, Polônia, e tantas outras), que influenciaram a reconstitucionalização do Brasil (2003, p. 85). Diferentemente das cartas constitucionais de 1824, 1891 e 1934, a Constituição Federal de 1946 não importou projetos de outros países. Adotou como texto-base a Constituição de 1934 e subsídios da Constituição de 1891, o que permitiu progredir rapidamente e submeter à votação final do plenário um projeto que, aprovado em 18 de setembro desse mesmo ano, veio a ser a nossa quarta constituição republicana (COELHO, 2009, p. 195). Apesar da não importação externa de projetos, inegavelmente a Constituição Federal de 1946 sofreu forte influência da Constituição norte-americana para a moldagem do federalismo; da Constituição francesa de 1848 na rigidez presidencialista; e da Constituição de Weimar, que inspirou a inclusão de princípios afetos à ordem econômica e social (BARROSO, 1996, p. 24). Considerada avançada e inovadora para a época, principalmente no que se referia às declarações de direitos e diretrizes econômicas e sociais, continha ampla e moderna enunciação de direitos e garantias fundamentais. As principais inovações foram: a introdução no texto constitucional da obrigação do Poder Judiciário de apreciar qualquer lesão de direito individual (art. 141, §4º); a instituição da obrigatoriedade do ensino primário (art. 188, I); a repressão ao abuso do poder econômico (art. 148); condicionou o uso da propriedade ao bem-estar social (art. 147) e consignou o direito dos empregados à participação no lucro das empresas (art. 157, IV), dentre outras medidas de caráter social (BARROSO, 1996, p. 25). Promulgada no governo de Eurico Gaspar Dutra, após o período do Estado Novo, restabeleceu os direitos individuais e extinguiu a censura e a pena de morte. Instituiu eleições diretas para presidente da República, com mandato de cinco anos. Restabeleceu o direito de greve e o direito à estabilidade de emprego após 10 anos de serviço. Retomou a independência dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e a autonomia dos estados e municípios. Retomou o direito de voto obrigatório e universal, sendo excluídos os menores de 18 anos, os analfabetos, os soldados e os religiosos (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009). O momento pelo qual passava o país, saindo de uma ditadura e adentrando em um período de pós guerra, exigia uma Constituição de cunho restaurador, que aproximasse o legislador e a sociedade, garantindo direitos sociais e individuais, desprezados anteriormente. Neste sentido, ponderaram Paulo Bonavides e Paes de Andrade: A constituição de 1946 teve caráter manifestamente restaurador. Ficou contudo aquém da de 1934 na introdução de novidades institucionais. Mas o que ali se colocou como renovação foi basicamente preservado pelos nossos primeiros constituintes do pós-guerra, sem embargo de todas as cautelas e reservas conservadoras de que se rodeou a lei maior, revogadoras da ordem ditatorial estabelecida com o golpe de Estado de 1937 (1991, p. 418). As virtudes e qualidades da Constituição Federal de 1946 não impediram que a oposição almejasse o poder pelas vias não formais. Com a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, os ministros militares vetaram a posse do vicepresidente João Goulart, conforme preconizava a Carta em vigor. A defesa da legalidade constitucional restou encabeçada por setores trabalhistas e por diversos governadores estaduais, principalmente o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que, com o apoio do III Exército, conduziu a alteração do sistema de governo por via de uma emenda constitucional parlamentarista (Emenda Constitucional nº 4, de 2 de setembro de 1961, intitulada Ato Adicional). Goulart ascende à presidência destituído, contudo, de parcela considerável de poderes inerentes ao cargo (BARROSO, 1996, p. 30). A adoção do sistema parlamentarista por pressão oposicionista inegavelmente enfraqueceu a constituição em vigor, expondo, de acordo com Élio Gaspari, o então presidente a um “humilhante regime parlamentarista, cuja essência residia em permitir que ocupasse a Presidência desde que não lhe fosse entregue o poder” (2002, p. 46). Esse regime vigorou por apenas dois anos, quando em janeiro de 1963, um plebiscito deu ampla vitória ao presidencialismo, retornando o país ao sistema presidencialista, e João Goulart ao cargo de Presidente da República. Sua Biografia raquítica fazia dele um dos mais despreparados e primitivos governantes da história nacional. [...] Tinha 15 mil hectares de terra em São Borja e um rebanho de 65 mil animais. [...] Introvertido e tolerante, era um homem sem inimigos. Os ódios que despertou vieram todos da política, nunca da pessoa. Sua presença no palácio do Planalto era um absurdo eleitoral a serviço de um imperativo constitucional. Em 1960, 5,6 milhões de brasileiros haviam votado em Jânio Quadros, um demagogo que fizera a campanha eleitoral usando a vassoura como símbolo. Jânio prometera varrer a ordem política de que Jango era produto. Pelo Constituição de 1946, a escolha do presidente e a de seu vice não estavam vinculadas. Assim elegeram-se ao mesmo tempo Jânio, com sua vassoura, e Jango, que a juízo dos seguidores do novo presidente, encarnava o lixo a ser varrido (GASPARI, 2002, p. 47). No que tange às formas de alteração constitucional, diferentemente da anterior, a Constituição de 1946 aboliu a rigidez discriminatória de 1934, emenda e reforma passaram a ser sinônimos. Bastava a aprovação pelo voto maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em duas sessões legislativas ordinárias e consecutivas, para aprovar-se a emenda (BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 423). Por ser posterior a uma constituição autoritária, restabeleceu os direitos civis e políticos restringidos anteriormente, conforme afirmam César Caldeira e Marcos Arruda: São restabelecidos os direitos civis e políticos. Introduz-se o princípio da inafastabilidade do controle judicial: “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual”. Não é aprovado o fim da censura ao teatro, nem o “direito ao desfile”, garantia de manifestação pública nas ruas. Por outro lado, a nova Constituição garante e amplia algumas importantes conquistas dos trabalhadores e dos cidadãos em geral, com; o direito à greve (ainda que após exame pela Justiça do Trabalho); eleições livres (ainda que excluindo analfabetos e soldados, cabos e marinheiros); salário mínimo capaz de atender às necessidades do trabalhador e de sua família (este direito do trabalhador, na verdade, nunca saiu do papel); estabilidade do trabalhador na empresa; liberdade de associação profissional e sindical; criação da Justiça do Trabalho como ramo do Poder Judiciário (1986, p. 32). Apesar da orientação social-democrata, o vasto rol de direitos individuais jamais foi efetivado na sua plenitude. Porém, a principal evidência de desrespeito constitucional à Carta de 1946 ocorreu com o golpe desferido pelos militares, que, em 01 de abril de 1964, depuseram o governo de João Goulart e tomaram o poder. Apesar de manterem a Constituição em vigor mesmo depondo um presidente constitucionalmente eleito, a violação de seus preceitos iniciou de imediato, quando o presidente do Congresso declarou vaga a Presidência da República, mesmo tendo João Goulart enviado um comunicado de que ainda se encontrava em solo brasileiro. O comunicado, lido numa sessão tumultuada, foi ignorado pelo presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade. Às 3h45 da madrugada do dia 2, Andrade declarou vaga a Presidência da República e, numa cerimônia apressada, empossou o presidente da Câmara, Raineri Mazzili, como novo presidente do país. Foi após esse “golpe” de interpretação da lei, dado por Moura Andrade, com aprovação ou silêncio do Congresso, que Jango – embora ainda contasse com o apoio do general Ladário e o estímulo de seu cunhado Leonel Brizola – desistiu de tentar articular qualquer reação ao golpe, só então concretizado (BUENO, 2010, p. 383). Com a instituição da ditadura militar a partir de 01 de abril de 1964, sucederam-se episódios de desrespeito à Constituição Federal de 1946. Os direitos e garantias fundamentais amplamente defendidos pelo legislador passaram a ser constantemente violados. Diante da dificuldade dos militares em imporem suas doutrinas e filosofias de governo, baseadas na repressão e na concentração de poder, acabaram por editar, em 09 de abril de 1964, o primeiro de 17 Atos Institucionais, além de 104 Atos Complementares, que redefiniram as normas constitucionais a serem respeitadas pela sociedade, facilitando a aplicação da Doutrina de Segurança Nacional e com isso a imposição de suas diretrizes. O golpe militar e a posterior edição dos Atos Institucionais prenunciaram o arquivamento definitivo da Constituição Federal de 1946, que acabou sendo sucedida formalmente com a semioutorgação da Carta Constitucional de 1967, que passou a vigorar a partir de 15 de março desse mesmo ano. 2.2.2 A Constituição Federal de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de 1969 Após tantas alterações em decorrência dos Atos Institucionais e Emendas Complementares no texto original da Carta Constitucional de 1946, necessária se mostrou a edição de uma Carta Constitucional coadunada com os preceitos defendidos pelos militares. A manutenção de normas favoráveis à democracia e aos direitos individuais perdeu seu objeto, restando ao Governo militar a decretação da Lei nº 58.198, de 15 de abril de 1966. Para isso, relembra Luis Roberto Barroso, “constitui-se uma Comissão Especial integrada pelos juristas Levi Carneiro, Temístocles Cavalcanti e Seabra Fagundes para elaborar um anteprojeto de Constituição” (1996, p. 34). Apesar de regularmente elaborado, um novo anteprojeto acabou sendo redigido pelo Ministro da Justiça, Carlos Medeiros Silva. Votada pelo Congresso Nacional em 24 de janeiro de 1967, passou a reger constitucionalmente o país a partir do dia 15 de março de 1967. A primeira votação do Congresso Nacional de um projeto de lei para a edição de nova Constituição Federal ocorrida na recém inaugurada capital federal, Brasília, aconteceu de forma apartada da democracia. Pressionando as Casas Legislativas, inclusive com as Forças Armadas e sob a égide do Ato Institucional nº 4, coube ao Congresso Nacional homologar os interesses formalizados pelos militares. Produto da Revolução de 1964, e com a pretensão de consolidar seus “ideais e princípios”, tivemos a Constituição de 1967, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, para tanto constrangido a deliberar em sessão extraordinária de apenas quarenta e dois dias – de 12.12.1966 a 24.1.1967, com base em proposta literalmente enviada “a toque de caixa” pelo Presidente da República, que para tanto dispunha do apoio das Forças Armadas, se necessário até mesmo para o fechamento das Casas Legislativas, àquela altura em recesso forçado e já desfalcadas dos principais líderes oposicionistas, cujos mandatos e direitos políticos tinham sido cassados pelos chefes da insurreição militar vitoriosa (COELHO, 2009, p. 197). A Constituição de 1967 foi severamente criticada por constitucionalistas. Conforme Paulo Bonavides e Paes de Andrade, em 1966/1967 não houve propriamente uma tarefa constituinte, mas uma farsa constituinte. Os parlamentares, além de não estarem investidos de faculdades constitucionais, encontravam-se também cerceados pelos atos institucionais (1991). Em evidente crítica aos militares, César Caldeira e Marcos Arruda afirmam que os constituintes de 1967 elaboraram uma Constituição em benefício exclusivo de seus próprios interesses: Os autores da Constituição de 1967 são os golpistas, que usurparam o poder do Estado. Eles são militares e civis de diferentes colorações conservadoras e antipopulares. No cenário do poder econômico, a força dominante é o grande capital nacional e transnacional. A influência dos Estados Unidos, através do Embaixador Lincoln Gordon, de agentes da CIA e de empresas norte-americanas na preparação e realização do golpe militar dá destaque aos interesses desse país no novo regime. Os setores populares estão praticamente marginalizados e excluídos da nova Constituição. Ela é elaborada contra os seus interesses (1986, p. 35). Em destaque a surpreendente manutenção formal do capítulo referente aos Direitos e Garantias Individuais, conforme expresso no seu art. 150: “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” inclusive garantindo o direito ao habeas corpus: § 20 - Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não caberá habeas corpus. Porém, tais direitos ficaram condicionadas à edição de leis ordinárias que estabeleceriam as formas de regulamentação, o que restou severamente prejudicada com a frequente edição dos Atos Institucionais e dos Atos Complementares (BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 443). Apesar da utilização de normas constitucionais trazidas pela Constituição Federal de 1946, a influência principal na Constituição de 1967 ocorreu por parte da Carta de 1937, ambas de cunho autoritário e editadas no âmbito de ditaduras, conforme destaca José Afonso da Silva: Sofreu ela poderosa influência da Carta Política de 1937, cujas características básicas assimilou. Preocupou-se fundamentalmente com a segurança nacional. Deu mais poderes à União e ao Presidente da República. [...] Reduziu a autonomia individual, permitindo suspensão de direitos e de garantias constitucionais, no que se revela mais autoritária do que as anteriores, salvo a de 1937. Em geral, é menos intervencionista do que a de 1946, mas, em relação a esta, avançou no que tange à limitação do direito de propriedade, autorizando a desapropriação mediante pagamento de indenização por títulos da dívida pública, para fins de reforma agrária. Definiu mais eficazmente os direitos dos trabalhadores (2003, p. 89). Os retrocessos em termos de direitos e garantias individuais nesta Carta redigida pelo jurista Afonso Arinos se evidenciam com a supressão da liberdade de publicação de livros e periódicos considerados como propaganda de subversão, restrição ao direito de reunião e o estabelecimento do foro militar aos civis. Com a edição do Ato Institucional nº 5 a supressão de direito se amplia, aumentando o poder intervencionista, centralizador e concentrador de poder da Constituição Federal de 1967 (CALDEIRA; ARRUDA, 1986). Sexta Carta Constitucional do Brasil e quinta do período Republicano, institucionalizou e regulamentou a ditadura militar no país. Vigorou até 17 de outubro de 1969, quando uma Junta composta de Ministros Militares outorgou a Emenda Constitucional nº 1. Antecedida pelo Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro do mesmo ano, deu nova redação ao Colégio Eleitoral para a eleição indireta de presidente e vice-presidente da República prevista na Constituição de 1967 (BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 443). Apesar de não pacificado pelos historiadores, a Emenda nº 1, ao substituir a Constituição de 1967, tornou-se de fato a nova Carta Constitucional do país, adaptando os vários atos institucionais e complementares. Assim é que Pontes de Miranda, examinando o texto de 1967 e a Emenda de 1969, manteve o título de seu importante estudo jurídico “Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1 de 1969”. Isto é, a Constituição permaneceu como a de 1967 (BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 444). A opinião dos constitucionalistas consolidou-se no sentido de negar a existência de uma Constituição de 1969, e sim modificações no texto original da Carta Constitucional de 1967, as quais ocorreram através da Emenda nº 1. A própria vigência da Emenda nº 1 restou questionada juridicamente pelo Supremo Tribunal Federal que, ao reconhecer a limitação do poder de revisão ou emenda da recém outorgada Emenda, decidiu por unanimidade que a vigência era a da Carta de 1967, e não da Emenda nº 1 de 1969 (BONAVIDES; ANDRADE, 1991, p. 444). Ainda assim, autores a classificaram como uma verdadeira Constituição Federal outorgada na forma de uma profunda emenda constitucional. Possuía semelhanças com a Constituição de 1967 nas restrições aos direitos e garantias fundamentais e direitos sociais, tendo inovado negativamente ao admitir a pena de morte, prisão perpétua, banimento ou confisco, para os casos de “guerra revolucionária, subversiva ou psicológica adversa” (CALDEIRA; ARRUDA, 1986, p. 42). Esta configuração político-jurídica perdurou até a promulgação da atual Constituição Federal do Brasil em 05 de outubro de 1988, fato que recolocou o país no rol dos Estados Democráticos de Direitos, consolidando o fim da ditadura militar iniciado com o golpe de 01 de abril de 1964. 2.3 Os Atos Intitucionais e a autoconcessão de poder Entre os anos de 1964 e 1969 os militares serviram-se de Atos Institucionais e de Atos Complementares, instrumentos político-jurídicos utilizados para legitimar suas ações e interesses. Equivaliam a decretos e garantiam direitos políticos invalidados pela Constituição de 1946, que até então vigorava no país. Ao todo foram editados 17 Atos Institucionais e 104 Atos Complementares. Todos tinham por objetivo aplicar as idéias que embasavam a Doutrina de Segurança Nacional, com a “restauração da legalidade”; reforçar as “instituições democráticas ameaçadas”; e restabelecer a “composição federativa da nação”, rompendo o poder excessivamente centralizado do governo federal e devolvendo poderes aos Estados. Prometiam, sobretudo, “eliminar o perigo da subversão e do comunismo” e punir os que, no governo, haviam enriquecido pela corrupção (ALVES, 1984, p. 52). Durante a ditadura militar e principalmente sob a égide dos Atos Institucionais, o Brasil foi governado sem o respeito aos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, principalmente o Princípio da Separação dos Poderes. Os poderes legislativo e judiciário sofreram sérias restrições às suas autonomias, principalmente com a decretação do Ato Institucional nº 5 e o Ato Complementar nº 38, de 13 de dezembro de 1968: Quando o AI-5, verdadeiro golpe de Estado dentro do Golpe Militar, eliminou o habeas corpus do ordenamento jurídico ditatorial então vigente, a reação inicial de muitos advogados foi um misto de incredulidade e perplexidade. Oswaldo Mendonça, um dos grandes advogados atuantes no período, disse a Modesto que não iria mais advogar para presos políticos, pois não havia mais o que fazer. Em resposta, Modesto disse que os advogados inventariam um habeas corpus: segundo ele, eram o único respiradouro do preso e iriam denunciar as arbitrariedades cometidas e colaborar para a aceleração do fim da ditadura (MOREIRA, 2010, p. 53). Em contrapartida, o poder executivo concentrou poderes sob sua responsabilidade, passando os militares a impor seus projetos segundo as linhas traçadas na Grande Estratégia da Doutrina de Segurança Nacional. Para além da mobilização geral das forças repressivas do novo Estado, tal política tinha em mira áreas específicas e estrategicamente sensíveis de possível oposição: política, econômica, psicossocial e militar (ALVES, 1984, p. 56). Esse conjunto de medidas que os militares impuseram à sociedade foi batizado de “Operação Limpeza”, fazendo clara alusão aos supostos comunistas que anteriormente estavam no poder. 2.3.1 O Ato Institucional nº 1 e as condições para impor o novo regime O golpe militar e a consequente deposição de João Goulart da Presidência da República geraram um período de vacância deste cargo. Este fato pode ser considerado como o primeiro ato de violação à Constituição Federal de 1946 no pós golpe militar. Jango, apesar de acuado e prestes a exilar-se no Uruguai, ainda permanecia em território nacional quando o presidente do Congresso Nacional, Senador Auro de Moura Andrade, declarou vago o principal cargo político do país. A figura não existia, propriamente, no Direito Constitucional, especialmente com o titular voando sobre o território nacional, mas foi a fórmula adotada para dar fim à crise, em seu aspecto político (CHAGAS, 1985, p. 51). Supreendido pelo golpe no Rio, Goulart voara para Brasília na tarde do dia 1º. Seguiu para o Rio Grande do Sul na mesma noite, deixando o chefe do Gabinete Civil, Darcy Ribeiro, com a incumbência de comunicar ao Congresso o fato de que o presidente permanecia em território nacional. O comunicado, lido numa sessão tumultuada, foi ignorado pelo presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade. Às 3h45min da madrugada do dia 2, Andrade declarou vaga a Presidência da República e, numa cerimônia apressada, empossou o presidente da Câmara, Rainieri Mazzilli, como novo presidente do país (BUENO, 2010, p. 383). A presença de Rainieri Mazzilli na Presidência da República não possui maiores registros, servindo o então Deputado Federal como “testa de ferro” dos militares. O poder, na prática, estava nas mãos do Alto Comando da Revolução. Composta pelo General Arthur da Costa e Silva, o Almirante Augusto Rademaker e o Brigadeiro Correia de Mello. Esta Junta Militar, em pronunciamentos públicos, convenceu parcelas importantes da sociedade do interesse democrático dos militares. Aparentemente, Mazzilli herdara o Poder. De fato, porém, um Comando Revolucionário, composto do general Costa e Silva, do Almirante Rademaker, composto e do Brigadeiro Correia de Melo, do qual o primeiro era o chefe virtual, dominava o país. Restava cumprir-se a Constituição, que determinava a eleição, pelo Congresso, do Presidente e do Vice-Presidente, dentro de trinta dias (FILHO, 1975, p. 46). Porém, a parceria entre civis e militares não estava claramente formulada pela Doutrina de Segurança Nacional. A cartilha fielmente seguida pelos militares na conquista e manutenção do poder apresentava contradições. As supostas intenções democráticas eram repelidas pela crescente necessidade de repressão social (ALVES, 1984, p. 52). Redigido em segredo e assinado na tarde de 9 de abril de 1964 pela Junta Militar composta pelo general do exército Artur da Costa e Silva, tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo e o vice-almirante Augusto Hamann Rademaker Grünewald, apenas oito dias depois do golpe, o Ato Institucional nº 1 demonstrou à sociedade a necessidade de institucionalizar-se um novo aparato político que apoiasse a “revolução” (ALVES, 1984, p. 54). Já no preâmbulo os legisladores militares didaticamente expuseram suas intenções: À NAÇAO [...] O Ato Institucional que é hoje editado pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome da revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação na sua quase totalidade, se destina a assegurar ao novo governo a ser instituído, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil [...]. A revolução vitoriosa necessita de se institucionalizar [...]. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do Poder no exclusivo interesse do País. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso Nacional, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato Institucional. Fica, assim, bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação (AI-1, 1964). O primeiro ato institucionalizado pelos militares impactou os opositores que ainda criticavam o recente golpe militar. Desconhecida do grande público, a Doutrina de Segurança Nacional estava sendo fielmente seguida pelos revolucionários, que mantinham até aquele momento uma alegada intenção democrática. A imprensa nacional reagiu de forma imediata contra os poderes autoconcedidos pelo Poder Executivo. Já a população em geral, distante e descrente da classe política, não se sentiu atingida pelos ditames proferidos pelos então detentores do poder. Não houve revolta social contra os militares, que decidiram manter a Constituição de 1946 e o Congresso Nacional. No entanto, limitaram drasticamente a garantia de direitos ao cidadão. Afirmam certos políticos que somente uma parcela mínima da população brasileira, composta de intelectuais, tem aspirações liberalizantes. A afirmação, antes de desinteligente, é desonesta. De fato, em oposição a essa parcela mínima que tem aspirações liberalizantes, existe um segmento insignificante de políticos com aspirações não-liberalizantes. São os políticos profissionais, um pouco prostibulares, da periferia do poder, indivíduos em número extremamente mais restrito do que a inteligência e os intelectuais brasileiros. E nesse caso, eles, minoria de uma minoria, criticam essa outra minoria (LIMA, 1978, p. 15). O desrespeito ao Estado Democrático de Direito ocasionou o rompimento definitivo da parceria entres os golpistas militares e parcelas importantes da sociedade civil. O Ato Institucional nº1 foi redigido por Carlos Medeiros, que à época declarou que “sem ele o movimento civil e militar de março se confundiria com um golpe de Estado ou uma revolta destinada apenas a substituir ou afastar pessoas dos postos de comando e influência no governo” (ALVES, 1984, p. 56). Na prática, os onze artigos do Ato Institucional nº 1, que também era conhecido apenas por Ato Institucional, por não se imaginar houvesse continuidade, serviu como preparação à “Operação Limpeza”, projeto inserido pela Doutrina de Segurança Nacional. Seu objetivo principal foi a limitação dos poderes do Congresso Nacional, transferindo-os ao Executivo. Houve a inserção da figura legislativa do decurso de prazo para aprovação de projetos considerados “urgentes”. A competência para legislar em matéria financeira ou orçamentária e o poder de suspender e cassar mandatos passaram a ser exclusivos da Junta Militar (ALVES, 1984, p. 55). Graças ao retardamento da listas de cassações da Marinha e da Aeronáutica, o Ato institucional, previsto para o dia 9 ao meio-dia, somente no fim da tarde foi editado e divulgado. Acompanhava-o a relação dos cassados, naturalmente encabeçada por João Goulart. Nela se incluia quarenta parlamentares. E, após um período de tensão e incerteza, o Ato representaou alívio, ao qual ninguém pensou em opor embargos. A Câmara dos Deputados, cientificada pelo Conselho de Segurança Nacional, convocou imediatamente os suplentes dos que perdiam mandatos. Nem do Supremo Tribunal Federal partiu qualquer restrição (FILHO, 1975, p. 57). O Poder Judiciário e os cidadãos também foram atingidos pelas normas do Ato Institucional, já que o artigo 7º destinava-se à suspensão de direitos individuais, com a suspensão por seis meses das garantias constitucionais e legais de vitalicidade e estabilidade. As demissões, dispensas e aposentadorias atemorizavam tanto civis quanto militares contrários às novas políticas ou ainda ligados ao governo anterior. Na busca por condições de impor os projetos de governo, os militares passaram a remover os obstáculos que a Constituição de 1946 impunha ao novo regime. Foi o caso da eleição indireta do General Humberto de Alencar Castelo Branco à presidência da República em 11 de abril de 1964, desrespeitando a exigência de três meses de desincompatibilização antes do pleito, já que este exercia a função de chefe do Estado-Maior. Destaca-se a crítica feita por Carlos Chagas: Foi o primeiro casuísmo de uma longa fileira estendida por vinte anos, a demonstrar que quando os detentores do poder se encontram em vias de perder o jogo, mudam com desfaçatez e obscuridade as suas regras, mesmo aquelas por eles criadas (1985, p. 76). As eleições contaram com três candidatos, restando eleito, de forma quase que unânime, o General Castelo Branco, que deveria governar o país até 30 de janeiro de 1966, completando o mandato iniciado por Jânio Quadros e sucedido por João Goulart. Sob a presidência de Auro de Moura Andrade, cada deputado e cada senador presente, ao ser nomeado, levantou-se e disse o seu voto em voz alta. Havia um único candidato, Castelo Branco, que terminou eleito com 361 votos e o ex-presidente Eurico Dutra, 2 (CHAGAS, 1985, p. 76). Apesar da vitória nas eleições, a intenção de Castelo Branco jamais foi a de assumir o cargo de Presidente da República, conforme afirma Eduardo Bueno: Se já hesitara em assumir a chefia da conspiração contra Goulart, o general Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967) vacilara ainda mais antes de aceitar a Presidência do país sob o novo regime, mesmo porque não era o único candidato. Dutra, Kruel, Mourão Filho e Magalhães Pinto também estavam cotados, embora o general Costa e Silva – falando em nome da linha dura – fosse favorável a manutenção do poder nas mãos do Comando Supremo da Revolução, que ele próprio chefiava (2010, p. 386). Ao assumir o cargo de Presidente da República, Castelo Branco discursou afirmando suas intenções democráticas, retornando gradativamente o país à democracia. Dessa forma, garantiu a realização das eleições em 03 de outubro de 1964 para governador e vice de onze Estados da nação, conforme preconizava a Constituição Federal de 1946 e também o artigo 9º do primeiro Ato Institucional. Assim esclarece Carlos Chagas: “Não em todos, porque, pela Carta de 46, os Estados eram soberanos para fixar os mandatos de seus governadores. Nuns, 4 anos. Em outros, 5” (1985, p. 85). Para tranquilizar a opinião pública quanto a suas intenções democráticas o governo Castelo Branco prometeu cumprir o calendário. Além disso, à medida que se aproximava o fim do período de poderes extraórdinários estebelecido pelo Ato Institucional nº 1, o governo encetou uma política de “retorno à normalidade”, acenando com o fim da “Operação Limpeza” e dos IPMs com uma gradual abertura política. Seriam restabelecidos a democracia representativa e o equilíbrio entre os três poderes do governo (ALVES, p. 80, 1984). Porém, as eleições que se aproximavam trouxeram a força da oposição consigo. Revoltados com as limitações impostas às liberdades individuais pelo Ato Institucional nº 1, a população passou a reorganizar-se politicamente, ameaçando, por meio das pesquisas de opinião, a soberania dos militares nas eleições aos governos estaduais. Diante da possibilidade de derrota no pleito de outubro, militares “linha dura” passaram a pressionar o governo pela não realização desse pleito. Apesar da vitória dos militares na maioria dos Estados onde ocorreram as eleições, as derrotas nos Estados da Guanabara, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso expuseram os militares a uma situação de desconforto e enfraquecimento do poder, pois se tratava dos Estados mais importantes e industrializados dentre os submetidos às eleições. Esta situação passou a favorecer a ocorrência de um novo ato institucional, mantendo os poderes garantidos até então. Intenção amplamente defendida por militares de “linha dura”, e que mantinham estreitas relações com o poder. No entanto, a reedição de um ato institucional não era o objetivo do Presidente da República, que sempre defendera o retorno à democracia como princípio a ser seguido. Porém, diante das pressões e da tentativa frustrada de enfraquecimento dos poderes aos governadores recentemente eleitos, Castelo Branco, mesmo contrário às suas convicções, decretou o Ato Institucional nº 2. 2.3.2 O Ato Institucional nº 2 e o fim da Constituição Federal de 1946 Em 27 de outubro de 1965, apenas 24 dias após as eleições para governadores que ameaçaram o poder militar, o Ato Institucional nº 2 restou editado pelo Presidente. Severo crítico à reedição deste instrumento jurídico-político de autoconcessão de poderes, Castelo Branco, devido às pressões sofridas pelos altos escalões do Exército, editou o segundo Ato Institucional, formalizando a ditadura militar no Brasil. A idéia de ser forçado a editar novo Ato Institucional o angustiava. [...] O Presidente, que nisso tinha o apoio de Pedro Aleixo, resistiria até o último momento. Custava-lhe assinar o Ato, que representava violência à sua formação e sentimentos. Era o irremediável (FILHO, p. 353, 1975). Composto por 33 artigos, iniciava-se de forma semelhante ao anterior, ou seja, através de um manifesto “À Nação.” Em seu preâmbulo os militares justificavam a necessidade de novo Ato Institucional, repassando ao povo brasileiro a condição de inspirador de suas normas. ATO INSTITUCIONAL Nº 2 À NAÇÃO A Revolução é um movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para atender às suas aspirações mais legítimas: erradicar uma situação e uni Governo que afundavam o País na corrupção e na subversão. No preâmbulo do Ato que iniciou a institucionalização, do movimento de 31 de março de 1964 foi dito que o que houve e continuará a haver, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, mas também na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. [...] Democracia supõe liberdade, mas não exclui responsabilidade nem importa em licença para contrariar a própria vocação política da Nação. Não se pode desconstituir a revolução, implantada para restabelecer a paz, promover o bem-estar do povo e preservar a honra nacional. Assim, o Presidente da República, na condição de Chefe do Governo revolucionário e comandante supremo das forças armadas, coesas na manutenção dos ideais revolucionários (AI-2, 1965). Os pontos principais do segundo Ato Institucional eram a eleição do Presidente pela maioria absoluta do Congresso; a decretação do estado de sítio, pelo Presidente para “prevenir ou reprimir a subversão da ordem interna”; a suspensão das garantias de vitalicidade, inamovibilidade e estabilidade; extinção dos partidos políticos; a possibilidade de o Presidente decretar o recesso do Congresso, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de dez anos e a cassação de mandatos legislativos, acarretando importantes restrições. O Ato vigeria até 15 de março de 1967 (ALVES, 1984). A reedição desta ferramenta normativa de controle coercitivo da sociedade sepultou os preceitos democráticos da Constituição Federal de 1946. Logo após a vitória do golpe de 1964, seus líderes se apressaram em definilo como um “movimento legalista”. O general Mourão Filho declarou que Jango fora afastado do poder, “de que abusava”, para que, “de acordo com a lei, se opere sua sucessão”. Já o general Kruel garantiu que o Exército iria “se manter fiel à Constituição e aos poderes constituídos”. Porém, quando Castelo baixou o AI-2, reduzindo a farrapos a Constituição de 1946, o movimento de 1964 se tornou uma ditadura militar de fato (BUENO, 2010, p. 388). Segundo entendimento de Maria Helena Moreira Alves, as medidas adotadas no Ato Institucional nº 2 podiam dividir-se em três categorias: aquelas destinadas a controlar o Congresso Nacional, com o consequente fortalecimento do poder Executivo; as que visavam especialmente o Judiciário; e as que deveriam controlar a representação política (1984, p. 91). Na prática, o Ato Institucional nº 2 ficou marcado na história do país principalmente pelas restrições políticas que impôs. Segundo preconizava o seu artigo 9º, o Presidente e Vice-Presidente da República não mais seriam escolhidos pelo voto popular direto, mas eleitos indiretamente por um Colégio Eleitoral composto de maioria absoluta de membros do Congresso Nacional. Além disso, o voto não seria secreto, ampliando a margem de controle militar sobre os delegados que escolheriam o presidente. No entanto, o artigo 18 do Ato Institucional nº 2 mereceu importante destaque tal a mudança desencadeada a partir da sua publicação. Sua redação permitiu a extinção de todos os partidos políticos então existentes. O surgimento de novos partidos passou a ser rigorosamente controlado pela Lei nº 4.740 (Estatuto dos Partidos, de 15 de junho de 1965), lei elaborada pelo próprios militares, e, por isso, em prol de seus interesses. Naquele momento, a democracia representativa deixava de existir, aumentando consideravelmente a oposição civil contra o regime militar. A intenção do governo, porém, não era a de um sistema unipartidário, ou seja, com a extinção das legendas como em outras ditaduras, e sim pluripartidário, com uma oposição controlada, à qual caberia oferecer críticas construtivas. Tal estratégia garantiu certa legalidade ao regime militar brasileiro, gerando em 1966 a associação de vários partidos de oposição na formação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Composto por políticos de posições divergentes, acabaram unidos na campanha pela redemocratização. Já o partido de apoio ao governo militar foi denominado Aliança Renovadora Nacional (ARENA), composto basicamente por militares e civis filiados ao regime (ALVES, 1984). A peculiaridade de os atos institucionais terem data para o fim de suas vigências traquilizava a população. Porém, ao final do Ato Institucional nº 2 em 15 de março de março de 1967, data final do mandato de Castelo Branco, o governo editou o terceiro, que alguma notoriedade recebeu por corrigir o anterior. A partir do Ato Institucional nº 3, também governadores e vice-governadores passaram a ser eleitos pelo voto indireto, afastando totalmente a população do direito constitucional ao voto garantido pela Constituição Federal de 1946. 2.3.3 O Ato Institucional nº 5 e a consolidação de uma ditadura Promulgado em 13 de dezembro de 1968, um dia após a sua votação no Congresso Nacional, o Ato Institucional nº 5 possuia semelhanças com os dois primeiros Atos. Assim como os anteriores, concedia poderes ao Executivo que garantiam o controle do país através do poder de polícia. As diferenças principais recaíam na inexistência de prazo para sua vigência e na suspensão da garantia de habeas corpus em todos os casos de crimes contra a Segurança Nacional, caracterizando-o como instrumento permanente de controle e suspensão de garantias constitucionais. Em 13 de dezembro de 1968 foi decretado o Ato Institucional nº 5, cujo preâmbulo explicitava de modo inequívoco a radicalização da ditadura: invocando o “poder revolucionário” exercido pelo presidente da República e argumentando que “os instrumentos jurídicos, que a revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo” estavam sendo colocados a favor de “atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais”, o AI-5 legitimou algumas das mais duras ações do regime militar (PIERANTI et al., 2010, p. 142). O Brasil estava sob a presidência do Marechal Artur da Costa e Silva, que havia sido escolhido por um colégio eleitoral a 3 de outubro de 1966, tendo assumido em 15 de março de 1967. Segundo refere Maria Helena Moreira Alves, contraditoriamente o Presidente da República “comprometia-se com a política de liberalização que lentamente dissipasse as tensões, chamando a oposição para dialogar com o governo” (1984, p. 112). A aproximação entre as partes efetivamente ocorreu, no entanto, de forma simultânea a repressão policial contra manifestantes, prinicipalmente estudantes, atingia o seu ápice, anulando a legitimidade que se esperava obter com a promessa de liberalização. A UNE continuou a contar com o amplo apoio dos estudantes, mobilizandoos em número cada vez maior para as várias atividades que patrocinava. A primeira tática adotada foi a de promover pequenos e rápidos comícios conhecidos como “comícios-relâmpago” para mostrar à população que o movimento subsistia e evitar confronto direto com as forças de segurança (ALVES, 1984, p. 116). A própria edição do Ato Institucional nº 5 foi precedida da morte de um manifestante de oposição ao regime, Edson Luís Souto, morto pela Polícia Militar no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro. As manifestações de repúdio à morte do estudante desencadearam uma passeata que reuniu mais de cem mil pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas o AI-5 era necessário para o governo superar as manifestações em algumas capitais onde estudantes e a polícia se confrontavam, no que se convencionou chamar na época de “guerrilha urbana”? [...] Ou seja: naquele momento, as próprias Forças Armadas foram usadas como escudo pelos que pretendiam não a continuidade do processo de normalização institucional do país, mas sim o endurecimento do regime (CONTREIRAS, 2010, p. 58). Porém, a justificativa histórica adotada pelos militares para a edição desse severo ato de controle da população foi o discurso no Congresso Nacional do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB. Segundo Eduardo Bueno, os militares utilizaram o Ato Institucional nº 5 como pretexto para “pisotear” a Constituição Federal 1967, decretando o fechamento do Congresso, autorizando o Executivo a legislar “em todas as matérias previstas nas Constituições”, suspendendo as “garantias constitucionais ou legais de vitalicidade, inamovibilidade e estabilidade” e permitindo ao presidente “demitir, remover, aposentar, transferir” juízes, empregados de autarquias e militares (BUENO, 2010, p. 391). No início de setembro, depois de a PM ter invadido a Universidade de Brasília, o deputado carioca Márcio Moreira Alves, do MDB, em discurso no Congresso, sugeriu que a população boicotasse o desfile do 7 de Setembro e as mulheres se recusassem a namorar oficiais que não denunciassem a violência. O discurso foi considerado uma ofensa às Forças Armadas e os ministros militares decidiram processar o deputado (BUENO, 2010, p. 391). A campanha pelo boicote e repúdio aos militares despertou o interesse em processar o deputado Márcio Moreira Alves. Para tanto, requereram ao Sumpremo Tribunal Federal o julgamento do parlamentar, por ter gravemente ofendido a honra e a dignidade das Forças Armadas. No entanto, em se tratando de Deputado Federal, havia a necessidade de o Congresso Nacional suspender a imunidade garantida constitucionalmente, pedido que foi corajosamente negado pelo Congresso. A derrota no episódio serviu de pretexto para, no dia seguinte, os militares decretarem o Ato Institucional nº 5 e fechar o Congresso Nacional. Como ainda estava em vigência a Constituição de 1967, não era possível punir sumariamente um deputado por discurso feito na tribuna da Câmara. Era necessário seguir os trâmites legais. O requerimento foi encaminhado à Comissão de Justiça da Câmara, que poderia rejeitá-lo por dois terços dos votos. [...] Desnecessário frisar que os membros do Congresso tinham todo interesse em preservar a imunidade parlamentar. A lembrança dos expurgos ainda estava dolorosamente viva na memória de cada um. A decisão de suspender a imunidade de um deputado para que fosse processado por traição redundaria em ameaça direta a todos os parlamentares. Foi o que o próprio Márcio Moreira Alves deixou claro nos discursos que pronunciou em sua defesa (ALVES, 1984, p. 130). Apesar da relevância do fato envolvendo o deputado carioca, este episódio acabou por ofuscar os reais motivos que levaram os militares a decretarem o mais severo dos atos institucionais. O Brasil do período anterior ao AI-5 mostrava sinais de que o retorno à democracia era o caminho almejado pela oposição que se organizava. Esta situação evidentemente provocou o interesse dos militares mais radicais em se manterem no poder, dentre os quais o Presidente Costa e Silva. O Ministro da Justiça tirou da pasta um outro rascunho de ato que passou a ler. O Presidente interrompeu, dizendo: “Vamos ver o que nós queremos”. Lançou mão daquelas anotações que fizera na véspera, e passou a discutir com os presentes os itens importantes que havia escrito. Virou-se para o Dr. Rondon Pacheco e disse-lhe para ir anotando o que ele queria que figurasse no Ato (RANGEL, 1978, p. 20). Realizando o que ficou intitulado de “golpe dentro do golpe”, radicais da área de informações e de outros setores e políticos que defendiam a continuação indefinida do regime estavam sempre dispostos a usar qualquer recurso para queimar os que pretendiam a normalização do país [...] (CONTREIRAS, 2010). A característica diferenciadora do Ato Institucional nº 5 para com os demais estava expresso no seu artigo nº 10; “Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.” A partir da entrada em vigor desta norma, o cidadão perdeu o direito à liberdade, direito fundamental originado na Magna Carta de 1215, e garantido constitucionalmente no Brasil desde a Constituição Federal de 1891. Talvez as medidas mais emblemáticas de abandono de um Estado de Direito promovidos pelo AI-5 tenham sido a suspensão da garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular, e a exclusão de qualquer apreciação judicial de todos os atos praticados de acordo com o AI-5 e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos (PIERANTI et al., 2010, p. 142). Com a suspensão do habeas corpus, a atuação dos advogados na defesa de presos políticos passou a ser seriamente dificultada. Com a liberdade de prender os suspeitos de oposição ao regime sem o receio de serem rapidamente libertados pelo poder Judiciário, passaram os militares a torturar seus presos. Segundo Verônica Dalcanal, “os anos 1970 foram os mais difíceis para advocacia, muita gente foi torturada e morreu, [...] Aos poucos, no entanto, o próprio regime foi se abrindo e os advogados conseguiram melhores resultados na defesa dos presos políticos” (2010, p. 204). Mesmo com a suspensão da garantia constitucional do habeas corpus, os familiares das vítimas da ditadura recorriam aos profissionais da advocacia, conforme explica Criméia Schmidt: Os familiares recorriam aos advogados, estes apelavam para o habeas corpus, mesmo sabendo de sua supressão desde a edição do AI-5. Esse foi um recurso bastante utilizado na tentativa de preservar a vida dos presos, embora os juizes militares nunca aceitassem. Era uma forma de pressão, tanto para avisar aos órgãos de repressão sobre o conhecimento das prisões, como para repudiar a suspensão desse direito. Ao apresentar o pedido de habeas corpus para a pessoas consideradas desaparecidas políticas, a resposta era invariavelmente: “encontra-se foragido” (2010, p. 22). Dalmo Dallari exemplifica as violações aos direitos fundamentais ocorridas a partir da edição do Ato Institucional nº 5: O que ocorreu a partir daí foi um recrudescimento das arbitrariedades e violências, como prisões arbitrárias, tortura, desaparecimento de pessoas, invasões de domicílios, cassações de direitos e ampla corrupção, tanto quanto ao uso das instituições públicas quanto relativamente aos desvios de recursos públicos (2010, p. 9). Os próprios advogados passaram a ser vítimas do Ato Institucional nº 5, não tendo a Ordem dos Advogados do Brasil meios de proteger seus filiados. “Não apenas militantes foram sequestrados como também muitos advogados que atuavam na defesa deles. Como já dito, quase todos os advogados da área sofreram pressão, pois era necessário amendrontá-los para que parassem de defender os perseguidos políticos” (MOREIRA, 2010, p. 57). Porém, as principais vítimas das violações aos direitos e garantias fundamentais eram os opositores políticos, a quem, em certas localidades, sequer era concedido o direito a representação por advogado legalmente constituído, conforme relata Luciana Bertoldo em livro escrito sobre a perseguição sofrida por seu pai “Genir José Bertoldo”, durante a ditadura militar na cidade de Ijuí: No dia do julgamento, ele chegou sozinho. Foi apresentado ao advogado nomeado de ofício pela 3ª Auditoria, que estaria encarregado da defesa. Ele ousou perguntar ao advogado se estaria correto ser defendido pelo próprio advogado do Exército. A resposta foi para que ficasse tranquilo, porque de qualquer forma ele seria a sua única opção (já que não teria direito a um advogado civil em função do AI-5) (2010, p. 63). A prática de torturas era repudiada também por grupos de militares contrários aos abusos de poder, expondo diferentes opiniões entre os próprios integrantes do governo. O militares contrários ao regime eram perseguidos e seguidamente expulsos das Forças Armadas. Afirma Hélio Contreiras: “a prática da tortura foi repudiada por vários militares. [...] Os que recorrem à tortura, não importam as circunstâncias, não representam a instituição militar” (2010, p. 180). Apesar de amplamente utilizada como forma de coação e controle da oposição, o governo militar jamais assumiu a autoria de atos de tortura. A controvérsia entre os relatos da história e a opinião dos militares ainda hoje revoltam as vítimas submetidas aos cárceres das delegacias de polícia e quartéis militares da época. Ainda assim, há uma estranha fragilidade no embuste. De um lado, é certo que se trata de uma mentira, pois o governo condena a tortura, nega sua existência, mas não aceita investigar as denúncias que saem dos porões. De outro – o lado pelo qual ela entra no mundo do torturador – é possível que a própria mentira seja mentirosa. Ou seja, a qualquer momento a condenação dos torturadores pode se tornar verdade. Para o torturador, o hierarca de discurso humanitário é um mentiroso que pode fritá-lo numa eventual mudança do clima político. Isso faz com que a conduta da “tigrada” se torne potencialmente adversária do governo. Ela suspeita que a vêem como um bando de bobos descartáveis, metidos num serviço sujo (GASPARI, 2002, p. 23). Em entrevista concedida em 1996, o ex-Presidente da República João Batista Figueiredo questionou a ocorrência de torturas, não acreditando que um General fosse capaz de ato de tal repugnância, culpando os militares de baixa patente, ou mesmo os agentes civis a serviço do regime como culpados pela aplicação de métodos de confissão forçada (GASPARI, 2002, p. 23). Os métodos de imposição de dor física e psicológica adotados pelos militares variavam. Porém, a crueldade e o abuso de poder relatados pelas vítimas que suportaram com vida às sessões de tortura assemelhavam-se, expressando a intenção do regime em punir os considerados subvertores. Em 5 de maio, foi retirado da cela e conduzido à sala de torturas, onde permaneceu por mais de seis horas. Na volta, os companheiros de cela de Olavo ouviram dele o relato das torturas sofridas: obrigado a despir-se, sofreu queimaduras com cigarros e charutos, palmatória nos pés e nas mãos, espancamentos, pau-de-arara, afogamentos e choques elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e conhecido como pianola Boilsen (este instrumento leva o nome de seu criador, o então presidente da Ultragás e diretor da FIESP, Albert Henning Boilsen, fundador e financiador da Operação Banderiante, posteriormente reorganizada como DOI-CODI. Ele foi executado por militantes da ALN e MRT em 15 de abril de 1971) (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 193). A imprensa nacional também foi vitimada severamente pelas violações de direitos. Antes mesmo da edição do AI-5 em 1968, houve a promulgação da Lei de Imprensa de 1967, e posteriormente a edição da nova lei de Segurança Nacional em 1969. Destaca Eduardo Bueno que “a partir delas, a presença dos censores nas redações dos principais jornais, revistas e TVs tornou-se fato corriqueiro, e a lista de assuntos “proibidos”, progressivamente abrangente” (2010, p. 412). O Ato Institucional nº 5 vigorou até o ano de 1978; passou por três presidentes da República e acabou extinto por Ernesto Geisel, que, imediatamente, restaurou o direito ao habeas corpus. Porém, a herança de graves violações aos direitos e garantias fundamentais, dentre as quais suspensão do estado democrático de direito, adoção da censura à imprensa, torturas em interrogatórios, rompimento da autonomia do Judiciário, quebra da privacidade de funcionários públicos e ministros de Estado e o envolvimento dos militares com a atividade policial fizeram do período iniciado em 13 de dezembro de 1968 o período considerado mais cruel e excludente da história brasileira. Fatos que culminaram no rebaixamento do país à condição de Estado de exceção, não garantidor dos Direitos Humanos, declarados universais em 1948 pela Organização das Nações Unidas. 2.4 As principais violações aos direitos fundamentais durante a ditadura militar A notoriedade negativa conquistada pelo Ato Institucional nº 5 mascara a maior das violações aos direitos fundamentais ocorrida durante a ditadura militar. Editado em 05 de setembro de 1969 pelos Ministros do Estado da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, o Ato Institucional nº 14 alterou a redação do § 11 do artigo 150 da Constituição Federal de 1967, subjetivamente permitindo a pena de morte aos revolucionários ou subversivos opostos ao regime militar. Apesar da subjetividade da norma, a alteração normativa expressava a severidade da intenção do legislador. § 11 - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, nem de confisco. Quanto à pena de morte, fica ressalvada a legislação militar aplicável em caso de guerra externa. A lei disporá sobre o perdimento de bens por danos causados ao erário ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de função pública (CF/1967). § 11 - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, ou confisco, salvo nos casos de guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos termos que a lei determinar. Esta disporá também, sobre o perdimento de bens por danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de cargo, função ou emprego na Administração Pública, Direta ou Indireta (AI-14). Ainda que permitido pela legislação em vigor, não há registros da aplicação da pena morte por parte do governo entre os anos de 1964 e 1985, excluindo-se dessa estatística as mortes patrocinadas sem o amparo da lei. A severidade do Ato Institucional nº 14, corroborada pela Nova Lei de Segurança Nacional e a Emenda Constitucional nº 1 (ou Constituição outorgada de 1969), influenciou diretamente a reformulação pertinente à Justiça Militar, ao Código Militar, ao Código de Processo Penal Militar e à Lei da Organização Judiciária Militar (MOREIRA, 2010). Significativamente mais rigorosos, concederam amplos poderes aos tribunais militares para o julgamento de casos envolvendo civis. A não aplicação da pena de morte não impediu a cruel e disseminada prática da tortura, forma letal utilizada pelos militares e seus agentes na busca por informações que julgavam importantes. Diversas foram as modalidades aplicadas, e centenas os casos confirmados, muitos ocasionando sequelas físicas e psicológicas irreversíveis, quando não redundando na morte dos interrogados após infindáveis sessões. O auge da prática da tortura como meio inquiritório e também punitivo se deu após a edição do Ato Institucional nº 5, embora repudiada também por militares. “De fato, se, após as primeiras semanas posteriores ao golpe, a tortura fora reprimida pelos chefes militares, recomeçou a todo vapor com a edição do AI-5” (MOREIRA, 2010, p. 275). As críticas à prática da tortura ocorreram frequentemente durante a ditadura, motivadas principalmente por vítimas e seus familiares. Porém, sem jamais cessar sua aplicação. A suspensão formal do estado democrático de direito a partir do AI-5 estimulou violações aos direitos e garantias fundamentais, já enfraquecidos pela Constituição Federal de 1967. Segundo Adriano de Freixo e Taís Ristof, “a partir daquele momento, intensificaram-se o arbítrio e as violações dos direitos e da dignidade da pessoa humana no Brasil, que, embora já presentes antes de 1968, são levados ao extremo nos anos seguintes” (2010, p. 148). A prática de tortura foi repudiada por vários militares. Um dos que atacaram mais duramente a violência contra os presos políticos foi o coronel Luiz Henrique Pires, ex-chefe da Seção de Doutrina da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme), e um dos fundadores do Curso de Política e Alta Administração do Exército (CPAEx) (CONTREIRAS, 2010, p. 180). Mesmo não possuindo respaldo jurídico, a prática de tortura foi o resultado de diferentes violações a direitos e garantias fundamentais decorrentes do AI-5. A suspensão do habeas corpus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular (art. 10); a exclusão da apreciação judicial dos atos praticados com base no Ato Institucional que se editava, bem como de seus Atos Complementares, aliados ao regime de incomunicabilidade estabelecido pela Lei de Segurança Nacional, permitiu aos militares investigar, prender, interrogar e punir seus opositores, não havendo instância superior que exercesse alguma forma de controle. As mortes do jornalista Wladimir Herzog e do metalúrgico Manoel Fiel Filho simbolizaram as violações aos direitos e garantias fundamentais, constrangendo o poder militar pela grande exposição negativa que se seguiu. Porém, os casos não deixaram de ocorrer, culminando em outras mortes ou sequelas nas vítimas e seus familiares. Durante os vinte e um anos de ditadura militar, muitos outros direitos e garantias fundamentais restaram violados ou ignorados, situação que ainda se reflete no desenvolvimento social do país, e que expuseram o Brasil à recente condenação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão que compõe a Convenção Americana de Direitos Humanos. 3 OS REFLEXOS DAS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DURANTE A DITADURA MILITAR E GARANTIAS Os reflexos das violações aos direitos e garantias fundamentais iniciaram-se tão logo as violações passaram a ocorrer. O Brasil anterior ao golpe militar estava sob a égide da democrática Constituição Federal de 1946, influência sofrida pelo processo de redemocratização posterior à queda de Getúlio Vargas. Vigorou por 18 anos, sendo interrompida bruscamente por um período de 21 anos de constantes violações de direitos, transformando a história de um país e de gerações de brasileiros. Com o fim da ditadura e a promulgação da Constituição Federal de 1988, intensificaram-se as tentativas de responsabilização civil e criminal dos agentes militares. Seguindo os moldes sul-americanos, as vítimas e seus familiares passaram a pressionar por medidas que reparassem as violações ocorridas. Em setembro de 2006, foi aceita no Brasil uma ação inédita de responsabilização de um torturador do período ditatorial. O juiz Gustavo Santini Teodoro, da 23ª Vara Cível de São Paulo, acolheu Ação Declaratória impetrada em 2005 pela família Almeida Teles contra Carlos Alberto Brilhante Ustra – comandante do DOI-CODI/SP entre 1970 e 1974 – por entender que a ofensa aos direitos humanos não está sujeito à prescrição (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 46). Entretanto, somente em 2010 medidas mais contundentes foram tomadas no sentido de punir efetivamente os autores dessas violações. Com destaque para a tentativa de revisão da Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 (ADPF), ação ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil perante o Supremo Tribunal Federal, e o julgamento do caso Gomes Lund (Caso nº 11.552), crimes ocorridos durante a Guerrilha do Araguaia, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses processos inauguraram um novo período de reparação aos direitos humanos violados no Brasil, contribuindo para a consolidação da democracia e a reparação dos danos sofridos. Apesar do insucesso da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada pelo plenário do STF em 29 de abril de 2010, a negativa da possibilidade de revisão da controvertida Lei de Anistia brasileira, que, segundo Fábio Konder Comparatto, procurador do Conselho Federal da OAB, tinha por objetivo “recuperar a honorabilidade das Forças Armadas, após os atos de arbitrariedade – terrorismo, sequestro, assalto, tortura e atentado pessoal – praticados por integrantes da corporação contra opositores do regime militar”, expôs o desejo da sociedade em sepultar qualquer resquício das violações anteriormente praticadas. A demanda tinha por escopo punir tão somente os agentes públicos que, sob a égide do Estado, cometeram crimes contra o cidadão. Segundo Comparato, “se a lei tivesse anistiado os agentes públicos que cometeram milhares de atos de tortura durante o regime militar, esta anistia teria sido recepcionada no texto da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Mas isto não ocorreu.” Importante destacar o exposto pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau, relator do julgamento da ADPF/153 em seu voto contrário à revisão da Lei de Anistia: O arguente alega ser notória a controvérsia constitucional a propósito do âmbito de aplicação da “Lei de Anistia”. Sustenta que “se trata de saber se houve ou não anistia dos agentes públicos responsáveis, entre outros crimes, pela prática de homicídio, desaparecimento forçado, abuso de autoridade, lesões corporais, estupro e atentado violento ao pudor contra opositores políticos ao regime militar” (ADPF 153, 2010). Na prática, a procedência da demanda traria consigo a possibilidade de, no âmbito nacional, reabrir investigações e processos por abusos cometidos durante os “anos de chumbo”, punindo os envolvidos pelos crimes cometidos. É necessário dizer, por fim, vigorosa e reiteradamente, que a decisão pela improcedência da presente ação não exclui o repúdio a todas as modalidades de tortura, de ontem e de hoje, civis e militares, policiais ou delinquentes (GRAU, ADPF 153, 2010). Em âmbito internacional, a busca pela punição aos agentes criminosos de ditaduras militares tem ocorrido de forma incisiva. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já proferiu cinco acórdãos contra diferentes países considerando inválidas suas leis de autoanistia. Nesta situação se encontra o Brasil, que, em 24 de novembro de 2010, teve julgado contra si demanda referente às atrocidades cometidas durante a Guerrilha do Araguaia (Caso Gomes Lund e Outros vs. Brasil), fato ocorrido entre os anos de 1972 e 1975, no qual cerca de 70 pessoas, entre membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses da região, foram torturadas e assassinadas. Desses, vários corpos jamais foram localizados. Os peticionários entendem que a indenização não é uma reparação completa da violação e alegam que o Estado não pode com a indenização pretender ter reparado a totalidade da violação, pois ainda falta identificar e punir os responsáveis pela mesma. O Estado alega, por sua vez, que em virtude da Lei de Anistia não é possível investigar a responsabilidade individual e sancionar os agentes públicos envolvidos no caso. A Comissão considera no presente caso que deve considerar se a Lei de Anistia aprovada, no tocante aos fatos em que se enquadram os denunciados, estabelece um regime de impunidade, que impediria que os tribunais competentes julguem e estabeleçam uma condenação aos eventuais responsáveis das violações denunciadas (CIDH, Relatório nº 33/01, Caso nº 11.552). Os argumentos defensivos não foram aceitos, ocasionando a condenação de forma unânime do Brasil pelo desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal, liberdade pessoal e liberdade de pensamento. Entenderam os juízes da Corte que o Estado brasileiro descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incluindo neste item a controversa Lei de Anistia. O Brasil restou condenado também a conduzir eficazmente as investigações penais dos fatos que ensejaram a presente demanda, determinando o paradeiro das vítimas desaparecidas, identificando e entregando os restos mortais a seus familiares, além de oferecer tratamento médico e psicológico/psiquiátrico às vítimas que o requeiram. Dentre as diversas condenações trazidas, o Estado ainda deverá realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional a respeito dos fatos do caso Araguaia, tudo supervisionado pela Corte e sem a possibilidade de recurso. De forma conclusiva, entenderam os juízes que compõem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que as medidas adotadas pelo Brasil, como a Lei de Anistia e a política de indenizações e benefícios, não se constituíram em uma "reparação suficiente" das violações alegadas pelas vítimas. Segundo consta no Relatório nº 33/01, Caso nº 11.552 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: No presente caso, não seria possível à Comissão definir o que é uma reparação suficiente das violações, sem antes determinar a existência e a natureza das eventuais violações, o que só pode ser determinado na fase de mérito. Por estas razões, a Comissão entende desestimar a alegação do Estado de que devem se aplicar as hipóteses dos artigos 48(b)(e)(c) da Convenção. Os fatos alegados na petição, se comprovados, caracterizariam violações dos artigos I, XXV e XXVI da Declaração Americana, assim como dos artigos 1(1), 4, 8, 12, 13 e 25 da Convenção Americana. A Comissão considera que a exceção do artigo 47(b) não se aplica ao presente caso (CIDH, nº 11.552). A possibilidade de divergências entre os julgados externos e internos, à semelhança do ocorrido nos países latino-americanos vítimas de ditaduras militares, pressionou o Supremo Tribunal Federal a pacificar seu entendimento no sentido de proteção aos direitos humanos. Frise-se de antemão que o STF, no dia 3 de dezembro de 2008, decidiu (historicamente) que os tratados internacionais de direitos humanos valem mais do que a lei e menos que a Constituição, estando no nível supralegal no país (cf. RE466.343/SP). Ainda que não tenha a Suprema Corte atribuído nível constitucional aos tratados de direitos humanos (por um voto faltante apenas), o certo é que trilhou o STF o caminho juridicamente correto (de respeito ao direito internacional dos direitos humanos, tal como vem sendo construído e seguido por todos os países civilizados) (GOMES; MAZZUOLI, 2011, p. 51). No entanto, este entendimento encontra-se em cheque. A recente decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos obrigou o país a revisar sua Lei de Anistia, decisão anteriormente negada pelo STF e que deverá trazer mudanças drásticas nos rumos políticos e jurídicos do Brasil. 3.1 A abertura política e a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) Imediatamente após a edição do primeiro Ato Institucional, a oposição iniciou sua campanha pela anistia dos atingidos pelo golpe militar. Ainda de forma desordenada, Alceu Amoroso Lima, mais conhecido pelo cognome “Tristão de Athayde”, foi o primeiro a reivindicá-la. Ignorada pela Junta Militar que governava o país naquele momento, foi reiterada posteriormente ao então Presidente da República Castelo Branco, que igualmente a desprezou. Outras tentativas também restaram frustradas, como relembra Glenda Mezarobba. Em seguida foi a vez do general Pery Constant Bevilacqua, ministro do Superior Tribunal Militar (STM), defender a adoção do expediente. Três anos mais tarde, reclamando “anistia geral, para que se dissipe a atmosfera de guerra civil que existe no país”. a Frente Ampla organizada por líderes da oposição como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitchek e João Goulart, lançou um manifesto com o mesmo objetivo (2003, p. 157). Somente em 1975 a oposição conseguiu, de modo ordenado, estabelecer a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita aos presos políticos no Brasil. Influenciados pelo decreto-lei assinado por Getúlio Vargas, que em 1945 havia concedido a anistia aos presos e exilados do Estado Novo, alguns movimentos de oposição passaram a se destacar nas campanhas pela redemocratização. Dentre os mais relevantes, o Movimento Feminino pela Anistia e Liberdades Políticas (MPFA) e, em 1978, os Comitês Brasileiros pela Anistia (CBA), espalhados em vários estados. O cidadão passou a externar sua oposição ao regime somente a partir de 1977, quando, com o apoio de artistas, sindicatos e do movimento estudantil (UNE), foi às ruas para protestar (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 23). Os movimentos de oposição ao regime estavam fortalecidos, as lideranças sindicais, principalmente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, demonstravam sua força através das greves. Com a greve dos metalúrgicos de 1978, o movimento trabalhista surgiu como força de primeiro plano na cena política. Pelos padrões brasileiros, os metalúrgicos estavam entre os trabalhadores melhor pagos do país, em 1978. [...] Os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema sabiam que ocupavam uma posição privilegiada no quadro produtivo brasileiro, e estavam perfeitamente conscientes de sua capacidade de “paralisar o sistema” (ALVES, 1984, p. 247). No final da década de 1970, o Brasil encontrava-se em delicada situação econômica. Comparativamente, afirma Eduardo Bueno “se, durante o governo Médici, a economia ia bem e o povo mal, durante os seis longos anos do governo Figueiredo tanto a economia quanto o povo foram tremendamente mal”. A crise do petróleo, a inflação e a dívida externa prejudicavam a imagem dos militares, fortalecendo o discurso da oposição, que, destemida desde a revogação do Ato Institucional nº 5 em 31 de dezembro de 1978, passou a deflagrar a campanha pelas “Diretas Já” (2010, p. 400). Mais euforia seria trazida pelo “milagre econômico”. De 1969 a 1973, de fato ocorreu um extraordinário crescimento econômico no país. O PIB cresceu na espantosa média anual de 11% (chegando a 13% em 1973). Houve uma febre de investimentos, grandes obras (muitas delas faraônicas e muito dinheiro vindo do exterior, com juros baixos). O ministro Delfim Netto foi o articulador do “milagre”. Logo o processo de crescimento se revelaria mais terreno do que “milagroso”. Com a crise do petróleo, iniciada em 1974, e a consequente retração do capitalismo internacional, o “milagre” mostrou sua face real: o que ocorreu no Brasil durante o governo Médici foi um brutal processo de concentração de renda e o crescimento desmedido da dívida externa e do fosso social que separava ricos de pobres. O país ia bem, e o povo, de mal a pior (BUENO, 2010, p. 393). Entretanto, o marco inicial da campanha pelo retorno da democracia, ou ao menos com o objetivo de modificar os rumos iniciados com golpe de 1964, ocorreu com a morte do jornalista Vladimir Herzog em 24 de outubro de 1975. Nascido na Iugoslávia (atual Croácia) era chefe do Departamento de Jornalismo da TV Cultura (SP) e editor de cultura da revista Visão. Intimado pelas forças de segurança que realizavam a “Operação Jacarta”, compareceu espontaneamente para o interrogatório. Na mesma tarde morreu nas instalações do DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna). A versão oficial foi de suicídio em sua cela, enforcando-se com sua própria gravata, seu corpo foi enviado à viúva em caixão lacrado e sem maiores explicações (CHAGAS, 1985, p. 228). Herzog era um jornalista conhecido e estimado. O estado de São Paulo foi subitamente tomado de maciça indignação popular com sua morte. Assistida por advogados da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, sua viúva, Clarice Herzog, contestou a versão de suicídio e entrou com ação contra o governo federal, responsabilizando-o pela morte do marido. O caso obteve o apoio de jornalistas de todo o país. A imprensa promoveu aprofundada investigação paralela, demonstrando que na realidade Vladimir Herzog fora morto por tortura na sede do DOI-CODI do Segundo Exército. A Associação Brasileira de Imprensa reuniu assinaturas de 1.000 destacados jornalistas num abaixo-assinado pedindo investigação das atividades do DOI-CODI (ALVES, 1984, p. 205). Apesar da comoção causada e da repercussão negativa que o fato trouxe para o governo, menos de três meses depois, no dia 17 de janeiro de 1976, o metalúrgico Manoel Fiel Filho morreu nos porões da mesma instituição. Conforme relata Eduardo Bueno, “a versão oficial novamente falava em enforcamento: dessa vez, o detento teria usado “as próprias meias” (2010, p. 399). Esses fatos fortaleceram a oposição, que, a partir do ocorrido passou a contar com o apoio do Cardeal Paulo Evaristo Arns, que pessoalmente solicitou o apoio dos bispos presentes à Conferência Regional dos Bispos em Itaici, São Paulo. Além da Igreja Católica, a União Nacional dos Estudantes (UNE), que se reorganizava politicamente, aderiu à campanha, como relembra Maria Helena Moreira Alves: Após a morte de Manoel Fiel Filho, o governo Geisel viu-se sob forte pressão para acabar com a repressão em São Paulo. Os chefes das forças de segurança de São Paulo – o comandante do Segundo Exército, Ednardo D´Ávila Mello, e o Coronel Erasmo Dias – integravam o setor linha-dura contrário a política de “distensão”. Estimou-se que suas atividades em São Paulo redundavam no exercício de um poder paralelo que poderia ameaçar a autoridade do Executivo central e do próprio Estado de Segurança Nacional. O Presidente Geisel agiu com rapidez para recuperar o controle da situação. Dois dias depois da morte de Manoel Fiel Filho, ele afastou o General D’Ávila Mello, substituindo-o, no comando do Segundo Exército, pelo General Dilermando Gomes Monteiro. [...] Embora o General Dilermando Gomes Monteiro, considerado um “militar liberal”, mantivesse a sua promessa de acabar com a tortura nas dependências do DOI-CODI de São Paulo, não pode evitar novos atos de repressão em São Paulo, desta vez contra estudantes universitários que tentavam reorganizar a extinta UNE (1984, p. 207). A morte do jornalista Vladimir Herzog, apesar de considerada “o marco da virada” da oposição contra o regime militar, sobretudo no que diz respeito às lutas pelos direitos humanos, teve importância inferior ao primeiro evento que demonstrou a rearticulação da sociedade civil e significou a primeira manifestação abertamente política de oposição à ditadura, que foi a vitória do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nas eleições de 1974 (DEL PORTO, 2002). As eleições gerais de 15 de novembro de 1974, já com Geisel no poder, revelaram-se desastrosas para a revolução. A anticampanha do anticandidato Ulysses Guimarães, pelo MDB, no interior, surtiria efeitos magníficos. O eleitorado, exausto de tanta revolução, começando a enfrentar os efeitos da crise econômica, dera destino à sua exaustão, através das urnas. A lei eleitoral permitia a propaganda gratuita pelo rádio e a televisão, e os candidatos oposicionistas lavaram a alma. “Sem ódio e sem medo”, como dizia Marcos Freire, eleito para o Senado, por Pernambuco, o MDB cresceu avassaladoramente. Tivessem sido diretas as eleições de governador e o partido dominaria nada menos do que 16 Estados, pois elegeu 16 senadores (CHAGAS, 1985, p. 226). Porém, o resultado das urnas não sensibilizou os militares, que, na pessoa do Presidente da República Ernesto Geisel, se mantiveram distantes dos opositores eleitos. Todavia, o Presidente manteve a palavra no sentido de buscar uma democratização efetiva, conforme havia prometido. Contraditoriamente, no ano seguinte às eleições houve as emblemáticas mortes de Herzog e Fiel Filho, o que, segundo Fabíola Brigante Del Porto, foram “acontecimentos que desnudaram o fato de que a repressão não discriminava classes e foi importante para que os setores da classe média e da elite aderissem às forças de oposição ao regime” (2002, p. 60). As conquistas políticas da oposição se mantiveram nas eleições seguintes. Contando com o apoio de importantes setores da elite que aos poucos deixava de lucrar com a repressão, passaram também a pressionar o governo pela liberalização. Mesmo com o bem sucedido Pacote de Abril e a instituição de senadores biônicos na eleição de 1978, a oposição evidenciava sua organização e repúdio ao sistema ainda em vigor. O MDB continuou o partido mais forte nas disputas para o Senado, conquistando quase 4,3 milhões de votos a mais que o partido do governo. A ARENA manteve maioria na Câmara dos Deputados, mas por menor margem que em eleições anteriores. A mesma tendência verifica-se nas eleições para as assembléias estaduais. Por obra do Pacote de Abril, no entanto, havia significativa discrepância entre o voto popular e o resultado eleitoral. Nas eleições para o Senado, o MDB, apesar de ter recebido 56,9% dos votos válidos, ficou com apenas 9 cadeiras, enquanto a ARENA obteve 36. Dessas 36, 21 foram ganhas nas eleições indiretas dos colégios eleitorais aumentados nos estados. [...] Com o Pacote de Abril, no entanto, 231 cadeiras foram para o partido do governo, e apenas 189 para a oposição (ALVES, 1984, p. 197). Neste cenário de conquistas da oposição política, o Movimento Feminino pela Anistia (MPFA) surgido em 1975 passou a expandir-se pelo país. Sob a liderança da advogada Therezinha Zerbine, esposa de um general cassado pelo regime, reuniu 16 mil assinaturas para o “Manifesto da Mulher Brasileira”, que reivindicava a anistia política. A partir desse momento, o tema da anistia política cresceu na cena pública como palavra de ordem. Apesar de o termo e as ideias de uma anistia não serem novidades naquele momento, o movimento organizado pelo Movimento Feminino pela Anistia foi pioneiro por ser um movimento legalmente constituído para o enfrentamento direto com os militares (DEL PORTO, 2002). Em âmbito político-jurídico, o precursor de um projeto de anistia aos crimes cometidos na ditadura militar de 1964 foi o deputado Paulo Macarini (MDB-SC), que em 1968 foi derrotado no Congresso. Porém, mostrou que a anistia já encontrava ecos na sociedade brasileira. Além disso, no plano do poder instituído, em 1967, formara-se no Congresso Nacional a “Frente Ampla”, que exigia a redemocratização, a revogação da legislação de controle e a realização de eleições livres e diretas. Em seu manifesto de lançamento, a Frente reclamava também “Anistia Geral, para que se dissipe a atmosfera de guerra civil que existe no país”. Pouco depois, em agosto de 1968, o deputado Paulo Macarini (MDBSC) apresentava o primeiro projeto de anistia, que anistiaria todos os punidos em decorrência do envolvimento nas manifestações em razão da morte do estudante Edson Luís. Mesmo derrotado no Congresso, mostraria que a demanda da anistia já encontrava ecos na sociedade brasileira (DEL PORTO, 2002, p. 61). Apesar da contribuição dada pelos movimentos já constituídos, em 14 de fevereiro de 1978, no Rio de Janeiro, foi fundado o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA). Teve por característica a capacidade de unificar os diferentes grupos de oposição, reunindo militantes de diferentes categorias na busca pela anistia. Esse comitê era composto por integrantes do MFPA, estudantes, advogados, artistas, membros da Igreja Católica, e estabeleceu uma articulação com as oposições sindicais e representantes de movimentos de bairros. Com a revogação do AI-5, a campanha pela anistia passou a ter maior visibilidade. Os opositores puderam expressar seu desejo em rever familiares e amigos há anos exilados fora do país. Nas ruas e nos campos de futebol era possível ver cartazes e faixas defendendo a adoção do expediente. Carros também exibiam adesivos plásticos nos vidros, panfletos eram distribuídos nas esquinas e comícios buscavam sensibilizar a opinião pública a respeito do assunto. A orientação dos movimentos de anistia era de que a bandeira fosse estendida à prática dos sindicatos, das associações de bairro, das entidades profissionais e nos meios estudantis (MEZAROBBA, 2003, p. 160). A fundação de comitês estaduais fortaleceu e divulgou o ideário de uma Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, conforme relembra Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes: Os Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs) surgem como uma organização independente, reunindo homens e mulheres dispostos a levar à frente um programa político mínimo e de ação que ia além do esquecimento e exigia a libertação imediata de todos os presos políticos; a volta de todos os exilados, banidos e cassados; a reintegração política, social e profissional dos funcionários públicos ou privados demitidos por motivos políticos em consequência dos efeitos dos Atos de Exceção; o fim radical e absoluto da tortura; a revogação da Lei de Segurança Nacional; o desmantelamento do aparato repressivo; o esclarecimento das mortes e dos desaparecimentos por motivação política; a denúncia sistemática da tortura e dos casos de mutilação; o julgamento e punição dos responsáveis (2009, p. 84). Também no exterior foram criados comitês de anistia. Compostos por exilados políticos e estrangeiros contrários aos regimes ditatoriais, expuseram ao mundo a situação repressiva pela qual o Brasil estava passando. Pode-se ousar dizer, conforme palavras de Heloísa Amélia Grecco, “que o movimento chegou a assumir caráter de massa, ao menos na medida em que isso seria possível naquele momento” (2003, p. 200). Os comitês de anistia foram brotando em quase todas as capitais da Europa. Aqui na Suécia não se restringiram a Estocolmo mas existem em Upsalla, Lund e Gotemburgo, todas cidades importantes. Em Paris, onde se fez uma noite pela anistia, mais de cinco mil pessoas apareceram para ver os filmes, as exposições. Inúmeras personalidades se comprometeram com a luta pela anistia no Brasil. A própria Amnesty Internacional passou a encarar a possibilidade de uma ofensiva no caso específico do Brasil. Saiu daqui o Thomas Hamamberg, saiu a representante de Londres e todos foram para aí, para dar uma olhada (GABEIRA, 1980, p. 14). Diante da forte pressão exercida pelos diferentes segmentos da sociedade civil, os parlamentares passaram a elaborar projetos de lei que tratavam do assunto. Porém, a Constituição (Emenda Constitucional nº 1) outorgada em 1969, antevendo os fatos, havia tornado privativo do presidente da República o ato de anistia, o que resultou nas seguidas derrotas dos projetos apresentados pelos deputados de oposição. Em 22 de agosto de 1979, o projeto de anistia mais ampla, o MDB, foi derrotado por 209 votos contrários e 194 a favor. Em seguida, ocorreu a votação da emenda Djalma Marinho, cuja redação era mais clara e possibilitava uma anistia mais abrangente, mas foi derrotada por 206 votos contrários contra 201 a favor. Dessa forma, apesar da pequena margem de votos entre as propostas, o Congresso aprovou o projeto de anistia proposto pelo presidente, general João Figueiredo (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 23). Nesse clima de cobranças democráticas, o Presidente da República João Figueiredo, eleito de forma indireta em 15 de outubro de 1978 e empossado em 15 de março de 1979, encaminhou ao Congresso Nacional em junho de 1979 o projeto da Lei de Anistia. Severamente criticado por seu caráter de autoanistia, teve a clara intenção de garantir a inimputabilidade daqueles que perpetraram torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados a serviço da ditadura militar, além de anistiar os exilados políticos e demais opositores ao regime. A Lei nº 6.683, aprovada no Congresso a 22 de agosto e promulgada a 28 de agosto de 1979 – Lei de Anistia parcial (a anistia de agosto) – é a representação da anistia-amnésia, logo, da estratégia do esquecimento e da produção do silenciamento. Ela reflete exemplarmente a lógica interna de sua matriz – a Doutrina de Segurança Nacional – sobretudo através de três dos seus dispositivos, expressos nos dois primeiros parágrafos do art. 1º e no art. 6º, respectivamente, todos eles voltados para o ocultamento da verdade e a interdição da memória: a pretensa e mal chamada reciprocidade atribuída à inclusão dos crimes conexos; a exclusão dos guerrilheiros, aqueles que praticaram crime de sangue, no jargão dos militares; e a declaração de ausência a ser concedida aos familiares dos desaparecidos políticos (GRECO, 2003, p. 211). Aos opositores exilados a Lei de Anistia representou a conquista do direito de retornar ao Brasil; aos cassados, o retorno aos seus empregos. Já aos presos políticos não envolvidos em crimes comuns, também chamados de “crimes de sangue”, a concessão do direito à liberdade. Os presos políticos condenados pelos chamados “crime de sangue” – considerados na lei crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal – não foram beneficiados pela anistia, permaneceram nos cárceres e somente foram libertados em função da reformulação da Lei de Segurança Nacional ocorrida em 1978, que atenuou suas penas. Eles foram soltos em liberdade condicional, vivendo nessa condição durante muitos anos após a anistia (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 24). O período imediatamente posterior à entrada em vigor da Lei nº 6.683/79 foi marcado pelo retorno de artistas e políticos que haviam sido forçados a abandonar o país, dentre os quais; Leonel Brizola, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Professores universitários e cientistas que não fixaram residência permanente no exterior aos poucos retornaram ao Brasil, e os que deixaram de retornar contabilizaram um prejuízo sem precedentes à educação e ao desenvolvimento do país. Premeditadamente os nomes dos anistiados eram divulgados no Diário Oficial da União, algumas listas foram reproduzidas em jornais de grande circulação. A justificativa da publicização era de que a anistia havia sido concedida individualmente, porém, o real objetivo era o de manter a ordem e também o controle sobre os autores de crimes comuns que, segundo os militares não deviam ser anistiados. No entanto, a principal controvérsia gerada pela Lei de Anistia se deu com a não individualização e responsabilização dos mandantes ou responsáveis pelas torturas, assassinatos ou desaparecimentos forçados. Esses agentes do governo sequer foram julgados ou indiciados em processos criminais. Serviram-se da bilateralidade da lei para garantirem o próprio salvo-conduto. Visando influenciar a elaboração de uma lei sem normas ambíguas ou desfavoráveis aos já combalidos opositores, mas também aventando a possibilidade de punição aos criminosos a serviço do sistema, os movimentos organizados fizeram suas reivindicações e sugestões. Conforme ressalta Larissa Brizola Brito Prado. Em razão do alcance que essa medida teria, foram muitas as reivindicações dentro da sociedade civil, especialmente por parte do Movimento Feminino pela Anistia – capitaneado por Terezinha Zerbine -, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), da Igreja, dos sindicatos – dos metalúrgicos, dos bancários, dos médicos, entre outros – e dos estudantes (2004, p. 174). Relembra Glenda Mezarobba que “durante a tramitação do projeto de anistia do governo, houve quem, como o Deputado Octacílio Queiroz (MDB-PB), propusesse emendas prevendo o pagamento de pensões mensais a todas as mães, viúvas, menores órfãos, esposa e filhos de pessoas desaparecidas [...]” (2003, p. 162). Porém, a pressão mais contundente por parte da oposição que visava à inclusão de artigos que possibilitassem a punição dos militares não demoveu o Presidente da República João Figueiredo. Para preservar seus aliados que a serviço do sistema cometeram abusos no exercício de suas funções, fatos sempre rechaçados pelo presidente, e também preservar a imagem das Forças Armadas como instituição, não houve a inclusão na Lei de Anistia de normas que imputassem crimes aos atos que violaram os direitos e garantias fundamentais durante o regime. A redação da Lei de Anistia visava tão somente evitar a possibilidade de interpretações desfavoráveis aos militares. O artigo primeiro e seus dois primeiros parágrafos expressam claramente os fundamentos e objetivos de seu sancionamento. Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. § 1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. § 2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal (Lei nº 6.683/79). A redação do artigo 1º da Lei de Anistia evidenciou a intenção dos militares de desvincular os atos de tortura cometidos por seus agentes de qualquer possibilidade de punição futura. A delimitação de um prazo iniciado exatamente no dia 02 de setembro de 1961 fez retroagir o direito à anistia aos militares responsáveis pela instituição do parlamentarismo em detrimento ao presidencialismo legalmente constituído, fato que possibilitou a posse de João Goulart nessa mesma data. Manobra política somente possível através do desrespeito à Constituição Federal de 1946, o que poderia ser interpretado como crime político cometido pelos militares. A inserção da expressão “crimes conexos”, termo jurídico que conecta um delito a outro, seja na sua realização ou ocultação, significou a anistia ampla, geral e irrestrita aos agentes do governo. Militares ou civis que no exercício de suas funções cometeram crimes comuns, como torturas, estupros, assassinatos e ocultação de cadáver. O objetivo do retorno ao tão almejado regime democrático, que permitiria o retorno de familiares exilados, fez com que a oposição concordasse com a redação apresentada, formalizando na lei o interesse de ambas as partes. A anistia representou o silêncio e o esquecimento sobre os envolvidos nas ações repressivas após o golpe de 1964. Na prática, os torturadores foram anistiados graças à interpretação de que a abertura política poderia retroceder caso as oposições reivindicassem justiça. O termo “revanchismo” tem sido utilizado para denominar de forma pejorativa a posição daqueles que insistem em investigar os casos dos mortos e desaparecidos pela repressão política e exigem o julgamento dos responsáveis por tais crimes. A anistia, porém, segundo o Direito Internacional de Direitos Humanos, não pode ser um impedimento ao direito à verdade, que pressupõe a ampla investigação sobre a atuação dos órgãos de repressão durante a ditadura. A investigação é a medida fundamental para aprofundar e fortalecer a democracia, e o combate à impunidade é necessário para coibir a prática de tortura no país (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 24). O significado da palavra anistia, expresso no Dicionário Jurídico, traduz de forma categórica o objetivo do governo militar e da oposição com a edição da Lei de Anistia. Anistia. Ato de soberania de competência do Congresso Nacional pelo qual o poder público declara extinta a culpa, por motivo de utilidade social, de todos quantos, até certo dia, perpetraram determinados delitos, em geral políticos, pelo ato de fazerem cessar as diligências persecutórias, e se tornam nulas e de nenhum efeito as condenações; pode ser absoluta, condicional, geral, plena (DE PAULO, 2004, p. 39). Embora a Lei de Anistia haver sido promulgada em 28 de agosto de 1979, o retorno dos exilados políticos não ocorreu de forma imediata. “Na década de 1980, a anistia conquistada ainda não havia beneficiado muitos dos exilados, sindicalistas, banidos, marinheiros e trabalhadores de uma maneira geral” (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 24). Os benefícios da anistia não foram sentidos no primeiro momento, porque ainda se estava sob o domínio militar. Mesmo que as intenções democráticas partissem do próprio governo, sua natureza era ditatorial, prejudicando a efetividade da lei. Tempos depois da promulgação da Lei de Anistia Marcelo Cerqueira sustentou no tribunal a primeira ação declaratória no cível por perdas e danos, para efeito de indenização, a favor de Inês Etienne Romeu, a Alda, da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). A história de Inês foi escrita e amplamente divulgada por sua irmã, a jornalista Lúcia Etienne Romeu, por meio das reportagens “A casa dos horrores” e “A torturada fala com o médico da tortura”, publicadas na Revisto Isto É. Inês foi mantida em cárcere privado de maio a agosto de 1971 em uma casa situada na serra de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, que servia de centro clandestino de tortura. [...] Inês foi julgada por sequestro e condenada à prisão perpétua. Cumpriu oito anos e três meses de sentença no Presídio Talavera Bruce, situado na Zona Norte do Rio. Foi beneficiada com a Lei de Anistia, de 1979, mas só foi libertada no ano de 1981 (PESSOA; MELO, 2010, p. 172). Buscando a reparação das injustiças, a Constituição Federal de 1988, no art. 8º das Disposições Transitórias, estabeleceu o direito ao reconhecimento dos anos de prisão ou de clandestinidade como tempo de serviço. No entanto, as controvérsias da Lei de Anistia se mantiveram mesmo após o retorno do país ao Estado Democrático de Direito. A política de reparações surgida somente por meio da Medida Provisória 2.151 de 21 de maio de 2001, editada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, deu início ao pagamento de indenizações pecuniárias às vítimas da ditadura militar, incluídos os militares anistiados pela Lei 6.683/79. 3.2 A tentativa de revisão da Lei de Anistia através da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 A inconformidade com a autoanistia concedida pelos agentes da ditadura militar perdurou silente até o ano de 1992, quando retornou à pauta de discussão a morte do jornalista Vladimir Herzog e a responsabilização por este homicídio. Embora a versão oficial da época tenha confirmado suicídio, em 25 de março de 1992, o Ministério Público de São Paulo requisitou a abertura de inquérito policial (Inquérito Policial 704/92 – 1.ª Vara do Júri de São Paulo) à Polícia Civil paulista para apurar as circunstâncias da morte do jornalista. Diligências motivadas por uma reportagem publicada na Revista IstoÉ, Senhor, trouxe novos elementos de prova ao confirmar a tese de homicídio, incluindo a própria declaração do investigador de polícia civil requisitado para atuar no DOI/CODI, investigado como autor do referido crime (RAMOS, 2011, p. 181). Porém, através de um habeas corpus, a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o trancamento do inquérito policial, por considerar que tais ilícitos criminais teriam sido contemplados pela anistia prevista na Lei nº 6.683/1979. Apesar do insucesso da demanda, a discussão em torno da possível revisão da Lei de Anistia e consequentemente a punição dos agentes militares que cometeram crimes comuns, como, torturas, homicídios, estupros e desaparecimentos forçados, proporcionaram um debate mais acurado em torno do assunto. Entretanto, somente em 2008, houve, de forma organizada, uma tentativa formal de revisão ou reinterpretação da Lei de Anistia. Conforme explica André Carvalho Ramos: Em outubro de 2008, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) interpôs Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153) perante o STF, na qual foi pedido que fosse interpretado o parágrafo único do artigo 1.º da Lei 6.683/1979 conforme a Constituição de 1988, de modo a declarar, a luz de seus preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei aos crimes políticos e conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão (civis ou militares) contra opositores políticos, durante o regime militar (2011, p. 180). A ferramenta jurídica adotada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, intitulada de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), disciplinada no § 1º do art. 102 da Constituição Federal de 1988 e regulamentada na Lei nº 9.882 de 03 de dezembro de 1999, de acordo com Valéria Ribas do Nascimento, “foi um instituto criado a partir da Constituição de 1988, [...], objetivando preservar a obediência às regras e aos princípios constitucionais que, sendo considerados fundamentais, demandam um mecanismo próprio para proteção” (2006, p. 56). Importante destacar a ambígua decisão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em fazer uso da ADPF, pois tramita perante o STF Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) ajuizada pela próprio Conselho, questionando a constitucionalidade da lei que regulamentou a ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Igualmente, por legislação ordinária, foi estabelecida a manipulação dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das razões que levou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, contra a lei que regulamentou a arguição de descumprimento (NASCIMENTO, 2006, p. 115). Ação constitucional exclusivamente brasileira, a ADPF não possui similaridade no direito internacional, conforme ensina André Ramos Tavares, que refere haver apenas ferramentas jurídicas aproximadas com o instituto ora em análise (2001). Tem como característica principal evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, incluídos os atos anteriores à Constituição de 1988. o o Art. 1 A argüição prevista no § 1 do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (Lei nº 9.882/99). A condição de retroagir e disciplinar controvérsias constitucionais anteriores à Constituição em vigor capacitou os proponentes dessa ação a discutirem a validade e a interpretação de lei editada em 1979. De forma sui generis, aplicar o vasto rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição de 1988 ao período da ditadura militar, ignorando as Constituições Federais e Atos Institucionais vigentes naquele período. De posse da prerrogativa de retroagir às violações de direitos anteriores a CF/88, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representado pelo jurista Fábio Konder Comparato, “invocou os preceitos fundamentais constitucionais da isonomia (art. 5º, caput), direito à verdade (art. 5º, XXXIII) e os princípios republicano, democrático (art. 1º, parágrafo único) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III)” (RAMOS, 2011, p. 180), preceitos elencados pela democrática Constituição Cidadã de 1988. No entanto, a ação ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal em 21 de outubro de 2008 restou julgada improcedente em 28 de abril de 2010, após um longo debate político-jurídico apartado da sociedade e que expôs diferentes pontos de vista entre os ministros votantes. Após o ajuizamento e distribuição da Arguição em 21.10.2008 para a relatoria do então Min. Eros Grau, foram prestadas as informações, tendo a Advocacia-Geral da União sustentado o não conhecimento da arguição, em preliminar, e, no mérito, pela sua improcedência. [...] Na sessão de julgamento, em 28.04.2010, houve a participação de apenas nove ministros, pois o Min. Joaquim Barbosa estava licenciado e ainda declarou-se suspeito o Min. Dias Toffoli. Inicialmente, foram rejeitadas as preliminares, vencido o Min. Marco Aurélio, que votou pela extinção da ação por falta de interesse de agir. No mérito, sete Ministros declararam improcedente a arguição (Min. Eros Grau – relator, Carmen Lúcia, Ellen Gracie, Marco Aurélio, Cezar Peluso, Celso de Mello e Gilmar Mendes) e dois votaram pela procedência parcial (Min. Lewandowski e Carlos Britto) (RAMOS, 2011, p. 181). Diferentes foram os argumentos apresentados pelos nove Ministros habilitados a votar, tendo o Ministro Eros Grau, relator do processo, votado pela improcedência da ADPF por entender que cabia ao Poder Legislativo a revisão da Lei da Anistia, e não ao STF. Porém, no mérito, a tese que se consolidou e determinou a improcedência da demanda por 7 (sete) votos a 2 (dois) foi a de que a revisão da Lei de Anistia romperia com o compromisso firmado entre governo e oposição, acordo que possibilitou o fim do ditadura militar e o retorno do país ao Estado Democrático de Direito. O STF, quando do julgamento da ADPF 153/DF, em que foi relator o então Min. Eros Grau, afirmou que: “(a) a lei da anistia se deu por solução consensual das partes (em plena época da ditadura); (b) que não era aplicável a jurisprudência internacional, porque não seria hipótese de anistia ‘unilateral’, mas sim recíproca, sem questionar, contudo, quem foi que se autoconcedeu a anistia; e (c) que o cidadão tinha direito à verdade, mas fez questão de frisar que eventual ‘Comissão de Verdade’ não teria nem poderia ter qualquer finalidade de persecução penal. Ficaram vencidos apenas o Min. Lewandowski e o Min. Ayres Britto, ambos com argumentos distintos” (BALDI, 2011, p. 154). Apesar de vencidos no julgamento da ADPF/153, importante destacar o teor dos votos dos Ministros Enrique Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Britto. Assim sendo, o Min. Lewandowski trouxe ao debate com seus pares o entendimento desses dois órgãos sobre o objeto da lide. Assim, o voto expôs o dever brasileiro de investigar, processar e punir criminalmente os autores das violações graves de direitos humanos na época da ditadura. Inclusive foi citada parte da Observação Geral 31 do Comitê de Direitos Humanos, mostrando a verdadeira face do diálogo: o reconhecimento, em boa-fé, da necessidade de cumprir a interpretação dos direitos previstos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em vez de criar uma estranha “interpretação nacional” e afirmar, posteriormente, estar em linha com os direitos humanos internacionais (RAMOS, 2011, p. 193). O Min. Carlos Britto não fez referência aos tratados de direitos humanos ou às posições assumidas por seus órgãos de controle. Assim, sua interpretação está baseada na Constituição brasileira que não teria atribuído caráter “amplo, geral e irrestrito” aceito pelos outros ministros à Lei de Anistia (RAMOS, 2011, p. 196). As críticas contra o resultado do julgamento recaíram sobre a manutenção, por parte dos julgadores, do entendimento de que as torturas, homicídios, estupros e ocultações de cadáveres cometidos pelos agentes da ditadura foram crimes políticos ou conexos com estes, conforme a redação do §1º do art. 1 da Lei de Anistia. Crimes reconhecidamente comuns, que, segundo Ivan Luís Marques “são condutas tipificadas praticadas sem estar acompanhada de motivação política, ou seja, a intenção que move o agente para a prática delitiva não diz respeito ao regime governamental, à ideologia partidária, etc” (2011, p. 146). Conclui-se, portanto, que os crimes políticos puros possuem características próprias. Já os crime relativos, quando atingem bens jurídicos caros à humanidade, perdem sua pureza política e escapam das benesses concedidas, por exemplo, pela Lei da Anistia. Tornaram-se imprescritíveis e não anistiáveis (MARQUES, 2011, p. 146). Por parte dos militares, propagou-se o entendimento de que a revisão da Lei de Anistia abriria a possibilidade de punição aos “terroristas/subversivos de esquerda”. Oposicionistas que cometeram assassinatos e sequestros de autoridades nacionais e internacionais, além de assaltos a bancos e estabelecimentos comerciais, formas adotadas para custear as campanhas pelo retorno à democracia. O surto terrorista brasileiro nada teve de incruento. Afora os sequestros, depois de 1969 faltaram-lhe as sonhadas bases rurais e as ações espetaculares, mas abundaram as vítimas. [...] Essas organizações mataram 36 agentes anônimos da ordem. Boa parte deles eram soldados e cabos das polícias militares. Estavam na base da pirâmide social, mas sustentavam a ordem da ditadura. O mesmo não se pode dizer de cerca de quinze guardas de bancos, carros fortes e estabelecimentos comerciais. Morreram na cena das ações terroristas pelo menos outras dez pessoas que nada tinham a ver com a segurança dos locais onde estavam. Eram bancários, comerciantes ou mesmo um cobrador de ônibus (GASPARI, 2002, p. 396). Os argumentos desestimularam a intenção democrática da revisão da Lei de Anistia. Alertaram para as possíveis consequências a ambas as partes no caso de sucesso da ADPF/153. Principalmente no caso de figuras públicas que, após 1985, passaram a exercer cargos políticos importantes, como o exemplo da Presidente da República Dilma Roussef, que durante a ditadura militar integrou um grupo de guerrilheiros de esquerda, tendo participado de sequestros e roubos durante as campanhas de oposição. 3.3 A condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos Concomitantemente à tramitação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, tramitou perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos o processo Gomes Lund e Outros vs. Brasil, Caso nº 11.552. A ação ajuizada em abril de 2009 teve por objeto a apuração dos crimes de detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado (ocultação de cadáver) de 70 pessoas, entre guerrilheiros, moradores da região e camponeses ligados à guerrilha ocorrida na região amazônica às margens do Rio Araguaia, entre o final da década de 60 e o ano de 1975. Local que deu nome à Guerrilha do Araguaia e expôs a forma truculenta e desumana adotada pelos militares para debelar a batalha rural adotada pelos integrantes do Partido Comunista do Brasil (PC do B), o que, segundo Elio Gaspari, foram influências das revoluções de esquerda que ocorriam na Albânia, e não em Cuba ou Moscou (2002, p. 409). O que se deu no Araguaia foi o paroxismo do choque dos radicalismos ideológicos que, com seus medos e fantasias, influenciaram a vida política brasileira por quase uma década. A esquerda armada supusera que estava no caminho da revolução socialista, e a ditadura militar acreditara que havia uma revolução socialista a caminho. Até o início do surto terrorista esse conflito ficara no campo dos receios e planos. Daí em diante, um pedaço da esquerda mostrara-se disposto ao combate a que julgava ter faltado em 1964. [...] A história brasileira registra confrontos armados sangrentos e duradouros entre o povo pobre e o poder. Nos maiores, ocorridos no sertão de Canudos e nas matas do Contestado, contaram-se em poucas dezenas os combatentes que sabiam ler e escrever. Nas matas perdidas do Araguaia, o PC do B tornara-se a única – e derradeira – organização política brasileira a ir buscar na “violência das massas” a energia vital de seu projeto comunista (GASPARI, 2002, p. 406). A repressão por parte do estado militar contra a “Guerrilha do Araguaia” se deu de forma contundente. O envio de numerosas tropas oficiais para combater a guerrilha rural evidenciou o interesse dos militares em debelar rapidamente o movimento. A tropa começou a chegar no dia 12 de abril de 1972. Operava entre Marabá e Xambioá. Em cada uma dessas cidades acampou um batalhão, cada um com quatrocentos homens. No interior da floresta instalaram-se seis bases de combate, cada uma com uma companhia . Em agosto chegaram a somar 1500 homens (GASPARI, 2002, p. 414). Os guerrilheiros, compostos basicamente por ex-estudantes universitários e profissionais liberais, chegaram ao inexpressivo número de 80 componentes, sendo que 50 deles jamais tiveram seus corpos encontrados. Dos sobreviventes de expressão política, o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, que foi detido pelo Exército de 1972. As formas adotadas para executar os guerrilheiros capturados chocaram a opinião pública, que somente tomou conhecimento das crueldades após a queda da censura e a divulgação dos testemunhos. Na tarde de 4 de fevereiro de 1974 Osvaldão estava sozinho, escondido na floresta, Arlindo Vieira, o Piauí, um jovem camponês que colaborara com os guerrilheiros, vinha a frente de uma patrulha militar. Viu-o numa capoeira, sentado num tronco. Matou-o com um só tiro. O corpo enorme e depauperado do guerrilheiro morto foi pendurado num cabo e içado por um helicóptero. Despencou. Amarraram-no de novo, e assim o povo da terra viu que Osvaldão se acabara. Antes de sepultá-lo, cortaram-lhe a cabeça (GASPARI, 2002, p. 406). A comprovação das violações ocorridas às margens do Rio Araguaia permitiram a admissão do Estado brasileiro no polo passivo da demanda, pois violaram as normas da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (CADH), também chamado de Pacto de San José da Costa Rica. Mesmo tendo entrado em vigor em 18 de julho de 1978, apenas em 25 de setembro de 1992 o Brasil ratificou sua participação nessa Convenção entre países americanos. À semelhança da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, adotada e proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Convenção segue o princípio da imprescritibilidade dos crimes cometidos contra a humanidade, possibilitando, assim, o processo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão que a compõe. Desta forma, podemos afirmar que o Brasil se submete à Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes Contra a Humanidade. O princípio da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, localizado no texto da Convenção, tem aplicação imediata e chega em nosso ordenamento jurídico via §2º do art. 5º da Constituição nacional (quando feita a leitura pelo jus cogens) e por decisões condenatórias ao Brasil lastreadas no princípio apresentado, como aconteceu na condenação do Brasil no Caso Araguaia (MARQUES, 2011, p. 152). A prescrição, segundo Ivan Luís Marques, “é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso de tempo” (2011, p. 136). Portanto, no caso dos crimes comuns cometidos durante a ditadura militar não haveria a aplicação deste instituto, possibilitando a punição dos seus agentes e, com isso, a proteção ampla dos direitos humanos juridicamente defendidos. A Convenção Americana de Direitos Humanos foi assinada em San José, Costa Rica, em 1969, no seio da Conferência Especializada de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), mas entrou em vigor apenas em 1978. Esse tratado, conhecido também como Pacto de San José da Costa Rica, é hoje o principal diploma de proteção dos direitos humanos nas Américas por vários motivos: 1) pela abrangência geográfica, uma vez que conta com 24 Estados signatários; 2) pelo catálogo de direitos civis e políticos e 3) pela estruturação de um sistema de supervisão e controle das obrigações assumidas pelos Estados, que conta inclusive com uma Corte de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em San José da Costa Rica (RAMOS, 2010, p. 286). A inclusão definitiva na Convenção Americana de Direitos Humanos somente ocorreu após o retorno do país à democracia, porém, apenas em 1998 o Brasil passou a reconhecer a jurisdição obrigatória da Corte, possibilitando o processo e a punição dos agentes responsáveis por violações aos direitos e garantias fundamentais na ditadura militar. O Brasil incorporou definitivamente a Convenção Americana de Direitos Humanos pelo Decreto Presidencial nº 678, de 11 de novembro de 1992. Somente em 8 de setembro de 1998 foi encaminhada a Mensagem Presidencial nº 1.070 ao Congresso, pela qual foi solicitada a aprovação. [...] Aprovada no Congresso Nacional, foi editado o Decreto Legislativo 89/98, em 3 de novembro de 1998. Finalmente, o Brasil encaminhou nota transmitida ao secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos) no dia 10 de setembro de 1998, reconhecendo a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, obrigando-se, assim, a implementar suas decisões. Tal reconhecimento foi promulgado, internamente, pelo Decreto 4.463, de 8 de novembro de 2002, quase quatro anos após o encaminhamento a OEA (RAMOS, 2010, p. 286). O processo do caso da Guerrilha do Araguaia restou sentenciado em 24 de novembro de 2010. O julgamento presidido pelo juiz peruano Diego Garcia-Sayán, tornou-se público após a notificação oficial e através de um comunicado à imprensa. Postado no site oficial, a Corte confirmou a jurisprudência dos julgados anteriores, condenando o Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado de 62 pessoas, entre os anos de 1972 e 1974. No dia de hoje, a Corte Interamericana de Direitos Humanos notificou o governo do Brasil, os representantes das vítimas e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito da Sentença no caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) versus Brasil. Em sua Sentença, o Tribunal concluiu que o Brasil é responsável pela desaparição forçada de 62 pessoas, ocorrida entre os anos de 1972 e 1974, na região conhecida como Araguaia (www.corteidh.or.cr, 2010). Conforme formalizado na Convenção Americana de Direitos Humanos, não cabem recursos contra os julgados da Corte, impossibilitando qualquer forma de procrastinação ou desídia com a condenação sofrida pelo Brasil. Art. 67º A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença (CADH, 1969). A reação dos ministros do STF com o resultado do julgamento foi de desprezo. Principalmente os votantes contrários à Revisão da Lei de Anistia, que entenderam que “a punição do Brasil não revoga, não anula, não cassa a decisão do Supremo” (BALDI, 2011, p. 170). Iniciando a análise pelo voto do relator, Min. Eros Grau, vê-se que não foi citada a Convenção Americana de Direitos Humanos – poderia auxiliar a reflexão sobre a não receptação da interpretação de extensão da anistia a agentes da ditadura envolvidos em atos bárbaros (RAMOS, 2011, p. 183). A situação expôs a obrigação do Brasil em cumprir a totalidade da sentença, que além do episódio referente ao caso Araguaia, responsabilizando o Estado pelo desaparecimento forçado de opositores durante a guerrilha, condenou o país a revisar sua Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79). Entenderam os julgadores da Corte ser a normativa interna incompatível com a Convenção Americana, por impedir a investigação e sanção de graves violações aos direitos humanos (CIDH, nº 11.552). Concluíram os julgadores que o réu da demanda foi responsável pelo sofrimento ocasionado pela falta de investigações efetivas para o esclarecimento dos crimes. Ordenaram a criação de uma Comissão da Verdade, que cumpra com os parâmetros internacionais de autonomia, independência e consulta pública para sua integração, e que esteja dotada de recursos e atribuições adequadas. Processo que já está em curso no país através do Projeto de Lei nº 7.376/2010. Reconheceram o esforço do Estado pelas indenizações pecuniárias às vítimas da ditadura, porém requereram a majoração dos valores fixados e o pagamento das diferenças (CIDH, nº 11.552). A soberania da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos se evidencia com a explicação de Marlon Alberto Weichert: Em outras palavras, para recusar a autoridade da CIDH seria necessário existir algum vício de inconstitucionalidade – formal ou material – nos atos de ratificação, aprovação e promulgação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou de aceitação da jurisdição da CIDH. Em especial, para sustentar a não aplicação de uma sentença da CIDH proferida contra o Brasil, o STF terá que declarar inconstitucional a promulgação da cláusula do art. 68.1 da Convenção: “Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes” (2011, p. 228). A expectativa em torno das medidas a serem tomadas pelo Brasil a partir da publicação da sentença gerou grande desconforto diplomático. A obrigação de revisar sua Lei de Anistia expôs a fragilidade do estágio alcançado pelo Estado Democrático de Direito brasileiro e sua “defasada tutela interna dos direitos humanos” (GOMES; MAZZUOLI, 2011, p. 61), seja por receio ou por falta de boa vontade política. Já as demais determinações poderão ser efetivamente cumpridas, suas diretrizes não comprometem a idoneidade de figuras públicas, mas tão somente privilegiam o bem-estar das vítimas da Guerrilha do Araguaia. Consciente das dificuldades práticas para a efetivação do julgado e também do desinteresse de grande parte da sociedade com a questão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos comunicou o Estado brasileiro da possibilidade de sua exclusão da Organização dos Estados Americanos (OEA), caso descumpra o determinado. Tal procedimento seria severamente danoso às pretensões do Brasil de adentrar ao seleto rol de países permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), além das retaliações imediatas praticadas pela própria Convenção Americana. A condenação sofrida pelo Brasil mostrou-se eficaz em outros países sulamericanos, que, por também estarem sob a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, revisaram suas leis e puniram seus agentes que abusaram do poder durante suas ditaduras militares. Esses exemplos são utilizados como parâmetro pelos favoráveis ao cumprimento total do julgado, justificando o progresso democrático ocorrido nestes países. O Chile, apesar de ter promovido alterações espontâneas em sua lei de anistia, igualmente favorável aos militares, tal se deu por pressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que possibilitou a prisão do ex-chefe da Dina (polícia civil chilena), Manuel Contreras, por crimes cometidos na ditadura, encerrada no país em 1990. Na Argentina, após forte pressão exercida pelas vítimas da severa ditadura militar que vigorou de 1976 a 1983, revogaram-se em 1995 as Leis Ponto Final (1986) e Obediência Devida (1987). Similares à Lei de Anistia brasileira, suas revogações permitiram os processos contra autoridades militares e políticas, como o general Reynaldo Benito Bignone, último presidente de fato da ditadura argentina. Condenado em abril de 2010 a 25 anos de prisão pelos crimes de roubo, sequestro e tortura durante o regime militar no Campo de Mayo, o maior complexo de detenção e torturas dos anos 70 no país. Casos que servem de parâmetro para os prováveis processos a serem respondidos pelas autoridades militares brasileiras da época. Antes de abandonar el poder, los militares produjeron una amnistia sobre sus propios comportamientos. A través de la “ley” de facto 22.924 la dictadura busco auto amnistiarse em relación con los delitos que se cometieron em aquel período. Al asumir el gobierno democrático del. Dr. Afonsín – representante del partido Radical – se creó una comisión especial – CONADEP – con el fin de recopilar toda la información posible sobre el destino de los detenidos desaparecidos y otros crímenes de la dictadura. Esa informacíon se volcó a libro “Nunca Más”. Además, mediante la ley 23.040 el Congresso derógo la ley 22.294 considerandola inconstitucional e insanablemente nula por pretender el perdón de los crímenes perpetrados por el gobierno militar desde 1976 a 1983 (YACOBUCCI, 2011, p. 26). A condenação sofrida pelo Estado brasileiro trará reflexos nos próximos anos, o que deverá incluir o Brasil no rol de países que revisaram suas leis de anistia e, com isso, puniram seus agentes da ditadura. Entende-se que assim, em prol de uma suposta evolução democrática, o país terá cumprido com suas obrigações firmadas quando ratificou sua participação na Convenção Americana de Direitos Humanos. 3.4 A criação da Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação Concomitantemente à sanção presidencial que criou a Comissão da Verdade (Lei nº 12.528/2011), a Presidente da República Dilma Roussef sancionou a lei que permite aos cidadãos o acesso às informações públicas (Lei nº 12.527/2011). A criação de ambas as leis já havia sido imposta ao Brasil através da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do caso da Guerrilha do Araguaia. Apesar de a condenação se referir aos envolvidos na Guerrilha, projetos de lei visando à criação de uma Comissão Nacional da Verdade e de acesso a informações públicas já tramitavam no Congresso Nacional. Apesar da iniciativa brasileira, os juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos teceram severas críticas aos moldes adotados pelo legislador nacional, expressando na sentença a preocupação com a forma adotada para sua constituição. Quanto ao projeto de lei que atualmente se encontra no Congresso, expressaram sua preocupação, entre outros aspectos, por que os sete membros da Comissão Nacional da Verdade seriam escolhidos discricionariamente pelo Presidente da República, sem consulta pública e, portanto, sem garantias de independência e, ademais, que se permitiria a participação de militares como membros, o que afeta gravemente sua independência e credibilidade (CIDH, 2010, p. 106). As críticas quanto à forma de composição da Comissão da Verdade não modificaram sua configuração, centralizando na Presidente da República este poder. Esta condição tem explicitado o temor nos meios militares, principalmente entre aposentados e agentes públicos que faziam parte do governo entre os anos de 1964 e 1985, de serem investigados, processados e julgados por vítimas diretas ou indiretas de seus crimes. Segundo palavras da própria Presidente Dilma Roussef, ex-guerrilheira e vítima das violações de direitos por parte dos militares, estas leis têm o condão de evitar que “nenhum ato nem documento que atente aos direitos humanos possa ficar sob sigilo, o sigilo não oferecerá nunca mais guarida ao desrespeito aos direitos humanos no Brasil”. Em defesa dos militares, a Lei de Anistia afasta qualquer possibilidade de punição atual para eventos do período investigado, porém, apesar da improcedência da ADPF 153, a Corte Interamericana de Direitos Humanos destinou espaço na sentença para, de forma incisiva, questionar sua manutenção. 135. Em virtude dessa lei, até esta data, o Estado não investigou, processou ou sancionou penalmente os responsáveis pelas violações de direitos humanos cometidas durante o regime militar, inclusive as do presente caso 173. Isso se deve a que “a interpretação [da Lei de Anistia] absolve automaticamente todas as violações de direitos humanos que tenham sido perpetradas por agentes da repressão política”174 (CIDH, 2010, p. 50). Assim sendo, a coexistência de uma Comissão da Verdade com a lei que concede a anistia aos investigados representa a falta de convicção do governo brasileiro quanto ao melhor caminho a ser seguido. Significa a imposição da decisão estrangeira proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, ao aplicar decisões análogas em outros países, constatou o progresso democrático através da prestação de contas com o passado e suas vítimas. A Comissão da Verdade poderá pedir à Justiça acesso a documentos privados, investigar violações aos direitos humanos, com exceção dos crimes políticos, de motivação política e eleitorais abrangidos pela Lei da Anistia, "promover a reconstrução da história dos casos de violação de direitos humanos" e disponibilizar meios e recursos necessários para a localização e identificação dos restos mortais de desaparecidos políticos (ALCÂNTARA, 2011). As pressões externas sofridas pelo Brasil no sentido de revisar a Lei de Anistia tem ameaçado a soberania do Supremo Tribunal Federal. Este, ao julgar improcedente a revisão da referida lei, refletiu a importância dada pela maioria da sociedade brasileira ao caso. Porém, sua revisão se mostra inevitável, aproximando os militares ainda vivos, de condenações por seus crimes cometidos durante o regime militar. Entretanto, de forma abrangente, a Comissão da Verdade está sendo criada para a investigação, em apenas dois anos, das violações aos direitos humanos ocorridos entre os anos de 1946 e 1988. A comissão não terá poder de julgar, apenas de emitir relatórios sobre as investigações, sendo destituída ao final do segundo ano. As condições impostas para criação da Comissão da Verdade serão facilmente subjugadas a partir da revisão da Lei de Anistia, expondo militares às condenações já aplicadas em países vizinhos. Punições que não representam o interesse nacional, que espera das autoridades a solução de problemas imediatos e que reflitam na qualidade suas vidas. CONCLUSÃO A condenação sofrida pelo Estado brasileiro perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos já começou a repercutir nos meios políticos do país. O fato de muitos agentes militares da época da ditadura ainda fazerem parte do poder dificulta a efetivação plena do julgado. Recentemente o deputado federal e militar da reserva Jair Bolsonaro (PP-RJ) criticou veementemente a forma adotada pelo Legislativo brasileiro para a implantação da Comissão da Verdade, um dos itens que compõe a decisão imposta pela Corte. Os representantes solicitaram ao Tribunal que ordene ao Estado a criação de uma Comissão da Verdade, que cumpra com os parâmetros internacionais de autonomia, independência e consulta pública para sua integração e que esteja dotada de recursos e atribuições adequados (CIDH, 2010, p. 106). Afirmando falar em nome dos oficiais generais do Exército, Jair Bolsonaro condenou a iniciativa do Palácio do Planalto de aprovar o grupo de trabalho que terá por função examinar as violações de direitos humanos durante os anos de 1946 e 1988. Tentando preservar a imagem dos militares aposentados e falecidos que prestaram serviços entre os anos de 1964 a 1985, questiona a intenção do governo de "efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional", através desses meios. Contraditoriamente, na fundamentação da sentença os juízes da Corte expressaram a preocupação com a possibilidade de nomeação discricionária da Presidente da República dos membros desta Comissão. Receiam os julgadores que haja nomeações de cunho político, ou mesmo de pessoas ligadas aos interesses dos militares da época, ou mesmo de opositores revanchistas. Situação não verificada até o momento, mesmo se tratando de uma Presidente ex-integrante dos movimentos de oposição ao regime militar. A implantação da Comissão da Verdade tem por finalidade a individualização da conduta dos agentes militares, o que futuramente desencadeará nas punições de suas condutas. Objetivo não alcançado através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil perante o Supremo Tribunal Federal, a qual buscava a revisão da Lei de Anistia. Resultado que somente o futuro poderá esclarecer se positivo ou negativo ao país. A inquestionável evolução brasileira ocorrida após 1985 selou o fim de uma era, culminando na promulgação da Constituição Federal de 1988 e seu exaustivo rol de direitos e garantias fundamentais. A busca pela efetividade dessas normas reflete a consolidação da democracia no Brasil, não parecendo ser determinante nesse processo a ocorrência de punições àqueles cidadãos brasileiros que, decorridos quatro décadas de seus crimes, afirmarão terem agido em nome da pátria. Independentemente das possíveis consequências, a obrigação do Estado brasileiro de adequar seu direito interno à Convenção Americana de Direitos Humanos deverá ocorrer de forma pública e livre de questões políticas, prenunciando uma nova revolução nos meios políticos do país, caçando-se direitos adquiridos pela Lei de Anistia. O respeito às vítimas daquele período histórico se demonstra através da indenização pecuniária às vítimas e seus familiares, forma que deve ser aperfeiçoada e encerrada quando do seu alcance pleno. As condenações penais no Brasil jamais tiveram a capacidade de ressocializar criminosos, o que se contrapõe ao objetivo das medidas que serão adotadas após longos anos de consolidação democrática, expondo os agentes ainda vivos da ditadura ao retrocesso da Lei de Talião, “olho por olho, dente por dente”. REFERÊNCIAS ABREU, Hugo. O outro lado do poder. 4ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979. ALCÂNTARA, Diogo. Dilma sanciona hoje lei que cria Comissão da Verdade. http://www.averdadesufocada.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61 76. Acesso em: 20 nov. 2011. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1996. ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). 2. ed. Petrópolis/RJ, Vozes, 1984. ARANTES, Maria Auxiliadora de Almeida Cunha. O Comitê Brasileiro pela Anistia de São Paulo (CBA-SP): memórias e fragmentos. In: SILVA, Haike R. Kleber (Org.). A luta pela anistia. São Paulo: Editora Unesp: Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. ARRUDA, Marcos; CALDEIRA, Cesar. Como Surgiram as Constituições Brasileiras. Rio de Janeiro: FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional). Projeto Educação Popular para a Constituinte, 1986. AZZARITI, Gaetano. Forme e soggeti della democracia pluralista. Torino, G. Giappichelli Editore. BALDI, César Augusto. Guerrilha do Araguaia e direitos humanos: considerações sobre a decisão da Corte Interamericana. In: GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. (Org.). Crimes da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de direitos humanos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. BARROSO, Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e posibilidades da Constituição brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 1996. BEDIN, Gilmar Antonio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 1. ed. Ijuí, Unijuí, 1997. BERTOLDO, Luciana. Baioneta Calada. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2010. BESTER, Gisela Maria. Direito Constitucional. Fundamentos Teóricos. São Paulo, Manole, 2005, v. 1. BEZERRA, Gregório. Memórias. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1980. BICUDO, Hélio. Segurança Nacional ou Submissão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. BONAVIDES, Paulo; ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra Política, 1991. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. BRAUN, Helenice da Aparecida Dambrós. O Brasil e os direitos humanos: a incorporação dos tratados em questão. Ijuí: Ed. Unijuí, 2001. BRASIL. Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 1964. ______. Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965. Diário Oficial da União, Brasília, 1965. ______. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Diário Oficial da União, Brasília, 1968. ______. Ato Institucional nº 14, de 5 de setembro de 1969. Diário Oficial da União, Brasília, 1969. ______. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Relatório nº 33/01, processo nº 11.552, Caso Gomes Lund e Outros vs. Brasil. Presidente Diego García-Sayán. Costa Rica, 24 de novembro de 2010. ______. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Notificação da sentença, processo nº 11.552, Caso Gomes Lund e Outros vs. Brasil. Disponível em: <www.corteidh.or.cr> Acesso em: 28 de mai. 2011. ______. Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979. Dispõe sobre a anistia e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1979. ______. Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal. Diário Oficial da União. Brasília, 1999. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Congresso Nacional. Relator Ministro Eros Grau. Brasília, 29 de abril de 2010. BUENO, Eduardo. Brasil: uma história: cinco séculos de um país em construção. São Paulo: Leya, 2010. CALDEIRA, Cesar; ARRUDA, Marcos. Como surgiram as constituições brasileiras. 2. ed. Rio de Janeiro: Fase, 1986. CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional; 6. ed. Coimbra: Almedina, 1995. CERQUEIRA, Marcello. Cartas Constitucionais: Autoritarismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. Império, República & COELHO, Thomas. À sombra do sistema (De Castelo a Geisel). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. CONTREIRAS, Hélio. AI-5 A Opressão no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. COTRIM, Gilberto. História Global Brasil e Geral. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1999. CHAGAS, Carlos. A Guerra das Estrelas (1964/1984): Os Bastidores das Sucessões Presidenciais. São Paulo: L&PM, 1985. DALCANAL, Verônica. In: Os Advogados e a ditadura de 1964: A defesa dos perseguidos políticos no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 2010. DALLARI, Dalmo de Abreu. A Constituição na vida dos povos: da Idade Média ao Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2010. DALLARI, Pedro. A Constituição e Relações Exteriores. São Paulo: Saraiva, 1994. DE PAULO, Antonio. Dicionário Jurídico. 2. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. DEL PORTO, Fabíola. A luta pela anistia no regime militar brasileiro e a construção dos direitos de cidadania. In: SILVA, Haike R. Kleber da. et al. A luta pela anistia. São Paulo: Editora Unesp: Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. DOSSIÊ DITADURA: mortos e desaparecidos políticos no Brasil (1964-1985) / Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, IEVE – Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado; organização Criméia Schmidt. 2. ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, 772 p. FILHO, Luis Viana. O governo Castelo Branco. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1975. 1v e 2v. FILHO, Milton Benedicto Barbosa. STOCKLER, Maria Luiza Santiago. História Moderna e Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Editora Scipione, 1993. FILHO, Nilson Borges. Os Militares no Poder. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994. FREITAS, Décio. O homem que inventou a ditadura no Brasil. Porto Alegre: Editora Sulina, 1999. GABEIRA, Fernando. Carta sobre a anistia; A entrevista do Pasquim; conversação sobre 1968. 3. ed. Rio de Janeiro: Codecri, 1980. GALACHE, G. ANDRÉ, M. Brasil Processo e Integração (Estudos de Problemas Brasileiros). São Paulo: Edições Loyola, 1978. GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. ______. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. ______. A ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. ______. A ditadura encurralada. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. GRECO, Heloisa Amélia. Memória VS. Esquecimento, Instituinte vs. Instituído: a luta pela Anistia Ampla. In: SILVA, Haike R. Kleber da. et al. A luta pela anistia. São Paulo: Editora Unesp: Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. GOMES, Luiz Flávio Gomes. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Crimes contra a humanidade e a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. In: ______. Crimes da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de direitos humanos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. LIMA, Délcio Monteiro de. Brasil o Retrato Sem Retoque. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1978. LIMA, Paulo C. A. Lei de Segurança Nacional (Crítica – Exegese). Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas S.A., 1979. LOBO, Roberto Haddock. A História Econômica e Administrativa do Brasil. 19. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1975. LUCAS, Doglas Cesar. Direitos Humanos e Interculturalidade. Ijuí: Editora Unijuí, 2010. MARCONI, Paolo. A censura política na imprensa brasileira. 2. ed. São Paulo: Global Editora, 1980. MARQUES, Ivan Luís. O princípio da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e sua aplicação no Brasil. In: GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. (Org.). Crimes da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de direitos humanos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. MEDEIROS, José A. Fogaça de. Uma Geração Amordaçada. 5. ed. Porto Alegre: Editora Movimento, 1978. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. MEZAROBBA, Glenda. In: SILVA, Haike R. Kleber da., et al. A luta pela anistia. São Paulo: Editora Unesp: Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. MORAES, João Quartim de; COSTA, Wilma Peres; OLIVEIRA, Eliézer Rizzo. A Tutela Militar. São Paulo: Vértice, 1987. MOREIRA, Fernanda Machado. In: SÁ, Fernando. MUNTEAL, Osvaldo. MARTINS, Paulo Emílio (Org.). Os Advogados e a ditadura de 1964: A defesa dos perseguidos políticos no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 2010. MUSSUMECI, Victor. Organização Social e Política Brasileira. São Paulo: Editora do Brasil S.A., 1975. NASCIMENTO, Valéria Ribas do. ADPF: cegueira ou lucidez do controle concentrado de constitucionalidade? São Paulo: LTr, 2006. OLIVEIRA, Eliézer Rizzo de. Militares: Pensamento e Ação Política. Campinas: Papirus, 1987. PADILHA, Tarcísio Meirelles. Brasil em Questão. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1976. PANIKKAR, Raimundo. É a Noção dos Direitos do Homem um Conceito Ocidental? Revista Diógenes, Brasília, n. 5, p. 5-20, 1983. PESSOA, Gláucia; MELO, Mariana. Marcelo Cerqueira: da advocacia política na ditadura militar à luta pela anistia. In: Os Advogados e a ditadura de 1964: A defesa dos perseguidos políticos no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 2010. PIERANTI, Octavio Penna; WIMMER, Miriam; DALCANAL, Verônica. In: SÁ, Fernando. MUNTEAL, Osvaldo. MARTINS, Paulo Emílio (Org.). Os Advogados e a ditadura de 1964: A defesa dos perseguidos políticos no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 2010. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Saraiva, 1997. PRADO, Larissa Brisola Brito. A Anistia de 1979: uma análise sobre seus reflexos jurídicos, políticos e históricos. In: SILVA, Haike R. Kleber da. et al. A luta pela anistia. São Paulo: Editora Unesp: Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. RAMOS, André de Carvalho. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: GOMES, Luiz Flávio Gomes. MAZZUOLI, Valério de Oliveira (Org.). Crimes da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de direitos humanos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. RANGEL, Carlos. 1978: A Hora de Enterrar os Ossos. Rio de Janeiro: JB – Indústria Gráfica Ltda, 1978. RIDOLA, Paolo. Diritti Fondamentali: Un’introduzione. ed. G. Giappichelli Editore – Torino, 2006. SÁ, Fernando. MUNTEAL, Osvaldo. MARTINS, Paulo Emílio (Org.). Os Advogados e a ditadura de 1964: A defesa dos perseguidos políticos no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 2010. SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Editora do Advogado, 2010. SCATIMBURGO, João de. Tratado Geral do Brasil. São Paulo. Editora Universidade de São Paulo, 1971. SCHÄFER, Jairo. Classificação dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. SCHMIDT, Criméia. In: DOSSIÊ DITADURA: mortos e desaparecidos políticos no Brasil (1964-1985) / Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, IEVE – Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado; organização Criméia Schmidt. 2. ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, 772 p. SILVA, Haike R. Kleber da. et al. A luta pela anistia. São Paulo: Editora Unesp: Arquivo Público do Estado de São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. SILVA, Hélio. 1964: Golpe ou Contragolpe. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 1978. SILVA, José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. STEPAN, Alfred. Democratizando o Brasil. Rio de Janeiro, ed. Paz e Terra, 1988. ______. Os Militares: Da Abertura à Nova República. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1986. VILLEY, Michel. O direito e os direitos humanos. São Paulo. Martins Fontes Editora, 2007. WEICHERT, Marlon Alberto. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a obrigação de instituir uma Comissão da Verdade. In: GOMES, Luiz Flávio Gomes. MAZZUOLI, Valério de Oliveira (Org.). Crimes da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de direitos humanos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. YACOBUCCI, Guilhermo J. El juzgamiento de lãs graves violaciones de los derechos humanos en la Argentina. In: GOMES, Luiz Flávio Gomes. MAZZUOLI, Valério de Oliveira (Org.). Crimes da ditadura militar: uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de direitos humanos: Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Download